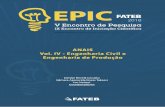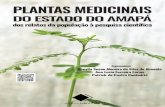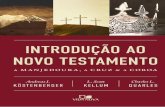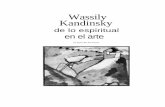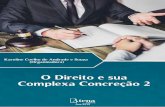Engenharia no Século XXI Volume 18 - Editora Poisson
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Engenharia no Século XXI Volume 18 - Editora Poisson
Editor Chefe: Dr. Darly Fernando Andrade
Conselho Editorial
Dr. Antônio Artur de Souza – Universidade Federal de Minas Gerais Msc. Davilson Eduardo Andrade
Dra. Elizângela de Jesus Oliveira – Universidade Federal do Amazonas Msc. Fabiane dos Santos
Dr. José Eduardo Ferreira Lopes – Universidade Federal de Uberlândia Dr. Otaviano Francisco Neves – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Dr. Luiz Cláudio de Lima – Universidade FUMEC Dr. Nelson Ferreira Filho – Faculdades Kennedy
Msc. Valdiney Alves de Oliveira – Universidade Federal de Uberlândia
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) E57
Engenharia no Século XXI – Volume 18/
Organização Editora Poisson – Belo
Horizonte - MG: Poisson, 2020
Formato: PDF
ISBN: 978-65-86127-82-9
DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9
Modo de acesso: World Wide Web
Inclui bibliografia
1. Engenharia 2. Educação.I. Título.
CDD-620
Sônia Márcia Soares de Moura – CRB 6/1896
O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos seus respectivos autores.
www.poisson.com.br
SUMÁRIO Capítulo 1: Análise da proporção de argila expandida na qualidade do concreto leve ............................................................................................................................................................................ 08
Marcos David dos Santos, Ana Caroline de Sousa Andrade, Maria Beatriz da Silva Neto, Fernanda Karolline de Medeiros DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.01
Capítulo 2: Concreto reforçado com fibras alternativas: Análise das resistências a flexão e compressão. .............................................................................................................................................. 17
Joedy Mayara Santa Rosa de Souza, Wildson Wellington Silva, Leon Ney Ramos Lima, Everton Gustavo da Silva Lima, Gustavo Ribeiro da Silva, Taís Gomes de Sousa, Nylkson Rodrigues da Silva DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.02
Capítulo 3: Estudo do comportamento estrutural de um traço de revestimento asfáltico produzido com agregado reciclado a partir de resíduo de concreto ................................... 25
André da Silva Luz, Flávio Alessandro Crispim DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.03
Capítulo 4: Modelagem Numérica de Fundações Ramificadas ............................................. 39
Illa Beghine Soncin, Lucas Teotônio de Souza, Marcelo Miranda Barros DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.04
Capítulo 5: Avaliação do Método de Van Der Veen para estimativa das cargas de ruptura em estacas raiz da cidade de Fortaleza ............................................................................................ 54
Fernando Feitosa Monteiro, Alfran Sampaio Moura, Marcos Fábio Porto de Aguiar, Renato Pinto da Cunha, Yago Machado Pereira de Matos DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.05
Capítulo 6: Análise das condições geológicas-geotécnicas de vilas e favelas ................. 62
Gustavo Vinicius Gouveia, Bruno Henrique Longuinho Gouveia, Gabrielle Sperandio Malta, Cristina Santos Araujo, Ana Mara Araújo Torres, Karoline Rodrigues Costa DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.06
Capítulo 7: Sensor de Deformação baseado em FBG com compensação de temperatura ............................................................................................................................................................................ 74
Martim Bandt Neto, Valmir de Oliveira DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.07
Capítulo 8: Solução do Problema de Despacho Econômico não suave, não convexo e descontínuo utilizando a otimização por enxame de partículas ........................................... 83
Amanda Nerger, Leonardo Nepomuceno DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.08
SUMÁRIO Capítulo 9: Otimização de geração distribuída e de baterias para redução das perdas e regulação de tensão. ................................................................................................................................. 96
Luíza Saleme de Menezes, Luan Diego de Lima Pereira, Lucas Frizera Encarnação, Jussara Farias Fardin, Ícaro Henrique Honorato, Helder Roberto de Oliveira Rocha, Rodrigo Fiorotti DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.09
Capítulo 10: Análise do efeito do acúmulo de sujeira nos sistemas fotovoltaicos da UTFPR: Câmpus Curitiba ........................................................................................................................ 104
Édwin Augusto Tonolo, Juliana D’Angela Mariano, Jair Urbanetz Junior DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.10
Capítulo 11: Sensores a fibra óptica baseados em redes de Bragg aplicados no monitoramento de temperatura de painéis fotovoltaicos ....................................................... 114
Carlos Henrique Palma Kotinda, Valmir de Oliveira, João Paulo Bazzo, André Eugênio Lazzaretti, Clayton Hilgemberg da Costa, Jean Carlos Cardozo da Silva DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.11
Capítulo 12: Coeficientes convectivos de transferência de calor e massa em leitos recheados aplicados para fermentação em estado sólido ........................................................ 127
Fernanda Perpétua Casciatori, Natalia Alvarez Rodrigues DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.12
Capítulo 13: Caracterização de carvão ativado de origem mineral e aplicação na remoção de glicerol em ésteres etílicos ........................................................................................... 135
Natália Dolfini, Isabela Yumi Asanome, Felipe Gâmbaro Pereira, Nehemias Curvelo Pereira DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.13
Capítulo 14: Avaliação das propriedades tecnológicas de cerâmica vermelha com adição de rejeito de minério de ferro de Carajás-PA ................................................................................ 142
Elias Fagury Neto, Renata Lilian Ribeiro Portugal Fagury, Adriano Alves Rabelo DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.14
Capítulo 15: Influência do poli (etileno glicol) nas propriedades das blendas de quitosana/poli (alcool vinílico) ........................................................................................................... 152
Aracelle de Albuquerque Santos Guimarães, Cristiano José de Farias Braz, Marcus Vinícius Lia Fook, Itamara Farias Leite DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.15
SUMÁRIO Capítulo 16: Desenvolvimento de processo de produção de biodiesel em escala piloto através de rota inovadora utilizando irradiação ultrassônica ............................................... 160
Alex Nogueira Brasil, Édipo Filipe Souza e Silva, André Nogueira Brasil, Leandro Soares de Oliveira DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.16
Capítulo 17: Manutenção portuária: Desafios e soluções relacionados às defensas marítimas ...................................................................................................................................................... 168
Antônio Marcio Figueirêdo Filho DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.17
Capítulo 18: O processo de ensino e aprendizagem baseada em projetos: Relato de experiência na engenharia ..................................................................................................................... 175
Tania Luna Laura, Patrícia Rodrigues de Araújo, Adiana Nascimento Silva DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.18
Capítulo 19: Desafios para a abordagem baseada em problemas no ensino-aprendizagem em disciplinas isoladas na Engenharia Civil .................................................... 183
Letícia Santos Machado de Araújo, Marina Sangoi de Oliveira Ilha DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.19
Capítulo 20: Fast-300 – Based learning: A methodological proposal combining team-based learning and three hundred method .................................................................................... 195
Adriano Bressane, Lazaro José Guimarães Neto, Ana Aleixo Diniz Mattosinho de Castro Ferraz, Marcos Vinícius Ribeiro, Sandra Bizarria Lopes Villanueva DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.20
Capítulo 21: Engineering education for a visually impaired student in the professor's perspective: A case study for the physics discipline .................................................................. 203
Ana Aleixo Diniz Mattosinho de Castro Ferraz, Adriano Bressane, Marcos Vinícius Ribeiro, Sandra Bizarria Lopes Villanueva DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.21
Capítulo 22: Avaliação do desenvolvimento de Projeto Baja sob a luz de PBL - Problem-Based Learning ........................................................................................................................................... 209
Bianca Lima e Santos Figueirêdo, Ivonete Maciel Lima Oliveira, Aldi Rui Morais Silva DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.22
SUMÁRIO Capítulo 23: A utilização de um compilador como recurso pedagógico no curso de Engenharia de Computação no IFMT Campus Cuiabá ............................................................... 215
Ed Wilson Tavares Ferreira, Nádia Cuiabano Kunze, Stévillis Monteiro de Sousa DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.23
Capítulo 24: Aplicação de Métodos Estatísticos em Engenharia de Software: Teoria e Prática ............................................................................................................................................................. 223
Tassio Ferenzini Martins Sirqueira, Marcos Alexandre Miguel, Humberto Luiz de Oliveira Dalpra, Marco Antônio Pereira Araújo DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.24
Capítulo 25: Detecção de botnets através da análise do trafego DNS e engenharia reversa ............................................................................................................................................................ 242
Juliano Stolpe, Carlos Oberdan Rolim DOI: 10.36229/978-65-86127-82-9.CAP.25
Autores: ......................................................................................................................................................... 276
Engenharia no Século XXI – Volume 18
8
Capítulo 1
Análise da proporção de argila expandida na qualidade do concreto leve
Marcos David dos Santos
Ana Caroline de Sousa Andrade
Maria Beatriz da Silva Neto
Fernanda Karolline de Medeiros
Resumo: A inovação tecnológica empregada no concreto impulsionou vários
profissionais a procura por novas constituições de materiais, assim como a possibilidade
de empregá-las no concreto, de modo a promover melhorias nos canteiros de obras. A
partir de pesquisas relacionadas à substituição dos agregados graúdos por materiais de
baixa densidade específica, como vermiculita, isopor e argila expandida, surgiu a
definição de concretos especiais, dentre os quais se destaca o concreto de agregados
leves, reconhecido pelo seu reduzido peso específico e elevada capacidade de isolamento
térmico e acústico. O concreto leve pode ser aplicado tanto em elementos arquitetônicos
pré-fabricados de paisagismo quanto de isolamento de ambientes, graças a sua
capacidade de apresentar densidades e resistências variadas. Com o propósito de
reduzir o peso próprio dos elementos estruturais, bem como diminuir o orçamento da
construção com a compra em menores proporções de aço, empregou-se no estudo a
argila expandida em substituição total (100%) da brita, para confecção dos concretos
leves. O trabalho tem como objetivo analisar a qualidade do concreto leve, de acordo
com as proporções de agregado graúdo leve (argila expandida) utilizados. Na pesquisa
para a determinação das composições granulométricas realizou-se a caracterização
física dos materiais, além do estudo dos traços, moldagem e cura dos corpos de prova e
ensaios mecânicos (absorção e resistência à compressão axial simples). Observou-se que
as características e proporções dos materiais empregados para a confecção dos
concretos leves influenciam diretamente nos resultados de resistência à compressão
axial simples, sendo o traço que contém a menor proporção de argila expandida (1:2:2,5)
o que atingiu a maior resistência à compressão axial simples e a menor absorção de
água, entres os traços analisados.
Palavras-chave: materiais de construção, agregado leve, propriedades mecânicas, ensaio
destrutivo.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
9
1. INTRODUÇÃO
De acordo com Helene e Andrade (2010) o concreto de cimento Portland é o material de construção mais utilizado no mundo desde o século XX. Essa mistura convencional tão importante pode aumentar o peso das estruturas, como também, apresentar deficiências que causam segregação dos materiais componentes, exudação e consequentemente, retração.
Com os avanços tecnológicos construtivos, além do progresso na indústria dos aditivos químicos para concreto, foi possível o desenvolvimento dos concretos especiais, como o concreto autoadensável, concreto de alta resistência, concreto reforçado com fibras e concreto leve.
O concreto leve é feito com agregado leve, de modo que sua massa específica é de aproximadamente dois terços da massa específica do concreto feito com agregado natural típico (MEHTA E MONTEIRO, 2008).
De acordo com a ABNT NBR 8953 (2015), a massa específica do concreto leve é inferior a 2000 kilogramas por metro cúbico. Essa signifcativa redução no peso dos elementos estruturais proporciona o aumento na produtividade na obra, bem como reduz as dimensões das fundações, gerando uma economia no custo total da edificação.
As demais vantagens deste material ocorre pelo uso de agregado leve, como a argila expandida. Segundo Moraiva, Gumieri e Vasconcelos (2010) a argila expandida além da sua reduzida densidade em relação aos agregados convencionais, possui qualidades de isolamento térmico e acústico, é quimicamente inerte, o que evita reações adversas com o cimento, como também apresenta alta resistência em relação ao peso, bem como elevada durabilidade.
De acordo com Santis (2016), a resistência à compressão axial simples dos concretos leves depende do tipo de agregado leve, da quantidade de água utilizada, do processo de lançamento, da relação água/cimento, do tipo de mistura dos componentes, e também do processo de cura dos concretos leves.
Diante do exposto, o trabalho tem como objetivo analisar a influência das proporções dos agregrados graúdos leves na qualidade do concreto, quando produzidos com argila expandida, realizando uma substituição total (100%) do agregado convencional (brita), pelo agregado leve (argila expandida). Além disto, propor a sua aplicação na construção civil, uma vez que sua utilização proporciona vantagens como economia, leveza e alta durabilidade.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Os materiais utilizados para pesquisa foram:
Agregado miúdo: areia do tipo média/grossa, comumente utilizada nas construções da região, obtida no município de Pombal-PB;
Agregado graúdo: argila expandida, advinda do município de Campina Grande-PB;
Aglomerante: cimento Portland CP V (ARI);
Água: proveniente da rede de abastecimento do município de Pombal-PB.
Para análise dos dados e elaboração da pesquisa, o trabalho realizou as etapas apresentadas no fluxograma – Figura 1, para melhor compreensão do processo executado.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
10
Figura 1 – Etapas do estudo
Fonte: Autor, 2019.
2.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS MATERIAIS
2.1.1. GRANULOMETRIA
Segundo a ABNT NBR 7211 (2019) os agregados podem ser classsificados conforme a granulometria dos grãos em miúdos ou graúdos. O ensaio foi definido de acordo com a ABNT NBR NM 248 (2003).
2.1.2. MASSA UNITÁRIA, MASSA ESPECÍFICA E MÓDULO DE FINURA
A determinação da massa unitária dos materiais foi realizada segundo a ABNT NBR NM 45 (2006).
Empregou-se o cimento Portland de alta resistência inicial (CP V-ARI) para o estudo, confeccionado por empresa nacional, com massa específica aparente infrmada pelo fabricante. As massas específicas dos agregados e cimento foram obtidas conforme a ABNT NBR NM 52 (2009) e ABNT NBR 16605 (2017).
A finura do cimento foi determinada de acordo com a ABNT NBR 11579 (2013).
2.2. DEFINIÇÃO DAS DOSAGENS DOS CONCRETOS LEVES
Com base no primeiro traço de concreto leve (T1) obtido a partir de experimentações empíricas, por falta de normativa vigente ou método nacional empregado para dosagem de concreto leve, foram determinados outros três traços leves (T2, T3, T4), de forma a modificar apenas os percentuais de argilas expandidas (um volume), mantendo uniformes as propriedades da argamassa. Além disto, utilizou-se o traço em volume, para manter as características da argamassa, devido à substituição do agregado graúdo convencional (brita) pelo agregado graúdo leve (argila expandida).
2.3. PRODUÇÃO, MOLDAGEM E CURA DOS CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS
Os concretos foram confeccionados no Laboratório de Resíduos Sólidos, do Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, da Universidade Federal de Campina Grande, Campus Pombal-PB.
Para produção do concreto leve foi empregado uma betoneira com capacidade de cento e vinte litros. A argila expandida foi colocada submersa em água durante um período de aproximadamente vinte e quatro horas, para ser utilizada na condição de saturada com superfície seca, antes do início do processo de mistura, após adquirir tais características foi iniciado o procedimento, posicionando a argila expandida na betoneira, seguida da areia e de aproximadamente metade da água para o traço em questão, logo após se adicionou o cimento e o restante da água.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
11
Foram seguidas as prescrições da norma ABNT NBR 5738 (2016), para o processo de moldagem e cura dos corpos de prova cilíndricos.A moldagem dos corpos de prova cilíndricos foi executada em duas camadas por meio de adensamento manual, aplicando doze golpes por camada de maneira uniforme por toda a superfície com haste de adensamento. Logo após o adensamento da última camada, com uma régua metálica procedeu-se o rasamento de superfície. Após vinte e quatro horas os moldes dos corpos de prova cilíndricos foram desmoldados e postos em um tanque com água, para processo de cura por vinte e oito dias.
2.3.1. CLASSIFICAÇÃO DO CONCRETO
Calculou-se o peso específico dos concretos, definido como o peso por unidade de volume, utilizando a norma ABNT NBR 9778 (2009), bem como sua classificação obtida conforme descrita na norma ABNT NBR 8953 (2015).
2.4. ENSAIOS MECÂNICOS
2.4.1. ABSORÇÃO DE ÁGUA
A determinação da absorção de água realizou-se conforme a norma ABNT NBR 9778 (2009). A diferença percentual entre a massa saturada e a massa seca corresponde ao valor de sua capacidade total de absorção de água, calculada em base seca.
2.4.2. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL SIMPLES
Para a avaliação da resistência à compressão axial simples foram ensaiados 3 corpos de prova cilíndricos (10x20cm) para cada traço, com idade de 28 dias, executados segundo a norma ABNT NBR 5739 (2018), sendo ao total 12 corpos de provas ensaiados.
Antes da execução do ensaio os corpos de prova foram retificados, de forma a garantir uma superfície lisa e livre de abaulamentos. Para execução do ensaio, foi utilizada uma prensa hidráulica com aplicação de até cem toneladas de carregamento, presente no laboratório de Resíduos Sólidos da Universidade Federal de Campina Grande, Campus Pombal-PB.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DOS MATERIAIS
3.1.1. GRANULOMETRIA
Realizou-se a análise granulométrica do agregado miúdo e graúdo, a fim de identificar o tamanho dos grãos que os compõem. O Gráfico 1 apresenta a distribuição da curva granulométrica da areia.
Gráfico 1 – Distribuição da curva granulométrica da areia
Fonte: Autor, 2019.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
12
A partir do Gráfico 1, nota-se que aproximadamente 54% dos seus grãos estão inseridos na faixa granulométrica, que segundo Bauer (2008), corresponde a areia média (intervalo de 2,4 – 0,6 milímetros).
O Gráfico 2 apresenta a distribuição da curva granulométrica da argila expandida.
Gráfico 2 – Distribuição da curva granulométrica da argila expandida
Fonte: Autor, 2019.
Encontra-se uma maior porcentagem retida de argila nas peneiras de abertura 9,5 e 6,3 milímetros, apresentando 90,39% do total da amostra, mostrando que o material apresenta grande quantidade de partículas grossas. A maior dimensão dos grãos da argila expandida é comprovada pelo modulo de finura do mesmo, maior do que a areia (Tabela 1).
3.1.2. MASSA UNITÁRIA, MASSA ESPECÍFICA E MÓDULO DE FINURA
Os resultados referentes à massa unitária, massa específica e finura dos materiais são apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 – Caracterização física dos materiais
Material Massa Unitária (g/cm³) Massa Específica
(g/cm³) Modulo de Finura
Areia 1,52 2,58 2,77
Argila Expandida 0,36 0,83 7,55
Cimento - 1,20 2,68
Fonte: Autor, 2019.
As massas unitária e específica da areia são maiores que as da argila expandida, cerca de 23,68% e 32,17%, respectivamente. O modulo de finura da argila expandida mostra-se maior que o da areia, tendo em vista um maior diâmetro das partículas em relação ao agregado natural.
Nota-se conforme massa unitária que a argila expandida é aproximadamente 4 vezes mais leve que a areia. Isto pode ser explicado pela relação entre densidade e a absorção, de tal forma que segundo Moraiva (2006), agregados produzidos pelo processo de forno rotativo, como é o caso da argila expandida, apresentam uma camada externa vitrificada de baixa porosidade, que consequentemente diminui a absorção de água, logo sua densidade é reduzida.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
13
3.2. DEFINIÇÃO DOS TRAÇOS DOS CONCRETOS LEVES
As dosagens dos traços de concretos leves fundamentaram-se em um traço comumente empregado para concretos na construção civil: 1:2:3 (cimento:areia:brita) em volume, devido a falta de normativa brasileira vigente para dosagem dos mesmos. Após a caracterização dos materiais, para fins práticos de laboratório, foram realizados testes de forma manual e visual, até que os concretos leves, com diferentes proporções de agregado graúdo leve (argila expandida) adquirissem semelhança na textura e trabalhabilidade do traço de referência. A partir do primeiro traço produzido (T1), por meio de experimentações laboratoriais, as composições dos demais traços de concretos leves (T2, T3 e T4) se estabeleceram conforme Tabela 2.
Tabela 2 – Composição dos traços de concreto leve
Composições Cimento Areia Argila
Expandida Relação
a/c
T1 Traço em volume 1 2 2,5 0,67
Consumo/m³ 402,442 884,15 261,985 195,572
T2 Traço em volume 1 2 3,5 0,67
Consumo/m³ 361,789 785,101 325,618 173,663
T3 Traço em volume 1 2 4,5 0,67
Consumo/m³ 325,223 705,733 376,608 156,107
T4 Traço em volume 1 2 5,5 0,67
Consumo/m³ 295,468 641,167 418,088 141,825 Fonte: Autor, 2019.
Com o propósito de analisar a aplicabilidade de produção mais viável do material, bem como averiguar a influência da argila expandida na fabricação do concreto leve, foi empregada a mesma relação água/cimento para os traços analisados na pesquisa.
3.3. PRODUÇÃO, MOLDAGEM E CURA DOS CORPOS DE PROVA CILÍNDRICOS E PLACAS
3.3.1. CLASSIFICAÇÃO DO CONCRETO
A classificação do concreto se estabeleceu com base nas massas específicas das amostras secas previamente calculadas, conforme mostra a Tabela 3.
Tabela 3 – Classificação dos concretos leves
Traços Peso Específico
(Kg/m³) Classificação
(NBR NM 8953)
T1 1584 Leve
T2 1522 Leve
T3 1383 Leve
T4 1264 Leve
Fonte: Autor, 2019.
A partir da Tabela 3, nota-se que todos os pesos específicos estão de acordo com as recomendações prescritas pela NBR 8953 (2015), que classifica o concreto leve (CL), como aquele concreto que apresentar massa específica seca inferior a 2000 kilogramas por metro cúbico.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
14
3.4. ENSAIOS MECÂNICOS
3.4.1. ABSORÇÃO DE ÁGUA
O Gráfico 3 apresenta os resultados médios do ensaio de absorção de água dos concretos leves confeccionados com argila expandida, conforme recomendações da ABNT NBR 9778 (2009).
Gráfico 3 –Resultados do ensaio de absorção de água
Fonte: Autor, 2019.
Os concretos leves fabricados com agregados graúdos leves mostram valores de absorção maiores conforme aumento da proporção de argila expandida. Percebe-se que T1 apresentou uma absorção de água menor que os demais traços (T2, T3 e T4), com uma absorção de aproximadamente 29,90% menor em relação a T4. Isto demostra uma maior acomodação das partículas presente em T1, proporcionando um melhor empacotamento da mistura, e por consequência, uma maior resistência.
3.4.2. RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO AXIAL SIMPLES
O Gráfico 4 apresenta os resultados médios do ensaio de resistência à compressão axial simples dos concretos leves, realizado conforme recomendações da ABNT NBR 5739 (2018).
Gráfico 4 – Resultados do ensaio de resistência à compressão axial simples
Fonte: Autor, 2019.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
15
Percebe-se através dos resultados de resistência a compressão axial simples que os concretos leves para os dois primeiros traços (T1 e T2), atingiram resistência superior a 17 MPa, valor mínimo definido pela norma americana ACI 213R (2003), enquanto que os demais traços (T3 e T4) não atingiram tal resistência, fato este provavelmente ocasionado devido ao aumento da proporção de argila expandida na mistura que influencia diretamente na quantidade de vazios, tornando o produto final menos resistente.
Entre os quatro traços, o de proporção de 1:2:2,5 (T1) apresentou melhor resultando de resistência à compressão axial simples quando comparado aos demais traços (T2, T3 e T4). Isto pode ser explicado pelo fato evidenciado anteriormente, relacionado a uma maior quantidade de agregado graúdo em relação à fração de argamassa empregada na mistura, além disto, a argila expandida possui alto teor de porosidade que influencia na resistência do material.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As características e proporções dos materiais empregados para confecção dos concretos leves influenciam os resultados de resistência. A granulometria da areia mostrou elevada concentração de partículas nas malhas de 0,3 e 0,6 milímetros dos grãos, enquanto que para a argila expandida existe uma maior quantidade de partículas de diâmetro igual a 9,5 milímetros quando comparado a areia.
As massas específicas e unitárias dos materiais indicam que o agregado graúdo (argila expandida) é mais leve que o agregado miúdo (areia), influenciando no peso específico do concreto, levando-o a classificar como leve.
Entre as composições de concreto leve, observou-se que o traço de menor proporção de argila expandida (1:2:2,5) atingiu a maior resistência, aos vinte e oito dias de cura para o ensaio de compressão, bem como a menor absorção de água dentre os traços analisados. Entretanto, como a resistência à compressão axial simples dos concretos leves em estudo demostrou-se inferior ao valor considerado mínimo segundo especificado na ABNT NBR 6118 (2014) para ser classificado como concreto estrutural, propõem-se então sua aplicação em elementos que não solicitam alta resistência como: elementos pré-fabricados arquitetônicos e de paisagismo, painéis de fechamento e elementos tipo móveis (bancos para ambientes externos), entre outras aplicações.
REFERÊNCIAS
[1] AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. Guide for structural lightweight aggregate concrete. ACI 213R-2003. USA, 1999.
[2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11579: Cimento Portland - Determinação da finura por meio da peneira 75 µm (nº 200). Rio de Janeiro, 2013.
[3] NBR 5738: Concreto - Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Rio de Janeiro, 2016.
[4] NBR 5739: Concreto - Ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos. Rio de Janeiro, 2018.
[5] NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2014.
[6] NBR 7211: Agregados para concreto - Especificação. Rio de Janeiro, 2019.
[7] NBR 16605: Cimento Portland e outros materiais em pó — Determinação da massa específica. Rio de Janeiro, 2017.
[8] NBR 9778: Argamassa e concreto endurecidos - Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica. Rio de Janeiro, 2009.
[9] NBR NM 248: Agregados - Determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro, 2003.
[10] NBR NM 52: Agregado miúdo - Determinação da massa específica e massa específica aparente. Rio de Janeiro, 2009.
[11] NBR 8953: Concreto para fins estruturais - Classificação pela massa específica, por grupos de resistência e consistência. Rio de Janeiro, 2015.
[12] NBR NM 45: Agregados - Determinação da massa unitária e do volume de vazios. Rio de Janeiro, 2006.
[13] BAUER, L. A. F. Materiais de Construção. 5. ed. Rio de Janeiro, 2008.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
16
[14] HELENE, P.; ANDRADE, T. Concreto de Cimento Portland. In: ISAIA, G. C. Materiais de construção civil e princípios de ciência e engenharia de materiais. Rev. IBRACON, C. 29, P.1-40, 2010.
[15] MEHTA, P. K.; MONTEIRO, P.J.M., Concreto: microestrutura, propriedades e materiais. 3.ed. São Paulo, IBRACON, 2008.
[16] MORAVIA, W. G. Caracterização microestrutural da argila expandida para aplicação como agregado em concreto leve. Cerâmica, V.52, N.322, P.193-199, São Paulo, 2006.
[17] MORAVIA, W.G; GUMIERI, A. G.; VASCONCELOS, W. L.. Efficiency factor and modulus of elasticity of lightweight concrete with expanded clay aggregate. Rev. IBRACON Estrut. Mater., V.3, N.2, P.195-204, São Paulo, 2010.
[18] SANTIS, Bruno Carlos de. Concretos leves com agregados inovadores de argila vermelha calcinada e subprodutos agroindustriais. Tese (Doutorado em desenvolvimento, caracterização e aplicação de materiais voltados à agroindústria) - Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2016.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
17
Capítulo 2
Concreto reforçado com fibras alternativas: Análise das resistências a flexão e compressão
Joedy Mayara Santa Rosa de Souza
Wildson Wellington Silva
Leon Ney Ramos Lima
Everton Gustavo da Silva Lima
Gustavo Ribeiro da Silva
Taís Gomes de Sousa
Nylkson Rodrigues da Silva
Resumo: O concreto é o material mais utilizado no setor da construção civil, contudo o
seu uso prejudica consideravelmente o ambiente devido à enorme emissão de CO² na
atmosfera. Neste contexto, a busca de materiais renováveis que concedam ao concreto
um maior teor de sustentabilidade e melhores propriedades físicas e mecânicas está em
uma constante crescente. O presente trabalho objetivou analisar a inserção de fibra de
vegetal (Bambu), sendo um material abundantemente encontrado em todo território
nacional com uma excelente adaptação inclusive no sertão pernambucano, e fibra
sintética (PET), uma vez que é um insumo encontrado em grandes quantidades para
reciclagem, realizando a função de fibra no concreto, buscando a elaboração de um
concreto economicamente viável, sustentável e eficaz para o setor. Foram realizados os
ensaios de compressão axial e ensaio de tração na flexão em três tratamentos, dois com
adição de fibras (Bambu e PET) e um sem adição (controle). Em ambos os ensaios as
amostras com inserção de fibras apresentaram resistências satisfatórias em relação ao
concreto sem adição de fibras, mostrando ser uma alternativa para a melhoria e
sustentabilidade do material.
Palavras-chave: Sustentabilidade, material, concreto, fibras alternativas.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
18
1. INTRODUÇÃO
O concreto é utilizado em larga escala nas mais diversas obras de construção civil, ocupando o posto de material mais utilizado neste setor, devido ao seu baixo custo, alta durabilidade, resistência ao fogo e por se adequar as mais diversas formas de produção. Segundo Dias, Silva, Poggiali (2017), o desenvolvimento de um país está ligado à sua urbanização, por isso, pôr o concreto ser um dos materiais mais consumidos em todo o mundo, o crescimento de uma nação é imprescindível a produção e consumo deste material.
Essa grande utilização do concreto prejudica o meio ambiente consideravelmente, pois de acordo com Lima et al (2014), um dos seus componentes é o cimento que na sua formação há a produção de CO2, assim agravando o aquecimento global. Camões (2012) relata que para cada tonelada de cimento produzida é emitido aproximadamente uma tonelada de CO2 na atmosfera, sendo necessárias, atualmente, inovações tecnológicas para a diminuição da quantidade de cimento produzido.
Além disso, “Como um material estrutural, ele tem certas limitações e desvantagens. Como grande parte dos materiais cerâmicos, o concreto produzido por Cimento Portland é relativamente pouco resistente e bastante frágil; quando submetido a esforços, seu limite de resistência a tração é aproximadamente 10 a 15 vezes menor que sua resistência a compressão” (CALLISTER, 2012). Segundo Bastos (2017), essa reduzida resistência do concreto quando submetido a tração, quando comparada à compressão, é devida à sua dificuldade de paralisar a propagação das fissuras. No concreto convencional, a uma grande concentração de tensões na extremidade da fissura. Essa concentração de tensões, em um certo tempo, causa a ruptura da matriz, aumentando assim a fissura e seguindo esse mesmo procedimento até a ruptura total do concreto.
Nesse contexto, um dos desafios da construção civil é a busca de materiais que concedam ao concreto uma maior resistência a esforços e um maior teor de sustentabilidade. Segundo Figueiredo (2011), um material alternativo para conferir uma maior resistência ao concreto é a fibra. Quando há a inserção de fibras com consideráveis resistências e módulo de elasticidade em um teor apropriado, a fragilidade do concreto diminui. Isso acontece pela fibra agir como ponte de tensão nas fissuras, tendo uma maior capacidade de resistir as mesmas, logo, evitando retrações, reduzindo a fadiga e o rompimento abrupto do concreto. Silva et al (2015) relata que a inserção de fibras naturais no concreto pode adquirir um maior teor de sustentabilidade devido à diminuição da extração de recursos naturais inseridos na fabricação de compósitos cimentícios.
O Brasil é um dos países com a indústria de reciclagem de garrafas PET mais desenvolvida em todo o mundo. Segundo dados da CEMPRE (Compromisso Empresarial para Reciclagem), apenas 59% das embalagens pós-consumo produzidas de PET foram efetivamente recicladas em 2012, totalizando 331 mil toneladas. Esse dado mostra que mesmo o Brasil sendo um dos principais países na reciclagem desse material, grande parte ainda é descartada de forma incorreta. Quanto algumas propriedades desse material, pode-se destacar: módulo de elasticidade entre 2,76 a 4,14 GPa, resistência a tração de 57 MPa e módulo em flexão de 1200 kg/mm².
Segundo Pereira e Beraldo (2007), devido à grande abundância, sua variada aplicação e facilidade no plantio, o bambu é um material renovável e de uso ecologicamente sustentável que pode ser explorado. Seu plantio é rápido e seu corte pode ser anual sem a necessidade de replantio, mostrando seu grande potencial agrícola. Esse vegetal apresenta uma das estruturas mais perfeitas da natureza, pois combina flexibilidade com leveza. Além disso, este material apresenta módulo de elasticidade igual a resistência a tração de 126 MPa e resistência a compressão de 50,4 MPa.
Através do presente trabalho, foram realizadas análises de acordo com os dados obtidos nos ensaios elaborados com o CRF (Concreto Reforçado com Fibra), tentando obter assim resultados que possam tornar esses materiais uma fonte alternativa, segura e sustentável para o setor da construção civil
2. MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Materiais de Construção da Faculdade de Integração do Sertão em Serra Talhada/PE. Foram confeccionados, para este estudo, réplicas de: concreto controle (sem adição de fibras), concreto com fibra vegetal (bambu) e concreto com fibra sintética reciclada (PET), com o objetivo de analisar o desempenho e as propriedades mecânicas dos materiais.
Para a realização da moldagem foram utilizadas formas metálicas (corpos de prova) no formato cilíndrico (com dimensões 10cm x 20cm) e prismático (com dimensões 10cm x 10cm x 40cm). O concreto produzido teve como aglomerante o cimento CP II-Z-32, conforme a norma NBR 11578:1997. A areia quartzosa
Engenharia no Século XXI – Volume 18
19
(agregado miúdo) utilizada nesse estudo é proveniente do Rio Pajeú/PE, seguindo todas as atribuições exigidas pela NBR 7211:2009, necessitando ser resultante do britamento de rochas estáveis ou de origem natural, ou mistura a de ambas, cujos grãos passam pela peneira com malha 4,8 mm e ficam retidos na peneira ABNT 0,075 mm. O agregado miúdo utilizado tem massa específica aparente de 1385 kgf/m³ e massa específica de 2660 kgf/m³. Os agregados graúdos utilizados foram brita 0 e brita 1 de origem metamórfica (gnaisse), contendo massa especifica aparente de 1356 kgf/m³ e massa especifica absoluta de 2668 kgf/m³, seguindo as requisições da NBR 7211:2009.
O bambu utilizado é da espécie Bambusa vulgaris vittata proveniente de plantações na cidade de Triunfo/PE. No preparo da fibra vegetal (Bambu) para o experimento, foram retirados os fios da casca superficial, postos para secar e separados de acordo com seu comprimento (aproximadamente 4 cm). A fibra sintética (PET) foi obtida através de material reciclado e, em seguida, foram lavadas, cortadas e separadas segundo seu comprimento (cerca de 4 cm). A água utilizada em todo o estudo foi fornecida pela Companhia Pernambucana de Saneamento- COMPESA. Foram inseridos no traço dois aditivos para obter uma melhor trabalhabilidade no concreto, sendo eles: AMT POWERFLOW 3100 e o AMT POWERFLOW 1108.
Figura 1. A. Aditivo AMT POWERFLOW 3100. B. Aditivo AMT POWERFLOW 1108. C. Fibra de PET cortada.
D. Fios da fibra de Bambu após ser retirado da casca.
Foram confeccionadas amostras do traço 1:2:2 com fator água cimento de 0,55 para ambos os moldes. Posteriormente, seguindo as especificações da NBR 5738:2015, as amostras foram submetidas ao processo de cura úmida em um tanque com água e cal. O primeiro teste realizado durante a moldagem foi o ensaio de abatimento de tronco de cone (slump test) segundo a NBR NM 67:1998, para determinar a consistência do concreto fresco através da medição do seu adensamento.
De acordo com a NBR 5739 os corpos de prova cilíndricos passaram pelo ensaio destrutivo de compressão axial aos sete dias, catorze dias e vinte e oito dias. E seguindo a NBR 12142 Os corpos de prova prismáticos passaram pelo ensaio de tração na flexão aos sete dias e catorze dias.
2.1 CONFECÇÃO
Na confecção dos traços foi utilizada uma betoneira com capacidade de 120 litros. Os materiais foram colocados de acordo com a NBR 12655:2015 e respeitando a ordem: 50% da água, brita, cimento, areia, 50% da água e aditivos. Nos traços onde houve a adição de fibras, as mesmas foram inseridas quando a mistura se encontrava homogeneizada.
Tabela 1. Proporções de materiais utilizados no tratamento de um corpo de prova cilíndrico. Descrição dos tratamentos
Cimento (kg)
Areia(kg) Brita 0(kg)
Brita 1(kg)
Fibra (g)
Água(L) Aditivo 1 (ml)
Aditivo 2 (ml)
Controle 0,996 1,992 0,996 0,996
0,55 2 2 Bambu 0,996 1,992 0,996 0,996 29,85 0,55 2 2
PET 0,996 1,992 0,996 0,996 29,85 0,55 2 2
Fonte:Autores (2019).
Engenharia no Século XXI – Volume 18
20
Tabela 2. Proporções de materiais utilizados no tratamento de um corpo de prova prismático. Descrição dos tratamentos
Cimento(kg)
Areia (kg)
Brita 0(kg)
Brita 1(kg)
Fibra (g)
Água(L) Aditivo 1 (ml)
Aditivo 2 (ml)
Controle 2,85 5,7 2,85 2,85
1,57 5,7 5,7 Bambu 2,85 5,7 2,85 2,85 256 1,57 5,7 5,7
PET 2,85 5,7 2,85 2,85 256 1,57 5,7 5,7 Fonte: Autores (2019).
2.2 ENSAIO DESTRUTIVO COMPRESSÃO AXIAL
Os corpos de prova cilíndricos aos sete, catorze e vinte e oito dias foram submetidos ao ensaio de compressão axial para avaliar a resistência e as propriedades mecânicas seguindo a NBR 5739:2007. O ensaio foi realizado em uma prensa com capacidade para 100 toneladas, onde foram colocados os moldes e aplicado cargas até o momento da sua ruptura. Após os testes, os resultados foram colhidos e calculados para obter a resistência final do concreto em cada amostra, através da equação:
(1)
Onde:
2.3 ENSAIO DESTRUTIVO DE TRAÇÃO NA FLEXÃO
De acordo com a NBR 12142, foi realizado o ensaio de tração na flexão para os corpos de prova prismáticos com sete dias e catorze dias de idade com o intuito de analisar as propriedades mecânicas dos materiais. A prensa utilizada foi a mesma do ensaio destrutivo de compressão axial. Para o cálculo da resistência nesse ensaio, os resultados coletados foram inseridos na seguinte equação:
(2)
Onde:
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O gráfico (Figura 2) a seguir exibe a média dos resultados aos sete, catorze e vinte e oito dias quando submetidos ao ensaio destrutivo de compressão axial para cada modelo de corpo de prova.
fc = Resistência a compressão (MegaPascal - MPa)
F = Força máxima alcançada (Newton - N)
D = Diâmetro do CP (Milímetro - mm).
fct,f = Resistência à tração na flexão (MegaPascal - MPa) F = Força máxima registrada na máquina de ensaio (Newton - N) l = Dimensão do vão entre apoios (Milímetro - mm) b = Largura média do corpo de prova (Milíetro - mm) d = Altura média do corpo de prova (Milímetro - mm).
Engenharia no Século XXI – Volume 18
21
Figura 2. Gráfico com os resultados dos tratamentos cilíndricos aos sete, catorze dias e vinte e oito dias.
Fonte: Autores (2019)
Constata-se que, aos sete dias, o concreto com adição de fibra vegetal (Bambu) adquiriu uma maior resistência em relação aos demais, chegando a atingir 22,34 MPa, sendo aproximadamente 9% superior a amostra controle e cerca de 4% maior que o com concreto com PET. O concreto com adição de fibra sintética (PET), mesmo tendo uma resistência inferior ao concreto com fibra de Bambu, superou o concreto referencial, atingindo 21,44 MPa. Já o concreto controle (sem adição de fibras) obteve a menor resistência entre todos, obtendo a marca de 20,35 MPa.
Aos 14 dias, constatou-se que o concreto com adição da fibra de Bambu continuou com resultados melhores em relação as outras duas amostras, atingindo uma resistência média de 24,41 MPa, vale a pena destacar que o concreto referencial (sem adição de fibra) se mostrou um pouco superior ao concreto com fibra de PET, obtendo resistências iguais a 24,06 Mpa e 23,82 MPa, respectivamente.
Aos 28 dias de idade, o concreto com Bambu mais uma vez se destacou ao apresentar resultado satisfatório em relação aos demais traços, alcançando uma resistência média final de 28,63 MPa, aproximadamente 10% superior em relação ao concreto controle e com adição de PET. O tratamento com fibra sintética (PET) mostrou um aumento da sua resistência final aos 28 dias em relação a resistência final do tratamento referencial, obtendo um resultado médio de 25,92 MPa, por volta de 0,5%.
Vale a pena destacar que, em todas as idades, as amostras obtiveram resultados superiores a 20 MPa que é o mínimo exigido pela NBR 6118:2014 para concreto estrutural.
Figura 3. Ruptura dos corpos de prova cilíndricos. A. Concreto controle (sem inserção de fibras). B.
Concreto com fibra de PET. C. Concreto com fibra vegetal (Bambu).
Fonte: Autores (2019).
Observa-se que o concreto com adição de fibra de Bambu adquiriu uma maior constância, tendo fraturas na parte central e inferior e microfissuras na parte superior, obtendo um rompimento conciso em quase toda sua extensão. O concreto com fibra de PET obteve rompimento com fraturas na parte central e superior apresentando microfissuras na em inferior, contendo algumas na parte central. Em relação ao concreto controle, pode-se observar que houve um rompimento mais abrupto em toda a sua extensão.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
22
Com isso, destaca-se que as amostras com adição de fibras obtiveram um rompimento consideravelmente melhor e mais conciso em relação ao referencial, assim, as fibras agiram como ponte de tensão nas fissuras, retardando-as e fazendo com que não houvesse o drástico rompimento do corpo de prova.
O gráfico (Figura 4) abaixo apresenta os resultados obtidos aos sete e catorze dias, dos corpos de prova com e sem inserção de fibras, quando submetidos ao ensaio de tração na flexão.
Figura 4. Gráfico demonstrativo dos resultados obtidos pelo ensaio de tração na flexão.
Fonte: Autores (2019).
Aos sete dias de idade, os resultados coletados do ensaio de tração na flexão foram: O concreto sem adição de fibras obteve a menor resistência entre os demais, atingindo uma marca de 3,16 MPa. A amostra com inserção de fibra sintética (PET) foi superior ao referencial em aproximadamente 37% e inferior ao concreto com adição de fibra de Bambu em cerca de 6,5%, atingindo uma média de 5 MPa. Em relação ao concreto com adição de fibra vegetal (Bambu), vale destacar que, o mesmo foi superior aos demais, obtendo um resultado de 41% a mais que o concreto controle, atingindo uma resistência final de 5,34 MPa.
Observa-se que os resultados obtidos aos catorze dias, a amostra com fibra vegetal (Bambu) destaca-se novamente com sua resistência, sendo superior aos demais, com aproximadamente 2,5% em relação a PET e 10,5% em relação ao referencial, atingindo 4,57 MPa. O concreto com PET continuou superior ao referencial, tendo uma resistência final de 4,47 MPa.
Figura 5. Demonstração da ruptura dos corpos de prova prismáticos. A. Concreto referencial. B. Concreto
com adição de fibra sintética (PET). C. Concreto com adição de fibra vegetal (Bambu).
Fonte: Autores (2019).
Percebeu-se que o concreto referencial, quando submetido a tensões no ensaio de tração na flexão, obteve um rompimento abrupto devido a sua baixa resistência a tração e módulo de elasticidade.
Os tratamentos com adição de fibras, além de obter resistências maiores em relação ao referencial, tiverem um rompimento excelente. A amostra com fibra de PET, mesmo com a adição de tensões, não
Engenharia no Século XXI – Volume 18
23
houve o rompimento brusco do material, pois as fibras agiram excepcionalmente como ponte de tensão, transferindo forças e fazendo com que essa tensão recebida descaísse gradualmente com a sua deformação. Isso aconteceu devido a PET ter um considerável módulo de elasticidade e resistência a tração. Além do mais, vale ressaltar que a fibra de PET não possuiu grande aderência com o concreto, com isso, quando se adicionava tensões cada vez maiores, algumas fibras eram arrancadas da amostra. O concreto com fibra de Bambu se destacou pela sua resistência, além disso, mesmo suportando grandes tensões e tendo paralisado o avanço das fissuras, servindo como ponte de tensão, com o passar do tempo, com o acréscimo dessas tensões na amostra, o concreto chegou a ruptura total.
4. CONCLUSÃO
Através das análises feitas no estudo foi possível perceber que a fibra de bambu apresentou resultados superiores em todas as idades no tratamento cilíndrico, mostrando sua ótima resistência quando submetido a compressão. Mesmo com resultados um pouco inferiores ao bambu, a fibra sintética (PET) também apresentou ótimos resultados no ensaio de compressão, obtendo uma resistência 1% maior quando comparada com o referencial aos 28 dias.
Nos tratamentos prismáticos, os resultados coletados no ensaio de tração na flexão, mostraram a eficácia da adição da fibra em todas as idades. Os tratamentos com adição de fibra obtiveram resultados superiores quando comparados com o referencial. Todos os traços foram desenvolvidos igualitariamente com a mesma quantidade de insumos, então, qualquer alteração nos resultados foram decorrentes da utilização das fibras.
Com isso, este trabalho proporcionou um novo potencial de aplicação, mostrando ser uma viável alternativa econômica, sustentável e eficaz para sua utilização na área. Vale ressaltar que o estudo é inovador e deve ser continuado com o objetivo analisar, aperfeiçoar e estudar as propriedades dos materiais visando o desenvolvimento científico e proporcionando a inclusão de novas tecnologias ao setor da construção civil.
REFERÊNCIAS
[1] ABNT NBR 11578:1997, Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (1997), “Cimento Portland – Especificações”, Rio de Janeiro, Brasil.
[2] ABNT NBR 7211:2009, Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2009), “Agregados: Determinação da composição granulométrica”, Rio de Janeiro, Brasil.
[3] ABNT NBR 5738:2015, Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2015), “Concreto – Procedimento para moldagem e cura de corpos de prova”. Rio de Janeiro, Brasil.
[4] ABNT NBR 5739:2007, Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2007), “Concreto- Ensaios de compressão de corpos-de-prova cilíndricos”. Rio de Janeiro, Brasil.
[5] ABNT NBR/NM 67, Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2007), “Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone”. Rio de Janeiro, Brasil.
[6] ABNT NBR 12655:2015, Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2015), “Concreto de cimento Portland: Preparo, controle, recebimento e aceitação-Procedimento”. Rio de Janeiro, Brasil.
[7] ABNT NBR 12142:2010, Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (2010), Determinação da resistência à tração na flexão em corpos de prova prismáticos. Rio de Janeiro, Brasil.
[8] ABNT NBR 6118:2014, Associação Brasileira De Normas Técnicas – Abnt (2014), “Projeto De Estruturas De Concreto — Procedimento”. Rio De Janeiro, Brasil.
[9] BASTOS, P. S. S. Concreto com fibras. Bauru/SP, 2017. Disponível em: <wwwp.feb.unesp.br/pbastos/c.especiais/Concreto%20Fibras.ppt>. Data de postagem não divulgada.
[10] CAMÕES, A. 2005. Betões de elevado desempenho com volume de cinzas volantes. Revista de Engenharia Cívil. Universidade do Minho. Departamento de Engenharia Civil, Azurém, Portugal, 23.
[11] CALLISTER JR., W. D.; Rethwisch, D. G. 2012. Ciência E Engenharia Dos Materiais: Uma Introdução. Ltc, V. 8° Edição, 2012.
[12] CEMPRE. Artigos e Publicações 2019. Disponível em: http://cempre.org.br/artigo-publicacao/ficha-tecnica/id/8/pet. Acesso em: 17/07/2019.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
24
[13] DIAS, A. M.; SILVA, T. J. V.; POGGIALI, F. S. J. O Concreto Sustentável Brasileiro. Construindo. Belo Horizonte, v.09, n.1, p. 84-97, jan/abr., 2017.
[14] FIGUEIREDO, A. 2011. Concreto reforçado com fibras [Tese de livre docência]. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo (SP).
[15] LIMA, C. I. V.; COUTINHO, C. O. D.; AZEVEDO, G. G. C.; BARROS, T. Y. G.; TAUBER, T. C.; LIMA, S. F. Concreto e suas Inovações. Maceió/AL, 2014. Disponível em: <https://periodicos.set.edu.br/index.php/fitsexatas/article/download/1285/755>. Data de postagem não divulgada.
[16] SILVA, E.; MARQUES, M. L.; FORNARI JUNIOR, C.; VELASCO, F. Análise técnica para o reaproveitamento da fibra de coco na construção civil. Ambiência Guarapuava, v.11 n.3 p. 669-683, Set./Dez. 2015.
[17] PEREIRA, M. A. R.; BERALDO, A. L. Bambu de Corpo e Alma. Ed. Canal 6, Bauru/SP, 2007.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
25
Capítulo 3
Estudo do comportamento estrutural de um traço de revestimento asfáltico produzido com agregado reciclado a partir de resíduo de concreto André da Silva Luz
Flávio Alessandro Cripsim
Resumo: A cadeia produtiva do setor da construção civil, está fortemente ligada a
cenários de degradação ambiental, como por exemplo, a exploração de ambientes
naturais para mineração e, por conseguinte a geração de resíduos sólidos. Frente a estes
problemas e impulsionado pelos modelos atuais de produção sustentável, cada vez mais
países, implementam e geram leis que corroboram para a prevenção e minimização de
tais impactos. Entretanto, o maior desafio para o setor é disseminar ideias, através de
estudos, que incentivem a reciclagem e a reutilização do resíduo produzido, e
minimizem o impacto ambiental gerado pela exploração de jazidas e pela destinação
final desse subproduto. Esta pesquisa apresenta como alternativa ao problema exposto,
a produção de pavimentos flexíveis do tipo CBUQ, com agregados reciclados a partir de
resíduo de concreto. Para atestar a viabilidade técnica da alternativa, o material
reciclado passou por ensaios de caracterização física, e por ensaios mecânicos exigidos
para produção de concreto asfáltico. A mistura proposta no estudo, foi: 80% de resíduo
de concreto, 15% de brita 1, 2% de pedrisco e 3% de cal. Os resultados obtidos através
da caracterização física do resíduo, para os ensaios aos quais foi submetido, apontaram
para valores acima dos valores minimos exigidos pela norma 031/2006 do DNIT.
Entretanto para a proporção sugerida de substiuição, não foi possível estabelecer um
valor para o teor ótimo de ligante; isso porque o volume de vazios da mistura ficou
acima do resultado esperado. Em relação aos ensaios mecânicos, foram realizados os
ensaios de estabilidade e fluênica, e ambos atenderam aos requisitos estabelecidos; o
valor da estabilidade ficou acima do valor mínimo exigido e o valor da fluência ficou
dentro do intervalo sugerido. Os resultados indicam que possíveis interações entre
materiais de origem natural e materiais reciclados, no âmbito da pavimentação asfáltica,
podem apresentar resultados eficientes.
Palavras-chave: Resíduos; concreto; agregado reciclado; CBUQ; pavimentação asfáltica.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
26
1. INTRODUÇÃO
O setor da construção civil atua como um dos principais colaboradores da economia. No Brasil o setor é responsável por aproximadamente 15% do produto interno bruto – PIB, e pela geração de 62 para cada 100 empregos diretos. Ainda, conta com investimentos anuais de cerca de R$100 milhões que contribuem para redução da insuficiência habitacional e de infraestrutura (MORAIS, 2006). Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, no ano de 2018 no estado de Mato Grosso o setor registrava 32759 empregos formais.
No entanto, apesar de desempenhar um papel importante na economia do país, a construção civil gera uma grande quantidade de malefícios ao meio ambiente (CÂNDIDO,2013).
Segundo Freitas (2009), em decorrência da alta demanda por materiais de origem natural, o maior impacto ambiental causado pelas atividades produtivas do setor é a superexploração de jazidas minerais. Por se tratarem de recursos naturais provenientes de fontes não renováveis, o crescimento da exploração mineral, contribui para o esgotamento desse recurso, além de concorrer para a, poluição do ar, solo e água, e para geração de resíduos.
Estima-se que do total de recursos naturais extraídos e consumidos pela sociedade, uma faixa entre 15% e 50% esteja diretamente ligada as atividades relacionadas à construção civil (LEAL, 2003).
Todavia os prejuízos causados por esses impactos vão além dos problemas relacionados ao meio ambiente. Também são gerados impactos de ordem social interligados, que refletem na qualidade de vida da população e na geração de custos extras ao poder público, que obrigatoriamente necessita realizar medidas corretivas. Exemplos disso, são os danos causados aos sistemas de drenagem do espaço urbano, observado principalmente nos períodos chuvosos, a capacidade viária comprometida e a proliferação de vetores epidêmicos, que afetam diretamente na saúde pública (I&T, 2004). Isso ocorre, pois, parte dos recursos naturais utilizados nas atividades construtivas, ao final do processo, geram um subproduto denominado Resíduos da Construção Civil – RCC (MORAIS, 2006).
A Figura 1 mostra que, esses resíduos são gerados a partir do desperdício nas obras de construção, reformas e demolições (ÂNGULO, 2005). Lima (2012) ressalta que, além do desperdício de materiais ocorrido durante o processo de execução das obras, grande parte da geração de RCC, está relacionada a danos ocorridos nos processos de transporte, recebimento e armazenamento desses materiais.
FIGURA 1 - Origem dos resíduos.
Fonte: Crea – PR (2012)
No Brasil grande parte dos resíduos gerados provém de fontes informais. Segundo Pinto (2005), do total de resíduos da construção civil gerados em alguns municípios brasileiros, mais de 75% são originados em obras não licenciadas, ou seja, provém de fontes informais; enquanto que os resíduos gerados pelas obras licenciadas pelo poder público (fontes formais) representam apenas um percentual de 15% a 30%.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
27
Outro impacto ambiental preocupante, em relação, as atividades desenvolvidas pelo setor, somado a geração de resíduos, é a destinação final dada a este subproduto (Figura 2 e 3). Apesar de existirem espaços regularizados de aterro sanitário para descarte dos resíduos da construção civil, devido ao grande volume de resíduos gerados, comumente o descarte desse rejeito é realizado de maneira irregular em áreas de bota-fora, e até mesmo em vias públicas, terrenos baldios e margens de rios e córregos (FREITAS, 2009).
FIGURA 2 - Entulhos na Av. André Maggi, Sinop – MT.
Fonte: LUZ, 2017.
FIGURA 3 - Entulhos obstruindo vias. Rua Alcides Faganelo, Sinop – MT.
Fonte: LUZ, 2017.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
28
Com um crescente na preocupação, em relação, aos prejuízos causados ao meio ambiente pela geração de RCC, o setor da construção civil oferece diversas possibilidades para a reciclagem e aplicação do próprio RCC na sua cadeia produtiva. Alguns exemplos da utilização do resíduo (reciclado) são: camadas de base e sub-base para pavimentação, coberturas primárias de vias, fabricação de argamassas de assentamento e revestimento, fabricação de concretos, fabricação de pré-moldados (blocos, meio-fio, dentre outros), camadas drenantes e etc (BRASILEIRO,2013).
Segundo Pinto (1999), no Brasil os primeiros estudos sobre a reciclagem de RCC iniciaram a partir de 1983. No ano de 1991 a primeira usina de reciclagem do país foi instalada na cidade de Itatinga – SP; operando inicialmente com capacidade de 100 toneladas por dia. A usina empregava o resíduo reciclado como base na pavimentação de ruas e estradas, iniciando assim a reciclagem e reutilização de RCC no país.
Entretanto, um relatório divulgado em 2013 pela Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição – ABRECON, mostrou que, apenas 19% do total de resíduos gerados são reciclados; enquanto uma pequena parte está inclusa no grupo que conta com algumas ações, e todo o restante do RCC é descartado de forma irregular no meio ambiente.
No seguimento da pavimentação asfáltica, inserido dentro do escopo da indústria da construção civil, Brasileiro (2013) explica que, aproximadamente 90% do peso total, da mistura produzida para revestimento asfáltico, corresponde a agregados de várias granulometrias. Dessa forma, com o intuito de diminuir a crescente exploração de jazidas para obtenção de agregados naturais e a redução de áreas para o destino final do resíduo produzido por essa matéria prima, diversas pesquisas buscam ampliar as técnicas de reciclagem do RCC para o uso na pavimentação asfáltica, estimulando assim, o retorno do material aos processos produtivos do próprio setor, na forma de matéria prima alternativa.
Concordando com a implantação de novas técnicas, Lourenço e Cavalcante (2014), mostraram em sua pesquisa que, os estudos realizados em torno da reciclagem de resíduos, sustentam a ideia da reutilização do RCC, na forma de agregado reciclado, para pavimentação asfáltica. Tais estudos demonstram que, por se tratar de uma vertente da construção civil que, demanda grandes quantidades de matéria prima, à área da pavimentação apresenta resultados muito positivos no sentido da reutilização de resíduos reciclado.
Segundo Bernucci et al. (2008), a principal forma de revestimento de estradas na maioria dos países do mundo é a pavimentação asfáltica. No Brasil, do total de estradas pavimentadas cerca de 95% são de revestimento asfáltico, além disso, o revestimento asfáltico é amplamente empregado nas ruas e avenidas dos centros urbanos.
De acordo com dados da Confederação Nacional do Transporte – CNT (2016), a malha rodoviária brasileira possui uma extensão de 1.720.872 km, entretanto estão pavimentados apenas 211.399,10 km desse total, ou seja, somente 12,30% das rodovias do país são pavimentadas. Ainda segundo esses dados, para o estado de Mato Grosso dos 42.044 km de rodovias, apenas 8.467 km estão pavimentados.
Esses dados podem ser observados, na Figura 4, em um levantamento realizado pelo Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes – DNIT no ano de 2015.
FIGURA 4 - Tabela - Rede nacional de viação (SNV).
Fonte: DNIT (2015)
Engenharia no Século XXI – Volume 18
29
Até o ano de 2002 ainda não existia no Brasil nenhum tipo de política pública a respeito da gestão dos resíduos gerados pelo setor da construção civil. Porém em julho de 2002 entrou em vigor a Resolução nº 307 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, e oito anos após em agosto de 2010, surgindo para somar forças a essa resolução, foi sancionada a lei nº 12.305, que se refere à Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS.
Seguindo a grande quantidade de estudos a cerca deste assunto, e com o objetivo de nortear os pesquisadores que desenvolvem trabalhos nessa área, no ano de 2004, “a ABNT de São Paulo elaborou, com a contribuição do Sinduscon-SP, da Escola Politécnica de São Paulo, de empresas privadas e das administrações municipais de São Paulo e Santos, as NBR 15116 (2004) e 15115 (2004)” (LOURENÇO E CAVALCANTE, 2014).
A NBR 15115 (2004) define os critérios e procedimentos para o uso de RCD em camadas de pavimentação e a NBR 15116 (2004) classifica o agregado em dois tipos:
Agregado de resíduo de concreto (ARC): “É o agregado reciclado obtido do beneficiamento de resíduo pertencente à classe A, composto na sua fração graúda, de no mínimo 90% em massa de fragmentos à base de cimento Portland e rochas”;
Agregado de resíduo misto (ARM): “É o agregado reciclado obtido do beneficiamento de resíduo de classe A, composto na sua fração graúda com menos de 90% em massa de fragmentos à base de cimento Portland e rochas”.
Com base na contextualização e no constante crescimento de infraestrutura urbana e rodoviária no país, o objetivo da pesquisa é analisar a possibilidade técnica do uso de agregado reciclado, a partir de resíduo de concreto, como materia prima alternativa para o setor rodoviário. Dessa forma, avaliou-se o comportamento estrutural de uma mistura de revestimento asfáltico, produzida parcialmente com esse subproduto.
2. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA
Para o desenvolvimento da pesquisa, foram utilizados os laboratórios de concreto e solos da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), o laboratório de pavimentação asfáltica de uma empresa privada, algumas obras para captação do material estudado e o triturador de uma empresa de blocos de concreto. Todo processo metodológico apresentado, foi realizado entre os meses de julho e outubro de 2018, na cidade de Sinop, região norte do Estado de Mato Grosso.
A ordem das atividades executadas, durante o período de desenvolvimento do estudo, está ilustrada na Figura 5.
FIGURA 5 - Ordem das Atividades Realizadas.
Fonte: LUZ, 2018.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
30
2.1 DETERMINAÇÃO DO RESÍDUO
Na primeira etapa, foi definido qual tipo de resíduo existente nas obras disponibilizadas, seria escolhido para ser utilizado na composição do CBUQ. O critério de avaliação para essa escolha, levou em consideração as especificações apresentadas pela resolução nº 307 do CONAMA, em relação aos resíduos pertencentes a Classe A.
Dessa forma, dentre os resíduos disponíveis nas obras analisadas, foi decidida a utilização de resíduos de concreto, pois, além de estarem enquadrados dentro da classe definida pela pesquisa, existe um respaldo técnico-cientifico extenso, em relação aos ensaios de caracterização do mesmo.
2.2 COLETA E BRITAGEM DOS RESÍDUOS
Na segunda etapa foram realizadas as coletas e a britagem do resíduo selecionado. Em cada obra foram coletadas manualmente algumas amostras desse material, que após recolhidas foram acondicionadas em 4 baldes plásticos com capacidade aproximada de 25 kg cada, totalizando um total de 100 kg de resíduo. O processo de britagem ocorreu no equipamento triturador da empresa de blocos de concreto (Figura 6).
FIGURA 6 - Coleta e britagem dos resíduos.
Fonte: LUZ, 2018.
2.3 CARACTERIZAÇÃO DOS AGREGADOS RECICLADOS
Na terceira etapa, foi realizada a análise granulométrica dos agregados resultantes do processo de britagem do resíduo. Para essa avaliação foi utilizado o método de ensaio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), DNER-ME 083. A quantidade de amostra utilizada foi de aproximadamente 1 kg, passada em um conjunto de peneiras de malha quadrada conforme a sequência: 25,4; 19,1; 12,7; 9,5; 4,8; 2,0; 0,42; 0,18 e 0,075 mm.
2.4 DETERMINAÇÃO DO EQUIVALENTE DE AREIA DOS AGREGADOS RECICLADOS
Na quarta etapa, foi determinado o Equivalente de Areia, realizado conforme a norma DNER-ME 054 (DNER, 1997).
2.5 PARÂMETROS INICIAIS DA MISTURA
Na quinta etapa, foram feitas a escolha da faixa granulométrica que seria utilizada, a caracterização e as possíveis dosagens da mistura.
Em relação as faixas granulométricas, o DNIT estabelece o uso de três delas: A, B e C, que variam de acordo com a distribuição granulométrica dos agregados. Levando em consideração o possível comportamento
Engenharia no Século XXI – Volume 18
31
granulométrico do agregado reciclado, optou-se pelo uso da faixa C, considerando que, além de ser a faixa mais utilizada em execuções de camadas de rolamento, poderia possibilitar uma quantidade maior de substituição de material natural por material reciclado.
O valor da substituição proposta para análise, foi obtido através de uma planilha eletrônica (Microsoft® Excel®), onde vários valores foram testados, de maneira a se obter o máximo de substituição possível de agregado natural por agregado reciclado, até o ponto em que, a curva se enquadrasse nos limites de tolerância estabelecidos para a faixa granulométrica adotada.
2.5.1 DOSAGEM E MOLDAGEM DOS CORPOS-DE-PROVA
Para o procedimento de dosagem foi seguida metodologia Marshall, que é especificada pelo DNIT, na norma DNER–ME 043 (DNER, 1995) e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT na norma NBR 1289.
Conforme as especificações do DNIT (2006) para a faixa C (camadas de rolamento), devem ser respeitadas as respectivas tolerâncias no que diz respeito a granulometria e a quantidade de CAP, que deve estar dentro do intervalo estabelecido para ligante asfáltico pelo projeto da mistura (entre 4,5% a 9,0% +/- 0,3%).
A quantidade de ligante inicial utilizada para a mistura, foi de 5%. Esta quantidade foi estimada com base na experiência de campo, da equipe envolvida, e foram estabelecidas porcentagens abaixo (-0,5% e -1,0%) e porcentagens acima (+0,5% e +1,0%) desse valor. Nessa pesquisa foi utilizado o CAP 30/45.
Foram preparados 3 corpos-de-prova para cada teor de ligante, seguindo a metodologia DNER–ME 043 (DNER, 1995). Cada corpo-de-prova foi moldado manualmente com a utilização de um soquete Marshall padronizado. Para a compactação foram aplicados 75 golpes, com o soquete, por face do corpo-de-prova. Após a compactação e repouso de 12 horas, os corpos-de-prova foram desenformados, medidos, pesados ao ar e pesados imersos em água para a determinação dos parâmetros volumétricos e mecânicos necessários para atender à especificação de serviço ES 031(DNIT, 2006) (Figura 7).
FIGURA 7 - Etapas do ensaio Marshall: a) Agregados na estufa; b) Dosagem; c) Incorporação do CAP 30/45
à mistura; d) Moldagem do corpo de prova; e) Amostras desenformadas.
Fonte: LUZ, 2018.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
32
2.6 CÁLCULO DOS PARÂMETROS VOLUMÉTRICOS
Na sexta etapa, foram realizados os cálculos dos parâmetros volumétricos da mistura. Após o resfriamento e desmoldagem dos corpos-de-prova, determinou-se o percentual de vazios e a relação betume/ vazios. Obteve-se as dimensões dos corpos de prova (diâmetro e altura), a massa seca (Ms) e a massa submersa (Msub), e com esses valores foi determinada a massa específica aparente (Gmb).
2.7 ENSAIOS MECÂNICOS
Por fim, na sétima etapa, foram realizados os ensaios mecânicos nos corpos-de-prova, afim de se avaliar o comportamento estrutural dos mesmos. Os ensaios realizados foram: Estabilidade Marshall e Fluência (DNER, 1995).
FIGURA 8 – Etapas do ensaio Marshall: f) Banho Maria; g) Rompimento.
Fonte: LUZ, 2018.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
De acordo com os limites estabelecidos pela faixa granulométrica escolhida (Faixa C), foi possível realizar uma substituição de 80% do agregado natural por agregado reciclado, sem que os valores máximos e mínimos da faixa fossem ultrapassados. Dessa forma obteve-se a seguinte composição para a mistura: 80% de resíduo de concreto, 15% de brita 1, 3% de cal e 2% de pedrisco (Tabela 1).
TABELA 1 - Percentual dos agregados que formam a nova composição enquadrados na faixa C do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). P=Porcentagem passante, C=Porcentagem calculada.
PENEIRAS
BRITA 1 PEDRISCO RESÍDUO CAL ResultadoTotal
% útil. 15% % útil. 2% % útil. 80% % útil. 3%
% % % % % % % % % P.
(mm) pol. P. C. P. C. P. C. P. C.
25,4 1" 100,00 15,00 100,00 2,00 100,00 80,00 100,00 3,00 100,0
19,1 3/4 100,00 15,00 100,00 2,00 100,00 80,00 100,00 3,00 100,0
12,7 1/2 60,80 9,12 100,00 2,00 100,00 80,00 100,00 3,00 94,1
9,5 3/8 21,08 3,16 98,88 1,98 92,58 74,07 100,00 3,00 82,2
4,8 Nº 04 2,82 0,42 35,96 0,72 71,37 57,10 100,00 3,00 61,2
2,0 Nº 10 1,41 0,21 4,27 0,09 45,97 36,78 100,00 3,00 40,1
0,42 Nº 40 0,79 0,12 1,83 0,04 20,05 16,04 93,28 2,80 19,0
0,18 Nº 80 0,63 0,10 1,38 0,03 13,37 10,70 76,23 2,29 13,1
0,075 Nº 200 0,54 0,08 1,12 0,02 2,56 2,05 59,54 1,79 3,9 Fonte: LUZ, 2018.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
33
A cal hidratada CH-III, foi utilizada como material de enchimento (fíler), pois, de acordo com as informações extraídas em suas especificações técnicas (ANEXO C), o material atende a todos os critérios da norma DNER-EM 367 (DNER, 1997).
Na Figura 9 é mostrada a composição granulométrica (Faixa C) obtida através da mistura com incorporação de resíduo (curva pontilhada central) e as tolerâncias aceitas em relação a composição granulométrica determinada pelo DNIT (DNIT, 2006) (limites mínimos nas linhas pontilhadas internas e limites máximos nas linhas cheias).
FIGURA 9 - Limites da Faixa C estabelecida pelo DNIT (ano) e curva granulométrica da mistura avaliada.
Fonte: LUZ, 2018.
Independente da origem e do tipo de material reciclado utilizado, não basta apenas estabelecer uma determinada quantidade e promover a substituição; primeiramente é necessário analisar como a interação entre o resíduo (material reciclado) e os materiais de origem natural (agregados pétreos), vão se comportar granulometricamente; somente após essa análise é possível determinar uma composição apta para a mistura de CBUQ (GARCIA, 2017).
O Equivalente de Areia, médio obtido foi 80% (Tabela 2), valor este superior ao mínimo de 55% exigido pelo DNIT (DNIT, 2006).
TABELA 2 - Resultado do Equivalente de Areia
DESCRIÇÃO AMOSTRA AMOSTRA AMOSTRA
01 02 03 Leitura do topo da areia (cm) 8,5 8,7 8,4 Leitura do topo da argila (cm) 9,9 11,8 10,5
Equivalente de areia (%) 86% 74% 80% Equivalente de areia - média geral (%) 80%
Fonte: LUZ, 2018.
O resultado se mostrou coerente, visto que se encontra dentro da média observada na pesquisa de Garcia (2017) e Pestana (2008), onde ambos também trabalharam com incorporação de resíduos de base cimentícia, como por exemplo o concreto, na mistura de CBUQ, e chegaram a resultados de 88% e 83% respectivamente.
Os valores dos parâmetros volumétricos, volume de vazios e a relação betume vazios, são apresentados nas Figuras 10 e 11. A partir desses valores observou-se que a mistura promovida apresentou um grande volume de vazios. Isso pôde ser notado também através dos valores referentes a densidade de cada corpo de prova, apresentados no APÊNDICE E.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
34
FIGURA 10 - Volume de Vazios para a mistura realizada.
Fonte: LUZ, 2018.
FIGURA 11 - Relação Betume Vazios para a mistura realizada.
Fonte: LUZ, 2018.
Conforme estabelecido pela norma DNIT-ES 031 (DNIT, 2006), o valor da Relação Betume Vazios (RVB) que deve ser alcançado para determinar o valor do teor ótimo de ligante, precisa estar compreendido dentro do intervalo que varia de 75% a 82%. Porém, conforme mostrado na Figura 11, a partir dos resultados de densidade obtidos para esta mistura, os valores dessa relação variaram de 48% a 62%, impossibilitando assim, a estimativa de tal teor.
Em relação aos ensaios mecânicos, foram previstas a realização dos ensaios de tração por compressão diametral e o ensaio de estabilidade Marshall. No entanto, para a realização do ensaio de tração por compressão diametral seriam necessários a confecção de 3 corpos de provas moldados no teor ótimo de ligante, porém, como o valor deste teor não pôde ser determinado, não foi possível realizar o procedimento para este ensaio. Sendo assim, foi executado apenas o ensaio de estabilidade e fluência.
Para a realização destes ensaios, foram moldados três corpos de provas para cada teor de ligante. Conforme descrito no processo metodológico, foi trabalhado com um valor inicial de 5%, e mais dois valores acima e dois valore abaixo; 4%, 4,5%, e 5,5% e 6%, respectivamente, resultando um total de 15 amostras
O ensaio de estabilidade se mostrou satisfatório, considerando que o mesmo apresentou um resultado mínimo de 1048 Kg (Figura 12), para o teor de ligante de 4,5%; maior que o mínimo exigido de 500kg. O resultado alcançado para a fluência, também foi positivo. Foi obtida uma deformação total com a carga máxima aplicada de 3,44 mm (Figura 13) (menor deformação), enquanto que, a norma estabelece um intervalo de deformação que varie de 2,0mm a 4,5mm.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
35
FIGURA 12 - Estabilidade corrigida para a mistura realizada.
Fonte: LUZ, 2018.
FIGURA 13 - Fluência para a mistura realizada.
Fonte: LUZ, 2018.
Apesar dos valores encontrados em relação a densidade e a relação betume vazios da mistura, terem ficado fora do esperado, a mesma se mostrou bastante eficiente no que diz respeito a resistência. Os resultados obtidos e os limites de norma estão resumidos na Tabela 03.
TABELA 3 - Análise comparativa dos resultados mínimos obtidos, para análise de viabilidade técnica
Característica Especificação (DNIT/DNER)
Resultados
Teor ótimo de ligante (%) 4,5 - 9,0 -
Densidade aparente (g/cm³) - 2,10
Vazios Reais (%) 3,0 - 5,0 5,75
Relação Betume Vazios R.B.V 75 - 82 53
Estabilidade (kg) mínimo 500 1048
Fluência (mm) 2,0 - 4,5 3,44
Resistência à Tração - RT (Mpa) 0,65 -
Fonte: LUZ, 2018.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
36
Nota-se assim, a existência de um possível equilíbrio entre a utilização de agregados reciclados e o desempenho técnico, em relação a concretos asfálticos.
Na pesquisa de Brasileiro (2013) também são apresentados resultados superiores em relação as propriedades mecânicas; para misturas contendo agregados reciclados de RCC, o valor mínimo de estabilidade obtido por ela, foi de 864Kg. Garcia (2017) e Bonet (2003) também alcançaram em suas pesquisas, para CBUQ reciclado, resultados superiores aos valores mínimos exigidos pelo DNIT (DNIT, 2006), para pavimentos asfálticos.
Este fato está diretamente ligado à composição e dosagem das misturas, pois o arranjo proporciona uma interação melhor entre os grãos, garantindo um maior atrito interno obtido pelo entrosamento das partículas, gerando um melhor funcionamento do conjunto e uma estabilidade maior.
4. CONCLUSÃO
O concreto asfáltico produzido a partir da composição proposta para esta pesquisa (80% de resíduo de concreto, 15% de brita 1, 3% de cal e 2% de pedrisco), resultou em um produto com uma concentração elevada de poros. Isso ficou explicito através dos resultados de densidade e volume de vazios apresentados. Em decorrência da porosidade acima do esperado para a mistura de CBUQ analisada, não foi possível estabelecer um teor ótimo para o ligante asfáltico. Somado a este fato, não foi possível a realização de um dos ensaios mecânicos, visto que este, necessitava do valor anterior para ser executado.
Tais resultados podem ser associados, ao fato de que, por se tratar de um material reciclado, o agregado de resíduo de concreto, possui características que variam muito em um curto espaço de tempo.
Ainda assim, podemos observar que para as propriedades mecânicas estabelecidas pelo DNIT (2006), para as quais a mistura foi testada, a mesma apresentou valores aceitáveis e até mesmo acima dos valores mínimos exigidos. No entanto, para este caso em específico, não podemos concluir que, a mistura executada seja tecnicamente viável, devido ao fato de que, não foram atendidos todos os parâmetros mínimos.
Por fim, é importante salientar que, além da viabilidade técnica também deve ser observada a questão econômica de uma mistura de CBUQ produzida com material reciclado. O ideal de um traço de concreto asfáltico reciclado é que o mesmo utilize a maior quantidade de resíduos possível versus a menor quantidade de ligante asfáltico, isto porque, dentro de uma mistura de CBUQ o CAP (ligante asfáltico) é o material com o custo mais alto. Sendo assim, a ideia da reciclagem de RCC, para o uso na própria indústria da construção civil, como uma das alternativas para minimização do impacto ambiental causado pela mesma, além de atender as especificações técnicas para o seguimento onde for aplicada, precisa estar aliada a viabilidade econômica, para que o setor compre e incentive o uso da ideia.
AGRADECIMENTOS
Certamente sem a colaboração, estímulo e empenho das inúmeras pessoas envolvidas, a realização deste trabalho não teria sido possível. Por este fato, gostaria de expressar toda a minha gratidão e apreço a todos aqueles que de alguma forma, ajudaram para que a ideia proposta para esta pesquisa se tornasse uma realidade.
Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus que permitiu que eu chegasse até aqui e a minha família, que de maneira incondicional sempre esteve ao meu lado, me apoiando acima de qualquer coisa e apostando em mim mais do que ninguém. Obrigado aos meus pais, Paulo e Josiane por todo apoio financeiro e por todo amor e confiança em mim depositados.
À Construtora Accion, por ter aberto suas portas e colaborado com a coleta do material essencial para o desenvolvimento da pesquisa. À fabricante de blocos – Sinoblocos, que desde o início se mostrou inteiramente prestativa, disponibilizando o equipamento de britagem para produção do agregado reciclado, imprescindível para a realização do projeto. E especialmente a empresa Construtora Câmera, que disponibilizou seu laboratório de asfalto e os materiais necessários para que fossem realizados os ensaios mecânicos.
À Universidade Estadual do Estado de Mato Grosso e ao Curso de Engenharia Civil que me concederam esta oportunidade. A todos os professores envolvidos na minha formação, em especial a professora Marimilda, aquela que se tornou uma grande amiga que pretendo levar por toda minha vida.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
37
Por fim, meu agradecimento mais especial vai para uma das melhores pessoas que já tive a honra e o prazer de conhecer na vida, para a qual não há agradecimentos que bastem. Agradeço infinitamente ao professor Flavio Alessandro Crispim, que mais do que um excelente professor se tornou um grande amigo. Como professor foi meu expoente máximo, me apresentou novos horizontes e acima de tudo me ensinou a pensar. Foi e continuará sendo fundamental para meu desenvolvimento pessoal, transmitindo experiências, saberes e estando sempre presente na realização dos meus pequenos sucessos. Como amigo é o máximo que qualquer pessoa desejaria ter, sempre gentil, disposto e ao lado para qualquer situação. Um homem como poucos! Para mim, é uma imensa honra e orgulho tê-lo como professor e acima de tudo como amigo. Muito obrigado!
REFERÊNCIAS
[1] ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10.004. Resíduos sólidos – classificação – elaboração. São Paulo, 2004.
[2] ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15.115. Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – execução de camadas de pavimentação – procedimentos. São Paulo, 2004.
[3] ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15.116. Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural – requisitos. São Paulo, 2004.
[4] ABRECON – Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção e Demolição. Relatório de Pesquisa Setorial 2013: A reciclagem de resíduos de construção e demolição no Brasil. São Paulo, 2013.
[5] Bonet, I. I. Valorização do resíduo areia de fundição (RAF), incorporação nas massas asfálticas do tipo CBUQ. Florianópolis, Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – UFSC, 2002.
[6] Brasil. Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; Altera a Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providencias. Brasília: DOU de 3/8/2010.
[7] Brasileiro, L. L. Utilização de Agregados Reciclados Provenientes de RCD em Substituição ao Agregado Natural no Concreto Asfáltico. Teresina, Dissertação (Mestrado em Ciência dos Materiais) – UFPI, 2013.
[8] CAGED – Cadastro Geral de Empregados e desempregados. Relação anual de informações sociais (RAIS), 2019. Disponível em: <http://pdet.mte.gov.br/rais>. Acesso em: maio, 2020.
[9] Cândido, E. Viabilidade técnica da implantação de uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil em Sinop-MT, 2013. Disponível em: https://sites.google.com/a/unemat-net.br/sietcon-engenharia-civil/trabalho-de-conclusao-de-curso/tcc-2013-1/tcc---everton-da-silva-candido
[10] CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Brasília: DOU de 17/2/1986.
[11] CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002. Brasília: DOU de 17/7/2002.
[12] DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Manual de pavimentação. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Rio de Janeiro: IPR-719, 3ªed, 2006.
[13] Garcia, G. di M. Uso de resíduos de concreto na fabricação de pavimento asfáltico. Sinop, Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) – UFMT, 2018.
[14] Freitas, I. M. Os resíduos de construção civil no município de Araraquara/SP. Araraquara, Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) – UNIARA, 2009.
[15] IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Censo, 2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/ default.php>. Acesso em: nov. 2017.
[16] Lima, R. S.; Lima, R. R. R. Guia para elaboração de Projeto de Gerenciamento de resíduos da construção civil. Londrina: Publicação Crea – PR., 2012
[17] Lourenço, V. M. Q.; Cavalcante, E. H. O uso do agregado oriundo da reciclagem do resíduo de construção e demolição em misturas asfálticas. In: Anais do XXVIII Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes (ANPET). Curitiba, 2014.
[18] Morais, G. M. D. Diagnóstico da deposição clandestina de Resíduos de Construção e Demolição em bairros periféricos de Uberlândia: Subsídios para uma gestão sustentável. Uberlândia, Tese (Mestrado em Engenharia Civil) – UFU, 2006.
[19] Pestana, R. M. M. Contribuição para o estudo do comportamento mecânico de resíduos de construção e demolição aplicados em estradas de baixo tráfego. Lisboa, Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – IST, 2008.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
38
[20] Pinto, T. P. Gestão ambiental de resíduos da construção civil: a experiência do SindusCon – SP. São Paulo: I&T SindusCon – SP, 2005.
[21] Pinto, T. P., González, J. L. R. Manejo e gestão de resíduos da construção civil: como implantar um sistema de manejo e gestão nos municípios. Brasília: CAIXA, 2005.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
39
Capítulo 4
Modelagem Numérica de Fundações Ramificadas Illa Beghine Soncin
Lucas Teotônio de Souza
Marcelo Miranda Barros
Resumo: O estudo das fundações em engenharia civil é de grande relevância, uma vez que essas estruturas constituem a base estrutural de praticamente toda edificação. As estacas são elementos de fundação profundos, cujo mecanismo de transferência de cargas ocorre, em muitos casos, basicamente por atrito lateral, que por sua vez depende diretamente da área de contato superficial entre a estrutura e o solo. É fato que sistemas ramificados têm grandes áreas de superfície, como é o caso de árvores que, por exemplo, usam seus sistemas de raízes ramificadas para aumentar sua capacidade de suportar solicitações, como cargas de vento laterais. Neste estudo, desenvolve-se um modelo de estrutura ramificada baseado na geometria fractal, a ser proposto como solução alternativa para fundações. O objetivo desta pesquisa consiste em comparar o desempenho dos modelos ramificados com o do modelo padrão de fundação por estaca, sob o ponto de vista de capacidade de suporte, tensões e deslocamentos. Além disso, o estudo busca comparar, ainda, a eficiência relacionada ao aumento do número de ramos nas estruturas e o impacto gerado pela adoção de diferentes ângulos de ramificação entre ordens consecutivas. Os modelos foram simulados no software PLAXIS 2D, um software baseado no método dos elementos finitos, capaz de modelar o comportamento não linear do solo, além de permitir a simulação da interface entre solo e estrutura. As simulações evidenciaram que uma estrutura ramificada comparada a uma estaca padrão de mesmo volume apresenta maior capacidade de carga e menores deslocamentos máximos. Para uma única ordem de ramificação, a capacidade de carga atinge cerca de três vezes a capacidade de carga da estaca convencional, e pode chegar até cerca de cinco vezes no caso de três e quatro ordens de ramificação. Por outro lado, a taxa de aumento comparando diferentes modelos ramificados diminui para estruturas mais ramificadas, indicando que pode haver um número n de ramificações a partir do qual a capacidade de carga do sistema tenda a decair. Os resultados mostram ainda que, com apenas um ramo verificou-se uma redução do deslocamento total máximo da fundação, para um mesmo carregamento, em cerca de dez vezes o deslocamento da fundação convencional, podendo chegar a cerca de quatorze vezes para quatro ordens de ramificação, mostrando uma redução significativa do deslocamento abaixo da fundação. No entanto, a taxa de redução, quando se comparam diferentes modelos ramificados, diminui à medida que o número de ordens aumenta. Além disso, os deslocamentos em torno da fundação aumentam, uma vez que uma estrutura ramificada distribui melhor a solicitação externa ao solo (devido à maior área superficial), o que pode influenciar possíveis estruturas vizinhas. Outra característica observada em uma fundação ramificada é que as maiores tensões ocorrem dentro da estrutura enquanto que em uma fundação por estaca as maiores tensões são observadas no solo, especificamente na área imediatamente abaixo da base da fundação. As simulações de estruturas com diferentes angulações mostraram que, até certo ponto, quanto maiores os ângulos de ramificação, maior a capacidade de carga, sendo que estruturas ramificadas com ângulo de 60º apresentam capacidade de carga cerca de três vezes maior que uma estrutura com a mesma geometria e ângulo de 10º. Mas ângulos maiores que 60º mostraram uma diminuição de sua capacidade de carga. O mesmo comportamento pode ser observado do ponto de vista da redução dos deslocamentos totais máximos. Os estudos nos remetem ao conceito de projeto ótimo para uma estrutura ramificada em ambas as óticas, número de ordens ideal e ângulo de ramificação ideal, que pode resultar na concepção de uma estrutura mais eficiente como solução para o sistema de fundações de uma edificação.
Palavras-chave: Fundações Ramificadas. Área de Superficie. Biomimética. Fractais. Auto-sililaridade.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
40
1. INTRODUÇÃO
Os elementos de fundação são de fundamental importância para a segurança e o desempenho de estruturas em geral, uma vez que são responsáveis por transferir os esforços da superestrutura ao terreno (Velloso e Lopes [1]). Em um projeto de fundações, além dos requisitos de resistência e durabilidade, a otimização dos recursos empregados é uma das premissas básicas para a concepção do mesmo. Em função do tipo de obra e das características do substrato onde esta será implantada, faz-se a escolha da solução de fundação mais adequada. Portanto, trata-se de um problema de redução de custos de modo que a funcionalidade da infraestrutura da obra não seja comprometida. Em suma, trabalha-se com a otimização dos recursos disponíveis, por meio da busca pela melhor solução de fundação.
De acordo com Cintra e Aoki [2], no estudo da capacidade de carga de um elemento de fundação por estaca, em termos geotécnicos, ao aplicar uma carga vertical, de compressão, progressivamente aumentada, serão mobilizadas tensões resistentes por atrito lateral entre o solo e o fuste da estaca. Logo, quanto maior a área lateral, maior o contato na interface solo-estaca e maior a capacidade de carga da fundação.
Diversos problemas de otimização encontrados na prática de engenharia são solucionados via observação e reprodução de padrões de comportamento encontrados na natureza. A ramificação é um dos modos de crescimento mais comumente encontrados em sistemas naturais. Sistemas ramificados são onipresentes na natureza (Thompson [3]), (Randié [4]), (Fleury et al. [5]), (Harris [6]), sendo que alguns apresentam grandes áreas de superfície (Morris e Homann [7]), tais como o pulmão (Hasleton [8]) e o sistema cardiovascular (Murray [9]) em animais. No entanto, a árvore é um padrão essencial da natureza e esta é a razão pela qual o termo “ramificação” em si evoca o reino vegetal (Fleury et al. [5]).
A descrição dos parâmetros que regem os processos de ramificação de raízes não é fácil, uma vez que há enorme dificuldade de observá-las no seu arranjo natural. No entanto, a geometria fractal oferece um meio para se estudar padrões de ramificação e estudos mostram que, de modo geral, o processo de ramificação de raízes é similar ao encontrado na superestrutura de árvores (Hallé [10]). O padrão normal de crescimento e desenvolvimento das raízes, para muitas espécies de plantas, é proporcional à altura da árvore (Hansen et al. [11]). Entretanto, as relações gerais de comprimento e diâmetro decrescente com o aumento do número de ramificações são comuns entre a grande parte das árvores, independentemente da idade e do tamanho (Hallé [10]). Assim, é possível fazer uma analogia entre a colaboração da área de superfície de raízes na estabilidade das árvores e a contribuição da área lateral na capacidade de suporte das estacas de fundação, em especial aquelas que estão assentes em solos (estacas de atrito), ou seja, não atingem o subsolo rochoso.
Este trabalho é fundamentado no problema da maximização da área de superfície em sistemas ramificados por meio de um modelo simples para os elementos, seguindo leis exponenciais, características de sistemas naturais, apresentado por Souza e Barros [12]. O modelo geométrico empregado é o da família de árvores auto-similares, ou seja, que evoluem em termos de proporções constantes pré-definidas entre ramos pais e filhos. A geometria proposta é composta de elementos de diferentes tamanhos organizados hierarquicamente, unidos de maneira que o elemento maior sustenta os elementos menores, que são maiores que outros e os sustentam. Quando todas as ordens vizinhas se relacionam da mesma maneira, estas são denominadas auto-similares (Barros e Bevilacqua [13]). Isto é, os parâmetros de crescimento/decrescimento são constantes para todas as ordens. Essas proporções ditam o tamanho e o diâmetro de cada ramo filho em relação ao seu pai, bem como a quantidade de filhos de cada pai.
Sabendo que a natureza abriga padrões de ramificação com diversas ordens e que estes são otimizados, são concebidas estruturas ramificadas com duas, três e quatro ordens, com volume igual ao de um modelo padrão de fundação por estaca não ramificada. Assim, compara-se a capacidade de carga, recalques, tensões e influência do ângulo de ramificação dos modelos avaliados neste estudo.
2. METODOLOGIA
Para se conceber estruturas ramificadas, descreve-se brevemente o modelo geométrico fractal, tendo como base o modelo descrito por árvores auto-similares. Em seguida é apresentada a metodologia das simulações avaliadas no presente estudo.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
41
2.1. DESCRIÇÃO DO MODELO GEOMÉTRICO FRACTAL
O padrão de ramificação proposto é baseado em árvores auto-similares, tal como definido em Souza e Barros [12]. Em resumo, o modelo é governado pelos seguintes parâmetros geométricos: quantidade de filhos de cada ramo pai, proporções de comprimento e de diâmetro entre os ramos pai e filho, que são constantes para toda árvore. Estas são as proporções de ramificação, comprimento e diâmetro, nessa ordem. Ressalta-se que, se é igual a , diz-se que o sistema possui similaridade geométrica entre os elementos, isto é, embora os elementos de ordens diferentes possuam tamanhos diferentes, estes manterão o mesmo formato em todas as ordens.
Uma estrutura particular é definida determinando-se o número de ordens do sistema. No presente trabalho, assume os valores 1, 2, 3 e 4, caracterizando as situações sem ramificação, com duas, três e quatro ordens , respectivamente. Sem perda de generalidade, admite-se que o diâmetro do primeiro elemento de ambas as estruturas seja igual ao da estaca de fundação (doravante modelo padrão), �0, Fig. 1. Note-se que, à medida que a quantidade de ramificações cresce, diminui-se o alcance, ou seja, a profundidade atingida pelas fundações é menor.
Figura 14. Exemplos padrão e ramificados com b = 2.
Como a premissa básica é conceber estruturas ramificadas com o mesmo volume do modelo padrão, o comprimento do progenitor, �0, é dado por (Souza e Barros [12]):
11n
0k
k
0d²
γLλ
(1)
onde L é o comprimento do modelo padrão e � = b/ �. Os comprimentos e diâmetros das demais ordens são obtidos pelas equações 2 e 3.
/λλλ k1k (2)
/ddd k1k (3)
Engenharia no Século XXI – Volume 18
42
2.2. METODOLOGIA DE SIMULAÇÃO NUMÉRICA
A fim de tornar possível a avaliação do comportamento dos modelos de fundação em estudo, optou-se pela utilização de uma análise numérica via Método dos Elementos Finitos (MEF), através da qual foi possível obter os resultados de interesse, como capacidade de carga e recalques nas fundações, levando ainda em consideração a interação entre o solo e a estrutura (Lee et al. [14]).
Para a realização da modelagem do problema, foi tomado como referência o modelo constitutivo de solo elastoplástico com critério de falha de Mohr-Coulomb, pois se trata de uma metodologia amplamente utilizada em conjunto com o método dos elementos finitos no estudo de fundações e Geotecnia. Desta forma foi utilizado o software PLAXIS 2D versão 8 como instrumento de modelagem das fundações avaliadas.
Inicialmente, é necessário definir os materiais que irão constituir os modelos a serem simulados através do software, tanto o solo de assentamento da estrutura, quanto o material constituinte da fundação. Optou-se por se utilizar uma única camada de solo argiloso da própria biblioteca do PLAXIS, o “Lesson 2 – Clay”, sob a condição não drenada. Já o material da estrutura de fundação adotado foi o concreto, com modelo constitutivo do tipo linear elástico e condição drenada, devido à baixa permeabilidade deste material em relação ao solo em seu entorno. As propriedades de ambos os materiais constituintes do modelo podem ser observadas na Tabela 4 e Tabela 5.
Tabela 4 – Propriedades do solo de fundação.
Parâmetro Valor assumido
Eref (kN/m²) 1,00E+04
Eoed (kN/m²) 1,61E+04
Gref (kN/m²) 3003,7
γunsat (kN/m³) 16,00
γsat (kN/m³) 18.00
Cref (kN/m²) 5,000
∅ (°) 25,00
υ 0,35
Tabela 5 – Propriedades do concreto estrutural.
Parâmetro Valor assumido
Eref (kN/m²) 2,00E+07
Gref (kN/m²) 8,33E+06
γunsat (kN/m³) 25,00
γsat (kN/m³) 25,00
υ 0,20
Finalmente, é necessário determinar os parâmetros que governam a geometria das estruturas ramificadas a fim de conceber os modelos. A estrutura padrão escolhida possui dimensões L e �0 respectivamente iguais a 10,00 m e 0,50 m. Para definir uma estrutura ramificada específica, é necessário informar o ângulo de ramificação, ou seja, a inclinação de cada ramo filho em relação ao seu pai. Assim, inicialmente este ângulo foi adotado igual a 30º para todas as ordens. Obedecendo a condição de volume constante, foram adotados os parâmetros que governam o sistema e definidas as dimensões das estruturas com uma ramificação ( ), Tabela 6, duas ramificações ( ),
Engenharia no Século XXI – Volume 18
43
Tabela 7, e três ramificações ( ),
Tabela 8. Ressalta-se que foi considerada a condição de resistência mecânica, dada por �0 ≠ 0 (Souza e Barros [12]), e similaridade geométrica.
Tabela 6. Parâmetros do sistema e dimensões dos elementos para estrutura com uma ramificação. Parâmetros Dimensões
b 2 Ordem - k Comp. (m) Larg. (m)
λ = d 1,26 0 2,00 0,40
n 2 1 1,59 0,32
Engenharia no Século XXI – Volume 18
44
Tabela 7. Parâmetros do sistema e dimensões dos elementos para estrutura com duas ramificações.
Parâmetros Dimensões b 2 Ordem - k Comp. (m) Larg. (m)
λ 1,26 0 1,33 0,40
d 1,26 1 1,06 0,32
n 3 2 0,84 0,25
Tabela 8. Parâmetros do sistema e dimensões dos elementos para estrutura com três ramificações.
Parâmetros Dimensões
Ordem - k Comp. (m) Larg. (m)
b 2 0 1,00 0,40
λ 1,26 1 0,79 0,32
d 1,26 2 0,63 0,25
n 4 3 0,50 0,20
As geometrias foram inseridas por meio das coordenadas dos pontos que delimitam o domínio de solo e as estruturas. Nas regiões de ramificação, foram adotados patamares de 15 centímetros, isto é, suavizações na geometria, a fim de se minimizarem as concentrações de tensões nessas áreas. O aspecto geral da geometria dos modelos de fundação estudados é tal como apresentado na Figura 14, sendo as dimensões apresentadas nas tabelas 3 a 5.
Além disso, é necessário definir como se dá o comportamento do contato na interface solo-estrutura, sabendo-se que este inclui mecanismos de transferência de carga tanto na direção normal quanto na tangencial, na interface entre o solo e a estrutura. A força normal é transferida quando a fundação e o solo estão sob a ação de um carregamento. O comportamento tangente pode variar de contato áspero, com nenhum deslizamento relativo entre o solo e a fundação, para contato liso, onde pode ocorrer deslizamento relativo entre os materiais. O contato entre estes dois casos ideais, é considerado pelo modelo de atrito de Mohr- Coulomb utilizado no PLAXIS.
Para representar a interação entre o solo e a fundação, o programa prescreve a utilização do parâmetro . Este fator consiste em uma redução do coeficiente de atrito μ, dado por , sendo o ângulo de atrito do solo. Para a realização do estudo em questão, foi adotado (Souza, Soncin e Barros [15]), isto é, o coeficiente de atrito na interface solo-estaca equivale a 70% do coeficiente de atrito solo-solo.
Após a definição da interface entre o solo e a estrutura, são definidas as condições de contorno nas fronteiras que delimitam o espaço de solo adotado como base para o modelo. As condições adotadas permitem o deslizamento relativo na vertical (paredes laterais) e consideram engaste na base.
A malha considerada nos modelos em questão, ilustrada na Fig. 2, utiliza elementos triangulares para a delimitação dos pontos de análise, sendo selecionada a opção “Very Fine" (muito fina), para que seja empregado o máximo refinamento permitido, visando maior precisão nas soluções.
Figura 15. Malha de elementos triangulares, gerada através do programa.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
45
Para a determinação da capacidade de carga das fundações foram criados estágios de carregamento, visando um aumento gradativo da carga atuante. O primeiro estágio, denominado “fase inicial”, corresponde à análise de deslocamentos, tensões e deformações, dependentes apenas do peso próprio da estrutura, levando em consideração a posição do nível d’água (N.A). Neste trabalho, o nível d’água foi considerado coincidente com a superfície do terreno, pois, desta forma, representa-se a pior situação para a verificação da capacidade de carga da estrutura, uma vez que as tensões efetivas no solo são minoradas.
Nas fases posteriores foram inseridos carregamentos distribuídos no topo da estrutura, e a carga aplicada foi incrementada gradativamente até que a simulação acusasse o rompimento do solo. O acréscimo de carga adotado entre uma fase e a imediatamente posterior a esta foi de 5 kN/m², obtendo-se assim uma precisão de 5 kN/m² para o valor do carregamento que deflagrou o término da análise e determinou a capacidade de suporte. Sob a ação da carga de suporte, foram monitorados os deslocamentos no topo das estruturas e as tensões atuantes no sistema solo-estrutura.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1. COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS CONVENCIONAL E RAMIFICADO
A primeira análise realizada consiste no comparativo entre o modelo convencional de estaca e o modelo de fundação com uma ramificação, a fim de se verificar se o modelo ramificado de fato se apresenta mais eficiente sob o ponto de vista da capacidade de suporte do solo. Sendo assim, foram concebidas as geometrias para ambos os modelos. Como supracitado, as dimensões da estaca padrão ( ) são iguais a 10,0m de comprimento e 0,50m de largura, enquanto os parâmetros e dimensões do modelo com uma ramificação são apresentados na Tabela 6.
Inicialmente foi realizada a simulação do modelo de estaca sem ramificações. Tal como foi descrito anteriormente, a fundação foi carregada gradativamente até que o programa acusasse a ruptura do sistema. O modelo apresentou uma capacidade de suporte de 805 kN/m². A carga provocou um deslocamento de 115,81 mm para baixo no topo da fundação e uma tensão máxima de 428,59 kN/m², localizada na porção de solo imediatamente abaixo da base da estaca. Os deslocamentos totais e as tensões devidas a este carregamento podem ser observados na Figura 16 e na Figura 17, respectivamente.
Figura 16. Deslocamentos totais no modelo sem ramificações após a aplicação do carregamento de 805
kN/m².
Engenharia no Século XXI – Volume 18
46
Figura 17. Tensões totais no modelo sem ramificações após a aplicação do carregamento de 805 kN/m².
Em seguida, foi realizada a simulação do modelo com uma ramificação. Inicialmente aplicou-se na fundação a carga de ruptura do modelo cilíndrico padrão (805 kN/m²), para se observar o comportamento da fundação e realizar um comparativo entre seus deslocamentos e tensões atuantes com relação ao modelo sem ramificações.
O modelo ramificado não apenas suportou a carga aplicada, como também apresentou significativa redução no deslocamento vertical do topo da fundação, passando a ser de 16,82 mm para baixo. Com relação às tensões atuantes no modelo, foi possível observar uma tensão máxima de 7180,0 kN/m², desta vez, localizada na própria estrutura, nas regiões mais angulosas da fundação. Este resultado era previsto, uma vez que pontos angulosos nas geometrias de estruturas em geral são pontos comuns de concentração de tensões.
Em seguida, foram introduzidos novos estágios de carregamento no modelo, incrementando-se a carga vertical gradativamente até a ruptura do solo. Foi obtida uma capacidade de suporte de 2705 kN/m², cerca de 3,4 vezes a capacidade da estaca convencional. O deslocamento máximo observado no topo da estrutura foi de 312,05 mm para baixo, e a máxima tensão obtida foi de 50380 kN/m², novamente verificada na estrutura, nas regiões mais angulosas da fundação. A Figura 18 e Figura 19 mostram os deslocamentos e as tensões totais no modelo equivalentes à carga de ruptura.
Figura 18. Deslocamentos totais no modelo com uma ramificação após a aplicação do carregamento de 2705 kN/m².
Engenharia no Século XXI – Volume 18
47
Figura 19. Tensões totais no modelo com uma ramificação após a aplicação do carregamento de 2705 kN/m².
Os resultados apresentados mostram que, com apenas uma ramificação, obtém-se um aumento significativo da capacidade de suporte do solo, além de uma redução considerável nos recalques, dando indícios acerca da eficiência do sistema ramificado.
3.2. INFLUÊNCIA DO NÚMERO DE RAMIFICAÇÕES
A etapa seguinte consiste em avaliar a eficiência gerada pelo acréscimo de ramificações na fundação. Para tanto, são analisados os modelos gerados com duas e com três ramificações, cujas dimensões são apresentadas, respectivamente, na
Engenharia no Século XXI – Volume 18
48
Tabela 7 e
Tabela 8. Para o modelo com duas ramificações, novamente foi simulada a carga de ruptura do modelo padrão, de onde foram extraídos os deslocamentos e tensões correspondentes. Além disso, o carregamento foi incrementado tal como anteriormente descrito até que se determinasse a capacidade de carga do solo.
Para a carga de 805 kN/m² observou-se um deslocamento equivalente de 15,35 mm para baixo do topo da fundação, ainda menor que o apresentado pelo modelo com uma ramificação, sendo um indício de que quanto maior é o número de ramificações adotado, menores serão os deslocamentos verticais resultantes. Além disso, o modelo apresentou uma tensão máxima de 3610 kN/m² na estrutura de fundação, mostrando uma redução de quase 50% quando comparado ao modelo com apenas uma ramificação.
A capacidade de carga obtida para o modelo em estudo foi de 3010 kN/m², cerca de 10% a mais que a do modelo com uma ramificação. Para tal carregamento, foi possível observar um deslocamento máximo de 252,46 mm para baixo no topo da estrutura (Figura 20), e uma tensão máxima equivalente de 38580 kN/m², novamente verificada nas regiões mais angulosas da estrutura.
Figura 20. Deslocamentos totais no modelo com duas ramificações após a aplicação do carregamento de 3010 kN/m².
O mesmo procedimento foi realizado com o modelo com três ramificações. Para a carga de 805 kN/m², obteve-se um deslocamento máximo equivalente de 13,45 mm para baixo, novamente sendo constatada uma redução nos deslocamentos quando comparado ao modelo anterior. A tensão máxima observada foi de 2960 kN/m², apresentando uma redução de cerca de 18% com relação ao modelo com duas ramificações. A capacidade de carga obtida na simulação do modelo foi de 2855 kN/m², 5% a menos que o valor determinado para o modelo duas vezes ramificado. Para tal carregamento, foi obtido um deslocamento equivalente máximo de 155,46 mm para baixo (Figura 21), e uma tensão máxima na estrutura de 20010 kN/m².
Engenharia no Século XXI – Volume 18
49
Figura 21. Deslocamentos totais no modelo com três ramificações após a aplicação do carregamento de 2855 kN/m².
3.3. COMPARATIVO ENTRE OS RESULTADOS OBTIDOS PARA O MODELO CONVENCIONAL E MODELOS RAMIFICADOS
Para melhor visualização do comportamento dos modelos, realizou-se um comparativo entre os resultados obtidos. Primeiramente relaciona-se a capacidade de suporte e os deslocamentos equivalentes de cada modelo, bem como um comparativo percentual entre as cargas máximas suportadas por cada uma das fundações, o que pode ser observado na Tabela 9.
Tabela 9. Capacidades de carga e deslocamentos dos modelos avaliados.
Modelo de fundação Capacidade de carga
(kN/m²) Dif. (%)
Desloc. Vertical no topo da fundação (mm)
Dif. (%)
Estaca padrão 805 - 115,81 -
Uma ramificação 2705 +236,02 312,05 +169,45
Duas ramificações 3010 +11,28 252,46 -19,10
Três ramificações 2855 -5,15 155,46 -38,42
A
Engenharia no Século XXI – Volume 18
50
Figura 22 mostra o gráfico elaborado para se observar a variação da capacidade de suporte do solo em função do número de ramificações da estrutura de fundação.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
51
Figura 22. Capacidade de carga em função do número de ramificações.
Os resultados apresentados confirmam o aumento da capacidade de carga ocasionado pela ramificação das estruturas de fundação. Para o modelo com 2 ramificações, a carga de ruptura chega a cerca de 3,7 vezes o valor apresentado pela fundação em estaca, mostrando a eficiência gerada pela maximização da área de superfície. Entretanto, pode-se observar que o modelo com três ramificações obteve capacidade de suporte inferior ao modelo duas vezes ramificado, o que pode indicar que exista um número de ramificações a partir do qual o aumento deste não seja mais proveitoso e também viável tecnicamente.
Na sequência, são avaliados os deslocamentos e as tensões nos modelos para o carregamento de 805 kN/m², seguido por um comparativo percentual entre o deslocamento máximo observado nas estruturas de fundação, como mostrado na Tabela 10.
Tabela 10. Deslocamentos e tensões para a carga de 805 kN/m².
Modelo de fundação Desloc. Vertical no topo da fundação
(mm) Dif. (%)
Tensão máxima no modelo (kN/m²)
Estaca padrão 115,81 - - 428,59 (solo)
Uma ramificação 16,82 +236,02 7180,00 (estrutura)
Duas ramificações 15,35 +11,28 3610,00 (estrutura)
Três ramificações 13,45 -5,15 2960,00 (estrutura)
Ao contrário da estrutura de fundação convencional, as fundações ramificadas apresentam uma maior solicitação na própria estrutura e não no solo onde as mesmas encontram-se assentadas. Entretanto, à medida que se aumenta o número de ramificações, as tensões máximas são minimizadas, podendo se alcançar uma redução de cerca de 2,5 vezes na última estrutura simulada quando comparada ao modelo com apenas uma ramificação.
Os resultados da Tabela 10 mostram que as estruturas ramificadas apresentam deslocamentos verticais significativamente menores que o obtido no modelo convencional de fundação, entretanto, a redução não é expressivamente significativa quando se comparam os resultados das três estruturas ramificadas. Vale destacar ainda que a propagação dos deslocamentos na direção horizontal é mais significativa à medida que se aumenta o número de ramificações da estrutura, o que deve ser avaliado com mais profundidade, visto que tal fenômeno pode causar interferências em estruturas vizinhas.
3.4. INFLUÊNCIA DO ÂNGULO DE RAMIFICAÇÃO
O ângulo de ramificação (α) é um parâmetro que não foi aplicado na dedução do modelo geométrico para as fundações ramificadas. Entretanto, é importante verificar, sob o ponto de vista físico, qual a sua influência sobre os resultados a serem obtidos para os modelos avaliados, a fim de se observar se existem correlações entre tal ângulo e capacidade de carga, deslocamentos e tensões. Partindo desta premissa, foram gerados novos modelos de fundação ramificada, mantendo-se os parâmetros de geração da geometria do modelo, b, d e λ, assim como a estaca base padrão, de diâmetro de 0,5 metros e comprimento de 10 metros, consequentemente, as dimensões das fundações serão as mesmas dos modelos anteriores. A
Engenharia no Século XXI – Volume 18
52
única variável, neste caso, foi o ângulo formado entre os ramos das ordens ramificadas dos modelos com uma, duas e três ramificações que, inicialmente foi alterado para 20º e, posteriormente, para 40º. Os modelos geométricos das fundações em estudos são apresentados na Figura 23, Figura 24 e Figura 25.
Figura 23. Modelos de fundação com uma ramificação e ângulos de ramificação de 20° e 40°,
respectivamente.
Figura 24. Modelos de fundação com duas ramificações e ângulos de ramificação de 20° e 40°, respectivamente.
Figura 25. Modelos de fundação com três ramificações e ângulos de ramificação de 20° e 40°, respectivamente.
A primeira avaliação realizada foi a do comportamento da estrutura dada a aplicação da carga de 805 kN/m², que levou a ruptura do modelo padrão de fundação. O objetivo neste caso é avaliar se, para um mesmo carregamento, ocorrem variações nos resultados em termos de deslocamentos e tensões, quando comparados aos resultados observados no modelo com 30º de ângulo de ramificação. Após a realização das simulações, foi constatado que tal parâmetro não apresenta influência significativa sobre os deslocamentos verticais das estruturas, visto que, para os três modelos de fundações ramificadas simulados, as variações percentuais nos deslocamentos devido à mudança no ângulo de ramificação não
Engenharia no Século XXI – Volume 18
53
atingiram valores superiores a 7%, como mostrado na Tabela 11. Já as tensões mostraram-se crescentes à medida que o ângulo de ramificação foi aumentado, conforme pode ser observado na
Figura 26.
Tabela 11. Deslocamentos em função do ângulo de ramificação para a carga de 805 kN/m².
Ângulo de ramificação
(°)
Uma ramificação Duas ramificações Três ramificações
Deslocamentos (mm)
Diferenças percentuais
(%)
Deslocamentos (mm)
Diferenças percentuais
(%)
Deslocamentos (mm)
Diferenças percentuais
(%)
20 17,91 - 15,17 - 14,32 -
30 16,82 -6,09 15,35 +1,19 13,45 -6,08
40 16,09 -4,34 16,38 +6,71 13,46 +0,07
Figura 26. Tensões para a carga de 805 kN/m² em função do ângulo de ramificação.
Em seguida, a carga vertical no topo da estrutura foi incrementada até a ruptura do solo. Sendo possível a obtenção das capacidades de carga e os recalques associados a tais carregamentos. Os resultados obtidos para as duas variações angulares acima citadas, bem como um comparativo destes em relação aos dos modelos com ângulo de 30º, já avaliados anteriormente, são apresentados na Tabela 12 e
Engenharia no Século XXI – Volume 18
54
Figura 27.
Tabela 12. Capacidade de carga em função do ângulo de ramificação.
Ângulo de ramificação
(°)
Uma ramificação Duas ramificações Três ramificações
Capacidade de carga (kN/m²)
Diferenças percentuais
(%)
Capacidade de carga (kN/m²)
Diferenças percentuais
(%)
Capacidade de carga (kN/m²)
Diferenças percentuais
(%)
20 2205 - 2520 - 2560 -
30 2705 +22,68 3010 +19,44 2855 +11,52
40 3010 +11,28 3205 +6,48 2905 +1,75
Engenharia no Século XXI – Volume 18
55
Figura 27. Capacidade de carga em função do ângulo de ramificação.
Pode-se perceber que a variação do ângulo de ramificação afeta a capacidade de carga das fundações de maneira direta, à medida que se aumenta o ângulo de abertura dos ramos da estrutura, obtém-se um aumento na carga de ruptura do modelo. Porém, é possível observar que quanto maior é o número de ramificações presentes na fundação, menor é o aumento da capacidade de carga, obtido como consequência do aumento do ângulo de ramificação. Além disso, os resultados apresentados também podem ser indício de que há um limite no aumento de capacidade de carga devido ao aumento do ângulo de ramificação, visto que o acréscimo percentual de carga de ruptura dos modelos com 30º quando comparados aos modelos com 20º é significativamente maior que o acréscimo gerado nos modelos com 40º quando comparados com os com 30º. Tal padrão se repete para os três modelos de fundação ramificada que foram simulados.
4. CONCLUSÕES
A partir dos resultados obtidos é possível concluir que as fundações ramificadas são, de fato, eficientes com relação à capacidade de suporte e redução de recalques. Observa-se que, ramificando a fundação apenas uma vez é possível obter resultados significativamente superiores aos de uma fundação por estaca padrão, podendo ser alcançada uma capacidade de carga de 3,5 vezes acima do valor obtido para o modelo convencional. Para o modelo duas vezes ramificado, a carga necessária para levar o solo à ruptura atingiu um valor da ordem de 4 vezes o valor obtido para a fundação por estaca de igual volume, e os deslocamentos verticais para um mesmo carregamento foram reduzidos em cerca de 8 vezes.
Entretanto, para a fundação com três ramificações, observou-se uma redução da capacidade de suporte quando comparada à obtida para o modelo duas vezes ramificado. Tal resultado pode ser um forte indicativo de que exista um número ótimo de ramificações a partir do qual o aumento do número de ramificações (n) não seja mais vantajoso, pois a capacidade de carga deverá alcançar um máximo para determinado n e, a partir de então, mesmo com o acréscimo de ordens, esse valor tenderá a decair.
Outro aspecto significativo com relação às fundações ramificadas é o de que as solicitações em termos de tensões atuantes são mais expressivas na própria estrutura de fundação, ao contrário das fundações convencionais, em que as maiores tensões são verificadas no solo de fundação, nas regiões imediatamente abaixo da base da estrutura.
Logo, pode-se dizer que se trata de uma vantagem das fundações ramificadas, visto que o controle executivo das estruturas a serem construídas é muito maior do que o controle e conhecimento sobre o solo de assentamento das estruturas.
Observou-se que as fundações ramificadas geram efeitos na massa de solo adjacente, significativamente maiores do que as fundações por estaca convencionais, sendo que a propagação dos deslocamentos foi mais expressiva com o aumento do número de ramificações da fundação. Este fato é de significativa relevância, uma vez que tal propagação pode causar interferências em estruturas vizinhas.
O comparativo realizado entre as fundações ramificadas com diferentes ângulos de ramificação mostrou que, quanto maior o ângulo das aberturas das ramificações, maiores foram as capacidades de carga
Engenharia no Século XXI – Volume 18
56
obtidas, porém, as diferenças percentuais entre estas foram mais expressivas para o modelo com uma ramificação, seguido pelo modelo com duas e, por fim, o modelo com três ramificações. Este resultado pode ser um indicativo de que quanto mais ramificada é a estrutura de fundação, menor é a influência do ângulo de ramificação sobre a capacidade de suporte da mesma. Entretanto, é necessário realizar uma avaliação mais completa a respeito, simulando ângulos de ramificação maiores, para que seja possível verificar se existe um ângulo limite, a partir do qual a capacidade tenda a decair, assim como foi constatado para o número de ramificações adotado.
Com relação aos deslocamentos verticais sofridos pela estrutura devidos a um mesmo carregamento aplicado, não foram observadas mudanças significativas devido à variação no ângulo de ramificação da estrutura, visto que as diferenças percentuais nos resultados não ultrapassaram 7% para todos os ângulos simulados.
Feitas as análises dos resultados obtidos, cabe ainda realizar algumas considerações a respeito de aspectos futuros a serem avaliados com relação às fundações ramificadas. O primeiro destes aspectos, e talvez o de maior relevância, é o fato de que as análises realizadas foram simuladas em um software de modelagem bidimensional que considera que as estruturas introduzidas possuem profundidade unitária. Porém, o modelo geométrico de fundação descrito foi obtido via análise tridimensional, considerando-se como base uma geometria composta por elementos cilíndricos. Logo, as cargas de ruptura, os deslocamentos e tensões no solo são válidos em termos de análises relativas, mas não absolutas. Portanto, para uma avaliação mais exata do mesmo, seria necessária a utilização de um programa de modelagem tridimensional, como o PLAXIS 3D, por exemplo, o que deve ser estudado futuramente, a fim de se obter uma comprovação dos resultados obtidos.
Além disso, cabe ainda realizar um dos estudos mais relevantes com relação a esse modelo de fundação, a viabilidade executiva do mesmo. É fato que, embora sejam fundações eficientes sob o ponto de vista de capacidade de carga e redução de deslocamentos, as fundações ramificadas constituem-se de estruturas de difícil execução, sendo necessário um estudo a respeito de maneiras de se tornar viável sua execução.
Atualmente, a Indústria do Petróleo utiliza o chamado método de “Perfuração Direcional”, para a escavação de poços petrolíferos. Este termo faz referência a um conjunto de métodos e ferramentas utilizadas para tornar possível a perfuração de poços com ângulos e direções específicas até determinado alvo (Bandeira e Silva [16]). Logo, pode-se perceber que, com as tecnologias atuais, já é possível realizar escavações segundo ângulos específicos, tal como se faz necessário no caso das fundações ramificadas.
O estudo das fundações ramificadas é, ainda, recente, e existem ainda lacunas a serem preenchidas sobre variáveis que influenciam seu funcionamento e execução. Entretanto, tais modelos de fundação possuem grande potencial ainda a ser explorado, tanto no campo teórico, como no prático.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) pela concessão das bolsas de Iniciação Científica e à CAPES pela bolsa de pós-graduação em engenharia civil que protagonizaram a obtenção dos resultados aqui discorridos.
REFERÊNCIAS
[1] Velloso, D. A. e Lopes, F. R., Fundações: critérios de projeto, investigação do subsolo, fundações superficiais, fundações profundas, Vol. Único, Oficina de textos, São Paulo, SP, 568 p., 2010.
[2] Cintra, J. C. A.; Aoki. Fundações por estacas: projeto geotécnico, São Paulo: Oficina de textos, 2010.
[3] Thompson, D’A. W., “On Growth and Form”, Cambridge University Press, 1, 50-155, 1917.
[4] Randié, M., “On Characterization of Molecular Branching”, Journal of the American Chemical Society, 99: 23, 6609-6615, 1975.
[5] Fleury, V., Gouyet, J.F., Leonetti, M. Branching in Nature: dynamics and morphogenesis of branching structures from cell to river networks, Springer, 2001.
[6] Harris, T.E. The theory of branching processes, Courier Corporation, 2002.
[7] Morris, C.E., Homann, U., “Cell Surface Area Regulation and Membrane Tension”, Journal of Membrane Biology, 179, 79-102, 2001.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
57
[8] Hasleton, P.S., “The internal surface area of the adult human lung”, Journal of Anatomy, 112:3, 391-400, 1972.
[9] Murray, C. D., “The physiological principle of minimum work: I. the vascular system and the cost of blood”, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 12, 207-214, 1926.
[10] Hallé, F., “Arquitectura de los Árboles”, Bol. Soc. Argent. Bot. 45 (3-4), 405-418, 2010.
[11] Hansen, P., Thisse J., Hanjoul, P., “Simple plant location under uniform delivered pricing”, 6:2, 94-103, 1981.
[12] Souza, L.T. e Barros, M. M. Maximização da Área de Superfície em Sistemas Ramificados, Anais do XII Simpósio de Mecânica Computacional, Vol. 1, p. 632-639, 2016.
[13] Barros, M.M., Bevilacqua, L. Elastic fractal trees: a correspondence among geometry, stress, resilience and material quantity, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Vol. 37, No. 5, pp. 1479-1483, 2015.
[14] Lee C. J., Bolton M. D., e Al-tabbaa A. Numerical modelling of group effects on the distribution of dragloads in pile foundations”, Geotechnique, Vol. 52:5, p. 325–335, 2002.
[15] Souza, L.T., Soncin, I. B. e Barros, M. M. Estruturas Ramificadas como Solução Alternativa para Fundações, XIX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, COBRAMSEG – ABMS, Salvador, Bahia, 2018.
[16] Bandeira, F. B. B. e Silva, G. V. M., Perfuração direcional de poços de petróleo – métodos de deflexão e acompanhamento direcional, I Congresso Nacional de Engenharia de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, 2015.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
58
Capítulo 5
Avaliação do Método de Van Der Veen para estimativa das cargas de ruptura em estacas raiz da cidade de Fortaleza
Fernando Feitosa Monteiro
Alfran Sampaio Moura
Marcos Fábio Porto de Aguiar
Renato Pinto da Cunha
Yago Machado Pereira de Matos
Resumo: A prova de carga estática é o ensaio de campo mais utilizado para a
determinação da capacidade de carga de fundações profundas. A partir do ensaio, é
possível verificar o comportamento da fundação, através do carregamento com
incrementos progressivos de carga no topo da estaca, até que se atinja o dobro da carga
de trabalho ou que haja ocorrência da ruptura da estaca (sistema estaca-solo). Quando
uma prova de carga não é levada até a ruptura ou a um nível de recalque que caracterize
ruptura, realiza-se uma extrapolação da curva carga-recalque, com objetivo de estimar a
carga de ruptura da estaca. Dentre os métodos mais utilizados para extrapolação da
curva carga-recalque, têm-se o método de Van Der Veen (1953). O trabalho apresenta
uma avaliação do método de Van Der Veen (1953) para a estimativa da carga de ruptura,
analisando diferentes trechos do carregamento de curvas carga-recalque, obtidas em
provas de carga estáticas realizadas em estacas raiz da cidade de Fortaleza. A partir das
análises realizadas, observa-se que para uso do método faz-se necessário uma curva
carga-recalque bem caracterizada de ruptura, com cargas máximas próximas a 90% da
carga última inferida. Vale comentar ainda que a utilização do método para estágios de
carga no trecho inicial da curva podem acarretar em previsões de carga de ruptura
insatisfatórias.
Palavras-Chave: Prova de carga, Estaca raiz, Van der Veen.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
59
1. INTRODUÇÃO
A estimativa da capacidade de carga de fundações por estacas é prática comum na engenharia de fundações brasileira. De modo geral, a capacidade de carga é estimada a partir de métodos semi-empíricos baseados no NSPT do ensaio de sondagem a percussão (SPT). A verificação em campo da capacidade de carga das estacas é usualmente realizada a partir de provas de carga estática. A prova de carga estática tem como objetivo, apresentar a história do carregamento real de uma construção, que se realiza em estágios de carga quase sempre crescentes, ao longo do tempo, visando à avaliação da segurança que a fundação apresenta em relação ao estado último ou de ruptura (AOKI, 1997).
Quando uma prova de carga não atinge a carga máxima desejada, ou não possui-se visualização nítida desta, geralmente se recorre a métodos de extrapolação e interpretação das curvas carga versus recalque obtidas. Assim, o objetivo do presente trabalho é avaliar a aplicabilidade do método de Van der Veen (1953) em casos onde a prova de carga não seja levada a ruptura.
2. PROVA DE CARGA ESTÁTICA
A prova de carga estática em estacas verticais ou inclinadas no Brasil, é regulamentada pela ABNT (2006) e consiste no carregamento com incrementos progressivos de carga no topo da estaca, medindo simultaneamente os respectivos recalques. A ABNT (2006) ainda determina que os esforços aplicados podem ser axiais de tração ou de compressão, ou ainda transversais, sendo propostos quatro tipos de carregamento, sendo eles: lento, rápido, misto e cíclico. Porém, no Brasil, o carregamento lento é o mais utilizado.
Moura et al. (2011) relatam que uma grande vantagem da prova de carga estática é o fato de tratar-se de um ensaio que submete o complexo conjunto solo-fundação às condições reais de trabalho. Ressalta-se que, quando um pequeno acréscimo de carga provoca um grande recalque, define-se na curva um trecho assintótico vertical, cuja carga correspondente é denominada carga de ruptura. A determinação desta carga sem que o sistema estaca-solo tenha rompido é uma questão polêmica na engenharia de fundações, embora a metodologia de Van der Veen (1953) tenha grande aceitação nacional (FOÁ, 2001). Quando uma prova de carga não é levada até a ruptura ou a um nível de recalque que caracterize ruptura, realiza-se uma extrapolação da curva carga-recalque, com objetivo de estimar a carga de ruptura da estaca. Dentre os métodos mais utilizados para extrapolação da curva carga-recalque, têm-se o método de Van Der Veen (1953). O método de Van Der Veen (1953) propõe que a carga e o deslocamento no topo de uma estaca apresentem uma relação exponencial, que representa a curva carga-recalque, como visto na equação seguinte:
(1)
Onde: Qult é a carga de ru
caracteriza a carga de ruptura (Qult). Reescrevendo essa função Q = Qult -se a equação 2, que corresponde a uma reta que passa pela origem, quando plotada em uma escala semilogarítmica de base neperiana. Aoki (1976) observa que a não obrigatoriedade em passar pela origem do sistema de coordenadas pode melhorar a regressão, dessa forma, propõe uma extensão da expressão de Van der Veen (1953) conforme a equação 3. Sendo que b representa o intercepto no eixo dos recalques, da reta obtida na escala semilogarítmica.
(2)
(3)
Engenharia no Século XXI – Volume 18
60
Paschoalin Filho e Albuquerque (2012) avaliaram a aplicabilidade do método de Van der Veen em estacas do tipo raiz submetidas a tração em solo poroso de diabásio. De acordo com os autores, o método mostrou-se aplicável quando se desenvolve cargas próximas a 80% da carga última, indicando desta forma que há a necessidade de levar uma prova de carga a pelo menos este valor para que se tenha uma carga extrapolada mais confiável.
3. ESTUDO DE CASO
As áreas de estudo que foram designadas para a realização da pesquisa foram definidas partindo do critério de demanda de obras com soluções de fundações em estacas raiz, onde posteriormente se fizessem provas de carga estática nas mesmas. As provas de carga foram realizadas em obras situadas na região metropolitana de Fortaleza, no estado do Ceará (Figura 1).
A região é caracterizada por apresentar as seguintes feições geológicas: rochas cristalinas, dos tipos metamórfcas e ígneas, do Complexo Nordestino, sedimentos terciários do Grupo Barreiras e dunas do tipo edafzadas e móveis. Todas essas feições são cortadas por cursos d`água do sistema fluvial, com depósito dos sedimentos recentes. O Grupo ou Formação Barreiras distribui-se como uma faixa sedimentar de largura variável (até 30km), acompanhando a linha da costa, sendo parcialmente recoberta junto ao litoral por dunas e areias marinhas. Consistem de argilas variegadas e arenitos avermelhados, ricos em cascalho, apresentando camadas laterizadas e conglomerados grosseiros com cimento ferruginoso (óxidos de ferro).
Figura 1. Localização das obras
A obra 1 situa-se no bairro Guararapes, nas proximidades da Av. Washington Soares, que apresenta acentuada densidade de edificações na vizinhança.O perfil estratigráfico do solo da obra 1, apresenta um perfil composto por transições de solos areno-siltosos, areno- argilosos, argilo-arenosos (Figura 2). Observa- se que o índice de resistência à penetração (NSPT), apresenta valores baixos até aproximadamente 12 m de profundidade, seguido de um acréscimo relevante na camada de argila arenosa, ao longo de toda sua extensão. O nível da água encontra-se a aproximadamente 7 m de profundidade.
A obra 2 localiza-se no bairro do Cocó, que apresenta alta densidade de edificações na vizinhança. O perfil estratigráfico do subsolo, para a sondagem mais próxima a estaca 2 (SP- 1), apresenta uma camada de areia siltosa de 2 m, seguida por uma camada de silte argiloso com espessura de 9 m e por uma camada de 12 m de argila arenosa (Figura 3). Já para a sondagem com maior proximidade da estaca 3 (SP-2), identifica-se um perfil geotécnico similar, onde o perfil é composto por camadas de solos areno-siltosos e silto-argilosos (Figura 3). Verifica-se que o índice de resistência à penetração (NSPT), apresenta valores menores até 7 m de profundidade. Já o nível da água encontra-se a aproximadamente 4 m de profundidade.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
61
Figura 2. Perfil estratigráfico da Obra 1 e variação do NSPT com a profundidade
Figura 3. Perfil estratigráfico da Obra 1 e variação do NSPT com a profundidade
Para a realização desta pesquisa, foram executadas três estacas do tipo raiz, sendo duas com diâmetro de 0,41 m e comprimentos de 12 e 16 m, e outra com diâmetro de 0,35 e comprimento de 12 m. Na Tabela 1, estão descritas algumas características geométricas e de execução das fundações em estacas raiz das obras estudadas.
Tabela 1 – Caracteristicas geometricas e executivas das estacas ensaidas
Obra
Dados 1 2 Estaca 1 2 3 L (m) 12 16 12
D (mm) 350 410 410
Pressão de injeção (kPa) 300 300 300
Carga de Trabalho (kN) 800 1200 1200
As estacas analisadas na obra 1 foram submetidas à prova de carga lenta, de acordo com a ABNT (2006). O carregamento das estacas ensaiadas foi realizado em 9 estágios de carga correspondente, cada um, a 22,5% da carga de trabalho da mesma. A Figura 4 apresenta a curva carga-recalque obtida para a prova de carga da estaca 1. Durante a prova de carga estática, a estaca 1 foi sujeita uma carga de 1620 kN, alcançando um recalque máximo de 15,61 mm. Após o descarregamento, obteve- se um recalque residual no valor de 10,10 mm. Neste caso, não foi aplicado o décimo estágio de carga, pois a estaca evidenciou uma eminência de ruptura devido aos elevados deslocamentos.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
62
As estacas avaliadas na obra 2 foram submetidas à prova de carga lenta. O carregamento das estacas ensaiadas foi realizado em 10 estágios de carga correspondente, cada um, a 20% da carga de trabalho da mesma. As Figuras 5 e 6 apresentam as curvas carga-recalque obtidas para as provas de carga das estacas 2 e 3. A estaca 2 foi submetida a uma carga máxima de 2400 kN, provocando um recalque máximo de 13,85 mm. Após o descarregamento, obteve-se um recalque residual de 3,54 mm. Já a carga máxima da prova de carga realizada na estaca 3 foi de 2400 kN, e o recalque máximo de 25,04 mm. Já o recalque residual obtido após o descarregamento foi de 18,28 mm durante o descarregamento.
Figura 4. Curva carga – recalque para a estaca 1
Figura 5. Curva carga – recalque para a estaca 2
Figura 6. Curva carga – recalque para a estaca 3
Engenharia no Século XXI – Volume 18
63
Para a estimativa das cargas de ruptura das estacas submetidas a compressão foi utilizado o método de Van der Veen (1953) modificado por Aoki (1976). As cargas de ruptura das estacas avaliadas foram calculadas considerando-se que a prova de carga tenha sido suspensa em recalques situados em pontos referentes a 50, 60, 70, 80 e 90% das cargas máximas obtidas pelas provas de carga que foram levadas até a ruptura, conforme a metodologia realizada por Paschoalin Filho e Albuquerque (2012). Este procedimento teve por finalidade avaliar a aplicabilidade deste método caso a prova de carga fosse interrompida prematuramente. O procedimento supracitado não foi aplicado a estaca 2, pois o ensaio não indicou uma ruptura nítida.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na Tabela 2 são apresentados os valores de carga de ruptura e recalques correspondentes a carga última da prova de carga (Qult) e carga de trabalho (Qult/2).
Tabela 2. Valores de recalque para Qult e Qult/2 da PCE Estaca L (m) Qmax (kN) pQult (mm) pQult/2 (mm)
1 12 1620 15,61 1,30
2 16 2400 13,85 3,81
3 12 2400 25,04 3,92
A Tabela 3 apresenta as cargas de ruptura obtidas por meio do método de Van der Veen (1953) modificado por Aoki (1976) considerando-se o máximo recalque obtido nas provas de carga (QVV).
Tabela 3. Cargas de ruptura (Qvv) a partir do método de Van der Veen (1953) Estaca Qmax (kN) Qvv (kN) Qvv / Qult
1 1620 1642 1,01
2 2400 2650 1,10
3 2400 2420 1,01
Na Tabela 3 observa-se que o valor de Qvv/Qult médio foi de 1,04 com desvio padrão de 0,05 e coeficiente de variação de apenas 5,1%. As Tabelas 4 a 8 apresentam as cargas de ruptura obtidas por meio do Método de Van der Veen (1953) modificado por Aoki (1976), avaliando- se os recalques situados em pontos referentes a 50, 60, 70, 80 e 90% da cargas máximas obtidas pelas provas de carga que foram levadas até a ruptura.
Tabela 4. Cargas de ruptura (Qvv) a partir do método de Van der Veen (1953) para recalques correspodentes a 50% dos recalques da carga máxima da PCE Estaca Qult (kN) Qvv50% (kN) Qvv50% / Qult
1 1642 845 0,51
3 2420 1224 0,51
Tabela 5. Cargas de ruptura (Qvv) a partir do método de Van der Veen (1953) para recalques correspodentes a 60% dos recalques da carga máxima da PCE Estaca Qult (kN) Qvv60% (kN) Qvv60% / Qult
1 1642 997 0,61
3 2420 1511 0,62
Tabela 6. Cargas de ruptura (Qvv) a partir do método de Van der Veen (1953) para recalques correspodentes a 50% dos recalques da carga máxima da PCE Estaca Qult (kN) Qvv70% (kN) Qvv70% / Qult
1 1642 1134 0,69
3 2420 1734 0,72
Engenharia no Século XXI – Volume 18
64
Tabela 7. Cargas de ruptura (Qvv) a partir do método de Van der Veen (1953) para recalques correspodentes a 50% dos recalques da carga máxima da PCE Estaca Qult (kN) Qvv80% (kN) Qvv80% / Qult
1 1642 1296 0,79
3 2420 1900 0,79
Tabela 8. Cargas de ruptura (Qvv) a partir do método de Van der Veen (1953) para recalques correspodentes a 50% dos recalques da carga máxima da PCE
Estaca Qult (kN) Qvv90% (kN) Qvv90% / Qult
1 1642 1486 0,90
3 2420 2159 0,89
Avaliando os resultados obtidos, verifica-se que os valores de Qvv/Qult apresentam valores médios inferiores a 1, considerando pontos situados até recalques referentes a 50, 60, 70, 80% das cargas máximas obtidas pelas provas de carga. Inferindo assim, que a extrapolação da curva carga-recalque a partir do médodo de Van der Veen (1953) modificado por Aoki (1976) apresenta resultados satisfatórios para uma curva que apresente ruptura bem caracterizada.
Considerando-se os pontos referentes aos recalques para as cargas máximas obtidas pelas provas de carga, o método apresentou praticamente mesmo valor de Qvv/Qult iguais a 1. As Figuras 7 e 8 apresentam a variação de Qvv/Qult para os cenários propostos pela metodologia de Paschoalin Filho e Albuquerque (2012), a fim de elucidar a análise realizada a partir de uma perspectiva gráfica.
Figura 7. Valores de Qvv/Qult para estaca 1
Figura 8. Valores de Qvv/Qult para estaca 3
Verifica-se que a aplicação do médodo de Van der Veen (1953) modificado por Aoki (1976) para trechos iniciais da curva carga-recalque das estacas raiz analisadas apresenta extrapolações insatisfatórias. Ao passo que para cargas próximas a 90% da carga ultima, o método aponta previsões satisfatórias.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
65
5. CONCLUSÕES
Conclui-se que a aplicabilidade do método de Van der Veen (1953) modificado por Aoki (1976) para provas de carga que não foram levadas a ruptura está condicionada a uma curva carga-recalque com ruptura bem caracterizada. O método mostrou-se aplicável quando se desenvolve cargas próximas a 90% da carga última, inferindo a necessidade de atingir valores desta ordem de grandeza em provas de carga, afim de se obter uma carga extrapolada de maior confiabilidade. Vale comentar ainda que a utilização do método para estágios de carga no trecho inicial da curva podem acarretar em previsões de carga de ruptura insatisfatórias.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem ao CNPq pelo apoio financeiro e concessão de bolsas.
REFERÊNCIAS
[1] Aoki, N. (1976). Considerações sobre a capacidade de carga de estacas isoladas. Notas de Aula, Universidade Gama Filho.
[2] Aoki, N. (1997). Determinação da capacidade de carga última de estaca cravada em prova de carga dinâmica de energia crescente. Tese de Doutorado, EESC/USP, São Carlos, 111p.
[3] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. (2006). 12131: Estacas – Prova de carga estática – Métodos de ensaio. Rio de Janeiro: Moderna, 16 p.
[4] FÓA, S B. (2001). Análise de prova de carga dinâmica de energia crescente para o projeto de fundações profundas. Dissertação de Mestrado, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, 200p.
[5] Moura, A.S; Nóbrega Júnior, A.J. e Aguiar M.F.P. (2011). Análise de métodos semi-empíricos para o cálculo da capacidade de carga de estacas raiz de pequeno e grande diâmetro em obras de Fortaleza, Revista de Tecnologia, Vol. 32, p. 56-72.
[6] Paschoalin Filho, J.A.; Albuquerque, P.J.R. (2012). Aplicação do Método de Van der Veen (1953) para a estimativa das cargas de ruptura de estacas raiz tracionadas executadas em solo poroso de diabásio. XVI Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, ABMS, Porto de Galinhas, v.1, p 1-8.
[7] Van der veen, C. Bearing capacity of a pile. In: International conference soil mechanics foundation engineering, 3., 1953, Zurich. Proceedings. Zurich, 1953. v. 2.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
66
Capítulo 6
Análise das condições geológicas-geotécnicas de vilas e favelas
Gustavo Vinicius Gouveia
Bruno Henrique Longuinho Gouveia
Gabrielle Sperandio Malta
Cristina Santos Araujo
Ana Mara Araújo Torres
Karoline Rodrigues Costa
Resumo: Foram analisadas 17 vilas, favelas e bairros irregulares com o intuito da
regularização fundiária dos mesmos. A metodologia adotada baseou-se na elaboração de
laudos geológicos-geotécnicos de cada área, que possibilitaram levantar importantes
aspectos geotécnicos, tais como as condições topográficas e de declividade dos terrenos,
a resistência dos materiais que compõem os taludes vizinhos às moradias, a influência
de construções adjacentes na estabilidade de cada residência, a presença de feições de
instabilizações, além dos impactos ambientais e da própria interação moradores-
terreno. Tendo em vista este cenário, relacionou-se as práticas comuns e equivocadas,
observadas a partir das apropriações irregulares. Destaca-se neste artigo os típicos
problemas geotécnicos que ocorrem nas regiões de vilas e favelas, sob a ótica de como a
população local é afetada pelas suas próprias atitudes e a de seus vizinhos e explanando
sobre como os governantes e a própria população podem remediar as condições de
instabilização geradas.
Palavras-Chave: Geotecnia de Vilas e Favelas, Análise Geotécnica Urbana, Município de
Ibirité.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
67
1. INTRODUÇÃO
O município de Ibirité, situado na região metropolitana de Belo Horizonte-MG (RMBH), investiu nos últimos dois anos em um grande projeto de regularização fundiária o qual compõe, em parte das exigências, laudos geológico-geotécnicos de estabilidade. Assim, foram avaliados, em campo, 17 territórios, classificados como vilas, favelas e bairros irregulares, nos quais foram feitas inúmeras observações sobre o padrão construtivo das moradias, as condições topográficas, a declividade do terreno, a resistência dos materiais que compõe os taludes vizinhos, a influência de construções adjacentes na estabilidade de cada residência, a presença de feições de instabilizações, a surgência de água na face do talude, a disposição dos esgotos domésticos e água servida, a proximidade de áreas de preservação permanente e a influência da vegetação utilizada em cada encosta, entre outros aspectos.
Observações relevantes foram feitas com base na interação dos moradores com o terreno e pela ausência de conhecimento dos conceitos de geotecnia, o que acomete em grandes equívocos como a escavação do pé de taludes, a verticalização dos taludes adjacentes e muito próximos às moradias, a delonga em construir muros de contenção, o lançamento de esgoto e água servida na face dos taludes, o descarte de resíduos e entulhos sobre esses declives e a intensa concentração de bananeiras que dispõem grande parte das encostas com maior declividade.
Mediante tamanha disponibilidade de dados, resumiu-se todas as práticas comuns e equivocadas observadas em campo a fim de relacioná-las com os típicos problemas geotécnicos que ocorrem nas regiões de vilas e favelas e, assim, descrever como a população local é atingida pelas suas próprias atitudes e de seus vizinhos. Além de como os governantes e a própria população podem remediar as condições de instabilização.
Em suma, propõe-se a conscientização da população deste tipo de ocupação com a utilização de didáticas cartilhas informativas, que de maneira simplificada, utilizam de conceitos da geotecnia propondo recomendações de boas práticas para escavação e manuseio do solo e dos taludes adjacentes, bem como, de soluções simples, de baixo custo e eficientes contra alguns tipos de instabilizações.
2. ANÁLISE GEOLÓGICA GEOTÉCNICA
2.1 CARACTERIZAÇÃO DAS OCUPAÇÕES
As regiões de Ibiritá-MG estudadas são conhecidas como, Vila Águia Dourada, Bairro Boa Vista, Bairro Canoas, Bairro Lajinha, Vila Los Angeles, Vila Primavera, Vila Serra Dourada, Vista Alegre, Petrolina, Casa Branca, Jardim das Flores, Vila Morada do Sol, Recanto das Árvores, Residencial Palmira, Vila Bulgarim, Vila Escorpião e Vila Petrolina.
As ocupações apresentam características semelhantes quanto às topografias. Como referem-se a áreas que sofreram processos de ocupação irregular e/ou desordenado, não foram considerados aspectos normativos instituídos pelas legislações federais, estaduais e municipais quanto ao Uso e Ocupação do Solo, a exemplo da Lei Federal 6.766/1979. Dessa forma, encontra-se um ordenamento urbano inadequado urbanisticamente, possuindo edificações em morros com declividade acima de 30%, vales com presença de córregos ou sujeitos a alagamentos e inundações, regiões com surgência d’água e/ou áreas de preservação permanente, dentre outras situações que condicionam risco à segurança de habitabilidade.
As condições das edificações, de certo modo, retratam a precariedade das condições de infraestrutura local, e, no que concerne a algum potencial de risco são consideradas, predominantemente, ruins a regulares, devido à própria metodologia construtiva no sistema de corte e aterro, com fundações rasas e edificações sem controle executivo, caracterizando em ambos os processos e etapas construtivas como falhos em relação aos profissionais envolvidos e a inexistência de projetos, o que se justifica pelas inúmeras carências e inadequações da própria opção de moradia.
As áreas compostas por tais apropriações possuem infraestrutura de saneamento insuficiente ou ausente, sistemas de drenagem falhos ou inexistentes, são mal servidas por sistemas de transporte, de coleta de lixo e de equipamentos públicos, além dos outros condicionantes anteriormente citados.
Ressalta-se que a falta de acesso à moradia é, hoje, um dos principais fatores na promoção da consolidação de habitações de baixo padrão construtivo e em áreas de alta vulnerabilidade. Os superficiários, em geral, possuem baixa instrução e pouca compreensão do comportamento mecânico do solo e das rochas, sendo os principais causadores de instabilizações e situações problemáticas para a região.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
68
3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS MAIS COMUNS
3.1 CAUSAS NATURAIS
Por se tratarem de áreas, em grande parte, ocupadas ilegalmente, não foram realizados quaisquer estudos geológico-geotécnicos prévios às construções das moradias e da infra-estrutura presente, ocasionando uma série de problemas relacionados às características do terreno. Dentre as instabilizações identificadas, as mais comuns foram:
Baixa resistência da fundação e dos maciços adjacentes: Os terrenos possuem características similares em todas as áreas estudadas, são compostos, em sua maioria, por solos de consistência rija, variando pontualmente para consistência mole e texturas areno-argilosa à silto-argilosa. Por vezes, apresentavam rochas granito-gnáissicas saprolitizadas do Complexo Belo Horizonte e xistos, também saprolitizados, do Grupo Sabará, de resistência baixa. Essas características conferem aos maciços uma elevada suscetibilidade a erosões e a possibilidade de desenvolverem movimentação de massa e abaulamento do terreno (Figura 1).
Figura 28. Evidência da baixa resistência do solo causando ruptura circular no pavimento, bairro Serra
Dourada.
Alta declividade: Como citado no ítem 2.1, as edificações estão localizadas em regiões com elevadas declividades (Figura 2).
Figura 29. Modelo digital de declividade (MDD) do bairro Recanto das Árvores - Ibirité. Região possui declividade bastante acentuada. (Imagem gerada no software ArcGIS 10.3)
Engenharia no Século XXI – Volume 18
69
Alta suscetibilidade à erosões e movimentos de massa: Ocorre em pequenas áreas isoladas ao longo das vilas e podem vir a evoluir e se interconectar, gerando assim grandes erosões que, por sua vez, colocam os moradores em perigo. Ela é causada por diversos fatores, entre os mais agravantes estão, a baixa resistência do terreno, a declividade acentuada, o imenso volume de água infiltrada no terreno, as obras irregulares e a disposição de bananeiras próximo a encostas. Os processos erosivos se apresentam em diversas escalas, podendo ser desde pequenos sulcos centimétricos nas ruas, até grandes erosões decamétricas em encostas. É possível ainda observar um padrão de ruptura circular do solo (Figura 3), principalmente em regiões asfaltadas, onde o abaulamento do pavimento é intensamente perceptivel.
Figura 30. Erodibilidade do pavimento localizado no bairro Morada do Sol. Erosão mostrando feições de ruptura circular do solo sobre a casa de um morador.
Proximidade a córregos e rios: Diversas construções estão em regiões próximas a córregos e rios. Além dos impactos ambientais gerados por esta ação, há ainda o risco de enchentes e alagamentos em períodos de chuvas intensas (Figura 4).
Figura 31. Residência construída próxima a um pequeno córrego no bairro Residencial Palmira. Detalhe, em vermelho, das marcas do alcançe da água na parede da casa, em períodos de chuva intensa.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
70
Quedas de blocos: Devido à direção do corte de alguns taludes e a presença de famílias de fraturas na rocha (Figura 5), é possível, em áreas pontuais, observar o risco de quedas de blocos em residências adjacentes à estes taludes.
Figura 32. Devido a direção do corte do talude e as famílias de fraturas há a queda de blocos próximo a residência no bairro Canoas.
3.2 CAUSAS ANTROPIZADAS
Grande parte das instabilizações geotécnicas encontradas nestas zonas, foram ocasionadas pelos próprios superficiários, devido à falta de conhecimento técnico e instruções básicas. Entre os problemas observados, os mais comuns são:
Verticalização de taludes: Com intuito de aproveitar melhor o terreno, os moradores realizam a verticalização dos taludes imediatos as suas residências e, por vezes, escavam também o pé do talude deixando-o inclinado negativamente. Estes processos, torna instável e aumenta o risco de erosões e movimentação do mesmo (Figura 6 e 7).
Figura 33. Superficiário verticalizou o talude de sua propriedade, instabilizando-o e ocasionando seu desabamento sobre muro da propriedade à frente, na vila Primavera.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
71
Figura 34. Escavação do pé do talude com o intuito de aprovetar melhor a área, localizado no bairro Canoas.
Residências muito próximas à taludes: Um fator agravante comumente observado nestas regiões são as construções abeiradas, tanto a jusante quanto a montate do talude, que por vezes, encontra-se verticalizado (Figura 8).
Figura 35. Residências construídas próximas ao talude, tanto a jusante (Vila Bulgarim) quanto a montante (bairro Recanto das Árvores).
Lançamento direto do esgoto domiciliar nos córregos/rios, encostas e ruas: Com o precário sistema de saneamento básico de certas regiões, alguns habitantes lançam o esgoto diretamente em rios ou córregos ribeirinhos as suas residências, contaminando o curso d’água e aumentando o risco de doenças para toda a comunidade. Há ainda casos de lançamento de esgoto em encostas, que agravam os processos de erosão das mesmas, e o lançamento direto nas ruas (Figura 9), poluindo o solo e cursos d’água e, contribuindo para acelerar a ruptura precoce do pavimento.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
72
Figura 36. Esgoto in natura lançados em ruas, causando ruptura precoce do pavimento, no bairro Casa Branca.
Lançamento de água servida diretamente nas ruas: Semelhante ao citado anteriormente, a água servida gera danos antecipados ao pavimento e escava o solo. Grande quantidade de bota-foras irregulares: Mesmos em locais onde possuem a coleta de resíduos, há presença de terrenos baldios e encostas transformadas em bota-foras irregulares (Figura 10 e 11). Além dos riscos à saúde da população ao atrair animais peçonhentos e roedores, estas áreas representam um passivo ambiental.
Figura 37. Falta de conscientização ambiental nas atitudes dos moradores. Detalhe na formação de bota-
fora irregular próximo ao local de coleta de lixo, na vila Primavera.
Figura 38. Ambientes locais com coleta de lixo reduzida, causando acúmulo e criação de bota-foras irregulares, no bairro Canoas.
Disposição de bananeiras em zonas de declividade acentuada: Com o intuito de conter as erosão das encostas, os superficiários plantam bananeiras, porém geram o efeito justamente contrário, pois as mesmas retém água em suas raízes, deixando o solo úmido e mais suscetível a erosão (Figura 12).
Engenharia no Século XXI – Volume 18
73
Figura 39. Plantil de bananeira em terrenos acentuados, no bairro Recanto das Árvores.
Construção de residências próximas à áreas de preservação permanente (APP) e/ou adjacentes a nascentes e rios: A Figura 13 retrata a disposição das ocupações e construções das casas, onde não leva-se em conta nenhum aspecto do território. O Código Florestal Brasileiro preve distância mínima de 30m para construção próximo à áreas florestais, de 30m para regiões de curso d’água e 50m de áreas de nascentes e surgências. Estes valores são variáveis de acordo com o tamanho e espessura dos mesmos.
Figura 40. Proprietário canalizou a nascente e criou uma piscina natural em sua residência, na vila Águia
Dourada.
Há ainda problemas relacionados a gestão governamental e o principal deles é a falta de saneamento básico. Por não possuírem um sistema de esgotamento sanitário eficaz, a população descarta-o de forma irregular, muitas vezes em córregos (Figura 14), rios ou diretamente nas vias urbanas.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
74
Figura 41. Encanamento clandestino despejando esgoto diretamente no córrego, no bairro Los Angeles.
O sistema de drenagem e escoamento superficial é visivelmente precário. Geralmente, nestas regiões, as vias não possuem sarjetas, bocas de lobo, dentre outros dispositivos de drenagem, o que, juntamente com a impermeabilização provinda da cobertura asfáltica, tornam as áreas mais à jusante passíveis de alagamentos e enchentes.
As poucas bocas de lobo encontradas nestas regiões, estão parcialmente ou totalmente obstruídas ou danificadas (Figura 15). As áreas de preservação permanente, ocupadas ao longo de cursos d’água, também estão sujeitas a episódios de inundação e alagamento em períodos chuvosos, o que implica, em alguns casos, no estudo para remoção das famílias e para a recuperação ambiental.
Há, notoriamente, falta de locais para despejo e para coleta de residuos, o que contribuí, frequentemente, para a criação de bota-foras irregulares.
Figura 42. Sistema de escoamento superficial precário, no bairro Jardim das Flores.
4 MEDIDAS MITIGADORAS RECOMENDADAS
4.1 POPULAÇÃO
A própria população local possui função fundamental para reparar os danos e auxiliar na prevenção e contenção de novos problemas. As medidas sugeridas para que a população adote, foram:
Suspensão do lançamento direto do esgoto domiciliar nos córregos/rios e ruas e na face dos taludes: O lançamento de esgoto nos declives aceleram o processo de erosão dos mesmos e causam sua instabilidade, tornando a área um risco em potencial.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
75
Retirada de todas as bananeiras, inclusive as raízes, das áreas de risco: Locais que possuem evidências de erosão recente e plantil de bananeiras nas proximidades, devem ser retiradas, incluindo as raízes, pois as mesmas retêm muita água e agravam ainda mais os processos erosivos. Não escavar o material do pé dos taludes nem remover a massa de material escorregada: É muito comum que os superficiários queiram ganhar mais espaço em suas residências e assim escavam os taludes adjacentes e, geralmente, iniciam o processo pela base do talude. Outro fato muito usual é que ao romper parcialmente o talude, o material projetado no pé torna-se muito incomodo para os moradores que tendem a retirá-lo, suspostamente, “limpando o terreno”. Ambas as práticas não são ideais pois geram condições de instabilidade para a encosta. Não verticalizar os taludes: A verticalização dos taludes, ou seja, tornar o mergulho da face do talude igual ou próximo à 90°, confere uma geometria muito pouco estável, gerando assim, diversas feições erosivas nos mesmos, facilitando os processos de erosão e movimento de massa. O ideal é que os taludes apresentem sua geometria natural, sem a necessidade de escavação. Descartar os materiais de construção cívil e lixo domiciliar em locais apropiados: Medida para evitar a formação e agravamentos dos bota-foras irregulares. O desenvolvimento de bota-foras irregulares é de grande risco ambiental e para a saúde de toda a comunidade local. Cuidado com o terreno do vizinho: Evitar atitudes que possam por em risco os vizinhos, como as verticalizações de taludes, vide Figura 6, e atentar-se para atos que seus vizinhos tomam que possam acarretar problemas, orientando-os sempre que possível. Em regiões com trincas de tração e/ou com taludes que apresentam alta erodibilidade, recomenda-se a cobertura imediata com lonas, para evitar a saturação do material e auxiliar na estabilidade do mesmo.
4.2 AÇÕES DO PODER PÚBLICO
Dentre as diversificadas formas de atuação do poder municipal, estruturais e não estruturais, destaca-se:
A instalação de unidades de recolhimento de resíduos nas regiões vizinhas para recolher materiais recicláveis, não-recicláveis e resíduos da construção civil, servindo como alternativa aos bota-foras irregulares. Campanha de concientização da população sobre os riscos e malefícios de ações inadequadas, como a verticalização de taludes, despejo clandestino de esgoto e formação de bota-foras irregulares, todas previamentes comentadas no tópico 3.2. Melhorias e adequações no sistema de drenagem e escoamento superficial de água pluviométrica, a partir da implantação de calhas nas margens das ruas e de novos bueiros, assim como a desobstrução e manutenção constante dos poucos já existentes. Instalação adequada de rede de esgotamento sanitário e de dispositivos para tratamento e disposição de esgotos. A remoção dos materiais descartados incorretamente nos bota-foras irregulares, bem como a recuperação dessas áreas afetadas pelos despejos. Revitalização dos córregos e a realização de obras de proteção às margens que, geralmente, possuem declividade bastante acentuada. Estudo e obras de contenção para as áreas que apresentam evidências recentes de movimentação do terreno e/ou erosão de grande porte. É fundamental, atentar-se às práticas simples e não tão onerosas como o plantio de vegetações nos taludes e encostas, com vegetação e gramíneas típicas da região ou a adoção de espécies comprovadamente eficientes, a exemplo do capim Vetiver. E, sempre que houver a modificação da geometria dos taludes, realizar cobertura vegetal com hidrossemeadura, a fim de evitar a exposição do material aos intempéries.
Em regiões passíveis de movimentação, porém sem o estudo ou as evidências claras de ruptura, recomenda-se a instalação de um sistema de monitoramento. Caso esta medida venha a apresentar indícios de movimentação, cumprir as medidas cabíveis para conteção. Treinar e instruir líderes comunitários a efetuarem observações rotineiras em sua comunidade, alertando os superficiários quanto aos problemas identificados e, em casos mais graves, comunicar a defesa civil e/ou as autoridades competentes. Em situações particulares e pontuais, nas quais forem constatadas a irreversibilidade do risco, bem como em áreas nas quais forem identificados impedimentos legais para a ocupação, visando em ambas as situações a promoção da segurança das familias, cabem estudos e propostas de reassentamento.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
76
4.3. CARTILHA
Como constatado que as instabilizações geotécnicas destas regiões são agravadas e/ou ocasionadas pela falta de informação por parte da comunidade, propõe-se uma cartilha informativa para auxiliar e alertar quanto a estes problemas, ajudando assim, a evitar e remediar futuras instabilizações e a promover a segurança das áreas e famílias que ali residem.
Tal cartilha foi elaborada com a linguagem mais simples possivel, visto que, em geral, o público-alvo não é familiarizado com o vocabulário técnico.
Para o melhor entedimento do leitor, dividiu-a em três seções. A primeira seção aborda o conceito de risco geológico-geotécnico, sua relação com a exposição das pessoas e seus bens aos eventos destrutivos.
Posteriormente, na segunda seção, a temática são as práticas inadequadas e corriqueiras que os próprios moradores realizam em seus terrenos e que potencializam as instabilizações ou os aproxima destas, tais como:
Construção de moradias próximas aos cursos d‘água/rios e nascentes. Presença de água (ou esgoto), através de lançamento ou vazamento, em cursos d’água e também nas ruas e nos taludes. A presença de bananeiras em terrenos íngremes e com sinais constante de queda de material. Bueiros e calhas obstruídos aumentam as chances de enchentes nas regiões mais baixas. A disposição de lixo e entulho em locais inadequados podem provocar contaminações no solo ou na água, além de estar relacionado com doenças, roedores e animais venenosos. Escavações incorretas podem provocar a instabilização da encosta e potencializar riscos também para as casas vizinhas.
Por fim, a terceira seção, apresenta algumas ações de conscientização que podem minimizar a chance de ocorrência de diversos eventos perigosos, por exemplo:
Não jogue esgoto ou água (servida ou limpa) nos córregos, ruas, e principalmente nas encostas; Evite e repare vazamentos de esgoto ou água com a maior urgência possível. Não cultive bananeiras em terrenos muito íngremes e com sinais frequentes de erosões. Caso necessário, remova as bananeiras, inclusive as raízes, do seu terreno. Ao escavar uma encosta, nunca comece pelo pé. Procure sempre orientação profissional para realização deste procedimento. Em caso de uma erosão, o material caído serve como uma barreira para impedir que a encosta continue a cair, desta forma, não é aconselhável retirar esse material até a recomendação da defesa civil ou de profissional especialista. A verticalização das encostas do terreno exige a construção de uma contenção como, por exemplo, um muro de arrimo. A delonga em se realizar a obra pode instabilizar o maciço de solo e provocar sua ruptura. Não descarte entulhos e lixo em locais inadequados como lotes vagos e matas. Nas épocas de chuva procure proteger as erosões e trincas presentes nos terrenos com lonas para evitar a erosão e a percolação de água. O tombamento de cercas, muros ou árvores e a presença de trincas no solo, pois são sinais de movimentação.
5 CONCLUSÃO
Com base em todas as condições retratadas, fica evidente que parte da população brasileira reside, atualmente, em áreas inadequadas, fato atribuído à ilegalidade ou ao risco constante decorrentes dessas ocupações irregulares.
Após o estudo elaborado nas 17 zonas de ocupações irregulares, na região metropolitana de Belo Horizonte-MG, constatou-se que, na generalidade, as instabilizaões geotécnicas da região são oriundas das ações e ocupações dos próprios superficiários. Dentre os principais agravamentos, evidencia-se a verticalização de taludes, a criação de bota-foras irregulares e o plantio de bananeiras em encostas/barrancos.
É importante ressaltar que, a região possui problemas de causas naturais como a baixa resistência do solo, alto desnível topográfico e a alta suscetibilidade natural do solo à erosão, somados aos aspectos de infraestrutura que podem agravar o grau dos riscos geológicos-geotécnicos.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
77
De forma prática e simplória, foram então sugeridas algumas medidas mitigadoras que podem ser executadas por parte da população e por atuação dos governantes locais. É fundamental que o principal produto deste artigo, a cartilha informativa, ferramenta que atuará diretamente na disseminação da temática para auxiliar os moradores da região em relação ao uso e ocupação do solo, seja ampla e eficientemente divulgada e praticada.
Compreender essa problemática e atuar nas tomadas de medidas emergênciais e preventivas por parte dos responsáveis pela gestão do espaço público é de fundamental relevância para solucionar estes casos.
AGRADECIMENTOS
A prefeitura de Ibirité e a Geoline Engenharia, por possibilitarem esta expêriencia e a viabilização deste trabalho.
REFERÊNCIAS
[1] Baltazar O.F., Baars F.J., Lobato L.M., Reis L.B., Achtschin A.B., Berni G.V., Silveira V.D. 2005. Mapa Geológico Brumadinho, na Escala 1: 50.000 com Nota Explicativa. In: Projeto Geologia do Quadrilátero Ferrífero - Integração e Correção Cartográfica em SIG com Nota Explicativa. CODEMIG. Belo Horizonte, 68p.
[2] Campos L.C. 2011. Proposta de reanálise do risco geológico-geotécnico de escorregamentos em Belo Horizonte. MS Dissertation, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 198p.
[3] CPRM/CODEMIG. 2013. Mapa Geológico do Estado Minas Gerais, Escala 1:1.000.000, SIG, Belo Horizonte.
[4] Silva A.B., Carvalho E.T., Fantinel L.M., Romano A.W., Viana C.S. 1995. Estudos geológicos, hidrogeológicos, geotécnicos e geoambientais integrados no município de Belo Horizonte – Belo Horizonte: Convênio PBH-IGC-FUNDEP, 375p.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
78
Capítulo 7
Sensor de Deformação baseado em FBG com compensação de temperatura
Martim Bandt Neto
Valmir de Oliveira
Resumo: Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sensor de deformação
longitudinal baseado nas redes de Bragg em fibra ótica monomodo padrão de
telecomunicações – G 652. Utiliza encapsulamento em corpo de alumínio e apresenta
compensação de temperatura na mesma cápsula. O projeto e simulação estrutural foi
concebido pelo software de modelagem tridimensional Catia™. Foram realizados testes
de tração longitudinal até 78,5 N, com passos de 9,8 N, sistema de leitura com o
interrogador SM125 da Micron Optics. Os resultados apresentam razoável sensibilidade
e linearidade em função do carregamento/descarregamento aplicado.
Keywords: Sensor de deformação; Encapsulamento em Alumínio; FBG.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
79
1. INTRODUÇÃO
Hill em 1978, demonstrou ser possível alterar o índice de refração do núcleo de uma fíbra ótica fotossensível lançando laser diretamente ao núcleo da fibra, estabelecendo alterações pontuais naquele núcleo, então chamadas de “Grades de Hill”. O que inicialmente foi tratado apenas como uma curiosidade científica, tornou-se um grande passo no desenvolvimento de sensores em fibras óticas. Desde então, surgiram diversas técnicas e métodos, facilitando o processo de gravação das grades ou redes no núcleo das fibras óticas [1]. Cerca de 10 anos após Hill, Meltz mostrou ser possível alterar o índice de refração do núcleo externamente, sendo possível criar um padrão de grades de interferência periódicas, então chamadas de Grades ou Redes de Bragg [2]. Quando as alterações de índice de refração criadas no núcleo da fibra são periódicas, uma pequena faixa do espectro da luz incidente nessa fibra é refletida. A maior intensidade de reflexão é obtida, quando há espalhamentos sucessivos e coerentes devido a variação do índice de refração, formando um modo de acoplamento contra propagante cujo o comprimento de onda central é denominado comprimento de onda de Bragg λB, dado por (1).
λB = 2neffΛ (1)
sendo neff o índice de refração efetivo do núcleo da fibra ótica e Λ, a periodicidade da rede gerada.
O comprimento de onda de Bragg não é fixo, as redes funcionam como um sensor intrínseco de deformação e temperatura, em que qualquer variação em temperatura ou deformação (strain), faz com que haja a variação do comprimento de onda de Bragg [1]. Dessa forma a Rede de Bragg em Fibra (Fiber Bragg Grating - FBG) pode ser utilizada como sensor de temperatura ou deformação entre outras aplicações. A equação apresentada por [3], define a variação do comprimento de onda da FBG em função da variação de temperatura (T) e deformação (L) aplicada à rede sensora, segundo [4] pode ser escrita como em (2).
(2)
onde o primeiro termo apresenta a dependência da variação do comprimento de onda em função da deformação da rede sensora, já o segundo termo apresenta a dependência em função da variação de temperatura, o que é chamado de sensibilidade cruzada [5].
Para um sensor de deformação ou strain obter puramente a variação do λB em função da deformação, torna-se necessária a aplicação de uma técnica de compensação de temperatura ou mantê-la constante, o que nem sempre é possível durante a aplicação do sensor em aplicações reais [6 – 7].
Uma das principais técnicas de compensação de temperatura, se dá pela utilização de duas FBGs, em um mesmo segmento de fibra ótica, com comprimentos de onda próximos. Uma das FBGs é montada de forma a medir a deformação do encapsulamento, a qual estará sujeita a variação térmica, já a segunda FBG é montada na mesma cápsula, porém de forma que esteja sujeita somente a variação de temperatura. Devido a fragilidade da fibra ótica nua, torna-se necessário desenvolver um encapsulamento específico que atenda às necessidades de projeto, sensibilidade e robustez [6 – 11].
Os sensores de deformação óticos com base em FBG, apresentam diversas vantagens ao invés dos sensores convencionais [12].
Imunidade às interferências eletromagnéticas;
Mais estável e mais resistente, comparado ao metálico compatível.
Passível de ser incorporado em materiais compósitos sem modificações na estrutura do referido compósito;
Engenharia no Século XXI – Volume 18
80
Possibilidade de multiplexação de diversos sensores em uma mesma fibra ótica.
Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma técnica de encapsulamento de sensor ótico de deformação em FBG, utilizando duas FBGs de comprimento de onda próximos, multiplexados em uma mesma fibra ótica. Uma FBG monitora a deformação e a temperatura e a outra está monitorando a temperatura. Com tal procedimento é separada a leitura da deformação, parâmetro de interesse nesse trabalho.
2. DESENVOLVIMENTO
A.Seleção de Materiais
Para desenvolvimento do corpo do sensor, foi optado pela utilização de chapa em alumínio. As características importantes do alumínio para aplicações como sensor de deformação são: elevada ductilidade; baixo módulo de elasticidade ou módulo de Young; baixa densidade comparada a outros metais (cerca de 3 vezes mais leve que o aço); elevada resistência a corrosão; possibilidade de tratamento térmico. Uma das desvantagens do alumínio comparado a outros metais é a baixa resistência a tração, o que pode ser compensado por meio de ligas [13].
Neste projeto foi utilizado a liga de alumínio 1200 H14, dessa forma, há um aumento considerável na resistência a tração do alumínio. Após testes de diversas colas, foi definida a utilização da resina epóxi bi componente UHU Plus endfest 300 como a cola de fixação da fibra ótica no corpo metálico. Segundo dado de fabricante, esta cola apresenta alta poder de adesão com a fibra ótica (Sílica) e com o alumínio, além de apresentar uma alta resistência a tração.
B.Produção das Redes de Bragg
As fibras óticas monomodo padrão de telecomunicações (G-652), apresentam excelente fator de sensibilidade a deformação [14]. Foi utilizado um cordão ótico com 3 m de comprimento com conector FC-PC. As FBGs foram gravadas localmente pelo Grupo de Pesquisa, utilizando o método de gravação direta por máscara de fase (Ibsen®, pitchs 1058,9 nm e 1073,5 nm), resultando nos comprimentos de onda de Bragg, FBG1 em λB1 =1532,43 nm para a rede sensora de compensação de temperatura e FBG2 em λB2 = 1553,05 nm para a rede sensora de deformação. A gravação foi realizada utilizando laser de excímero – Coherent Xantos XS, 193 nm, operando na taxa de repetição de 250 Hz, energia de 3 mJ/pulso, tempo de exposição de 3 minutos. As Redes de Bragg apresentam 3 mm de comprimento [15].
C.Projeto e Simulação Estrutural do Encapsulamento
O desenvolvimento mecânico e simulação de deformação do encapsulamento foi realizado por meio do software de modelagem tridimensional, Catia™. No desenvolvimento do projeto, buscou-se um formato que seria de fácil fixação no local a ser instrumentado, resistência a impactos e maior sensibilidade possível. Outro ponto considerado em projeto, foram as limitações mecânicas do sistema de usinagem do corpo metálico, além da necessidade de proteção mecânica da rede sensora. O encapsulamento foi desenvolvido, simulado e confeccionado em Alumínio 1200 H14, considerando a utilização de uma chapa de 2,00 mm de espessura. Na região da fibra ótica onde está posicionada a FBG sensora de deformação, foi implementado uma proteção mecânica utilizando um tubo capilar em Aço Inoxidável com diâmetro interno de 0,45 mm e diâmetro externo de 1,7 mm, o qual foi fixado ao corpo de alumínio por meio de um silicone de alta flexibilidade. A Fig. 1.a, apresenta o formato final do corpo de alumínio e os componentes de montagem, desenvolvidos por meio do software já especificado. A fixação da fibra ótica se dá nos dois pontos de ancoragem com a resina epóxi, próximos aos pontos de fixação do sensor. A FBG2, sensora de deformação, está localizada entre os pontos de ancoragem e a FBG1, de compensação de temperatura, está fixada fora da região de deformação do sensor por meio da cola de alta flexibilidade utilizada na fixação do tubo capilar. A Fig. 1.b apresenta o sensor em corte, pode-se observar a posição das duas FBGs e a parte da capa protetora da fibra ótica que foi retornada para proteção da FBG de compensação de temperatura.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
81
O sensor foi idealizado a fim de trabalhar na região elástica do alumínio, onde a lei de Hooke é obedecida, σ = E.ε, sendo σ a tensão aplicada ao material, E o módulo de Young e ε a deformação. Considerando que a tensão aplicada ao material (σ), está relacionada à força aplica e à área pela equação σ =F/A, a deformação está relacionada à força, à área e à constante elástica, podendo ser escrita como a Equação (3).
(3)
onde a deformação obtida no sensor está diretamente relacionada a área do sensor. A Fig. 2.a, representa a distribuição da deformação ao longo do corpo de encapsulamento em função da área da seção transversal, considerando os pontos de fixação da FBG de deformação e os pontos de aplicação da força. Observa-se que a maior deformação está localizada entre os pontos de fixação desta FBG onde o corpo do sensor é mais delgado, concentrando assim a deformação na região de medição da FBG de deformação.
Fig 1 Desenho do sensor desenvolvido em Catia™. (a) disposição dos componentes de projeto e montagem.
(b) posição da FBG1 de compensação de temperatura, posição da FBG2 sensora de deformação.
Fig. 1.
Fig 2 (a) Representação da deformação obtida no corpo do sensor em função da área transversal. (b) Simulação de deformação realizada pelo software, utilizando o método de análise por elementos finitos.
A fim de definir a máxima força aplicada ao corpo do sensor e trabalhar dentro da faixa de deformação elástica, foi realizada a simulação pelo software de desenvolvimento, utilizando as especificações de material fornecidas pelo fabricante da liga utilizada, neste caso o alumínio 1200 H14.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
82
A Fig. 2.b, apresenta a simulação de deformação do corpo de alumínio do sensor realizada pelo software Catia™, com uma carga de 8 kg. Foram utilizados os pontos de fixação do sensor para fixação e aplicação de cargas, a fim de monitorar a tensão sobre cada ponto do sensor.
Pela simulação a máxima carga aplicada ao corpo do sensor deve ser de 82,3 N ou aproximadamente 8,4 kg para o material deformar dentro da região de deformação elástica, dessa forma foi admitido com limite a carga de 8 kg ou 78,45 N.
D. Fabricação mecânica
A fabricação do encapsulamento partiu da usinagem do corpo de alumínio, de forma a reproduzir as medidas de projeto. Este processo foi realizado por meio de um centro de usinagem. A Fig. 3.a apresenta o corpo em alumínio do sensor após a usinagem, apresentando as seguintes dimensões 90 x 25 x 2 mm. Já na Fig. 3.b, é apresentado o encapsulamento do sensor finalizado, com as colagens dos pontos de fixação, colagem do tubo de proteção. A montagem do encapsulamento seguiu os passos demonstrados na Fig. 4, sendo:
Aplicação da cola de alta flexibilidade na região de fixação do tubo capilar, Fig. 4.a.
Preparação do tubo capilar com microfilme nas pontas e um fio metálico na região de montagem da fibra ótica, Fig. 4.b.
Posicionamento e colagem do tubo capilar ao corpo do sensor, Fig. 4.c.
Posicionamento de parte de capa da fibra ótica sobre a FBG1 de compensação de temperatura Fig. 4.d.
Retirada do fio metálico e posicionamento da fibra ótica na posição de colagem Fig. 4.e.
Fig 3. (a) Cápsula em alumínio do sensor após usinagem. (b) Encapsulamento do sensor finalizado após o processo de montagem.
Colagem do primeiro ponto de fixação da fibra ótica ao corpo do sensor Fig. 4.f.
Colagem da saída da fibra ótica ao corpo do sensor por meio da cola de alta flexibilidade, como demonstrado na Fig. 4.g. Neste momento a fibra ótica foi mantida sob uma tensão inicial de cerca de 0,2 N.
Colagem do segundo ponto de fixação da fibra ótica ao corpo do sensor, Fig. 4.h.
3. TESTES E METODOLOGIA
Os testes foram divididos em duas principais etapas, na primeira etapa foi realizada a caracterização das FBGs sensoras na fibra ótica nua, já na segunda etapa foi realizada a caracterização do encapsulamento do sensor.
As caracterizações foram realizadas utilizando o interrogador SM125 da Micron Optics, resolução 5 pm e banda de operação 1510 até 1570 nm registrando os dados pelo software do interrogador a cada 1 segundo.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
83
A. Caracterização das FBGs em fibra ótica nua
Nas FBGs em fibra ótica nua foram caracterizadas suas sensibilidades à deformação, para tal, foram realizados dois procedimentos distintos, sendo: Medida da variação do comprimento de onda em função da tração, por carregamento de massas padrão, e medida da variação do comprimento de onda em função da tração por estiramento controlado.
Para a execução da caracterização de deformação em função do deslocamento controlado, foi utilizado o dispositivo, onde a fibra ótica está fixada em duas bases de ancoragem com a FBG posicionada entre elas. Uma das bases é fixa e a outra é deslocada por um controlador e a medição de deslocamento é realizada por meio de um micrômetro. Foram executados ciclos de tração e relaxação entre 0 e aproximadamente 600 µε (µε corresponde a deformação relativa de 1 µm/m).
A caracterização da deformação por carregamentos de massas padrão, foi executada fixando a fibra ótica a um dispositivo estático e carregando as massas calibradas na ponta fibra ótica de forma que a FBG deforme em função da força gravitacional. Foram executados carregamentos entre 0 e 1 N, com passos de 0,1 N.
Fig 4. Passo a passo para a montagem do encapsulamento do sensor. (a) aplicação da cola super flexivel na região do tubo capilar. (b) preparação do tubo capilar com micro filme nas pontas e o fio metálico. (c) colagem do tubo capilar ao corpo de alumínio. (d) reposição de parte da capa de proteção da fibra ótica sobre a FBG de compensação de temperatura. (e) posicionamento da fibra ótica no corpo de alumínio. (f) colagem do primeiro ponto de fixação da fibra ótica. (g) colagem da saída da fibra ótica ao corpo do sensor por meio da cola de alta flexibilidade. (h) colagem do segundo ponto de fixação da fibra ótica no corpo do sensor.
B. Caracterização do encapsulamento sensor
O sensor após encapsulado, foi caracterizado em temperatura e deformação.
Para a realização da caracterização por temperatura, foram realizados testes utilizando o banho térmico Lauda RE212 e monitorando o comprimento de onda das FBGs por meio do interrogador. O encapsulamento sensor permaneceu mergulhado na água para realizar a troca térmica. Os testes foram executados entre 5 e 50 °C, com passos de 5 °C a fim de definir o coeficiente de sensibilidade à temperatura da FBG1 de compensação de temperatura e da FBG2 sensora de deformação.
Para a realização da caracterização de deformação, o sensor encapsulado foi submetido a testes de tração uniaxial com a utilização de massas padrão contra a força da gravidade. Nos testes foram realizados diversos ciclos de carregamento e descarregamento entre 0 e 8 kg, com passos de 1 kg. Juntamente com a variação do comprimento de onda em função do carregamento pelas massas, foram realizadas as medições da deformação exercida sobre o sensor utilizando um relógio apalpador micrométrico da marca Mitotoyo, medindo a deformação em µm em cada patamar de carga. A Fig. 5.a, apresenta uma representação do teste de deformação executado utilizando as massas padrão, já na Fig. 5.b, é apresentada a realização do teste, utilizando as massas padrão e o relógio apalpador micrométrico.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
84
Fig 5 (a) Representação do teste de deformação por carregamento com massas padrão. (b) Medição de deformação do sensor encapsulado por meio da utilização do relógio micrométrico utilizando as massas
padrão.
4. RESULTADOS
A. Resultados das FBGs em fibra ótica nua
A caracterização de sensibilidade em deformação das FBGs em fibra ótica nua, apresentaram uma resposta de 1,35 nm/N no teste de carregamento com massas padrão e 1,13 pm/µε na deformação por deslocamento controlado.
B. Resultados do sensor encapsulado
Na caracterização por temperatura entre 5 e 50 °C, foram obtidos os λFBG1 e λFBG2 em cada patamar de temperatura, utilizando a análise matemática de ajuste linear do software Origin versão 8, foram obtidas as curvas de resposta à variação de temperatura de cada rede sensora. Para a FBG1, foi obtido 16,27 pm/°C com erro de 0,49 pm, já para a FBG2, foi obtido 27,14 pm/°C e erro de 1,1 pm. A maior sensibilidade térmica apresentada pela FBG2 é devida a variação dimensional do encapsulamento frente às variações de temperatura. Utilizando as curvas de temperatura é possível realizar a compensação de temperatura da FBG2 sensora de deformação, pela FBG1 de compensação de temperatura por meio da equação (4).
(4)
Os resultados obtidos nas medições de deformação foram tratados e convertidos os valores das massas padrão para força de carregamento, utilizando 9,806 m/s2 como coeficiente da aceleração gravitacional, desta forma os valores são expressos em N. O gráfico representado na Fig. 6, apresenta os valores obtidos da variação do comprimento de onda em função da carga aplicada e a variação do comprimento de onda em função da deformação em cada patamar de carregamento, também são apresentas as retas obtidas por meio da utilização da ferramenta de ajuste linear do software Origin. No gráfico, também são representadas as barras de erro obtidas em cada passo de carregamento, neste cálculo são consideradas as incertezas em relação aos equipamentos de medição, incertezas referentes as massas padrão, além das incertezas obtidas na repetibilidade e na precisão intermediária. O ajuste linear realizado pelo software Origin, definiu a sensibilidade do encapsulamento sensor em função do carregamento pelas massas padrão como 7,96 pm/N, com uma incerteza de ± 1,02 pm/N e uma sensibilidade de deformação de 1,71 pm/µε ± 6,41 pm/µε.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
85
Fig 6 Gráfico de resposta da variação de onda obtida no sensor em função do carregamento pelas massas padrão e deformação do encapsulamento obtidos em cada patamar.
Foram realizados testes de carga e descarga com a máxima carga do sensor a fim de definir os tempos de resposta do sensor, sendo o tempo de resposta durante o carregamento de 2 segundos e no descarregamento 3 segundos. Desta forma é possível determinar a máxima frequência de resposta do sensor como 0,2 Hz. A resolução do sensor pode ser determinada pela resolução do interrogador divido pela sensibilidade do sensor, desta forma, considerando a incerteza da posição espectral da FBG no interrogador como 0,5 pm e a sensibilidade obtida pelo sensor em função de carga aplicada 7,96 pm/N, a resolução do sensor em função de carga aplicada é dada como 0,063 N. Já em função da deformação a sensibilidade do sensor é de 1,71 pm/µε, desta forma, a resolução do sensor em função da deformação é de 0,29 µε. A linearidade do encapsulamento sensor foi obtida considerando o maior desvio experimental em relação as retas de calibração, sendo expressa em percentual do fundo de escala.
5. DISCUSSÃO
Desde o surgimento dos sensores de deformação ou strain em FBG, diversas técnicas de compensação de temperatura e encapsulamento foram desenvolvidas. Este trabalho apresenta uma abordagem, de forma que, se pode medir uma força aplicada diretamente ao sensor ou a deformação aplicada ao mesmo. O corpo do sensor em alumínio faz com que seja de fácil fixação e extremamente leve e a proteção mecânica da fibra ótica por meio do tubo capilar traz uma maior robustez. Por meio da utilização da FBG de compensação de temperatura, faz com que seja possível o sensor trabalhar em ambientes com variação de temperaturas. A Tabela 1, apresenta os valores de especificação do sensor em função de carga aplicada ou deformação.
TABELA 13 ESPECIFICAÇÕES DO SENSOR
Engenharia no Século XXI – Volume 18
86
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem à FINEP, à CAPES, ao CNPQ e à UTFPR, pelo apoio.
REFERÊNCIAS
[1] K. O. Hill, and G. Meltz, “Fiber Bragg grating technology fundamentals and overview,” Jornal of Lightwave Technology, vol. 15, pp. 1263-1276, August 1997.
[2] G. Meltz, W.W. Moorey, and W.H. Glenn, “Formation of Bragg gratings in optical fibres by a transverse holographic method,” Optics Letters, vol. 14, pp. 823–825, August 1989.
[3] D. Kersey, and Et Al, “Fiber grating sensors,” Jornal of Lightwave Technology, vol. 15, pp. 1442–1463, August 1997.
[4] U. Dreyer, K. M. Sousa, J. Somenzi, I. L. Junior, J. C. C. Silva, V. Oliveira, and H. J. Kalinowski, “A technique to package Fiber Bragg Grating Sensors for Strain and Temperature Measurements,” Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications, Vol. 12, pp. 638–646 December 2013.
[5] P. Moyo, J.M.W. Brownjohn, R. Suresh, and S.C. Tjin, “Development of fiber Bragg grating sensors for monitoring civil infrastructure”, Engineering Structures, vol. 27, pp. 1828–1834, July 2005.
[6] M. Majumder, T. K. Gangopadhyay, A. K. Chakraborty, K. Dasgupta, and D. K. Bhattachary, “Fibre Bragg gratings in structural health monitoring—Present status and applications,” Sensors and Actuators A, vol. 147, pp. 150–164, April 2008.
[7] F. Meng, L. Jia, X. Shen, and J. Dong, “Structure Design of Fiber Bragg Grating Strain Sensor with Built-in Temperature Compensation Grating.” International Industrial Informatics and Computer Engineering Conference, IIICEC, 2015.
[8] Z. Zhou, T.W. Graver, L. Hsu, and J. P. Ou, “Techniques of advanced FBG sensors: fabrication, demodulation, encapsulation and their applications in the structural health monitoring of bridges,” Pacific Science Review, vol. 5, pp. 116–121, 2003.
[9] P. Biswas, and Et Al, “Investigation on packages of fiber Bragg grating for use as embeddable strain sensor in concrete structure,” Sensors and Actuators A, vol. 157, pp. 77–83, November 2009.
[10] Y. Tu, and S. T. Tu, “Fabrication and characterization of a metal-packaged regenerated fiber Bragg grating strain sensor for structural integrity monitoring of high-temperature components,” Smart Materials and Structures, vol. 23, 035001, January 2014.
[11] V. P. Wnuk, A. Méndez, S. Ferguson, and T. Graver, “Process for Mounting and Packaging of Fiber Bragg Grating Strain Sensors for use in Harsh Environment Applications,” Smart Structures and Materials, SPIE paper 5758-6, May 2005.
[12] D. C. Betz, G. Thursby, B. Culshaw, and W. J. Staszewski, “Advanced Layout of a Fiber Bragg Grating Strain Gauge Rosette,” Jornal of Lightwave Technology, vol. 24, February 2006.
[13] J.E. Hatch, “Aluminum: Properties and Physical Metallurgy,” ASM, Metals Park, USA, 1990.
[14] F. Julich, L. Aulbach, A. Wilfert, P. Kratzer, R. Kuttler, and J. Roths, “Gauge factors of fibre Bragg grating strain sensors in different types of optical fibres,” Measurement Science and Technology, vol. 24, July 2013.
[15] Othonos, and K. Kalli, “Fiber Bragg Gratings: Fundamentals and Applications in Telecommunications and Sensing,” Artech House, 1999.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
87
Capítulo 8
Solução do Problema de Despacho Econômico não suave, não convexo e descontínuo utilizando a otimização por enxame de partículas
Amanda Nerger
Leonardo Nepomuceno
Resumo: Este artigo apresenta um método evolutivo como solução para diversos tipos
de problemas práticos de despacho econômico. Os problemas práticos de despacho
econômico têm funções de custo não suaves, não convexas e descontínuas com
restrições de igualdade e desigualdade que dificultam encontrar uma solução ótima
global. O método utilizado para resolver esses problemas foi o método de otimização por
enxame de partículas com fator de constrição, que apresenta soluções ótimas ou quase
ótimas para os sistemas apresentados.
Palavras chaves: Enxame de Partículas, Despacho Econômico, Otimização, PSO.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
88
1. INTRODUÇÃO
O problema de despacho econômico (PDE) tem como objetivo o cálculo do despacho de geração ótima das unidades geradoras do sistema elétrico, de modo que o custo de geração de energia elétrica seja minimizado, satisfazendo as restrições operacionais do sistema. Um PDE geralmente tem restrições de igualdade (atendimento da potência demandada) e desigualdade (limites de geração de cada unidade geradora) (Sinha, 2003). Outras restrições como os limites de fluxo de potência no sistema de transmissão, bem como as perdas, não são consideradas neste estudo.
O método de otimização por enxame de partículas (do inglês, Particle Swarm Optimization (PSO)) é uma técnica de computação inspirada no comportamento social de indivíduos em grupos da natureza. Este método possui um conceito simples, porém é capaz de solucionar problemas não convexos e não diferenciáveis (Eberhart e Kennedy, 1995).
Este trabalho tem como objetivo a aplicação do método PSO para a resolução de três modelos de despacho econômico nos quais o processo de geração das unidades termelétricas é descrito respectivamente por: cogeração de ciclo combinado, múltiplos combustíveis e representação do ponto de carregamento de válvula. Estas formas de modelagem da geração de usinas termelétricas fazem com que os problemas se tornem não suaves, não convexos e descontínuos, dificultando a sua solução por meio de métodos de otimização convencionais.
Este trabalho está estruturado da seguinte forma. Na Seção 2, descreve-se o método de otimização por enxame de partículas. Na Seção 3 são descritos os modelos de despacho econômico investigados neste trabalho. Na Seção 4 são descritos os testes numéricos e discutidos os resultados. Na Seção 5 são apresentadas as principais conclusões.
2. OTIMIZAÇÃO POR ENXAME DE PARTÍCULAS
A otimização por enxame de partículas foi desenvolvida em 1995, inspirada no comportamento de bando de aves e cardumes de peixes. Através desses estudos sociais, os autores desenvolveram um algoritmo simples onde as partículas no enxame “voam” através de um ambiente (hiperespaço) seguindo membros mais aptos, geralmente convergindo seu movimento em direção a regiões historicamente ótimas (Eberhart e Kennedy, 1995). Basicamente, as partículas do enxame costumam seguir a direção de um líder, apesar de cada uma ter a sua própria trajetória.
Diversas modificações foram feitas na versão original do método PSO por diversos autores ao longo do tempo. Isto ocorreu pois a versão original apresentava problemas de convergência e instabilidades numéricas (Gonzalo e Fernández-Martínez, 2012).
O método PSO utilizado neste artigo foi o método com fator de constrição, proposto por Clerc (1999), em seu estudo sobre estabilidade e convergência. Este método é utilizado neste trabalho, sendo descrito na seção a seguir.
2.1. OTIMIZAÇÃO POR ENXAME DE PARTÍCULAS COM FATOR DE CONSTRIÇÃO
O método de otimização por enxame de partículas basicamente busca um ponto de ótimo local, evoluindo as partículas do enxame através de uma atualização de “velocidade”, ou seja, através de um passo da variavél de decisão a cada iteração (Eberhart e Kennedy, 1995). O fator de constrição é inserido na atualização deste passo.
Primeiramente, iniciam-se as posições e as velocidades de todas as partículas, de forma aleatória. Nos PDE aqui investigados, as posições são geradas aleatoriamente dentro dos limites de geração de cada unidade geradora, e as velocidades são geradas, também de forma aleatória, dentro de uma distribuição uniforme no conjunto real [0,1].
Após as posições e velocidades serem iniciadas, todas as partículas são avaliadas através de uma função avaliação. Neste trabalho, a função avaliação é representada pela própria função objetivo do PDE, acrescentada a uma função de penalização quadrática, conforme será discutido na Seção 3. Após o cálculo
da função de avaliação, são registrados os seguintes valores: i) o valor kg , que representa o menor valor
da variável de decisão de todo o enxame na iteração k e ii) o valor k
il que representa o menor valor que
cada partícula i assumiu até a iteração k atual.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
89
O próximo passo consiste em atualizar as respectivas velocidades (passo) e posições associadas a cada partícula i do enxame. A atualização nas velocidades de cada partícula é feita por meio da equação (1), enquanto que a atualização da posição de cada partícula é feita por meio da equação (2):
1
1 2[ ( ) ( )]k k k k k k
i i i i iv v g x l x (1)
1 1,k k k
i i ix x v (2)
em que:
: iteração do método PSO;k
: fator de constrição;
1 : a velocidade da partícula na iteração 1;k
iv i k
1 : a posição da partícula na iteração 1;k
ix i k
: velocidade da partícula na iteração ;k
iv i k
: posição da partícula na iteração ;k
ix i k
: a melhor posição de todo o enxame até a iteração ;kg k
: a melhor posição da partícula até a iteração .k
il i k
Em alguns trabalhos, as constantes 1 e
2 utilizadas na expressão (1) são calculadas conforme mostrado
em (3) e (4), respectivamente:
1 1 1
kr (3)
2 2 2 ,kr (4)
em que os valores de 1 2 e são constantes , e 1 2 e k kr r são números aleatórios pertencentes ao
conjunto [0,1] . Neste trabalho, adotam-se os valores 1 2 2.05 , sugeridos por Eberhart e Shi
(2000), os quais têm produzido melhores resultados, conforme investigado pelos autores.
As posições do enxame na iteração 1k são avaliadas por meio da mesma função avaliação, e os valores 1kg e
1k
il
são atualizados caso estes valores sejam melhores que aqueles obtidos na iteração anterior.
Isso deve ser feito até que o critério de parada seja atingido. O critério de parada geralmente utilizado consiste em fixar um número máximo de iterações.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
90
3. MODELOS DE DESPACHO ECONÔMICO
Segundo Alawode et. al. (2018), o problema de despacho econômico é formulado conforme descrito de (5) a (7):
,() )( G k
k G
k GM C C Pin P
(5)
. .:s a
,G k D
k G
P P
(6)
, , ,
min max
G k G k G kP P P , (7)
em que:
: conjunto das unidades termelétricas do sistema;G
( ) : custo de combustíveis de todas as unidades do sistema;GC P
,( )k G kC P : custo de combustíveis da unidade k ;
: vetor de potência ativa gerada por todas as unidades do sistema;GP
, : potência ativa gerada pela unidade termelétrica ;G kP k
min max
, ,, : limites de geração mínimo e máximo da unidade ;G k G kP P k
: potência ativa demandada pelo sistema;DP
Os três tipos de problemas de despacho econômico citados anteriormente definem funções objetivo
( )GC P específicas paras as unidades termelétricas. A seguir, são discutidas quatro formulações que têm
sido utilizadas para a função ( )GC P . Dependendo da formulação adotada, são introduzidas características
de não convexidade e/ou não diferenciabilidade na função objetivo do problema.
3.1. MODELO DE DESPACHO ECONÔMICO CLÁSSICO
Segundo Silva (2014), em um PDE clássico, a função de custo, ou as curvas de entrada-saída deste modelo, são idealizadas como convexas e suaves, como mostra a Figura 1.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
91
Figura 1 – Curva entrada-saída – Modelo clássico
Fonte: Silva (2014)
A função objetivo mostrada na Figura 1 para este PDE é matematicamente descrito em (8). Como este PDE é um problema convexo, sua solução tem sido eficientemente obtida por algoritmos baseados em gradiente, tais como métodos de programação quadrática, métodos de pontos interiores, Lagrangiana aumentada, dentre muitos outros.
2
,, ,( )k G k k G
G
G kk k k
k
C P a P b P c
, (8)
em que:
, , : coeficientes da função de custo da unidade .k k ka b c k
3.2. UNIDADES DE COGERAÇÃO DE CICLO COMBINADO
Um gerador termelétrico perde muita energia na forma de calor durante seu ciclo de operação. Por isso, foi desenvolvida a técnica de cogeração de ciclo combinado, na qual o calor produzido durante a geração de energia elétrica é utilizado em um novo processo de produção de energia elétrica utilizando-se o vapor produzido (Alawode et. al., 2018). Então, uma Usina de Cogeração de Ciclo Combinado (UCCC) consiste em uma ou mais turbinas a gás e a vapor conectadas, a fim de produzir energia elétrica com mais eficiência e baixo custo.
Para uma UCCC, a função objetivo é descrita por uma função linear por partes, conforme mostrado em (9):
, , , ,( ) , 1, ,k G k k s G k k sC P b P c s NS ,(9)
em que NS é o número de segmentos lineares da curva de custo da unidade k , cujos coeficientes
lineares são dados por , ,,k s k sb c para cada segmento s da cruva. O comportamento desta função é não
diferenciável conforme mostrado graficamente na Figura 2.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
92
Figura 2 – Comportamento da função de custo de uma UCCC
Fonte: Dos autores.
3.3. UNIDADES COM MÚLTIPLOS COMBUSTÍVEIS
As unidades geradoras podem operar com diversas fontes de combustível. Utilizar um determinado combustível em uma determinada faixa de operação na produção de energia elétrica pode apresentar vantagens no objetivo de minimizar o custo de produção (Alawode et. al., 2018). Neste caso, diferentes curvas quadráticas como aquelas mostradas na Figura 1 são utilizadas para compor uma curva de uma unidade de geração termelétrica multi-combustíveis, conforme mostrado na Figura 3.
Figura 3 – Comportamento da Função de Múltiplos Combustíveis
Fonte: Dos autores.
A função objetivo para problemas de despacho envolvendo unidades deste tipo, apresenta funções quadráticas por partes, ou seja, para cada faixa de operação, descrita na equação (10). A dificuldade deste tipo de problema é que a função é descontínua, como mostra a Figura 3.
2
,1 , ,1 , ,1 , , ,1
2
,2 , ,2 , ,2 ,1 , ,2
2
, , , , , , 1 , ,
,( )
,
,
,
min
k G k k G k k G k G k k
k G k k G k k k G k k
max
k N G k k N G k k N k N G k G k
k G kC
a P b P c P P
a P b P c P
a P b P c P P
P
,(10)
Engenharia no Século XXI – Volume 18
93
em que N representa o número de combustíveis utilizados, os valores de , , 1, ,k i i N
representam as faixas associadas a cada combustível i (conforme mostrado na Figura 3), os
parâmetros , , ,, , , 1, , , 1, ,k i k i k ia b c k NK i N representam os coeficientes da função
quadrática da unidade k e combustível i .
3.4. UNIDADES COM PONTO DE CARREGAMENTO DE VÁLVULA
As unidades geradoras termelétricas de grande porte com turbina a vapor geralmente possuem válvulas de admissão de vapor que vão sendo abertas em uma determinada ordem, a fim de aumentar a produtividade da unidade de geração. A função de custo considerando o ponto de carregamento de válvula é formulada por meio da função quadrática adicionada de uma componente senoidal retificada, conforme descrito na equação (11). O comportamento desta função é mostrado na Figura 4 para as situações com e sem o ponto de carregamento de válvula:
2
, , , ,, | ( ( ) |( )) min
k G k kk G G k k k k G k G k
k G
k a P b P cC e senP f P P
.(11)
Figura 4 – Comportamento da Função de Custo de Carregamento de Válvula.
Fonte: Adaptado de Alawode et. al. (2018)
4. TESTES COMPUTACIONAIS E DISCUSSÕES
O método de otimização por enxame de partículas com fator de constrição foi implementado neste artigo para resolver problemas de despacho econômico não convexos em diferentes sistemas de teste.
Os três tipos de problema despacho econômico descritos nas seções anteriores (definidos para unidades de cogeração de ciclo combinado, múltiplos combustíveis e com ponto de carregamento de válvula, respectivamente) foram resolvidos conforme descrito a seguir: o PDE para UCCC foi implementado para o sistema teste IEEE modificado com 6 geradores; o PDE de múltiplos combustíveis foi implementado em dois sistemas teste: o sistema IEEE de 6 geradores descrito em (Yuryevich e Wong, 1999) e o sistema de 10 geradores descrito em (Lin e Viviani, 1984); o PDE com ponto de carregamento de válvula foi implementado para o sistema de 3 geradores, descrito em (Yuryevich e Wong, 1999), o sistema de 13 geradores descrito em (Chiang, 2005), o sistema de 19 geradores descrito em (Balamurugan et. al., 2014) e o sistema de 40 geradores descrito em (Chiang, 2005).
Todos os testes foram implementados no programa MATLAB, utilizando-se o algoritmo de PSO
implementado pelos autores deste trabalho com fator de constrição χ = 0.729 e 1 2 2.05 . Estes
fatores são sugeridos em (Eberhart e Shi, 2000) com base em extensos estudos de simulação. Todos os resultados foram comparados com outros métodos descritos na literatura. Na seção 4.1 são analisados os resultados do PDE com unidades de cogeração de ciclo combinado. Na seção 4.2 são analisados os resultados do PDE com unidades multi-combustíveis. Na seção 4.3 são analisados os resultados do PDE com unidades com ponto de carregamento de válvula.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
94
4.1. PROBLEMA DE DESPACHO ECONÔMICO DE COGERAÇÃO DE CICLO COMBINADO
As Tabelas 1 e 2 mostram os resultados obtidos pelo método PSO proposto, quando comparados com os resultados obtidos pelos seguintes métodos: método de programação semi-definida identificado pela sigla SDP (do inglês, Semi-Definite Programming) descrito em (Alawode et. al., 2018), método de programação evolutiva, identificado pela sigla EP, descrito em (Gnanadass et. al., 2004).
O Caso A, descrito na Tabela 1, mostra os despachos de geração para cada unidade, bem como os custos de geração obtidos pelos métodos SDP, EP e o PSO proposto, para um problema de despacho econômico clássico (i.e., com função quadrática dada em (1)). Já o Caso B mostra as mesmas informações obtidas pelos métodos SDP, EP e o PSO proposto, para um problema de despacho econômico que considera unidades de geração de ciclo combinado (UCCC). Neste caso, somente a unidade de geração 1 opera com ciclo combinado. Em ambos os casos a potência demandada é de 293 MW.
Analisando-se as tabelas 1 e 2, verifica-se que o método de otimização por enxame de partículas (PSO) proposto obteve os menores valores de custo, quando comparados aos valores obtidos pelos demais métodos analisados para os casos A e B.
Tabela 1 – Custos e despachos de geração para o PDE clássico, obtidos por cada método de otimização (Caso A).
PG,k (MW) SDP (Alawode, 2018) EP (Gnanadass, 2004) PSO
PG,1 176.3474 178.444 191.6866
PG,2 48.3346 47.338 48.2185
PG,3 21.3748 22.229 19.5012
PG,4 22.4397 19.528 11.2499
PG,5 12.2450 12.538 10.0000
PG,6 12.0000 12.913 12.0000
Custo ($) 801.9216 802.567 799.8110
Tabela 2 – Custos e despachos de geração para o PDE que considera UCCCs, obtidos por cada método de otimização (Caso B).
PG,k (MW) SDP (Alawode, 2018) EP (Gnanadass, 2004) PSO
PG,1 176.6250 176.578 176.6250
PG,2 48.2685 47.800 52.2140
PG,3 21.3538 23.381 20.6199
PG,4 22.3137 15.693 19.6336
PG,5 12.1992 11.196 11.5498
PG,6 12.0001 18.277 12.0000
Custo ($/h) 946.6858 949.1428 946.5266
4.2. PROBLEMA DE DESPACHO ECONÔMICO COM MÚLTIPLOS COMBUSTÍVEIS
Os resultados obtidos pelo PSO proposto para o PDE com múltiplos combustíveis, aplicados nos sistemas de teste de 6 geradores e de 10 geradores, são comparados com resultados obtidos pelo método SDP de (Alawode et. al., 2018), respectivamente, nas seções 4.2.1 e 4.2.2.
4.2.1. MÚLTIPLOS COMBUSTÍVEIS – SISTEMA COM 6 GERADORES
Para o sistema de 6 geradores com múltiplos combustíveis, a potência demandada é de 293 MW e apenas as unidades 1 e 2 possuem dois tipos diferentes de combustíveis disponíveis, enquanto as outras 4 unidades continuam a operar com somente um tipo de combustível.
Analisando-se a Tabela 3, verifica-se que o método de otimização por enxame de partículas (PSO) proposto não obteve o menor valor de custo quando comparado ao valor obtido pelo método SDP descrito em (Alawode et. al., 2018). Isso ocorre pois o algoritmo de PSO proposto neste estudo foi implementado para que a restrição de igualdade seja atendida com menor erro possível. Portanto, a potência total gerada pelo programa proposto foi de 292,01 MW (com um erro de atendimento de demanda inferior a 1 MW), enquanto que a potência total gerada pelo método SDP de (Alawode et. al., 2018) é de 290,4 MW (com um erro de atendimento de demanda de aproximadamente 3 MW).
Engenharia no Século XXI – Volume 18
95
Tabela 3 – Custos e despachos de geração para o PDE que considera unidades multi-combustíveis (6 geradores).
PG,k (MW) SDP (Alawode, 2018) PSO
PG,1 140.0000 140.0000
PG,2 55.0000 55.0000
PG,3 24.0787 23.6684
PG,4 35.0000 35.0000
PG,5 18.5718 19.1710
PG,6 17.7739 19.1710
Custo ($/h) 647.5894 655.7579
4.2.2. MÚLTIPLOS COMBUSTÍVEIS – SISTEMA COM 10 GERADORES
As Tabelas 4, 5, 6 e 7, mostram os despachos de geração para cada unidade, bem como os custos de geração obtidos pelo método SDP de (Alawode et. al., 2018) e pelo método PSO proposto, para o sistema de teste de 10 geradores com múltiplos combustíveis, com potências demandadas de 2400, 2500, 2600 e 2700 MW, respectivamente.
Analisando-se as Tabelas 4, 5, 6 e 7, verifica-se que o método de otimização por enxame de partículas (PSO) proposto obteve os menores valores de custo, quando comparados aos valores obtidos pelo SDP.
Tabela 4 – Custos e despachos de geração para o PDE que considera unidades multi-combustíveis (10 geradores – 2400 MW).
PG,k (MW) SDP (Alawode, 2018) PSO
PG,1 196.4966 189.7816
PG,2 202.0095 202.3852
PG,3 252.9337 253.8957
PG,4 232.8097 233.0292
PG,5 240.5158 241.5923
PG,6 232.8097 233.0452
PG,7 252.0094 253.2347
PG,8 232.8097 233.0338
PG,9 319.4791 320.3990
PG,10 238.1269 239.5569
Custo ($/h) 481.8281 481.7136
Tabela 5 – Custos e despachos de geração para o PDE que considera unidades multi-combustíveis (10 geradores – 2500 MW).
PG,k (MW) SDP (Alawode, 2018) PSO
PG,1 206.5300 206.4958
PG,2 206.4606 206.4471
PG,3 265.7377 265.7097
PG,4 235.9546 235.9458
PG,5 258.0184 257.9774
PG,6 235.9546 235.9460
PG,7 268.8605 268.8243
PG,8 235.9546 235.9458
PG,9 331.4714 331.4601
PG,10 255.0578 255.0167
Custo ($/h) 526.2388 526.1852
Engenharia no Século XXI – Volume 18
96
Tabela 6 – Custos e despachos de geração para o PDE que considera unidades multi-combustíveis (10 geradores – 2600 MW).
PG,k (MW) SDP (Alawode, 2018) PSO
PG,1 216.5519 216.5413
PG,2 210.9086 210.9202
PG,3 278.5437 278.4854
PG,4 239.0986 239.1282
PG,5 275.5198 275.3965
PG,6 239.0986 239.1161
PG,7 285.7143 285.7580
PG,8 239.0986 239.0881
PG,9 343.4782 343.5117
PG,10 271.9876 271.9999
Custo ($/h) 574.3808 574.3685
Tabela 7 – Custos e despachos de geração para o PDE que considera unidades multi-combustíveis (10 geradores – 2700 MW).
PG,k (MW) SDP (Alawode, 2018) PSO
PG,1 218.2790 218.2272
PG,2 211.6715 211.6533
PG,3 280.7298 280.6958
PG,4 239.6375 239.6249
PG,5 278.5095 278.4605
PG,6 239.6375 239.6246
PG,7 288.5852 288.5502
PG,8 239.6375 239.6243
PG,9 428.4302 428.4559
PG,10 274.8892 274.8300
Custo ($/h) 623.8092 623.7451
4.3. PROBLEMA DE DESPACHO ECONÔMICO COM PONTO DE CARREGAMENTO DE VÁLVULA
Para o despacho econômico com ponto de carregamento de válvula foram implementados 4 sistemas de teste diferentes: 3 geradores com demanda de 850 MW, 13 geradores com demanda de 2520 MW, 19 geradores com demanda de 2908 MW e 40 geradores com demanda de 10500 MW.
As Tabelas 8, 9, 10 e 11, mostram os despachos de geração para cada unidade, bem como os custos de geração obtidos pelos métodos QPSO (do inglês, Quantum-Inspired Particle Swarm Optimization) descrito em (Meng, 2010), SDP descrito em (Alawode et. al., 2018) e Método de Pontos Interiores (MPI) descrito em (Silva, 2014) para os PDE com ponto de carregamento de válvula.
Analisando-se as Tabelas 8 e 10 verifica-se que o método de otimização por enxame de partículas (PSO) proposto obteve os menores valores de custo, quando comparados aos valores obtidos pelos demais métodos analisados. Já ao analisar as Tabelas 9 e 11, verifica-se que o método SDP obteve o menor valor de custo para o sistema de 13 geradores e o método QPSO obteve o menor valor de custo para o sistema de 40 geradores, quando comparados, respectivamente, aos valores obtidos pelo método proposto. Assim, mostra-se que o método de PSO aqui proposto é bastante competitivo quando comparado aos demais métodos.
Tabela 8 – Custos e despachos de geração para o PDE que considera unidades com ponto de carregamento
de válvula (3 geradores). PG,k (MW) QPSO (Meng, 2010) PSO
PG,1 300.27 399.1993
PG,2 149.73 50.0000
PG,3 400.00 399.1993
Custo ($/h) 8234.07 8218.1309
Engenharia no Século XXI – Volume 18
97
Tabela 9 – Custos e despachos de geração para o PDE que considera unidades com ponto de carregamento de válvula (13 geradores).
PG,k (MW) SDP (Alawode, 2018) PSO
PG,1 628.3185 628.3185
PG,2 299.1993 299.1993
PG,3 299.1993 360.0000
PG,4 159.7331 159.7331
PG,5 159.7331 159.7331
PG,6 159.7331 159.7331
PG,7 159.7331 159.7331
PG,8 159.7331 159.7331
PG,9 159.7331 109.8666
PG,10 77.3999 40.0000
PG,11 77.3999 108.4548
PG,12 87.6845 120.0000
PG,13 92.3999 55.0000
Custo ($/h) 24169.9177 24361.3396
Tabela 10 – Custos e despachos de geração para o PDE que considera unidades com ponto de
carregamento de válvula (19 geradores). PG,k (MW) MPI (Silva, 2014) PSO
PG,1 100.000 100.0000
PG,2 434.164 308.4956
PG,3 250.000 250.0000
PG,4 25.000 25.0000
PG,5 63.750 63.7500
PG,6 300.000 299.5099
PG,7 63.750 63.7500
PG,8 214.789 166.4568
PG,9 222.796 200.0000
PG,10 40.000 40.0000
PG,11 150.000 150.0000
PG,12 75.000 75.0000
PG,13 63.750 63.7500
PG,14 95.000 95.0000
PG,15 20.000 216.8731
PG,16 80.000 80.0000
PG,17 80.000 80.0000
PG,18 230.000 230.0000
PG,19 400.000 400.0000
Custo ($/h) 17407.540 16970.7244
Tabela 11 – Custos e despachos de geração para o PDE que considera unidades com ponto de carregamento de válvula (40 geradores).
PG,k (MW) QPSO (Meng, 2010) PSO
PG,1 111.20 114.0000
PG,2 111.70 112.6972
PG,3 97.40 97.3999
PG,4 179.73 129.8667
PG,5 90.14 97.0000
PG,6 140.00 140.0000
PG,7 259.60 300.0000
PG,8 284.80 284.6003
PG,9 284.84 284.6016
PG,10 130.00 130.0000
PG,11 168.00 168.7999
PG,12 168.00 94.0000
Engenharia no Século XXI – Volume 18
98
(Continuação)
Tabela 11 – Custos e despachos de geração para o PDE que considera unidades com ponto de carregamento de válvula (40 geradores).
PG,k (MW) QPSO (Meng, 2010) PSO
PG,13 214.76 484.0391
PG,14 304.53 125.0000
PG,15 394.28 500.0000
PG,16 394.28 304.5198
PG,17 489.28 399.5198
PG,18 489.28 489.2837
PG,19 511.28 511.2794
PG,20 511.28 511.2795
PG,21 523.28 523.2800
PG,22 523.28 523.2794
PG,23 523.29 523.2796
PG,24 523.28 523.2794
PG,25 523.29 523.2802
PG,26 523.28 523.2794
PG,27 10.01 10.0000
PG,28 10.01 10.0002
PG,29 10.00 10.0000
PG,30 88.47 97.0000
PG,31 190.00 190.0000
PG,32 190.00 190.0000
PG,33 190.00 190.0000
PG,34 164.91 200.0000
PG,35 165.36 200.0000
PG,36 167.19 164.8205
PG,37 110.00 109.9997
PG,38 107.01 89.2547
PG,39 110.00 110.0000
PG,40 511.36 511.2793
Custo ($/h) 121448.21 123010.9248
5. CONCLUSÃO
O método de otimização por enxame de partículas (PSO) proposto neste trabalho para a solução de Problemas de Despacho Econômico (PDE) demonstrou um ótimo desempenho quando o PDE apresenta funções não convexas, não suaves e descontínuas. Para a maioria dos casos implementados, o método proposto obteve valores de custo inferiores aos valores calculados pelos demais métodos com os quais o métodos proposto foi comparado. Os demais métodos obtiveram melhores resultados em apenas dois casos, nos estudos realizados na seção de testes computacionais.
Nos PDE investigados, percebe-se que a otimização por enxame de partículas (PSO) tem dificuldade em tratar as restrições de igualdade, de modo que ao final da execução do algoritmo, podem aparecer erros, mesmo que pequenos. Entretanto, essa é uma característica de algoritmos bio-inspirados, em geral. Para reduzir os erros associados ao atendimento destas restrições, foram adotadas funções de penalidade, as quais penalizam o somatório dos erros quadráticos médios associados a cada restrição de igualdade.
Quando comparado aos métodos de otimização convencionais, baseados em vetores gradiente e matrizes jacobianas, o método PSO possui não só um conceito simples, como também um algoritmo de simples implementação, por usar somente operadores matemáticos usuais, sem grandes complexidades.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
99
REFERÊNCIAS
[1] ALAWODE K.O. el. al. Semidefinite programming solution of economic dispatch problem with non-smooth, non-convex cost functions. In: Electric Power Systems Research, Volume 164, 2018, Pages 178-187, ISSN 0378-7796. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378779618302190
[2] BALAMURUGAN, K.; MURALISACHITHNNDAM, R.; KRISHNAN S. R. Differential Evolution Based Solution for Combined Economic and Emission Power Dispatch with Valve Loading Effect. In: IJEEI – International Journal on Electrical Engineering and Informatics. India, 2014. http://www.ijeei.org/docs-94648366653314cd78d3d7.pdf
[3] CHIANG, Chao-Lung. Improved genetic algorithm for power economic dispatch of units with valve-point effects and multiple fuels. In: IEEE Transactions on Power Systems, vol. 20, no. 4, pp. 1690-1699, Nov. 2005. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1525097&isnumber=32618
[4] CLERC, M. The swarm and the queen: towards a deterministic and adaptive particle swarm optimization. In: Proceedings of the 1999 Congress on Evolutionary Computation-CEC99 (Cat. No. 99TH8406), Washington, DC, USA, 1999, pp. 1951-1957 Vol. 3. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=785513&isnumber=16970
[5] EBERHART, R.; KENNEDY, J. A new optimizer using particle swarm theory. In: MHS'95. Proceedings of the Sixth International Symposium on Micro Machine and Human Science, Nagoya, Japan, 1995, pp. 39-43. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/494215
[6] EBERHART, R. C.; SHI, Y. Comparing inertia weights and constriction factors in particle swarm optimization. In: IEEE Proceedings of the 2000 Congress on Evolutionary Computation. CEC00 (Cat. No.00TH8512), La Jolla, CA, USA, 2000, pp. 84-88 vol.1. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=870279&isnumber=18852
[7] GONZALO, Esperanza; FERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, Juan Luis. A brief historical review of particle swarm optimization (PSO). In: Journal of Bioinformatics and Intelligent Control. 1. 3-16. 2012. https://www.researchgate.net/publication/281263021_A_brief_historical_review_of_particle_swarm_optimization_PSO
[8] GNANADASS el. al. Evolutionary programming solution of economic load dispatch with combined cycle co-generation effect. In: Journal of the Institution of Engineers (India): Electrical Engineering Division. 85. 124-128. 2004. https://www.researchgate.net/publication/289045592_Evolutionary_programming_solution_of_economic_load_dispatch_with_combined_cycle_co-generation_effect
[9] LIN, C. E.; VIVIANI, G. L. Hierarchical Economic Dispatch for Piecewise Quadratic Cost Functions. In: IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-103, no. 6, pp. 1170-1175, June 1984. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4112652&isnumber=4112642
[10] MENG, K. et. al. Quantum-Inspired Particle Swarm Optimization for Valve-Point Economic Load Dispatch. In: IEEE Transactions on Power Systems, vol. 25, no. 1, pp. 215-222, Feb. 2010. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5299292&isnumber=5395745
[11] SILVA, D. N. Método primal-dual previsor-corretor de pontos interiores e exteriores com estratégias de correção de inércia e suavização hiperbólica aplicado ao problema de despacho econômico com ponto de válvula e representação da transmissão. Master's thesis, Faculdade de Engenharia de Bauru - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Bauru. 2014. https://repositorio.unesp.br/handle/11449/123682
[12] SINHA, R.; CHAKRABARTI, R.; CHATTIOADHYAY, P. K. Evolutionary programming techniques for economic load dispatch. In IEEE Transactions on Evolutionary Computation, vol. 7, no. 1, pp. 83-94, Feb. 2003. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1179910&isnumber=26498
[13] YURYEVICH, J.; WONG, Kit Po. Evolutionary programming based optimal power flow algorithm. In: IEEE Transactions on Power Systems, vol. 14, no. 4, pp. 1245-1250, Nov. 1999. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=801880&isnumber=17392
Engenharia no Século XXI – Volume 18
100
Capítulo 9 Otimização de geração distribuída e de baterias para redução das perdas e regulação de tensão
Luíza Saleme de Menezes
Luan Diego de Lima Pereira
Lucas Frizera Encarnação
Jussara Farias Fardin
Ícaro Henrique Honorato
Helder Roberto de Oliveira Rocha
Rodrigo Fiorotti
Resumo: Propõe-se uma metodologia para determinar um modelo de geração
distribuída de energia elétrica a partir de painéis fotovoltaicos, determinando a alocação
ótima desses geradores em uma rede de distribuição de energia elétrica, utilizando
parâmetros técnicos e calculando o custo de instalação desses painéis. A metodologia faz
uso do perfil de geração fotovoltaica na temporada de verão e é baseada na curva de
carga de consumidores residenciais de baixa tensão. A otimização da localização das
unidades de geração distribuída visa minimizar as perdas diárias de energia ativa e os
custos de instalação dos geradores conectados à rede. O problema de otimização prevê a
alocação de bancos de baterias em concomitância com a geração distribuída, a fim de
gerenciar a potência ativa da rede e, consequentemente, melhorar o perfil de tensão e
minimizar as perdas elétricas. A solução de otimização é obtida através de um Algoritmo
Genético, que recebe como entrada os dados diários da potência ativa dos geradores
solares e a demanda de carga para buscar melhores soluções. Para validar a solução
proposta, foi realizado um teste em um alimentador radial de 78 barras, resultando em
perdas diárias de perfis de tensão e potência ativa.
Palavras-chave: geração distribuída, alocação de geração distribuída, algoritmo genético,
alocação de baterias; sistemas de distribuição.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
101
1. INTRODUÇÃO
A matriz elétrica brasileira é bastante diversificada, sendo constituída principalmente por hidrelétricas devido ao potencial hídrico do país, além de fatores econômicos e ambientais. Porém, a predominância dessa fonte de energia torna o sistema elétrico dependente das condições meteorológicas, e faz surgir a necessidade de fontes não poluentes e de novas tecnologias de geração de pequeno porte, o que acarreta na descentralização do fornecimento de energia e no surgimento da figura de pequenos produtores, desafogando o sistema elétrico (Azevedo, 2016).
Com a inserção de novas fontes de energia ao sistema de distribuição, principalmente as fontes de energia renováveis, denominadas de geração distribuída (GD), novas variáveis entraram em pauta para a análise e o planejamento técnico do sistema de distribuição.
A previsão de carga a médio e longo prazo é uma ferramenta importante para realizar o planejamento técnico da rede de distribuição. Além da previsão de geração de energia elétrica da GD, a correta alocação destes geradores no sistema elétrico é decisiva no planejamento do sistema de distribuição. Deve-se considerar fatores como: níveis de tensão, viabilidade econômica, análise de perdas, qualidade da energia elétrica, confiabilidade e segurança (ANEEL, 2016). Portanto, o problema da localização ideal para a instalação de unidades de GD é um problema com múltiplos objetivos, que devem ser atendidos para um bom desempenho do sistema.
O problema da alocação de GD é de natureza combinatória e uma solução atraente é utilizar as meta-heurísticas, o qual utiliza a aleatoriedade na busca de soluções ótimas. Apesar de existirem outros métodos que se apliquem ao problema as meta-heurísticas são metódos que melhor atende as características do problema supracitado, devido à sua flexibilidade a mudanças. Nesse contexto, um artifício muito estudado é a alocação de baterias na rede, que promovem, além dos objetivos citados anteriormente, estabilidade na rede, melhor aproveitamento do sistema, aumenta a confiabilidade e possibilita à concessionária armazenamento de energia para um melhor controle (Oliveira, 2010). Tal contexto se justifica principalmente à época do verão, cuja incidência de radiação solar é mais elevada, ocasionando, não raro, a necessidade de armazenamento da energia excedente das GDs. Devido aos custos associados aos sistemas de baterias observa-se que, na prática, a implementação de uma grande quantidade destes equipamentos espalhados pelos sistemas é inviável. Sendo assim, deve-se otimizar a alocação de baterias no sistema, bem como fazer o seu uso e controle de forma eficiente (Oliveira, 2010). Um exemplo prático de utilização de algoritmo genético (AG) para melhor planejamento da rede de distribuição, é a alocação de Geração Distribuída na rede, visando, também, perda de energia e manutenção da tensão prevista pelo órgão regulador (Pereira, 2018). 2. PROPÓSITO
Desenvolver um método de busca de localização otimizada para a instalação das unidades de GD e banco de baterias na rede de distribuição, com a finalidade de minimizar as perdas diárias de potência ativa, o custo global do investimento e garantir que as baterias mantenham níveis de carregamento mínimos para maior vida útil. 3. MÉTODOS
Há na literatura diversos métodos para modelar a potência dos geradores eólicos, dentre os quais podemos citar os modelos baseados nas equações de energia disponível no vento e os modelos baseados na curva de potência da turbina eólica. Com estes últimos, obtém-se uma melhor precisão na modelagem, uma vez que a curva de potência fornece diretamente a potência gerada para uma velocidade do vento específica (Thapar et al., 2011). Nessa secção expõe-se a metodologia utilizada para determinar a alocação ótima das unidades de GD e dos bancos de baterias em alimentadores radiais, objetivando minimizar os custos globais. As principais etapas para realizar a metodologia proposta são: determinar a potência das unidades de GD; definir o perfil de carga adotado para as simulações e determinar a localização ótima das unidades de GD e dos bancos de bateria no alimentador de 78 barras com base em um AG.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
102
3.1 DEFINIÇÃO DA POTÊNCIA DAS UNIDADES SOLARES
A potência gerada nos painéis solares depende da temperatura do local, da irradiação solar, e das características físicas do módulo fotovoltaico. Para mensurá-la foi utilizada a metodologia a seguir (Atwa et al., 2010) cujas equações matemáticas são descritas em (1) - (6).
(
) (1)
[ ] (2) (3)
(4)
(5)
Onde é a temperatura do painel fotovoltaico (°C), ), V a tensão no módulo fotovoltaico (V), a tensão de circuito aberto do módulo (V), a temperatura nominal de operação da célula (°C), o coeficiente corrente/temperatura (A/°C), a média da temperatura ambiente no período (°C), I a corrente na célula (A), a corrente de curto-circuito da célula (A), o coeficiente tensão/temperatura (V/°C), FF o Fator de forma (adimensional), a tensão no ponto de máxima potência (V), a corrente no ponto de
máxima potência (A) e a potência gerada pelo painel (W). Sendo assim, com base em (Oliveira, 2002) e em (Dos Santos et al., 2008), calculou-se a potência em pu, por hora, gerada por cada unidade de GD, obtendo-se um vetor de 24 posições, representando a geração solar em um dia.
3.2 DEFINIÇÃO DA CURVA DE DEMANDA
A curva de demanda, também conhecida como o perfil de carga do alimentador, foi definido de acordo com o exposto em (Dos Santos et al., 2008), de modo que o pico de consumo seja no horário de ponta, 18 horas às 21 horas (PRORET, 2011) e o pico de geração seja das 12 às 14 horas. 3.3 O ALIMENTADOR E O FLUXO DE CARGA
O fluxo de carga, ou fluxo de potência, determina o estado e a distribuição dos fluxos da rede elétrica para um determinado carregamento. Neste problema, a rede é representada por um conjunto de equações e inequações algébricas, significando que o modelo do sistema é estático. Para o cálculo do fluxo de carga são utilizados métodos computacionais desenvolvidos especificamente para resolver sistemas de equações e inequações algébricas (Monticelli, 1983). Para modelar o alimentador da rede foi escolhida a topologia radial, uma vez que é o tipo mais utilizado em redes de distribuição de energia elétrica. O algoritmo para obter o fluxo é tal que são definidos os parâmetros do sistema, como a identificação da tensão da subestação (nó de referência) e a tolerância para convergência ( ). Em seguida definem-se os valores das tensões dos nós igual à tensão de referência, considerando as perdas totais nulas e calcula-se a soma das potências em cada nó (iniciando pelos nós mais extremos e percorrendo até a subestação), incluindo as perdas obtidas em (6) e (7); onde e são as perdas ativas e reativas entre as barras
k e m, e são a resistência e reatância do trecho km, P e Q são as potências ativa e reativa da carga e é o módulo da tensão na carga. Em seguida calcula-se os novos valores de tensão em todas as barras do sistema, agora iniciando pela subestação e percorrendo até os nós periféricos, por meio de (8); onde e são as tensões dos nós k e m, e são a resistência e reatância do trecho km e P e Q são as potências ativa e reativa das cargas, para se calcular os novos valores de perda. O critério de convergência é tal que se a diferença entre as perdas totais da iteração atual e da iteração anterior for menor que o valor de tolerância para convergência, finda-se o processo. Caso tal condição não ocorra, calcula-se a soma das potências de cada nó novamente e o processo é repetido.
(6)
(7)
[
]
(8)
Engenharia no Século XXI – Volume 18
103
3.4 ALOCAÇÃO ÓTIMA
Neste trabalho optou-se pela possibilidade de alocação separada dos Bancos de Bateras e de GDs nas barras, desde que a alocação destes retornassem as menores perdas. A presença de Bancos de Baterias na rede elétrica permite manter a oscilação da potência ativa na rede, provocada pelo perfil de carga durante o dia, em níveis menores, provocando, no alimentador, níveis de tensão mais próximos nas diferentes horas do dia e mantendo um nível de tensão mais linear entre as barras. A população inicial é gerada de maneira randômica pelo AG, visto que os indivíduos dessa serão utilizados para a geração da próxima população. O processo é tal que cada dois cromossomos são pais de outros cromossomos. Esses novos cromossomos surgem por meio de Crossovers entre seus pais e Mutação Genética feitas logo após as operações de Crossover. Esses novos indivíduos farão parte de uma nova população e serão associados, cada um, a um custo. Em seguida, a nova população de indivíduos será reduzida para o tamanho da população inicial, de modo que só os indivíduos com os menores custos permaneçam. Como entrada do AG, têm-se um vetor com 24 valores de potência ativa oriundos das unidades de GD e um vetor com 24 valores de potência ativa oriundos do perfil de carga adotado. A localização das unidades de GD é representada por um cromossomo com bits, sendo x a quantidade de barras do alimentador e a localização dos bancos de bateria também é representada por um cromossomo de x bits, de maneira que estes sejam alocados após a escolha da alocação da unidade de GD. A codificação utilizada é a binária, onde 1 indica a presença de GD e/ou Banco de Bateria. Ao inserir uma unidade de GD em uma determinada barra k, será possível suprir a carga desta barra e fornecer o excedente para o sistema, quando necessário. O mesmo ocorre com a inserção do banco de bateria: caso a potência existente na barra seja capaz suprir a carga da barra, a bateria será carregada; caso contrário, a bateria irá injetar energia na barra. As modificações necessárias para representar a presença da GD e do Banco de Baterias são mostradas em (9) e (10), respectivamente, onde é a variação de potência ativa (W) resultante na barra k, é a potência ativa (W) demandada na barra k, é a variável binária para determinar a presença de GD na barra k. O mesmo ocorre no caso da inserção de um banco de baterias, com a exceção de que o valor injetado na rede, ou armazenado da rede, é determinado pelo percentual de carregamento da bateria, bem como pelos limites de tensão na barra. O fluxograma do funcionamento da bateria encontra-se na Figura 1.
Figura 1. Fluxograma de Funcionamento da Bateria.
Onde CA1 e CA2 são dois conjuntos de ações que significam, respectivamente, o conjunto de ações tomadas quando a geração de energia renovável é maior que a demanda de energia e o conjunto de ações tomadas quando a demanda é maior que a geração, o horário é de ponta e a energia presente na bateria é maior que a energia mínima, o que permite sua utilização. Estes dois conjuntos são apresentados a seguir, nas Figuras 2 e 3.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
104
Figura 2. Conjunto de ações CA1
A determinação do armazenamento de energia na bateria ou da descarga promovida por essa na barra em questão tem as seguintes premissas:
(1) Analisa-se se o horário em questão é um horário de ponta ou fora de ponta;
(2) Caso seja um horário fora de ponta, opta-se por armazenar energia na bateria, desde que os níveis de tensão das barras sejam mantidos dentro do regulatório;
(3) Caso seja um horário de ponta e a demanda ultrapasse a geração, verifica se a bateria tem carga suficiente para injetar na rede e não danificar a vida útil da mesma.
Figura 3. Conjunto de ações CA2
(9) (10)
O mesmo se repete para as 78 barras 24 vezes.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
105
3.5 FORMULAÇÃO MATEMÁTICA DO PROBLEMA
Para melhor alcance do objetivo, otimização da alocação das GDs, dos Bancos de Bateria e do gerenciamento da carga da bateria, além de minimizar as perdas de potência ativa, é preciso também minimizar o custo global do projeto. Para tanto, optou-se por uma formulação mono-objetivo que integra as perdas de potência ativa e o custo global em uma única função. Na proposta, busca-se minimizar as perdas anuais de potência ativa dos alimentadores, assim como o custo global de implantação do projeto. São considerados os custos relacionados à instalação e manutenção das unidades de GD e dos Bancos de Bateria, além de respeitar os limites máximos de tensão nas barras conforme estipulado pelo PRODIST. Para cada intervalo horário a inserção de GD e Banco de Bateria deve atender à restrição do balanço de potência ativa e reativa nas barras do alimentador, conforme (11) e (12), respectivamente, sempre levando em consideração a carga ou descarga da bateria conforme o horário analisado.
(11) (12)
O número de unidades de GD e de Bancos de Baterias instalados no alimentador é limitado pelas restrições mostradas em (13) e (14), onde é a variável binária para determinar a presença de GD na barra k, é a variável binária para determinar a presença de Bancos de Baterias na barra k, é o número máximo permitido de GD no sistema e é o número máximo permitido de Bancos de Baterias no sistema.
∑ (13)
∑ (14)
3.6 FUNÇÃO OBJETIVO
O AG proposto utiliza como função objetivo (FO) minimizar o custo global com a instalação das unidades de GD, dos Bancos de Bateria e perdas diárias de potência ativa do sistema e atender às restrições de operação da rede, de acordo com (15).
(( (∑
) ) ∑ (∑ | |
)
) (15)
Onde
representa a redução das perdas de potência ativa no intervalo horário i em relação às
perdas originais do alimentador antes da inserção de GD e Bancos de Baterias, representa a potência
ativa gerada pelas unidades de GD no intervalo horário i, é a tarifa da energia comprada pela concessionária, representa o custo de instalação e manutenção das unidades de GD e dos Bancos
de Baterias e representa os desvios de tensão no k-ésimo nó da rede. As constantes e β são as penalidades impostas aos termos da função objetivo de forma a obter a melhor solução para o problema de otimização. 4. RESULTADOS
Nessa secção serão apresentados os resultados obtidos pelo AG. Para constatação dos resultados, o algoritmo foi executado 10 vezes para cada caso e percebeu-se que as convergências aconteciam sempre próximas dos resultados aqui observados. Assim sendo, o número máximo de iterações, bem como a população escolhida, foi encontrado por meio de testes, até que as convergências acontecessem, por 10 vezes seguidas, nas mesmas condições de custo e iterações. Os valores de base adotados para potência e tensão são, respectivamente, de 1 MVA e 13,8 kV. 4.1 CASO BASE: NENHUMA UNIDADE DE GD E NENHUMA BATERIA
Neste cenário considera-se que nenhuma unidade de GD está conectada ao sistema e o valor das perdas anuais de potência ativa para os alimentadores é de, aproximadamente, 44,70 p.u. para um sistema de 78 barras.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
106
Observou-se que os níveis de tensão na maioria das barras do alimentador, para ambos os alimentadores, são críticos, afetando diretamente a qualidade de energia entregue ao consumidor, além de gerar multa para a concessionária por violação de tensão, conforme a Figura 4. 4.2 ALOCAÇÃO DE BATERIAS E GD
Observa-se na Tabela 1, que para quatro baterias e quatro GDs o AG convergiu em torno de 10 iterações e que o melhor resultado da função objetivo está em torno de 14.
Figura 4. Perfil de Tensão – Caso Base
Tabela 2. Alocação das Baterias e GDs Número de Baterias 4
Redução de Perdas (kW) 10,96
Redução percentual (%) 24,54
Barras com Baterias e GDs 8;10;11;12
5. CONCLUSÃO
Neste trabalho foi apresentada uma metodologia para obter a localização ótima das unidades de GD através do método meta-heurístico AG. O objetivo da otimização foi minimizar as perdas anuais de potência ativa e o custo global de investimento, considerando as restrições características do problema. Os resultados mostraram que a metodologia proposta para otimizar a alocação das unidades de GD, em conjunto com os bancos de baterias, reduz significativamente as perdas anuais de potência ativa do sistema. O cenário com quatro unidades de GD e quatro bancos de baterias obteve menores perdas e um maior retorno financeiro, atendendo às restrições técnicas e operacionais. A metodologia de previsão de carga e de otimização da alocação das unidades de GD constitui uma importante ferramenta para o planejamento do SEP.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem à CNPQ, FAPES e à CAPES pelo suporte financeiro. REFERÊNCIAS
[1] AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Submódulo 7.1 - PRORET, 2011.
[2] Atwa, Y.M.; El-Saadany, E.F.; Salama, M.M.A.; Seethapathy, R., “Optimal renewable resources mix for distribution system energy loss minimization,” IEEE Trans. Power Syster 1 (2010) 360–370.
[3] Azevedo, G.A., “Geração Distribuída: Uso da Energia Solar em Condomínios de Edifícios,” ISSN 2179-5568 – Revista Especialize On-line IPOG - Goiânia - Edição nº11 Vol./2016 julho//2016.
[4] Brasil, “Resolução Normativa Nº 338, de 25 de Novembro de 2008” Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Brasília, 2008.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
107
[5] Brasil, “Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica do Setor Elétrico” Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Brasília, 2010.
[6] Brasil, “A Tarifa de Energia Elétrica” Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Brasília, 2016.
[7] Brasil, “Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - Módulo 1: Introdução,” de 01 de Março de 2016. ANEEL. Brasília.
[8] Broadwater, P.R. et al., "Power Flow Analysis of Unbalaced Multiphase Radial Distribution Systems", Electric Power Systems Research Journal, Vol. 14, 1988.
[9] Direito, L. C. M., “Alocação ótima de bancos de capacitores em redes de distribuição de energia elétrica,” Dissertação (mestrado) - Universidade Federal Fluminense, 104 f., 2010.
[10] Dos Santos, I. P.; Junior, J. U.; Rüther. Energia Solar Fotovoltaica Como Fonte Na Busca Da Sustentabilidade, 2008.
[11] L.D.L. Pereira, “Alocação Ótima de Geração Distribuída em Sistemas de Distribuição Considerando Incertezas no Modelo probabilístico de Geração”, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, UFES, 2018.
[12] Monticelli, A. J. “Fluxo de Carga em Redes de Energia Elétrica,” Editora E. Blucher, Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, Rio de Janeiro, 1983.
[13] OLIVEIRA, S. H. F. DE. Geração Distribuída De letricidade; Inserção De Edificações Fotovoltaicas Conectadas À Rede No Estado De São Paulo, 2002.
[14] Rocha, H. R. O.; Augusto, A. A.; Direito, L. C.; Souza, J. C. S.; Coutto Filho, M. B. “Alocação De Capacitores Em Redes Elétricas Via Heurística Construtiva E Refinamento Por Busca Tabu,” XLI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, Porto Seguro, 2009.
[15] S. K. Fugimoto, “Estrutura de tarifas de energia elétrica: análise crítica e proposições metodológicas,” Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010
[16] T.T Oliveira, D.R.R. Penido, L.R Araújo, “Optimal Allocation and Battery Operations for Voltage Constraint and Loss Reduction” IEEE Latin American Transactions, IEEE, vol. 16, Noº 7, July 2008, 2010.
[17] Thapar, V.; Agnihotri, G.; Sethi, V. K. “Critical analysis of methods for mathematical modelling of wind turbines,” Renewable Energy, Vol. 36, Nº. 11, pp. 3166- 3177, 2011.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
108
Capítulo 10
Análise do efeito do acúmulo de sujeira nos sistemas fotovoltaicos da UTFPR: Câmpus Curitiba Édwin Augusto Tonolo
Juliana D’Angela Mariano
Jair Urbanetz Junior
Resumo: Com o crescente aumento mundial do consumo de energia elétrica e o
eminente esgotamento dos recursos fósseis, como carvão e petróleo, o mundo precisa
investir em novas fontes de energia elétrica e renováveis. O estudo busca apresentar os
efeitos da sujeira no desempenho dos sistemas fotovoltaicos e, para isso, buscou-se
analisar dias que apresentassem curvas de irradiação livres de qualquer interferência.
Assim, foram elaborados gráficos de irradiação de todos os dias dos meses de junho até
outubro. O objetivo é comparar a performance dos sistemas fotovoltaicos pré limpeza
programada, com o pós-limpeza. Após a limpeza, houve um período de estiagem, que
durou 30 dias. Após o período de estiagem, houve dois períodos com grande acúmulo de
chuva, sendo que entre esses dois intervalos obteve-se dias totalmente ensolarados,
podendo assim ser analisado o efeito da autolimpeza após um grande período de seca e
após um curto período sem chuvas. Foram estudados os índices de irradiação incidente
no plano dos painéis fotovoltaicos e os valores de energia elétrica gerados, para que os
dias fossem quantificados e comparados. Foi feita a comparação entre autolimpeza e
ângulo de instalação, bem como a comparação entre instalações em diferentes locais da
cidade de Curitiba. Observou-se que a limpeza programa surtiu efeito, aumentando a
produção em relação ao período pré limpeza. Durante o intervalo de estiagem, houve
acúmulo de sujeira, pois pode-se notar uma queda na performance, fato que foi
melhorado após um período com grande volume de chuvas, demonstrando assim que a
autolimpeza foi tão eficiente quanto a limpeza programada.
Palavras-chave: Sistema Fotovoltaico, Análise de sujidade, Geração de energia
fotovoltaica.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
109
1. INTRODUÇÃO
Devido ao rápido desenvolvimento, maiores exigências de conforto, maior mobilidade e crescente aumento da população mundial, o consumo de energia está aumentando ano a ano. No cenário atual, combustíveis fósseis como o carvão, o petróleo e o gás, estão entre as fontes mais utilizadas para atender a energia demandada. O esgotamento de energia fóssil e a degradação ambiental levaram à crescente demanda por energia limpa e renovável. Assim, muitos países tomaram decisões e planos de grande escala de exploração e utilização de fontes não poluentes. Entre fontes de energia renováveis, a energia solar é a fonte de energia mais promissora e confiável. Em muitos países, os governos estão incentivando a instalação das usinas de energia solar (Tyagi et al., 2013) (Chen et al., 2015).
Pelo terceiro ano consecutivo, as emissões globais de dióxido de carbono relacionadas à produção de energia elétrica com combustíveis fósseis e da indústria, praticamente não sofreram aumento, em grande parte devido ao declínio do uso do carvão em todo o mundo, mas também devido a melhorias na eficiência energética e ao aumento do uso de energias renováveis. O ano trouxe reduções de preços sem precedentes, particularmente para módulos fotovoltaicos. As melhorias dos fatores de capacidade ajudam a tornar a energia solar fotovoltaica cada vez mais competitiva com as fontes de energia tradicionais (REN 21, 2017).
Em 2015, as energias renováveis forneceram cerca de 19,3% do consumo de energia final global, e o crescimento da capacidade instalada e produção continuou em 2016. No último ano, o investimento em energias renováveis chegou a vários países de economia em desenvolvimento e emergentes, alguns se tornando mercados importantes. A energia fotovoltaica foi a líder mundial em capacidade adicionada em 2016, com um total de 75GWp - equivalente a mais de 31.000 painéis fotovoltaicos instalados a cada hora (REN 21, 2017).
O Brasil possui um grande potencial de geração fotovoltaica. Comparativamente usando como exemplo a Alemanha, que é um dos líderes mundiais em sistemas fotovoltaicos instalados, no local menos ensolarado do Brasil, é possível gerar mais energia elétrica do que no local mais ensolarado do país europeu (Pereira et al., 2017). No entanto, a energia fotovoltaica corresponde a apenas 0,59% da eletricidade gerada no país, tendo em janeiro de 2018, uma capacidade instalada de 1,11GWp (935,33MWp fora do sistema de compensação de energia e mais 175,80MWp em micro e minigeração cadastrada no sistema de compensação) (ANEEL, 2018a) (ANEEL, 2018b).
Tendo como proposta analisar a tecnologia de geração de energia fotovoltaica, contribuir para a geração de energia limpa e renovável e auxiliar em pesquisas, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) instalou dois sistemas em suas sedes na cidade de Curitiba, Paraná. Primeiro, em dezembro de 2011, foi inaugurado o sistema fotovoltaico instalado no telhado do Escritório Verde, na sede centro da universidade. Contém 10 módulos de silício policristalino, totalizando 2,1kWp e com inversor de 2kWp. O sistema foi instalado preservando a arquitetura do telhado, com inclinação de 15º e desvio azimutal de 22º para o oeste (Urbanetz Jr et al., 2016) (Tonolo et al., 2017).
Em fevereiro de 2016 entrou em operação o sistema fotovoltaico da sede Neoville, em uma região afastada do centro, no bairro CIC, cidade industrial de Curitiba. Contém 34 módulos de silício policristalino, totalizando 10,2kWp e com inversor de 10kWp. O sistema foi instalado nas condições ideais, com inclinação igual à latitude, 25º e com orientação voltada ao norte, ou seja, com desvio azimutal de 0º (Urbanetz Jr et al., 2016).
O desempenho do sistema fotovoltaico resulta do desempenho de seus componentes que, por sua vez, são afetados por fatores climáticos e perdas associadas. Quase todos os requisitos do sistema são únicos de alguma forma, de modo que a capacidade de antecipar os desafios no local e projetar o sistema em conformidade pode ajudar a garantir um ótimo desempenho do sistema (Mondoc e Pop, 2010).
Em um sistema fotovoltaico, a eletricidade gerada varia de acordo com as condições operacionais. Algumas perdas no sistema fotovoltaico são causadas por uma interação entre o meio ambiente, pelo inversor e pelos módulos. Destacam-se como fatores de perdas a diminuição da eficiência nominal (envelhecimento), o ângulo de incidência solar, sujeira, temperatura, sombreamento, mismatch, perdas CC, perdas no inversor, perdas CA e neve (Mondoc e Pop, 2010) (Baltus et al., 1997) (Wu et al., 2009).
Engenharia no Século XXI – Volume 18
110
Existe uma necessidade real de avaliação de desempenho ao ar livre e monitoramento de tecnologias fotovoltaicas, especialmente para novas tecnologias sem experiência de campo, para estabelecer seu desempenho e os desvios observados nas condições padrão de teste. No entanto, um bom conhecimento de como os parâmetros de projeto fundamentais afetam o desempenho de um sistema de energia fotovoltaica é essencial para prever e alcançar uma maior eficiência de uma planta fotovoltaica (Mondoc e Pop, 2010).
O desempenho das tecnologias fotovoltaicas é normalmente previsto em condições laboratoriais padrão. Nas instalações ao ar livre, os sistemas fotovoltaicos raramente experimentam essas condições (Mondoc e Pop, 2010).
O acúmulo de sujeira nos módulos do sistema solar fotovoltaico é um processo natural. A poeira natural (solo) é uma fonte de contaminação para painéis fotovoltaicos, principalmente formados por partículas em suspensão no ar. A sujidade é o efeito da deposição de partículas durante um período de tempo em que não há limpeza externa presente. O tamanho das partículas de poeira pode variar dependendo da fonte (Bhol et al., 2015) (Urrejola et al., 2016).
A poeira é um termo geral para qualquer matéria em partículas com menos de 500 mm de diâmetro, que é aproximadamente a dimensão de uma fibra óptica usada para comunicações ou 10 vezes o diâmetro de um cabelo humano. A poeira pode compreender pequenas quantidades de pólen (vegetação, fungos, bactérias), células humanas ou de animais, pelos, e mais comumente, minerais orgânicos de derrames geomórficos, como areia, argila ou erosão calcário. Cinzas de erupções vulcânicas e poluição liberada pelos automóveis também são estudados. O tamanho das partículas, os constituintes e a forma do pó variam de região para região em todo o mundo. Além disso, o comportamento de deposição e as taxas de acumulação podem variar dramaticamente em diferentes localidades. Esses fatores são baseados na geografia, clima e urbanização de uma região. As condições ambientais importantes que se relacionam com essas características são a umidade / umidade, gradientes, velocidade do vento (variação na direção, velocidade) e variações de tempo (Sarver et al., 2013).
O principal fator é que as partículas de sujidade podem se comportar como dielétricas, absorvendo luz incidente e reduzindo a transmissão ou mesmo produzindo reflexão ao mudar o ângulo de incidência da luz no modulo. A poeira diminui a radiação atingindo a célula solar e produz perdas na potência gerada (Bhol et al., 2015) (Urrejola et al., 2016).
Por este motivo, ajustar o ângulo de inclinação é importante para maximizar a potência de saída. O ângulo de inclinação ideal varia com a latitude e depende das condições climáticas. Cada estação do ano tem um ângulo de inclinação correspondente, aumentando a produtividade do gerador fotovoltaico (Abdeen et al., 2017).
Uma das maiores preocupações do acúmulo de poeira é o ângulo de inclinação. Instalações na posição horizontal devem ser evitadas, uma vez que o acúmulo de poeira é a mais grave nesta situação. Estudos apontam que o ângulo de inclinação influencia no volume de poeira acumulada e a poeira afeta o funcionamento do sistema fotovoltaico (Abdeen et al., 2017) (Xu et al., 2017).
O objetivo do estudo é analisar os impactos da sujidade no rendimento de microgeradores fotovoltaicos, mais especificamente dos sistemas fotovoltaicos conectado à rede elétrica do EV e do Neoville da UTFPR, com o objetivo de determinar as perdas por sujidade nesses sistemas. Analisar o efeito da autolimpeza nos sistemas fotovoltaicos da UTFPR, para determinar se o local de instalação e o ângulo de instalação possuem alguma influência no acúmulo de sujeira.
2. MÉTODOS
O estudo da influência da sujeira nos sistemas fotovoltaicos da UTFPR – câmpus Curitiba contemplou diversas etapas para o seu desenvolvimento, sendo iniciado pela coleta de dados de irradiação solar na plataforma do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Este órgão possui várias estações meteorológicas espalhadas pelo país, sendo compostas de uma unidade de memória central, um datalogger, ligada a vários sensores dos parâmetros meteorológicos, que integra os valores observados minuto a minuto e os disponibiliza automaticamente a cada hora (INMET, 2017).
Engenharia no Século XXI – Volume 18
111
Esses dados são disponibilizados em sua página, sendo facilmente acessados ao público de forma gratuita. Na Fig. 1 é apresentada a localização dos sistemas fotovoltaicos e da base de coleta de dados do INMET, bem como a distância entre eles.
Figura 43 - Localização dos sistemas fotovoltaicos da UTFPR câmpus Curitiba e da base de coleta de dados do INMET.
Esses dados de irradiação foram coletados e analisados, de forma que dias selecionados apresentassem suas curvas características de irradiação semelhantes e sem nebulosidade. Assim, foram analisados todos os dias nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro. No portal do INMET, os dados de irradiação são apresentados em kJ/m², no entanto eles foram convertidos para Wh/m² para tal análise. Já os dados de pluviosidade são apresentados em mm (milímetros), sendo que um milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado de área.
Como a base de coletas de dados do INMET e os sistemas fotovoltaicos estudados estão em lugares relativamente afastados um dos outros, podem ocorrer eventuais diferenças de irradiação total diária, principalmente por possível nebulosidade local que são bem frequentes, não invalidando o estudo, pois tratam-se de fenômenos rápidos e passageiros. Neste sentido, a sede centro da UTFPR instalou em 2015 um piranômetro termoelétrico modelo CMP 03, do fabricante Kipp&Zonen e um datalogger CR1000 da fabricante Campbell Scientific, o qual foi utilizado para confrontar os dados do INMET e deixar assim o estudo mais confiável. Os dados coletados pelo piranômetro apresentaram bastante similaridade, porém para fim de análise no artigo, somente os dados do INMET foram considerados (Almeida, 2015).
Com relação ao plano analisado, os dados disponibilizados pelo INMET estão com base no plano horizontal, enquanto que os dois sistemas fotovoltaicos apresentam ângulos de inclinação diferentes, 15º para o EV e 25º para o Neoville, desvio azimutal diferentes, 22º para oeste no EV e 0º no Neoville. Desta forma, construir uma análise para épocas de ano com dados diferentes, somente analisando o plano horizontal, não representaria a realidade dos fatos. Sendo assim, foi utilizado o software RADIASOL para o cálculo e simulação.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
112
Este software foi desenvolvido e disponibilizado pelo Laboratório de Energia Solar Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo capaz de simular o comportamento real do gerador fotovoltaico, no que se refere à disponibilidade de irradiação solar ao longo do ano mediante parâmetros de entrada como coordenadas geográficas, irradiação local, inclinação e orientação dos módulos quando a inclinação do painel é diferente do ângulo da latitude local (Mariano, 2017).
Quanto à atividade de limpeza dos módulos fotovoltaicos, devido aos dois sistemas estudados estarem localizados em locais diferentes e afastados um do outro, estes foram limpos em datas diferentes. O trabalho de limpeza dos módulos fotovoltaicos do EV foi realizado dia 26/06/2017, durante aproximadamente uma hora e trinta minutos. Enquanto que o sistema fotovoltaico do Neoville teve a limpeza efetuada dia 28/06/2017, durando aproximadamente duas horas.
Em ambas as instalações, a limpeza foi efetuada utilizando os mesmos procedimentos, ou seja, aplicando sabão em pó, vassoura e água nos módulos fotovoltaicos. No EV, região central da cidade de Curitiba, a sujeira apesentou coloração escura, o que indica apresentar mais fuligem de carros, sendo necessário esfregar mais para que pudesse ser removida. A sede do Neoville, localizada uma região mais afastada do centro, com menos tráfego, a sujeira era mais caracterizada por poeira e alguns dejetos de aves. Na Fig. 2 são apresentadas as condições dos módulos fotovoltaico, no EV, antes e depois da limpeza (Tonolo et al., 2017).
Figura 44 – Comparação entre antes e depois da limpeza dos módulos fotovoltaicos no EV.
Para fins de análise de autolimpeza, foram analisados os meses posteriores à atividade de lavagem dos módulos fotovoltaicos citada anteriormente. Observou-se que entre a segunda quinzena de agosto e a segunda quinzena de setembro ocorreu um período de aproximadamente 30 dias de estiagem, porém posteriormente ocorreram dias com um grande acúmulo de chuva. A fim de levantar o efeito da autolimpeza nos módulos, foram feitas análises relacionando um período pré e pós-limpeza programadas.
Uma outra forma de realizar a análise é fazendo o cálculo dos índices de mérito dos sistemas fotovoltaicos, que são cálculos utilizados para fazer a comparação de sistemas fotovoltaicos de diferentes potências e instalados em diferentes locais (Oliveira, 2000) (Benedito, 2009) (Marion et al., 2005). Um dos índices de mérito é a relação entre a energia elétrica gerada (kWh) e a potência instalada do sistema fotovoltaico (kWp), chamado de YIELD ou produtividade, sendo calculada pela Eq. (1).
[ ]
[ ] (1)
Engenharia no Século XXI – Volume 18
113
Outro índice de mérito, que auxilia na análise dos dados é a relação entre a produtividade e a quantidade de horas a 1000W/m², determinada taxa de desempenho (PR). A taxa de desempenho pode ser definida como a comparação da produção real do sistema fotovoltaico em relação à energia que o sistema poderia ter gerado se não houvessem perdas, conforme expressada pela Eq. (2).
(2)
Por fim, os dados de geração dos sistemas fotovoltaicos, são obtidos acessando a memória da massa dos inversores. Os dados do EV são apresentados a cada 15 minutos e os dados do Neoville são apresentados, em média, a cada 5 minutos. Com base nessa coleta de dados, foram feitas as comparações dos níveis de produção de cada sistema sob as circunstâncias acima mencionadas.
Ressalta-se que os todas as curvas de irradiação (INMET), irradiância (piranômetro instalado na sede Centro) e potência (inversores do EV e Neoville) destes 5 meses de análise, foram tratadas e analisadas com objetivo de determinar o dia típico de irradiação e potência máxima, mas devido ao volume de informações, estes gráficos não serão trazidos para este estudo.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das análises das irradiações diárias, de todos os dias dos meses de junho até outubro, foram selecionados cinco dias, com característica de céu limpo (sem nebulosidade) para serem analisados e comparados. O primeiro dia selecionado foi 17/06/17, para representar um dia típico pré-limpeza. As limpezas foram executadas nos dias 26/06/17 e 28/06/17, no EV e na sede Neoville, respectivamente.
Em seguida, o dia 13/07/17 foi selecionado para a análise pós-limpeza. No período após a limpeza, o dia da segunda quinzena de agosto, até 21 de setembro, houve estiagem, onde o dia mencionado foi selecionado para análise. Após essa data, segundo dados do INMET, houve um período de chuva, totalizando 67mm e o dia 04/10/17 foi selecionado para estudo do efeito pós-estiagem. O período chuvoso permaneceu por mais alguns dias, sendo registrados mais 173mm de chuva, e por final foram levantados dados do dia 28/10/17 para análise após um período de altos índices acumulativos de pluviosidade.
Levando em consideração os dias escolhidos, o dia 21/09/17 que foi o dia analisado para a estiagem, e o dia 04/10/17, que foi o dia analisado pós-estiagem, houve uma média de pluviosidade de 5,18mm por dia. Comparando o dia 04/10/17 com o dia 28/10/17, houve uma média de 7,23mm de chuva por dia.
Na Fig. 3 é apresentado um gráfico da irradiância no plano horizontal, demonstrando o perfil dos dias elencados. Nota-se que para os meses de inverno, junho e julho, os níveis de irradiação são menores, e conforme os meses vão avançando, os níveis de irradiação se mostraram mais elevados. Também é possível observar que nas datas de setembro e outubro, há um período maior do dia com incidência de raios solares, conforme esperado.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
114
Figura 45 - Irradiância no plano horizontal.
Na Fig. 4 são apresentados os gráficos das potências registradas nos sistemas fotovoltaicos conectados à rede no EV e no Neoville, para os dias elencados, em que mostram a variação dos níveis de potência conforme a irradiação solar presentes nos locais onde estão instalados.
Figura 46 - Potência no EV e Neoville.
Conforme mencionado anteriormente, o software RADIASOL foi utilizado para o cálculo dos níveis de irradiação no plano do painel fotovoltaico, e dessa forma pode-se fazer algumas observações conforme resultados apresentados nos gráficos da Fig. 4. Para o período de inverno, o painel do sistema fotovoltaico do Neoville, com inclinação igual à latitude, 25º, apresenta um maior favorecimento, com irradiação total maior. Ao contrário acontece no período do verão, onde sistemas fotovoltaicos com menor inclinação, como o do EV, com 15º, apresentam favorecimento, o que influencia diretamente na potência gerada nestes sistemas.
Com relação à queda de potência observada no SFVCR do EV e do Neoville, podem ser justificadas devido à ocorrência de sombreamento por nuvens, ou por desligamento da rede destes sistemas, ou ainda, falha do sistema de monitoramento.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
115
Na Tab. 1 são apresentados os dados de irradiação no plano horizontal e no plano dos módulos, a eletricidade gerada pelos dois sistemas fotovoltaicos estudados e a precipitação para os dias elencados.
Tabela 14 - Dados obtidos para a análise dos dias selecionados. Dia 17/06/17 13/07/17 21/09/17 04/10/17 28/10/17
Irradiação total no plano horizontal [Wh/m²]
4.205,22 4.182,95 6.298,34 7.140,90 7.675,30
Irradiação no plano do painel EV [Wh/m²] 5.142,00 4.984,00 6.827,00 7.322,00 7.562,00
Irradiação no plano do painel Neoville[Wh/m²]
5.738,00 5.490,00 7.060,00 7.270,00 7.270,00
Eletricidade gerada EV[kWh] 7,99 8,49 10,82 12,91 13,37
Eletricidade gerada Neoville [kWh] 49,4 49,8 58,2 65,2 65,2
Precipitação [mm] --- --- --- 67,4 173,6
Analisando a Tab. 1, são feitas análises comparativas da irradiação no plano do painel e da produção de energia em cada um dos sistemas fotovoltaicos.
A primeira análise remete ao período pré e pós-limpeza, ou seja, os dias 17/06/17 e 13/07/17. Analisando a irradiação no plano do painel, nota-se que para o EV houve um decréscimo de 3,07% e no Neville de 4,23%, sendo que a eletricidade gerada obteve crescimento de 6,27% para o EV e 0,81% para o Neoville.
A segunda análise é a comparação entre o dia pós-limpeza, 13/07/17 e o dia 21/09/17, data selecionada após um período longo sem chuvas. Analisando a irradiação no plano dos painéis, no EV houve um aumento de 36,98%, ao passo que a eletricidade gerada aumentou apenas 27,40%, números esses que demonstram que o período sem chuvas fez o sistema cair de produção. O mesmo acontece com o Neoville, que teve um aumento de irradiação de 28,60%, porém um aumento de somente 16,87% na eletricidade gerada.
A próxima análise é entre o dia de estiagem, 21/09/17 e o dia pós longo período de chuvas, 04/10/17. Comparando os dados de irradiação no plano do painel, no EV, observa-se que houve um aumento de 7,25% na irradiação total e um aumento de 19,33% na eletricidade gerada. No Neoville manteve-se a tendência, aumentando a irradiação total em 2,97% e a energia total gerada em 12,03%. Esses dados demonstram a efetividade da autolimpeza, pois após um período de seca, um alto volume de chuva surtiu grande efeito na taxa de desempenho dos sistemas fotovoltaicos, fazendo aumentar de 75,47% para 83,97% no EV, e de 80,82% para 87,93% no Neoville.
A última análise é feita após um período de muitas chuvas, onde o sistema apresentou pouco diferença percentual nos dados, visto a proximidade dos dias, tendo assim pouco tempo para acumular sujeira.
Foram realizados os cálculos da produtividade e da taxa de desempenho, para facilitar a análise dos dias estudados, conforme apresentado nas Tab. 2 e Tab. 3.
Tabela 15 - Cálculo da produtividade e da taxa de desempenho para o EV EV
Dia 17/06/17 13/07/17 21/09/17 04/10/17 28/10/17 YIELD [kWh/kWp] 3,81 4,04 5,15 6,15 6,36
PR [%] 74,01 81,14 75,47 83,97 84,17
Tabela 16 - Cálculo da produtividade e da taxa de desempenho para o Neoville
NEOVILLE Dia 17/06/17 13/07/17 21/09/17 04/10/17 28/10/17
YIELD [kWh/kWp] 4,84 4,88 5,71 6,39 6,39 PR [%] 84,40 88,93 80,82 87,93 87,93
Engenharia no Século XXI – Volume 18
116
Analisando os dados de YIELD, percebe-se que com o passar do inverno, com dias mais longos, a produtividade aumenta. A taxa de desempenho permite uma análise mais focada na performance do sistema com relação à sujeira. Analisando os dados para antes da limpeza, 17/06/17, e após a limpeza, 13/07/17, nota-se que em ambos os casos houve aumento, o que pode ser remetido à limpeza efetuada.
Comparando com o dia 21/09/17, que foi o dia estudado após o período de estiagem, percebe-se que os níveis de taxa de desempenho ficaram parecidos com os obtidos no dia 17/06/17, antes da limpeza, ou seja, o período de seca apresentou alta influência sobre o desempenho dos sistemas fotovoltaicos.
Analisando o dia 04/10/17, após um longo período de chuvas, novamente há um crescimento na taxa de desempenho, o que indica que a autolimpeza realizada pela chuva é bastante eficiente. Com relação ao último dia, os valores permaneceram praticamente os mesmos, o que indica que não houve tempo hábil para o acúmulo de sujeira e a chuva não teve uma ação muito determinante.
Com isso, pode-se afirmar que a taxa de desempenho apresentou crescimento nos dois casos, o que permite concluir que os dois sistemas apresentavam sujeira e que a limpeza surtiu grande efeito nos dois painéis.
4. CONCLUSÃO
Por meio da metodologia proposta neste trabalho, foi possível determinar o impacto da sujidade no rendimento dos sistemas analisados. Para isso, a aplicação do software RADIASOL se fez necessário, pois como os dois sistemas fotovoltaicos analisados estão instalados em diferentes angulações e desvios azimutais, e como a análise é feita através de vários meses, passando por diferentes estações do ano, cada uma das inclinações é favorecida em determinado período do ano. Como consequência, a máxima elevação acima do horizonte, durante o dia, muda. Durante o inverno sendo mais inclinado e durante o verão mais a pino. Assim, o sistema com inclinação de 25º tem mais vantagem no inverno, enquanto a de 15º, mais vantagens no verão.
A análise dos dias dos meses de junho até outubro foi feita para que se pudessem escolher dias com características semelhantes, que apresentasse curva de irradiação característica sem presença de nuvens. O estudo dos dados resultou em poucos dias para serem analisados, sendo escolhidos os dias 17/06, 13/07, 21/09, 04/10 e 28/10, cada um representando um período e situação diferente.
Os dados do INMET foram confrontados com os dados do piranômetro termoelétrico instalado na UTFPR campus centro, cabendo ressaltar que os sensores do INMET estão instalados afastados dos sistemas analisados, justificando alguma diferença de queda de potência, como ocorreu no dia 28/10, devido a uma possível nebulosidade ou desligamento. A intenção era de analisar a confiabilidade dos dados coletados na universidade, os quais se mostraram bastante positivos. Os dados do piranômetro não foram inseridos e nem utilizados nos cálculos apresentados.
Os dados de geração de energia elétrica e de potência foram obtidos acessando a memória de massa dos inversores instalados. Com isso foi possível o desenvolvimento das tabelas e comparações apresentadas.
Como pode ser observado nas tabelas apresentadas, a limpeza programada dos sistemas fotovoltaicos surtiu bastante efeito no desempenho do sistema. Após o período sem chuvas, o desempenho foi afetado basicamente pelo grande acúmulo de sujeira, no EV por estar localizada na região central da cidade, prioritariamente por fuligem, e no Neoville mais caracterizada por poeira.
A autolimpeza se mostrou bastante efetiva nos dois sistemas fotovoltaicos, como pode-se observar na Tabela 2 e Tabela 3, as quais mostram as taxas de desempenho. A autolimpeza fez o sistema apresentar praticamente o mesmo desempenho que teve após a limpeza.
Analisando a Tabela 2 e a Tabela 3, observa-se que a limpeza aparentemente surtiu menos efeito no Neoville, o que pode ser explicado pelo fato do EV sujar mais rapidamente, e quando a limpeza foi realizada, ainda não havia a real necessidade de ser realizada na sede Neoville, por ainda não apresentar uma queda de rendimento alta o suficiente que justificasse o serviço.
Uma explicação para o menor acúmulo de sujeira no Neoville é a sua inclinação maior, 25º, comparada com o EV com 15º, o que otimiza a autolimpeza, diminuindo a periodicidade de limpezas programadas.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
117
REFERÊNCIAS
[1] Abdeenm E., Orabi, M., Hasaneen, E.S., 2017. Optimum Tilt Angle for Photovoltaic System in Desert Environment, Solar Energy, vol. 155, pp. 267–280.
[2] AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2018a. “Banco de Informações de Geração”: Disponível em < http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm> Acesso em: 23 Jan. 2018.
[3] AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2018b. “Registros de Micro e Minigeradores distribuídos efetivados na ANEEL”. Disponível em <http://www2.aneel.gov.br/scg/gd/GD_Fonte.asp>. Acesso em: 23 Jan. 2018.
[4] Almeida, L. T., 2015. Implantação de um Piranômetro Termoelétrico na UTFPR para Análise do Potencial de Energia Solar Nesta Localidade, Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Elétrica), UTFPR. Curitiba-PR, pp. 94.
[5] Baltus, C.W.A., Eikelboom, J.A., van Zolingen, R.J.C., 1997. Analytical Monitoring of Losses in PV Systems, 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp. 5.
[6] Benedito, R. S., 2009. Caracterização da Geração Distribuída de Eletricidade por Meio de Sistemas Fotovoltaicos Conectados à Rede, no Brasil, sob os Aspectos Técnico, Econômico e Regulatório, Dissertação de Mestrado, USP, São Paulo.
[7] Bhol, R., Dash, R., Pradhan, A., Ali, S.M., 2015. Environmental Effect Assessment on Performance of Solar PV Panel, International Conference on Circuit, Power and Computing Technologies, pp. 5.
[8] Chen, B., Ye, L., Cui, T., Bi, W., 2015. Power Loss Analysis for Low-voltage Distribution Networks with Single-Phase Connected Photovoltaic Generation, 5th International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies, pp. 6.
[9] INMET, 2017. Disponível em: http://www.inmet.gov.br/>. Acesso em: 30 out. 2017.
[10] Marion, B., Adelstein, J., Boyle, K., Hayden, H., Hammond, B., Fletcher, T., Canada, B., Narang, D., Shugar, D., Wenger, H., Kimber, A., Mitchell, L., Rich, G., Townsend, T., 2005. “Performance Parameters for Grid-Connected PV Systems”, 31st IEEE Photovoltaics Specialists Conference and Exhibition, Florida.
[11] Mondoc, B., Pop, F., 2010. Factors Influencing the Performance of a Photovoltaic Power Plant, 3rd International Conference on Modern Power Systems, pp. 6.
[12] Oliveira, S. H. F., 2002. Geração Distribuída de Eletricidade; Inserção de Edificações Fotovoltaicas à Rede no Estado de São Paulo, Tese de Doutorado, USP, São Paulo.
[13] Pereira, E. B., Martins F. R., Gonçalves, A. R., Costa, R. S., Lima F. J. L., Rüther, R., Abreu S. L., Tiepolo, G.M., Pereira, S.V., Souza, J. G., 2017. Atlas Brasileiro de Energia Solar. 2. ed. São José dos Campos: TBN, pp. 88.
[14] REN21. 2017. Renewables 2017 Global Status Report (Paris: REN21 Secretariat). Disponível em <http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/17-8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf2017>. Acesso em: 09 Nov. 2017.
[15] Sarver, T., Qaraghuli, A.A., Kaz,erski, L.L., 2013. A comprehensive review of the impact of dust on the use of solar energy: History, investigations, results, literature, and mitigation approaches, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 22, pp. 698–733.
[16] Tonolo, E.A., Mariano, J.D., das Neves, C.E.T., Silva, A.P.M., Urbanetz Jr, J., 2017. Estudo da Redução do Desempenho Devido ao Efeito da Sujeira nos Sistemas Fotovoltaicos da UTFPR – Câmpus Curitiba, Smart Energy, pp. 5.
[17] Tyagi, V.V., Rahim, N.A.A., Rahim, N.A., Selvaraj, J.A.L., 2013. Progress in solar PV technology: Research and achievement, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 20, pp. 443-461.
[18] Urbanetz Jr, J., Tiepolo G. M., Casagrande JR, E. F., Tonin F. S., Mariano, J. D., 2016. Geração Distribuída Fotovoltaica: O Caso dos Sistemas Fotovoltaicos da UTFPR em Curitiba, X CBPE, Congresso Brasileiro de Planejamento Energético, pp. 12.
[19] Urrejola, E., Antonanzas, J., Ayala, P., Salgado, M., Sagner, G.R., Costés, C., Pino, A., Escobar, R., Effect of Soiling and Sunlight Exposure on The Performance Ratio of Photovoltaic Technologies in Santiago, Chile, Energy Conversion and Management, vol. 114, pp. 338–347.
[20] Wu, T.F., Chang, C.H., Chang, Y.D., Lee, K.Y., 2009. Power Loss Analysis of Grid Connection Photovoltaic Systems, International Conference on Power Electronics and Drive Systems (PEDS), pp. 6.
[21] Xu, R., Ni, K., Hu, Y., Si, J., Wen, H., Yu, D., 2017. Analysis of the Optimum Tilt Angle for a Soiled PV Panel. Energy Conversion and Management, vol. 148, pp. 100–109.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
118
Capítulo 11 Sensores a fibra óptica baseados em redes de Bragg aplicados no monitoramento de temperatura de painéis fotovoltaicos
Carlos Henrique Palma Kotinda
Valmir de Oliveira
João Paulo Bazzo
André Eugênio Lazzaretti
Clayton Hilgemberg da Costa
Jean Carlos Cardozo da Silva
Resumo: Este capítulo apresenta um estudo da aplicação de sensores de temperatura
utilizando redes de Bragg em fibra óptica (FBG) no monitoramento térmico de módulos
fotovoltaicos. A planta em operação e instrumentada com os sensores a fibra óptica está
conectada à rede elétrica, instalada no telhado do Escritório Verde, prédio pertencente à
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) em Curitiba, PR. Foram instalados
20 sensores em um único módulo de uma planta e um sensor medindo a temperatura
ambiente. O ambiente monitorado sofre ações de intempéries como ventos, chuva, e
grande variação de temperatura ao longo do dia e das estações do ano, o que justifica a
utilização dos sensores em fibra óptica, pois, são robustos e com pequenas dimensões,
praticamente imperceptíveis quando instalados externamente, não causando
sombreamento sobre o módulo. Além disso, eles também podem ser instalados
internamente fazendo do módulo uma estrutura inteligente. Os resultados possibilitam
a detecção de falhas e avarias no módulo, bem como a verificação de perdas na eficiência
causadas pela temperatura, onde houve registro acima de 70ºC durante a operação.
Palavras-chave: Monitoramento temperatura, Sensores a fibra óptica, Painel fotovoltaico
Engenharia no Século XXI – Volume 18
119
1. INTRODUÇÃO
Tendo em vista a redução no uso dos combustíveis fósseis e, consequentemente, a atenuação do impacto das mudanças climáticas, nas últimas décadas evidenciou-se uma crescente busca pelas energias renováveis, tais quais a energia hídrica, eólica e solar. Dentre as energias de fontes renováveis, a energia solar fotovoltaica tem apresentado um crescimento muito expressivo, tendo somado 42,5% de todo investimento da categoria em 2019 (JÄGER-WALDAU, 2019). Entre os fatores responsáveis por esse investimento, está o fato de apresentar vantagens relevantes quando comparadas as demais energias renováveis. Uma destas vantagens é que uma planta fotovoltaica gera uma quantidade muito baixa de ruídos e vibração, o que difere muito dos geradores eólicos, por exemplo.
Porém, o uso da energia solar fotovoltaica apresenta outros pontos importantes que devem ser levados em consideração. Um destes pontos é o fato de que a maior parte da planta tem de ser instalada de forma que fique diretamente exposta ao ambiente externo. Isto implica em uma alta probabilidade de ocorrência de falhas que podem reduzir drasticamente sua geração, além de, até mesmo, apresentar riscos de incêndio. Assim, a união de técnicas de detecção e identificação de falhas e de sistemas de monitoramento de plantas fotovoltaicas pode permitir um acompanhamento mais apropriado de seu funcionamento, além de otimizar o seu processo de manutenção.
Neste contexto, diversos sistemas de detecção de falhas têm sido propostos na literatura. Entre estes, podem ser encontrados sistemas de caráter visual, com inspeção humana, como o apresentado em (PACKARD et al., 2012), bem como os que utilizam técnicas de termografia, como as propostas apresentadas em (TSANAKAS; BOTSARIS, 2012), (HU et al., 2014), (TSANAKAS et al., 2015), (SINHA et al., 2016) e (TSANAKAS et al., 2017). Estes métodos, porém, se mostram um tanto limitados quanto às falhas que podem ser detectadas, bem como a escalabilidade para plantas de maior porte.
Outra categoria de sistemas propostos é a de métodos puramente matemáticos, tais quais os sistemas propostos em (CHINE et al., 2014), (MADETI; SINGH, 2017) e (MANSOURI et al., 2018). Estes métodos possuem um potencial de escalabilidade muito maior do que dos métodos visuais e termográficos, porém ainda apresentam a limitação na quantidade de falhas que podem ser detectadas.
Uma terceira categoria engloba os métodos baseados em técnicas de inteligência artificial, como os apresentados em (CHINE et al., 2016), (LI et al., 2017), (GAROUDJA et al., 2017) e (CHOUAY; OUASSAID, 2018). Estes métodos também apresentam boa escalabilidade para plantas maiores e, ainda, apresentam a capacidade de se detectar uma gama maior de falhas, além de, em muitos casos, se classificar qual falha está ocorrendo no sistema monitorado.
Um ponto comum aos métodos de detecção de falhas é o uso da temperatura como variável chave para detecção da maioria das falhas em sistemas fotovoltaicos (MADETI; SINGH, 2017b). Falhas como curto-circuito, falha no diodo de bypass, circuito aberto, sombreamento e degradação podem causar diferenças de temperatura entre os diversos pontos do módulo fotovoltaico na ordem de 10°C. Por esta razão é muito importante o monitoramento da temperatura em vários pontos nos módulos, a fim de identificar possíveis falhas com a máxima brevidade, garantindo o rendimento da planta como um todo (Garcia et al., 2012).
Diversos são os métodos e tipos de sensores que podem ser aplicados para medição da temperatura dos módulos fotovoltaicos, porém, é imprescindível evitar que os sensores façam sombreamento sobre as células, com a finalidade de não reduzir a produção de energia. Sensores muito utilizados e já consolidados, principalmente em ambientes industriais, são os termopares e os sensores termo resistivos como o PT100. Sensores de estado sólido também podem ser utilizados, principalmente pela possibilidade da opção do sinal de saída para monitoramento, onde pode ser analógico ou digital, normalmente utilizados em ambientes industriais devido a compatibilidade com demais instrumentos e controladores. Para a aplicação fotovoltaica existe o problema do tamanho e forma de instalação destes sensores. Na atualidade não há, comercialmente, dispositivos prontos para a instalação nos módulos, sendo necessário, portanto, desenvolver suportes para essa fixação. A quantidade de cabos, onde cada sensor tem o seu, também contribui para que a instalação seja mais demorada e, muitas vezes, mais onerosa. Para uma planta fotovoltaica de larga escala, em que o número de módulos é consideravelmente grande, pode ser inviável a utilização desses tipos de sensores quando se deseja monitorar todos os módulos, já que são mais adequados para medições pontuais.
Este trabalho apresenta uma solução alternativa para medição de temperatura em módulos fotovoltaicos utilizando sensores baseados em fibras ópticas, a qual será aplicada em módulos operando em uma planta real, conectada à rede da concessionária de energia elétrica, onde o sistema está exposto a diversos fatores ambientais. Para a instrumentação, serão utilizadas as redes de Bragg em fibra óptica (FBG) como sensor
Engenharia no Século XXI – Volume 18
120
de temperatura, monitorando simultaneamente 21 pontos fixos ao longo de um módulo fotovoltaico. Este tipo de sensor é multiplexado, onde todos os sensores são inseridos em um mesmo segmento de fibra óptica, com poucos metros de comprimento no caso em estudo, todavia, podem ser aplicados em grandes distâncias na ordem de quilômetros, e em ambientes sujeitos a interferências eletromagnéticas, apresentando baixa atenuação no sinal, aproximadamente 0,2dB/km, e imunidade a uma variedade de agentes químicos devido a sua composição (Sílica - SiO2). Destaca-se que este tipo de sensor já é utilizado há décadas em diversas aplicações em monitoramento de temperatura como em hidrogeradores, trocadores de calor, motores de indução, entre outras (Sousa et al., 2011). Um trabalho recente desenvolvido por Santolin et al., 2016, já demonstrou a viabilidade para realizar a mediação direta da temperatura de um painel solar utilizando sensores com tecnologia FBG. Os resultados mostraram desempenho superior às imagens geradas por câmeras térmicas, além disso, a instrumentação ótica não interferiu na eficiência do módulo, mesmo quando fixados na superfície externa do painel fotovoltaico. O presente trabalho propõe a utilização da mesma tecnologia de sensores, porém com instrumentação da superfície interna do módulo, ou seja, parte traseira do painel, visando uma instalação robusta sem comprometer o desempenho das medições, evitando os principais problemas relacionados à exposição da fibra na parte frontal.
1.1 CARACTERÍSTICAS DAS REDES DE BRAGG EM FIBRA ÓPTICA - FBG
Rede de Bragg em fibra óptica (FBG) é uma alteração periódica do índice de refração no núcleo de uma fibra. Para um pequeno intervalo de comprimentos de onda, em torno do comprimento de onda de Bragg (λB), uma porção da luz é refletida pela rede. Ao provocar variação em parâmetro físico, tal como em temperatura ou deformação sobre a FBG, ocorre um desvio no λB, correlacionado àquela variação física. Neste trabalho, foram utilizadas FBGs uniformes (período e índice de refração uniforme). De acordo com a lei de Bragg, dada pela Eq. (1), o espectro refletido é centralizado próximo ao comprimento de onda de Bragg (λB) (OTHONOS; KALLI, KASHYAP, 1999):
λB = 2neffΛ (1)
onde, neff é o índice efetivo de refração do núcleo da fibra e Λ é o período de modulação do índice de refração. A Eq. (1), também conhecida como comprimento de onda de reflexão de Bragg, determina o comprimento de onda de pico da componente espectral de banda estreita refletida por cada FBG gravada ao longo da fibra óptica. A Eq. (1) também mostra que o comprimento de onda de Bragg é uma função de Λ e neff. Assim, pode-se concluir que uma deformação longitudinal, em virtude de uma força externa, pode alterar tanto o Λ como neff, a última pelo efeito fotoelástico e o primeiro pelo aumento do período da rede. Igualmente, a variação de temperatura também pode alterar ambos os parâmetros através da dilatação térmica e do efeito termo-óptico, respectivamente, conforme Eq. (2) (OTHONOS; KALLI, KASHYAP, 1999):
O segundo termo da equação representa o efeito da temperatura (T) na fibra ótica. O deslocamento no comprimento de onda de Bragg, devido à expansão térmica, resulta da modificação no espaçamento da rede e mudança do índice de refração. Esse deslocamento, para uma variação de temperatura ΔT, pode ser escrita pela Eq. (3) (OTHONOS; KALLI, KASHYAP, 1999):
(2)
Engenharia no Século XXI – Volume 18
121
Os coeficientes foto-elástico e termo-ótico, presentes na Eq. (2), para a sílica empregada na produção das fibras, determinam que as características das redes de Bragg sejam afetadas, quer pela aplicação de tensão mecânica, quer pela temperatura, respectivamente. Isso torna as redes de Bragg em elementos sensores para essas grandezas, podendo ser incorporados facilmente a enlaces em fibra óptica. A Fig. 1 ilustra a caracterização de um sensor térmico FBG. A mesma figura apresenta a variação do comprimento de onda da rede de Bragg em função da variação da temperatura. Na Fig.1a, pode-se obter a razão entre a variação no comprimento de onda (ΔλB) e a correspondente variação de temperatura (ΔT), resultando na sensibilidade das FBGs, normalmente apresentada em pm/°C.
Figura 1- a) Gráfico de Comprimento de onda de Bragg versus Temperatura, b) Espectro de reflexão da luz
(a) (b) Fonte: Adaptado de Othonos (1999)
A Fig. 1b ilustra o espectro da luz do mesmo sensor FBG da Fig. 1a, mostrando o espectro da fonte óptica, o espectro de transmissão da luz e também o espectro de reflexão da luz, este último é o monitorado nos sensores instalados no módulo fotovoltaico deste trabalho.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para o estudo em questão foram utilizadas FBGs uniforme, todas produzidas no Laboratório de Fotônica (FOTON) da UTFPR-Curitiba, com a técnica de exposição laser diretamente sobre máscara de fase. As gravações foram realizadas em fibra óptica de sílica, monomodo padrão de telecomunicações (SMF G-652). Foram gravados, em um mesmo segmento de fibra, 21 sensores para serem aplicados na instrumentação do módulo fotovoltaico, onde daqueles sensores, 20 foram fixados na parte posterior do módulo e 1 sensor montado externamente ao módulo para medição da temperatura ambiente.
Na produção das redes de Bragg foram utilizadas máscaras de fase (IBSEN PHOTONICS®) com diferentes períodos, usando o Laser Excímero ArF Xantus Coherent® em 193nm, com um tempo de exposição de 2 minutos, energia de 1,5mJ/pulso e taxa de repetição de 250 Hz.
Para todas as FBGs foram armazenados os espectros em reflexão a partir de um analisador de espectro óptico (OSA) YOKOGAWA® AQ6375B que mede longos comprimentos de onda na faixa de 1200 nm a 2400 nm, e um interrogador de redes de Bragg IBSEN® I-MON 512E-USB2. Após a produção de todos os sensores e caracterização espectral do conjunto, a fibra óptica com as 21 FBGs foi encapsulada com um tubo flexível produzido em elastômero de poliéster termoplástico, conhecido como Hytrel®, totalizando um segmento com 6,8 m de comprimento. A Fig. 2 apresenta o cordão óptico com conector FC-PC, necessário para a conexão do segmento de fibra, com os sensores no instrumento de medição.
(3)
Engenharia no Século XXI – Volume 18
122
Figura 2- Fibra óptica encapsulada com elastômero de poliéster termoplástico
Fonte: Os Autores (2017)
O tubo capilar elastomérico utilizado no encapsulamento foi o FT900SM, fornecido pela THORLABS®, com 900µm de diâmetro externo e 500µm de diâmetro interno. A fibra óptica padrão apresenta diâmetro com recobrimento primário (acrilato) de 250µm, dessa forma, a inserção da fibra no encapsulamento é facilitada, e com a folga nas dimensões, a fibra não sofrerá deformação com a dilatação do encapsulamento. A tensão de ruptura do encapsulamento é de 44MPa. A temperatura de fusão deste é de aproximadamente 203ºC, o que permite sua aplicação em módulos fotovoltaicos. As duas extremidades do encapsulamento foram vedadas para não haver a entrada de umidade, ficando somente ar confinado entre o tubo de encapsulamento e a fibra óptica.
Para a aquisição dos dados é utilizado interrogador IBSEN® I-MON 512E-USB2 e para a caracterização dos sensores o banho térmico LAUDA® ECO GOLD RE415. Para a calibração, o software utilizado para aquisição dos dados e manipulação destes não é de uso comercial e foi desenvolvido pela UTFPR para essa finalidade, contudo, há comercialmente diversos sistemas de aquisição de sinal de sensor FBG. Aquele software, após parametrizado pelo usuário, controla automaticamente o processo de caracterização dos sensores, tendo interface e controle do interrogador e do banho térmico durante o teste. Com a finalidade de obter o tempo de resposta à temperatura dos sensores encapsulados foram repetidos cinco vezes um mesmo procedimento para minimizar o erro nas leituras. Para o teste da fibra encapsulada utilizou-se somente um sensor dos 21 existentes. A temperatura ambiente era de 22ºC e a temperatura do banho térmico ajustada em 40ºC. O procedimento consiste em mergulhar o sensor no banho térmico monitorando simultaneamente via software o tempo e a variação no comprimento de onda até sua estabilização na nova temperatura.
A Fig. 3 mostra a sistema de caracterização dos sensores. Através do do interrogador ligado ao computador são feitas as aquisições de tempo e comprimento de onda. Na mesma figura ainda pode ser visto o cabo óptico ligado ao interrogador levando a FBG ao banho térmico.
Figura 3- Sistema de monitoramento e caracterização das FBGs.
Fonte: Os Autores (2017)
Engenharia no Século XXI – Volume 18
123
Após a realização dos testes para obtenção do tempo de resposta à temperatura do sensor é realizada a caracterização da rede para determinação da sensibilidade deste, aplicando o mesmo sistema.
O procedimento para caracterizar os sensores é realizado da seguinte forma: 5 patamares de temperatura com variação de 10ºC, no intervalo entre 10ºC e 60ºC. O procedimento é repetido cinco vezes. Cada patamar de temperatura apresenta duração aproximada de 12 minutos; no ciclo de aquecimento a transição térmica dura aproximadamente 3 minutos e na fase de resfriamento 10 minutos. Em cada patamar térmico a aquisição de dados (comprimentos de onda) é feita em taxa de 1 Hz, depois calculada a média para o comprimento de onda. O processo foi repetido para todos os patamares. Na seção 3 é a apresentada a Tab. 1a, a qual reúne os dados processados, resultantes das aquisições descritas para os comprimentos de onda de Bragg, e a Tab. 1b mostra a sensibilidade do sensor.
Após a realização dos testes de tempo de resposta e da calibração os sensores foram instalados na parte traseira do painel fotovoltaico KYOCERA® KD210GX-LP. A fixação da fibra foi feita com Etil cianoacrilato LOCTITE® 495 ADESIVO INSTANTÂNEO e silicone para reforçar a aderência. Os pontos da fibra onde os sensores estão localizados foram fixados de forma a maximizar o contato com o módulo, a fim de garantir correta medição da temperatura naquele ponto da superfície. A Fig. 4 mostra a posição dos sensores e o segmento de fibra óptica na parte traseira do módulo fotovoltaico.
Figura 4- Dimensões do módulo e posição dos sensores na parte traseira do módulo fotovoltaico.
Fonte: Os Autores (2017)
Na Fig. 5a é possível verificar a localização do módulo fotovoltaico instrumentado dentro da planta e em Fig. 5b o segmento de fibra encapsulada com os sensores colados na parte traseira do painel. No procedimento de colagem foi tomado o cuidado de não utilizar cola sobre o sensor. Foram feitos dois pontos de fixação na fibra com o sensor ao centro. Tal procedimento garante que o adesivo não interfira na dissipação ou propagação de temperatura.
Figura 5- a) Módulo monitorado, b) Enlace de fibra óptica, c) detalhe de fixação do sensor.
Fonte: Os Autores (2017)
Engenharia no Século XXI – Volume 18
124
Após realizada a instrumentação do módulo, a fibra óptica com os sensores foi emendada em um trecho de fibra monomodo para uso externo. Dessa forma, o conjunto de sensores pode ser lido pelo interrogador instalado dentro do Escritório Verde, em uma sala em que foi montado um armário metálico para armazenamento dos equipamentos de medição. Dentro desse armário constam: um interrogador IBSEN® I-MON 512E-USB2, um computador notebook Positivo® com processador Intel Celeron® e sistema operacional Windows 7, ponto de rede ethernet e ponto de tomada 127Vca. A fibra óptica lançada foi conectorizada com o conector FC/PC para conexão no interrogador. A Fig. 6 mostra o armário metálico e o detalhamento do sistema de monitoramento de temperatura.
Figura 6- a) Painel, b) Equipamentos internos no painel, c) sistema de monitoramento de temperatura.
(a) (b) (c)
Fonte: Os Autores (2017)
A aquisição dos dados iniciou no mês de agosto de 2017 e foi realizada diariamente a cada 30 segundos durante 3 meses. Os dados foram lidos e registrados pelo software I_MON_Ext_Evaluation_4.0.vi, desenvolvido pelo mesmo fabricante do interrogador. Os valores em comprimento de onda (nm) de cada sensor, como mostrado, apresentam correlação linear com a temperatura na região de cada sensor. Com o auxílio do software Microsoft Excel realizou-se as operações de conversão de comprimento de onda em temperatura, bem como as médias. Para o monitoramento e controle foi empregado o software Team Viewer, disponível com licença gratuita, possibilitando o acesso remoto a partir de outros computadores via internet, não sendo necessário, portanto, estar presente no local da instalação.
3.RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para conhecer o impacto do encapsulamento na sensibilidade do sensor foram realizadas diversas medições de comprimento de onda por intermédio do banho térmico e do interrogador I-MON com a finalidade de verificar o tempo de resposta à variação de temperatura e calibrar os sensores para obter medição correta. Após calibração, os sensores foram montados no módulo em operação e iniciou-se o monitoramento da temperatura.
3.1 TEMPO DE RESPOSTA
Os tempos de resposta à temperatura da fibra encapsulada são mostrados na Fig. 7. A figura aponta o intervalo de tempo para a fibra passar da temperatura ambiente (22ºC) até 40ºC ao ser mergulhado no banho térmico. Por definição, o tempo de resposta consiste no intervalo compreendido entre 10% e 90% da variação máxima no comprimento de onda. A Fig. 7 mostra aquela transição e também os correspondentes comprimentos de onda nos limites do intervalo considerado.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
125
Figura 7- Gráfico de tempo de resposta à temperatura
Fonte: Os Autores (2017)
Ao subtrair o tempo final e inicial foi encontrado o valor de 1,57 s de tempo de resposta à variação de 14,08°C, ou seja, 111,5 ms/°C. É preciso registrar que para essa ação deve-se considerar o comportamento do gráfico praticamente uma reta nesse intervalo, o que é um valor aceitável para a aplicação em módulos fotovoltaicos, onde a temperatura não terá variações em intervalos menores que este tempo de resposta.
3.2 PARÂMETROS DE CALIBRAÇÃO
A sensibilidade foi calculada pela média dos comprimentos de onda de Bragg por patamar de temperatura e são mostrados nas Tab. 1a e Tab. 1b. A sensibilidade para a fibra encapsulada, empregando valores de temperatura estabilizados, foi de aproximadamente 10pm/ºC e com uma incerteza de 0,04%.
Tabela 1 – a) Média dos comprimentos de onda de Bragg, b) Média das sensibilidades em pm/°C
(a) (b) Fonte: Os Autores (2017)
O comportamento dos sensores em redes de Bragg é praticamente linear, o que se confirmou na calibração, conforme Fig. 8.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
126
Figura 8- Gráfico de Comprimento de onda de Bragg versus Temperatura
Fonte: Os Autores (2017)
Baseado nesta linearidade do sensor calibrado, é possível considerar a mesma para os demais sensores. Para confirmação dos comprimentos de onda de Bragg de todos os sensores, além de calculado, foi gerado o espectro da rede dos 21 sensores através do software de interrogação já citado, medindo o pico de cada um, todos na mesma temperatura, conforme Fig. 9.
Figura 9- Espectro de 21 sensores FBG à 16°C
Fonte: Os Autores (2017)
Tendo esses valores de pico como referência, após a coleta dos dados, basta convertê-los para se obter a temperatura medida, utilizado o valor encontrado de 10pm/°C como referência.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
127
3.3 MONITORAMENTO E RESULTADOS
Os sensores, após montados no módulo, e todo o sistema de monitoramento pronto no Escritório Verde, conforme já detalhado na seção 2, iniciaram o monitoramento de temperatura em tempo real. A Fig. 10 e a Tab. 2 mostram a média de alguns valores de comprimento de onda de Bragg e temperatura, medidos pelos sensores FBG na data de 08 de setembro de 2017, no período de um dia (Fig. 10) e de alguns intervalos de tempo (Tab. 2). Esta data foi escolhida devido à grande variação de temperatura que ocorreu durante este dia. Para melhor visualização dos resultados, foram escolhidos seis pontos de amostragem no módulo, um em cada canto do módulo, e dois centrais, a fim de se ter um uma noção geral do comportamento do módulo, porém todos os 21 pontos são monitorados e serão apresentados em um trabalho posterior. O erro do instrumento de medição é de 0,5pm, ou seja, 0,05°C.
Figura 10- Temperatura medida por 6 sensores ao longo do dia 08/09/2017
Fonte: Os Autores (2017)
Na Fig. 10 é mostrada a variação da temperatura durante o dia 08 de setembro de 2017, no intervalo de 1h00min às 23h59min. As medições de temperatura foram realizadas a cada 30 segundos, porém para representação no gráfico da Fig. 10, foi transposto em segmentos de reta a cada 1 hora para melhor visualização. A variação de temperatura de cada ponto não se comporta da mesma forma. Está evidente que as maiores temperaturas coincidem com o período em que o módulo fotovoltaico está produzindo energia elétrica. É visível que antes das 7h00min e depois das 18h00min a temperatura não sofre grandes variações e se mantém mais constante (temperatura ambiente) contudo, nos demais intervalos, além da temperatura ser mais elevada, há vários pontos em que há picos e oscilação da temperatura, causados por diversos motivos como a exposição ao vento, sombreamentos causados por nuvens, à maior circulação de corrente elétrica nos períodos de maior radiação, etc. A análise mais pontual da temperatura é mostrada na Tab. 2.
É possível observar que nessa data, durante os seis intervalos de tempo analisados e mostrados na Tab. 2, as temperaturas medidas, inclusive no ponto 21 que mede a temperatura ambiente, mostram a eficácia deste tipo de sensoriamento. É visível também a variação de temperatura que o módulo fotovoltaico sofre, onde alguns pontos chegam a variar mais de 50°C durante o mesmo dia, principalmente no ponto 16, devido ao aumento da temperatura ambiente e ao aquecimento causado pela circulação de corrente elétrica nos horários de produção. Neste ponto é registrada uma temperatura média de 13,44°C entre 01h00min e 01h30min e 73,16°C entre 12h00min e 12h30min. É mostrado também que, dentro de um mesmo período de tempo, a temperatura entre os pontos monitorados tem uma variação entre elas, ou seja, o módulo não tem a mesma temperatura em todos os pontos, o que pode ser causado por diversos motivos, entre eles, a condição física da célula fotovoltaica. Uma grande variação foi registrada entre o ponto 5 e o ponto 16, em que a diferença de temperatura entre eles, no intervalo das 12h00min e
Engenharia no Século XXI – Volume 18
128
12h30min, ultrapassou 30°C. O ponto 5 destoou dos demais em todos os horários, e poderá ser objeto de uma análise mais detalhada para descoberta do motivo dessa grande variação de temperatura, onde pode ter sido causada por problemas de fixação da fibra no módulo, condições internas ao encapsulamento do sensor ou até mesmo problemas intrínsecos na célula fotovoltaica, pois de acordo com Herrmann [2010], após vários ciclos de temperatura, a ruptura dos conectores celulares é o fator dominante na degradação do módulo, justificando a menor temperatura nestes pontos em relação às células sem ruptura.
Tabela 2 – Relação de temperaturas e comprimentos de onda de Bragg medidos no módulo fotovoltaico
Fonte: Os Autores (2017)
4. CONCLUSÃO
Neste trabalho foi apresentada a implementação, caracterização, calibração e aplicação de sensores de temperatura em fibra óptica, neste caso FBG, para monitoramento de temperatura em um módulo fotovoltaico em operação. A aplicação se demonstrou robusta e eficaz, onde os sensores instalados permaneceram em funcionamento desde a instalação até a presente data deste trabalho. Durante todo esse período os sensores resistiram aos efeitos das intempéries como: umidade, ventos, calor, sujeira, etc. Uma grande vantagem desse tipo de sensoriamento é justamente a referida robustez e a não interferência por efeitos magnéticos, pois a fibra óptica é feita de sílica e transmite luz, diferente de qualquer outro sensor elétrico. O tamanho compacto dos sensores e a forma de aplicação na parte posterior do módulo os tornaram imperceptíveis, contribuindo para estética do ambiente. Em virtude de os sensores estarem dentro de uma fibra cuja espessura está na ordem de micrometros, existe a possibilidade dessa fibra ser montada dentro do módulo fotovoltaico, ou seja, os módulos já seriam fabricados com dispositivos de monitoramento de temperatura intrínsecos.
Referente à temperatura do módulo ficou comprovada a grande variação desta durante as horas de um dia, onde foi possível observar diferenças de temperaturas maiores que 50°C em um mesmo dia, o que pode ter sido ocasionado pela variação da temperatura ambiente e pela circulação de corrente elétrica durante a produção de energia. Também foram registradas temperaturas diferentes entre os diversos pontos do módulo, o que pode ser ocasionado por diversos fatores como: degradação das células, defeitos de fabricação, ou outros defeitos. Estes dados medidos possibilitarão a análise futura não só de defeitos como também do efeito da temperatura na eficiência do módulo fotovoltaico. A medição de temperatura ambiente é, do mesmo modo, útil para que se calcule o ΔT.
Outro ponto positivo que destacamos neste trabalho foi a possibilidade de monitoramento e controle remoto do sistema, onde um ou mais usuários puderam ter acesso a qualquer hora do dia e também simultaneamente.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
129
5. AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem ao Escritório Verde do campus Curitiba da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); à Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), à Fundação Araucária e à Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI) pelos financiamentos através de projetos.
REFERÊNCIAS
[1] CRESESB, 2006. Energia Solar Princípios e Aplicações, CEPEL, Sistema Eletrobras.
[2] CHINE, W.; MELLIT, A.; PAVAN, A. Massi; KALOGIROU, S. A. Fault detection method for grid-connected photovoltaic plants. Renewable Energy, Elsevier Ltd, v. 66, p. 99–110, 2014.
[3] CHINE, W.; MELLIT, A.; LUGHI, V.; MALEK, A.; SULLIGOI, G.; Massi Pavan, A. A novel fault diagnosis technique for photovoltaic systems based on artificial neural networks. Renewable Energy, Elsevier Ltd, v. 90, p. 501–512, 2016.
[4] CHOUAY, YASSINE; OUASSAID, MOHAMMED. An intelligent method for fault diagnosis in photovoltaic systems. Proceedings of 2017 International Conference on Electrical and Information Technologies, ICEIT 2017, v. 2018-Janua, p. 1–5, 2018.
[5] GAROUDJA, ELYES; CHOUDER, AISSA; KARA, KAMEL; SILVESTRE, SANTIAGO. An enhanced machine learning based approach for failures detection and diagnosis of PV systems. Energy Conversion and Management, Elsevier, v. 151, n. September, p. 496–513, 2017.
[6] DREYER, U. J., SILVA, E. V., DI RENZO, A. B., MEZZADRIa, F., KALINOWSKI, H. J., DE OLIVEIRA, V., MARTELLI, C., SILVA, J. C. C., 2015. Fiber Optic Temperature Sensing in Heat Exchangers and Bearings for Hydro Generators, J. Microwaves, Optoelectron. Electromagn. Appl., vol. 14, no. April, pp. 35–44.
[7] ESCRITÓRIO VERDE ON LINE Disponível em: <http://www.escritorioverdeonline.com.br/o-que-e-o-escritorio-verde/> Acesso em 31 de maio de 2016.
[8] GARCIA, S. B., ZANESCO, I., MOEHLECKE, A., FEBRAS, F. S., 2012. Análise por termografia de módulos fotovoltaicos com células solares com base n e diferentes malhas de metalização posterior. IV Congresso Brasileiro de Energia Solar e V Conferencia Latino-Americana da ISES – São Paulo, SP.
[9] HU, YIHUA; CAO, WENPING; MA, JIEN; FINNEY, STEPHEN J.; LI, DAVID. Identifying PV module mismatch faults by a thermography-based temperature distribution analysis. IEEE Transactionson Device and Materials Reliability, IEEE, v. 14, n. 4, p. 951–960, 2014.
[10] HUDON, C., GUDDEMI, C., GINGRAS, S., 2016. Rotor Temperature Monitoring using Fiber Bragg Gratings, no. June, pp. 19–22.
[11] HERRMANN, W.; How temperature cycling degrades photovoltaic-module performance. International society advancing an interdisciplinary approach to the science and application of light (SPIE) Newsroom. DOI: 10.1117/2.1201007.003177, 2010. Disponível em:<http://spie.org/x41305.xml>. Acesso em: 05 Fev 2015.
[12] I61757-2, 2016. “IEC 61757-2 FIBRE OPTIC SENSORS- Strain Measurement - Part 1 Fibre Bragg Gratings,” p. 35.
[13] IEA, 2016. Next Generation Wind and Solar Power from cost to value. Paris, França.
[14] JÄGER-WALDAU, Arnulf. PV Status Report 2019. Luxembourgo, 2019.
[15] KASHYAP, RAMAN., 1999 Fiber Bragg Gratings. [S.l.]: Academic Press.
[16] KYOCERA, 2008. High Efficiency Multicrystal Photovoltaic Module. Manual Técnico. pp. 2.
[17] LI, ZHIHUA; WANG, YUANZHANG; ZHOU, DIQING; WU, CHUNHUA. An Intelligent Method for Fault Diagnosis in Photovoltaic Array Configuration of the Proposed System. InternationalConference on Electrical and Information Technologies, p. 10–16, 2017.
[18] MADETI, SIVA RAMAKRISHNA; SINGH, S. N. A comprehensive study on different types of faults and detection techniques for solar photovoltaic system. Solar Energy, Elsevier, v. 158, p.161–185, 2017.
[19] MADETI, SIVA RAMAKRISHNA; SINGH, S. N. Online modular level fault detection algorithm for grid-tied and off-grid PV systems. Solar Energy, Elsevier, v. 157, n. May, p. 349–364, 2017.
[20] MANSOURI, Majdi; AL-KHAZRAJI, Ayman; HAJJI, Mansour; HARKAT, Mohamed Faouzi;NOUNOU, Hazem; NOUNOU, Mohamed. Wavelet optimized EWMA for fault detection and application to photovoltaic systems. Solar Energy, Elsevier, v. 167, n. November 2017, p.125–136, 2018.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
130
[21] OTHONOS, A.; KALLI, K., 1999. Fiber Bragg Gratings - Fundamentals and Applications in Telecommunications and Sensing. [S.l.]: Artech House, 1999.
[22] PACKARD, CORINNE E; WOHLGEMUTH, JOHN H; KURTZ, SARAH R. Development of aVisual Inspection Data Collection Tool for Evaluation of Fielded PV Module Condition. NRELTechnical Report, n. August, p. 10, 2012.
[23] RÜTHER, R., 2004. Edifícios Solares Fotovoltaicos: o potencial da geração solar fotovoltaica integrada a edificações urbanas e interligada à rede elétrica pública no Brasil. 1. ed. Florianópolis: Editora UFSC - LABSOLAR, v. Único.
[24] SANTOLIN, Edson Antonio; LOURENCO JUNIOR, Ivo; CORTE, Vinícius Dalla; Jean Carlos Cardozo da Silva; OLIVEIRA, Valmir de. Thermal Monitoring of Photovoltaic module using Optical Fiber Sensors. Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications, v. 15, p. 333-348, 2016.
[25] SINHA, A.; SASTRY, O. S.; GUPTA, R. Detection and characterisation of delamination in PV modules by active infrared thermography. Nondestructive Testing and Evaluation, Taylor & Francis, v. 31, n. 1, p. 1–16, 2016.
[26] SOUSA, K. M., HAFNER, A. A., CRESPIM, M., SOMENZI, J., DE OLIVEIRA, V., KALINOWSKI, H. J., DA SILVA, J. C. C., 2011. “Fiber Bragg grating sensing applications in temperature monitoring of three-phase induction motors,” 2011 SBMO/IEEE MTT-S Int. Microw. Optoelectron. Conf. (IMOC 2011), vol. 600, pp. 862–866.
[27] TSANAKAS, JOHN A.; BOTSARIS, P N. An infrared thermographic approach as a hot-spot detection tool for photovoltaic modules using image histogram and line profile analysis. International Journal of Condition Monitoring, v. 2, n. 1, p. 22–30, 2012.
[28] TSANAKAS, J. A.; CHRYSOSTOMOU, D.; BOTSARIS, P. N.; GASTERATOS, A. Fault diagnosis of photovoltaic modules through image processing and Canny edge detection on field thermographic measurements. International Journal of Sustainable Energy, v. 34, p.351–372, 2015.
[29] TSANAKAS, JOHN A.; HA, LONG D.; AL SHAKARCHI, F. Advanced inspection of photovoltaic installations by aerial triangulation and terrestrial georeferencing of thermal/visual imagery. Renewable Energy, Elsevier Ltd, v. 102, p. 224–233, 2017.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
131
Capítulo 12
Coeficientes convectivos de transferência de calor e massa em leitos recheados aplicados para fermentação em estado sólido
Fernanda Perpétua Casciatori
Natalia Alvarez Rodrigues
Resumo: Dentre várias possíveis aplicações industriais, leitos empacotados podem ser
empregados como biorreatores de fermentação em estado sólido (FES), processo
biotecnológico no qual microrganismos são cultivados sobre uma matriz sólida porosa.
Modelos de duas fases são apropriados para predizer a transferência de calor e de água
nesses biorreatores, mas dependem do conhecimento dos coeficientes convectivos de
transferência de calor (h) e de massa (β) na interface gás-sólido. Visando a
complementar trabalhos da literatura em modelagem e simulação de biorreatores de
FES, o objetivo do presente trabalho foi propor uma metodologia para cálculo de tais
coeficientes com base em correlações clássicas de Nusselt (Nu) e de Sherwood (Sh)
desenvolvidas para leitos recheados. Como as partículas que compõem os leitos de
substratos para FES geralmente têm tamanho e formato muito irregulares, fatores de
correção da esfericidade variando entre 0,1 e 1,0 (leito de partículas esféricas) foram
testados. Os coeficientes convectivos calculados foram testados na simulação de um
estudo de caso empregando um modelo de duas fases bidimensional da literatura de
modelagem de transferência de calor e de água em biorreatores de FES em leito
empacotado e os melhores resultados foram obtidos para fator de correção igual a 0,7.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
132
1. INTRODUÇÃO
Em muitos processos industriais, é importante o escoamento de um fluido através de um leito recheado por partículas sólidas. O termo leito recheado refere-se a uma situação na qual a posição das partículas está fixa (Bergman et al., 2016). Entre as relevantes aplicações de leitos recheados, estão os processos de filtração, absorção e adsorção, as reações catalíticas heterogêneas, a secagem e, mais recentemente, a fermentação em estado sólido (FES).
A FES pode ser definida como o cultivo de microrganismos sobre partículas sólidas úmidas, em situações nas quais o espaço entre as partículas contém uma fase gasosa contínua e a água está impregnada nas partículas ou forma um fino filme sobre elas. Entretanto, o conteúdo de água da matriz porosa deve ser suficientemente alto para assegurar adequadas condições para o desenvolvimento microbiano (Mitchell et al., 2006).
Os processos de FES são particularmente atrativos em comparação aos processos tradicionais de fermentação submersa (FSm), sobretudo pela possibilidade de minimizar o problema da disposição inadequada e desperdício dos rejeitos sólidos agroindustriais (Pandey, 2003). Por outro lado, sabe-se que a FSm é o método fermentativo mais utilizado para aplicações comerciais, sendo empregada pela maioria das indústrias de bioprodutos. Nos sistemas de FSm, as transferências de massa, de calor e de oxigênio são facilitadas e o meio é homogêneo, de modo que tais sistemas são mais reprodutíveis e mais facilmente monitorados e controlados que os sistemas de FES, o que torna a FSm mais viável.
Neste contexto, as principais razões para que a FES ainda não tenha se difundido industrialmente estão relacionadas à carência de estudos de engenharia de biorreatores. Mediante desenvolvimento em engenharia de processos, a FES pode ser considerada uma alternativa sustentável para os bioprocessos, já que esta técnica tem sido particularmente eficiente para a metabolização de diversos tipos de enzimas para as mais diferentes aplicações nas indústrias químicas e de alimentos (Casciatori; Thoméo, 2015).
1.1. BIORREATORES DE LEITOS RECHEADOS PARA FES
Basicamente, os biorreatores para FES podem ser divididos entre os de leito fixo e os de leito móvel. Os biorreatores de leito fixo são os mais comumente aplicados na FES devido ao seu projeto simples, custo reduzido e baixas exigências de manutenção. Ademais, a ausência de movimentação das partículas torna estes biorreatores ideais para o cultivo de microrganismos sensíveis ao cisalhamento.
Biorreatores de leito fixo nos quais o ar é soprado forçadamente através do leito são denominados de biorreatores de leito recheado ou empacotado e constituíram o foco deste trabalho. Um biorreator de leito empacotado típico consiste de um tubo cilíndrico, no qual é empacotado o substrato previamente inoculado e umidificado. Este tubo é circundado por uma camisa, através da qual circula água na temperatura ideal para o desenvolvimento do microrganismo. O material é sustentado por uma placa perfurada posicionada no fundo do biorreator imediatamente após a seção de entrada, a qual normalmente é empacotada com partículas inertes, que servem para condicionamento das propriedades do ar e desenvolvimento do perfil de velocidade do mesmo antes de entrar em contato com o material orgânico. Para suprir oxigênio e remover gás carbônico ao longo do cultivo, bem como para remover o excesso de calor metabólico gerado, ar saturado na temperatura de processo é continuamente soprado através de um orifício na base do biorreator.
Vários estudos vêm sendo conduzidos em escala de bancada para a produção de enzimas por fungos em biorreatores de leito empacotado (Casciatori; Thoméo, 2015). No entanto, apesar de seu potencial de aplicação, biorreatores de leito empacotado são raramente operados em larga escala ao longo de todo o período de cultivo. Similarmente aos reatores químicos em geral, os fenômenos de transferência de calor e de massa nos biorreatores de FES em leito recheado são simultâneos e desempenham papel crucial sobre o desempenho dos processos (Wen; Ding, 2006).
Um dos principais problemas na operação desta classe de biorreatores é a remoção deficiente do calor gerado metabolicamente, em decorrência de fatores associados ao substrato, ao microrganismo e à operação do sistema. Há relatos na literatura de que as temperaturas no interior do leito podem atingir até 20 °C acima da temperatura ideal para a fermentação, inibindo o crescimento do microrganismo e alterando rotas metabólicas, afetando desta forma o rendimento dos bioprodutos de interesse (Ghildyal et al., 1994; Mitchell et al., 2000; 2010). Normalmente, resíduos agroindustriais são materiais orgânicos com baixas condutividades térmicas moleculares. Devido às baixas vazões de escoamento de ar comumente empregadas nos biorreatores de FES, as condutividades térmicas efetivas estática e dinâmica também são
Engenharia no Século XXI – Volume 18
133
muito reduzidas. Assim, a dispersão do calor metabólico é dificultada, podendo acarretar em sobreaquecimento no leito (Casciatori et al., 2013a).
Outra dificuldade na operação de biorreatores de leito empacotado é a segregação de umidade no meio poroso ao longo da fermentação, o que tem consequências diretas sobre o crescimento fúngico e a produção de metabólitos (Gervais; Molin, 2003). A redução de umidade do meio poroso é decorrente do não-equilíbrio termodinâmico entre os conteúdos de água presentes no ar de percolação e no substrato sólido. Embora o ar possa entrar saturado no leito, sua temperatura aumenta ao longo biorreator devido aos gradientes de temperatura decorrentes da atividade metabólica. Deste modo, o ar fica abaixo da saturação conforme percola o leito de partículas, passando então a ser capaz de remover água do substrato sólido ao longo do biorreator, estabelecendo assim gradientes de umidade no leito.
Neste contexto, modelagem e simulação são ferramentas essenciais para orientar o projeto e a operação de biorreatores de FES, fornecendo indicativos de como os vários fenômenos de transporte no interior do sistema fermentativo se combinam para resultar no desempenho global do processo (Mitchell et al., 2003).
1.2 MODELOS PARA FES EM LEITO RECHEADO
Modelos matemáticos para transferência de calor na FES em leitos recheados têm sido propostos na literatura, apesar de algumas informações básicas requeridas pelos modelos, tais como as propriedades físicas da matriz porosa e as características biológicas do microrganismo, serem escassas na literatura e frequentemente adaptadas de um sistema biológico para outro sem consideração acerca da validade de tais aproximações. O modelo de Sangsurasak e Mitchell (1998), por exemplo, é similar aos modelos pseudo-homogêneos da transferência de calor em reatores químicos resfriados pela parede, uma vez que o crescimento fúngico é tratado como um termo de reação exotérmica. No entanto, modelos pseudo-homogêneos não são apropriados para descrever a secagem do leito.
Von Meien e Mitchell (2002) foram os primeiros a sugerirem um modelo heterogêneo de duas fases para a predição de gradientes de temperatura e umidade em um biorreator de FES agitado intermitentemente com aeração forcada, tendo modelado apenas os intervalos entre os sucessivos estágios de agitação. Mais adiante, Casciatori et al. (2016) apresentaram um novo modelo heterogêneo de duas fases bidimensional para biorreatores de FES em leito empacotado. Foram propostos balanços de energia e de água para as fases sólida (sólidos secos e água) e gasosa (ar e vapor), com termos de acoplamento entre as fases. Os avanços deste modelo mais recente incluem as considerações de dispersões térmica e de umidade em ambas as fases, bidimensionalidade e emprego de propriedades físicas realistas e correlações clássicas para cálculos de parâmetros de transporte.
O modelo de Casciatori et al. (2016) foi constituído por balanços de umidade e de calor nas fases sólida e gás, dados pelas Equações 1 e 2 e Equações 3 e 4, respectivamente:
(
) (1)
[
]
(
) (2)
( )
Λ
(
) (3)
( )
[
]
(
) (4)
As variáveis estão definidas na seção Nomenclatura e o significado de cada um dos termos das Equações 1 a 4 que compõem o modelo está detalhado em Casciatori et al. (2016).
O sistema para estudo de caso consistiu de um biorreator de leito empacotado no qual o fungo termofílico recentemente isolado Myceliophthora thermophila I-1D3b foi cultivado em substrato composto por bagaço de cana e farelo de trigo (BC:FT 7:3 m/m) com 75 % de umidade inicial, no qual altos níveis de produção
Engenharia no Século XXI – Volume 18
134
de celulases foram atingidos por Zanelato et al. (2012) e Casciatori et al. (2013b). O biorreator de leito empacotado era cilíndrico encamisado e tinha 76,2 mm de diâmetro interno e 1 m de comprimento. As velocidades superficiais de ar com umidade relativa 85 % foram 0,0075, 0,015 e 0,030 m/s, equivalentes a vazões de ar percolante de 120, 240 e 480 L/h, respectivamente. A temperatura inicial do leito era de 45 ºC e o biorreator operava como leito empacotado estático durante as 96 horas de cultivo.
1.3 COEFICIENTES CONVECTIVOS DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA
Em um leito recheado, uma grande área superficial para a transferência de calor ou de massa pode ser obtida em um pequeno volume, e o escoamento irregular que existe nos espaços vazios do leito melhora o transporte através da mistura. Muitas correlações foram desenvolvidas para diferentes formas e tamanhos de partículas e densidades de empacotamento e estão descritas na literatura (Bird et al., 2002; Jakob, 1957; Geankopplis, 1972; Sherwood et al., 1975). Uma dessas correlações, que foi recomendada para o escoamento de um gás em um leito de esferas, tem a forma da Equação 5:
0,575m0c0 Re 2,06j εj ε (5)
na qual os fatores j de Colburn são definidos pelas Equações 6a e 6b:
2/32/3c Pr
Pr Re
NuPr Stj (6a)
2/32/3mm Sc
ScRe
Sh ScStj (6b)
as quais são válidas, respectivamente, para as faixas 0,6 < Pr < 60 e 0,6 < Sc < 3000.
Ainda na Equação 5, o número de Reynolds é definido em termos do diâmetro das esferas e da velocidade a montante do leito, velocidade que estaria presente no canal vazio sem o recheio. A grandeza ε 0 é a
porosidade ou fração de vazio do leito (volume de espaço vazio por unidade de volume do leito) e o seu valor para o leito composto por BC:FT 7:3 (m/m) com 75 % de umidade é de 0,75 (Casciatori et al., 2014). A definição dos demais parâmetros adimensionais clássicos das Equações 5, 6a e 6b podem ser consultadas em Bergman et al. (2016).
A correlação pode ser utilizada para outros recheios diferentes da esfera através da multiplicação do lado direito por um fator de correção apropriado relacionado à esfericidade da partícula. Por exemplo, para um leito de cilindros de tamanho uniforme com razão entre comprimento e diâmetro igual a 1, o fator é 0,79; para um leito de cubos, o seu valor é de 0,71 (Bergman et al., 2016).
Previamente, Casciatori et al. (2016) haviam aproximado as partículas de bagaço de cana para cilindros infinitos e supuseram que 70 % das partículas teriam ar percolando entre elas em escoamento cruzado e 30 % escoamento paralelo. Assim, dois diferentes números de Nusselt (Nu) foram calculados por correlações apropriadas para cilindros em fluxo cruzado ou em fluxo paralelo e Nu médio foi obtido. O número de Sherwood (Sh) foi assumido por aqueles autores como sendo numericamente igual ao de Nusselt. Portanto, o coeficiente de transferência de calor na interface gás-sólido (h) foi obtido a partir de Nu médio ponderado e o coeficiente de transferência de água na interface gás-sólido (β) a partir de Sh médio ponderado. Para ar escoamento cruzado às fibras, a correlação de Churchill e Bernstein (1977) foi empregada. Para escoamento paralelo às fibras, o cilindro infinito foi aproximado para uma placa plana para cálculo de Nu (Lienhard IV; Lienhard V, 2000).
No entanto, como a geometria das partículas do leito de BC:FT 7:3 (m/m) é altamente irregular e a suposição do percentual de fibras verticais e horizontais é totalmente arbitrária, a proposta do presente trabalho foi variar o fator de correção (FC) de 0,1 (esfericidade mínima) a 1,0 (partícula esférica) na Equação 5, mais apropriada para leitos recheados, para determinação dos coeficientes convectivos de transferência de calor e de massa na interface entre as fases sólida e gasosa do leito com auxílio das
Engenharia no Século XXI – Volume 18
135
Equações 6a e 6b. Os valores calculados foram testados na simulação do processo nos modelos de Casciatori et al. (2016). As simulações foram feitas no MatLab® R2012b (MathWorks Inc., Natick, USA).
2. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os valores calculados pelas Equações 5, 6a e 6b para os adimensionais de transferência convectiva de calor (Nu) e de massa (Sh), juntamente com os respectivos coeficientes convectivos de transferência de calor (h) e de massa (β), são apresentados nas Tabelas 1a a 1c, para velocidades superficiais de ar através do leito recheado de 0,0075, 0,015 e 0,030 m/s, respectivamente.
Tabela 1a: Adimensionais e coeficientes convectivos de transferência de calor e massa calculados (υ0 = 0,0075 m/s). FC* Nu Sh h(W/m²/ºC) β10-3(m/s)
1,0 2,8 2,7 24,9 23,4
0,9 2,6 2,4 22,4 21,1
0,8 2,3 2,2 19,9 18,7
0,7 2,0 1,9 17,4 16,4
0,6 1,7 1,6 14,9 14,1
0,5 1,4 1,4 12,4 11,7
0,4 1,1 1,1 9,9 9,4
0,3 0,9 0,8 7,5 7,0
0,2 0,6 0,5 5,0 4,7
0,1 0,3 0,3 2,5 2,3 *FC: fator de correção.
Tabela 1b: Adimensionais e coeficientes convectivos de transferência de calor e massa calculados (υ0 = 0,015 m/s). FC* Nu Sh h(W/m²/ºC) β10-3(m/s) 1,0 3,8 3,6 33,4 31,4 0,9 3,4 3,3 30,0 28,3 0,8 3,0 2,9 26,7 25,2 0,7 2,7 2,5 23,4 22,0 0,6 2,3 2,2 20,0 18,9 0,5 1,9 1,8 16,7 15,7 0,4 1,5 1,5 13,4 12,6 0,3 1,1 1,1 10,0 9,4 0,2 0,8 0,7 6,7 6,3 0,1 0,4 0,4 3,3 3,1
*FC: fator de correção.
Tabela 1c: Adimensionais e coeficientes convectivos de transferência de calor e massa calculados (υ0 =
0,030 m/s). FC* Nu Sh h(W/m²/ºC) β10-3(m/s) 1,0 5,1 4,9 44,8 42,2 0,9 4,6 4,4 40,3 38,0 0,8 4,1 3,9 35,9 33,8 0,7 3,6 3,4 31,4 29,5 0,6 3,1 2,9 26,9 25,3 0,5 2,6 2,4 22,4 21,1 0,4 2,0 1,9 17,9 16,9 0,3 1,5 1,5 13,4 12,7 0,2 1,0 1,0 9,0 8,4 0,1 0,5 0,5 4,5 4,2
*FC: fator de correção.
É possível observar que Nu ≈ Sh para toda a faixa de fatores de correção da esfericidade das partículas do leito bem como para as três velocidades superficiais de ar, concordando com a hipótese previamente assumida por Casciatori et al. (2016). Observa-se também, conforme esperado, que os coeficientes convectivos aumentam com o aumento da velocidade de escoamento de ar através do leito.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
136
Já o número de Lewis (Le), usado para caracterizar fluxos em processos nos quais ocorrem transferências simultâneas de calor e de massa por convecção, foi de 0,864, concordando com a literatura, que reporta Le = 0,865 para misturas psicrométricas de ar e vapor d’água (Bergman et al., 2016). No entanto, para emprego da analogia de Reynolds entre as transferências de calor e de massa, conforme fora feito por Casciatori et al. (2016), se deveria ter Le = 1, indicando que o método de cálculo proposto no presente trabalho é mais apropriado por ser menos restritivo em termos das considerações.
De acordo com as proposições de Casciatori et al. (2016), os valores dos coeficientes convectivos seriam h de 55,4, 73,2 e 98,3 W/m²/ºC e de β 50,5, 66,6 e 89,5 mm/s para velocidades superficiais de ar 0,0075, 0,015 e 0,030 m/s, ou seja, sempre superiores ao dobro dos máximos valores obtidos no presente trabalho (maior esfericidade). Embora a área superficial de troca seja muito elevada, o uso de valores superestimados de ambos os coeficientes convectivos pode superestimar os problemas de sobreaquecimento no interior do leito e de secagem do substrato, o que, por sua vez, pode levar a predições negativas acerca da estabilidade e do desempenho do processo.
Predições de temperatura e umidade final próximas dos valores experimentais reportados por Casciatori et al. (2013b) foram obtidas quando valores de h e β calculados no presente trabalho para fator de correção 0,7 foram empregados. Diante do exposto, pode-se dizer que a nova proposta para cálculo dos coeficientes convectivos de transferência na interface do modelo de Casciatori et al. (2016) é mais indicada e coerente com a situação física real.
3. NOMENCLATURA
O Quadro 1 apresenta a notação e símbolos utilizados no presente trabalho, bem como suas respectivas definições e unidades.
Quadro 1: Definição e unidades das notações empregadas no trabalho. Notação Definição Unidade
a Área superficial de troca por unidade de volume no leito recheado
m-1
b Fração de biomassa nos sólidos secos totais kg-biomassa/kg-sólidos-secos-totais Cpa Calor específico do ar seco J/kg-ar-seco/°C Cps Calor específico dos sólidos secos J/kg-sólidos-secos/°C Cpv Calor específico do vapor d’água J/kg-vapor-água/°C Cpw Calor específico da água líquida J/kg-água/°C Dg,r Difusividade efetiva radial da fase gasosa m²/s Dg,z Difusividade efetiva axial da fase gasosa m²/s
Ds Coeficiente de dispersão efetiva na fase sólida por capilaridade
m²/s
h Coeficiente convectivo de transferência de calor na interface gás-sólido
W/m2/°C
Fator j de Colburn da transferência de calor Adimensional
Fator j de Colburn da transferência de massa Adimensional
Le Número de Lewis Adimensional Nu Número de Nusselt Adimensional Pr Número de Prandtl do ar seco a Tg Adimensional r Posição radial m
Re Número de Reynolds Adimensional RQ Calor liberado pelo crescimento do fungo J/kg-biomassa
RW Coeficiente estequiométrico relacionando produção de água ao crescimento fúngico
kg-água/kg-biomassa
S Concentração de sólidos secos totais kg-sólidos-secos-totais/m³ Sc Número de Schmidt do ar seco a Tg Adimensional Sh Número de Sherwood Adimensional St Número de Stanton Adimensional
Stm Número de Stanton de massa Adimensional t Tempo h
Tg Temperatura da fase gasosa °C
cj
mj
Engenharia no Século XXI – Volume 18
137
(continuação ...) Quadro 1: Definição e unidades das notações empregadas no trabalho.
Notação Definição Unidade Ts Temperatura da fase sólida °C X Umidade da fase sólida kg-água/kg-sólidos-secos-totais Y Umidade da fase gasosa kg-vapor-água/kg-ar-seco Y* Umidade de saturação do ar a Tg kg-vapor-água/kg-ar-seco z Posição axial m
β Coeficiente convectivo de transferência de massa na interface gás-sólido
m/s
ΔHvap Entalpia de evaporação da água J/kg-água
ε0 Fração de vazios ou porosidade do leito (constante)
m3-vazios/m3-total
Λg,r Condutividade térmica efetiva radial da fase gasosa
W/m/°C
λg,z Condutividade térmica efetiva axial da fase gasosa
W/m/°C
λs Condutividade térmica efetiva da fase sólida na estagnação
W/m/°C
ρa Densidade do ar seco kg-ar-seco/m3 υ0 Velocidade superficial do ar m/s
Taxa normalizada de secagem modificada Adimensional
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, Proc. 2018/00996-2), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, Proc. 430786/2018-2) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, Código de Financiamento 001). Também agradecem à FAPESP pela bolsa de Mestrado (FAPESP Proc. 2018/16689-1) e à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SESu/MEC) pela bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET). E agradecem, finalmente, ao XXXVIII Congresso Brasileiro de Sistemas Particulados (ENEMP 2017), que permitiu a apresentação deste trabalho completo e a publicação do mesmo nos anais eletrônicos do evento, disponíveis em https://proceedings.science/enemp/inicio, bem como à Editora Poisson, por ter selecionado o trabalho para ser um capítulo da presente obra.
REFERÊNCIAS
[1] BERGMAN, T. L.; LAVINE, A. S; INCROPERA, F. P.; DEWITT, D. P. (2016), Fundamentos de transferência de calor e de massa, LTC, Rio de Janeiro.
[2] BIRD, R. B.; STEWART, W. E.; LIGHTFOOT, E. N., (2002), Transport Phenomena, Wiley, New York.
[3] CASCIATORI, F. P.; BÜCK, A.; THOMÉO, J. C.; TSOTSAS, E. (2016), “Two-phase and two-dimensional model describing heat and water transfer during solid-state fermentation within a packed-bed bioreactor”, Chemical Engineering Journal, Vol. 287, p. 103-116.
[4] Casciatori, F. P.; Casciatori, P. A.; Thoméo, J. C. (2013b), “Cellulase production in packed bed bioreactor by solid-state fermentation”, Anais do European Biomass Conference and Exhibition, Vol. 1, p. 1539-1546, Copenhagen.
[5] Casciatori, F. P.; Laurentino, C. L.; Lopes, K. C. M.; Souza, A. G.; Thoméo, J. C. (2013a), “Stagnant effective thermal conductivity of agro-industrial residues for solid state fermentation”, International Journal of Food Properties, Vol. 16, p. 1578-1593.
[6] Casciatori, F. P.; Laurentino, C. L.; TABOGA, S. R.; Casciatori, P. A.; Thoméo, J. C. (2014), “Structural properties of beds packed with agro-industrial solid by-products applicable for solid-state fermentation: Experimental data and effects on process performance”, Chemical Engineering Journal, Vol. 255, p. 214-224.
[7] CASCIATORI, F. P.; THOMÉO, J. C. (2015), Utilização de resíduos agro-industriais para a produção de enzimas por fermentação em estado sólido. In: Tópicos em tratamento de resíduos e meio ambiente. FREIRE, F. B.; FREIRE, F. B.; FREIRE, J. T. (Eds.). Novas Edições Acadêmicas, Saabruecken.
[8] Churchill, S. W.; Bernstein, M. (1977), “A correlation equation for forced convection from gases and liquids to a circular cylinder in cross flow”, ASME Journal of Heat Transfer, Vol. 94, p. 300-306.
[9] GEANKOPPLIS, C. J. (1972), Mass transport phenomena, Holt, Rinehart & Winston, New York.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
138
[10] GERVAIS, P., MOLIN, P. (2003), “The role of water in solid-state fermentation”, Biochemical Engineering Journal, Vol. 13, p. 85-101.
[11] Ghildyal, N. P.; Gowthaman, M. K.; Raghava Rao, K. S. M. S.; Karanth, N. G. (1994), “Interaction of transport resistances with biochemical reaction in packed-bed solid-state fermentors: Effect of temperature gradients”, Enzyme and Microbial Technology, Vol. 16, p. 253-257.
[12] JAKOB, M. (1957), Heat transfer, Wiley, New York.
[13] Lienhard IV, J. H.; Lienhard V, J. H. (2000), “A heat transfer textbook”, J. H. Lienhard V, Cambridge.
[14] Mitchell, D. A.; Cunha, L. E. N.; Machado, A. V. L.; JR, L. F. L. L.; Krieger, N. (2010), “A model-based investigation of potential advantages of multi-layer packed beds in solid-state fermentation”, Biochemical Engineering Journal, Vol. 48, p. 195-203.
[15] Mitchell, D. A.; Krieger, N.; Berovic, M. (2006), Solid-state fermentation bioreactors: fundamentals, design and operation, Springer-Verlag, Berlin.
[16] Mitchell, D. A.; Krieger, N.; Stuart, D. M.; Pandey, A. (2000), “New developments in solid-state fermentation. II. Rational approaches to the design, operation and scale up of bioreactors”, Process Biochemistry, Vol. 35, p. 1211-1225.
[17] Mitchell, D. A.; Von Meien, O. F.; Krieger, N. (2003), “Recent developments in modeling of solid-state fermentation: heat and mass transfer in bioreactors”, Biochemical Engineering Journal, Vol. 13, p. 137-147.
[18] PANDEY, A. (2003), “Solid-State Fermentation”, Biochemical Engineering Journal, Vol. 13, p. 81-84.
[19] Sangsurasak, P.; Mitchell, D. A. (1998), “Validation of a model describing two-dimensional heat transfer during solid-state fermentation in packed bed bioreactors”, Biotechnology and Bioengineering, Vol. 60, p. 739-749.
[20] SHERWOOD, T. K.; PIGFORD, R. L.; WILKIE, C. R. (1975), Mass transfer, McGraw-Hill, New York.
[21] Von Meien, O. F.; Mitchell, D. A. (2002), “A two-phase model for water and heat transfer within an intermittently-mixed solid-state fermentation bioreactor with forced aeration”, Biotechnology and Bioengineering, Vol. 79, p. 416-428.
[22] WEN, D.; DING, Y. (2006), “Heat transfer of gas flow through a packed bed”, Chemical Engineering Science, Vol. 61, p. 3532-3542.
[23] ZANELATO, A. I.; SHIOTA, V. M.; GOMES, E.; DA SILVA, R.; THOMÉO, J. C. (2012), “Endoglucanase production with the newly isolated Myceliophthora sp. I-1D3b in a packed bed solid state fermentor”, Brazilian Journal of Microbiology, Vo43, p. 1536-1544.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
139
Capítulo 13 Caracterização de carvão ativado de origem mineral e aplicação na remoção de glicerol em ésteres etílicos
Natália Dolfini
Isabela Yumi Asanome
Felipe Gâmbaro Pereira
Nehemias Curvelo Pereira
Resumo: Devido ao elevado uso de combustíveis fósseis, foram desenvolvidas fontes
alternativas para substituir o petróleo, sendo uma delas o biodiesel. Entretanto, a
purificação industrial de biodiesel é realizada por via úmida, gerando elevada
quantidade de resíduos aquosos. Como alternativa, há a purificação por via seca
utilizando diversos adsorventes, dentre eles o carvão ativado. Sendo assim, neste
trabalho foi estudada a caracterização de carvão mineral ativado, determinou-se a área
específica, a análise morfológica e a determinação do ponto de carga zero (PCZ). Para a
aplicação deste adsorvente, foi avaliada a capacidade de remoção do glicerol presente
em ésteres etílicos proveniente de óleo de canola em diferentes velocidades de agitação.
O carvão ativado foi classificado como microporoso com área específica de 930,301 m2 g-
1, o ponto de carga zero determinado foi de 7,2 e suas características foram similares aos
carvões ativados estudados em outros trabalhos da literatura. A maior capacidade de
remoção de glicerol em ésteres etílicos foi (15,13 ± 0,03) mg g-1 ou (78,4 ± 0,2) % de
remoção de glicerol, obtida na velocidade de agitação de 90 rpm após 24 horas de
adsorção.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
140
1. INTRODUÇÃO
O carvão ativado pode ser obtido a partir uma variedade de materiais carbonáceos, incluindo madeira, hulha, lignina e casca de coco. Este material tem uma ampla aplicação, sendo utilizado, por exemplo, para remover compostos orgânicos apolares em tratamento de efluentes líquidos e gasosos, em batelada ou em leito fixo (Watson, 1999; Do, 1998).
A capacidade de adsorção do carvão ativado está associada à elevada área específica (de 300 a 1200 m2/g), à natureza hidrofóbica e ao diâmetro médio de poros (20 a 50 Å) (Watson, 1999; Geankopolis, 1993).
O carvão ativado na forma em pó, geralmente é aplicado em processos de um único estágio. Já na forma granular (apresentando tamanhos entre 8 e 30 mesh) pode ser regenerado após o uso, por meio de tratamento térmico (Watson, 1999).
As principais fontes energéticas utilizadas são derivadas de combustíveis fósseis, poluentes e com risco de escassez por não serem renováveis. Com este cenário atual, novas fontes energéticas renováveis e menos poluidoras surgem como alternativa. Dentre elas há o biodiesel, combustível que tem a finalidade de substituir total ou parcialmente o óleo diesel proveniente do petróleo (Atadashi, 2015).
Biodiesel é a designação dada aos ésteres alquílicos de ácidos graxos e é produzido a partir de fontes biológicas como plantas e animais. Dentre essa ampla disposição de matérias-primas há diversas oleaginosas, como a canola. O cultivo desta planta está em crescimento no Brasil, entretanto na Europa esta matéria-prima é a principal para a produção de biodiesel (Dabdoub e Bronzel, 2009; Tomm, 2007).
A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) desde 2004 regulamenta a produção de biodiesel no Brasil, incentivando a produção por meio de leis gradativas e obrigatórias de adição de biodiesel no diesel. Pela lei vigente, devem ser adicionados 8% de biodiesel ao óleo diesel. Além disso, a ANP estabelece regras para garantia da qualidade deste novo produto (ANP, 2017).
Para conversão de triglicerídeos em ésteres alquílicos, diversos parâmetros estão associados, como qualidade da matéria-prima, quantidade de catalisador, temperatura e tempo de reação. Desta forma, a qualidade do combustível depende de uma completa separação dos produtos (biodiesel e glicerina). A purificação industrial é realizada por seguidas lavagens do biodiesel. Entretanto, esta metodologia demanda disponibilidade de recursos hídricos que gera grande quantidade de resíduo aquoso. A via seca é uma das formas alternativas de purificação para a separação dos resíduos, sendo uma destas pela utilização de adsorventes (Meher et al., 2006; Faccini et al., 2011).
Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi caracterizar o carvão ativado granulado de origem mineral e avaliar a capacidade de remoção de glicerol presente em ésteres etílicos em diferentes velocidades de agitação.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
O carvão mineral granulado utilizado neste trabalho é de origem betuminosa, fornecido pela empresa Alphacarbo (Guarapuava, PR).
Foi realizada a caracterização do carvão ativado pelo método de fisissorção com N2, que possibilita obter as isotermas de adsorção e dessorção física de N2 a 77 K em um adsortômetro Quantachrome, modelo NOVA-1200. Foram calculadas a área específica pelo método BET (Gregg e Sing, 1982), o volume e diâmetro de microporos pelo método t-plot (Lippens et al., 1964) e de mesoporos pelo método de BJH (Barrett et al., 1951).
A análise morfológica do adsorvente foi realizada por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) no equipamento Shimadzu, Modelo SS-550 SuperScan.
Para a determinação do ponto de carga zero (PCZ) foi realizado o “experimento dos 11 pontos”, desenvolvido por Regalbuto e Robles (2004).
Na produção dos ésteres etílicos, foi utilizado óleo de canola bruto fornecido pela empresa Cocamar Cooperativa Agroindustrial (Maringá, PR).
Para a redução de acidez desta matéria-prima empregou-se a metodologia sugerida por Cardello et al. (1995). Em seguida, a reação de transesterificação foi realizada a partir das melhores condições determinadas por Gomes et al. (2011).
Engenharia no Século XXI – Volume 18
141
A remoção de glicerol dos ésteres etílicos, utilizando carvão ativado granulado, foi realizada em shaker com agitação unilateral e aquecimento a água, marca Tecnal TE-053. As condições experimentais foram: 65 °C com 5 % de carvão ativado em relação à massa de biodiesel e diâmetro médio de adsorvente 1,49 mm. Foi avaliada a adsorção em triplicata nas velocidades de agitação de 60, 90 e 120 rpm nos tempos de 80 minutos e 24 horas (antes e depois do equilíbrio do sistema ser atingido).
Para a quantificação de glicerol, utilizou-se a metodologia sugerida por Pisarello et al. (2010).
A capacidade de remoção de glicerol foi determinada pela Equação 1 (Liu et al., 2009).
m
C)(Cvq 0 (1)
Em que q corresponde à capacidade de adsorção de glicerol por massa de ésteres etílicos (mg g-1); v é o volume de solução (mL); m é a massa de adsorvente utilizada na adsorção (g); C0 e C são as concentrações inicial e final de glicerol na solução, respectivamente (mg mL-1).
Outra forma de quantificar a capacidade de adsorção foi por meio da porcentagem de remoção de glicerol, determinada pela Equação 2.
100C
CCR
0
0
(2)
Em que R corresponde à porcentagem de remoção de glicerol.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 1 estão apresentados os valores de algumas propriedades texturais do carvão ativado.
Tabela 1: Valores de área específica, volume e diâmetro de poros do carvão ativado Área específica (m2 g-1) 930,301
Volume específico de microporos (cm3 g-1) 0,1782
Volume específico de mesoporos (cm3 g-1) 0,0869
Diâmetro médio de microporos (nm) 1,9649 Diâmetro médio de mesoporos (nm) 3,1390
Com relação à Tabela 1, a área específica determinada foi similar a de carvões ativados empregados nos trabalhos da literatura. Gerçel et al. (2007) produziu carvão ativado da planta planta Euphorbia rigida e a área específica determinada foi de 741,2 m2 g-1. Liu et al. (2009) estudou adsorção com três carvões ativados comerciais diferentes: Cal, Filtrasorb e OLC Plus, foi obtido área específica de 1039,6 m2 g-1, 932,5 m2 g-1, 1330,3 m2 g-1, respectivamente. Putra et al. (2009) caracterizou o carvão ativado granular Norit Row 0,8 Supra com área específica de 1092,9 m2 g-1.
Os microporos apresentam diâmetro de até 2 nm, enquanto que os mesoporos tem o diâmetro entre 2 e 50 nm. (Gregg e Sing, 1982). O carvão ativado de origem mineral tem microporos com diâmetro médio de 1,9649 nm, enquanto que os mesoporos, 3,1390 nm.
Na Figura 1, estão representadas as isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
142
Figura 1: Isotermas de adsorção e dessorção de N2 no carvão mineral ativado
Segundo a classificação da IUPAC, a Figura 1 exibiu isoterma do tipo I (isoterma de Langmuir), característica de adsorventes microporosos no qual a adsorção é limitada pelo volume de poros acessíveis no adsorvente. Este tipo de isotema é observado em sistemas de quimissorção do adsorvato na superfície do adsorvente. A Figura 1 também exibiu uma histerese do tipo H4, associada a poros estreitos semelhantes a fendas. Este tipo de histerese é característico de isotermas do tipo 1 (Sing, 1982).
Nas Figuras 2 e 3 são apresentadas as micrografias da superfície do carvão ativado com ampliação da imagem de 800 vezes e 2400 vezes.
Figura 2: Micrografia do carvão ativado com ampliação de 800 vezes
Figura 3: Micrografia do carvão ativado com ampliação de 2400 vezes
Engenharia no Século XXI – Volume 18
143
Observa-se nas Figuras 2 e 3 associadas aos dados da Tabela 1 e da Figura 1, uma estrutura amorfa e microporosa associada à mesoporos.
Na Figura 4 é demonstrado o gráfico de pH final versus pH inicial para o carvão mineral ativado.
Figura 4: Gráfico de pH final versus pH inicial para o carvão mineral ativado
O ponto de carga zero do carvão ativado apresentado na Figura 4 foi de 7,2.
A carga eletrônica superficial dos adsorventes suspensos em solução aquosa deve-se aos grupos H+ e OH- e a complexação dos eletrólitos de superfície. Assim, estes íons atuam como permutadores aniônicos ou catiônicos, dependendo do pH da solução e da concentração dos eletrólitos (Khan e Sarwar, 2007).
Sendo assim, em pHs menores que 7,2, a superfície do carvão estudado foi carregada com cargas positivas e em pHs maiores, cargas negativas (Nazari et al., 2016).
Os ésteres etílicos produzidos apresentaram pH próximo a 10,5, em razão do catalisador utilizado (NaOH) e do glicerol, por conter em sua estrutura radicais hidroxila.
Na Figura 5 estão apresentados os valores de capacidade de remoção de glicerol em ésteres etílicos em diferentes velocidades de agitação no tempo de 80 minutos.
Figura 5: Capacidade de remoção de glicerol em ésteres etílicos em diferentes velocidades de agitação em
80 minutos
Na Figura 5, os resultados demonstraram que na velocidade de agitação de 90 rpm a capacidade de remoção de glicerol foi maior em relação as demais, atingindo a capacidade de adsorção de (11,9 ± 0,4) mg/g ou (55,9 ± 0,8) % de remoção de glicerol. Assim, observou-se que os desvios experimentais foram menores que a variação observada entre as diferentes velocidades de rotação.
Na Figura 6 estão apresentados os valores de capacidade de remoção de glicerol em ésteres etílicos em diferentes velocidades de agitação no tempo de 24 horas.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
144
Figura 6: Capacidade de remoção de glicerol em ésteres etílicos em diferentes velocidades de agitação em 24 horas
Na Figura 6, os resultados demonstram que na velocidade de agitação de 90 rpm e 24 horas de adsorção, a capacidade de remoção de glicerol foi maior em relação as demais, atingindo a capacidade de adsorção de (15,13 ± 0,03) mg/g ou (78,4 ± 0,2) % de remoção de glicerol. Assim, observou-se que os desvios experimentais foram menores que a variação observada nos dados de adsorção entre as diferentes velocidades de rotação.
O fenômeno de adsorção é superficial e é dividido nas etapas de difusão externa, difusão pela camada limite, transporte nos poros e adsorção intrapartícula (Pan et al., 2009). Sendo assim, alguns parâmetros podem influenciar a adsorção, como temperatura, pH, força iônica, concentração inicial de adsorvato, velocidade de agitação, tamanho de partículas e distribuição de tamanho de poros (Nascimento et al., 2014).
A etapa de difusão externa é afetada pela velocidade de agitação. Na medida em que a velocidade de agitação aumentou de 60 para 90 rpm, a resistência à transferência de massa no filme externo do carvão ativado diminuiu, refletindo no aumento da capacidade de adsorção (Marin et al., 2014). Entretanto, acima de 90 rpm foi observado que a capacidade de adsorção diminuiu.
4. CONCLUSÕES
O carvão mineral ativado foi classificado como microporoso e as características determinadas foram similares aos carvões ativados estudados em trabalhos da literatura.
O ponto de carga zero do carvão mineral ativado foi de 7,2.
A maior capacidade de remoção de glicerol em ésteres etílicos foi em 24 horas na velocidade de agitação de 90 rpm, atingindo (15,13 ± 0,03) mg/g ou (78,4 ± 0,2) % de remoção de glicerol.
REFERÊNCIAS
[1] AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. Biodiesel. Disponível em: <http://www.anp.gov.br/wwwanp/biocombustiveis/biodiesel>. Acesso em 21 ago 2017.
[2] ATADASHI, I. M. Purification of crude biodiesel using dry washing and membrane technologies. Alexandria Engineering Journal, v. 54, p. 1265-1272, 2015.
[3] BARRETT, E.P., JOYNER, L.G., HALENDA, P.P. The Determination of Pore Volume and Area Distributions in Porous Substances. I. Computations from Nitrogen Isotherms, Journal of the American Chemical Society, v. 73, n. 1, p. 373–380, 1951.
[4] CARDELLO, H. M. A. B.; BORGHI, A. B. M. P.; Vila, M. M. D. C.; GONÇALVES, L. A. G. Clarificação convencional de óleo de sementes de algodão (Gossipium hirsutum). Alim. Nutr., v. 6, p. 77-87, 1995.
[5] DABDOUB, M. J.; BRONZEL, J. L. Biodiesel: visão crítica do status atual e perspectivas na academia e na indústria. Química Nova, v. 32, n. 3, p. 776-792, 2009.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
145
[6] DO, D. D. Adsorption Analysis: Equilibia and Kinetics. Vol. 2. Queensland, Australia: Imperial College Press, 1998.
[7] FACCINI, C. S; CUNHA, M. E; MORAES, M. S. A; KRAUSE L. C; MANIQUE, M. C; RODRIGUES, M. R. A; BENVENUTTI E. V; CARAMÃO, E. B. Dry Washing in Biodiesel Purificacion: a Comparative Study of Adsorbents. J. Braz.. Chem. Soc., v. 22, n. 3, p. 558-563, 2011.
[8] GEANKOPLIS, C. J.Transport Processes and Unit Operations, 3ª ed., Prentice-Hall, p.754-794, 1993.
[9] GERÇEL, O.; OZCAN, A.; OZCAN, A. S.; GERÇEL, H. F. Preparation of activated carbon from a renewable bio-plant of Euphorbia rigida by H2SO4 activation and its adsorption behavior in aqueous solutions. Applied Surface Science, v. 253, p. 4843-4852, 2007.
[10] GOMES, M. C. S.; ARROYO, P. A.; PEREIRA, N. C. Biodiesel Production from degummed soybean oil and glycerol removal using ceramic membrane. Journal of Membrane Science, v. 378, p. 453-461, 2011.
[11] GREGG, S. I.; Sing, K. S. W.; Adsorption, surface Área and Porosity, Academic Press: London, 1982.
[12] KHAN, M. N.; SARWAR, A. Determination of points of zero charge of natural and treated adsorbents. Surface Review and Letters, v. 14, n. 13, p. 461-469, 2007.
[13] LIPPENS, B.C, LINSEN, B.G., DE BOER, J.H. Studies on pore systems in catalysts I. The adsorption of nitrogen; apparatus and calculation. Journal of Catalysis, v. 3, n. 1, p. 32–37, 1964.
[14] LIU, S.; MUSUKU, S. R.; ADHIKARI, S.; FERNANDO, S. Adsorption of glycerol from biodiesel washwaters. Environmental Technology, v. 30, n. 5, p. 505-510, 2009.
[15] MARIN, P., BORBA, C.E., MÓDENES, A.N., ESPINOZA-QUIÑONES, F.R., OLIVEIRA, S.P.D., KROUMOV, A.D., Determination of the mass transfer limiting step of dye adsorption onto commercial adsorbent by using mathematical models. Environmental Technology, v. 35, n. 18, 2014.
[16] MEHER, L.C.; SAGAR, D. V.; NAIK, S.N. Technical Aspects of Biodiesel Production by transesterification , A Review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. v. 10, p. 248-268, 2006.
[17] NASCIMENTO, R. F; LIMA, A. C. A; VIDAL, C. B; MELO, D. Q; RAULINO, G. S. C. Adsorção - Aspectos Teóricos e Aplicações Ambientais. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2014, 256p.
[18] NAZARI, G.; ABOLGHASEMI, H.; ESMAIELI, M.; POUYA, E. S. Aqueous phase adsorption of cephalexin by walnut shell-based activated carbon: a fixed-bed column study. Applied Surface Science, v. 375, p. 144-153, 2016.
[19] PAN, X.; WANG, J.; ZHANG, D. Sorption of cobalt to bone char: kinetics, competitive sorption and mechaminsm. Desalination, v. 249, p. 609-614, 2009.
[20] PISARELLO, M. L.; COSTA B. O. D.; VEIZAGA, N. S.; QUERINI, C. A. Volumetric method for free and total glycerin determination in biodiesel. Ind. Eng. Chem. Res., v. 49, p. 8935-8941, 2010.
[21] PUTRA, E. K.; PRANOWO, R.; SUNARSO, J.; INDRASWATI, N.; ISMADJI, S. Performance of activated carbon and bentonite for adsorption of amoxillin from wastewater: mechanisms, isoterms and kinetics. Water Research, v. 34, p. 2419-2430, 2009.
[22] REGALBUTO, J. R., ROBLES, J. The engineering of Pt/Carbon Catalyst Preparation, University of Illinois: Chicago, 2004.
[23] SING, K.S.W., Reporting physisorption data for gas/solid systems with special reference to the determination of surface area and porosity. Pure Applied Chemistry, v.54, p.2201–2218, 1982.
[24] TOMM, G. O. Indicativos tecnológicos para produção de canola no Rio Grande do Sul. Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2007. 32 p. (Embrapa Trigo. Sistema de produção online, 3).Disponível em: <http://www.cnpt.embrapa.br/culturas/canola/p_sp03_2007.pdf>. Acesso em: 20 Jul. 2017.
[25] WATSON, J. S. Separation Methods for Waste and Environmental Aplications, Marcel Dekker, New York, 1999.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
146
Capítulo 14
Avaliação das propriedades tecnológicas de cerâmica vermelha com adição de rejeito de minério de ferro de Carajás-PA
Elias Fagury Neto
Renata Lilian Ribeiro Portugal Fagury
Adriano Alves Rabelo
Resumo: A reciclagem e reutilização de rejeitos industriais têm sido alvo de estudos nas
últimas décadas em virtude do aumento da produção de bens primários, tais como os
minérios, que geram imensas quantidades de subprodutos, muitos destes nocivos ao
meio ambiente, à saúde humana e animal. No presente trabalho, foi utilizado o rejeito de
minério de ferro (RMF) extraído das minas de Carajás (PA) como componente para
produção de cerâmica vermelha, em associação às argilas locais. Foram preparadas
formulações com objetivo de avaliar a microestrutura, as propriedades físicas e
mecânicas após a incorporação do rejeito como substituto parcial das argilas. Os
materiais de partida foram caracterizados através das técnicas de difração de raios-X e
fluorescência de raios –X. Os teores de rejeito adicionados para cada formulação foram
de 0 a 18% em massa de argila. Os corpos de prova foram prensados e sinterizados nas
temperaturas de 10000C, 11000C e 12000C. Os resultados mostraram que a adição de
rejeito às massas melhorou as propriedades físicas das amostras. A densificação
aumentou na medida em que a temperatura de sinterização foi aumentada, devido ao
efeito fundente do rejeito, que forma fase líquida, a qual preenche a porosidade do
material, aumentando sua densidade e diminuindo sua porosidade aparente. Como
consequência, houve aumento de densidade e resistência mecânica das amostras.
Palavras-chave: Cerâmica, rejeito, minério de ferro, caracterização.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
147
1. INTRODUÇÃO
Segundo dados recentes, o Brasil tem o segundo maior depósito de minério de ferro do mundo, sendo também o segundo maior exportador, atrás da Austrália [1]. Para obtenção do concentrado de ferro, o minério é submetido a etapas sucessivas de peneiramento, britagem, moagem, deslamagem e flotação em colunas, a maioria delas envolvendo água. Por isso, geralmente os rejeitos de minério de ferro apresentam-se na forma de polpas, constituídas por uma fração líquida e uma sólida com diferentes minerais em suspensão e elementos químicos dissolvidos. Para cada tonelada de minério de ferro é produzida em média 0,4 tonelada de rejeitos [2].
Na mineração são gerados dois tipos principais de resíduos que são os estéreis, produzidos pela lavra ou retirada do minério da jazida, e os rejeitos, produzidos pelo seu beneficiamento. Atualmente as empresas de mineração têm procurado incorporar nos estudos do seu plano de lavra alternativas mais seguras e econômicas para a disposição dos rejeitos. Muitas empresas de mineração, para reduzir os custos envolvidos na construção das estruturas de contenção de rejeitos, optam pela utilização do próprio rejeito como elemento construtivo sem controle tecnológico, o que em muitos casos já causou graves acidentes devido a ruptura das estruturas [3]. Alternativas, entretanto, devem ser criadas para o emprego de rejeitos/coprodutos minerais. A incorporação de coprodutos industriais em cerâmica vermelha vem se tornando uma prática muito difundida mundialmente e que tem como principal finalidade dar uma destinação final e ambientalmente correta aos resíduos [2,4,5]. A variabilidade natural das características das argilas e o emprego de técnicas de processamento relativamente simples para fabricação de cerâmicas vermelhas, tais como blocos de vedação e telhas, facilitam a incorporação de outros tipos de materiais. Alguns destes materiais na forma resíduos até facilitam o processamento e melhoram a qualidade do produto final [6].
Especificamente, rejeitos de minério de ferro apresentam teoricamente, baixo teor do mineral de interesse. Entretanto, algumas vezes, os rejeitos apresentam um teor considerável de mineral, devido ao fato dos minerais de ganga não estarem completamente liberados (partículas mistas). Isto acontece em geral por dois motivos: não há tecnologia economicamente viável ou os procedimentos utilizados no beneficiamento não foram satisfatórios, ou seja, o processo apresenta ineficiências, e como consequência ocorre a baixa recuperação no beneficiamento. A baixa recuperação no beneficiamento, além de significar perdas financeiras, leva a um aumento do volume de rejeitos que serão dispostos no meio ambiente, aumentando o impacto ambiental da atividade [7].
Diversos autores têm publicado trabalhos enfocando a reutilização do rejeito do minério de ferro em cerâmicas à base de argila, com matérias primas de diversas regiões do Brasil [8,9, 10], porém existem poucos estudos sobre a reutilização do rejeito do minério de ferro extraído e beneficiado nas minas de Carajás, localizadas na Região Sudeste do Estado do Pará. O rejeito de Carajás apresenta granulometria mais fina dentre os estudados, com D80 de 10µm, apresentando 64% de Fe2O3 e apenas 9% de minerais considerados contaminantes, essencialmente quartzo e gibbsita. Estas características do rejeito de Carajás fazem com que apresente o maior potencial de reprocessamento para a recuperação de ferro [7]. Portanto, o objetivo do presente estudo foi verificar a influência da incorporação do rejeito do minério de ferro das minas de Carajás sobre as propriedades de gresificação em produtos cerâmicos à base de argilas típicas da região, e determinar se este coproduto pode ser utilizado de maneira comercial por parte dos produtores de cerâmica da Região Sudeste do Pará.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados dois tipos de argilas: argila A, com maior plasticidade e argila B, com menor plasticidade. Ambas foram fornecidas por uma indústria cerâmica da região. As argilas foram secas e posteriormente maceradas com almofariz e pistilo e, em seguida, peneiradas de forma a apresentarem a granulometria adequada à peneira de malha 100 mesh (Tyler). O rejeito de minério de ferro (RMF) utilizado nas formulações foi fornecido por uma indústria do ramo da mineração, localizada em Parauapebas, Pará. O rejeito foi seco e em seguida peneirado de forma a apresentar a granulometria adequada à peneira de malha 100 mesh (Tyler).
Para a preparação das formulações, os insumos foram homogeneizados em moinho de bolas por 1 hora, à seco. Em seguida, as formulações foram conformadas em molde de aço, com dimensões 60 mm x 20 mm, mediante as composições estabelecidas na Tabela 1. O teor máximo de RMF foi determinado com base no efeito fundente que este rejeito apresenta, ou seja, teores muito elevados poderiam gerar forte retração linear de queima, em temperaturas elevadas. Foi feita, também, uma formulação de controle sem adição de
Engenharia no Século XXI – Volume 18
148
RMF, para se observar o efeito da adição do rejeito na massa argilosa. Os corpos de prova foram sinterizados em um forno de resistência elétrica (INTI FE1350) nas temperaturas de 10000C, 11000C e 12000C, durante 2 horas. Posteriormente, foram realizados ensaios e análises para a avaliação do comportamento, morfologia e propriedades mecânicas dos materiais obtidos.
As matérias-primas foram caracterizadas quanto à composição química por espectrometria de fluorescência de raios-X, utilizando-se um espectrômetro com energia dispersiva Shimadzu EDX-7000. A composição mineralógica foi determinada por difração de raios X por meio do difratômetro Rigaku Miniflex 600, usando-se a radiação Ka do Cu e varredura de 200/minuto. As cerâmicas produzidas foram caracterizadas tecnologicamente, pelo método de Arquimedes, para determinação do seu comportamento de gresificação, bem como determinado o módulo de resistência à flexão (máquina universal de ensaios, EMIC 10000N) segundo a norma ASTM 133-97 [11]. Foram também avaliadas as suas características microestruturais, através de microscopia eletrônica de varredura com elétrons retroespalhados (MEV Hitachi TM 3000), com microanálise por EDS (Oxford Swift ED 3000). Para tanto, amostras foram preparadas metalograficamente, através de lixamento e polimento, seguido de ataque térmico 500C a baixo da temperatura de sinterização, para a revelação dos componentes microestruturais.
Tabela 1: Formulações cerâmicas com adição de RMF. Formulação Argila A (%) Argila B(%) RMF (%)
F0 50 50 0
F1 47 47 6
F2 44 44 12
F3 41 41 18
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS
Inicialmente, foi feita a caracterização das matérias-primas empregadas para o desenvolvimento das formulações cerâmicas. A Tabela 2 apresenta as composições químicas, na forma de óxidos, de cada componente utilizado nas formulações do trabalho determinadas por espectrometria de fluorescência de raios X.
Tabela 2: Composições químicas das matérias-primas utilizadas.
Matéria-Prima Al2O3 SiO2 Fe2O3 K2O MgO Na2O P2O5 TiO2 P.F.*
Argila A 20,17 61,64 5,96 1,62 0,53 0,34 0,13 0,84 8,80
Argila B 24,11 54,89 6,39 1,98 0,65 0,41 0,10 0,98 10,50
RMF 5,39 0,56 93,80 - - - - 0,24 -
*Perda ao fogo
Pela determinação da composição química, nota-se que a argila é composta basicamente de sílica (SiO2) e alumina (Al2O3). Segundo Santos e colaboradores [12], o elevado teor de sílica indica que parte desta se trata de sílica livre, caracterizando-a como uma argila arenosa. Os valores elevados dos óxidos de alumínio (>20%) e silício (>53%) são característicos de matérias-primas cauliníticas de coloração creme, uma vez que os teores de ferro são relativamente baixos (~5%). Outra característica referente à argila é o baixo teor de óxidos fundentes como os óxidos de sódio (Na2O) e de potássio (K2O). Esse fato reforça a ideia de que essas argilas necessitam de uma alta temperatura de sinterização [13]. O óxido de ferro é responsável pela coloração vermelha ou amarelada na maioria das argilas, reduz a plasticidade, diminui a retração e facilita a secagem e, além disso, também diminui a resistência mecânica; porém, o pouco ferro que funde na sinterização proporciona dureza ao vidrado [14]. No rejeito de minério de ferro observa-se elevado teor de óxido de ferro, seguidos de valores mais baixos de alumina e sílica. A quantidade de rejeito a ser agregado nas formulações não pode ser elevada pois, apesar do rejeito utilizado neste trabalho apresentar uma quantidade baixa de sílica, que não causaria perdas significativas na plasticidade dos corpos de prova, o excesso de óxido de ferro, além de alterar a coloração, pode reduzir a resistência mecânica. A caracterização mineralógica das matérias-primas foi determinada por difratometria de raios-X. Os picos relacionados a cada fase foram identificados. Os difratogramas apresentados na Figura 1, representam as
Engenharia no Século XXI – Volume 18
149
argilas A e B. Observou-se que as principais fases encontradas foram a caulinita (Al2Si2O5[OH]4), muscovita (KAl3Si3O11) e o quartzo (SiO2).
Figura 1: Difratrograma de raios-X das matérias-primas. 1- argila B. 2-Argila A, 3 – RMF. Legendas: m -
montmorilonita, q – quartzo, k – caulinita, f – magnetita, h – Hematita.
A caulinita contribui para a plasticidade da massa cerâmica e redução da retração linear; o quartzo favorece a secagem e contribui para a resistência após a sinterização das peças, enquanto que a muscovita, se em tamanho reduzido, pode atuar como fundente, devido à presença de potássio em sua constituição química [9,10]. Pode-se observar, ainda, na Figura 1, o difratograma referente ao rejeito do minério de ferro, no qual observou-se picos de quartzo (SiO2), hematita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4) e bixbyita (FeMnO3). O quartzo está presente em grande quantidade na jazida em mistura com o minério de ferro [14]. A hematita é um dos diversos óxidos de ferro, assim como a magnetita. A bixbyita é uma fase geralmente associada à minérios de ferro e manganês [15]. A composição mineralógica do resíduo o caracteriza como um material não plástico e inerte durante a etapa de queima. Entretanto, a inércia do resíduo durante a queima ocorre desde que o ferro se mantenha em estado de oxidação Fe3+ [16]. Caso o óxido de ferro seja quimicamente reduzido, pode ocorrer na cerâmica o surgimento de um defeito denominado coração negro [17]. Este defeito pode ser também proveniente de matéria orgânica associada à argila: o resultado da análise química mostrou teores de voláteis da ordem de até 10%.
No entanto, nos produtos obtidos após a sinterização, não foi observada a presença de coração negro em nenhuma cerâmica produzida neste trabalho. A hipótese é que, devido às condições favoráveis de sinterização, em relação à atmosfera do forno, não houve a redução do ferro. Atmosferas redutoras favorecem a redução do Fe3+ para Fe2+ ou Fe0, dando surgimento, assim, ao coração negro em cerâmicas. Tais reações podem ser catalisadas pela presença de matéria-orgânica, que também pode reduzir a carbono ou CO, reduzindo assim o Fe presente no rejeito [17,18].
3.2. CARACTERIZAÇÃO DOS CORPOS CERÂMICOS
Primeiramente, são apresentados os resultados de gresificação dos corpos cerâmicos sinterizados. As curvas de gresificação representam graficamente as variações da retração linear e absorção de água dos corpos de prova após sinterização. Através destas é possível localizar em qual faixa de temperatura o material vai obter melhores propriedades, as condições de processamento e as tolerâncias da massa cerâmica às mudanças de temperatura. Todas as curvas são mostradas na Figura 2. Para a formulação 1 a curva de gresificação traçada teve sua interseção em aproximadamente 10770C, ponto este indicativo da melhor temperatura de trabalho para a formulação em questão. Nesta temperatura, o valor da retração linear é aproximadamente de 6,8 % e absorção de água de 10,3 %.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
150
Figura 2: Curvas de gresificação das formulações propostas.
Para a formulação 2, a curva de gresificação traçada teve sua interseção em aproximadamente 10750C. Nesta temperatura, o valor da retração linear foi de aproximadamente 6,8 % e absorção de água de 10,3 %. Para a formulação 3, a curva de gresificação traçada teve sua interseção em uma temperatura de aproximadamente 10770C. Nesta temperatura, o valor da retração linear é de 6,8 % e absorção de água de 9,5 %.
Os diagramas de gresificação demonstraram que a temperatura de cruzamento das curvas ficou um pouco abaixo de 10800C para as três formulações contendo RMF. Os valores de absorção de água ficaram na faixa recomendada para fabricação de materiais cerâmicos com boa qualidade, e os valores de retração linear excederam o recomendado. Este fato ocorreu devido ao efeito fundente do rejeito. Como modo de comparação, foi avaliada a formulação contendo apenas argila (F0). Nesta, a interseção das curvas ocorreu em torno de 11350C, portanto, em uma temperatura mais elevada que nas formulações contendo RMF, fato que evidencia o efeito fundente do rejeito, que reduz a temperatura de densificação do corpo cerâmico.
Para a análise da microestrutura por microscopia eletrônica de varredura, foram escolhidas amostras das três formulações com adição de RMF, nas temperaturas de 1000° e 1200° C. Na Figura 3, observa-se as micrografias da formulação 1, estando definidos os pontos a, b, c, para a temperatura de 10000C; d, e, f, para 12000C, com os seus respectivos elementos indicados através da microanálise química por energia dispersiva de raios-X (EDS). O ponto a constata a presença de quartzo e pode ser observado nitidamente na micrografia. O ponto b mostra a presença dos compostos de ferro que compõem o rejeito e bixbyita identificada anteriormente nas análises por difração de raios-X. No ponto c identificou-se a matriz mulítica, típica deste tipo de produto. As micrografias d, e, f, representam a superfície de fratura, nas quais os pontos indicados evidenciaram a mesma composição das microestruturas anteriores, ficando mais evidente a homogeneidade da matriz devido à temperatura mais elevada de sinterização.
Na Figura 4, observa-se as micrografias da formulação 2, estando definidos os pontos, da mesma forma como para a formulação 1. O ponto a indica a presença do rejeito de minério de ferro na matriz, o qual não reagiu totalmente. O ponto b mostra a presença da matriz mulítica, identificando também o titânio provavelmente proveniente do rejeito. No ponto c constatou-se a presença do quartzo. Os pontos d, e, f mostraram a mesma composição das micrografias anteriores, ficando mais evidente a homogeneidade da matriz devido a temperatura mais elevada, a presença de maior quantidade de rejeito e também o descolamento de cristais de quartzo da matriz.
Na Figura 5, observa-se as micrografias da formulação 3, estando definidos os pontos da mesma forma como para a formulação 2 e 3. O ponto a indica a presença dos óxidos de ferro do rejeito e também da bixbyita, representada pelo Mn. O ponto b mostra a presença de quartzo. O ponto c mostra a matriz mulítica. Os pontos d, e, f mostram a mesma composição das micrografias anteriores, ficando mais evidente a homogeneidade da matriz devido a temperatura mais elevada; a presença de maior quantidade de rejeito é evidenciada pelo maior teor da fase mais clara. Observa-se também que ocorreu maior descolamento de cristais de quartzo da matriz. Tal fenômeno provavelmente é devido a diferenças nas propriedades físicas, tais como retração e expansão térmicas, que se manifestam principalmente durante o aquecimento e posterior resfriamento do material.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
151
Sabe-se que a presença do defeito “coração negro” comumente observado em materiais cerâmicos, está relacionado à presença de matéria orgânica e compostos de ferro [16,19]. A despeito do elevado teor de Fe2O3 presente no RMF, não foi observado em nenhuma das amostras produzidas o referido defeito, mesmo com as condições oxidantes de queima utilizadas no trabalho.
A presença do RMF foi observada nas microestruturas das cerâmicas produzidas. A pesar das matérias-primas terem sido homogeneizadas antes da queima, nota-se que há a necessidade de cominuir-se, principalmente o rejeito antes da incorporação à massa argilosa. Contudo, a inserção de uma etapa a mais de moagem pode vir a encarecer o processo, tornando-o inviável economicamente. Com efeito, a homogeneidade irregular do RMF na microestrutura da cerâmica não prejudicou sobremaneira as propriedades: ao contrário, houve melhoras.
Figura 3: Micrografias de MEV e espectros de EDS da formulação 1 sinterizada a 10000C (a,b,c) e 12000C (d,e,f).
Engenharia no Século XXI – Volume 18
152
Figura 4: Micrografias de MEV e espectros de EDS da formulação 2 sinterizada a 10000C (a,b,c) e 12000C (d,e,f).
Engenharia no Século XXI – Volume 18
153
Figura 5: Micrografias de MEV e espectros de EDS da formulação 3 sinterizada a 10000C (a,b,c) e 12000C (d,e,f).
A Figura 6 apresenta os valores de módulo de ruptura à flexão das composições em função da temperatura de queima. Ocorreu um aumento da tensão de ruptura com o aumento da temperatura. Isto também é consequência das reações de sinterização que possibilitam uma maior coesão entre as partículas e redução da porosidade. A formulação 3 apresentou à temperatura de 12000C um decréscimo nos valores de tensão de ruptura quando comparado as demais formulações; este fato pode ser explicado devido ao teor elevado de óxido de ferro no rejeito incorporado, o qual diminui a resistência mecânica. De uma forma geral, todas as formulações atenderam aos valores mínimos previstos na literatura, que estabelece para a resistência mecânica das cerâmicas estruturais, após a queima, entre 20 e 65 kgf/cm2 [20].
Engenharia no Século XXI – Volume 18
154
Figura 6: Tensão de ruptura a flexão em função da temperatura de sinterização das formulações contendo RMF.
4. CONCLUSÕES
O presente trabalho visou estudar a influência e a viabilidade da incorporação do rejeito de minério de ferro nas propriedades tecnológicas e também na microestrutura de uma típica cerâmica estrutural.
Observou-se, através dos diagramas de gresificação que, em temperaturas elevadas (> 11000C), a retração linear ficou acima dos valores recomendados na literatura para aplicação em cerâmica estrutural. Esta retração excessiva ocorreu devido ao efeito fundente do rejeito incorporado.
A presença do RMF foi observada nas microestruturas, principalmente naquelas cerâmicas com maior teor do rejeito. Não houve prejuízo nas propriedades tecnológicas estudadas em função da pouca homogeneidade microestrutural do rejeito.
Houve aumento na resistência mecânica com o aumento da temperatura de sinterização em todas as formulações com adição de RMF. Contudo, em teores mais elevados de rejeito, houve diminuição em relação às amostras com menor adição, devido à maior formação de fase vítrea nos contornos de grão, que enfraquece a estrutura da cerâmica. Por este motivo, não é recomendado o uso de teores elevados (> 30%) de RMF em associação a massas argilosas para produção de cerâmica vermelha.
REFERÊNCIAS
[1] United States Geological Survey – USGS, National Minerals Information Center. Disponível em “https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020-iron-ore.pdf”. Acessado em 01/05/2020.
[2] Mendes B C, Pedroti L G, Fontes M P F, Ribeiro J C L, Vieira C M F, Pacheco A A, Azevedo A R G. Technical and environmental assessment of the incorporation of iron ore tailings in construction clay bricks. Construction and Building Materials 2019; 227; 116669.
[3] Santos D A M, Curi A, Silva J M. Técnicas para a disposição de rejeitos de minério de ferro. In: Congresso Brasileiro de Mina à Céu Aberto, 6, 2010. Belo Horizonte. Anais. Belo Horizonte, 2010. p. 1-9.
[4] Demir I. Effect of organic residues addition on the technological properties of clay bricks. Waste Management. 2008; 28: 622–627.
[5] Sani R, Nzihou A. Production of clay ceramics using agricultural wastes: Study of properties, energy savings and environmental indicators. Applied Clay Science. 2017;146,15:106-114.
[6] Menezes R R, Neves G A, Ferreira H C. O estado da arte sobre o uso de resíduos como matérias-primas cerâmicas alternativas. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 2002; 6,2: 303-313.
[7] Wolff A P. Caracterização de rejeitos de minério de ferro de minas da Vale. [Mestrado em Engenharia Ambiental]. Ouro Preto: Universidade Federal de Ouro Preto; 2009.
[8] Oliveira G E, Holanda J N F. Reaproveitamento de resíduo sólido proveniente do setor siderúrgico em cerâmica vermelha. Cerâmica 2004; 50: 75–80.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
155
[9] Silva F L, Araújo F G S, Teixeira M P, Gomes R C, von Krüger F L. Study of the recovery and recycling of tailings from the concentration of iron ore for the production of ceramic. Ceramics International 2014;40: 16085–16089.
[10] Fontes W C, Carvalho J M F , Andrade L C R , Segadães A M, Peixoto R A F. Assessment of the use potential of iron ore tailings in the manufacture of ceramic tiles: From tailings-dams to “brown porcelain” . Construction and Building Materials, 2019,206, 10: 111-121.
[11] American Society for Testing Materials – ASTM. C 133 – 97 (2003). Standard Test Methods for Cold Crushing Strength and Modulus of Rupture of Refractories.
[12] Santos C V P, Silva A R, Guimarães Filho M A S, Fagury Neto E, Rabelo A A. Índice de Plasticidade e Análise Racional de Argilas de Marabá (PA) para Avaliação das Zonas de Extrusão. Cerâmica Industrial 2012; 17,2: 25-27.
[13] Mouiya M, Bouazizi A, Abourriche A, El Khessaimi Y, Benhammou A, El hafiane Y, Taha Y, Oumam M, Abouliatim Y, Smith A, Hannache H. Effect of sintering temperature on the microstructure and mechanical behavior of porous ceramics made from clay and banana peel powder. Results in Materials, 2019, 4, 100028.
[14] Nociti, D M. Aproveitamento de rejeitos oriundos da extração de minério de ferro na fabricação de cerâmicas vermelhas. [Mestrado em Engenharia Mecânica]. Guaratinguetá: Universidade Estadual Paulista; 2011.
[15] Rayaprol, S et al. Structure and Magnetism of FeMnO3. Solid State Physics 2012; 57: 1132-1133.
[16] Souza, C C; Vieira, C M F.; Monteiro, S N. Alterações microestruturais de cerâmica argilosa incorporada com rejeito de minério de ferro. Revista Matéria 2008; 13,1:194-202.
[17] Santos, I M G, Silva J M, Trindade M F S, Soledade L E B, Souza A G, Paskocimas C A, Longo E. Efeito da adição de rejeito na redução de coração negro em cerâmicas vermelhas. Cerâmica, 51, 318: 144-150.
[18] Skoronski E, Souza D H, Santos S, Cesino J C, Ghislandi M G. Avaliação das propriedades físicas de revestimentos cerâmicos produzidos com resíduo da indústria cerâmica (cinza pesada de carvão mineral). Revista Matéria 2015; 20,1: 239-244.
[19] Gredmaier L, Banks C J, Pearce R B. Calcium and sulphur distribution in fired clay brick in the presence of a black reduction core using micro X-ray fluorescence mapping. Construction and Building Materials 2011; 25: 4477–4486.
[20] Souza Santos, P. Ciência e tecnologia de argilas. 2 ed. São Paulo: Edgard Blücher; 1992.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
156
Capítulo 15 Influência do poli (etileno glicol) nas propriedades das blendas de quitosana/poli (alcool vinílico)
Aracelle de Albuquerque Santos Guimarães
Cristiano José de Farias Braz
Marcus Vinícius Lia Fook
Itamara Farias Leite
Resumo: Este trabalho visa analisar a influência do poli(etileno glicol)(PEG) nas
propriedades das blendas de quitosana(CS)/poli(álcool vinílico)(PVA). Para tanto, filmes
de CS/PVA nas proporções 1:1 e 2:1 v/v, respectivamente, foram preparados sem e com
1 e 2% de PEG, em relação à massa total dos polímeros, utilizando o método de solução.
Em seguida, os filmes foram caracterizados por difratometria de raios-X (DRX),
calorimetria exploratória diferencial (DSC) e termogravimetria (TG). Na análise por DRX,
foi observado que o aumento da concentração de PEG promoveu uma maior
plastificação nas blendas. Este comportamento é evidenciado pelo alargamento do pico
presente nas blendas quando comparado com os picos da quitosana e PVA, puros. A
blenda CS/PVA (1:1) contendo 2% de PEG apresentou melhor estabilidade térmica. Por
fim, comprovou-se que a presença do PEG nas proporções utilizadas alterou a
morfologia das blendas assim como as temperaturas de decomposição, porém não
modificou as temperaturas de fusão cristalina das blendas CS/PVA.
Palavras-chave: Quitosana, poli(álcool vinílico), poli(etileno glicol), blendas, morfologia e
propriedades térmicas.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
157
1. INTRODUÇÃO
As aplicações tecnológicas solicitam dos materiais, propriedades cada vez mais específicas que muitas vezes não são alcançadas com o uso de materiais na sua forma pura. Por esta razão, muitas vezes se faz necessário aprimorar essas propriedades através de misturas de polímeros, resultando assim em blendas poliméricas que consiste de misturas físicas de dois ou mais polímeros e/ou copolímeros sem que haja reação química entre eles, a fim de obter um novo material com propriedades diferentes dos componentes que o originaram (1), com características adequadas para aplicações em diversos campos tecnológicos, especialmente, na engenharia de tecidos (2).
Neste sentido, a quitosana tem recebido grande destaque para a preparação de blendas poliméricas, por se tratar de um polissacarídeo produzido a partir da quitina, e que apresenta alta capacidade de absorção de água, biocompatibilidade, biodegradabilidade e não toxicidade (3). Porém, estudos (2) afirmam que a resistência mecânica e a maleabilidade da quitosana são limitadas principalmente para aplicação como filmes em bandagens, por exemplo. Por isso a mistura da mesma com outros polímeros é um procedimento importante para alterar e/ou obter as propriedades de interesse para uma dada aplicação. Para tanto, foi proposto nesse trabalho misturar a quitosana com o poli(álcool vinílico) (PVA), usado como biomaterial, e que vem recebendo significativo destaque na área de Engenharia de Tecidos. Contudo, o PVA é um polímero produzido pela polimerização do acetato de vinila seguida de reação de hidrólise do poli(acetato de vinila) em poli(álcool vinílico) (3). Porém, foi observada, nas blendas à base de quitosana, já em estudo, a necessidade de melhoria da ductilidade desse material para uso como curativos, sendo então sugerida, a preparação de blendas com a presença de plastificantes. Esses plastificantes são adicionados às blendas poliméricas com o objetivo de aumentar a mobilidade das cadeias poliméricas devido a diferentes efeitos moleculares, melhorando, assim, a maleabilidade e a aplicabilidade do material. Uma das características necessárias é que estes plastificantes sejam solúveis e compatíveis com o polímero (4).
Suyatma et al. (5) estudaram o efeito dos plastificantes glicerol, etileno glicol, poli(etileno glicol) e propileno glicol nas propriedades mecânicas e de superfície dos filmes de quitosana. Eles observaram que o uso de plastificantes melhoram a ductilidade da quitosana. Foi reportado também que os plastificantes como glicerol e o poli(etileno glicol) promoveram os melhores resultados em relação à eficiência de plastificação e estabilidade à estocagem dos filmes de quitosana.
Além dessas vantagens o poli(etileno glicol)(PEG) apresenta biocompatibilidade, biodegradabilidade, além de boas propriedades mecânicas como ductilidade adequada (6).
Por estas razões, este trabalho propõe um estudo da influência do poli(etileno glicol) nas propriedades das blendas de quitosana/poli(álcool vinílico).
2. MATERIAIS E MÉTODOS
Materiais
A quitosana com grau de desacetilação de 85%, sob a forma de pó e coloração bege clara foi fornecida pela Polymar (Fortaleza/CE). O poli(álcool vinílico)(PVA) com grau de hidrólise de 80% e massa molar ponderal média (MW) de 9.000 a 10.000 g/mol foi fornecido pela Sigma-Aldrich (São Paulo/SP) sob a forma de pó, de coloração branca. O poli(etileno glicol) (PEG 1500), sob a forma líquida à temperatura ambiente foi fornecido pela Sigma-Aldrich (São Paulo/SP). O ácido acético glacial (99,7%) da Nuclear (São Paulo/SP) foi usado como solvente para a quitosana.
Preparação das blendas de CS/PVA
1ª Etapa: Preparação das soluções de quitosana e PVA
A solução de quitosana foi preparada pela dissolução de 5,0g de CS em 500mL de uma solução de ácido acético glacial a 1% (v/v). Para a solubilização e homogeneização, a solução de CS foi submetida a 50°C sob agitação magnética por 2h. Passado esse tempo, a solução de quitosana, ficou em repouso a temperatura ambiente até resfriar. Em seguida, a solução foi filtrada à vácuo por duas vezes, usando papel de filtro para retirada dos resíduos insolúveis. Por fim, a solução de CS foi vertida em placas de teflon e secada numa estufa com circulação e renovação de ar a 40 °C por 24 h. A solução de PVA foi preparada usando procedimento semelhante ao citado para a quitosana com a diferença de que o solvente para o PVA foi água destilada e temperatura de 70°C. Este procedimento foi adaptado da metodologia reportada na literatura (2).
Engenharia no Século XXI – Volume 18
158
2ª Etapa: Preparação das blendas CS/PVA
Após preparação das soluções de CS e PVA conforme reportado acima (Etapa 1), misturas de CS/PVA nas proporções 1:1 e 2:1 (v/v), respectivamente foram preparadas. Em seguida, as soluções poliméricas foram submetidas à agitação magnética por 15 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, as soluções foram vertidas em placas de teflon e secadas em estufa com circulação e renovação de ar a 40ºC por 24h (2).
3ª Etapa: Preparação das blendas CS/PVA + 1% e 2% PEG
Novas soluções de CS/PVA nas proporções 1:1 e 2:1 v/v, respectivamente, foram preparadas. Após agitação magnética por 15 minutos, foi adicionada, a cada solução polimérica, 1% e 2% em massa de poli(etileno glicol) em relação a massa total de polímero, permanecendo sob agitação magnética por mais 30 minutos a temperatura ambiente. Por fim, as soluções poliméricas foram vertidas em placas de teflon e secadas em estufa com circulação e renovação de ar a 40ºC por 24h.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Difratometria de Raios-X (DRX)
Nas Figuras
Engenharia no Século XXI – Volume 18
159
Figura 1a e b, encontram-se os difratogramas de raios X para a CS e PVA puros e para as blendas de CS/PVA nas proporções 1:1 e 2:1 v/v, respectivamente, sem e com a presença do plastificante poli(etileno glicol).
O difratograma de raios X da quitosana apresenta picos típicos de material semicristalinos. Observa-se, primeiramente, a presença de um discreto ombro com máximo em 2θ ~ 9°, correspondente à fase amorfa da quitosana originada pela presença aleatória dos grupos amino –NH2 ao longo da estrutura química da mesma (7). Verifica-se também a presença de um pico de baixa intensidade com máximo em 2θ ~ 20,1°, pertencente ao plano (110) da fase cristalina da quitosana(8-10). A quitosana possui um perfil semicristalino devido às fortes interações intra e intermolecular, caracterizado pelas ligações de hidrogênio formadas entre os grupos amina, álcool, amida e outros grupos funcionais presentes na molécula de quitosana. Essas fortes interações fornecem certa organização à estrutura cristalina da quitosana (11). Verificam-se ainda discretos picos em torno de 26° e 29º, que caracterizam a fase cristalina da quitosana na forma ortorrômbica (12). O difratograma do PVA apresentou dois discretos picos característicos de cristalinidade com 2θ em 19,5º e 28,3º. A estrutura do PVA é formada por duas camadas de moléculas unidas por ligações de hidrogênio, enquanto ligações secundárias do tipo Van der Waals atua entre as camadas (2).
Para os difratogramas de raios X referentes às blendas CS/PVA, observa-se a presença das mesmas reflexões basais, porém tem-se que o pico com 2θ ~ 20,1º pertencente à quitosana (CS) aumentou de intensidade, ficando também mais alargado à medida que o teor de quitosana foi aumentado na mistura CS/PVA, sugerindo, portanto, que a quitosana tenha influenciado numa maior organização da estrutura cristalina das blendas (13).
Nos difratogramas de raios X para as blendas CS/PVA 1:1, observa-se que quando 1 e 2% de PEG foram adicionados à mistura, as áreas sobre os picos apresentaram um relativo aumento de intensidade e alargamento em relação à blenda CS/PVA 1:1 à medida que o teor de PEG foi aumentado na mistura CS/PVA, o que sugere uma maior plastificação na blenda, devido à intercalação do plastificante entre as cadeias poliméricas CS/PVA, promovendo alteração na cristalinidade dos filmes.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
160
Figura 1 – Difratogramas de raios-X para CS e PVA puros, e para as blendas CS/PVA sem e com 1 e 2% de PEG (a) CS/PVA (1:1) e (b) CS/PVA (2:1).
(a) (b)
Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)
A Figura 2 apresenta as curvas de DSC das blendas obtidas a partir do resfriamento e do segundo aquecimento. Nas curvas de DSC, sob resfriamento das amostras, presentes nas Figuras 2a e 2b, observa-se que a Tc encontrada para o PVA está em torno de 150 °C (14), enquanto que para as blendas, assim como para a quitosana pura não foi possível a observação.
Para as amostras CS/PVA nas proporções 1:1 e 2:1 sem a presença do plastificante, com relação à temperatura de fusão cristalina (Tm) (Figuras 2c e d), observa-se que com o aumento do teor de quitosana na composição das blendas CS/PVA, não houve mudança nas Tm´s, porém quando comparado com a Tm do PVA puro verifica-se uma discreta redução nas temperaturas de fusão cristalina das composições CS/PVA, ficando em torno de 192ºC para ambas as composições CS/PVA 1:1 e 2:1, enquanto que para o PVA a Tm está em 196ºC (15). Esse comportamento é atribuído à influência do rearranjo cristalino da blenda.
Figura 2: Curvas de DSC para CS e PVA puros, e para as blendas CS/PVA (1:1) e (2:1) sem e com 1 e 2% de
PEG no primeiro resfriamento (a) e (b); e no segundo aquecimento (c) e (d).
(a) (b)
10 20 30 40
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
28,3°
Inte
nsid
ade (
u.a
.)
2Theta (°)
CS PURA
CS/PVA(1:1)
CS/PVA(1:1)+1%PEG
CS/PVA(1:1)+2%PEG
PVA PURO20,1°
26,3°
29,2°
19,5°
10 20 30 40
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Inte
nsid
ade (
u.a
.)2Theta (°)
CS PURA
CS/PVA(2:1)
CS/PVA(2:1)+1%PEG
CS/PVA(2:1)+2%PEG
PVA PURO
19,5°
26,3°
28,3°
29,2°
20,1°
Engenharia no Século XXI – Volume 18
161
(c) (d)
Tabela 1 – Temperatura de cristalização (Tc) e temperatura de fusão cristalina (Tm) para CS pura, PVA puro, e para as blendas CS/PVA nas diferentes proporções, com e sem PEG.
AMOSTRAS TC (°C) Tm (°C) CS PURA - - CS/PVA (1:1) - 193 CS/PVA (1:1)+1%PEG - 193 CS/PVA (1:1)+2%PEG - 193 CS/PVA (2:1) - 192 CS/PVA (2:1)+1%PEG - 193 CS/PVA (2:1)+2%PEG - 193 PVA PURO 150 196
Para as blendas CS/PVA nas proporções 1:1 e 2:1, com a presença de 1% e 2% de PEG, é observado, durante o segundo aquecimento, Figuras 2c e 2d, estando também presentes na Tabela 1, que as temperaturas de fusão cristalina Tm estão em torno de 193°C, indicando que não houve influência do PEG nas Tm´s das blendas, comportamento este também observado por Chieng et al. (16) ao analisar a influência do PEG no poli (ácido láctico).
Termogravimetria (TG)
A estabilidade térmica dos filmes de CS pura, PVA puro, bem como das blendas de CS/PVA sem e com adição de poli (etileno glicol) (PEG) foram avaliadas e as curvas de TG/DTG estão mostradas na Figura 3. Os valores de temperaturas de decomposição nas várias etapas e a temperatura a 20% de perda de massa estão reportados na Tabela 2.
Para a quitosana pura, têm-se três estágios de perdas de massa. O primeiro, ocorre entre 20 e 160°C, referente à perda de água associada aos grupos aminos na estrutura do polissacarídeo. O segundo, ocorre entre 177 e 394°C, refere-se à desacetilação e despolimerização da quitosana, e um terceiro estágio na faixa de 411 a 680°C atribuído à decomposição dos resíduos finais do polímero (17).
O PVA puro apresenta três regiões de perda de massa, sendo uma entre 21 e 196°C, resultante da perda de água, outra entre 216 e 417°C, correspondente à decomposição de sítios e cadeias ligadas à cadeia principal do PVA e uma terceira acima de 415°C da decomposição dos resíduos orgânicos relativos à volatilização, principalmente, dos hidrocarbonetos (n-alcanos e n-alcenos) presentes(15).
Para as blendas CS/PVA, sem a presença de PEG, pode-se observar que as temperaturas de decomposição para as duas blendas são deslocadas para valores menores em relação as dos polímeros puros, especialmente para a composição de maior teor de quitosana CS/PVA (2:1) da mistura.
Nas curvas de DTG para as blendas de CS/PVA, observa-se a perda de água entre 60 e 100°C, um segundo evento entre 280-350°C referente à decomposição de ambos os materiais, sendo que a CS se decompõe primeiramente em uma temperatura mais baixa de 288 ºC e o PVA, por apresentar maior estabilidade
Engenharia no Século XXI – Volume 18
162
térmica, possui uma temperatura de decomposição ocorrendo em um valor mais alto (333ºC), e um terceiro evento acima de 400°C referente à decomposição dos subprodutos da degradação térmica do PVA (17).
Para as blendas CS/PVA (1:1) e CS/PVA (2:1) com a presença de 1% de poli (etileno glicol), verifica-se um primeiro estágio de perda de massa próximo de 64°C que pode ser atribuído à perda de água residual e à água mais internamente ligada ao polímero, bem como à volatilização do plastificante (18). O segundo estágio em torno de 174ºC para CS/PVA (1:1) e de 277°C para o CS/PVA (2:1), apresentando um aumento na temperatura de perda de massa que pode está associado à presença de PEG, que promove uma alteração no perfil de decomposição da blenda CS/PVA à medida que o teor de quitosana aumenta na mistura, essa mudança está associada a interações químicas existentes entre o grupo amina da quitosana e os sítios de hidratação: as hidroxilas e os oxigênios dos meros presentes no PEG (19).
Um terceiro estágio que corresponde a 277°C para CS/PVA (1:1) e 446°C para CS/PVA (2:1) trata-se da decomposição de resíduos orgânicos das blendas que em detrimento ao segundo estágio, essa perda de resíduos orgânicos ocorre em menor temperatura para a blenda CS/PVA (1:1), que também apresenta um quarto estágio em 427°C pertencente aos resíduos oriundos da interação da blenda com o PEG.
Para as blendas CS/PVA nas proporções 1:1 e 2:1 com adição de 2% de PEG, verificam-se quatro eventos de perda de massa para a composição CS/PVA (1:1) e três para a composição CS/PVA (2:1), sendo a primeira em 67°C presentes em ambas, referente à perda de água residual e à água mais internamente ligada ao polímero bem como à volatilização do plastificante, um segundo evento em 278°C para a composição CS/PVA (1:1) e 166°C para CS/PVA (2:1), ocorrendo uma diminuição da temperatura de decomposição quando se tem o aumento do teor de quitosana na presença de PEG, sendo este fato explicado por Hassouna et al.(20), em amostras de poli (ácido láctico) contendo PEG, e por Suyatma et al. (5) que investigaram o efeito do PEG, como plastificantes, nas propriedades mecânicas e térmicas de filmes de quitosana, que relataram que a presença de PEG na quitosana, promove a diminuição da temperatura de degradação da mesma, assim como foi observado nas blendas que contém maior quantidade de quitosana.
O terceiro evento é observado para temperaturas de 435°C para a composição CS/PVA (1:1) e 277°C para a composição CS/PVA (2:1) referentes à decomposição de resíduos de compostos das blendas sendo esta diferença entre as temperaturas do evento para as duas blendas justificado pelas temperaturas do segundo evento. Um quarto evento é visto em 435°C para a composição CS/PVA (2:1), referentes à decomposição dos compostos residuais presentes na blenda CS/PVA (2:1).
Figura 3: Curva TG/DTG para CS e PVA puros, e para as blendas CS/PVA sem e com 1 e 2% de PEG (a) e (b)
CS/PVA (1:1), (c) e (d) CS/PVA (2:1).
(a) (b)
Engenharia no Século XXI – Volume 18
163
(c) (d)
Ao observar na Tabela 2, as temperaturas de decomposição para as diferentes composições CS/PVA em 20% de perda de massa, tem-se que todas as composições possuem uma temperatura de decomposição menor quando comparada à composição de quitosana pura (268°C). Porém, a composição CS/PVA (2:1) contendo 1 e 2% de PEG apresentou temperatura de decomposição em torno de 250°C, sendo esta menor do que àquela apresentada pela composição CS/PVA (1:1) com adição de 1 e 2% de PEG que está em torno de 265°C.
Observando a Tabela 2 referente à Td20% pode-se avaliar que a estabilidade das diferentes composições CS/PVA 1:1 e 2:1 se apresentou diferente com a presença do PEG. Observa-se que a blenda CS/PVA (2:1) com 1 e 2% PEG foi mais afetada com a presença do plastificante do que a composição CS/PVA (1:1) com 1 e 2% de PEG. Isso se deve possivelmente ao afastamento das cadeias poliméricas provocadas pelo plastificante promover maior mobilidade, diminuindo assim a Td20% dessas misturas.
Tabela 2 – Temperatura de decomposição máxima para cada evento e Temperatura de decomposição a 20% de perda de massa para a CS pura, PVA puro, e para as blendas CS/PVA nas diferentes proporções,
com e sem PEG. Amostras Td1(°C) Td2(°C) Td3(°C) Td4(°C) Td20% (°C)
CS PURA 68 288 542 - 268 CS/PVA (1:1) 68 291 434 - 267 CS/PVA (1:1) + 1%PEG 64 174 277 427 256 CS/PVA (1:1) + 2%PEG 67 278 435 - 258 CS/PVA (2:1) 59 276 463 - 248 CS/PVA (2:1) + 1%PEG 64 278 446 - 248 CS/PVA (2:1) + 2%PEG 67 166 277 435 253 PVA PURO 111 333 459 664 312
Td – temperatura de decomposição máxima.
Outro fato importante de ser ressaltado é que enquanto na blenda CS/PVA (1:1) tem-se o aumento da temperatura de decomposição no segundo evento, para CS/PVA (2:1) tem-se o efeito contrário à medida que aumenta o teor de PEG na blenda, isso sugere ainda a boa interação entre os grupamentos aminas da quitosana e as hidroxilas terminais, bem como os oxigênios dos meros presentes no PEG, aumentando a reticulação da blenda à medida que se tenha um maior teor de quitosana. Em análise comparativa, observa-se que a blenda CS/PVA (1:1) com 2% de PEG foi a que apresentou melhoria na estabilidade térmica.
4. CONCLUSÕES
Através dos resultados de DRX, verificou-se que o aumento da concentração de PEG promoveu uma maior intercalação entre as cadeias, que caracterizou pela diminuição da cristalinidade nas amostras. Segundo o DSC, a presença do PEG não afetou as temperaturas de fusão cristalina das blendas. Pela TG, obteve-se que
Engenharia no Século XXI – Volume 18
164
a blenda CS/PVA (1:1) com 2% de PEG é a composição com melhor estabilidade térmica. Por fim, teve-se que a presença do PEG influenciou na morfologia e nas propriedades térmicas das blendas CS/PVA.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem ao LSR do DEM/UFPB, ao Laboratório de Polímeros do DEMAT/UFPB, ao LabSMaC da UAEMa/UFCG e a Capes pelo suporte financeiro.
REFERÊNCIAS
[1] AKCELRUD, L. Fundamentos da Ciência dos Polímeros, Barueri: Editora Manole, 2007.
[2] COSTA JR, E. S.; MANSUR, H. S. Preparação e caracterização de blendas de quitosana/poli (álcool vinílico) reticuladas quimicamente com glutaraldeído para aplicação em engenharia de tecido. Química Nova, v. 31, n. 6, p. 1460-1466, 2008.
[3] RICARDO, N. M. P. S et al. Estudo das propriedades mecânicas e biodegradáveis de blendas de amido de mandioca/quitosana/PVA. Congresso Brasileiro de Polímeros,10, 2009, Foz do Iguaçu. Anais… Foz de Iguaçu: CBPol, 2010.
[4] KITTUR, F. S. et al. Characterization of chitin, chitosan and their carboxymethyl derivatives by differential scanning calorimetry. Carbohydrate Polymers, v. 49, n. 2, p. 185-193, 2002.
[5] SUYATMA, N. E. et al. Effects of hydrophilic plasticizers on mechanical, thermal, and surface properties of chitosan films. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 53, n. 10, p. 3950-3957, 2005.
[6] ALEKSEEV, V. L. et al. Structure and mechanical properties of chitosan-poly (ethylene oxide) blend films. Polymer Science. Series B, v. 43, n. 9-10, p. 281-284, 2001.
[7] LUO, D. et al. Low temperature, pH-triggered synthesis of collagen–chitosan–hydroxyapatite nanocomposites as potential bone grafting substitutes. Materials Letters, v. 65, n. 15-16, p. 2395-2397, 2011.
[8] BASKAR, D.; KUMAR, T. S. S. Effect of deacetylation time on the preparation, properties and swelling behavior of chitosan films. Carbohydrate Polymers, v. 78, n. 4, p. 767-772, 2009.
[9] COSTA JR, E. S. et al. Preparation and characterization of chitosan/poly (vinyl alcohol) chemically crosslinked blends for biomedical applications. Carbohydrate Polymers, v. 76, n. 3, p. 472-481, 2009.
[10] FIORI, A. P. S. M. et al. Preparação e caracterização de nanocompósitos poliméricos baseados em quitosana e argilo minerais. Polímeros, v. 24, n. 5, p. 628-635, 2014.
[11] URAGAMI, T.; TOKURA, S. Material Science of Chitin and Chitosan. New York: Springer, 2006.
[12] CHAVES, J. A. P. et al. Caracterização e aplicação do biopolímero quitosana como removedor de corante têxtil presente em meio aquoso. Cadernos de Pesquisa, v. 16, n. 2, p. 36-43, 2009.
[13] COSTA JR, E. S.: Desenvolvimento de matriz de Quitosana/PVA, quimicamente reticulado para aplicação potencial em engenharia de tecido epitelial. 2008. 133 f. Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte.
[14] TONHI, E.; PLEPIS, A. M. G. Obtenção e caracterização de blendas colágeno-quitosana. Química Nova, v. 25, n. 6, p. 943-948, 2002.
[15] DONG, Y. et al. Studies on glass transition temperature of chitosan with four techniques. Journal of Applied Polymer Science, v. 93, n. 4, p. 1553-1558, 2004.
[16] CHIENG, B. W. et al. Plasticized poly (lactic acid) with low molecular weight poly (ethylene glycol): Mechanical, thermal, and morphology properties. Journal of Applied Polymer Science, v. 130, n. 6, p. 4576-4580, 2013.
[17] WANG, S. F. et al. Biopolymer chitosan/montmorillonite nanocomposites: preparation and characterization. Polymer Degradation and Stability, v. 90, n. 1, p. 123-131, 2005.
[18] YU, Y.-H. et al. Preparation and properties of poly (vinyl alcohol)-clay nanocomposite materials. Polymer, v. 44, n. 12, p. 3553-3560, 2003.
[19] DANTAS, M. B. et al. Obtenção de biodiesel através da transesterificação do óleo de milho: conversão em ésteres etílicos e caracterização físico-química. Congresso da Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel, 1, 2006, Brasília, DF. Anais… Brasília: UbrabioB, 2006.
[20] HASSOUNA, F. et al. New approach on the development of plasticized polylactide (PLA): Grafting of poly(ethylene glycol) (PEG) via reactive extrusion, European Polymer Journal, v. 47, p.2134-2144, 2011.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
165
Capítulo 16
Desenvolvimento de processo de produção de biodiesel em escala piloto através de rota inovadora utilizando irradiação ultrassônica
Alex Nogueira Brasil
Édipo Filipe Souza e Silva
André Nogueira Brasil
Leandro Soares de Oliveira
Resumo: Diversas pesquisas têm sido realizadas na busca de formas renováveis de
energia, os biocombustíveis, que sejam eficientes em seus processos de produção,
vantajosos no balanço energético produtivo e que respeitem o meio ambiente. O Brasil,
como outras nações do mundo, está engajado nessas pesquisas e, dentre as ações
mitigadoras adotadas, encontra-se a formulação e implantação de políticas públicas de
incentivo ao uso de biocombustíveis visando uma redução progressiva da utilização de
combustíveis fósseis. Os processos de produção industrial de biodiesel mais comumente
implantados se baseiam na transesterificação de óleos vegetais e gorduras animais,
utilizando metanol ou etanol como agente esterificante e catalisadores homogêneos,
principalmente os fortemente alcalinos, tais como o hidróxido de sódio ou potássio e o
metóxido de sódio. Dentre os avanços em processos de transesterificação, aqueles que
empregam ultrassom se destacam pelo efetivo aprimoramento no processo, seja do
ponto de vista de graus de conversões, de redução do tempo reacional ou de diminuição
no consumo de energia. O presente trabalho tem como objetivo principal contribuir para
o desenvolvimento sustentável do processo de produção de biodiesel pelo
desenvolvimento de tecnologias inovadoras para produção de biodiesel utilizando
irradiação por ultrassom. O reator ultrassônico concebido favoreceu uma maior
interação entre as fases, com consequente aumento no rendimento em éster, redução no
tempo de reação e no consumo de reagentes e, por conseguinte, economia de energia.
Palavras-Chave: biodiesel, ultrassom, transesterificação, usina modular.
Apresentado no Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia – CONTECC’2018 – 21 a 24
de agosto de 2018 – Maceió-AL, Brasil
Engenharia no Século XXI – Volume 18
166
1. INTRODUÇÃO
O biodiesel é um combustível renovável alternativo, definido como ésteres alquílicos de ácidos graxos de cadeia longa, o qual atende padrões determinados. É sintetizado tanto pela esterificação de ácidos graxos, quanto pela transesterificação ou alcoólise de triacilgliceróis de origem natural (TAG), refinados com álcoois de cadeia curta, normalmente metanol ou etanol (Islam, 2014).
A reação de transesterificação requer a presença de um catalisador, o qual pode ser uma base, um ácido ou uma enzima, embora possa ser conduzida em processos não catalíticos, mas em condições supercríticas. A reação de transesterificação é uma sequência de três reações consecutivas e reversíveis, nas quais di- e monoacilgliceróis, são formados como intermediários (Mythili, 2014 e Issariyakul, 2014).
Uma vez que a reação de transesterificação é reversível, pelo menos 100% de excesso de álcool (razão molar álcool para óleo 6:1) é geralmente utilizado para deslocar o equilíbrio para a formação dos ésteres alquílicos de ácidos graxos (Dalai et al., 2012).
A utilização de ultrassom de baixa frequência na produção de biodiesel apresenta várias vantagens sobre a síntese clássica. A energia de irradiação do ultrassom intensifica a transferência de massa entre os reagentes imiscíveis – triglicerídeos e álcool – através da cavitação ultrassônica. Não somente a eficiência e a redução do tempo reacional, mas também a viabilidade econômica, uma vez que requer quantidades reduzidas de catalisador (Stavarache et al. 2005) e apenas um terço da energia consumida em processos convencionais por agitação mecânica (Chand, 2010).
No presente trabalho, metodologias foram desenvolvidas para a otimização do processo de transesterificação de óleos vegetais em reatores ultrassônicos. Em seguida a importância dos parâmetros do ultrassom (potência, amplitude, frequência e ciclo) e outras variáveis de processo (razão molar álcool:óleo, quantidade e tipo de catalisador, intensidade da mistura, tempo e temperatura da reação) para o rendimento em biodiesel e a velocidade da reação foram intensamente pesquisados e experimentados. Além disso, a transesterificação por irradiação por ultrassom foi comparada com métodos convencionais de produção de biodiesel por agitação mecânica de forma a destacar suas vantagens e desvantagens.
2. MATERIAIS E MÉTODOS
As principais preocupações em relação ao desenvolvimento do presente trabalho foram: em um primeiro momento, experimentos foram realizados em nível de bancada no Laboratório de Biocombustíveis do DEMEC/UFMG; em um segundo momento, após análise dos resultados obtidos em escala laboratorial, dados foram transpostos para escala piloto, de forma a permitir o desenvolvimento e a elaboração dos projetos (químico/mecânico) da unidade de simulação de processos industriais de produção de biodiesel por irradiação por ultrassom (Figura 1).
O caráter didático e a possibilidade de simulação de processos industriais de produção de biodiesel por irradiação por ultrassom são os parâmetros em evidência, comparados com o estado da técnica em nível mundial, aliados à versatilidade e flexibilidade em termos da possibilidade de variação de todos os parâmetros de processo tais como: óleo vegetal, álcool, catalisador, tempo e temperatura de reação, decantação e destilação. Destacam-se ainda: o projeto do reator para síntese de biodiesel por irradiação ultrassônica, a construção dos reservatórios em vidro tipo borosilicato transparente, o que permite o acompanhamento visual de todas as etapas do processo, e a utilização de aço inoxidável para construção dos demais equipamentos e de material polimérico resistente ao biodiesel, para as vedações.
Outra característica relevante, está vinculada ao pequeno volume processado, até seis litros por batelada, que proporciona uma economia no uso e consumo de reagentes e insumos, além de ser facilmente transportada e alocada em espaços reduzidos, o que permite sua instalação em laboratórios de produção e análise de biocombustíveis. Utiliza ainda processo de purificação a seco, “Dry Wash”, por meio de adsorção em resina polimérica de troca iônica.
A usina para simulação industrial de processos de produção de biodiesel por irradiação ultrassônica seguiu a filosofia de dispor para utilização, um equipamento de baixo custo, de fácil utilização e transporte. Com capacidade para produzir até seis litros de biodiesel por batelada ou realizar a reação por ultrassom de forma contínua.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
167
Figura 1. Foto da usina de biodiesel por irradiação ultrassônica.
No projeto da usina para simulação de processos industriais de produção de biodiesel por irradiação ultrassônica, foram considerados diversos fatores ligados diretamente com a parte técnica e econômica do processo de produção do biodiesel, pesquisa da compatibilidade dos materiais utilizados nas tubulações, conexões, registros, confecção dos tanques e construção do reator ultrassônico.
Reator ultrassônico foi projetado e construído para realização dos experimentos de transesterificação de óleo vegetal assistida por ultrassom, conforme observado na Figura 2. Apresentando potência de 600 W e frequência de 20 kHz, este foi projetado, fabricado e instalado na usina para produção de biodiesel por irradiação ultrassônica, para avaliação da alcoólise de óleo vegetal.
Sobre tal estrutura foram construídos e organizados os equipamentos e utilidades, a saber:
1) painel elétrico de controle central;
2) primeiro reator multifuncional;
3) agitador mecânico com hélice naval;
4) segundo reator por irradiação ultrassônica;
5) gerador de ultrassom (600 Watts);
6) bomba de combustível;
7) filtro de combustível;
8) bomba de vácuo e ar comprimido;
9) reservatório de álcool;
10) trocador de calor (condensador);
11) coluna de purificação a seco (“dry wash”);
12) reservatório de biodiesel;
Engenharia no Século XXI – Volume 18
168
13) plataforma estrutural móvel;
14) sistema de exaustão;
15) rodízios.
Figura 2. Vistas isométrica e posterior do módulo de produção de biodiesel.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
De maneira a validar o modelo em escala reduzida de usina de biodiesel e, consequentemente, comprovar a eficácia dos projetos mecânico e químico do equipamento, uma reação completa de produção de biodiesel foi realizada a partir de óleo de soja refinado (4,5 litros), álcool metílico anidro – razão molar (6:1) – e metilato de sódio na proporção de 0,6% em relação à massa de óleo.
Os resultados da análise do biodiesel produzido na usina supracitada são apresentados na Tabela 1, e se encontram em conformidade com os parâmetros definidos pela resolução ANP nº 45 de 25/08/2014 (ANP, 2014).
Os experimentos de transesterificação de óleo de soja refinado, em que se utilizou catalisador homogêneo básico (NaOCH3), tiveram como principal objetivo, a comprovação da eficácia tanto do reator ultrassônico com transdutores piezelétricos (20 kHz, 600 W), quanto da usina para simulação de processos industriais de produção de biodiesel, projetados e construídos durante a realização do presente trabalho. A comparação dos resultados alcançados na síntese de biodiesel irradiada por ultrassom com o processo convencional por agitação mecânica, são de fundamental importância para a conclusão do trabalho. A Figura 3 apresenta foto da Usina Modular com capacidade de 8 mil litros de biodiesel mensais, projeto desenvolvido para a Fiat Chrysler Automobiles (FCA).
Engenharia no Século XXI – Volume 18
169
Tabela 1. Resultados obtidos na análise do biodiesel produzido na usina de simulação
* Límpido e isento de impurezas a 26,0 °C ** Temperatura de ensaio = 26,0 °C
Figura 3. Planta piloto de biodiesel dotada de reator ultrassônico.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
170
Os resultados apresentados nas Figuras 4 e 5 representam a evolução dos rendimentos em éster ao longo do tempo das amostras analisadas por infravermelho próximo. A Figura 4 apresenta concentrações de éster das amostras de biodiesel produzido por processo convencional (agitação mecânica a 1900 rpm), após purificação a seco da fase éster, para razões molares álcool:óleo de (a) 4:1, (b) 5:1, (c) 6:1, e concentrações de catalisador de 0,3%, 0,45% e 0,6%, respectivamente.
É observado (Figura 4a) que a concentração de éster irá atingir o limite aceitável apenas em tempos reacionais superiores à 50 minutos e porcentagem de catalisador de 0,6% (m/m) para razão molar álcool:óleo de 4:1. Para razão molar álcool:óleo de 5:1 (Figura 4b), a concentração de éster atingirá o limite mínimo aceitável em tempos reacionais superiores à 50 minutos para porcentagem de catalisador de 0,45% (m/m), e tempos superiores à 20 minutos para porcentagem de catalisador de 0,6% (m/m). Para razão molar álcool:óleo de 6:1 (Figura 4c), a concentração de éster irá atingir o limite aceitável em tempos reacionais superiores à 30 minutos para porcentagem de catalisador de 0,45% (m/m), e em tempos reacionais superiores à 15 minutos para porcentagem de catalisador de 0,6% (m/m). Nas condições estabelecidas para reação de controle (razão molar álcool:óleo de 6:1 e concentração de catalisador de 0,6%), utilizando o reator convencional desenvolvido para o presente trabalho, um tempo de reação entre 30 e 40 minutos seria suficiente para produzir um biodiesel em total conformidade com os padrões internacionais.
Figura 4. Cinética da reação de catálise homogênea
básica por agitação mecânica. Figura 5. Cinética da reação de catálise homogênea
básica irradiada por ultrassom.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
171
Os resultados para concentrações de éster obtidos a partir da produção de biodiesel por irradiação ultrassônica, utilizando o reator com transdutores piezelétricos (20 kHz – 600 W) são apresentados na Figura 5. Novamente, os efeitos relacionados à evolução no tempo reacional, aumento da concentração de catalisador e da razão molar álcool:óleo, se apresentam em conformidade com os relatos da literatura para as reações de transesterificação assistida por ultrassom, ou seja, a concentração de éster na fase biodiesel irá aumentar. Torna-se claro (Figura 5) que as concentrações de éster atingiram ou ultrapassaram os limites estabelecidos pelas normas internacionais em tempos reacionais superiores à 10 minutos para as três diferentes razões molares álcool:óleo e concentração de catalisador igual à 0,6% (m/m). Para porcentagens de catalisador de 0,3 e 0,45% (m/m), tempos reacionais superiores à 40 e 15 minutos, respectivamente, seriam necessários para atingir os limites aceitáveis de teores de éster para razão molar álcool:óleo de 5:1 (Figura 5b). Tempos de reação superiores à 20 e 10 minutos seriam necessários para atender os padrões internacionais em concentrações de catalisador de 0,3 e 0,45%, respectivamente, e razão molar álcool:óleo de 6:1 (Figura 5c). A redução total no tempo da reação empregando reatores por irradiação ultrassônica, em comparação aos processos convencionais, pode variar entre 10 a 40 minutos, dependendo do conjunto de condições operacionais empregado.
4. CONCLUSÃO
As unidades modulares de produção de biodiesel (Figuras 1 e 3) capazes de operar com um reator convencional por agitação mecânica e um inovador reator de fluxo contínuo por irradiação ultrassônica foram projetadas e operadas com sucesso. As unidades empregam um sistema de lavagem a seco para a purificação final da fase biodiesel, eliminando a necessidade de utilização de água e, consequentemente, sem geração de qualquer água residual no processo produtivo. Padrões internacionais de qualidade do biodiesel foram utilizados como critério de avaliação de desempenho das unidades projetadas. Ambos os tipos de processamento foram demonstrados capazes de atender os limites exigidos para o teor de éster na fase biodiesel após a purificação. O uso de ultrassom para intensificar a síntese permitiu a redução no excesso de álcool adicionado na etapa reacional em até 50%, sem qualquer efeito significativo sobre a qualidade do biodiesel produzido. Em geral, observaram-se economias de cerca de 25% na utilização de catalisador (homogêneo básico) para o processo assistido por ultrassom em comparação com o convencional (agitação mecânica). Os tempos de reação de menos de 5 minutos foram demonstrados viáveis para razões molares metanol:óleo de 6:1 e concentração de catalisador (metilato de sódio) de 0,6% (m/m). O consumo de energia para o processo ultrassônico foi estimado em aproximadamente cinco vezes inferior em comparação ao processo convencional.
Propostas de transposição de escala de laboratório para escalas de produção em miniusinas e usinas industriais foram efetuadas para o sistema (tipo de catalisador/tipo de reator) que apresentou o melhor desempenho para conversão de óleos em ésteres alquílicos de ácidos graxos, e também o melhor rendimento. A transposição de escala para o caso da etapa de remoção de impurezas do biodiesel seguiu os preceitos básicos de projeto de unidades de adsorção, fundamentados em dados obtidos em testes por batelada. No que diz respeito à aplicação industrial do reator ultrassônico, e avaliando seu design robusto, o aspecto considerado mais importante na transposição de escala foi a garantia da homogeneidade da atividade da cavitação ultrassônica em todo o volume de trabalho do reator. Testes preliminares foram realizados para o desenvolvimento dos equipamentos de irradiação por ultrassom e, posteriormente, adequações foram realizadas para aplicação em processo de pequena escala de produção de biodiesel em uma Usina Piloto de Produção de Biodiesel (Figura 3), desenvolvida especialmente para a Fiat Chrysler Automobiles (FCA).
AGRADECIMENTOS
À Universidade de Itaúna pelo apoio no desenvolvimento das pesquisas, ao GTA – Grupo de Pesquisa em Tecnologias Ambientais do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais.
REFERÊNCIAS
[1] ANP, Agência Natural do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, “Resolução ANP nº 45, de 25/08/2014” (Última visita, setembro de 2020). Disponível em: http://www.anp.gov.br.
[2] Chand et al., “Enhancing biodiesel production from soybean oil using ultrasonics”, Energy & Fuels 24 (2010), pp. 2010-2015.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
172
[3] Dalai, A.K., Issariyakul, T., Baroi, C., “Catalysis for Alternative Energy Generation. Chapter 6: Biodiesel production using homogeneous and heterogeneous catalysts: A review”, Springer, 2012, pp. 237-262.
[4] Islam, A. et al., “Advances in solid-catalytic and non-catalytic technologies for biodiesel production”, Renewable and Sustainable Energy Reviews 88 (2014), pp. 1200-1218.
[5] Issariyakul, T., Dalai, A.K., “Biodiesel from vegetable oils”, Renewable and Sustainable Energy Reviews 31 (2014), pp. 446-471.
[6] Mythili, R., et al., “Production characterization and efficiency of biodiesel: a review”, International Journal of Energy Research 38 (2014), pp. 1233-1259.
[7] Stavarache et al., “Fatty acids methyl esters from vegetable oil by means of ultrasonic energy”, Ultrasonics Sonochemistry 12 (2005), pp. 367-372.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
173
Capítulo 17
Manutenção portuária: Desafios e soluções relacionados às defensas marítimas
Antônio Marcio Figueirêdo Filho
Resumo: O presente estudo busca solucionar um dos principais problemas encontrados
pelas equipes de manutenção de portos, que é a inspeção visual em defensas marítimas,
uma vez que as grandes empresas fornecedoras vendem um tipo de configuração de
painel da defensa que dificulta tal atividade, dado que, por ser completamente fechado,
não há aberturas para que se verifique visualmente o estado de degradação da estrutura,
como possíveis infiltrações oriundas do processo de corrosão, visto que a água salgada é
um ambiente extremamente agressivo para as ligas metálicas. Sendo assim, o trabalho
então realiza um novo desenho da estrutura interna do painel, onde possui seus esforços
simulados e analisados através de softwares adequados para essa atividade. Assim, é
selecionado o material apropriado para suportar a carga que surge pelo contato com o
navio além de serem determinadas as dimensões necessárias para que seja viabilizada a
instalação da mesma. Além de ser realizado um projeto mecânico para confecção do
novo painel de defensa citado.
Palavras-chave: Defensa; Manutenção; Porto de Suape.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
174
1. INTRODUÇÃO
O complexo portuário de Suape, localizado a 40km da cidade do Recife, no estado de Pernambuco, possui uma grande demanda de navios diariamente, sejam estes porta contentores, petroleiros ou graneleiros. Ao chegarem ao porto, essas embarcações devem ser recebidas com segurança, para que não ocorram acidentes no momento da atracação. SUAPE (2016)
A atracação correta é realizada essencialmente por dois equipamentos: os cabrestantes, responsáveis por amarrar os cabos de aço que prendem o navio ao cais ou píer; e as defensas, interface entre o navio e o berço. Elas são suas principais e mais importantes barreiras de segurança para proteger as pessoas, embarcações e estruturas.
A maioria dos sistemas de defensas usam unidades de borracha, ar ou espumas especiais que atuam como mola para absorver a energia cinética do navio. Conforme a mola se comprime, forças crescentes são transmitidas a outras partes do sistema da defensa – painéis, âncoras, e correntes – e assim para o caminho de carga selecionado dentro das estruturas de suporte. (LEAL, 2011)
Sendo assim, é necessário que ocorra uma boa manutenção destes aparelhos, uma vez que, se danificados, podem avariar o casco dos navios, liberar cabos de aço altamente tensionados, colocando trabalhadores próximos em perigo, ou causar um acidente ambiental. Pode-se observar uma imagem aérea do Porto de Suape na Figura 1. (ALLELUIA, 2009)
Os terminais de atracação do Porto de Suape são classificados de acordo com as suas respectivas funções e são nomeados pelas seguintes siglas: PGL-3B, PGL-3A, PGL-2, PGL-1, CMU, onde PGL significa píer de granéis líquidos e CMU cais de múltiplos usos. Além disso, no período em que o estudo foi realizado, a empresa responsável pelos serviços de manutenção em equipamentos do porto era a Real Energy (SUAPE, 2016)
Diante desse contexto, não há dúvidas de que a manutenção das defensas deve ser executada periodicamente uma vez que os níveis de oxidação do aço no local são elevados. Contudo, essas pesam cerca de 60.000 N, o que dificulta a ação de instalação e desinstalação da estrutura sobre o píer, realizada pela equipe de manutenção. (ALLELUIA, 2009)
Outro fator que prejudica o serviço de manutenção das defensas é a configuração do seu painel, que por ser fechado em todos os lados, dificulta a inspeção visual da equipe. Consequentemente, torna-se necessário a retirada da defensa do local para definição real do estado de degradação da mesma, porém, nem sempre esse método é possível, pois, além de ser necessário que não haja navios atracados em ambos os lados do píer, existe o custo do aluguel do guindaste.
Sendo assim, a inspeção visual com a defensa ainda instalada é comumente realizada, o que abre brechas para conclusões erradas da equipe sobre o estado de degradação da mesma. (LEAL, 2011)
2. MÉTODOS
Dentre as variáveis a serem consideradas, decidiu-se desenhar um novo modelo de painel de defensa, onde esta não teria placa traseira, para que se facilite a inspeção visual. Em seguida, será realizado uma análise de sua resistência mecânica, onde será simulado o comportamento da estrutura quando é submetida à força de contato exercida pelo casco do navio, que, pelo equilíbrio das forças, é igual à força elástica gerada pela compressão do borrachão. O fator de segurança mínimo adotado para que a estrutura seja considerada segura é estipulado em 1,5, ou seja, as variáveis de utilização podem exigir até 50% a mais de resistência da defensa em ralação ao planejado inicialmente.
Posteriormente, se for possível realizar as modificações e a viabilidade mecânica da estrutura através do fator de segurança for comprovada, será realizado um projeto da estrutura, para que esta possa ser confeccionada por uma empresa capacitada.
Sendo assim, as etapas do estudo vão desde a coleta de dados até a decisão da viabilidade do projeto. Afim de organizar os trabalhos, é realizado um fluxograma das atividades, como pode ser observado na Figura 2.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
175
Figura 1 - Fluxograma de atividades.
Fonte: O autor, 2019.
Para realizar a coleta dos dados, foi realizado a retirada de uma defensa do PGL-3B que se encontrava em um estado precário de conservação. O momento da retirada é mostrado na Figura 3. Em seguida, a estrutura foi levada à oficina mecânica da Real Energy, onde foi retirado sua placa traseira, o que mostrou um estado de conservação pior do que o deduzido pela equipe anteriormente, como é mostrado na Figura 4. Os dados foram coletados com o auxílio uma trena metálica de 10m, e armazenados no Excel.
Os painéis utilizados no PGL-3B possuem 3 metros de largura e 6 metros de altura, além de serem confeccionados com perfis Gerdau W200x19,3 kg/m (200mm de largura e 19,3 kg/m), que também serão utilizados na confecção da nova estrutura.
Figura 47 – Retirada da defensa
Fonte: O autor, 2018
Engenharia no Século XXI – Volume 18
176
Figura 48 Estado de conservação da defensa retirada
Fonte: O autor, 2018
Todos os cálculos devem ser realizados a partir da energia absorvida pelo borrachão, esse valor é fornecido pela Pulsar Marine, empresa que fornece as Defensas do PGL-03, e varia de acordo com o tipo de embarcação que atraca ao cais. O modelo de Defensa utilizado é representado pelo tag PSM-AA-1800H P01 e pode ter suas características observadas no Quadro 1.
Quadro 1 - Características da defensa utilizada no PGL-3B.
Modelo P01 P0 P1
R (kN) E (kNm) R (kN) E (kNm) R (kN) E (kNm)
PSM-AA-1800H
1817 1695 2328 2172 2974 2767
Fonte: Catálogo Pulsar Marine, 2017. Adaptado pelo autor.
Todos os cálculos devem ser realizados a partir da energia absorvida pelo borrachão, esse valor é fornecido pela Pulsar Marine, empresa que fornece as Defensas do PGL-03, e varia de acordo com o tipo de embarcação que atraca ao cais. O modelo de Defensa utilizado é representado pelo tag PSM-AA-1800H P01 e pode ter suas características observadas no Quadro 1.
Quadro 2 - Especificações do aço ASTM A36. AÇO ASTM A36
Limite de escoamento ( ) 345Mpa (mín)
Resistência a tração 485Mpa (mín)
Módulo de elasticidade 200GPa (mín)
Fonte: Usiminas, adaptado pelo autor.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
177
3. RESULTADOS
A princípio, é determinada a pressão no painel com o valor da energia apresentada no Quadro 1, para defensas tipo P01. Sendo assim, utiliza-se a Equação 1. A equação citada anteriormente é uma adaptação gerada a partir da equação do trabalho mecânico ( ), onde W é o trabalho, F a força, d a distância realizada pela força e o ângulo entre o sentido da força e o deslocamento.
Onde:
(E) = Energia cinética de atracação (retirada do Quadro 1) = 1695 kN.m;
(F) = Força máxima aplicada ao painel kN;
(D) = Distância do ponto onde a compressão do borrachão possui seu valor igual a 0 até o ponto onde a compressão é máxima = 0,7 (fator de compressão do borrachão) x 1,8 (distância do píer até a superfície do painel) = 1,26 m;
( ) = Ângulo entre o vetor força e o vetor do deslocamento da mola = 0°.
Sendo assim, a força encontrada possui o valor de 1345,24 kN, e pode ser aplicada na Equação 2 para determinar a pressão exercida na superfície do painel.
Onde:
(P) = Pressão exercida no painel em kPa;
(F) = Força exercida sobre o painel = 1345,24 kN
(A) = Área da superfície do painel que deve entrar em contato com o casco do navio = 18 m² (3 m de largura e 6 m de altura)
Com a informação da pressão exercida realiza-se o desenho da nova estrutura, em que não há uma placa traseira, para isso, aumenta-se o número de perfis internos, além de desenhar reforços onde exista excesso de concentração de tensão. Todas as atividades mencionadas neste parágrafo foram realizadas com o SolidWorks 2016. A nova configuração do painel pode ser visualizada no projeto para confecção, como pode é apresentado na Figura 5.
No Detalhe A, pode-se observar um o reforço criado para distribuir as tensões geradas pelo movimento de flexão do painel. O fator de segurança obtido para o novo painel foi de 1,60 e pode ser reduzido em projetos futuros, conforme a observação do comportamento da estrutura em campo.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
178
Figura 4 - Projeto do novo painel.
Fonte: O autor, 2018.
Na Figura 6 é possível observar a estrutura após sua confecção. Posteriormente, um dos painéis foi instalado, facilitando assim as manutenções preventivas e preditivas deste equipamento.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
179
Figura 5 - Novo painel confeccionado
Fonte: O autor, 2019.
4. CONCLUSÃO
A realização do trabalho permite concluir que a nova configuração de painel criada neste estudo atende às exigências mecânicas que surgem no contato do navio com a defensa, além disso, a nova estrutura permite uma melhor visualização do estado de degradação da mesma, visto que ela não possui placa na região traseira, sendo assim, o projeto também atende às solicitações da equipe de manutenção, que busca sempre praticidade e exatidão nas execuções das atividades.
REFERÊNCIAS
[1] ALMEIDA, J. C; et al. Elementos de máquinas – projeto de sistemas mecânicos. 1 ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2017.
[2] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10126: Cotagem em desenho técnico. Rio de Janeiro, 1987.
[3] BEER, F. P. JOHNSTON, JR. E.R. Resistencia dos Materiais, 3° Ed., Makrom Books, 1995.
[4] BUDYMAS, Richard G; NISBETT, J. Keith. Elementos de máquinas de Shigley: projeto de engenharia mecânica. 8. ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2011.
[5] DEFENSA cone. Pulsar Marine, Sorocaba, SP, [s.d]. Disponível em: http://www.pulsarmarine.com.br/assets/pdf/catalogo-tecnico-cone.pdf Acesso em: 14 de dezembro de 2019.
[6] LEAL, M. M. G. G. DIMENSIONAMENTO DE DEFENSAS MARÍTIMAS: Aplicação ao caso do terminal portuário Tecondi do porto de Santos, Brasil. Orientador: Professor Doutor Levi Salvi. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO, Porto, Portugal, 2011.
[7] HIBBELER, R. C. Resistência dos Materiais. 7. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2010. Catálogo Pulsar Marine.
[8] MELCONIAN, S. Elementos de máquinas. 2.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Érica, 2001.
[9] NORTON, R. Projeto de máquinas. Porto Alegre: Bookman, 2013.
[10] PORTO DE SUAPE, Disponível em: < http://www.suape.pe.gov.br/pt/noticias/3-porto-de-suape-cresce-368-na-navegacao-por-cabotagem> Acesso em: 14 de dezembro de 2019.
[11] SHIGLEY, Joseph E.; MISCHKE, Charles R.; BUDYNAS, Richard G. Projeto de Engenharia Mecânica. 7. ed. São Paulo: Bookman, 2005.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
180
Capítulo 18
O processo de ensino e aprendizagem baseada em projetos: Relato de experiência na engenharia
Tania Luna Laura
Patrícia Rodrigues de Araújo
Adiana Nascimento Silva
Resumo: Este trabalho trata de um relato de experiência de uma metodologia de ensino
e aprendizagem baseada em projetos, do inglês Project Based Learning (PBL). A
experiência foi vivenciada na disciplina de Controle Digital do Curso de Engenharia
Elétrica, na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Centro Multidisciplinar de
Caraúbas). A metodologia aplicada foi realizada no período letivo de 2017.2 e o
rendimento final da turma foi comparada com o rendimento das turmas do semestre do
ano de 2016. Destaca-se que durante o decorrer da disciplina, com a metodologia
aplicada, os discentes mostraram autonomia, pró-atividade, criatividade e
responsabilidade na tentativa de produzir um produto ou resultado, não estando apenas
como mero espectadores de uma disciplina teórica, mas como agentes na produção do
seu próprio conhecimento. Embora os projetos desenvolvidos foram realizados de forma
individual, a metodologia aplicada incentivou a capacidade de comunicação e o trabalho
em equipe, pois os conhecimentos e habilidades individuais foram compartilhados entre
os discentes da turma. Também proporcionou o desenvolvimento de competências de
gestão e gerenciamento, uma vez que prazos e metas tinham que ser cumpridos para a
concepção dos projetos. Assim, o desenvolvimento de projetos práticos, como protótipos
de sistemas de controle, permite que o discente associe conceitos teóricos com situações
práticas presentes no cotidiano, contribuindo para sua formação acadêmica e
profissional.
Palavras-chave: Processo de ensino-aprendizagem. Aprendizagem baseada em projetos.
Ensino de engenharia.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
181
1. INTRODUÇÃO
A engenharia é uma área de conhecimento que se destaca pela criação, geração, aperfeiçoamento e emprego de tecnologias visando a produção de bens de consumo e de serviços direcionados para atender as necessidades da sociedade. Com o intuito de atender às demandas da sociedade que em geral são completamente dinâmicas, os cursos de engenharia estão em constante transição, modificando suas estruturas didático pedagógicas e buscando se adaptar às tendências de evolução global.
De acordo com a resolução nº 11/2002 (CFE/CES) que diz respeito a novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos Cursos de Graduação em Engenharia, o ensino de engenharia deve seguir as exigências impostas pela globalização e de acordo ao Art. 3º, a formação do engenheiro deve ser generalista, humanista, crítica e reflexiva, que o capacite a absorver e desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua situação crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade.
Uma pesquisa divulgada pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA em parceria com o Sistema Indústria, o perfil do profissional engenheiro desejado pelas empresas deve possuir: habilidades para se trabalhar em equipe, boa comunicação, capacidade para adquirir novos conhecimentos, aptidão para desenvolver soluções originais e criativas, entre outros (TOYOHARA et al, 2010).
De acordo com Masson et al (2012), entende-se que os alunos formados em engenharia, deverão ser preparados para propor soluções aos problemas que surgem na sua vida profissional, fazendo uso de tecnologias de forma criativa, considerando os aspectos sociais, ambientais, éticos e econômicos. Uma vez que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente e o profissional de engenharia deve ter uma postura pró-ativa, crítica e cooperativa em sua formação. Para isto, os discentes devem ser estimulados durante sua formação a trabalhar com projetos com níveis crescentes de complexidade, no qual também exige dos docentes, uma mudança na metodologia aplicada. Assim como, a equipe gestora deve criar condições para o oferecimento de formação continuada aos docentes (SILVA, 2012; MARKET, 2000).
Nesse contexto, os docentes universitários, em particular docentes de engenharia, procuram alternativas para ministrar o conteúdo das disciplinas de forma que atinja com clareza ao número maior de discentes. Entretanto, para algumas disciplinas e cursos, sejam estes muito práticos ou interdisciplinares, é comum que o docente encontre dificuldades no ensino ou na forma de transmitir o conteúdo para os alunos. Assim, diversos estudos têm sido realizados por docentes sobre aplicação de metodologias ativas para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, a fim de atender as novas exigências do mercado em relação à formação do engenheiro (SILVA, 2014; REZENDE et al, 2013; TOYOHARA et al, 2010)
Segundo Borges e Alencar (2014), metodologias ativas podem ser entendidas como formas de desenvolver o processo do aprender que os docentes universitários utilizam na busca de conduzir a formação crítica de futuros profissionais nas mais diversas áreas. O uso dessas metodologias contribui na autonomia do discente, despertando a curiosidade, estimulando tomadas de decisões individuais e coletivas, advindos das atividades essenciais da prática social e em contextos do estudante.
Uma das metodologias ativas, aprendizagem baseada em Projetos (ABP), está associada às teorias construtivistas, em que o conhecimento não é absoluto, e sim construído pelo estudante por meio do seu conhecimento prévio e sua percepção global, dimensionando a necessidade de aprofundar, amplificar e integrar o conhecimento (BORGES; ALENCAR, 2014). A eficiência da ABP pode ser verificada por meio de comparação dos conceitos apreendidos durante as aulas práticas, onde pode ser constatado que a aprendizagem é mais efetiva do que em aulas teóricas (MASSON et al., 2012).
A aprendizagem por meio de projetos consiste na produção de projetos propostos pelo docente, que no decorrer de sua execução sejam utilizados todo o conteúdo da disciplina ministrada. Quando uso desta metodologia, o docente da disciplina torna-se apenas um orientador – facilitador. Os resultados dos projetos propostos devem ser próximos aos esperados pelo docente, tornando possível sua avaliação (REZENDE et al., 2013).
Engenharia no Século XXI – Volume 18
182
O uso dessa estratégia exige muito mais empenho, tanto dos alunos como do professor. Exige que o professor mude sua postura tradicional de especialista em conteúdo para treinador de aprendizagem, e que os discentes, assumam maior responsabilidade por sua própria aprendizagem, entendendo que o conhecimento obtido com seu esforço pessoal será mais duradouro do que aquele obtido apenas por informações de terceiros, desenvolvendo ainda competências como a criatividade, senso crítico, autonomia de aprendizagem, iniciativa e cooperação (SILVA, 2014; BORGES; ALENCAR, 2014; REZENDE et al, 2013; MASSON et al, 2012; TOYOHARA et al, 2010).
Nesse contexto, a motivação da aplicação da metodologia de ensino aprendizagem baseada em projetos em uma turma do curso de engenharia deu-se pelo fato de que esta metodologia contribui significativamente tanto para o aumento do rendimento acadêmico do discente, quanto para sua formação profissional. Assim, este trabalho trata de um relato de experiência de uma metodologia de ensino-aprendizagem baseada em projetos, que envolveu professor, técnicos de laboratórios e alunos da turma do segundo semestre do ano de 2017 da disciplina de Controle Digital do curso de Engenharia Elétrica do Campus Caraúbas. A metodologia e Resultados serão apresentados nas próximas seções.
2. METODOLOGIA
A metodologia adotada neste trabalho classifica-se quanto à natureza como pesquisa de campo sob abordagem quantitativa, por meio do levantamento do percentual da situação e média das notas dos discentes e; abordagem qualitativa, com o relato de experiências que compreende o processo de ensino e aprendizagem baseada em projetos com discentes do curso de graduação em Engenharia Elétrica do segundo semestre 2017, no período de novembro de 2017 a abril de 2018.
O curso de Engenharia Elétrica é ofertado pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido, tanto na sede como também em um Campus localizado na cidade de Caraúbas no Estado do Rio Grande do Norte. O ingresso no curso é realizado no 2º ciclo, uma vez que inicialmente a formação básica é no curso de Bacharelado em Ciência Tecnologia por um período de três anos se o aluno for regular, e o segundo ciclo têm duração de dois anos e meio, com disciplinas do eixo de formação profissional em Engenharia Elétrica.
A metodologia de ensino/aprendizagem por projetos, foi aplicada em uma turma de 8 alunos da disciplina de Controle Digital. Esta disciplina, pertence a grade curricular do último semestre do curso de Engenharia Elétrica do Campus Caraúbas, e apresenta um grau de dificuldade relativamente alto, pois na mesma exploram-se conceitos complexos que requerem conhecimentos de disciplinas anteriores, como: eletrônica e lógica de programação.
Os projetos desenvolvidos têm como tema central “Desenvolvimento de Protótipos de Sistemas de Controle”. O desenvolvimento de cada projeto complementa o conteúdo final da disciplina de Controle Digital. A nota final da disciplina foi composta da seguinte forma: 50% atribuiu-se ao conhecimento do conteúdo teórico e 50% ao desenvolvimento do protótipo de sistemas de controle. Esta componente curricular, segundo o Projeto Pedagógico do Curso, foca nos conceitos de teoria de sistemas de controle em tempo discreto. Logo, o discente deve analisar e projetar sistemas de controle em tempo discreto, projetar controladores digitais para sistemas lineares invariantes no tempo com ênfase em sistemas SISO e, projetar observadores e controladores em espaço de estados em tempo discreto.
O desenvolvimento dos projetos ocorreu no decorrer do semestre letivo 2017.2, entre os meses de novembro de 2017 a abril 2018. Inicialmente, a docente da disciplina apresentou diversos projetos de sistemas de controle com viabilidade de implementação pelos discentes, descrevendo todas as etapas de implementação e destacando a correlação dos conceitos teóricos ministrados em cada unidade com cada etapa da execução do projeto, as metas a serem alcançadas, bem como os prazos a serem cumpridos durante sua execução.
Devido a turma ser composta por poucos integrantes, foi proposto pela docente, que cada discente desenvolve um protótipo de sistema de controle. E após um prazo de 15 dias, cada aluno deveria formalizar a escolha do projeto a ser desenvolvido. Ao final da primeira unidade, o discente deveria apresentar um relatório com sua proposta, contendo as justificativas que motivaram a escolha do projeto, uma breve revisão da literatura e a modelagem matemática, em tempo contínuo, do sistema a ser desenvolvido. Posteriormente, essas propostas foram discutidas entre os discentes e a docente da turma. Na tabela 1, apresenta-se os projetos que foram propostos pelos discentes.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
183
Tabela 1 – Projetos propostos pelos discentes. Aluno Proposta de Projeto
A.E.S Controlador para Conversor CC-CC Buck
A.F.A Controle de Temperatura de uma Estufa
A.F.V Controle de um Sistema Discreto de Equilíbrio Ball and Beam
E.A.M.F Controle de um Sistema Pêndulo-Hélice com Motor CC
G.M.F Controle Digital de Temperatura de um Ambiente
J.G.D.J Controle de Velocidade de um Motor CC com Sensor Hall
L.F.R.C.F Controle de Velocidade de um Motor CC com Sensor Óptico
Fonte: Elaborado pelas autoras.
No decorrer da segunda unidade, foram ministrados assuntos teóricos mais complexos para os discentes e no final da unidade foi necessário fazer outro relatório, no qual deveriam constar o processo para a obtenção do modelo matemático do projeto em tempo discreto e o comportamento do sistema em malha aberta. Durante esse período, no Laboratório de Engenharia Aplicada e com o suporte dos técnicos de laboratório do curso, os discentes iniciaram a montagem dos módulos de sistemas mecânicos e dispositivos de aquisição de sensores, e também realizaram testes de funcionamento e identificação de sistemas de diversos motores. As orientações individuais e coletivas foram realizadas, tanto em sala de aula como no laboratório.
Na terceira unidade, foram abordados assuntos relacionados às técnicas de projeto de controladores e realizado alguns estudos de casos. Para a concepção do protótipo foi necessário implementar um controlador digital, seja em um computador PC e/ou embarcado em um microcontrolador, conforme definido em projeto pelo discente.
Por fim, após a conclusão dos protótipos de sistemas de controle foi elaborado, por cada aluno, um relatório final completo com formatação de artigo, no qual deveriam constar as motivações, a modelagem matemática, as técnicas de projeto utilizadas, os resultados e considerações finais. Os relatórios foram entregues a docente com o prazo de até 24 horas antes da apresentação do trabalho. As apresentações dos projetos foram realizadas no laboratório, com a presença de todos os discentes da turma e participação de demais discentes e docentes do curso. Na Figura 1 mostra-se os projetos implementados pelos discentes da disciplina de Controle Digital.
Figura 1 – Proto tipos de sistemas de controle construí dos pelos discentes.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
184
Fonte: Elaborado pelas autoras.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A disciplina de Controle Digital não apresentava um alto índice de reprovação, porém para aprovação automática, o aluno deveria obter uma média igual ou superior a 7,0 (sete), mas caso não obtivesse essa média, o mesmo deveria ser submetido a uma Prova Final a fim de obter uma média igual ou superior a 5,0 (cinco) para ser aprovado. Neste sentido, observou-se que mais de 55% dos discentes eram submetidos a Prova Final e consequentemente, a média das notas eram regular, no entanto, com a aplicação da metodologia de ensino/aprendizagem baseada em projetos, esses índices melhoraram de forma significativa.
Nas Figuras 2 e 3, podem ser visualizadas a situação dos alunos de turmas de semestres do ano de 2016, onde não era utilizada a metodologia ativa, mas sim um trabalho final da disciplina e a situação dos alunos da turma do segundo semestre de 2017 na qual foi aplicada a metodologia de ensino/aprendizagem baseada em projetos, respectivamente. Não houve turma formada da disciplina no primeiro semestre de 2017.
Figura 2 – Situaça o dos discentes antes do uso da metodologia de aprendizagem baseada em projetos.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
185
Figura 3 – Situaça o dos discentes com a aplicaça o da metodologia de aprendizagem baseada em projetos.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
De acordo com os gráficos apresentados anteriormente, pode-se notar uma melhoria relevante em relação a situação dos discentes na disciplina após a aplicação da metodologia de ensino/aprendizagem baseada em projetos. Apesar da média de reprovação na disciplina ser nula, a aprovação na Prova Final era muito alta alcançando aproximadamente 55% até 80% dos alunos e este percentual foi reduzido para 12% após a aplicação de ensino/aprendizagem baseada em projetos. Assim, pode-se concluir que o uso de metodologias ativas teve grande contribuição no aprendizado e formação dos discentes.
Neste sentido, pode-se observar nas Figuras 4 e 5, respectivamente, que o rendimento dos alunos foi relativamente melhorado, visto que sem a aplicação dessa metodologia a média das notas dos alunos da turma do primeiro semestre de 2016 foi de 6,8 com desvio padrão de 0,99 e da turma do segundo semestre de 2016 foi de 5,8 com desvio de 0,69. E com a aplicação da metodologia baseada em projetos, a média das notas dos discentes da turma do segundo semestre foi de 7,5 com desvio padrão de 0,95.
Ainda neste sentido, verifica-se nas Figuras 4 e 5, respectivamente, que a distribuição da maioria das notas, em ambas as turmas do ano de 2016, estão compreendidas entre 5,0 e 7,0. E a distribuição da maior parte das notas da turma do segundo semestre de 2017, estão entre 7,0 e 8,0, e apenas um aluno foi para a Prova Final obtendo média 5,0 e houve a desistência de um aluno que nunca compareceu nas aulas.
Figura 4 – Distribuiça o das notas dos discentes antes do uso da metodologia de aprendizagem baseada em
projetos.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
186
Figura 5 – Distribuiça o das notas dos discentes com a aplicaça o da metodologia de aprendizagem baseada em projetos.
Fonte: Elaborado pelas autoras.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Aprendizagem Baseada em Projetos tem-se revelado como um método eficaz no processo de ensino e aprendizagem na engenharia, pois apresenta características que envolve conhecimento teórico, atividades práticas e resultados, permitindo que alunos e professores aprofundem ideias e encontrem soluções para a resolução de problemas.
O papel do docente é de fundamental importância, pois ele atua como mediador no processo de ensino-aprendizagem. O docente é o responsável por instigar e propor problemas aos alunos, a fim de permitir que estes executem e solucionem, com autonomia, as atividades propostas.
A metodologia aplicada como solução didática para o ensino-aprendizagem dos discentes da disciplina de Controle Digital do curso de Engenharia Elétrica, contribuiu para a formação de um futuro profissional com perfil pró-ativo, criativo, responsável, crítico e reflexivo, uma vez que os mesmos precisaram se esforçar e se dedicar durante todo o desenvolvimento do projeto, desenvolvendo competências relacionados à gerenciamento, comunicação e trabalho em equipe.
Portanto, de acordo com os resultados obtidos, a aplicação da metodologia por projetos se comparada a metodologia de ensino tradicional (expositiva), possibilitou melhoria no rendimento dos discentes, colaborando para a construção dos seus próprios saberes.
AGRADECIMENTOS
As autoras agradecem à Universidade Federal Rural do Semi-Árido pelo apoio na aplicação da metodologia abordada no artigo e aos discentes da turma de Controle digital 2017.2 pela doação dos protótipos de sistemas de controle implementados.
REFERÊNCIAS
[12] BORGES, Tiago S.; ALENCAR, Guidélia. Metodologias Ativas na Promoção da Formação Crítica do Estudante: O Uso das metodologias Ativas Como Recurso Didático na Formação Crítica do Estudante do Ensino Superior. Cairu em Revista, Cairu, Ano 03, n.04, p. 119-143, 2014.
[13] MARKERT, Werner. Novas competências no mundo do trabalho e suas contribuições para a Formação do trabalhador. In: “23ª Reunião Anual da ANPEd, 2000, Caxambu. Anais. Caxambu, 2000.
[14] MASSON, Terezinha J. et al. Metodologia de ensino: Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL). In: XL Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia, 2012, Belém. Anais. Belém, 2012.
[15] MEC Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de engenharia. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES112002.pdf . Acesso em: 15 maio 2018
Engenharia no Século XXI – Volume 18
187
[16] REZENDE, Rosemar A. J. et al. Aplicabilidade de Metodologias Ativas em Cursos de Graduação em Engenharia. In: XLI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia, 2012, Gramado. Anais. Gramado, 2013.
[17] SILVA, Michele de Cácea Dias Vieira da Silva. Análise da Aprendizagem Baseada em Problemas no Ensino de Engenharia de Produção. 2014. 110f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Itajubá, Itajubá, 2014.
[18] SILVA, Viviane Cota Silva. Atividade de aprendizagem em um curso de Engenharia Elétrica: um estudo baseado na Teoria da Atividade. 2012. 295f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.
[19] TAYOHARA, Doroti Q. K. et al. Aprendizagem Baseada em Projetos – uma nova Estratégia de Ensino para o Desenvolvimento de Projetos. In: PBL 2010 Congresso Internacional, 2010, São Paulo. Anais. São Paulo, 2010.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
188
Capítulo 19
Desafios para a abordagem baseada em problemas no ensino-aprendizagem em disciplinas isoladas na Engenharia Civil
Letícia Santos Machado de Araújo
Marina Sangoi de Oliveira Ilha
Resumo: A abordagem baseada em problemas (ABP) se caracteriza pelo uso de situações
reais para estimular o desenvolvimento de pensamento crítico, das habilidades para a
solução de problemas e da aquisição dos fundamentos dos conteúdos técnicos da área
estudada. Este trabalho apresenta as principais pesquisas desenvolvidas sobre a
aplicação da ABP em disciplinas isoladas dentro da estrutura curricular já existente do
curso de Engenharia Civil, bem como as barreiras para uma maior disseminação dessa
importante metodologia de ensino. Para tanto, foi desenvolvido um mapeamento
sistemático da literatura nacional e internacional sobre o tema. A maioria dos estudos
levantados indica que a aplicação da ABP promove o aumento da motivação e do
aprendizado dos discentes. Contudo, embora seja considerada bem-sucedida, a aplicação
da ABP exige maior disponibilidade de tempo para preparação e correção das atividades
pelos docentes e uma maior dedicação para o preparo e realização das atividades por
parte dos discentes.
Palavras-chave: Ensino, aprendizagem, engenharia civil, abordagem baseada em
problemas, ABP.
Texto parcialmente publicado no XLVI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia - COBENGE 2018, com a atualização dos dados para outubro de 2019.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
189
1. INTRODUÇÃO
A abordagem baseada em problemas (ABP) se caracteriza pelo uso de situações reais para estimular o desenvolvimento de pensamento crítico, das habilidades para solucionar problemas e da aquisição dos fundamentos dos conteúdos técnicos da área estudada (RIBEIRO e MIZUKAMI, 2005).
As etapas da implantação da ABP variam de acordo com o autor pesquisado na literatura, contudo, é consenso que a ABP possui as seguintes características: apresentação de problemas realistas como ferramenta de aprendizado em pequenos grupos de alunos; autodirigida e sob a orientação de tutor (PRINCE e FELDER, 2006; AHER, 2010).
As primeiras pesquisas sobre a aplicação da ABP na Engenharia datam da década de 70 e focam na conceituação e descrição das atividades. Estas pesquisas foram responsáveis pelo desenvolvimento e compreensão da metodologia da ABP, bem como auxiliaram no processo de mudança de paradigmas. Nas décadas de 80 e 90, além do crescimento do número de pesquisas sobre ABP, os estudos passaram de conceituais e descritivos para empíricos, com avaliação dos resultados de forma quantitativa e/ou qualitativa. A partir de 2000 aumentou o número de aplicações de ABP em disciplinas isoladas, dentro de estruturas curriculares já existentes (DU, DE GRAAFF E KOLMOS, 2009). Vale destacar que implementar estratégias pedagógicas diferenciadas em disciplinas isoladas usualmente é mais fácil e imediato do que no currículo como um todo.
Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo apresentar os principais estudos sobre a aplicação da ABP em disciplinas isoladas, de forma a subsidiar propostas que contemplem o emprego dessa importante estratégia no ensino-aprendizagem dos cursos de Engenharia Civil.
2. MÉTODO
O presente trabalho consiste em um mapeamento sistemático da literatura, desenvolvido a partir dos métodos propostos por Dresch, Lacerda e Antunes Jr (2015) e Senra e Lorenço (2016). As etapas desenvolvidas são: a) definição das questão de pesquisa e da expressão de busca, eleição das bases de dados e critérios de inclusão dos artigos a serem estudados; b) leitura dos títulos e resumos dos artigos selecionados e, posteriormente, leitura completa dos artigos relevantes à temática da pesquisa; c) busca adicional a partir da lista de referências dos documentos selecionados (backward reference searching) conforme Levy e Ellis (2006); e d) categorização, avaliação e síntese dos dados.
As questões que nortearam o desenvolvimento desse trabalho, considerando-se a aplicação da ABP em disciplinas isoladas de cursos de graduação em Engenharia Civil dentro de estruturas curriculares existentes, foram:
a) quais áreas têm sido objeto de estudos?
b) quais os principais temas ou questões de pesquisa contemplados?
c) quais os principais instrumentos de avaliação e os principais resultados obtidos?
d) existem evidências de melhorias no desempenho dos alunos?
A partir das questões de pesquisa, foi formulada a expressão de busca: [("project-based" OR "problem-based" OR "project-oriented" OR "problem-oriented") AND (learning OR approach OR course OR student)] OR ("based learning" OR PBL OR POBL OR "project-led education" OR "PLE") AND (civil engineer*).
Foram selecionadas três bases de dados: Web of Science, Scopus e Engineering Village e a busca foi restrita aos artigos de periódicos publicados na língua inglesa. Uma busca inicial foi realizada em janeiro de 2018, a qual foi posteriormente atualizada até outubro de 2019. A Tabela 1 apresenta os resultados da busca nas três bases de dados selecionadas.
Foram considerados aderentes para o presente estudo os artigos que: a) abordam o ensino; b) focam no curso de graduação em Engenharia Civil; e c) aplicam a ABP exclusivamente ou combinada com outras metodologias de aprendizagem. Por sua vez, foram descartados os artigos que abordam o treinamento de trabalhadores e/ou profissionais da construção civil ou que aplicam exclusivamente outras metodologias de aprendizagem.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
190
Tabela 1: Número de artigos de periódicos selecionados nas bases de dados internacionais. Base de dados Números de artigos
Engineering Village 114
Web of Science 115
Scopus 150
Total (excluídas as repetições) 199
A partir dos critérios estabelecidos, 118 documentos foram descartados, resultando em um total de 81 artigos. Nove documentos foram acrescentados por meio das listas de referências dos artigos aderentes; assim, 90 documentos foram selecionados para as análises subsequentes.
A classificação inicial dos documentos selecionados foi feita em função do nível de aplicação da ABP, a partir das definições apresentadas por Anastasiou e Alves (2004), conforme o Quadro 1:
transdisciplinaridade: integração total do currículo; superação da fragmentação disciplinar e proposição da articulação dos conteúdos curriculares por meio de projetos, problemas, pesquisa ou outras atividades; e
interdisciplinaridade: interação de duas ou mais disciplinas.
Quadro 1: Níveis de aplicação da ABP considerados na classificação dos artigos.
Nível de aplicação Artigos que contemplam a aplicação de ABP
Taxonomia na filosofia e estrutura curricular; possui natureza transdisciplinar.
Sistema não ligada diretamente a uma disciplina; possui natureza interdisciplinar.
Individual em uma disciplina isolada, limitando-se aos conteúdos da mesma.
Fonte: Adaptado de Moesby (2016).
Na sequência, no sentido de identificar pesquisas publicadas em periódicos nacionais, foram levantados os artigos publicados por publicações de associações científicas voltadas para a Engenharia Civil no país, quais sejam:
a) Revista Ambiente Construído da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído;
b) Revista Brasileira de Recursos Hídricos da Associação Brasileira de Recursos Hídricos;
c) Revista Engenharia Sanitária e Ambiental da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental;
d) Revista Geotécnica da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica;
e) Revista Transportes da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes;
f) Revista de Ensino de Engenharia da Associação Brasileira de Educação em Engenharia.
Tendo em vista as limitações dos bancos de dados dos periódicos citados foram utilizadas a seguintes palavras-chave, de forma isolada, para a busca: ensino; educação; aprendizado; aprendizagem; aprendizagem baseada em problemas; ABP e PBL. Da mesma forma que o levantamento nas bases internacionais, a busca inicial foi realizada em janeiro de 2018 e posteriormente atualizada até outubro de 2019. A partir dos critérios citados anteriormente, apenas 4 artigos levantados nos periódicos nacionais foram considerados aderentes à pesquisa.
Tendo em vista o escopo do presente trabalho, apenas os documentos classificados dentro do nível de aplicação individual foram selecionados para as análises subsequentes.
Destaca-se que todos os artigos levantados nos periódicos das associações nacionais se classificam nessa categoria. Assim, os 40 artigos provenientes das bases internacionais e os 4 das nacionais foram classificados em função:
a) das áreas do conhecimento dentro da Engenharia Civil, de acordo com CAPES (2017);
b) do tema central/questão de pesquisa, conforme o Quadro 2; e
c) das estratégias utilizadas, conforme o Quadro 3.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
191
Quadro 2: Tema central ou questa o de pesquisa utilizados para a classificaça o dos artigos. Tema Central Artigos que abordam
Conteúdo a descrição detalhada das atividades propostas. Avaliam os resultados obtidos (principalmente) pela percepção do autor.
Habilidades e competências
o desenvolvimento e/ou aquisição de competências e habilidades. Avaliam os resultados obtidos (principalmente) pela análise qualitativa e/ou quantitativa da percepção discente
Processos de ensino-aprendizagem e motivação
a aprendizagem mais fácil, o aumento da motivação e/ou o aumento de desempenho. Avaliam os resultados obtidos principalmente pela análise qualitativa e/ou quantitativa da percepção discente e/ou avaliação do desempenho discente.
Quadro 3: Estratégias de aplicação da ABP utilizadas para a classificação dos artigos selecionados.
A dinâmica de aplicação da ABP contempla
Situação-Problema
i) apresentação de um problema; ii) orientação dos estudantes na análise dos dados e no levantamento de hipóteses; iii) comparação das soluções; iv) verificação da existência de princípios que possam se tornar norteadores em situações similares (ANASTASIOU; ALVES, 2004)
Projeto
i) apresentação e/ou levantamento da necessidade dos usuários; ii) concepção do projeto; iii) estudo de viabilidade técnica e/ou financeira; iv) desenvolvimento do projeto; v) planejamento da construção isoladamente ou construção e teste.
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os trabalhos levantados nas bases internacionais foram publicados a partir de meados da década de 1990 (Figura 1). Verifica-se uma maior incidência de publicações nos anos posteriores à criação do Espaço Europeu de Educação Superior (EEES) em 2010, o pode ser explicado pela “europeização” do ensino superior que atingiu blocos regionais no exterior, tais como o Mercosul (AZEVEDO, 2014).
A partir de 2001, predominam os níveis de aplicação sistema (interdisciplinar) e individual (dentro de disciplinas isoladas) da ABP, o que pode ser explicado pelo fato das aplicações disciplinares e interdisciplinares podem ser viabilizadas dentro da estrutura curricular existente.
Figura 1: Nível de aplicação da ABP nos 90 artigos selecionados a partir das bases de dados internacionais.
Conforme Du, De Graaff e Kolmos (2009) o uso extensivo da ABP em aplicações disciplinares e interdisciplinares auxiliou a comprovar a efetividade desse tipo de aplicação, mas ressaltam que a
Engenharia no Século XXI – Volume 18
192
diversidade de práticas e metodologias de pesquisa dificultam as análises e a síntese dos resultados obtidos nesses estudos.
Tanto os artigos de autores de instituições dos EUA quanto dos países do EEES apresentam aplicações da ABP nos três níveis descritos. Este fato pode ser explicado pelo modelo de Universidade adotado por estes países, onde o ensino superior tem como objetivo uma formação geral (inicial), a qual é completada pela formação profissionalizante (com o estudo e/ou aplicações em casos concretos). Nesses modelos, prioriza-se a utilização de metodologias ativas, tais como a ABP (DREZZE; DEBELLE, 1983).
Considerando-se o país da instituição do primeiro autor dos trabalhos levantados, verifica-se que a maior parte deles vêm dos EUA (38% do total) e dos países do EEES (34% do total). Dentre os países do EEES, a Espanha e a Inglaterra são os que apresentam o maior número de artigos (com 10% e 16% do total, respectivamente).
Apenas 6 artigos (7% do total de 90 documentos) são da América Latina e, dentre eles, o Brasil é o que apresenta o maior número de publicações (4, ou seja, cerca de 4% do total geral). Esses trabalhos abordam aplicações no nível individual e foram desenvolvidos: na Universidade Federal de São Carlos (RIBEIRO; MIZUKAMI, 2005; DA SILVA; KURI; CASALI, 2012), na Universidade de São Paulo (DA SILVA; FONTELE; DA SILVA, 2015) e no Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Piauí (FREIRE et. al., 2016). Vale destacar que o Brasil ocupa o quinto lugar no número de artigos de periódicos publicados nessa temática.
Os principais instrumentos de avaliação dos resultados citados nos estudos levantados, independentemente do nível de aplicação, são:
observação participante (percepção dos autores) nos estudos classificados com os temas conteúdo e processos de ensino-aprendizagem e motivação e
percepção dos alunos, coletada por meio da aplicação de questionários nos estudos classificados no tema habilidades e competências.
Nas aplicações no nível individual, 75% dos estudos descrevem o uso de situações-problema. Segundo Polyzois, Claffey e Mattheos (2010) esta estratégia tem se mostrado efetiva no processo de ensino-aprendizagem disciplinar.
Para Forcael et al. (2015) a aplicação da ABP no nível individual privilegia a profundidade e a qualidade do processo de ensino- aprendizagem sobre o conteúdo a ser ensinado. Contudo, a ABP requer maior tempo de amadurecimento por parte dos alunos, dificultando sua aplicação em disciplinas que possuem muitos conteúdos e programas mais abrangentes (FORCAEL et al., 2015). Além disso, a ABP exige maior treinamento e disponibilidade de tempo do professor e dos assistentes (AHERN, 2010; FORCAEL et al., 2015). Tutores bem treinados são fundamentais para uma aplicação bem-sucedida segundo Ahern (2010). Já Cabedo et al. (2018) e Li e Faghri (2016) citam que o engajamento dos alunos é o fator responsável pelo sucesso da ABP.
As áreas do conhecimento mais contempladas são estruturas e transportes com 28% e 26% dos estudos, respectivamente; seguidas da área de construção civil, que é abordada em 23% dos artigos.
O tema central (descrição no quadro 2) dos resultados dos estudos da categoria individual das bases internacionais são apresentados na Figura 2, em função da estratégia empregada (descrição no quadro 3). Vale destacar que a soma resulta maior do que 40 porque um dos estudos contempla mais de um tema.
Figura 2: Principais resultados dos documentos da categoria individual das bases internacionais. TEMA CENTRAL: CONTEÚDO (14 documentos)
Engenharia no Século XXI – Volume 18
193
TEMA CENTRAL: HABILIDADES E COMPETÊNCIAS (12 documentos)
TEMA CENTRAL: PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM E MOTIVAÇÃO (15 documentos)
Em 11 artigos (27,5% do total) é afirmado que a aplicação da ABP auxiliou no desenvolvimento de habilidades não técnicas (Quadro 4).
Quadro 4: Estudos da categoria individual nas bases internacionais que citam o desenvolvimento de habilidades e competências com a ABP.
Fonte Número de
alunos
Estratégia Auxílio no desenvolvimento da
habilidade de: Pedagógica De aplicação da
ABP (ver Quadro 3)
Sirotiak e Sharma (2019)
58 ABP Situação-Problema
gestão de projetos, segundo os alunos que responderam ao questionário individual
MacLeod e van der Veen (2019)
86 ABP + modelagem estatística
Situação-Problema
trabalho em equipe, segundo os alunos que responderam ao questionário individual
McWhirter e Shealy (2018)
54 ABP + Estudo de caso
Situação-Problema
análise e tomada de decisão, segundo os alunos que responderam aos dois questionários individuais (pré e pós)
Cabedo et. al. (2018)
100 ABP + Serviço comunitário
Situação-Problema
responsabilidade social, segundo a observação participante dos pesquisadores
Vidic (2016)
23 (disciplina convencional) e 19 (disciplina com ABP)
ABP Situação-Problema
resolução de problemas, quando comparado com a percepção dos alunos do grupo de controle (Mann-Whitney U-test com p<0,05)
Da Silva, Fontenele e da Silva (2015)
30
ABP + Aulas expositivas + Mapa conceitual
Situação-Problema
trabalho em equipe, segundo a observação participante dos pesquisadores
Engenharia no Século XXI – Volume 18
194
Continuação...
Quadro 4: Estudos da categoria individual nas bases internacionais que citam o desenvolvimento de
habilidades e competências com a ABP.
Fonte Número de
alunos
Estratégia Auxílio no desenvolvimento da
habilidade de: Pedagógica De aplicação da
ABP (ver Quadro 3)
Mozas-Calvache e Barba-Colmenero (2013)
80 ABP Projeto trabalho em equipe, segundo a observação participante dos pesquisadores
Barroso e Morgan (2012)
superior a 400
ABP + Portfólio de problemas + Simulação de computador
Situação-Problema
resolução de problemas e trabalho em equipe, segundo 85% dos alunos que responderam ao questionário individual
Hartman e Gindy (2010)
26 ABP + Laboratório
Situação-Problema
análise e tomada de decisão, segundo os alunos, quando comparado com a percepção dos alunos do grupo de controle (t-test com p<0,05)
Barry et al (2008)
Não informado
ABP Situação-Problema
comunicação e trabalho em equipe, segundo os alunos que responderam aos questionários individuais
Ribeiro e Mizukami (2005)
51 ABP Situação-Problema
comunicação e trabalho em equipe, segundo a observação participante dos pesquisadores
Segundo Prince (2004), alguns resultados da aplicação da ABP são de difícil mensuração, tais como a aprendizagem ao longo da vida e capacidade de resolver problemas. Por este motivo, é muito mais fácil medir, por exemplo, a melhoria do desempenho dos alunos. Ainda segundo o referido autor, a falta de sincronia entre os resultados esperados (capacidade de resolver problemas ou aprendizagem ao longo da vida) e as medições realizadas (notas obtidas pelos alunos) dificulta a real análise da contribuição da ABP no processo de ensino-aprendizagem.
Apesar de diferentes considerações e formas de avaliação, as quais dificultam a análise e comparação dos resultados obtidos, existem evidências de melhorias no desempenho dos alunos em 9 estudos selecionados (22,5% do total), conforme o Quadro 5.
Quadro 5: Estudos da categoria individual nas bases internacionais que citam melhorias no desempenho dos alunos com a ABP.
Fonte Número de
alunos
Estratégia Resultado quanto ao desempenho dos
alunos Pedagógica De aplicação da ABP
(ver Quadro 3)
Cabedo et. al. (2018)
100 ABP + Serviço comunitário
Situação-Problema
Aumento de 40% das notas quando comparado com o grupo de controle (alunos que cursaram a disciplina com apenas serviço-comunitário.
Freire et. al. (2016)
30 (disciplina convencional) e 34 (disciplina com ABP)
ABP + Teoria dos jogos
Situação-Problema
Aumento de 16,5% das notas acima de 8,0 quando comparado com o grupo de controle (alunos que cursaram a disciplina com estratégias convencionais)
Forcael et. al. (2015)
16 (disciplina convencional ) e 16 (disciplina com ABP)
ABP Situação-Problema
Aumento de 12% das notas quando comparado com o grupo de controle (alunos que cursaram a disciplina com estratégias convencionais)
De Justo e Delgado (2015)
276* ABP Situação-Problema
Aumento de 50% na taxa de aprovação em comparação a semestres anteriores, ministrados com estratégias convencionais
Engenharia no Século XXI – Volume 18
195
Continuação...
Quadro 5: Estudos da categoria individual nas bases internacionais que citam melhorias no desempenho
dos alunos com a ABP.
Fonte Número de
alunos
Estratégia Resultado quanto ao desempenho dos
alunos Pedagógica De aplicação da ABP
(ver Quadro 3)
Barroso e Morgan (2012)
superior a 400
ABP + Portfólio de problemas + Simulação de computador
Situação-Problema
Aumento de 23% nas médias finais em comparação a semestres anteriores, ministrados com estratégias convencionais
Solís, Romero e Galvín (2012)
Não informado
ABP + Aulas expositivas + Laboratório +
Situação-Problema
Aumento de 22% na taxa de aprovação em comparação a semestres anteriores, ministrados com estratégias convencionais
Da Silva, Kuri, e Casale (2012)
116 (divididos em 4 semestres)
ABP + Abordagem interativa**
Situação-Problema / Projeto
Aumento de 15% das médias finais ao longo das aplicações de ABP
Boxall e Tait (2008)
31
ABP + Abordagem interativa + Laboratório
Situação-Problema
Aumento de 30% das médias finais em comparação a semestres anteriores, ministrados com estratégias convencionais
Albano (2006)
76 (disciplina convencional)
e 70 (disciplina com ABP)
ABP + Aulas expositivas + Laboratório + Estúdio de projeto
Projeto Aumento de 35% das notas acima de 8,0 ao longo das aplicações de ABP
Notas: 25 a 30 alunos por classe / 1 tutor para cada 8 a 10 alunos ** Abordagem interativa: incorpora redes sociais e/ou computação nas estratégias de ensino
Destaca-se o estudo de De Justo e Delgado (2015), com um aumento do desempenho dos alunos de 50% aplicando como estratégia para o processo de ensino-aprendizagem apenas a ABP. Verifica-se, também, que a maioria dos estudos que relatam a melhoria no desempenho dos alunos (75% do total) utilizam a combinação da ABP com outras estratégias de ensino-aprendizagem.
Quatro artigos (10% do total) citam o aumento da motivação dos alunos com o uso da ABP (Quadro 6) e quatro destacam que a aprendizagem foi facilitada (Quadro 7).
Quadro 6: Estudos da categoria individual nas bases internacionais que citam o aumento da motivação dos
alunos com a ABP.
Fonte Númerode
alunos
Estratégia Resultado quanto à motivação dos
alunos pedagógica de aplicação da ABP
(ver Quadro 3)
Lassen, Hjelseth, Tollnes (2018)
212
ABP+Aulas expositivas+ Laboratório + Modelagem
Projeto
Segundo 70% dos alunos que responderam ao questionário individual aplicado no final do semestre
Shekhar e Borrego (2017)
21
ABP + Aulas expositivas + Seções de Monitoria + Modelagem
Situação-problema / Projeto
Segundo 93% dos alunos que responderam ao questionário individual aplicado no final do semestre
Mehta (2012)
68 (divididos em 4 semestres)
Aulas expositivas (30%) + APB (70%)
Situação-problema
Segundo 97% dos alunos que responderam ao questionário individual aplicado no final do semestre
Zheng et al (2011)
40
ABP + Aulas expositivas + Laboratório + Estudo prévio
Situação-problema
Cresceu mais que 100% segundo os alunos que responderam aos dois questionários (no início e no final da aplicação)
Engenharia no Século XXI – Volume 18
196
Quadro 7: Estudos da categoria individual nas bases internacionais que citam que aprendizagem foi facilitada com a ABP.
Fonte Número
de alunos
Estratégia Resultado quanto à aprendizagem dos
alunos pedagógica de aplicação da
ABP (ver Quadro 3)
Hadgraft (1992)
200 ABP Situaça o-problema
60% dos alunos responderam que preferem aprender com disciplinas que aplicam a ABP
Fini e Mellat-Parast (2012)
25 ABP Projeto
Segundo os alunos que responderam os questiona rios no iní cio e ao final da disciplina, a ABP torna a aprendizagem mais fa cil. Esse item apresentou diferença estaticamente significativa (p<0,05 no teste Wilcoxon).
Chandrasekaran e Al-Ameri,
(2016) 50
Projeto + Laborato rio
Situaça o-problema / Projeto
78% dos alunos responderam que as abordagens auxiliam no processo de ensino aprendizado
Lassen, Hjelseth e
Tollnes (2018) 212
ABP+Aulas expositivas+ Laborato rio + Modelagem
Projeto
Segundo 65% dos alunos que responderam ao questiona rio individual aplicado no final do semestre, e mais fa cil aprender com a ABP.
Verifica-se que cerca de 80% dos estudos que relatam a aumento da motivação e/ou aprendizagem facilitada utilizam a combinação da ABP com outras estratégias de ensino-aprendizagem.
Embora considerada bem-sucedida pela maioria dos autores dos artigos da categoria individual nas bases internacionais, há evidências que a ABP:
exige maior disponibilidade de tempo dos tutores e professores, segundo De Justo e Delgado (2005); Solís, Romero e Galvín (2012); Shekhar e Borrego (2017);
demanda maior dedicação (em tempo) dos alunos para a realização das atividades, segundo De Justo e Delgado (2005); Shekhar e Borrego (2017); bem como a necessidade de conhecimento básico prévio do conteúdo trabalhado, segundo De León (2016);
ocasiona a perda de motivação dos alunos ao longo do curso, segundo Ribeiro e Mizukami, (2005) e Zheng et. al. (2011);
exige um grande número de tutores, segundo Ahern (2010) e Forcael et. al. (2015).
O Quadro 8 apresenta os 4 artigos encontrados nos periódicos das associações científicas nacionais. Todos abordam aplicações da ABP em nível individual (ver definição no Quadro 3).
Quadro 8: Artigos selecionados nos periódicos nacionais.
Fonte Área Tema central (Quadro 2)
Estratégia de aplicação da ABP
(ver Quadro 3)
Instrumento de avaliação/ principais resultados
Araujo e Ilha (2019)
Sistemas prediais
hidráulicos e sanitários
Processos de ensino-
aprendizagem e motivação
Situação-Problema
percepção dos alunos e dos docentes, avaliação de desempenho dos alunos / aprendizagem mais fácil e resistência dos alunos em adotar uma atitude proativa no seu aprendizado
Pichi Jr., Gatti e Silva (2015)
Controle de poluição
ambiental Conteúdo
Situação-Problema
percepção dos autores / maior compreensão do conteúdo abordado
Cardoso e Lima (2012)
Transportes Habilidades e competências
Situação-Problema
percepção dos alunos / desenvolvimento de habilidade de solução de problemas e comunicação nos alunos.
Kuri e Da Silva (2010)
Transportes
Processos de ensino-
aprendizagem e motivação
Situação-Problema
percepção dos alunos e avaliação de desempenho / estudantes mais extrovertidos e intuitivo-sensoriais tiveram melhor desempenho com a aplicação da ABP.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
197
Cardoso e Lima (2012) citam que houve dificuldades na aplicação da ABP, merecendo destaque a necessidade de maior dedicação (em tempo) e o aumento da imprevisibilidade em sala de aula, com o levantamento de questões conceituais muitas vezes desconhecidas pelo professor. Por este motivo os referidos autores citam que tanto o domínio do conteúdo quanto a experiência do professor em sala de aula são fundamentais para uma aplicação bem-sucedida da ABP.
4. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora existam estudos que relatem a aplicação da ABP na Engenharia desde o final da década de 70, o mapeamento da literatura nas bases internacionais selecionadas indicou que os primeiros artigos que abordam esse tema na Engenharia Civil foram publicados somente a partir da década de 90.
Os artigos com a aplicação da ABP no nível individual (disciplinas isoladas) selecionados foram classificados em: conteúdo; habilidades e competências; e processos de ensino-aprendizagem e motivação.
A observação participante (ou percepção dos pesquisadores) é o principal instrumento de avaliação empregado nos estudos do tema conteúdo. Já nos estudos do tema habilidades e competências e também do tema processos de ensino-aprendizagem e motivação, o principal instrumento de avaliação é a percepção dos alunos, coletada por meio da aplicação de questionários.
O levantamento da literatura realizado nesse trabalho indica que a ABP aplicada no nível individual apresenta vários resultados positivos, destacando-se o desenvolvimento de competências e habilidades não técnicas, tais como: comunicação, trabalho em equipe e resolução de problemas; o aumento da motivação e a maior facilidade de aprendizado dos alunos.
Há evidências de um melhor desempenho acadêmico dos alunos que cursaram disciplinas com ABP quando comparados a alunos que cursaram disciplinas com outras metodologias. A avaliação do desempenho dos alunos foi realizada por meio de notas de exames e/ou projetos, índice de aprovação no curso, entre outras. Vale destacar que, ainda que não relatados nos estudos levantados, outros fatores podem influenciar no desempenho dos alunos, como por exemplo, a motivação do professor, o relacionamento aluno-professor, a carga horária em sala de aula e o contexto econômico, social e político em que os alunos estão inseridos.
Embora a aplicação da ABP seja considerada bem-sucedida, o levantamento realizado indica que se exige maior disponibilidade de tempo para preparação e correção das atividades por parte dos docentes e maior dedicação para o preparo e realização das atividades pelos discentes. Assim, acredita-se que um dos desafios para a implantação da ABP é não aumentar demasiadamente a carga de trabalho de ambos.
REFERÊNCIAS
[1] AHERN A.A. A case study: problem-based learning for civil engineering students in transportation courses. European Journal of Engineering Education, v. 35, no 1, p.109–116, March, 2010
[2] ALBANO L.D. Classroom assessment and redesign of an undergraduate steel design course: A case study. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, v. 132, no 4, p.306–311, 2006.
[3] ANASTASIOU, L.G.C; ALVES, L.P. Processos de ensinagem na universidade: pressupostos para estratégias de trabalho sala de aula. 5 ed. Joenvile: UNIVlLLE, 2005.
[4] ARAÚJO, L. S. M.; ILHA, M. S. O. Ensino de projeto dos sistemas prediais hidráulicos e sanitários: abordagem baseada em problemas. Ambiente Construído, v. 19, nº 2, p. 203–217, abr. 2019.
[5] AZEVEDO, Mário Luiz Neves de. The Bologna process and higher education in mercosur: regionalization or europeanization? International Journal of Lifelong Education, v. 33, nº 3, p 411-427, 2014.
[6] BARROSO L.R., MORGAN J.R.J. Developing a dynamics and vibrations course for civil engineering students based on fundamental-principles. Advances in Engineering Education, v.3, no 1, p.1-35, 2012.
[7] BARRY, B.E. et al. Developing professional competencies through challenge to project experiences. International Journal of Engineering Education, v. 24, no 6, p. 1148-1162, 2008.
[8] BOXALL J., TAIT S. Inquiry-based learning in civil engineering laboratory classes. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Civil Engineering, v.161, no 3, p.138-143, 2008. DOI: 10.1680/cien.2008.161.3.138
[9] CABEDO, L. et al. University social responsibility towards engineering undergraduates: the effect of methodology on a service-learning experience. Sustainability, v.10, no 1, 1823, 2018. DOI: 10.3390/su10061823.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
198
[10] CAPES- COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR. Tabela de áreas de conhecimento/avaliação, disponível em http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/tabela-de-areas-do-conhecimento-avaliacao, acesso em 10/5/2017.
[11] CARDOSO, I. M.; LIMA, R. S. Metodologias ativas de aprendizagem: o uso do aprendizado baseado em problemas no ensino de logística e transportes. Transportes, v. 20, no 3, p. 79–88, 2012.
[12] CHANDRASEKARAN, Siva; AL-AMERI, Riyadh. Assessing team learning practices in project/design based learning approach. International Journal Of Engineering Pedagogy, v.6, no 3, p. 24-31, 2016.
[13] DA SILVA, A.N.R; KURI, NP; CASALE, A. PBL and B-Learning for civil engineering students in a transportation course. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, v.138, no 4, p. 305-313, 2012.
[14] DA SILVA, C. A. P.; FONTENELE, H. B.; DA SILVA, A. N. R. Transportation engineering education for undergraduate students: competencies, skills, teaching-learning, and evaluation. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, v.141, no 3, 2015.
[15] DE JUSTO E.; DELGADO A. Change to competence-based education in structural engineering. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, v.141, no 3, 2015.
[16] DRESCH, A.; LACERDA, D. P.; ANTUNES JR, J. A. V. Design Science Research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia. Porto Alegre: Bookman, 2015. 181 p.
[17] DREZZE, Jacques; DEBELLE, Jean. Concepções da universidade. Tradução de Francisco de Assis Garcia e Celina Fontenele Garcia. Fortaleza: Edições Universidade do Ceará. 1983, 131 p.
[18] DU, X.; DE GRAAFF, E.; KOLMOS, A. (Eds). Research on ABP Practice in Engineering Education. Rotterdam / Boston / Taipei: Sense Publishers, 2009, 249 p.
[19] FINI, Ellie; MELLAT-PARAST, Mahour. Empirical analysis of effect of project-based learning on student learning in transportation engineering. Transportation Research Record, no 2285, p 167-172, 2012.
[20] FORCAEL, E. et al. Application of Problem-Based Learning to Teaching the Critical Path Method. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, v.141, no 3, 2015.
[21] FREIRE A.S. et al. The competencies acquisition with simulation application in the course 'construction planning and controlling'. International Journal of Simulation and Process Modelling, v.11, no 6, p.443-452, 2016.
[22] HADGRAFT, R. G. Experiences of Two Problem–oriented Courses in Civil Engineering. European Journal of Engineering Education, v.17, no 4, p. 345-353, 1992. DOI: 10.1080/03043799208923189.
[23] HARTMAN, D. J.; GINDY, M. Comparison of lecture- and problem-based learning styles in an engineering laboratory. Transportation Research Record, no 2199, p. 9-17, 2010. DOI: 10.3141/2199-02.
[24] KURI, N. P.; DA SILVA, A. N. R. Uma estratégia de ensino em transportes apoiada nos perfis de personalidade dos estudantes. Transportes, v. XVIII, no 3, p. 72-79, setembro 2010.
[25] LASSEN, Ann Karina; HJELSETH, Eilif; TOLLNES, Tor. Enhancing learning outcomes by introducing bim in civil engineering studies – experiences from a university college in Norway. International Journal of Sustainable Development and Planning, v.13, no 1, p. 62-72, 2018. DOI: 10.2495/SDP-V13-N1-62-72.
[26] LEVY, Yair; ELLIS, Timothy J. A systems approach to conduct an effective literature review in support of information systems research. Informing Science, v.9, p. 181-212. 2006.
[27] LI, Mingxin; FAGHRI, Ardeshir. Applying Problem-Oriented and Project-Based Learning in a Transportation Engineering Course. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, v.142, no 3, 2016.
[28] MacLEOD, M.; VAN DER VEEN; J. T. Scaffolding interdisciplinary project-based learning: a case study. European Journal of Engineering Education, 2019DOI: 201910.1080/03043797.2019.1646210.
[29] MEHTA, Y. A. Problem-based approach to teaching transportation engineering. Global Journal of Engineering Education, v.14, no 3, p. 233-238, 2012.
[30] McWHIRTER, N.; SHEALY, T. Pedagogy and Evaluation of an Envision Case Study Module Bridging Sustainable Engineering and Behavioral Science. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, v.144, no 4, 2018. DOI: 10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000384
[31] MOESBY, E. Perspectiva geral da introdução e implementação de um novo modelo educacional focado na Aprendizagem Baseada e Problemas e Projetos. In: Aprendizagem baseada em problemas no ensino superior. ARAÚJO, Ulisses F.; SASTRE, Genoveva (org.). 3 ed. São Paulo: Summus. 2016.
[32] MOZAS-CALVACHE, A. T; BARBA-COLMENERO, F.. System for evaluating groups when applying project-based learning to surveying engineering education. Journal of Professional Issues in Engineering Education & Practice, v. 139, no. 4, October, 2013.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
199
[33] PICHI JR, W.; GATTI, D.C., SILVA, M. L. P Interdisciplinaridade como consequência de trabalhos conjuntos entre nível técnico e superior. Revista de Ensino de Engenharia, v. 34, no 1, p. 51-60, 2015.
[34] POLYZOIS, I.; CLAFFEY, N.; MATTHEOS, N. Problem-based learning in academic health education: a systematic literature review. European Journal of Dental Education, v.15, p.55-64, 2010. Doi:10.1111/j.1600-0579.2009.00593.x.
[35] PRINCE, M. Does Active Learning Work? A Review of the Research. Journal of Engineering Education, v.93, no 3, p. 223–231, 2004.
[36] PRINCE, M., J.; FELDER , R. M.; Inductive teaching and learning methods: definitions, comparisons, and research bases. Journal of Engineering Education, v.95, no2 p. 123-138, April, 2006. DOI: 10.1002/j.2168-9830.2006.tb00884.x.
[37] RIBEIRO, L. R. C; MIZUKAMI, M. G. N. Student Assessment of a Problem-Based Learning Experiment in Civil Engineering Education. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, v.131, no 1, p. 13-18, January 2005.
[38] SCOPUS. Disponível em < http://www.scopus.com/>. Acesso em dezembro de 2017 e janeiro de 2018.
[39] SENRA, L. X.; LORENÇO, L. M. A importância da revisão sistemática na pesquisa científica. In: BAPTISTA, M.N.: DE CAMPOS, D.C. (orgs). Metodologia de pesquisa em ciências: análises quantitativas e qualitativa. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
[40] SHEKHAR P., BORREGO M. Implementing project-based learning in a civil engineering course: a practitioner's perspective. International Journal of Engineering Education, v.33, no 4, p. 1138-1148, 2017.
[41] SIROTIAK, T.; SHARMA, A. Problem-based learning for adaptability and management skills. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, v. 145, no 4, 2019. DOI: 10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000420.
[42] SOLÍS M., ROMERO A., GALVÍN P. Teaching structural analysis through design, building, and testing. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, v.138, no 3, p.246-253, 2012.
[43] VIDIC, A. D. Using a problem-based learning approach to incorporate safety engineering into fundamental subjects. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, v. 142, nº. 2, 2016. DOI: 10.1061/(ASCE)EI.1943-5541.0000264.
[44] ZHENG W et al. Impact of nanotechnology on future civil engineering practice and its reflection in current civil engineering education. Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, v.137, no 3, p.162-173. 2011.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
200
Capítulo 20
Fast-300 – Based learning: A methodological proposal combining team-based learning and three hundred method
Adriano Bressane
Lazaro José Guimarães Neto
Ana Aleixo Diniz Mattosinho de Castro Ferraz
Marcos Vinícius Ribeiro
Sandra Bizarria Lopes Villanueva
Abstract: Passive classes by means of expository approaches may compromise both the
theoretical and practical learning, as well as the development of fundamental
competences for the professional exercise. As an alternative, active classes have been
reported in several cases in the literature. However, the use of the active methodologies
may require adaptations case-by-case. This paper aims at presenting the Fast-300, a
methodological proposal combining team-based learning and 300 method, developed
for supporting classes of basic cycle disciplines in Sorocaba Engineering College. As a
result, the usage in several disciplines provided a significant improvement in the
students' performance. In conclusion, the Fast-300 - based learning may be considered a
promising approach for student empowerment in an intensive way.
Keywords: 300 method. Team-based learning. Active methodology.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
201
1. INTRODUCTION
Knowledge is transmitted from one being to another, from one generation to the next, from mentors to apprentices, from professors to learners, but never exclusively on a one-way basis, there is always a reciprocal transfer that needs be recognized to be better harnessed (BRESSANE; RIBEIRO; MEDEIROS, 2015, 39p.).
Expository lectures lead students to a passive performance, which usually implies learning limited to memorizing information, without a clear connection with their professional applicability (CHAHUÁN-JIMÉNEZ, 2009; MARION, 2001; FREIRE, 1978). In the traditional approach, another commitment concerns the development of the professional profile. The passive approach does not contribute to the formation of competences such as cooperation, creativity, and proactivity, limiting the scope of traditional teaching to the training of professionals unable to face the challenges posed by modern society (BRESSANE et al., 2017; MACHADO, 2012; GERALDES; ROGGERO, 2011; TEÓFILO; DIAS, 2009).
The deficiencies caused by passive learning have motivated the development of new teaching practices. Active methodological tools include the Dynamics-based learning (BRESSANE et al., 2017), 300 methodology, Team-based learning, Inquiry Based Learning, Project-based Learning (PRINCE; FELDER, 2006). Such methods have been applied in a wide variety of disciplines, in the most diverse areas, such as the environmental sciences (BRESSANE et al., 2015); the geography (SPRONKEN-SMITH et al., 2008), and engineering (BRESSANE et al., 2017).
Based on theoretical references by Piaget and Vygotsky, the active methodology proposes the decentralization of the role of the professor, which assumes the function of stimulating and managing the students' performance, who become protagonists of own formation (ROTGANS; SCHMIDT, 2011; CRUZ, 2008; DIMESTEIN, 1997; DEWEY, 1978). In spite of the wide variety of methods reported in the literature, there are predominant approaches developed for the teaching of thematic and professional disciplines, there being fewer reported cases of usage in disciplines of the basic cycle of engineering such as statistic, physics, algebra and calculus.
The present paper aims to present the ‘Fast-300 – based learning’ a methodological proposal combining team-based learning (TBL) and 300 method, developed by a group of professors for supporting classes of basic cycle disciplines at Faculdade de Engenharia de Sorocaba - FACENS (Sorocaba Engineering College). Before presenting the methodology proposed in this paper, in section 2 we describe the original methods, team-based learning and 300 method, used in combination to develop the Fast-300 – based learning.
2. TBL AND 300 METHODS: A BRIEF THEORETICAL BACKGROUND
2.1. TEAM – BASED LEARNING
Team-based learning (TBL) refers to an education strategy developed by Larry Michaelsen in the 1970s. The TBL method creates in the classroom an opportunity for learning through small groups of 5 to 7 students (BURGUESS; MCGREGOR; MELLIS, 2014). Originally, the proposal was support classes with many students - more than 100 - but the TBL is also applicable in classes with at least 25 students. Taking into account the performance of this method, in 2001 the North American government selected the TBL as an educational strategy to be disseminated by means of which the training of professors from different areas (PARMELEE et al., 2010).
As other active methodologies, TBL method does not intend to fully replace traditional classes but be a complementary activity, commonly as an alternative for assessing the student achievement on a given subject. Working in groups students cooperate in solving problems, exercising communication and other skills such as reflection, leadership and proactivity, important skills for professional performance (BOLLELA et al., 2014).
The use of TBL includes the following steps (Figure 1): (1) Individual preparation - iPrep; (2) Individual Readiness Assurance Test – iRAT; (3) Formation of workgroups - FWG; (4) Group Readiness Assurance Test – gRAT; and (5) Prompt feedback – PFB (HYRNCHAK; BATTY, 2012).
Engenharia no Século XXI – Volume 18
202
Figure 49. Principal steps in the Team-based learning method.
Source: produced by the authors.
Individual preparation refers to a prior study by the student based on classes and extra classroom activities. The iRAT consists of an individual resolution by the student, without consultation of any material, of a test composed of multiple choice questions. The formation of workgroups is made by the professor, seeking to merge students in a random and balanced way. Finally, in the gRAT the same test is solved by each group. For this last one, the students argue over the reasons for individual responses. After all, the groups receive a prompt feedback on the right answers. The final test grade (FTG) is a weighted combination of iRAT and gRAT (MICHAELSEN, 2002).
2.2. 300 METHODOLOGY
The 300 methodology was developed by professor Ricardo Fragelli, from the University of Brasília (UnB), in the 2010's. Inspired by the cinematographic work "300", as an educational strategy the 300 method provides a collaborative approach among students (FRAGELLI, 2015). By achieving great results, the methodology has been recognized nationally, receiving the Santander Universidades 2015 Award - Student Support Category (BORGE; SBARDELOTTO, 2017).
Acoording to Fragelli (2015, 860 p.) “The methodology of the Three Hundreds consists of maximizing the collaboration among students, awakening the learning difficulties of the other”. For that, students are ranked according to their performance in traditional assessments. Then, heterogeneous groups of study are formed, composed of students with high and low performances. After a pre-defined period of collective studies, only the lowest-performing students can retake the evaluations and thus improve their grades. In turn, the better performing students also obtain increases in their grades, proportionately to performance improvement of the helped students. As a result, Fragelli (2015) reports that the students stated great acceptance of the method, with significant performance improvements in the discipline of calculus.
In a practical way, the application of the 300 methodology can be summarized in four main steps (Figure 2): (1) Individual tests - iTests; (2) Formation of study groups - gStudy; (3) Collective studies period - sPeriod; (4) New individual tests – new iTests (FRAGELLI, 2015).
Engenharia no Século XXI – Volume 18
203
Figure 2. Main steps of the 300 methodology.
Source: produced by the authors.
Since 2015 the 300 methodology has been used at Faculdade de Engenharia de Sorocaba – FACENS (Sorocaba Engineering College). After the test, the students who achieved high performances help the ones who that had low grades to review the subject. In a given period such students should come together to study a series of exercises. The students with low performance take a new test and, in this way, have a chance to increase their grade. Accordingly, the students with high performance do not take the new test but increase their grades depending on the improvement of the helped students. Therefore, just as in the army of the 300, students who have more knowledge will teach those who have less and "protect" them from a possible failure in the discipline.
3. FAST-300 – BASED LEARNING: A METHODOLOGICAL PROPOSAL
The original 300 method commonly takes from two to three weeks and therefore demands a long period (sPeriod) that oftentimes cannot be available. Moreover, the collective studies (gStudy) are carried out outside the classroom, with little or no accompaniment of the professor, who has no control over the effective participation of the students. From the usage of 300 method at FACENS, the professors have verified little gain in students’ performance since 2015. In the last year, only 15% from a total of 530 students obtained an increase higher than one point in their grades, when the maximum possible increase was seven points.
In view of the foregoing, Fast-300 – based learning was developed by professors from Faculdade de Engenharia de Sorocaba – FACENS (Sorocaba Engineering College), aiming to provide an alternative for student empowerment and performance improvement in an intensive way. For that, the methodological proposal combining team-based learning and 300 method, previously discussed, result in the following main steps (Figure 3): (1) Individual tests - iTest; (2) iTests proofreading by professor - pProof; (3) Formation of heterogeneous groups - hStudy; (4) Guidelines and students mobilization - mStudent; (5) Group Test - gTest; (6) Individual Improvement Assurance Test – iIAT.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
204
Figure 3. Main steps in the Fast-300 – based learning.
Source: produced by the authors.
3.1. INDIVIDUAL TESTS – ITEST, PROOFREADING AND FORMATION OF HETEROGENEOUS GROUPS
The Individual tests correspond to a traditional test, with discursive and / or multiple choice questions solved individually by each student. For practical description, the iTest occurs in the D-week. Before next week (D+1), the tests are proofreading by professor. Then students are ranked according to their grades in iTest in three categories of performance: high (grade ≥ 7.5), medium (5≥ grade > 7,5), and low ( 5 > grade). In a similar way to the 300 method, heterogeneous groups are formed by professor, seeking merge students of different performance categories. However, the groups should be heterogeneous, preferentially have about 5 students and, necessarily, at least one with high performance.
3.2. GUIDELINES AND STUDENTS MOBILIZATION - mSTUDENT
The students mobilization is mandatory for the good development of the practice. First of all, in the week after the iTest (D+1 week), the professor projects with multimedia (or write on the whiteboard) the members of each group (Figure 4). It is recommended to highlight among the students who will be the captain of the team (registration number of student in blue), selected randomly.
Figure 4. Projection with multimedia of the students members of each group.
Source: produced by the authors.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
205
Secondly, each group, one at a time, is called to the front of classroom and oriented to occupy a seat in the room. Then, the professor summons the captains to a meeting, in which the guidelines of the Fast-300 activity are presented. During this meeting the professor gives the new test with questions and all necessary material to solve the activity to the captain. The captains are responsible for passing the guidelines to the other members of the team.
3.3. GROUP TEST - gTEST
As in the TBL, the test used in group test (gTest) corresponds to the same one used in a traditional test (iTest). Whereas captains may have different performances in the iTest, they can talk to each other, as a strategy to equalize conditions between groups. Some cases of use of Fast-300 at Facens (gTest stage), can be seen in Figure 5.
Figure 5. Some cases of using Fast-300 at Facens (gTest stage): (a) Physics; (b) Calculus; (c) Linear Algebra; and (d) Fundamentals of Physics and Mathematics.
(a) (b)
(c) (d)
Source: produced by the authors.
At the end of the gTest, only the captain, one at a time, meets the professor. At this meeting the captain hands the answer sheet to the professor and receives the iTest from the members of his/her group. Only then do students know their individual test grades.
3.4. INDIVIDUAL IMPROVEMENT ASSURANCE TEST – iIAT
As the last stage of the activity, the professor summons low-performance students - one at a time - to a meeting. In this meeting the student is asked to solve questions that s/he missed in the iTest. As a final test grade (FTG), if the student demonstrates assertiveness in the resolution, the entire group will have an increase of up to + 1.0 point in the grade obtained in the iTest (FTG = iTest + 1.0). Otherwise, the whole group will have a discount of 0.25 points on the accrual score. The increase is 1.0 point if all issues resolved in gTest are correct. As a result of using Fast-300 in different disciplines at Facens, it is noted a gain of performance highly satisfactory. For instance, grades in the discipline Fundamentals of Physics and Mathematics, before and after of the Fast-300 can be seen in Figure 6.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
206
Figure 6. Performance improvement in the discipline Fundamentals of Physics and Mathematics: (a) before and (b) after Fast-300 – based learning.
Source: produced by the authors.
Analyzing Figure 6, it is noted that the proportion of students with low performance decreases from 40.0% to 25.4% and, in turn, the ones with high performance increase from 34.6% to 45.4%. Therefore, the usage of Fast-300 provided a significantly improvement of the individual FTG.
4. FINAL CONSIDERATIONS
Teaching-learning through active classes has been reported as an alternative with gain in the students achievement in several cases published in the literature. Notwithstanding the use of the active methodologies may require adaptations case-by-case. In this sense, we present the Fast-300, as a proposal combining team-based learning and the 300 method. In conclusion, from the outcomes of the usage in several disciplines at Faculdade de Engenharia de Sorocaba - FACENS, the Fast-300 may be considered a promising approach for student empowerment and performance improvement in an intensive way. Therefore, the authors recommend the use of this approach for similar cases.
4.1. ACKNOWLEDGMENTS
The authors thank the whole team of the Faculdade de Engenharia de Sorocaba – FACENS (Sorocaba Engineering College), for the broad support in the developing of the approach herein described.
REFERENCES
[1] BOLLELA, Valdes Roberto; SENGER, Maria Helena, TOURINHO, Francis S. V.; AMARAL, Eliana. Aprendizagem baseada em equipes: da teoria à prática. Medicina, v. 47, n. 3, p. 293-300, 2014.
[2] BORGE, Liliam Faria Porto; SBARDELOTTO, Vanice Schossler. O ensino na educação superior: uma análise da metodologia “trezentos” e sua relação com a pedagogia histórico crítica. Revista Internacional de Educação Superior, v. 3, n. 3, p. 468-477, 2017.
[3] BRESSANE, Adriano; RIBEIRO, Admilson Irio; MEDEIROS, Gerson Araújo de. Problematização como estratégia interdisciplinar: uma experiência na Pós-graduação em Ciências Ambientais. In: SOARES, Sandra Regina; MARTINS, Édiva de Souza; MIRANDA, Dayse Lado de (org.). Problematização e produção criativa: ressignificando o ensino e a aprendizagem na universidade. Salvador/BA: DUFOP, 2015, Série Práxis e Docência Universitária, v.4, p. 39-74.
[4] BRESSANE, Adriano; MEDEIROS, Gerson Araújo de; RIBEIRO, Admilson Irio; PECHE FILHO, Afonso. Abordagem construtivista integrando o ensino, a pesquisa e a aplicação à realidade: o caso da pós-graduação em Ciências Ambientais da Unesp Sorocaba. Revista Brasileira de Pós-Graduação, v. 12, p. 251-276, 2015.
[5] BRESSANE, Adriano; ROVEDA, Sandra Regina M.M.; ROVEDA, José Arnaldo F.; MARTINS, Aantonio Cesar G.; RIBEIRO, Admilson Irio; PRAVIA, Zacarias M.C.; MEDEIROS, Gerson Araujo de. Aprendizagem baseada em dinâmicas: uma proposta pedagógica para formação integral na engenharia. Revista de ensino de engenharia, v. 36, p. 59-71, 2017.
[6] BURGUESS. Annette; MCGREGOR, Deborah; MELLIS, Craig. Applying established Guidelines to team-based learning programs in medical schools: A systematic review. Academic medicine, v. 19, p. 19:1-11, 2014.
[7] CHAHUÁN-JIMÉNEZ, Karime. Evaluación cualitativa y gestión del conocimiento. Educación y Educadores, v. 12, n. 3, p. 179-195, 2009.
[8] CRUZ, José Marcos de Oliveira. Processo de ensino-aprendizagem na sociedade da informação. Educação e Sociedade, v. 29, n. 105, p. 1023-1042, 2008.
[9] DEWEY, John. Vida e educação. 10ed. São Paulo: Melhoramentos; Fundação Nacional de Material Escolar, 1978.
[10] DIMESTEIN, Gilberto. Aprendiz do futuro: cidadania hoje e amanhã. São Paulo: Ática, 1997.
40.0%
65.4%
100%
25.4%
54.6%
100%
(a) (b)
Low
Medium
High
Engenharia no Século XXI – Volume 18
207
[11] FRAGELLI, Ricardo Ramos. Trezentos: aprendizagem ativa e colaborativa como uma alternativa aos problemas da ansiedade em provas. Revista Eletrônica Gestão & Saúde, v. 6, Supl. 2, p. 860-872, 2015.
[12] FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 6ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
[13] GERALDES, Mary Ângela F.; ROGGERO, Rosemary. Educação e diversidade: demandas do capitalismo contemporâneo. Educação e Sociedade, v. 32, n. 115, p. 471-487, 2011.
[14] HRYNCHAK, Patricia; BATTY, Helen. The educational theory basis of team-based learning. Medical Teacher, v. 34, p. 796-801, 2012.
[15] MACHADO, Maria Lucia Büher. Formação profissional e modernização no Brasil (1930-1960): uma análise à luz das reflexões teórico-metodológicas de Lucie Tanguy. Educação e Sociedade, v. 33, n. 118, p. 97-114, 2012.
[16] MARION, Jose Carlos. O ensino da contabilidade. 2ed. São Paulo: Atlas, 2001.
[17] MICHAELSEN, L. K. Getting Started with Team Based Learning. In: SWEET, Michael; KNIGHT, Arletta Bauman; FINK, L. Dee (edit.) Team-Based Learning: A Transformative Use of Small Groups. Praeger; 2002.
[18] PARMELEE, D. X.; MICHAELSEN, L. K.; COOK, S.; HUDES, P. D. Team-based learning: a practical guide: AMEE guide nº 65. Medical Teaching, v. 34, e275-87, 2012.
[19] PRINCE, Michael J.; FELDER, Richard M. Inductive teaching and learning methods: Definitions, comparisons, and research bases. Journal of Engineering Education, v. 95, n. 2, p. 123-138, 2006.
[20] ROTGANS, Jerome I.; SCHMIDT, Henk G. The role of teachers in facilitating situational interest in an active-learning classroom. Teaching and Teacher Education, n.1 v. 27, p. 37-42, 2011.
[21] SPRONKEN-SMITH, R. et al. Where Might Sand Dunes be on Mars? Engaging Students through Inquiry based Learning in Geography”. Journal of Geography in Higher Education, v. 32, n.1, p. 71-86, 2008.
[22] TEÓFILO, Tiago José Silveira; DIAS, Maria Socorro de Araújo. Concepções de docentes e discentes acerca de metodologias de ensino-aprendizagem. Interface – Comunicação, Saúde, Educação, v. 13, n. 30, p. 137-151, 2009.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
208
Capítulo 21
Engineering education for a visually impaired student in the professor's perspective: A case study for the physics discipline
Ana Aleixo Diniz Mattosinho de Castro Ferraz
Adriano Bressane
Marcos Vinícius Ribeiro
Sandra Bizarria Lopes Villanueva
Abstract: The university teaching goes through a period of great changes and challenges
to be achieved. In this context, the action of the professor has become resigned, the
students are now active in their learning process and the teacher has to relearn what he
understands by teaching and learning. The profile of students is also changing, the ones
with disabilities are increasingly having access to higher education. This paper deals
with the reflections and changes that occurred in the practice of a professor due to the
presence of a student with visual impairment (VI) in classes of Physics I. Moreover, we
make notes regarding the learning aspects of the other students who were benefited by
those adaptations that were made in the materials so that the student had accessibility
to the content.
Keywords: Inclusion. Engineering education. Physics.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
209
1. INTRODUCTION
You cannot teach a man anything; you can only help him to find
it within himself.
Galileo
Brazilian higher education institutions are currently in a moment of restructuring. The expansion of the number of universities, the demands of the labor market and the new demands of society have changed over the last decades; the very role of knowledge accumulated by science, which justifies the existence of these institutions, undergoes profound changes. A higher-level diploma no longer appears as a guarantee or maintenance of employment, although, more and more, it is being demanded as a possibility to apply for a job (DINIZ, 2009).
The superior education offered in this new context must go beyond the understanding of the pedagogical act, based on the transmission of knowledge in the classroom and on notes conquered in tests and this adaptation is a challenge to be won by universities. (BORDAS, 2005). By Cunha (2005), the majority of professor are not focused on developing intellectual skills in students, they are concerned with a better organization of content and not with procedures that allow students to map their own learning, that is, ‘the good professor reports and references results of his research, but little stimulates the student to make his own study '(op. cit., p.34), which is also one of the objectives of higher education.
The way in which the western world overestimates scientific knowledge and quantifies knowledge diminishes the importance of subjectivity in the construction of knowledge (CUNHA, 2000). The classroom should be considered as a place of construction, reconstruction and sharing of cultures (LIBÂNEO, 2005). To demand a competent practice of the university professor is, above all, to recognize the importance of pedagogical aspects in teaching, without to diminish the importance of specific knowledge. However, most professors of higher education are not trained to practice the teaching profession, and even so, this competence is required, taking into account national parameters and career entry.
Most university professors do not seek the field of education research to better educate their practice. At the same time, education departments, which are those conducting research in this field, often do not conduct research involving higher education and do not offer guidance to these teachers; furthermore, they present as justification the lack of receptivity and lack of interest in the challenge of changing their usual ways of acting (ZEICHNER, 1998).
According to Bordas (2005), in this context of university teaching, there is also a change in access to higher education, and the profile of incoming students has also changed. Thus, students with special needs increasingly pass to be part, even if timidly, of this space. According to the School Census of Higher Education (2015) there were more than 38 thousand enrollments in higher education of students with some deficiency, of this total 23.75% had low vision and 4.95% were blind. Of this total number of students only about 13 thousand students enroll and about 5 thousand students complete the undergraduate. For visually impaired students, from the data presented in the Census (2015), of the total of 1922 enrolled only 33.9% begin the courses and only half of them end the graduation course.
The lack of preparation of university institutions and professor may be one of the difficulties encountered by these students. And thinking about university teaching and the role of the professor in this context can be answers that help us understand the evasion of these students. Understanding the difficulties of a visually impaired student (VI) is as complex as understanding the difficulties of a student seer in the classroom. The concern is to make a certain concept accessible to these students in general, what sets it apart is how this can happen. It is necessary to understand that the difference between the students with VI and the other students is in the construction of knowledge and not in the learning capacity of the student (SASSAKI, 1991). Therefore, it is necessary to innovate the teaching process, to rethink the teaching practice and to reflect on the pedagogical knowledge of the content so that we can carry out different practices. Oftentimes these practices are in the concretization of the simple and the obvious and mainly giving active voice to the student so he can demonstrate what he needs to learn (MONTOAN, 1997; FONTES et al., 2012).
Thus, in this paper a teaching experience of Physics 1 in the course of Computer Engineering at the Faculty of Engineering of Sorocaba (Facens) is reported, where the presence of a student with IV in the classroom placed in reflection the process of knowledge construction and the line of teaching that the teacher sought to carry out in the classroom.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
210
2. EXPERIENCE REPORT
The course of Physics 1 has as its content topics of Mechanics (Kinematics and Dynamics), and it is the first discipline of this area attended by the students. The main objective of the course is to prepare the students to describe and understand how movements occur and also to familiarize themselves with vector notations and the use of some mathematical tools, such as derivation and integration. We knew of the presence of the IV student in the class in advance and as a first intervention we called the student to talk and ask what he would need to make the knowledge accessible.
The student asked that the classes be fully described orally, and that in the math passages all the steps would have to be spoken. The equations would have to have subtitles. So we adapted the form of the lesson to be exposed so that the student could have access.
For instance, in the projectile launch class we made the adaptations (Figure 1) necessary for the student to understand the content worked. There was a concern in describing the equations as much as possible by the professors' writing and speaking. Notwithstanding, the interesting thing was to realize that in addition to being successful with the VI student, the other ones also presented less difficulty in solving the exercises, understanding better the application of the equations in the resolutions of problems. This fact, according to the professor's perception, is attributed to this greater care in the descriptions and transcriptions of this position, velocity and acceleration functions.
The figures were difficult to describe, some of them were made in high relief before being passed on to the student. How to make this high relief was researched in literature references and experiment with various materials such as hot glue, colored glue, etc. However, the best result was obtained with the use of a cotton cloth, used to make the figures (Figure 2).
Figure 50. Material adapted for the VI student: a) conventional material; b) material adapted for the VI student.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
211
(b)
Source: produced by the authors.
Figure 2. Making the material with high relief. (a) (b)
(c) (d)
Engenharia no Século XXI – Volume 18
212
(e) (f)
Source: produced by the authors.
The alphabet and all the numbers, so he could 'read with his hands' the letters and numbers used in the graphics and figures made in the fabric, so only the Greek alphabet demanded a presentation using high relief. The movement graphics were also presented and highlighted in detail by the teacher in the classroom. There were also group activities and exercises designed so that the student with IV could autonomously understand the problem and effectively help the group in the resolution. The test he did was the same as the rest of the classroom, in which he got a note above the average. The classroom as a whole had a higher average than other classes of Physics 1 of the same university. Although we cannot say only with this fact that the student's presence with IV and the content adaptations were the reason for this higher yield, we can consider that in this process the way the classes were constructed and performed in the classroom implied some changes, such as the concern with the detailed description and physical significance of each item of the function. Therefore, such adaptations may have facilitated the learning of the students who presented a greater resourcefulness when solving the problems presented in the room.
3. FINAL CONSIDERATIONS
Physics 1 classes for the most part are classes with many accounts and analysis of functions to describe and characterize the movements of bodies. With the presence of the IV student in the classroom there was a modification of the teaching practice in order to make the content accessible to the one. It should be emphasized that making accessible does not mean facilitating the degree of difficulty of the discipline, but rather that it has the same conditions of access to knowledge and the possibility of learning. Thus, there was a greater detail of the content and some students benefited from the adaptation process promoted for the IV student. We know that learning occurs in different ways, and we can highlight the most common VAK (visual, auditory and kinesthetic) (SALDANHA, et al., 2016). Each student has a predominant style, but often there is a mix of the more than one style.
According to Saldanha (2016) students with a predisposition for auditory style are those who "have the ability to know, interpret and differentiate the stimuli received by the spoken word, sounds and noises, organizing their ideas, concepts and abstractions from spoken language" (op. cit., p.2). These students benefited from teacher reflection in their practice to make it less dependent on the vision. In this sense, then we can highlight that inclusion can be seen as a process of enriching teaching practice, as a trigger element to revise our practice, which is often much addicted to old customs and practices. The presence of a impaired visually student took the professor out of his comfort zone and brought him to a process of reflection and adaptation of his practice.
4. ACKNOWLEDGMENTS
Firstly to the student with IV who enabled the teaching apprenticeship, to his monitor Juan Domingues, for the student's accompaniment and openness to do a better work. We also thank general coordination and coordination of the basic cycle for having supported us in all requested materials and demands. Finally, we thank the psychologist Sandra Lembo for her practice guidelines.
REFERENCES
[1] BORDAS, M.C. Formação de professores do ensino superior: aprendizagens da experiência. In: 28a Reunião Anual da Anped, 2005, Caxambu – MG. Disponível em: <http://www.anped.org.br/reunioes/28/textos/gt11/gt111432int.rtf>. Acesso em: 30 mar. 2018.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
213
[2] CUNHA, M.I. Ensino como mediação da formação do professor universitário. In: MOROSINI, M.C. (Org.). Professor do ensino superior: identidade, docência e formação. Brasília: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, 2000.
[3] O professor Universitário na transição de paradigmas. Araraquara: Junqueira & Marin editores, 2005.
[4] FONTES, A. S.; CARDOSO, F. A. R.; RAMOS, F. V. Como trabalhar gráficos com aluno deficiente visual – Relato de experiência. Revista Thema, v. 9, n.1, p. 1-13, 2012.
[5] LIBÂNEO, J.C. O ensino de graduação na universidade - a aula universitária. In: XI Semana de planejamento acadêmico integrado UCG, 2005, Goiânia. Disponível em: <http://www.fadepe.com.br/restrito/conteudo/pos_gestãoambiental_o_ensino_de_graduacao_na_universidade.pdf>. Acesso em: 3 ago. 2009.
[6] MANTOAN, M. T. E. A Integração de pessoas com deficiência: contribuições para uma reflexão sobre o tema. São Paulo: Memnon. Editora SENAC, 1997.
[7] Censo da Educação Superior 2015. Brasília. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2018.
[8] SALDANHA, C. C., ZAMPRONI, E. C., BATISTA, B. Estilos de aprendizagem. Paraná, 2016.
[9] SASSAKI, R. K. Inclusão: construindo uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA, 1991.
[10] ZEICHNER, K. M. Para além da divisão entre professor-pesquisador e pesquisador acadêmico. In: GERALDI, C.M.; FIORENTINI, D.; PEREIRA, E.M. (orgs.) Cartografia do trabalho docente: professor (a) - pesquisador (a). Campinas: Mercado de Letras: Associação de Leitura do Brasil - ALB, 1998. p. 207-236.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
214
Capítulo 22
Avaliação do desenvolvimento de Projeto Baja sob a luz de PBL - Problem-Based Learning
Bianca Lima e Santos Figueirêdo
Ivonete Maciel Lima Oliveira
Aldi Rui Morais Silva
Resumo: O presente trabalho propõe a avaliação da aplicação de metodologias ativas no
desenvolvimento do Projeto Baja (veículo off-road) desenvolvido por alunos do Grupo
Nobre de educação, envolvendo duas IES de Feira de Santana, a Faculdade Nobre e a
UNEF. Sob a orientação dos docentes participantes do projeto e do atendimento das
regras estabelecidas pela SAE Brasil, o objetivo do projeto é produzir conhecimento nas
diversas áreas da engenharia de forma interdisciplinar, conferindo competências e
habilidades necessárias à sua formação acadêmica e profissional. A utilização de práticas
que colocam o aluno como ator principal do processo de construção do conhecimento é
o guia mestre do projeto BAJA Nobre. Com o projeto em execução, os resultados
apresentados da etapa de planejamento e das fases 1 e 2 do projeto, revelaram os
benefícios da adoção da metodologia de aprendizagem baseada em problemas para o
aprendizado do educando, viabilizando a adoção das metodologias ativas para
construção de um veículo em dimensões reais apto para competição.
Palavras-chave: metodologias ativas; veículo; baja; aprendizagem baseada em
problemas
Engenharia no Século XXI – Volume 18
215
1. INTRODUÇÃO
As mudanças tecnológicas promovidas pela humanidade têm levado as pessoas a moldarem-se às novas demandas sociais. As organizações enquanto empresas, têm buscado profissionais cada vez mais capacitados para atuação dinâmica, proativa, com senso crítico apurado, além de antenados com as expectativas do atendimento das demandas que sofrem mudanças a todo o momento.
Sob este aspecto, a necessidade de inovar alcança também o ambiente acadêmico, modificando as formas de construção do conhecimento e inquietando educadores e educandos, além de instigar a necessidade de um processo de ensino e aprendizado que proponha a todo o momento estratégias metodológicas que viabilizem o aprendizado nas mesmas proporções que a mudança às demais demandas.
As metodologias ativas, neste aspecto, tem promovido uma grande revolução nas praticas acadêmicas modificando antigos métodos, conceitos e invertendo práticas consolidadas de ensino. Este ambiente de mudança tem ocorrido, sobretudo, pela influência das tecnologias da informação e da mudança do perfil dos alunos que demandam de novas formas de aprendizado para atender ao cenário atual.
Este modelo de prática educacional promove a autonomia do aluno no processo de aprendizagem, ao permitir que o mesmo torne-se um personagem ativo no processo de construção do próprio conhecimento, agregando valor ao seu aprendizado, pelo interesse dado à temática de estudo, com liberdade para testar e experimentar o conhecimento, conforme descreve Berbel (2011, p. 29) a seguir:
O engajamento do aluno em relação a novas aprendizagens, pela compreensão, pela escolha e pelo interesse, é condição essencial para ampliar suas possibilidades de exercitar a liberdade e a autonomia na tomada de decisões em diferentes momentos do processo que vivencia, preparando- se para o exercício profissional futuro.
Assim, as metodologias ativas podem ser entendidas segundo o pensamento de Freire (2015), como sendo um conjunto de práticas construtivistas que levam o aluno a pensar de forma autônoma, ou seja, tendo a liberdade para construir suas inferências e desenvolver de forma compartilhada o seu próprio aprendizado.
Sob este conceito, o desenvolvimento do Projeto Baja Grupo Nobre de educação, envolvendo duas IES de Feira de Santana, a Faculdade Nobre e a UNEF, desenvolve-se com a participação ativa dos alunos de 4 das 6 Engenharias do nosso portfólio sob a orientação dos docentes envolvidos no projeto, por meio do método PBL (Problem-Based Learning ou Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), modelo que fornece conhecimento aos discentes por meio da resolução de problemas, fazendo-os buscar soluções para situações problema de forma independente. Estimulando assim a autonomia dos discentes, que tornam- se os principais atores do processo de construção do conhecimento, tendo os professores apenas como seus norteadores no processo educacional.
O projeto baja é uma iniciativa utilizada por várias instituições de ensino superior que buscam trabalhar de forma interdisciplinar desenvolvendo um veículo off-road feitos por seus discentes tornando possível colocar em prática os conhecimentos adquiridos nos componentes curriculares da escola de Engenharia, além das competências e habilidades que serão conquistadas com o projeto para utilização na sua vida profissional. Diante deste contexto, o presente trabalho propõe a avaliação da aplicação de metodologias ativas no desenvolvimento do Projeto Baja (veículo off-road) desenvolvido por alunos do Grupo Nobre de educação, envolvendo duas IES de Feira de Santana, a Faculdade Nobre e a UNEF.
2. METODOLOGIA
Todo o trabalho foi desenvolvido em grupo, ou de forma delegada sobre orientação dos docentes, coordenados por um discente nomeado líder e capitão do time do projeto. O Projeto Baja Nobre apesar de ainda não estar inscrito para as competições, segue os padrões do projeto Baja SAE (Society of Automotive Engineers - Sociedade de Engenharia da Tecnologia da Mobilidade), objetivando dentre outros aspectos, a construção de veículos rústico, capaz de desenvolver com segurança, testes relacionados à velocidade, estabilidade, resistência, etc. podendo competir com outros veículos de outras instituições superiores no âmbito local, regional, nacional e internacional.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
216
O projeto foi estruturado com definições de datas de entrega para cada etapa do mesmo. Os discentes expostos à situação problema, deveriam executar de forma integral as tarefas de planejamento, primeira etapa, e as Fases 1 e 2 da etapa de Execução, com a confecção da gaiola do projeto e apresentação como pode ser observado no Quadro 01.
Quadro 01 – Planejamento das Tarefas do Projeto Baja Nobre TAREFA DURAÇÃO
PLANEJAMENTO 31,5 dias
Definição das tarefas 0,5 dias
Lista de recursos 1 dia
Gestão do Projeto 30 dias
EXECUÇÃO 221,5 dias
FASE1 – Gaiola 26 dias
Projetar - imprimir o Gabarito 5 dias
Transporte de peças 0,5 dias
Cortes das peças 25 dias
Dobra das peças 25 dias
Solda das peças 25 dias
Montagem da gaiola 25 dias
Pintura da gaiola 0,5 dias
Transporte da gaiola UNIGEN 0,5 dias
Fase1 Concluída 0 dias
FASE2 Montagem para apresentação 37,5 dias
FASE3 - MELHORIAS 01 11,75 dias
FASE4 - Montagem para andar e apresentação comercial 101 dias
FASE5 - Testes e Apresentação 0 dias
Apresentação para coordenações e diretoria 0 dias
Fonte: Equipe Baja Nobre
A equipe do projeto realizou diversas reuniões para discussão das melhores soluções para os desafios que surgiam ao longo das etapas do projeto. Com base no regulamento do baja SAE Brasil 2017.
A primeira etapa do projeto foi destinada ao planejamento das ações e a segunda etapa onde foi iniciada a Fase 1, com o desenho da Gaiola, a equipe do projeto criou e desenvolveu um modelo em computador fundamentado nas pesquisas e testes feitos no sistema. As demais fases do projeto estão em andamento com participação ativa dos alunos na busca pelo cumprimento das metas estabelecidas.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Levando em consideração que a primeira etapa do projeto foi destinada ao planejamento das ações para que o projeto tivesse êxito, pode-se afirmar que esta promoveu a autonomia aos integrantes do grupo na condução dos trabalhos e resolução dos problemas e desafios que se apresentam ao logo do projeto. Após uma série de pesquisas sobre normas e regulamentos do Baja SAE Brasil e levantamento de dados, houve estímulo à análise crítica das informações para aquisição de peças, ferramentas e insumos para fabricação da gaiola, detalhados no Quadro 2. Vale ressaltar que a quantidade de tubos descritos abaixo foi determinada com a previsão de falhas e testes nas fases posteriores dando maior liberdade para a margem de erro dos alunos.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
217
Quadro 2 – Lista de insumos ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
01 Tubo de 1” (25,40 mm) na parede 16 Metro 36 metros linear
02 Disco de corte para lixadeira Uni 10
03 Disco de desbaste para lixadeira Uni 5
04 Disco de lixa flap Uni 5
05 Broca para aço diamantada Uni 1
06 Luvas de couro longas Uni 2 pares
07 Mascara descartável de gás Uni 30
08 Protetor facial transparente Uni 2
09 Tinta de esmalte sintético cor: azul tipo: spray Litro 2
10 Estopa Kg 2
11 Água Raz Litro 2
01 Retífica manual Uni 1
02 Rebolo para retífica Uni 2
03 Calandra manual com capacidade mínina para tubos de ½’’
Uni 1
04 Maquina de solda MIG/TIG com kit de gás Uni 1
05 Serra para aço Uni 5
06 Goniômetro Uni 1
07 Régua de nível Uni 1
08 Trena Uni 3
09 Chave inglesa Uni 1
Fonte: Equipe Baja Nobre
Nesta etapa, os principais pontos positivos identificados foram: apreensão de grande volume de informações sobre o tema, integrando normas técnicas, regulamentos, planejamento, informações de fornecedores, lista de peças e de serviços necessários para montagem; além do desenvolvimento do espirito de liderança pela coordenação do trabalho, dos demais educandos promovendo autonomia para definição das tarefas, além do estímulo ao trabalho em grupo com modelo de gestão participativa e criativa para o desenvolvimento de ações necessárias e assim levando ao o êxito do projeto com o apoio dos docentes atuando como orientadores.
Como ponto negativo desta fase, foi possível identificar que a falta de prática na utilização do PBL configurou-se, para alguns alunos, como uma barreira inicial dificultando a realização autônoma do processo de pesquisa e tomada de decisão. Tal problema foi resolvido com estímulo ao trabalho participativo da equipe do projeto integrada por 20 alunos, que compartilharam informações auxiliando aqueles que apresentavam maiores dificuldades.
Na segunda etapa, foi iniciada a Fase 1, com o desenho da Gaiola, a equipe do projeto criou e desenvolveu um modelo em computador fundamentado nas pesquisas e testes feitos no sistema. Esta fase do projeto apresentou vários pontos positivos, que contaram com o realismo e com os estudos do modelo desenvolvido no SOLIDWORKS conforme Figura 1, onde foi possível dimensionar todas as partes do projeto, com a definição dos materiais a partir das medidas definidas, além de aspectos de segurança, potência, e informações relevantes relacionadas ao projeto tais como ângulos de curvatura, aerodinâmica e todo o processo de execução prática da gaiola atendendo a todos os requisitos da SAE BRASIL.
Figura 1 – Protótipo do Projeto Baja Nobre
Fonte: Equipe Baja Nobre
Engenharia no Século XXI – Volume 18
218
Com o projeto gráfico pronto, as peças foram transportadas dos fornecedores, e submetidas a processos de corte, dobra, montagem, pintura, nos laboratórios da faculdade, conforme Figura 2, sendo seu resultado final apresentado no evento de área do Grupo Nobre chamado de UNIGEN, ocorrida no mês de outubro de 2017. O evento contou com mais de 1.000 (hum mil) participantes onde foram apresentados diversos projetos relacionados à engenharia. Como pontos negativos para esta etapa, o grupo pontuou questões relacionadas à dificuldade de aquisição de algumas peças e equipamentos nos fornecedores locais uma vez que a logística de entrega impactou diretamente nos prazos previstos para realização do projeto.
Figura 2 – Fotos do chassi do Baja Nobre
Fonte: Equipe Baja Nobre
As demais etapas estão em execução, estando em plena execução as ações do grupo, que já esta atualizando o projeto de acordo com novo regulamento, sob acompanhamento constante dos docentes no projeto por meio de reuniões de alinhamento, visitas aos laboratórios e reuniões pontuais com o capitão do time e demais coordenadores e alunos integrantes do projeto.
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados da aplicação das metodologias ativas no projeto Baja da Nobre por meio do PBL viabilizou o aprendizado interdisciplinar e multidisciplinar entre alunos de diferentes engenharias promovendo a construção do conhecimento de forma significativa sobre os diversos assuntos trabalhados em cada etapa do projeto. Cada discente pôde contribuir com seu conhecimento agregando valor para as tomadas de decisão. Por outro lado, o conhecimento técnico de alguns alunos oriundos do ensino de escolas técnicas permitiu o avanço considerável de algumas etapas, tornando possível a transferência de conhecimento não só da base teórica, mas também da prática em processos de desenho, modelagem computacional, simulação gráfica, corte, dobra, solda, pintura e usinagem em gera da gaiola.
O entusiasmo dos alunos com o projeto e o desejo constante de ingresso de novos participantes, demonstram a satisfação dos alunos em transmitir para seus colegas e conhecidos o sucesso do projeto. Da mesma forma, para todos os docentes envolvidos, o engajamento e o interesse para participação no projeto só aumenta, pois é extremamente gratificante perceber o crescimento dos educandos, sobretudo com as experiências no trabalho em grupo e no desenvolvimento de responsabilidade para vida profissional dos mesmos.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
219
AGRADECIMENTOS
A materialização deste trabalho não teria sido possível sem a colaboração, estímulo e empenho de um grupo muito unido, a eles toda a nossa gratidão. Agradeço aos mantenedores do Grupo Nobre por toda estrutura, apoio e confiança no desenvolvimento dos projetos dos cursos de Engenharia do grupo. Ao nosso diretor acadêmico por nos dirigir com maestria em todas as demandas acadêmicas. Aos colegas do grupo de pesquisa Baja Nobre, aos docentes que abraçaram o projeto e aos discentes pelo envolvimento e pelo brilho no olhar a cada conquista.
REFERÊNCIAS
[1] BERBEL, Neusi. As metodologias ativas e a promoção da autonomia dos estudantes. Semina: Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, p. 25-40, jan./jun. 2011
[2] FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. Saberes necessários à prática educativa. 51ªed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2015.
[3] SAE, Brasil. Requisitos Gerais do Veículo. Regulamento Baja SAE Brasil – Capítulo 5. p. 02-09, 2010.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
220
Capítulo 23
A utilização de um compilador como recurso pedagógico no curso de Engenharia de Computação no IFMT Campus Cuiabá
Ed Wilson Tavares Ferreira
Nádia Cuiabano Kunze
Stévillis Monteiro de Sousa
Resumo: Nos primórdios da popularização do uso dos computadores, os programadores
despendiam muito tempo para programá-los, pois os equipamentos possuíam instruções
específicas e eram diferentes uns dos outros. Para melhorar a eficiência na programação,
criaram-se os compiladores, libertando os programadores da obrigação de conhecerem
os detalhes específicos da arquitetura de uma determinada máquina para poderem
desenvolver aplicações nela e para ela. Neste texto, objetiva-se apresentar o resultado do
projeto de pesquisa científica aplicada, aprovado no Edital n. 33/2016 da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso (PROPES/IFMT) que implementou uma interface com recursos gráficos para ser
empregada em um compilador que detinha somente uma interface textual, de modo a
possibilitar o seu uso educativo na disciplina de Compiladores, ofertada no curso de
graduação em Engenharia de Computação do IFMT, Campus Cuiabá “Octayde Jorge da
Silva”. Na implementação dessa pesquisa, foi utilizada a linguagem Python. Os resultados
alcançados indicam que o módulo de interface implementado melhorou a utilização do
compilador, propiciando o seu uso pedagógico.
Palavras-chave: Python. Tkinter. Compilador
Engenharia no Século XXI – Volume 18
221
1. INTRODUÇÃO
A empresa Avazu realizou uma pesquisa em 2015 e concluiu que os telefones inteligentes dos brasileiros possuem, em média, 63 aplicativos instalados, sendo 22 deles utilizados diariamente (AVAZU HOLDING, 2015). Porém, muitos usuários de tecnologia não detêm conhecimentos acerca dos softwares utilizados no processo de construção dos aplicativos.
De forma semelhante aos dispositivos móveis, os computadores contêm aplicativos que foram desenvolvidos por programadores antes de serem disponibilizados para os seus usuários. Tais aplicativos são descritos em uma linguagem que nem os próprios equipamentos conseguem entendê-la e ela é conhecida como “linguagem de programação”.
Para se executar os programas, que são compostos por conjuntos de comandos descritos pelos programadores, eles devem ser convertidos em uma linguagem que seja compreendida pelo computador. Essa conversão é uma tarefa de responsabilidade do compilador e é denominada “compilação”. Segundo esclarece Aho et al (2007, p. 1), o compilador é o software que executa em um programa a tradução da sua linguagem fonte para uma outra linguagem, denominada linguagem alvo, em que ambas são equivalentes.
Dentre os diversos cursos do IFMT Campus Cuiabá “Octayde Jorge da Silva”, o curso de bacharelado em Engenharia da Computação é o que oferta a disciplina Compiladores. Nesta disciplina, como parte da formação acadêmica, os alunos estudam todas as etapas que compõem a compilação de um programa.
Com a finalidade de auxiliar a aprendizagem dos estudantes nesse componente curricular, foi, então, submetido ao Edital n. 33/2016, lançado pela PROPES/IFMT, um projeto de pesquisa científica aplicada que objetivou produzir uma interface melhorada para um compilador, com código aberto, que contivesse apenas uma interface textual, de modo a favorecer o seu uso pedagógico nas aulas e a possibilitar aos estudantes a compreensão das etapas da compilação.
Neste texto será apresentado, a seguir, o processo de desenvolvimento dessa pesquisa e o seu resultado alcançado, ou seja, o desenvolvimento de uma interface gráfica para um compilador a ser utilizado no ensino de complicação.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Nos primórdios da computação, durante os anos de 1950, os primeiros computadores criados eram equipamentos dotados de um pequeno grupo de instruções básicas e seus usuários, os programadores, necessitavam dominar tais instruções para poderem utilizar o computador.
Cada arquitetura de um computador possuía um conjunto distinto de instruções, portanto os programas desenvolvidos eram executados somente por uma máquina específica. Para melhorar a produtividade dos programadores e reduzir os custos de programação de softwares:
a solução passava por buscar mecanismos que permitissem a “programação automática”, ou seja, que traduzissem especificações genéricas, independentes da máquina, para o código que pudesse ser efetivamente executado nos diferentes processadores. (RICARTE, 2008, p. 2).
Portanto, a finalidade envolvia a pesquisa por métodos que possibilitassem a programação automatizada com a tradução das especificações genéricas de alto nível1 para as instruções compostas por códigos executáveis nos diferentes hardwares disponíveis, sem a dependência do conhecimento do hardware pelo programador.
1 São classificadas como de alto nível as linguagens que possuem elevado nível de abstração, próximo das linguagens humanas e distantes das linguagens que são formadas pelas instruções reconhecidas por um processador.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
222
Atualmente, as especificações descritas em linguagens consideradas de alto nível possibilitam ao desenvolvedor escrever seus programas sem a obrigação de saber detalhes particulares de uma determinada arquitetura de máquina. Cada grupo de instruções formadoras de uma determinada linguagem contém suas regras léxicas, sintáticas e semânticas próprias que reconhecem os símbolos daquela linguagem. Tais normas que determinam a linguagem de programação são nomeadas de gramáticas. Conforme Ricarte (2008, p. 37):
Uma gramática para uma linguagem deve incluir, além do seu alfabeto, um conjunto de produções. A especificação de uma produção é dada por uma relação representada pelo símbolo → para indicar que o lado esquerdo da relação pode ser substituído pelo lado direito. Assim, cada produção determina uma regra para transformar uma sequência de símbolos em outra.
A principal função do compilador é a conversão de um código fonte descrito em uma determinada linguagem para uma outra linguagem. Geralmente, a outra linguagem - alvo - costuma ser formada por instruções que serão executadas diretamente pelo computador. Destaca-se que ambas são equivalentes e que produzem os mesmos resultados quando são alimentadas pelos mesmos dados de entrada. Para fins acadêmicos, a compilação costuma ser organizada em duas fases denominadas análise e síntese, conforme se apresenta na Figura 1.
Figura 51- Fases do compilador na etapa de Análise
Fonte: Ricarte (2008, p. 175)
A primeira fase é composta pelas Análises Léxica, Sintática e Semântica. A análise léxica é responsável pela identificação das palavras (denominadas tokens), a partir do programa fonte, e as classifica conforme sua categoria (RICARTE, 2008, p. 53).
A coleção de tokens é organizada em sentenças, cujo reconhecimento (ou validade) é verificado na análise sintática. Tal reconhecimento é baseado na gramática que originou a linguagem de programação reconhecida pelo compilador (RICARTE, 2008, p. 99).
Existem, ainda, outras checagens que não são possíveis de se realizarem nas análises léxica e sintática. Assim, elas são feitas na análise semântica que executa a verificação de declaração de variáveis, tipos de variáveis ou expressões matemáticas que podem resultar erro (por exemplo, divisão por zero), dentre outras necessárias, definidas no projeto do compilador.
Após o término dessa primeira fase do processo de compilação - composta pelas análises léxica, sintática e semântica - e não havendo erro no código fonte, o compilador deverá executar as atividades da segunda etapa, denominada de síntese, conforme se apresenta na Figura 2. Neste momento, os procedimentos podem ser repetidos diversas vezes, sempre envolvendo a geração de código intermediário e sua otimização, com o número de etapas definidos pelo projeto do compilador.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
223
Figura 52: Fases do compilador na etapa de Síntese
Fonte: Ricarte (2008, p. 187)
No término dessa última fase, é gerado o código final (arquivo de destino), escrito conforme a linguagem alvo e, em muitos casos, é um programa que pode ser executado diretamente pelo processador da máquina destino (ou em formato binário), equivalente ao conjunto de instruções contidos no arquivo de origem.
Ricarte (2008, p. 188) destaca que:
Mesmo nas situações nas quais o objeto da geração de código é a produção do código binário, em geral esse processo utiliza etapas intermediárias que dividem a tarefa complexa em problemas menores e mais facilmente tratáveis. Em geral, a produção do código objeto é delegada ao programa montador, que traduz um arquivo em formato texto contendo o programa em linguagem simbólica para o código de máquina.
O entendimento de todas as fases envolvidas no funcionamento do compilador, conforme se destacou acima, é de fundamental importância à compreensão do funcionamento das linguagens empregadas no processo de criação de programas, especialmente para os estudantes do curso de bacharelado em Engenharia da Computação do IFMT, Campus Cuiabá “Octayde Jorge da Silva”, pois o estudo proposto na disciplina Compiladores requereu deles o desenvolvimento de um software desse tipo.
Assim, a apresentação inicial de um compilador funcional com uma gramática simplificada foi realizada para facilitar-lhes a apreensão das fases de compilação e permitir-lhes a construção do conhecimento necessário para obter êxito na citada disciplina.
A seguir, serão abordados os procedimentos metodológicos da pesquisa científica aplicada que buscou, exatamente, produzir uma interface amigável para potencializar o emprego do compilador funcional como um recurso pedagógico naquela disciplina.
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O desenvolvimento da interface gráfica para o compilador foi realizado com o emprego da linguagem Python versão 3.5.2. Esta é uma linguagem de programação, considerada de alto nível que possui o pacote Tkinter 8.6, o qual auxilia a implementação de Interface Gráfica para Usuário (GUI).
O Python foi adotado para uso na citada pesquisa científica aplicada em função de sua simplicidade e clareza no código fonte, além de possuir suporte multiplataforma, característica que permite sua utilização em sistemas operacionais distintos, sem a demanda por mudanças no código fonte.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
224
Na fase inicial da execução do projeto, houve um estudo para a aprendizagem da linguagem de programação Python, adotada para a implementação da interface gráfica do compilador.
Durante este período da pesquisa, os autores não encontraram nenhuma ferramenta adequada para auxiliar a programação da interface gráfica de usuário que atendesse às necessidades de implementação requerida. A solução adotada foi, então, a escrita do código fonte sem o emprego de softwares auxiliares para design. A programação visual realizou-se com a descrição dos componentes da tela no código fonte, com diversas tentativas de layout, até a obtenção do resultado desejado, apresentado na Figura 3.
Figura 53: Plano de interface gráfica de usuário do compilador
Fonte: Autores
Tanto o compilador com interface textual, implementado anteriormente por um dos autores deste texto (FERREIRA, 2016), quanto o programa empregado na interface gráfica, produzido na pesquisa científica aplicada em referência, foram escritos em linguagem Python com paradigma de Orientação à Objetos.
Para implementar a interface gráfica do compilador, produziu-se uma classe para a qual as atividades relacionadas ao arquivo fonte, bem como a exibição das mensagens relativas a sua compilação, foram desenvolvidas como métodos.
Tal classe foi integrada ao componente gráfico Menu, provido pelo Tkinter, que disponibilizou o gerenciamento do arquivo fonte, a exemplo da exibição do código fonte e da mudança de layout, dentre as diversas outras opções. Para as escolhas do menu, foram programados os métodos de sua execução, além de teclas de atalho para auxiliar o acesso do usuário. Assim, implementaram-se diversos métodos, entre eles os de:
criar arquivo fonte;
abrir arquivo fonte existente;
cortar, copiar e colar texto;
desfazer e refazer ações;
buscar texto;
exibir número de linhas do arquivo fonte e
mudar tema da interface gráfica.
No processo de criação de novo arquivo fonte também se possibilitou alterar o conteúdo da barra de título da interface gráfica e exibir o nome do arquivo fonte em edição. Um fragmento desse código é apresentado na Figura 4.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
225
Figura 4 - Bloco de Código 1: Método de criação de um novo arquivo fonte
Fonte: Autores
O conteúdo do componente ScrolledText, responsável pela edição do código fonte, foi removido e, em seguida, executou-se o método do componente Label, que apresentou os números de linha e coluna no ambiente de edição do código fonte.
A interface gráfica disponibilizada para o usuário compôs-se pelo menu constituído por diversas opções, descritas naqueles itens anteriores, além de uma barra de ferramentas, acessível por mouse ou teclas de atalhos, e de componentes “Notebook”.
Os objetos formadores da aba superior apresentaram o código fonte (origem) e os códigos alvo (máquinas destinos), já as abas inferiores exibiram as informações relativas ao processo de compilação.
É importante destacar que a linguagem Python possui recursos que auxiliam o gerenciamento de eventos originados pelo teclado com o emprego do método bind(), o qual permite associar eventos com as funções (empregadas em programação estruturada) ou com métodos (empregados em programação orientado à objetos).
Estes eventos ocorrem de diversas formas, desde o pressionamento de uma única tecla, ou de um conjunto delas, até pelo uso do mouse. Um fragmento do código fonte desenvolvido na pesquisa científica aplicada, e que demonstra a associação de eventos, é apresentado na Figura 5.
Figura 5 - Bloco de código 2: Método de seleção do texto do código fonte
Fonte: Autores
Por fim, para impedir a execução de outros eventos associados aos componentes de edição de texto disponibilizado no pacote Tkinter, foi necessário retornar a string “break” pelo método associado ao evento executado quando as teclas “Ctrl + a” foram pressionadas simultaneamente.
Os outros métodos programados na pesquisa não são detalhados neste texto devido a extensão de seus códigos fontes, os quais podem ser consultados em Chaudhary (2015, p. 41-76).
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
A implementação da interface gráfica foi baseada no trabalho de pesquisa desenvolvido por Chaudhary (2015, p. 41-76) e atendeu aos requisitos de layout propostos, conforme apresentado anteriormente na Figura 3. Outras funcionalidades adicionais foram implementadas, a exemplo de eventos de gerenciamento do arquivo fonte, atalhos e exibição de dados, como o número da linha e coluna do texto do código fonte.
O componente ScrolledText foi o principal objeto gráfico utilizado no desenvolvimento da interface gráfica descrita neste texto. Entre as diversas características desse objeto, destaca-se o seu uso para edição do arquivo fonte e gerenciamento da maioria dos eventos de manipulação de arquivos. O layout da interface gráfica desenvolvido é apresentado na Figura 6.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
226
O emprego de abas se fez importante em função da grande quantidade de informações que puderam ser exibidas em tela, com isso, foi possível mostrar todos os resultados obtidos em cada fase da compilação, desde a geração de tokens da Análise Léxica, a Tabela de Símbolos da Análise Sintáticas até a exibição das mensagens produzidas na Análise Semântica.
Assim, as abas superiores permitiram a edição do arquivo fonte e a exibição do código gerado para todas as arquiteturas (código intermediário, código Assembly para Raspberry e Microsoft Windows).
O processo de programação da interface gráfica, sem o auxílio de softwares de criação de layout gráfico, requereu a programação de mais linhas de código, porém, permitiu melhor controle do resultado obtido e o alcance do objetivo almejado no referido projeto de pesquisa científica aplicada.
Figura 6 - Interface gráfica de usuário para o compilador
Fonte: Autores
Os métodos de controle dos eventos gerados pelo uso do teclado requereram atenção para se evitar a execução de outros. Isso gerou dificuldade no início do projeto, porém, com a implementação mostrada na Figura 4, o erro foi sanado.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A implementação da interface gráfica desenvolvida para o compilador pedagógico na pesquisa científica aplicada, em referência neste texto, será empregada no curso de Bacharelado em Engenharia de Computação, na disciplina de Compiladores, conforme informado anteriormente.
Diversas funcionalidades ainda poderão ser adicionadas ao software desenvolvido e os trabalhos futuros de criação dessas novas funcionalidades poderão incluir recursos como auto completar, que possibilitarão sugerir palavras-chave ou comandos da linguagem que o compilador reconhece. A interface também poderá ser aprimorada com a exibição de cores diferenciadas dos tokens e das palavras-chave da linguagem.
Espera-se que, futuramente, haja o envolvimento dos alunos regulares da disciplina de modo a continuar este desenvolvimento, como elemento auxiliar no processo de ensino aprendizagem deles.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
227
O envolvimento de alunos de graduação em projetos de pesquisa científica aplicada propicia o contato deles com conteúdos e desafios externos à sala de aula. Estes desafios os incentivam a pesquisar e propor soluções criativas e, assim, os auxiliam na construção de conhecimentos adicionais.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao Instituto Federal do Mato Grosso (IFMT) pelo apoio financeiro à pesquisa que originou esta publicação. O projeto foi contemplado no Edital 033/2016 PROPES/IFMT.
REFERÊNCIAS
[1] AHO, A. V. et al. Compiladores - Princípios, Técnicas e Ferramentas. Rio de Janeiro: Pearson, 2007.
[2] AVAZU HOLDING. Global Internet Industry Research Brazil. Avazu, 2015. On Line. Disponível em http://www.businessofapps.com/download/global-internet-industry-research-brazil-part-1. Accesso em: 22 jun. 2018.
[3] CHAUDHARY, B. Tkinter GUI Application Development Blueprints. Birmingham: Packt Publishing, 2015.
[4] FERREIRA, E. T. Relatório Final do Projeto de Pesquisa aprovado no Edital n. 46/2015. Cuiabá: IFMT, 2016.
[5] LUTZ, M. Learning Python. 5th Edition, Sebastopol: O’Reilly Media, 2013.
[6] MEIER. B. Python GUI Programming Cookbook. Birmingham: Packt Publishing, 2015.
[7] RICARTE, I. Introdução à Compilação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
228
Capítulo 24
Aplicação de Métodos Estatísticos em Engenharia de Software: Teoria e Prática
Tassio Ferenzini Martins Sirqueira
Marcos Alexandre Miguel
Humberto Luiz de Oliveira Dalpra
Marco Antônio Pereira Araújo
Resumo: A avaliação experimental dos métodos e conceitos cobertos na engenharia de
software tem sido cada vez mais valorizada. Este valor indica a constante procura de
novas formas de avaliação e validação dos resultados obtidos na investigação em
Engenharia de Software. Os resultados são validados em estudos através de avaliações,
que, por sua vez, se tornam cada vez mais rigorosas. Como alternativa à ajuda na
verificação dos resultados, ou seja, se são positivos ou negativos, sugerimos a utilização
de métodos estatísticos. Este artigo apresenta algumas das principais técnicas
estatísticas disponíveis, bem como a sua utilização na implementação da análise de
dados em estudos experimentais em Engenharia de Software. Este artigo apresenta uma
abordagem prática que prova as técnicas estatísticas através de uma árvore de decisão,
que foi criada para facilitar a compreensão do método estatístico apropriado para cada
situação de análise de dados. Foram utilizados dados reais de um projeto de software
para demonstrar a utilização destes métodos estatísticos. Embora não seja o objetivo
deste trabalho, serão apresentados conceitos básicos de experimentação e estatística,
assim como uma indicação concreta da aplicabilidade destas técnicas.
Palavras-chave: Métodos Estatísticos; Estudos Experimentais; Engenharia de Software;
Avaliação Experimental.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
229
1. INTRODUÇÃO
Software forma a base da moderna sociedade da informação, e muitos desses estão entre as coisas mais complexas já criados. Engenharia de software (ES) trata o desenvolvimento, a manutenção e gestão de sistemas de software de alta qualidade de uma forma rentável e previsível. As pesquisas em ES estudam os fenômenos do mundo real, abordam o desenvolvimento de novos sistemas, modificação de sistemas existentes, tecnologias (modelos de processos, métodos, técnicas, ferramentas ou linguagens) para apoiar atividades de ES, avaliações e comparações do efeito do uso das tecnologias na interação, muitas vezes complexa, de indivíduos, equipes, projetos e organizações. Ciências que estudam os fenômenos do mundo real, ou seja, as ciências empíricas, consistem em recolher informações com base na observação e experimentação, ao invés de utilizar deduções lógicas ou matemáticas [12].
Uma abordagem empírica para avaliar a tecnologia de ES, incluindo a colaboração industrial, foi iniciada, em grande escala, na década de 1970 com o trabalho de Basili e Boehm [24, 25].
Atualmente, nota-se uma crescente valorização da avaliação experimental dos métodos e conceitos abordados na Engenharia de Software. Esse aumento indica a busca de novas formas de avaliação e validação dos resultados obtidos nas pesquisas em ES. A produção de avaliações empíricas significativas depara-se com muitas incertezas e dificuldades. Qualquer pesquisador pode esquecer ou negligenciar um fator, aparentemente inócuo, que pode vir a invalidar todo um trabalho. Algumas diretrizes de design experimental essenciais, podem ser ignoradas durante o processo, culminando na desconfiança quanto a validade de grande parte do trabalho realizado [7].
As pesquisas na área computacional, em geral, convergem para construção de software, modelos ou algoritmos [13]. Os resultados obtidos nas respectivas pesquisas são validados através de avaliações, as quais estão cada vez mais rigorosas. Como alternativa para auxílio à tarefa de comprovação dos resultados, positivos ou negativos, resultantes do estudo, apresenta-se o uso de métodos estatísticos.
A Estatística é aplicada em diversas áreas do conhecimento, fornecendo métodos para coleta, organização, análise e interpretação dos dados [2]. O poder estatístico é uma parte inerente de estudos experimentais, os quais empregam testes de significância, essenciais para o planejamento, interpretação e validade das conclusões de um estudo [4].
Constantemente as organizações indagam se os resultados, por elas esperados, estão sendo alcançados [10], e responder a essa questão não é uma tarefa trivial, haja vista que nem sempre o seu desempenho real é conhecido [14]. A estatística visa fornecer informações de forma numérica, onde o estudo e a análise dos seus dados podem ser divididos em três fases, conforme [5], sendo respectivamente: (I) Obtenção dos dados; (II) Descrição, classificação e apresentação dos dados; (III) Conclusões a partir dos dados. O autor acrescenta que a 2ª. fase é normalmente conhecida por Estatística Descritiva, já a 3ª denomina-se Estatística Inferencial, sendo essa uma das mais importantes, uma vez que a obtenção e organização dos dados sugerem conclusões.
Este artigo é composto por mais 3 seções. Na seção 2 serão apresentados os pressupostos teóricos. Já na seção 3 é apresentada uma abordagem prática de utilização dos métodos estatísticos mais comuns. Por fim, na seção 4 são descritas as conclusões acerca da relevância da aplicação dos métodos estatísticos nas pesquisas voltadas à Engenharia de Software Experimental.
2. PRESUPOSTOS TEÓRICOS
A discussão sobre o papel da análise estatística nas pesquisas em Engenharia de Software Experimental (ESE), indica a subutilização do poder estatístico na literatura sobre ESE [7], o que possibilita o surgimento de projetos de pesquisas falhos e validade questionável dos resultados [4].
A Engenharia de Software comumente aplica o método científico na avaliação dos benefícios obtidos junto a uma nova técnica, teoria ou método relacionado a software [26]. Esse método é tradicionalmente aplicado com sucesso em outras ciências, principalmente as sociais, que assemelham-se à Engenharia de Software pela importância do fator humano, onde raramente é possível estabelecer leis da natureza, como na física ou matemática [1].
Engenharia no Século XXI – Volume 18
230
Experimento é uma inquirição empírica e envolve, ao menos, um tratamento, uma medida de resultado, unidades de atribuição e algumas comparações, a partir das quais a mudança pode ser inferida e atribuída ao mesmo [12].
Segundo [1], o processo de experimentação é composto por quatro partes sendo, respectivamente, definição, planejamento, execução e análise. As técnicas de inferência estatística podem ser aplicadas tanto no planejamento quanto na análise da experimentação. No planejamento formula-se a hipótese de pesquisa, identifica-se as variáveis dependentes (resposta) e independentes (fatores), seleciona-se os participantes e os métodos de análise, projeta-se o estudo, define-se os instrumentos e, por fim, analisa-se as ameaças ao estudo (validity threats). Já na análise de dados, verifica-se os gráficos resultantes e as estatísticas descritivas. Eliminam-se os outliers (quando for o caso), analisam-se as distribuições dos dados e aplica-se a análise estatística.
O objetivo de um estudo experimental é a coleta de dados em um ambiente controlado, a fim de confirmar ou negar uma hipótese. Hipótese refere-se a uma teoria que visa esclarecer a cerca de um determinado comportamento, relativo ao interesse da pesquisa, e levam à definição de variáveis, sendo essas independentes ou dependentes. Variáveis independentes representam a causa que afeta o resultado do processo de experimentação. O efeito da combinação dos valores dessas variáveis refere-se às variáveis dependentes [1]. Essas variáveis podem ser quantitativas, sendo expressas em valores numéricos e podendo ser subdivididas em escalas intervalar e razão, ou qualitativas, quando não são numéricas e podem ser subdivididas em escalas nominais e ordinais [2].
De acordo com [6], as medidas nominais indicam apenas a classe do dado, a única operação possível é verificar se o dado tem um ou outro valor como, por exemplo, a especificação do sexo de indivíduos. Medidas ordinais também atribuem classes aos dados, mas é possível ordená-las de maior para menor, podendo citar como exemplo o “Nível 2”, que é menor do que “Nível 3” no modelo CMMI. As medidas intervalares atribuem ao dado um número real, sendo o zero da escala arbitrário. Um exemplo de medida intervalar é a medida de temperatura em graus Celsius. Já as medidas de razão atribuem ao dado um número real onde o zero é absoluto, um exemplo seria a distância em metros entre dois objetos.
Uma comparação entre as características dessas escalas pode ser visualizada na Tabela I, conforme apresentado por [1].
TABELA I. CARACTERÍSTICAS DOS VALORES
Escala Nominal Ordinal Intervalar Razão
CONTAGEM DE VALORES X X X X
ORDENAÇÃO DE VALORES X X X
INTERVALOS EQUIDISTANTES X X
SOMA E SUBTRAÇÃO DE VALORES X
DIVISÃO DE VALORES X
Após a coleta dos dados de um estudo experimental, utiliza-se a estatística descritiva para especificar características relevantes dos mesmos. Para indicação do meio do conjunto de dados observados utilizam-se as medidas de tendência central, compreendidas por média, mediana e moda. A média é calculada pelo somatório dos valores coletados, dividido por sua quantidade. A mediana é calculada dispondo os valores em ordem crescente (ou decrescente) e selecionando o elemento central. Já a moda é calculada pela contagem do número de ocorrências de cada valor, selecionando o mais comum. Outras medidas relevantes são o valor mínimo, que representa o menor valor entre os dados que foram coletados, o valor máximo, que representa o maior valor entre os dados que foram coletados, o percentil, que divide a amostra em valores menores que o tamanho da amostra, o quartil, que representa o percentil 25% (ou primeiro quartil), a mediana (segundo quartil) e o percentil 75% (terceiro quartil) [1].
Para medir o quanto os valores estão dispersos ou concentrados, em relação ao seu valor central, utilizam-se as medidas de dispersão, que englobam faixa, variância e desvio padrão. A faixa representa a diferença entre o maior e o menor valor coletado. A variância é a soma do quadrado da diferença entre cada valor e a média dos valores coletados, dividida pelo número de valores coletados, menos 1. O desvio padrão é a raiz da variância, sendo essa uma medida comumente utilizada [1].
Engenharia no Século XXI – Volume 18
231
Uma hipótese estatística é uma conjectura sobre aspectos desconhecidos em uma amostra de dados observada em um estudo, a qual pode ser provada ou negada através de um teste de hipóteses [15]. Teste de hipóteses requer a especificação de um nível aceitável de erro estatístico, ou seja, os riscos a que o estudo é exposto mediante à tomada de decisões [8, 9]. Para a realização de um teste de hipótese são definidas uma hipótese nula, identificada como H0, que é uma declaração de que não há diferença entre o parâmetro e a estatística que se está comparando, e uma hipótese alternativa, identificada como H1, inversa à H0 [3]. Em geral, busca-se a rejeição da hipótese nula, afim de demonstrar que variações obtidas na amostra, com alguma intervenção ou tratamento, não são acidentais.
Existem dois tipos de erro possíveis, sendo respectivamente o erro do Tipo I, que ocorre quando o teste estatístico indica a existência de uma relação de causa e efeito incorreto, também chamado de Falso Positivo, e o erro do Tipo II, quando o teste estatístico não indica a existência de uma relação de causa e efeito que, de fato, exista [3].
A probabilidade de se cometer um erro do Tipo I (alfa) é o nível de significância do teste de hipótese, quanto menor o nível de significância do teste, maior é a segurança de que não identificará uma relação [11]. A significância estatística de um resultado é uma medida estimada do grau de veracidade do resultado, ou seja, o valor do nível-p (p-Value) representa um índice decrescente da confiabilidade de um resultado [19]. Em muitas áreas de pesquisa, o nível-p de 0,05 é costumeiramente tratado como um "limite aceitável" de erro, já em áreas particulares de pesquisa, tais como áreas médicas, o nível-p pode chegar a 0,001 e são frequentemente chamados de "altamente" significantes, no entanto, é mais suscetível ao erro do Tipo II [6].
A Fig. 1 apresenta uma representação gráfica de aceitação da hipótese nula, de acordo com o nível de significância de 5%.
Figura. 1. Representação gráfica de aceitação da hipótese nula.
Com a finalidade de reduzir os erros experimentais, tipos I e II, existem os delineamentos experimentais, que referem-se a forma como os tratamentos, ou níveis de um fator, são designados às unidades experimentais ou parcelas [20]. Alguns dos principais delineamentos experimentais são: delineamento completamente casualizado (DCC), delineamento em blocos casualizados (DBC) e quadrado latino, conforme [21].
O delineamento completamente casualizado é utilizado quando a variabilidade entre as parcelas experimentais for pequena, ou praticamente inexistente.
No delineamento em blocos casualizados, o material experimental é dividido em grupos homogêneos. Cada bloco deve conter uma vez cada tratamento, no caso de blocos completos. O objetivo em todas as etapas do experimento é manter o erro, dentro de cada bloco, tão pequeno quanto seja possível na prática.
Para o delineamento quadrado latino, os tratamentos são agrupados nas repetições de duas maneiras distintas. Essa sistematização dos blocos em duas direções designadas genericamente por “linhas” e “colunas”, permite eliminar os efeitos de variação do erro experimental.
Os testes de hipótese podem ser paramétricos, que utilizam os parâmetros da distribuição, ou uma estimativa desses, para o cálculo de sua estatística, ou não paramétricos, os quais utilizam, para o cálculo de sua estatística, postos atribuídos aos dados ordenados e são livres da distribuição de probabilidades dos dados estudados [22]. Nos testes paramétricos supõe-se que é conhecida a sua forma da distribuição. Embora possuam melhor aproximação, é necessário assegurar a normalidade e a homocedasticidade dos
Engenharia no Século XXI – Volume 18
232
dados, que refere-se aos dados menos dispersos (concentrados) em torno da reta de regressão do modelo. Nos testes não paramétricos não é conhecida a forma da distribuição da amostra, culminando em uma aproximação menos precisa [3].
No planejamento de um experimento deve-se escolher a variável cujos efeitos se quer observar, sendo denominada “fator”. As categorias do fator sob estudo são denominadas “tratamentos” [21]. De modo geral, o objetivo em um estudo experimental é comparar os tratamentos e saber se exercem o mesmo efeito em uma característica avaliada, ou se pelo menos um deles tem efeito diferente de algum outro [21].
A Figura 2 apresenta uma árvore de decisão para facilitar a escolha do método estatístico adequado para a realização de testes de hipóteses, segundo características da amostra e do estudo realizado.
Na sequência, são dispostos os conceitos dos testes utilizados no fluxograma, exibido na Figura 2, de acordo com [1]:
O Teste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) possibilita a avaliação quanto as semelhanças entre a distribuição de duas amostras. Também pode indicar a similaridade na distribuição de uma amostra em relação a uma distribuição clássica, como a distribuição normal.
O Teste de Shapiro-Wilk é utilizado para calcular o valor W, o qual refere-se à avaliação de uma amostra Xj quanto a distribuição normal. Em geral, o respectivo teste é utilizado para pequenos conjuntos de dados.
O Teste de Levene considera a hipótese de que as variâncias são homogêneas se o valor W for menor que o valor da distribuição normal.
O Teste T ou Student-T é utilizado na comparação média de duas amostras independentes. Nesse, diferentes testes são executados, com base em diferenças detectadas nas variâncias das amostras.
O método ANOVA ou Análise de Variância, trata-se de uma técnica estatística que objetiva testar a igualdade entre as médias de dois ou mais grupos.
O Teste de Tukey, comumente utilizado junto ao teste ANOVA, auxilia na identificação de amostras cujas médias divergem.
O Teste de Mann-Whitney refere-se a uma alternativa, não paramétrica, para o Teste T. O respectivo teste tem como requisito a necessidade de que as amostras sejam independentes, com dados contínuos e nas escalas ordinal, intervalar ou razão.
O Teste Kruskal-Wallis é uma alternativa não paramétrica para a análise de variância (ANOVA), o qual, assim como grande parte dos testes paramétricos, baseia-se na substituição dos valores por seus rankings no conjunto de todos os valores.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
233
Figura. 2. Árvore de decisão.
2.1. ESTUDO DE CASO
Esta seção apresenta um estudo de caso que possui como principal objetivo, demonstrar a aplicação das técnicas estatísticas supramencionadas. O estudo de caso consiste em demonstrar o passo a passo para utilização dos métodos expostos na árvore de decisão disposta na Figura 2. Para a demonstração, serão utilizados dados extraídos de uma base real, pertencente a uma empresa de desenvolvimento de software, os quais são exibidos na Tabela 2. Deseja-se verificar os ganhos na automatização do cálculo do tempo de desenvolvimento, realizado através de um plugin, em relação ao cálculo manual do tempo de desenvolvimento realizado com base na experiência dos desenvolvedores envolvidos no projeto.
Os primeiros 8 meses (12/2013 a 07/2014) apresentados na tabela, refletem o período de planejamento, por parte da equipe de desenvolvimento, das manutenções constantes na lista de requisições de mudança. Os valores constantes nas colunas “Realizado” e “Previsto” demonstram o tempo gasto pela equipe, em horas, para andamento devido ou conclusão das requisições de mudança. Esses são calculados manualmente, por empirismo, com base na experiência dos desenvolvedores envolvidos. Os 8 meses seguintes (08/2014 a 03/2015) representam o período do mesmo planejamento de manutenções, onde o tempo de desenvolvimento é calculado através de um plugin de cálculo automatizado, baseado no histórico de manutenções efetuadas pela equipe. A coluna “Diferença (Previsto - Realizado)” exibe a diferença do tempo previsto pelo realizado, durante todo o processo.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
234
Table II. Dados de planejamento (valores realizados x previstos)
Ano/Mês Realizado Horas Previsto Horas Número de
Casos Casos
Diferença (Previsto - Realizado)
Momento
2013/12 259,878 100,000 36 M -159,878 Antes
2014/01 749,272 580,000 84 G -169,272 Antes
2014/02 570,343 480,000 74 G -90,343 Antes
2014/03 535,014 480,000 74 G -55,014 Antes
2014/04 311,262 90,000 33 P -221,262 Antes
2014/05 285,988 80,000 28 P -205,988 Antes
2014/06 279,633 80,000 28 P -199,633 Antes
2014/07 256,495 480,000 52 M 223,505 Antes
2014/08 437,427 680,000 52 M 242,573 Depois
2014/09 450,845 395,367 58 M -55,478 Depois
2014/10 225,472 517,222 75 G 291,750 Depois
2014/11 602,305 791,996 95 G 189,691 Depois
2014/12 450,147 452,305 62 M 2,158 Depois
2015/01 327,089 516,024 70 G 188,935 Depois
2015/02 258,536 503,461 65 G 244,925 Depois
2015/03 310,315 620,772 80 G 310,457 Depois
Para geração das análises apresentadas a seguir, foi utilizada a ferramenta Minitab2, versão 17.
A Tabela 3 exibe resultados de análises das medidas de tendência dos dados que serão analisados e discutidos no estudo de caso apresentado neste artigo, esses dados foram calculados com base na Tabela 2. As informações apresentadas na Tabela 3 podem ser geradas no Minitab através do menu “StatBasic StatisticsDisplay Descriptive Statistics” e selecionado como variável “Diferença (Previsto x Realizado)”.
Tabela III. Análise das medidas.
MEDIDAS DE TENDÊNCIA DE VALORES - Diferença (Previsto - Realizado)
MÉDIA 33,6
MEDIANA -26,4
MODAS * (Nº DE MODAS 0)
FAIXA 531,7
MÍNIMO -221,3
MÁXIMO 310,5
1º QUARTIL -166,9
3º QUARTIL 237,8
VARIÂNCIA 40244
DESVIO PADRÃO 200,6
As informações da Tabela 3 auxiliam na análise dos dados gerados na Figura 3, como o valor do “Mínimo”, que representa o menor valor existente da variável “Diferença (Previsto x Realizado)” e “Máximo” sendo o maior valor. A “Faixa”, representa a diferença entre o menor e o maior valor existente na variável “Diferença (Previsto x Realizado)”, o 1º e 3º Quartil, são calculados com base na comparação com a variável “Momento” e o Desvio Padrão é a diferença entre as medianas de cada momento.
Com a utilização da ferramenta apresentada (Minitab), obter a visualização do Boxplot das colunas “Diferença (Previsto–Realizado)” e “Momento”, conforme exibido na Figura 3. O boxplot é um gráfico utilizado para avaliar a distribuição empírica dos dados, sendo formado pelo primeiro e terceiro quartil, e pela mediana. Analisando o boxplot, pode-se observar os valores referentes ao antes e depois da implantação do plugin, em relação à mediana traçada.
2 Minitab. Disponí vel em: http://www.minitab.com/
Engenharia no Século XXI – Volume 18
235
A geração desse gráfico pode ser feita no Minitab através do menu “Graph Boxplot”, opção “One Y / With Groups”, selecionando como variável a “Diferença (Previsto x Realizado)” e na categoria a variável “Momento”.
Figura. 3. Boxplot das variáveis Diferença (Previsto – Realizado) x Momento
Uma outra verificação possível sobre os dados apresentados é a análise de outliers, que são observações nas amostras que possuem um grande afastamento das restantes ou são inconsistentes em relação as mesmas. Essas observações são também denominadas anormais, contaminantes, estranhas, extremas ou discrepante [23].
É necessário conhecer as razões que levam ao aparecimento dos outliers para que seja possível determinar a forma correta de tratamento dos mesmos. Dentre as razões possíveis para o aparecimento de outliers, podem-se destacar os erros de medição, execução ou variabilidade inerente dos elementos da população [23]. Um outlier resultante de um erro de coleta ou medição deve ser descartado. Entretanto, caso o valor observado seja possível, não necessariamente deve-se descartar o outlier.
Para identificar os outliers é necessário calcular a mediana, o quartil inferior (Q1) e o quartil superior (Q3) das amostras. Na sequência deve-se subtrair o quartil superior do quartil inferior, sendo o resultado armazenado em (L). Os valores do intervalo de Q3+1,5L e Q3+3L, e Q1-1,5L e Q1-3L, serão considerados outliers, podendo ser aceitos na população. Os valores que forem maiores que Q3+3L e menores que Q1-3L devem ser considerados outliers. Neste caso, deve-se investigar a origem da dispersão, por tratar-se dos pontos mais extremos analisados [23].
A Figura 4 apresenta a análise de outliers das variáveis Diferença (Previsto – Realizado). Conforme se pode observar, as amostras não possuem valores que se enquadrem como outliers, assumindo um nível de significância de 5%.
Figura. 4. Análise de outliers das variáveis “Diferença (Previsto – Realizado)” e “Momento”.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
236
A. Análise com 1 Fator e 2 Tratamento com método paramétrico
Inicia-se a análise da Tabela 3 pela verificação de normalidade dos dados, para a qual serão consideradas as colunas “Diferença (Previsto – Realizado)” e “Momento”. É possível observar que a tabela possui menos de 30 amostras, sendo assim, utiliza-se o teste de Shapiro-Wilk, conforme indicado na Figura 2, que exibe a árvore de decisão. Deve-se considerar as seguintes hipóteses:
H0 (hipótese nula): As amostras apresentam distribuição normal.
H1 (hipótese alternativa): As amostras não apresentam distribuição normal.
Para a realização desse teste no Minitab, deve-se selecionar no menu a opção “StatBasic StatisticsNormality Test ...” e para variável “Diferença (Previsto – Realizado)”. O teste de normalidade deve ser aplicado para cada variável individualmente. Como a variável “Momento” é nominal e apresenta apenas duas opções (antes e depois), a mesma não necessita do teste de normalidade. Na Figura 5 nota-se que, a um nível de significância de 5%, as amostras são normais, pois apresentam p-value de 0,067, maior que o nível de significância estabelecido de 0,05. Isso indica a aceitação de H0, as amostras apresentam distribuição normal.
Figura. 5. Análise de normalidade para a variável Diferença (Previsto – Realizado) (A+B) (A) Antes
(B) Depois
Engenharia no Século XXI – Volume 18
237
Seguindo a definição da árvore de decisão, deve-se verificar a homocedasticidade das amostras. Para esta verificação são consideradas as seguintes hipóteses:
H0 (hipótese nula): As amostras são homocedásticas.
H1 (hipótese alternativa): As amostras não são homocedásticas.
A verificação do teste de homocedasticidade deve ser aplicada para as duas variáveis envolvidas no teste de hipótese. Tem que verificar se as duas amostras são homocedásticas entre si. No Minitab isso pode ser feita por meio do menu “StatBasic Statistics2 Variances ...” e selecionando as duas variáveis a serem comparadas.
Conforme Figura 6, a qual exibe o teste de Levene, para verificação de igualdade de variâncias com nível de significância de 5%, obtém-se um p-value de 0, 913. Constata-se então que as amostras são homocedásticas, haja vista que apresentam p-value maior que o nível de significância estabelecido de 5%, indicando a necessidade de um teste paramétrico.
Figura. 6. Análise de homocedasticidade para as variáveis “Diferença (Previsto – Realizado)” e “Momento”.
Para a comparação das médias será utilizado, conforme árvore de decisão, o teste paramétrico Teste T, devido a quantidade de tratamentos (2 fatores: “Antes” e “Depois” da adoção do plugin de estimativa de tempo). Esse teste é aplicado considerando as seguintes hipóteses:
H0 (hipótese nula): Não há diferença entre as médias.
H1 (hipótese alternativa): Há diferenças entre as médias.
Para a execução do Teste T no Minitab, deve-se acessar o menu “StatBasic Statistics2-Sample t ...”
Mediante a aplicação do respectivo teste, a um nível de significância de 5%, nota-se, na Figura 7, que com um p-value igual a 0,001, pode-se rejeitar a hipótese nula de que as médias são estatisticamente equivalentes, portanto, existem diferenças significativas, do ponto de vista estatístico, para as amostras.
Figura. 7. Análise do Teste T para a variável Diferença (Previsto – Realizado) x Momento
Com o resultado da análise obteve-se que existe diferença significativa entre as médias a um nível de significância de 5%, na diferença de tempo com relação a antes e depois da adoção do plugin.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
238
B. Análise com 1 Fator e 2 Tratamento com método não paramétrico
Dando continuidade à demonstração dos testes estatísticos, inicia-se a exemplificação dos testes não paramétricos. Inicia-se com a verificação de normalidade dos dados, para a qual serão consideradas as colunas “Previsto Horas” e “Momento”. É possível observar que a tabela possui menos de 30 amostras, sendo assim, utiliza-se o teste de Shapiro-Wilk, conforme indicado na Figura 2. Deve-se considerar as seguintes hipóteses:
H0 (hipótese nula): As amostras apresentam distribuição normal.
H1 (hipótese alternativa): As amostras não apresentam distribuição normal.
Como pode ser observado na Figura 8, as amostras apresentam distribuição normal, com um p-value de 0.066 para a variável “Previsto Horas”, sendo assim, deve verificar sua homocedasticidade. Para esta verificação são consideradas as seguintes hipóteses:
H0 (hipótese nula): As amostras são homocedásticas.
H1 (hipótese alternativa): As amostras não são homocedásticas.
Conforme Figura 9, a qual exibe o teste de Levene, comparando as variáveis “Previsto Horas” e “Momento”, obtém-se um p-value de 0,006. Constata-se então que as amostras não são homocedásticas, haja vista que uma das variáveis apresentam p-value menor que o nível de significância estabelecido de 5%, indicando a necessidade de um teste não paramétrico.
Figura. 8. Análise das variáveis “Previsto Horas” (A+B).
(A) Antes
(continuação)
Figura. 8. Análise das variáveis “Previsto Horas” (A+B). (B) Depois
Engenharia no Século XXI – Volume 18
239
Figura. 9. Análise de homocedasticidade para as variáveis “Previsto Horas” e “Momento”.
Para exemplificar a utilização de um método não paramétrico para um fator e dois tratamentos, será utilizado o método de Mann-Whitney (alternativa ao Teste T). Para realização desse teste utilizou-se a comparação entre as variáveis “Diferença (Previsto – Realizado)” e “Momento”, visto que a mesma possui dois tratamentos (“Antes” e “Depois” da adoção do plugin para estimativa de tempo). Esse teste é aplicado considerando as seguintes hipóteses:
H0 (hipótese nula): Não há diferença entre as médias.
H1 (hipótese alternativa): Há diferenças entre as médias.
O teste não paramétrico de Mann-Whitney pode ser realizado no Minitab por meio do menu “StatNonparametricsMann-Whitney ...”.
Conforme Figura 10, a qual exibe o teste de Mann-Whitney para verificação das médias, constata-se que as amostras não possuem um nível de significância do ponto de vista estatístico, visto que apresentam um índice menor que 5%, logo rejeita-se a hipótese nula de que não há diferença significativa entre as médias. Ou seja, a utilização do plugin trouxe benefício significativo em relação à diferença de horas entre o previsto e realizado no projeto.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
240
Figura. 10. Teste de Mann-Whitney para a variável Diferença (Previsto – Realizado) e Momento.
Após a análise da diferença do tempo entre o previsto e o realizado, antes e após a adoção do plugin para estimativa de tempo, pode-se afirmar que existe diferença significativa do ponto de vista estatístico, considerando um nível de significância de 5% entre as médias observadas.
C. Análise com 1 Fator e mais 2 Tratamento com método paramétrico
Para a exemplificar a utilização do método ANOVA, constante na árvore de decisão, Figura 2, será considerado a normalidade dos dados da variável “Diferença (Previsto – Realizado)” constates na Figura 5 e a separação da variável “Número de Casos” em três grupos, sendo esses respectivamente, “Pequena” (P) onde o número de casos é menor que 33, “Média” (M) onde o número de casos está entre 34 e 66, e “Grande” (G) quando o número de casos é maior de 66, essa separação leva em consideração que cada versão do software desenvolvido pela empresa não ultrapassa 100 casos, sendo essa separação representado na Tabela 2 como a coluna “Casos”.
Para esta verificação são consideradas as seguintes hipóteses:
H0 (hipótese nula): As amostras são homocedásticas.
H1 (hipótese alternativa): As amostras não são homocedásticas.
Conforme Figura 11, a qual exibe o teste de Levene, para verificação de igualdade de variâncias, com nível de significância de 5%, obtém-se um p-value de 0,220. Constata-se então que as amostras são homocedásticas, haja vista que apresentam p-value maior que o nível de significância de 5%, indicando a necessidade de um teste paramétrico.
Figura. 11. Teste de homocedasticidade da variável Previsto x Realizado em Horas
Para a comparação das médias será utilizado, conforme árvore de decisão, o teste paramétrico ANOVA (alternativa ao teste não paramétrico de Kruskal-Wallis), devido a comparação entre os valores “Diferença (Previsto – Realizado)” e “Casos” das amostras. Este teste é aplicado considerando as seguintes hipóteses:
H0 (hipótese nula): Não há diferença entre as médias.
H1 (hipótese alternativa): Há diferenças entre as médias.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
241
O teste ANOVA, está disponível no Minitab através do menu “StatANOVAOne-Way ...” selecionando “Diferença (Previsto – Realizado)” como variável e “Casos” como tratamento.
Mediante a aplicação do respectivo teste, a um nível de significância de 5%, nota-se, na Figura 12, que, com um p-value igual a 0,045, pode-se aceitar a hipótese nula de que as médias são estatisticamente equivalentes. Mediante a realização do referido teste, ainda é possível obter uma Análise gráfica do teste ANOVA, com a comparação das médias em função do tratamento, conforme demonstrado na Figura 13.
Figura. 12. Análise do teste ANOVA para as variáveis “Diferença (Previsto – Realizado)” e “Casos”.
Figura. 13. Análise gráfica do teste ANOVA para as variáveis “Diferença (Previsto – Realizado)” e “Casos”.
Aplicando o teste de Tukey, disponível através do botão “Comparasions ...” dentro da análise do ANOVA, nas mesmas variáveis analisadas acima, é possível obter a comparação das médias em função do tratamento, usado quando as médias analisadas através do método ANOVA apesentam menor que o nível de significância, conforme apresentado na Figura 14, bem como na análise gráfica da Figura 15.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
242
Figura. 14. Análise do teste ANOVA com teste de Tukey para para as variáveis “Diferença (Previsto – Realizado)” e “Casos”.
Figura. 15. Análise gráfica do teste ANOVA com teste de Tukey para as variáveis “Diferença (Previsto –
Realizado)” e “Casos”.
O método ANOVA apresentar a existência de diferença entre o tempo previsto e o realizado com relação ao número de casos, e através do método de Tukey podemos confirmar essa análise, pois a diferença das médias entre um número pequeno e um número grande de casos é significativa a um nível de 5%.
D. Análise com 1 Fator e mais 2 Tratamento com método não paramétrico
Ainda considerando a normalidade dos dados disposta na Figura 8, dá-se continuidade à árvore de decisão, sendo o próximo passo a comparação das médias quanto a homocedasticidade. Aplicando sobre às variáveis “Previsto Horas” já verificado a normalidade conforme a Figura 8 e “Casos”, devido à quantidade de tratamentos (3). Para esta verificação são consideradas as seguintes hipóteses:
H0 (hipótese nula): As amostras são homocedásticas.
H1 (hipótese alternativa): As amostras não são homocedásticas.
Conforme Figura 18, a qual exibe o teste de Levene, para verificação de igualdade de variâncias, com nível de significância de 5%, obtém-se um p-value de 0,001. Constata-se então que as amostras não são homocedásticas, haja vista que apresentam p-value menor que o nível de significância de 5%, indicando a necessidade de um teste não paramétrico.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
243
Figura. 18. Análise gráfica do teste de Levene para as variáveis “Previsto Horas” e “Casos”.
Utilizou-se o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis (alternativa não paramétrica ao teste ANOVA). Este teste é aplicado considerando as seguintes hipóteses:
H0 (hipótese nula): Não há diferença entre as médias.
H1 (hipótese alternativa): Há diferenças entre as médias.
Mediante a aplicação do respectivo teste, a um nível de significância de 5%, nota-se, na Figura 19, um p-value igual a 0,011, indicando a não aceitação da hipótese nula, de que as médias são estatisticamente equivalentes.
Figura. 19. Resultado do teste de Kruskal-Wallis.
Como o resultado retornado pelo teste de Kruskal-Wallis foi a rejeição da hipótese nula (H0), é aplicado o teste de Mann-Whitney para comparação 2 a 2 entre os grupos, essa segunda análise demostra se existe efetivamente uma diferença significativa entre as médias considerando um nível de significância de 5%. A comparação entre os grupos (M-G, G-P, M-P) pode ser visto nas figuras 20, 21 e 22 respectivamente.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
244
Figura. 20. Resultado do teste de Mann-Whitney entre “Previsto Horas” e os Casos M-G.
Figura. 21. Resultado do teste de Mann-Whitney entre “Previsto Horas” e os Casos G-P.
Figura. 22. Resultado do teste de Mann-Whitney entre “Previsto Horas” e os Casos M-P.
Como resultado, a um nível de significância de 5%, existe diferença significativa entre as médias, levando então a aceitação da hipótese alternativa (H1).
3. CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos mediante a análise estatística das amostras, conclui-se que a utilização do plugin apresentou melhoras, do ponto de vista estatístico, em relação à metodologia empírica adotada inicialmente.
O uso de métodos estatísticos tem ganhado cada vez mais atenção dentro das pesquisas em Engenharia de Software Experimental, mostrando assim seu grau de importância e a preocupação por parte dos pesquisadores em avaliar como o estudo foi planejado e executado. Os métodos estatísticos são utilizados para o planejamento e condução de um estudo, descrição dos dados e para tomada de decisões, onde se pode citar os testes de hipóteses que se baseiam nos riscos associados às mesmas [11]. A formulação de hipóteses, advindas dos métodos estatísticos, tem sido amplamente difundida. Para decidir se uma determinada hipótese é confirmada por um conjunto de dados, é necessário ter um procedimento objetivo para aceitá-la ou rejeitá-la [16]. Mediante a formulação de uma decisão sobre a hipótese nula (H0) podem ocorrer dois erros distintos. O primeiro, designado por erro tipo I, consiste em rejeitar H0 quando ela é verdadeira. O segundo, designado por erro tipo II, consiste em aceitar H0 quando este é falso [17].
Engenharia no Século XXI – Volume 18
245
Com o objetivo de facilitar a escolha do método estatístico adequado em função das características de amostragem, o presente trabalho apresenta uma árvore de decisão, a qual demonstra os testes a serem aplicados em cada etapa da análise dos dados.
As análises estatísticas das amostras podem auxiliar os pesquisadores, engenheiros de software e líderes de equipe, na tomada de decisões importantes acerca do risco associado ao projeto. Essa abordagem, baseada em evidências, pode propiciar ainda, segundo [18], um maior amadurecimento por parte da Engenharia de Software, haja vista que se deixaria de desenvolver software baseado em suposições e passar-se-ia a desenvolver software com base em fatos, extraídos das análises estatísticas feitas sobre dados dos processos de desenvolvimento de software.
AGRADECIMENTOS
Os autores agradecem ao UniAcademia, Granbery, IF Sudeste MG e a UFJF pelo apoio financeiro e incentivo à pesquisa.
REFERÊNCIAS
[1] ARAÚJO, M. A. P. et al. Métodos Estatísticos aplicados em Engenharia de Software Experimental. XXI SBBD-XX SBES, 2006.
[2] BATTISTI, I. D. E. and BATTISTI, G. Métodos estatísticos. 2008.
[3] COOPER, D. R. and SCHINDLER, P. S. Métodos de pesquisa em administração. 12ª Edição. McGraw Hill Brasil. 2016.
[4] DYBÅ, T.; KAMPENES, V. B.; SJØBERG, D. I. K. A systematic review of statistical power in software engineering experiments. Information and Software Technology, v. 48, n. 8, p. 745-755, 2006.
[5] FERNANDES, E. M. G. P. Estatística Aplicada. Braga: American Mathematical Society, 1999.
[6] HAIR, J. F. et al. Análise multivariada de dados. Bookman, 2009.
[7] MILLER, J. et al. Statistical power and its subcomponents—missing and misunderstood concepts in empirical software engineering research. Information and Software Technology, v. 39, n. 4, p. 285-295, 1997.
[8] NEYMAN, J. and PEARSON, E. S. On the problem of the most efficient tests of statistical hypotheses, Transactions of the Royal Society of London Series A 231. P. 289–337, 1933
[9] NEYMAN, J. and PEARSON, E. S. On the use and interpretation of certain test criteria for purposes of statistical inference: Part I. Biometrika, p. 175-240, 1928.
[10] ROCHA, A. R. C.; SOUZA, G. S.; BARCELLOS, M. P. Medição de Software e Controle Estatístico de Processos. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretária de Política de Informática, n. 8, 2012.
[11] SHIMAKURA, S. E. Bioestatística A. Departamento de Estatística, UFPR. Disponível em http://leg.ufpr.br/~shimakur/CE055/node74.html Acesso em 25/09/2014.
[12] SJOBERG, D. I. K; DYBA, T.; JORGENSEN, M. The future of empirical methods in software engineering research. In: Future of Software Engineering, 2007. FOSE'07. IEEE, 2007. p. 358-378.
[13] WAINER, J. Métodos de pesquisa quantitativa e qualitativa para a Ciência da Computação. Atualização em informática, p. 221-262, 2007.
[14] FLORAC, W. A. and CARLETON, A. D. Measuring the software process: statistical process control for software process improvement. Addison-Wesley Professional, 1999.
[15] FREUND, J. and SIMON, G. Estatística aplicada. 9. ed. Trad.: A. A. Farias. Porto Alegre: Bookman, 2002.
[16] SIEGEL, S. and CASTELLAN JR., N. J. Estatística não-paramétrica para ciências do comportamento. Tradução de Sara Ianda Correa Carmona. 2ª ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2006.
[17] CÂMARA, F. G. and SILVA, O. Estatística Não Paramétrica - Testes de Hipóteses e Medidas de Associação. Departamento de Matemática - Universidade dos Açores, Ponta Delgada, 2001.
[18] JURISTO, N. and MORENO, A. (2002) "Reliable Knowledge for Software Development", IEEE Software, pp. 98-99, sep-oct, 2002.
[19] MAGALHÃES, M. N.; DE LIMA, A. C. P. Noções de probabilidade e estatística. IME-USP, 2000.
[20] ANJOS, A. dos. Análise de Variância. Notas de Aula, Capítulo, v. 7, 2008.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
246
[21] LIMA, P. C. and LIMA, R. R.; Estatística Experimental. Guia de Estudos. Universidade Federal de Lavras. 2014.
[22] REIS, G. M. and RIBEIRO JUNIOR, J. I. Comparação de testes paramétricos e não paramétricos aplicados em delineamentos experimentais. III SAEPRO. Viscoça, MG: UFV, 2007.
[23] BARNETT, V. and TOBY L. Outliers in statistical data. Vol. 3. New York: Wiley, 1994.
[24] Basili, V. R., McGarry, F. E., Pajerski, R. and Zelkowitz, M. V. Lessons learned from 25 years of process improvement: the rise and fall of the NASA Software Engineering laboratory. ICSE-24, pp. 69-79, 2002
[25] Boehm, B., Rombach, H. D. and Zelkowitz, M. V. (eds.) Foundations of Empirical Software Engineering, The Legacy of Victor R. Basili, Springer-Verlag, 2005.
[26] WOHLIN, C. et al. Experimentation in software engineering. Springer Science & Business Media, 2012.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
247
Capítulo 25 Detecção de botnets através da análise do trafego DNS e engenharia reversa
Juliano Stolpe
Carlos Oberdan Rolim
Resumo: Algumas botnets utilizam-se de técnicas de endereçamento dinâmico como ip-
flux e domain-flux para a comunicação entre os bots e o servidor de comando e controle,
tornando-as assim mais robustas para a operação, e consequentemente mais difíceis
para a detecção. Este artigo detalha um método para realizar a detecção de botnets
através da análise do trafego DNS junto com a engenharia reversa de código malicioso. O
método é um conjunto de procedimentos que devem ser seguidos para a obtenção de
hosts caracterizados como bots. São apresentados dois estudos de caso que obtiveram
êxito com a aplicação deste método.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
248
1. INTRODUÇÃO
Em toda a Internet recursos e sites são pesquisados por seu nome ou endereço IP, sendo necessário o uso do DNS (Domain Name System) para tal atividade. Logo o DNS é o serviço básico e essencial para o correto funcionamento da pesquisa na internet. Entretanto devido ao acesso livre e distribuído do protocolo DNS, aplicações maliciosas também podem fazer consultas para realizar ataques, dentre elas botnets que podem ser definidas como um conjunto de maquinas comprometidas que permitem ao atacante o controle remoto dos recursos computacionais para realizar atividades fraudulentas ou ilícitas [McCarty 2003b, Freiling et al. 2005]. Tais maquinas utilizam um software chamado de bot (da palavra robô), o qual liga os computadores infectados a uma infraestrutura de Comando e Controle (C&C).
Inicialmente o procedimento para tornar uma máquina infectada não era completamente automatizado e necessitava de interação humana como clicar em um link, que conduzia ao download de códigos maliciosos, ou abrir um e-mail com um software malicioso anexado. Atualmente, este procedimento tornou-se cada vez mais automatizado. Algumas botnets podem se propagar usando técnicas como compartilhamento de arquivos, redes P2P, backdoors deixadas por worms ou ainda explorar vulnerabilidades comuns de sistemas operacionais. Além disso, os ataques e a capacidade de comunicação dos bots tem sido melhorados, utilizando algoritmos que criam nomes de domínios aleatórios para alocar bots mais rapidamente. Botnets são utilizadas para diversos propósitos, entre os mais comuns estão ataques de negação de serviço (DoS - Denial of Service), ataques de reconhecimento de rede, propagação de spam, e também como um Modelo de Negócio.
Algumas ferramentas são utilizadas para mitigar ataques de botnets, como antivírus, antispam, firewalls, IDS (Intrusion Detection System), IPS (Intrusion Prevention System) que focam em atividades intrusivas em redes, mesmo assim malwares sofisticados conseguem burlar a segurança destas ferramentas utilizando técnicas de fluxo de IP ou domínio.
Alguns trabalhos propuseram sistemas, ferramentas e arquiteturas para detecção e mitigação de botnets, como [Ceron J. 2010] que definiu uma arquitetura baseada em assinatura de rede de maquinas comprometidas por bots, [Laufer 2005] propôs um sistema de rastreamento de pacotes para descobrir a origem de ataques, [Hossain 2010] propôs a mineração do tráfego DNS para detecção de aplicações de envio de Spam, e [Kaio 2014] apresenta uma metodologia utilizando teoria dos grafos para distinguir consultas padrões de anômalas no tráfego DNS.
Motivado pelos problemas citados o presente artigo tem como objetivo, definir um método hibrido composto pela análise do trafego de rede e a engenharia reversa, para detecção de botnets que utilizam o serviço de DNS para se proliferar e controlar seus bots. A intenção deste trabalho é ser um guia para a detecção com êxito de botnets que especificamente utilizam o serviço de DNS.
Para validar o método proposto, o mesmo foi executado em um ambiente real: uma empresa com diversos tipos de dispositivos, entre eles smartphones, desktops, servidores e notebooks. São apresentados dois estudos de caso, onde no primeiro foi possível detectar um Spyware que se conectava a um domínio do serviço No-IP, e no segundo uma botnet criada dentro da própria rede para fins de avaliação deste método.
O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: A seção 2 apresenta o referencial teórico que expõem os tópicos utilizados para a realização deste trabalho assim como trabalhos relacionados existentes no estado da arte. A seção 3 apresenta o detalhamento do método proposto, a seção 4 apresenta os dois estudos de casos e os resultados obtidos, e a seção 5 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Nesta seção são apresentados os conceitos relativos a base teórica que fundamenta a pesquisa realizada, com o intuito de destacar os pontos principais relacionados na literatura e como são empregados no presente trabalho.
2.1 DNS
2.1.1 DEFINIÇÃO
O DNS é ao mesmo tempo um sistema, um serviço e um protocolo. Sistema no que diz respeito a sua complexidade, pois faz o gerenciamento de nomes de domínios hierárquico e distribuído para computadores, serviços ou qualquer recurso conectado à Internet ou rede privada. Serviço pelo fato de
Engenharia no Século XXI – Volume 18
249
disponibilizar recursos, como por exemplo, traduzir o nome de um host para um endereço IP, e vice-versa. E protocolo porque possui seu próprio conjunto de regras sobre o modo como se dará a comunicação entre as partes envolvidas.
O DNS opera no modo Cliente/Servidor, e sua estrutura básica está definida nas RFCs 10343 e 10354. É amplamente utilizado em diversos Sistemas Operacionais da família Unix e Windows. [Stanek 2009].
2.1.2 ESPAÇO DE NOMES
O espaço de nome DNS é organizado em forma de árvore, sendo cada nome de domínio correspondente a um no da arvore. Um ramo da arvore de nomes associa nomes de hosts a endereços IP e um segundo ramo associa endereços IPs de volta a seus nomes de hosts. O primeiro tipo de ramo corresponde ao tipo de pesquisa direta, e o segundo ao tipo de pesquisa reversa ou inversa. Cada domínio representa um trecho diferente do espaço de nomes e é controlado de maneira livre por uma única entidade administrativa. A raiz da Arvore é representada por um ponto “.”, e abaixo dele estão os domínios de primeiro nível ou TLDs (Top Level Domains), que dividem-se em domínios genéricos e organizacionais (gTLD), e domínios geográficos, ou domínios para códigos de paises (ccTLD) . Alguns exemplos de domínios que representam os gTLDs são os terminados em: edu, gov, mil, net, e org. E para os que representam os ccTLDs são terminados em br, au, de e ca. [Nemeth 2012]. A Figura 1 demonstra como esta árvore é formada.
Figura 1: Árvore de Domínios
[fonte:RNP]
2.1.3 ORDEM DAS CONSULTAS
O software cliente também chamado de resolver, procura primeiro no cache local do próprio cliente que se encontra na memória, caso a resposta não esteja no cache, o próximo passo é procurar no arquivo /etc/hosts no caso de sistemas derivados de Unix, e se o destino procurado não estiver neste arquivo, ai sim é procurado no servidor DNS primário. Se existir mais de um servidor DNS configurado, como por exemplo um servidor DNS secundário, este será o próximo a ser consultado. Quando nenhuma destas opções retorna o resultado esperado, então um root-server é consultado, e toda a pesquisa no topo da arvore de domínios começa a ser executada, até chegar no domínio desejado.
2.1.4 TIPOS DE REGISTROS
Existem tipos diferentes de registros DNS disponíveis, no entanto, abaixo será mostrado apenas os mais comuns de serem encontrados durante o gerenciamento de um domínio.
A - O registro A, também conhecido por hostname, é o registro central de um DNS, ele vincula um domínio ou subdomínio a um endereço IP direto. AAAA - Executa a mesma função de A, porém, para um endereço IPv6.
3 Domain Names–Concepts and Facilities http://www.faqs.org/rfcs/rfc1034.html 4 Domain Names–Concepts and Facilities http://www.faqs.org/rfcs/rfc1035.html
Engenharia no Século XXI – Volume 18
250
NS - Name Server (Servidor de Domínio), especifica servidores DNS para o domínio ou subdomínio. Pelo menos, dois registros NS devem ser definidos para cada domínio. Geralmente, um principal e outro secundário. CNAME - Significa Canonical NAME. Especifica um apelido (alias) para o hostname (A). É uma forma de redirecionamento. MX - Sigla para Mail eXchanger. Aponta o servidor de e-mails. Pode-se especificar mais de um endereço, formando-se assim uma lista em ordem de prioridade para que haja alternativas no caso de algum e-mail não puder ser entregue. PTR - PoinTeR, aponta o domínio reverso a partir de um endereço IP. SOA - Start Of Authority. Indica o responsável por respostas autoritárias a um domínio, ou seja, o responsável pelo domínio. Também indica outras informações úteis como número serial da zona, replicação, etc. TXT - Refere-se a TeXT, o qual permite incluir um texto curto em um hostname. SPF - Sender Policy Framework, é uma tentativa de controle de falsos e-mails. Permite ao administrador de um domínio definir os endereços das máquinas autorizadas a enviar mensagens neste domínio. SRV - Abreviação de SeRVice, permite definir localização de serviços disponíveis em um domínio, inclusive seus protocolos e portas.
2.1.5 FORMATO DA MENSAGEM DNS
O Protocolo DNS que rege a comunicação entre cliente e servidor local e entre este e outros Servidores, é um protocolo do nível de aplicação. Conclua-se todavia que, quem os acessa são as aplicações em que eles se envolvem. Vide Figura 2.
Figura 2: Formato das mensagens DNS
Questões e respostas compartilham um formato comum descritas nas RFCs 1035[2] e 26715. Um cabeçalho de 12 octetos, com um certo número de campos, e quatro Seções de comprimento variável contendo parâmetros e RRs (ResourceRecord). O campo Identificação é fixado pelo Cliente e devolvido tal qual pelo Servidor. O campo flags tem os seguintes parâmetros:
QR: pode ser 0 ou 1, trata –se de uma pergunta ou de uma resposta. Opcode:(0) StandardQuery, (1) InverseQuery e (2) ServerStatusRequest. AA: indica a proveniência da resposta: o Servidor Oficial para o Domínio em causa (e, que por conseguinte, está sempre correta) ou a cache de um Servidor. TC: truncamento na resposta, estão sendo devolvidos só os primeiros 512 bytes. RD: fixo a 1 (numa questão) - quando se pretende que a pesquisa seja recursiva, se for 0, e o Servidor interrogado não dispõe da resposta-Oficial, é devolvida uma lista de Servidores. RA: é fixo a 1 (numa resposta) - se o Servidor suporta recursividade. Rcode: código de retorno, (0) NoError, (3) NameError entre outros erros.
5 Extension Mechanisms for DNS (EDNS0) https://www.ietf.org/rfc/rfc2671.txt
Engenharia no Século XXI – Volume 18
251
Os campos finais do cabeçalho indicam o número de membros em cada seção da mensagem; numa questão, o NumberOfQuestions é normalmente 1 (e os restantes são zero); numa resposta, o NumberOfAnswers é pelo menos 1; os campos seguintes do Cabeçalho podem ser 0 ou não. As quatro Seções (cujas últimas três estão presentes apenas em respostas) são, sucessivamente:1) Parâmetros das Questões: Nome, Classe e Tipo de Registro (ResourceRecord) a devolver; (O Nome é codificado como uma sequência dos respectivos componentes precedidas do seu comprimento; por ex., mega.ist.utl.pt. codifíca-se 4mega3ist3utl2pt0; o Tipo pode ser A, NS, etc.
O Nome pode, de fato, ser um alias (i.e., mnemónica, a que estará associado um CName)). 2) Registros que respondem à questão feita; 3) Registros que remetem para Servidores-Oficiais com a informação requerida; 4) Registros adicionais de ajuda ao uso dos outros Registros (por ex., pediu-se o Nome da máquina que é caixa de correio e, adicionalmente, é devolvido o respectivo endereço-IP: isso evita o ter-se que contatar novamente o Servidor para conhecer tal endereço). O formato das três últimas Seções é comum: compõe-se de uma sequência de Registros - preenchidos pela ordem Nome, Tipo, Classe, Tempo De Vida, Valor, em que este último é precedido do seu comprimento. Os Servidores de Nomes devem saber responder a uma StandardQuery: receber um Nome (de computador ou Domínio), Tipo e Classe, e devolver o conjunto de Registos cobertos por esse trio.
2.1.6 TÉCNICAS DE FLUXO COM IP E DOMÍNIO
Como o DNS é um protocolo essencial na Internet, uma vez que fornece um mapeamento conveniente entre nomes de domínio e os seus endereços IP correspondentes, a flexibilidade e disponibilidade global do DNS é aproveitada por botnets para infra estruturas de comando e controle resilientes. IP-flux e Domain-flux são duas técnicas que estão sendo amplamente integradas nas botnets, a fim de melhorar sua resiliência. A seguir é descrito como estas técnicas funcionam.
→ IP-Flux6
“Mudanças rápidas e repetidas de registros de recursos A ou NS de uma zona DNS, que tem o efeito de mudar rapidamente a localização (endereço IP) para que o nome de domínio de um host da Internet (A) ou nome do servidor (NS) resolva ".
Tecnicamente, essa mudança rápida é feita definindo um tempo de vida (TTL) baixo para um dado registro DNS e muda o IP associado com frequência. Esta técnica tem sido usada há muito tempo como um método de equilíbrio de carga por sistemas legítimos, como por exemplo sites com elevada carga e altamente disponíveis, tais como motores de pesquisa na Internet ou uma rede de distribuição de conteúdo (CDN).
Esta técnica é agora usada de forma maliciosa, formando um Serviço de Rede Fast-flux (FFSN), uma rede de hosts comprometidos que compartilham o mesmo nome de domínio. Os endereços IP dos hosts são trocados rapidamente dentro, e para fora da entrada de DNS, com base na disponibilidade dos anfitriões e largura de banda [Ferreira 2013].
→ Domain-flux
É outra abordagem para ultrapassar as defesas no bloqueio do acesso aos servidores C&C. Ao contrário do IP-flux onde os endereços IP são rapidamente trocados, no domain-flux são alterados os nomes do domínio. Grande número de nomes de domínios (ou subdomínios) são embutidos no executável do bot ou são gerados por um algoritmo incorporado no bot, chamado DomainGenerationAlgorithm (DGA). O botmaster tem a mesma lista de nomes de domínio, mas registra apenas um ou alguns deles. Esses nomes de domínio apontam para os servidores C&C. Os bots encontram o endereço do servidor C&C resolvendo sequencialmente ou aleatoriamente nomes de domínio na lista até ter sucesso, localizando um servidor C&C num nome de domínio registado pelo botmaster.
2.1.7 O SERVIÇO NO-IP
O serviço No-IP é uma solução de DNS Dinâmico que facilita o acesso remoto a qualquer dispositivo conectado à internet. Os endereços IP dinâmicos podem tornar o acesso remoto difícil, o DNS dinâmico simplifica-o apontando um nome fácil de lembrar (dominio.no-ip.org) para o seu endereço IP. O nome de host permanece ativo com o seu endereço IP atual de modo que sempre poderá acessar o computador ou dispositivo remotamente. Geralmente um malware pode usar dois tipos de conexão, “Direta” ou “Reversa”,
6 IP-Flux https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-025-en.pdf
Engenharia no Século XXI – Volume 18
252
em conexão direta o invasor precisa conectar-se a vítima por meio do endereço de IP da mesma, ou seja, o invasor primeiramente deve preocupar-se em saber como obter o endereço de IP da vítima, caso contrário não haveria motivo para ele criar um servidor, já que ele não poderia se conectar a vítima, e como se já não bastasse, o endereço de IP muda a cada vez que nos conectamos a Internet, ou seja, além de saber como obter o IP da vítima o invasor também teria que pegar o novo IP da vítima a cada vez que ela se conectasse a Internet. Já em conexão reversa o trabalho de ter que pegar o IP da vítima é dispensável, afinal, os papeis serão invertidos, quem terá o trabalho de se conectar ao trojan será a vítima. Quando usado a conexão reversa, o invasor é que precisa fornecer o endereço de IP para que a vítima se conecte a ele.
O No-IP gera um nome de domínio, DNS esse que servirá como uma espécie de IP fixo, dessa forma, ao invés de colocar o IP no servidor do malware, o invasor deve colocar o seu No-IP, sendo assim, a vítima sempre poderá conectar-se a ele.
2.2 BOTNETS
2.2.1 CONCEITO
Conforme[Craig 2007], como distinguir uma botnet de um atacante agindo isoladamente? Em primeiro lugar, os clientes em uma botnet devem ser capazes de tomar decisões sobre o cliente sem o invasor ter que logar no sistema operacional do cliente (Windows, UNIX ou Mac OS). Em segundo lugar, muitos clientes devem ser capazes de agir de forma coordenada para realizar um ataque a um alvo comum com pouca ou nenhuma intervenção do invasor. Se um conjunto de computadores atender a esse critério é uma botnet. Uma botnet é a fusão de muitas ameaças em uma só. Uma botnet típica consiste de um botserver e um ou mais botclients. Botnets podem conter centenas ou alguns milhares de botclients (chamados zumbis ou drones) que são considerados pequenos bots. Nesta rede de bots típico, o invasor se comunica com botclients atraves de um servidor remoto de comando e controle (C & C). Primeiramente, o novo botclient junta-se a uma especie de canal, ou porta especifica para comunicação com o servidor principal. Posteriormente este servidor envia os comando para toda a rede de bots, que podem executar os comandos em conjunto.
Este arranjo é agradável aos invasores porque o computador que comanda as ações não necessariamente precisa ser o seu proprio computador, mas sim um servidor que possa ter sido invadido anteriomente, e agora trabalha para ele. Para detectar a botnet, o investigador precisa achar uma maneira de manipular a comunicação entre algum bot, e o servidor de comando e controle. Os invasores ainda podem adicionar uma camada de complexidade através de um proxy, ofuscando através de uma série de saltos múltiplos sua localização, utilizando por exemplo, a rede Tor [Craig 2007].
Adicionando ao fato de que algumas bases de código de botnet podem incluir comandos para apagar evidências, comandos para criptografar o tráfego, e até mesmo técnicas furtivas polimórficas, botnets modernas estão sendo desdobradas e organizadas como exércitos reais, com as divisões de zumbis controladas por diferentes botservers, ou seja,um conjunto de servidores de bots, que por sua vez controlam cada uma das divisões de zumbis. Dessa forma, se um canal de comunicação é interrompida, apenas uma divisão está perdida, e as outras divisões zumbis podem ser usadas para retaliar ou para continuar a conduzir o negócio[Craig 2007].
2.2.2 FUNÇÕES DE UMA BOTNET
Botnets são utilizadas para diferentes propósitos, como ataques de negação de serviço, ataques de reconhecimento de rede, propagação de Spam em massa, e também pode ser usada como um modelo de negócio.
Ataques de Negação de Serviço: Ataques de negação de serviço procuram impedir que os usuários legítimos possam se utilizar de algum serviço ou recurso na rede, tornando-os indisponíveis.
Ataques de Reconhecimento de Rede: Para identificar um IP valido, o atacante pode utilizar ferramentas que percorrem segmentos de endereçamento IP no entanto, essa abordagem gera muito ruído (evidencia) e pode ser utilizada para identificar o atacante.
Propagação de Spam: Antes de enviar uma mensagem não solicitada, o bot precisa percorrer endereços para encontrar servidores de e-mail abertos na Internet (relay servers).
Engenharia no Século XXI – Volume 18
253
Modelo de Negócio: Através de motivações de ordem financeira, onde o modelo de negocio empregado envolve a criação, exploração e manutenção de botnets, que tem seus recursos postos a venda para aqueles interessados nas atividades ilegais, estas redes tendem a crescer de forma exponencial, e isto se tornou um negócio extremamente lucrativo.
2.2.3 CICLO DE VIDA DE UMA BOTNET
O processo para encontrar hosts vulneráveis, explorá-los e torná-los membros da botnet é definido como ciclo de vida dos bots, pois em algum momento os bots deverão se conectar ao servidor central e estabelecer uma ligação. A Figura 3 ilustra o ciclo de vida de uma botnet. De maneira resumida, o ciclo de vida pode ser representado pelas seguintes etapas. No Passo 1, um membro da botnet identifica um host vulnerável na rede. Após a infecção desse host através dos vetores de propagação, consultas DNS são realizadas para encontrar o servidor que distribui o software bot (Passo 2). No Passo 3, o host infectado baixa e instala o software bot para finalmente, ingressar no canal de comando e controle (Passo 4).
Figura 3: Ciclo de Vida de uma botnet
,
2.2.4 ARQUITETURAS DE BOTNETS
As botnets possuem arquiteturas centralizadas e distribuídas. O funcionamento das botnets baseadas em arquiteturas centralizadas é semelhante ao clássico modelo cliente-servidor. Neste modelo, uma infraestrutura de C&C centralizada é utilizada para estabelecer uma conexão entre o botmaster e os clientes da botnet. Diferentes protocolos podem ser empregados para estabelecer a comunicação entre os bots e o canal de controle, como por exemplo os protocolos IRC, HTTP e DNS.
Em uma arquitetura descentralizada as informações sobre os membros ou da própria botnet estão distribuídas ao longo de toda uma rede maliciosa. Assim, botnets baseadas em arquiteturas descentralizadas são mais difíceis de serem desarticuladas, pois mesmo a descoberta de muitos bots não necessariamente significa a perda da rede da botnet inteira, visto que não existe apenas um servidor central de C&C.
2.2.5 ABORDAGENS PARA DETECÇÃO
Em função das características fundamentais das redes maliciosas, existem duas abordagens normalmente usadas para o combate as botnets, sendo a primeira a utilização de honeypots, e a segunda o monitoramento e análise do tráfego de rede. Os mecanismos de honeypots permitem simular comportamentos de sistemas operacionais ou aplicações com problemas de vulnerabilidades, e também
Engenharia no Século XXI – Volume 18
254
são ferramentas que possibilitam a coleta de malwares, que serão analisadas com o objetivo de identificar as características e tecnologias associadas as redes maliciosas.
O monitoramento e análise do tráfego de rede podem ser desenvolvidos através do emprego de assinaturas ou análise de fluxo de dados para detecção de anomalias. As abordagens baseadas em assinaturas englobam sistemas de detecção de intrusão que monitoram continuamente o tráfego da rede, comparando elementos suspeitos com uma base de assinaturas ou com um conjunto de regras. A detecção de botnets através da análise de fluxo de dados de rede permite a identificação de informações relevantes a respeito da estrutura de controle da botnet, tais como características e tecnologias empregadas para sustentar seu funcionamento. O objetivo principal é inspecionar o fluxo para identificar comportamentos suspeitos como alta latência, grande volume de dados sendo transportados, presença de tráfego associado a portas de comunicação incomuns ou, ainda, comportamentos incomuns do sistema. Essas e outras características são utilizadas como indicadores da presença de componentes contaminados dentro da rede. Por exemplo, o monitoramento do tráfego DNS permite identificar o momento em que a máquina contaminada tenta se comunicar com o botmaster [Kaio 2014].
2.3 ENGENHARIA REVERSA
De acordo com a literatura existente, a engenharia reversa pode ser descria como o processo de analisar, compreender e identificar as funções de um equipamento, software ou dispositivo, de forma a ser capaz de fornecer manutenção ou desenvolver outro produto compatível, com o analisado, ou então descobrir o modo de funcionamento de algum programa desconhecido7.
Este processo pode envolver diversas técnicas, incluindo as mais simples, como a pura execução do software em um ambiente controlado, para identificar possíveis ações e modificações causadas por ele, até a análise do código de máquina, possibilitando o entendimento das funções do programa. A engenharia reversa de arquivos maliciosos é um estudo de código suspeito ou malicioso com o intuito de descobrir suas funcionalidades e características, seu modo de ação, e possíveis ameaças. Ela não só envolve a análise do código executável, mas em muitos casos, de protocolos de comunicação, criptografia de dados, entre outros.
A Engenharia Reversa de Malware também e chamada de análise estática, pois o malware não é executado para observar seu funcionamento, podendo ser feito uma análise dinâmica com o uso de Debbugers, executando trechos do código. A Engenharia Reversa reverte o processo da compilação, e ajuda a entender o funcionamento do malware. Porém é desejável o conhecimento em programação em diversas linguagens, assim como suas APIs, o funcionamento dos sistemas operacionais, memoria, formato de arquivos e disassembly etc.
2.3.1 PROTEÇÃO E OFUSCAÇÃO DE CÓDIGO
A ofuscação de código é o nome dado à tentativa deliberada de fazer um código de programação tornar-se difícil de entender por pessoas não-autorizadas. Ela pode ser realizada por diversos motivos, dentre eles, ocultar a finalidade do código (por exemplo, códigos maliciosos), impedir possíveis alterações (segurança pela obscuridade), impedir a violação de direitos reservados através da alteração e cópia, dificultar Engenharia Reversa, ou mesmo como um meio de diversão e desafio para oferecer a quem lê o código-fonte. Existem diversas técnicas e programas que podem fazer a ofuscação de código. Entre eles estão:
→ Packers: Fazem compressão e empacotamento do código no arquivo, e posteriormente faz o processo inverso quando o código é carregado na memória.
→ Cryptors: Criptografam e bagunçam o código, com o intuito de torna-lo ineligível.
→ Binders: Anexam o código a outros arquivos, sendo um tipo de esteganografia.
→ Funções Internas: Ocultam as Strings do código, porém em tempo de execução estas strings devem ser descriptografadas, para continuar a execução do programa.
7 ESR - Engenharia Reversa de Codigo Malicioso - https://pt.scribd.com/document/127786652/Engenharia-Reversa-de-Codigo-Malicioso
Engenharia no Século XXI – Volume 18
255
2.3.2 FERRAMENTAS PARA ENGENHARIA REVERSA
Existem diversas ferramentas, com diferentes propósitos para o trabalho com a engenharia reversa. Softwares Identificadores, Debuggers, Descompiladores, cada um trabalha em uma etapa do processo da engenharia.
→ Identificadores – Softwares que verificam se há proteção em um executável, pois geralmente malwares utilizam este artefato para dificultar a obtenção da linguagem em que foi escrita, e qual plataforma ou IDE foi utilizada. Entre os mais conhecidos temos o PeiD8, exeinfoPE9, e RDG10.
→ Unpackers – São descompactadores que extraem inteiramente o código a ser analisado. É visível a distinção entre o tamanho dos arquivos que estão empacotados, e posteriormente passam pelo processo de unpacket, pois o arquivo se torna maior, e o Debugger consegue “enxergar” todo o código a ser analisado. Existem diferentes unpackers, cada um especifico pra uma plataforma, como .net, delphi ou java.
→ Disassemblers – São desmontadores, convertem código de máquina em linguagem de montagem, ou Assembly. Geralmente o assembly contém constantes simbólicas, comentários e rótulos de endereçamento de memória. Um disassembly muito conhecido é o IDA Pro11.
→ Debuggers – Software depurador responsável por simular o funcionamento de um programa em tempo de execução. Nos depuradores é possível colocar pontos de parada chamados BreakPoints, para verificar passo a passo as alterações que ocorrem, ou quais instruções o programa executa. Exemplos de depuradores são OllyDBG12, WinDbg13, este último especifico para plataforma Windows.
→ Descompiladores – Estes programas revertem o código objeto novamente em código fonte, sendo este código fonte escrito em linguagem de alto nível, e mais compreensível que o código assembly, gerado pelo disassembler. Para cada linguagem de programação existe um descompilador, como DeDe para Delphi14, VBDecompiler para VisualBasic15, e também sites como showmycode.com, para linguagens interpretadas como o php.
2.4 TRABALHOS RELACIONADOS
Conforme o trabalho de [Ceron J., Granville L.,Tarouco L . 2010] e [Ceron et al.2010] definiu-se uma arquitetura para uma ferramenta de mitigação e detecção de botnets baseada em assinatura de rede de maquinas comprometidas por bots. Uma base de dados permitia perceber similaridades entre diferentes tipos de bots.
O sistema proposto por [LAUFER et al. 2005] é capaz de descobrir a origem de um ataque através do rastreamento de um único pacote, sem armazenar nenhuma informação na infra-estrutura da rede. Ao atravessar a rede, o pacote é marcado por cada roteador pertencente a sua rota com uma “assinatura.” Dessa forma, a vítima consegue extrair informações do próprio pacote que ajudam na identificação de todos os roteadores componentes da rota de um ataque oriunda de uma botnet.
No trabalho de [Hossain et al. 2010] é proposto fazer a detecção de aplicações de envio de Spam através da mineração do trafego DNS. A implementação consistiu em um conjunto de pequenas aplicações, podendo ser denominadas scripts, que realizavam a separação dos dados necessários para o estudo, assim como a metodologia proposta
O trabalho de [Kaio 2014] apresenta uma metodologia que utiliza teoria dos grafos para distinguir padrões entre consultas legítimas e maliciosas no tráfego. As resoluções de nomes são modeladas em um grafo que ilustra o padrão de comunicação entre hosts e como as consultas foram realizadas. Para validação da proposta, o tráfego DNS do domínio .br foi investigado. Os resultados mostraram uma redução de 35% do total de hosts a serem analisados e a presença de comportamentos suspeitos.
8 PEiD - http://www.download3k.com/Install-PEiD.html 9 ExeInfo - http://download.cnet.com/ExEinfo-PE/3000-2248_4-10523354.html 10 RDG - http://www.rdgsoft.net/ 11 IDA-PRO - https://www.hex-rays.com/products/ida/ 12 OllyDBG - http://www.ollydbg.de/ 13 WinDBG - http://www.windbg.org/ 14 DeDe - https://tuts4you.com/download.php?view.1131 15 VBDecompiler - https://www.vb-decompiler.org/
Engenharia no Século XXI – Volume 18
256
Apenas no trabalho de [Cunha 2011] percebe-se a utilização de um método hibrido, que utiliza a engenharia reversa e a análise do trafego de rede. E somente o trabalho de [Hossain 2010] o foco de análise está no serviço de DNS.
A Tabela 01 faz uma compilação dos trabalhos citados anteriormente, demonstrando as diferenças e semelhantes entre os trabalhos relacionados para o desenvolvimento do método proposto.
Tabela 1 – Comparativo entre o método proposto e os trabalhos relacionados
Ass. de Rede Eng. Reversa Rast. de Pacote Met. Hibrido Trafego Rede DNS
Ceron 2010 X
Laufer 2005
X
Cunha 2011
X
X X
Hossain 2010
X X Proposto
X X X X
Com isto a proposta deste trabalho envolve o tráfego de rede, o protocolo DNS, e a engenharia reversa, tornando a metodologia do mesmo hibrido por utilizar técnicas distintas para obtenção de um resultado.
3. MÉTODO PROPOSTO
O método proposto neste trabalho é um roteiro de atividades que deve ser seguido, para detectar botnets. Este método é dividido em duas partes: a primeira parte trata da captura e análise do trafego DNS. A segunda parte trata da engenharia reversa feita no código malicioso. A Figura 4 exibe o diagrama da ordem de execução e a própria estrutura do método. Neste trabalho foram utilizadas ferramentas conhecidas pelo autor para executar cada etapa do método, porém cabe ressaltar que outras ferramentas também podem ser utilizadas para a execução do método, desde que cumpram o proposito definido em cada etapa. A seguir cada item descrito no diagrama será detalhadamente explicado.
Figura 4 – Diagrama Roteiro e Estrutura do Método Proposto
Engenharia no Século XXI – Volume 18
257
Captura e Análise do Tráfego DNS
I ) Definição do local de captura do tráfego
Para coletar o trafego de rede é preciso identificar primeiramente o local onde será efetuada a captura do trafego, este host necessita fazer a interligação entre a rede interna e a rede externa, sendo assim geralmente atribuído a um Proxy, Firewall, Gateway ou Roteador executando algum sistema operacional derivado de Unix. Ressalta-se que a captura pode ser feita em um host que possui apenas uma interface de rede, ou hosts que possuem mais de uma, geralmente trabalhando com NAT(Network Address Translation).
II) Análise Léxica nos nomes de Domínios
A análise léxica é o processo de verificação da formação dos nomes de domínios, isso implica em perceber se os caracteres ou símbolos que formam o nome de domínio não estão fora do padrão de nomes compreensíveis, pois existem maneiras de gerar nomes de domínios automaticamente por um algoritmo, chamado DGA (Domain Generation Algorithm). Tais nomes de domínios também são conhecidos como domínios de fluxo rápido ou domain flux. Este algoritmo gera um nome a partir de sementes de entrada como ano, mês e dia. Por exemplo, os valores fornecidos como entrada (2014, 9, 25) resultam na sequência de caracteres odnslofgimonbruy, os quais podem ser utilizados como prefixo em domínios como odnslofgimonbruy.br ou eodnslofgimonbruy.net.
Através da análise léxica do nome de domínio, um endereço IP pode ser identificado como banda larga caso o nome de domínio seja composto por palavras como cpe, vivax, adsl, modem, cliente, dial-up, dyn, dynamic, dsl, brasiltelecom, gvt, velox, user.vivozap e virtual, e isto serve como um critério básico de exclusão, para estes domínios, quando há uma desconfiança na formação dos nomes. Domínios conhecidos também podem não ser relevantes na análise, como por exemplo facebook.com, google.com ou domínios de redes de distribuição de conteúdo (CDNs), pelo fato de terem alta incidência natural de consultas.
III) Submissão de domínios suspeitos a BlackLists
Existem diversas aplicações online que podem fazer a verificação de assinaturas digitais onde são caracterizados quase todos os tipos de malwares, lembrando que malware é um nome genérico para spywares, trojans, virus, keyloggers, adwares etc. Sites descritos como blacklists, possuem softwares que fazem a verificação sobre o domínio, e-mails, endereços de IP que foram previamente denunciados como disseminadores de mensagens consideradas SPAM. Outros sites possuem diversos antivirus trabalhando conjuntamente na detecção de malwares, e isso facilita a verificação de assinaturas de softwares maliciosos, pois estas ferramentas acabam fazendo todo o trabalho.
IV) Verificação da relação entre consultas e respostas dos hosts envolvidos
O entendimento e classificação de comportamentos através do tráfego DNS podem ser obtidos por dois métodos básicos: A relação de consultas entre os hosts, e como as consultas DNS são realizadas, já que o registro de recursos denota o objetivo da consulta. Embora algumas aplicações maliciosas consigam evadir os sistemas de detecção, ainda é possível detectar comportamento anômalo no tráfego DNS devido ao ciclo de vida das máquinas infectadas (bots), pois em algum momento, os bots utilizam o tráfego DNS para coletar informações antes do ataque.
Sobre a relação de consultas entre os hosts são consideradas relevantes para análise quando o host possui:
1. Alto grau de entrada em um host, a partir de diversos hosts, em um curto espaço de tempo – são observados principalmente nós que possuem alta incidência de consultas dos registros de recurso do tipo PTR e MX, com exceção dos nós com alta incidência natural do tipo A como consultas ao google.com.br e facebook.com.br, pois não representam necessariamente comportamentos suspeitos; 2. Alto grau de saída de um host - são observados nós que realizam grandes quantidades de consultas empregando principalmente os registros PTR, MX e NS. Tais tipos de registros de recursos são comumente usados por hosts infectados (bots) em diversas atividades maliciosas como envio de mensagens de spam e ataques de reconhecimento;
Engenharia no Século XXI – Volume 18
258
3. O entendimento de como as resoluções foram realizadas é obtida pela frequência relativa dos registros de consultas enviadas e a frequência relativa dos registros de consultas recebidas. A partir dessa relação é possível identificar padrões de consultas semelhantes no tráfego. Tais frequências permitem agrupar hosts que abusam dos registros (PTR e MX) independentemente da quantidade de consultas enviadas. 4. Fast-Flux: Mudanças rápidas e repetidas de registros de recursos do tipo A ou NS de uma zona DNS, que tem o efeito de mudar rapidamente a localização (endereço IP) para que o nome de domínio de um host da Internet (A) ou nome do servidor (NS) seja resolvido. Tecnicamente, essa mudança rápida é feita definindo um tempo de vida (TTL) baixo para um dado registo DNS que muda o IP associado com frequência. Esta técnica tem sido usada há muito tempo como um método de equilíbrio de carga por sistemas legítimos, como por exemplo sites com elevada carga e altamente disponíveis, tais como motores de pesquisa na Internet ou uma rede de distribuição de conteúdo.
V) Aplicação de Filtros nas Mensagens DNS
E quanto ao como as consultas DNS são realizadas, devem ser levados em consideração:
Estações que enviam consultas mal formadas. Respostas que possuem erros de nomes, verificando o MXDOMAIN, muitas vezes correspondentes a servidores C&C que foram fechados pelas autoridades. Uma grande quantidade de mensagens de erro geradas com um espaço de tempo reduzido, e em que o domínio seja o mesmo, pode indiciar a presença de uma botnet ou de algum tipo de malware.
VI) Identificação dos Hosts Relevantes
Após a aplicação das técnicas citadas anteriormente, poderá ser percebido que alguns hosts são reincidentes em quase todas as verificações e filtros executados. Isso revela que são hosts relevantes na análise do trafego de rede. Esse mapeamento dos hosts reincidentes, diminui o escopo de IPs a serem analisados com a técnica da engenharia reversa.
Engenharia Reversa
VII) Identificação dos processos que fazem conexão com domínios suspeitos
Após identificar os hosts relevantes através da análise do trafego DNS, devem ser verificados os status das conexões ativas nestes hosts, por exemplo através do comando “netstat -o”, é possível identificar o PID do processo que esta em execução e fazendo a conexão. Esta análise preferencialmente deve ser feita sem nenhum programa de rede iniciado, pode-se citar por exemplo, gerenciador de e-mail, navegador web, programas de conversação on-line, pois estes programas criam diversas conexões, podendo dificultar a análise.
VIII) Verificação de proteção ou compactação do arquivo executável
Grande parte dos malwares sofrem alterações após a compilação. Eles são protegidos ou compactados, para que não sejam detectados por aplicações anti-virus. Por isso é necessário submeter os arquivos executáveis suspeitos a desofuscadores, pois eles responderão se o arquivo possui alguma proteção ou não, facilitando assim a continuidade do trabalho em cima do mesmo.
IX) Abertura do executável em um disassembler e debugger
O fato de rastrear o programa que está fazendo uma conexão com um domínio suspeito, não completa o trabalho de detecção do malware, ou neste caso de um bot. É preciso desmontar o programa e verificar se o domínio ou endereço IP está contido no executável ou em um arquivo de dump, gerado a partir de um processo. Isso confirma que o executável é uma espécie de cliente que manda ou recebe os dados para um servidor, e esta tarefa só é possível através de softwares disassemblers e debuggers, pois eles podem analisar tanto strings contidas no código, quando mostrar valores hexadecimais, além da estrutura do programa em linguagem de montagem. Os debuggers geralmente são utilizados para executar o programa e conhecer seu comportamento.
X) Busca por Strings no executável ou arquivo de dump (se gerado)
Uma das principais partes dentro de um código é a verificação de Strings. Elas revelam muito sobre o comportamento do software, e no caso de programas que fazem conexões de rede, as strings possuem o
Engenharia no Século XXI – Volume 18
259
endereço IP do servidor, ou o domínio ao qual o software deve se conectar. Este processo de busca pode acontecer tanto em um executável, quando em um arquivo de dump, porém o arquivo de despejo conterá mais strings, pelo fato de incluir todo o contexto no qual é gerado.
XI) Analise do Hexadecimal no disassembler e debugger
As vezes pode acontecer de as strings não revelarem tudo sobre o programa, tendo a alternativa de verificação do hexadecimal gerado. Porém para analisar um hexadecimal é necessário o conhecimento da linguagem de montagem, e isso pode ser um tanto dispendioso no que se refere ao tempo de análise do hexadecimal.
XII) Analise do dump do processo identificado (se gerado)
A análise do dump é praticamente a mesma análise feita no executável. Porem podem ser encontrados alguns detalhes, pelo fato do dump conter todo o contexto no qual o processo sofreu o despejo. Este passo é opcional, porém, pode revelar alguma coisa que não foi encontrada no executável.
4. RESULTADOS E ESTUDOS DE CASO
Nas seções 4.1 e 4.2 são apresentados dois estudos de casos, nos quais o método proposto foi aplicado. Em ambos os casos a análise do trafego DNS tem como objetivo diminuir o escopo de hosts a serem analisados pela engenharia reversa.
4.1 ESTUDO DE CASO I – DETECÇÃO DE UM SPYWARE
No estudo de caso I, é apresentado como obteve-se a identificação de um spyware, capturando e analisando o trafego DNS a partir de um servidor de segurança com funções de firewall, gateway e roteador.
4.1.1 - DEFINIÇÃO DO LOCAL E CAPTURA DO TRÁFEGO
Entre as aplicaço es de Sniffers mais conhecidas para captura e analise do trafego de rede, pode-se citar o
TCPDump16, Wireshark17, e DNScap18. O tcpdump e considerado o melhor analisador de trafego de rede em
modo texto que existe. Ele e baseado na libpcap, uma poderosa API para a captura de pacotes de rede
durante seu trafego. Assim o tcpdump mostra as conexo es estabelecidas e o trafego correspondente [Mota
Filho 2013].
O TCPdump proporciona diversos formatos de arquivos para um dump de rede. Os arquivos gerados neste
trabalho, esta o no formato .pcap, que e um formato disponí vel pela biblioteca libpcap, onde o mesmo pode
ser importado por outros programas que utilizam esta mesma biblioteca, como e o caso do Wireshark, que
sera utilizado posteriormente.
Como a analise destes arquivos sera o do tipo passiva, onde as consultas e respostas DNS ja aconteceram,
os arquivos de dump devera o ser armazenados em um local onde se tenha o analisador de pacotes
Wireshark no modo gra fico, pois ali sera o efetuadas consultas estatí sticas proporcionadas por esta
ferramenta.
Para a captura do trafego foi executada a seguinte linha de comando em ambiente Unix:
tcpdump -i eth1 src port 53 or dst port 53 -w capturaDNS-Dia_Hora.pcap
16 TcpDump - http://www.tcpdump.org/ 17 Wireshark – https://www.wireshark.org/ 18 DNScap - https://www.dns-oarc.net/tools/dnscap
Engenharia no Século XXI – Volume 18
260
Este comando captura da interface de rede chamada eth1, todo trafego que tenha origem a porta 53, ou
que tem como destino a porta 53, que e a porta onde o serviço de DNS atua. Foram capturados pacotes
tanto na porta de origem, quanto na porta de destino, por via de ter-se clandestinamente um servidor DNS
escondido na rede interna, pois as portas dos clientes que fazem as requisiço es, geralmente sa o portas
altas, acima de 1024. Desta maneira ele poderia ser encontrado. Esta interface esta capturando os pacotes
do lado interno da rede, pois ha um NAT (Network Address Translator) entre ela, e outra interface,
chamada de eth0, que esta ligada diretamente na internet.
O para metro “–w”, grava toda a captura em um arquivo com o nome capturaDNS-Dia_Hora.pcap, e por isso
na o mostra o trafego sendo capturado em tela. O arquivo possui a extensa o .pcap porque posteriormente
sera analisado pelo sniffer Wireshark. No total foram coletadas todas as consultas DNS realizadas em 6 dias
começando as 08:00 da manha ate as 17:00 da tarde, ja que a maior utilizaça o da rede ocorre neste
perí odo. A Tabela 2 mostra os dados da coleta destes dias.
Tabela 2 – Resumo do tráfego DNS
4.1.2 ANALISE LÉXICA E SUBMISSÃO DE DOMÍNIOS A BLACKLISTS
O sniffer Wireshark permite gerar um arquivo contendo a traduça o dos nomes de domí nios para endereços
IPs, atrave s do resolvedor de endereços na guia de estatisticas. Para cada arquivo .pcap, foi gerado um
arquivo .txt correspondente, contendo apenas os nomes de domí nios e endereços IPs, chamado de
nome_ip.txt. Uma co pia de cada um destes arquivos foi modificada para a extensa o .csv chamado de
nome_ip.csv, onde devido a esta extensa o e fa cil retirar a coluna contendo os IPs, deixando apenas os
nomes dos domí nios. Com a retirada da coluna dos endereços IPs, os arquivos contiveram apenas os
nomes dos domí nios, e para diminuir a redunda ncia de nomes de domí nios iguais em varias linhas foi
utilizado o comando sort nome_ip.txt | uniq > dominios.txt em um terminal linux que por sua vez reduz
drasticamente a quantidade de linhas com nomes de domí nios repetidos, deixando apenas os nomes de
domí nios distintos.Com o arquivo contendo apenas os nomes de domí nios distintos, foi efetuado a
comparaça o de cada linha deste arquivo, com outro arquivo que continha nomes de domí nios e IPs listados
em blacklists. Este arquivo foi baixado do site [http://urlblacklist.com], que divide os nomes listados em
categorias, como por exemplo, hacker, mail, spyware, proxy, ddos entre outros. Em cada categoria existe um
arquivo chamado “Domains” e foi este arquivo o utilizado para a comparaça o. O comando para a
comparaça o entre os arquivos foi grep -xf dominios.txt dominiosBaixados.txt, que retornou em tela no
terminal, apenas os nomes de domí nios que faziam parte das blacklists categorizadas. Posteriormente foi
verificado se cada nome retornado fazia parte de outras blacklists, atrave s do site
[http://mxtoolbox.com/blacklists.aspx] que para alguns domí nios retornou positivo. Apo s obter os
Engenharia no Século XXI – Volume 18
261
domí nios classificados como ameaça, efetuou-se a verificaça o no dump de rede, de quais endereços IPs
consultaram os domí nios listados.
O comando utilizado no Wireshark para tal verificaça o foi dns.qry.name contains "nomeDoDominio". Em
alguns casos, os domí nios na o foram encontrados nos arquivos de blacklists separados por categorias,
pore m alguns nomes de domí nios soaram suspeitos, como e o caso dos domí nios “yandex.ru” e
“odnoklassniki.ru”, foram novamente verificados no site [http://mxtoolbox.com/blacklists.aspx], e tiveram
os resultados confirmados, como mostra a Figura 5.
Figura 5 – Confirmaça o de Domí nios listados em BlackLists
4.1.3 VERIFICAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE CONSULTAS E RESPOSTAS DOS HOSTS ENVOLVIDOS
Para entender o padra o de comunicaça o entre os hosts identificados como possí veis bots, e necessa rio
relacionar o total de consultas realizadas, com o total de respostas, isto e possí vel atrave s da visualizaça o
de conversaço es efetuadas entre os hosts, obtida nas estatí sticas do Wireshark. Outro modo e atrave s da
ana lise visual do dump de rede, procurando por diferentes endereços IPs consultando um u nico endereço
IP, em um intervalo de tempo muito curto. Os hosts que apresentarem estes comportamentos sera o
tratados como “hosts relevantes”, pois apresentam o comportamento de um servidor que envia um
comando para que os clientes(bots) respondam a um comando, todos ao mesmo tempo. A Figura 6 mostra
que ha um abuso de pacotes enviados do host 192.168.1.57 para o host 109.109.224.20, onde este u ltimo
na o envia sequer um pacote.
Figura 6 – Conversaça o UDP
Engenharia no Século XXI – Volume 18
262
Posteriormente foram inseridos filtros em cada arquivo pcap, em busca de registros de recursos
especí ficos, pois este trabalho assume como comportamento suspeito um host que na o seja um servidor
DNS, abusando dos registros NS, PTR e MX. No wireshark e possí vel montar filtros atribuindo valores a
cada tipo de registro, neste caso o registro NS possui o valor 2, o registro PTR possui o valor 12 e o registro
MX possui o valor 15. Em um u nico comando e possí vel montar o filtro completo. O comando utilizado foi:
dns.qry.type == 2 or dns.qry.type == 12 or dns.qry.type == 15.
Apo s a execuça o do comando, constatou-se que alguns hosts faziam estes tipos de registros com mais
freque ncia do que os demais, e foram inseridos na tabela de hosts relevantes.
4.1.4 APLICAÇÃO DE FILTROS NAS MENSAGENS DNS
Apo s fazer a relaça o entre as consultas, foi examinado o formato das mesmas, verificando-se a integridade
e conteu do de cada uma. A primeira tarefa foi a verificaça o da ma formaça o das consultas. O comando
“dns.flags.rcode == 1” no filtro do Wireshark, retorna os hosts que fizeram este tipo de pesquisa.
Aplicando-se o comando “dns.flags.rcode ==3” no filtro do Wireshark, e possí vel obter as consultas que
retornaram com o status de MXDOMAIN (No Such Name), que como descrito acima podem corresponder a
servidores de comando e controle.
O campo TTL (Time to Live) que determina o nu mero de segundos antes que alteraço es subsequentes em
cada tipo de registro sejam efetuadas, fornece uma indicaça o da estabilidade do registro. Se o TTL for
muito baixo, geralmente menor que 3600 segundos (1 hora), o domí nio pode caracterizar domí nio de
botnet. O comando “dns.soa.expire_limit < 1800” no filtro do wireshark, retorna consultas com o ttl
menor que 30 min (1800 segundos).
A Tabela 3 mostra o quadro resumo da aplicaça o dos filtros inseridos em todos os arquivos de captura. Ela
tambe m lista os endereços IPs dos hosts que apresentaram tal comportamento dentro de cada filtro. A
classe de endereçamento da rede em questa o e do tipo C, onde o primeiro host inicia com o IP 192.168.1.1
e o u ltimo termina com o IP 192.168.1.254. Por questo es de este tica sera apresentado somente o endereço
do host, omitindo-se o endereço da rede.
Tabela 3 - IPs dos hosts que enquadraram-se no filtro
4.1.5 IDENTIFICAÇÃO DOS HOSTS RELEVANTES
Engenharia no Século XXI – Volume 18
263
Para a obtença o dos hosts relevantes foi efetuado o ca lculo da quantidade de vezes que um determinado
endereço IP e exibido em um dia e em um filtro. Por exemplo no dia 02 o host com o IP 67 possui 3
entradas, somado todas as entradas em todos os dias, este foi o host que mais pontuou, com 17 entradas.
Ao todo tiveram 30 hosts que apresentaram alguma caraterí stica inerente aos filtros. Porem alguns deles
apresentaram somente uma caracterí stica em um so dia, logo estes hosts tiveram a menor soma, que se
iguala a 1. Foram considerados apenas os 10 hosts que mais pontuaram.
De posse dos hosts relevantes e os domí nios suspeitos, efetuou-se nova ana lise no trafego DNS em todos
arquivos de captura, fazendo-se a correlaça o entre quais os hosts que acessaram quais domí nios, assim
como a freque ncia em que acessavam. O comando para a verificaça o dos domí nios em cada arquivo de
captura foi: dns.qry.name contains "nomeDoDominio". A Tabela 4 mostra a correlaça o dos hosts que
acessaram os domí nios listados em BlackLists, e que tambe m enquadraram-se em algum para metro dos
filtros aplicados.
Tabela 4 – Correlaça o Domí nios X Hosts
Apo s efetuada a correlaça o obteve-se qual foi o domí nio mais acessado, sendo ele “ssp.lkqd.net”, e o host
que mais acessou os domí nios suspeitos foi o host com o IP 67.
4.1.6 IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS QUE FAZEM CONEXÃO COM DOMÍNIOS SUSPEITOS
Pelo fato do host com endereço IP 192.168.1.67 ser o host com mais entradas em domínios suspeitos, chamou-se a atenção para uma investigação mais profunda no mesmo. Ao inicializar o sistema operacional deste host, que por sua vez possui o sistema Windows, foi verificado o status das conexões ativas através do comando “netstat -o”, pois o parâmetro “-o” permite identificar o PID do processo que está em execução. Visto que nenhum programa de rede como gerenciador de e-mail, navegador web, ou outro tinha sido iniciado, este host já possuía conexões com um endereço IP. A Figura 7 mostra as conexões e o processo envolvido.
Figura 7 – Status das Conexões e Identificação do Processo
Engenharia no Século XXI – Volume 18
264
O processo foi identificado como svchost.exe, que é um processo do próprio sistema operacional. O curioso e que a descrição deste processo, no gerenciador de tarefas, não possuía a mesma descrição que os outros processos com o mesmo nome. Vide Figura 8.
Figura 8 – Processo svchost.exe suspeito
Isso despertou uma certa desconfiança, que levou posteriormente a criar um arquivo de despejo deste processo para um exame mais aprofundado sobre o funcionamento do mesmo. O gerenciador de tarefas do Windows permite abrir o local do arquivo que está em execução, e o mesmo apontou para diretórios ocultos do perfil do usuário corrente, neste caso o caminho encontrado foi “C:\Users\Teste\Appdata\Local\Temp\svchost.exe”, e o mais curioso é que este arquivo possuia o icone do Facebook. Após ter em mãos o executável e o arquivo de despejo, os mesmos foram removidos para um computador separado da rede da empresa, para o inicio do trabalho da engenharia reversa, caracterizando um ambiente controlado. O primeiro arquivo a ser analisado foi o executável. O mesmo foi submetido ao site https://www.virustotal.com/ para análise de 56 anti-virus on-line. E obteve-se o resultado de que 53 destes antivírus consideraram o arquivo como malicioso. A Figura 9 demonstra esta análise.
Figura 9 - Arquivo submetido ao site www.virustotal.com
4.1.7 VERIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO OU COMPACTAÇÃO DO ARQUIVO EXECUTÁVEL
Como citado anteriormente na seção 3.2 de Engenharia Reversa, o primeiro passo ao trabalhar com um executável, é verificar se o mesmo está protegido. Para isto o arquivo svchost.exe foi submetido ao programa EXEinfoPE, que informou estar protegido o arquivo svchost.exe, com um ofuscador para códigos desenvolvidos na plataforma .Net conforme mostra a Figura 10.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
265
Figura 10 – Executa vel protegido por Ofuscaça o
Para desofuscar/desproteger o arquivo svchost.exe foi utilizado o programa de4dot.exe especifico para a plataforma .Net. Este programa foi executado em linha de comando conforme a Figura 11. Um novo arquivo foi gerado com o nome de svchost-cleaned.exe.
Figura 11 – De4dot desofuscando o Executavel
Posteriormente o arquivo agora com o nome de svchost-cleaned.exe foi verificado novamente com o programa ExeinfoPE, para ver se ainda estava protegido ou ofuscado. Mas o programa de4dot.exe conseguiu quebrar a proteção, e agora e mostrado o ambiente no qual foi desenvolvido o programa. Vide Figura 12.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
266
Figura 12 – Executa vel desprotegido para analise
4.1.8 ABERTURA DO EXECUTÁVEL NO DISASSEMBLER/DEBUGGER E BUSCA POR STRINGS
Após o arquivo estar desprotegido, o mesmo foi aberto no Disassembler IDA Pro. Neste Disassembler foi verificado inicialmente as Strings que compõem o código, porém não foi encontrado nenhuma palavra relevante, como um domínio, endereço de e-mail, ou endereço IP. Porem foi possível observar que existem várias Strings que são comandos para obter informações do Sistema Operacional, como get_MachineName, get_UserName, ComputerInfo, get_OSFullName além de possuir nomes de Classes para programação de redes, como Socket, SocketFlags, NetworkStream, e para criptografia como MD5CryptoServiceProvider, System.Security.Cryptography entre outros como apagar logs no gerenciador de logs, deletar diretório e outros para diversos fins.
O fato de o Disassembler IDA não ter mostrado strings relevantes, gerou certa desconfiança, logo o mesmo arquivo foi aberto com o Debugger OllyDBg, para verificar se o mesmo encontrava algo relevante.
Após verificação visual nas Strings do OllyDBG, não foi encontrado nenhuma String criptografada, pois se houvesse, deveria ser criado Breakpoints no código para depurações, e verificar as saídas das funções de descriptografia que tem como entrada estas strings. A Figura 13 mostra algumas Strings contida no código do executavel.
Figura 13 – Busca por Strings no OllyDGB
O que chamou a atenção foi o fato de que uma destas strings parece fazer referência ao diretório onde o sistema operacional foi instalado para se conectar com o malware. Esta string é descrita na imagem como "d:\win7sp1_gdr\”.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
267
4.1.9 ANALISE DO HEXADECIMAL NO DISASSEMBLER E DEBUGGER
Após fazer a busca por strings, foi retornado ao IDA Pro e efetuada a análise do Hexadecimal, como é mostrado na Figura 14.
Figura 14 – Analise do Hexadecimal no IDA Pro
Foi encontrado um nome de domínio, chamado “absolutosistema.no-ip.org”, onde ao executar o comando ping sobre este domínio, obteve-se justamente o endereço de IP que estava fazendo a conexão na porta 5252, verificado com o netstat. Vide Figura 15.
Figura 15 – Cruzamento do Dominio e IP encontrados.
Isso explica porque dentro do malware contem um subdomínio do domínio no-ip.org.
Após ter certeza de que o host local com o IP 192.168.1.67 estava com uma conexão ativa com o IP externo 191.17.160.78, foi efetuada uma nova captura, onde observou-se que o host local estava em constante troca de informações com o host remoto. Para verificar o que o host 67 transmitia para o domínio encontrado no malware, foi adicionado uma entrada no arquivo C:\windows\system32\drivers\etc\hosts do host 67, apontando para o IP 192.168.1.123 a consulta feita pelo domínio absolutosistema.no-ip.org. Este IP é um host rodando o sistema operacional Kali-Linux. Deixou-se o programa Netcat em execução no modo listening, na porta 5252, para observar se seria apresentado algum dado em tela. A Figura 16 apresenta estes dados.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
268
Figura 16 – Netcat em Listening
Como pode ser observado, a maioria das strings está na codificação Base64, decodificado estas strings no site [https://www.base64decode.org/] é possível perceber que se trata de um Spyware, pois exatamente tudo o que é executado no host 67, é transmitido pela rede.
A Figura 17 apresenta parte das strings decodificadas, e a sequência dos passos executados ao abrir o navegador Tor.
Figura 17 – Strings Base64 decodificadas.
Para bloquear a atividade deste Spyware, foram adicionadas regras no Firewall para bloquear o domínio, pois verificou-se que o mesmo modificava o endereço IP todos os dias, como mostra a Figura 18.
Figura 18 – Uso do IP-Flux para o domí nio absolutosistema.no-ip.org
4.2 – ESTUDO DE CASO II – DETECÇÃO DE UMA BOTNET
Neste segundo estudo de caso é apresentado a detecção de uma botnet através da análise do trafego de DNS. Para demonstrar este estudo de caso, foram configurados um servidor DNS e um servidor de comando e controle (C&C) na rede interna da empresa. Para o servidor DNS foi utilizado o BIND versão 9, em um sistema Debian/Linux configurado como o servidor primário nas consultas da rede. O domínio criado foi chamado de “botnetstolpe.net” fazendo-se com que o servidor DNS fosse autoritativo sobre este domínio. O ambiente no qual o método foi aplicado é de produção com trafego de dados reais, composto por aproximadamente 60 dispositivos conectados á internet, dentre eles estações de trabalho, notebooks, servidores e dispositivos moveis. A Figura 19 mostra parte dos arquivos de configuração.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
269
Figura 19 – Descriça o da Zona DNS
Para a configuração do servidor de comando e controle (C&C) utilizou-se o programa DarkDDoSer19, instalado em um sistema Windows 7. Neste programa é possível criar um cliente executável, onde a configuração é apenas o nome do servidor e a porta em que este cliente precisa conectar-se. Este executável torna a máquina infectada um bot, e é auto inicializável junto com o sistema operacional.
19 DarkDDoSER - http://mundodoshacker.blogspot.com.br/2013/06/darkddoser-56c-cracked.html
Engenharia no Século XXI – Volume 18
270
4.2.1 - DEFINIÇÃO DO LOCAL DE CAPTURA DO TRÁFEGO
Utilizando-se da mesma estrate gia e ferramentas descrita na sessa o 4.1.1 para captura e analise do tra fego
DNS, foram coletados 2 dias de tra fego das 08:00 as 17:00 horas dos dias, pore m neste passo a captura
ocorreu diretamente no servidor DNS. A Tabela 5 exibe o resumo do tra fego. Para a captura foi executada a
seguinte linha de comando em ambiente Unix:
tcpdump -i eth0 src port 53 or dst port 53 -w capturaDNS-Dia_Hora.pcap
Este comando capturou da interface eth0 que estava conectada diretamente a um hub na rede o trafego
DNS, gravando-o em um arquivo para posterior analise com o Wireshark.
E possí vel perceber que ha um diferença significativa nos registros do tipo PTR entre os dois dias. Isso
deve-se pelo fato de apenas no segundo dia, ocorrer um ataque de DoS.
Tabela 5 - Resumo do trafego DNS dos 2 dias
4.2.2 ANALISE LÉXICA E SUBMISSÃO DE DOMÍNIOS A BLACKLISTS
Pelo fato do domí nio ter sido criado para fins de testes, na o foi necessa rio a aplicaça o desta parte do
me todo sobre o domí nio “botnetstolpe.net”. Pore m na captura obteve-se alguns dos nomes de domí nios ja
listados no primeiro estudo de caso.
4.2.3 VERIFICAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE CONSULTAS E RESPOSTAS DOS HOSTS ENVOLVIDOS
Como descrito na sessa o 4.1.3, e necessa rio relacionar o total de consultas realizadas com o total de
respostas, procurando por diferentes endereços IPs consultando um u nico endereço IP, em um intervalo de
tempo muito curto. Este fato pode ser observado em dois momentos no trafego DNS do dia 01, onde alguns
endereços IPs consultam o servidor DNS no mesmo segundo. No primeiro momento as 10:03:03 acontece
a consulta de diferentes endereços procurando pelo servidor do domí nio “botnetstolpe.net”. A Figura 20
exibe o momento do ataque, com uma diferença de 24 segundos entre a consulta dos bots pelo domí nio, e o
Engenharia no Século XXI – Volume 18
271
ataque propriamente dito. Executou-se um ataque de DoS (Negaça o de Serviço) em um roteador na rede,
como mostra a Figura 21.
No segundo momento as 11:35 acontece o segundo ataque, e o trafego demonstra as consultas efetuadas
pelos bots.
Figura 20 – Tra fego suspeito no servidor DNS
Figura 21 – Ataque de negaça o de serviço (DoS) no roteador
Posteriormente foram inseridos filtros nos dois arquivos pcap, em busca de registros do tipo NS, PTR e MX,
desconsiderando os IPs dos servidores DNS envolvidos nas consultas, pois tratando-se de um servidor
DNS e normal a alta incide ncia de registros do tipo NS, principalmente quando este tipo de recurso e
utilizado por outro servidor DNS configurado como encaminhador ou Forward. Apo s executar o comando,
“dns.qry.type == 2 or dns.qry.type == 12 or dns.qry.type == 15” constatou-se que o tipo de registro PTR
foi o mais solicitado por apenas um host da rede interna com endereço IP 192.168.1.125. Este host e o
Servidor de comando e controle (C&C) que comanda os bots na rede interna. A Figura 22 mostra parte do
abuso das solicitaço es provenientes deste host. Registros do tipo MX, na o foram encontrados.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
272
Figura 22 – Abuso nos registros PTR
4.2.4 APLICAÇÃO DE FILTROS NAS MENSAGENS DNS
Apo s fazer a relaça o entre as consultas, foram examinados os formatos das mesmas, conforme ja
demostrado na seça o 4.1.4, verificando-se a integridade e conteu do de cada uma. Utilizou-se os mesmos
filtros, por isso nesta seça o na o sera detalhado este procedimento. Entretanto no final desta aplicaça o os
hosts que apresentaram qualquer uma das caracterí sticas, foram inseridos na tabela de hosts relevantes.
4.2.5 IDENTIFICAÇÃO DOS HOSTS RELEVANTES
A identificaça o dos hosts relevantes seguiu a mesma me trica apresentada na seça o 4.1.5, efetuando-se o
ca lculo da quantidade de vezes que um determinado endereço IP e exibido em um dia e em um filtro. Ao
todo obteve-se 8 hosts que apresentaram alguma caraterí stica inerente aos filtros. E neste caso o fator que
mais contribuiu para a releva ncia do host ser considerado suspeito, foi a sua inserça o no grupo dos hosts
acessando ao mesmo tempo um u nico IP. A Tabela 6 exibe as entradas dos hosts nos filtros.
Tabela 6 – Hosts relevantes no trafego do Servidor DNS
Os hosts identificados e classificados suspeitos sa o exatamente os hosts que participaram do ataque de
negaça o de serviço ao roteador. Estes hosts sa o exibidos na Figura 23, que e o painel de conexo es do
Servidor de Comando e Controle, aqui representado pelo programa Dark DDoSeR.
Engenharia no Século XXI – Volume 18
273
Figura 23 – Bots conectados ao Servidor
4.2.6 IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS QUE FAZEM CONEXÃO COM DOMÍNIOS SUSPEITOS
Assim como na seção 4.1.6, ao inicializar o sistema operacional dos hosts exibidos na Figura 23, que neste momento são considerados bots verificou-se o status das conexões ativas através do comando “netstat –o” para identificar o PID do processo que está fazendo a conexão. A Figura 24 mostra que há uma conexão de um processo chamado botClient.exe do host 192.168.1.70, na porta 5555 de um servidor chamado SERVERBOT.
Figura 24 – Conexa o de um bot com o Servidor
4.2.7 VERIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO OU COMPACTAÇÃO DO ARQUIVO EXECUTÁVEL
Após obter o arquivo botClient.exe o mesmo foi submetido ao programa EXEinfoPE para verificação de possível ofuscação no código. Entretanto é possível observar que o mesmo não possui nenhuma proteção, e que este arquivo foi desenvolvido na linguagem de programação Delphi. O programa EXEinfoPE ainda sugere efetuar o disassembler no OllyDBG ou no IDA Pro, conforme mostra a Figura 25.
Figura 25 – Arquivo botClient.exe sem ofuscaça o
Engenharia no Século XXI – Volume 18
274
4.2.8 ABERTURA DO EXECUTÁVEL NO DISASSEMBLER/DEBUGGER E BUSCA POR STRINGS
Ao abrir o executa vel no disassembler IDA PRO e no debugger OllyDBG, na o foram encontradas nenhuma
refere ncia ao servidor, como nome do servidor, porta ou endereço IP, tanto na busca por strings quanto no
hexadecimal. Apenas foram encontradas refere ncias a classes de programaça o, chaves do registro do
Windows, e System Calls do sistema operacional.
4.2.9 ANALISE DO DUMP DO PROCESSO IDENTIFICADO
Entretanto ao fazer o dump de memo ria com o processo em execuça o, gerou-se um arquivo chamado
botClient.DMP, e este foi submetido ao IDA PRO para ana lise.
Ao verificar este arquivo foi possí vel constatar o endereço do servidor de comando e controle chamado
“serverbot.botnetstolpe.net”, ao qual o bot conectava-se, como mostra a Figura 26.
Figura 26 – Domí nio encontrado no Arquivo de Despejo
Ou seja, neste caso a detecça o do domí nio que liga o bot ao servidor de comando e controle, so foi possí vel
atrave s do arquivo de despejo de memo ria, executado sobre o processo em execuça o. Isso demostra que,
mesmo sendo parte opcional do me todo proposto, sa o obtidos resultados satisfato rios.
5. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS
O presente trabalho teve por objetivo descrever e aplicar um me todo hí brido composto pela ana lise do
trafego DNS em conjunto com a engenharia reversa de co digo malicioso, para detecça o de botnets.
Apo s a aplicaça o do me todo, o mesmo mostrou-se satisfato rio, pois ale m do objetivo principal que e a
detecça o de botnets, ele tambe m consegue distinguir anomalias no trafego de DNS, quando estas sa o
causadas por algum tipo de malware, com mostrado no estudo de caso I. Ficou ní tido que o principal
registro de recurso mais utilizados por botnets e do tipo PTR, como e mostrado na tabela 5 e figura 22,
assim como tambe m o alto grau de entrada em um host, por diferentes hosts, em um tempo muito curto, e
mostrado na figura 20.
Como descrito no estudo de caso I, o host com o IP 67, era um spyware e na o fazia parte de uma botnet,
pore m, gerou va rios crite rios enquadrados nos filtros das consultas e respostas do tra fego DNS. Isso prova
que o me todo proposto pode ser aplicado para este fim, ou seja, a detecça o de malwares, e na o
especificamente detecça o de botnets.
Mesmo que as botnets utilizem te cnicas dina micas de endereçamento como o IP-Flux, ou o Domain-Flux, os
bots criam uma espe cie de ruí do no tra fego de rede principalmente com o abuso de consultas do tipo PTR.
A contribuiça o acade mica deste trabalho e importante por demonstrar que em algum momento entre a
comunicaça o de programas maliciosos, com um servidor ou controlador de malwares, e possí vel detectar
comportamentos estranhos ou ano malos para mitigar qualquer espe cie de ameaça que utiliza o protocolo
DNS contra uma rede de computadores.
Como trabalhos futuros pode ser considerado o uso de scripts para automatizar o processo de captura e
analise do trafego de rede. O fato do tcpdump e o wireshark compartilharem a mesma biblioteca de
programaça o, que neste caso e a libpcap, facilita a implementaça o destes scripts, podendo talvez ser
implementada a captura e analise do tra fego online. Tambe m podem ser implementados outros tipos de
filtros na ana lise do tra fego DNS, como a busca por outros recursos de registros menos utilizados em um
tra fego comum, como tambe m a verificaça o dos dados que tramitam em uma transfere ncia de zona DNS
Engenharia no Século XXI – Volume 18
275
com registros AXFR. O ca lculo para a classificaça o dos hosts relevantes tambe m pode ser melhorado,
baseando-se no resultado dos scripts automatizados da ana lise do tra fego.
REFERÊNCIAS
[1] [Araújo et al.2010] J. M. Araújo Filho (2010, pt. 2) Ciberterrorismo e Cibercrime: o Brasil está preparado?
[2] [Binsalleeh et al. 2010] Binsalleeh, H., Ormerod, T., Boukhtouta, A., Sinha, P., Youssef,
[3] A., Debbabi, M., and Wang, L. (2010). On the analysis of the zeus botnet crimeware
[4] toolkit. In Privacy Security and Trust (PST), 2010 Eighth Annual International Conference on, pages 31–38.
[5] [Ceron J., Granville L.,Tarouco L] João Marcelo Ceron, Lisandro Zambenedetti Granville, Liane Margarida Rockenbach Tarouco (2010) Uma Arquitetura Baseada em Assinaturas para Mitigação de Botnets.
[6] [Ceron et al.2010] Ceron, João Marcelo (2010) Arquitetura Distribuida e Automatizada para mitigação de botnets baseada em analise dinamica de malwares.
[7] [Cunha Neto et al.2011] Cunha Neto, Raimunho Pereira da (2011) Sistema de Detecção de intrusos em ataques oriundos de botnets utilizando metodo de detecção hibrido.-São Luis PPGEE.
[8] [Craig 2007] Craig A. Schiller, Botnets - The Killer Web App, Singress 2007.
[9] [Davis et al. 2008] Davis, C., Fernandez, J., Neville, S., and McHugh, J. (2008). Sybilattacks as a mitigation strategy against the storm botnet. In Malicious and Unwanted
[10] Software, 2008. MALWARE 2008. 3rd International Conference on, pages 32–40.
[11] [Egele et al. 2008] Egele, M., Scholte, T., Kirda, E., and Kruegel, C. (2008). A survey on automated dynamic malware-analysis techniques and tools. ACM Comput. Surv.,44(2):6:1–6:42.
[12] [Ferreira 2013] Ferreira Pedro, Detecção de Botnets, IPB 2013.
[13] [Hossain et al. 2010] Soraya Sybele Hossain, Detecção de aplicações envio de Spam através da mineração do trafego DNS(2010).
[14] [Kaio 2014] Kaio Rafael, Identificação e Caracterização de Comportamentos Suspeitos Através da Análise do Tráfego DNS. SBSeg 2014.
[15] [LAUFER et al.2005] LAUFER RAFAEL PINAUD Rastreamento de Pacotes IP contra Ataques de Negação de Serviço [Rio de Janeiro] 2005 XIII, 93 p. 29,7 cm (COPPE/UFRJ, M.Sc., Engenharia Elétrica, 2005)
[16] [McCarty 2003b] McCarty, B. (2003b). Botnets: Big and bigger. IEEE Security and Privacy, 1(4):87–90. cited By (since 1996)41.
[17] [Morimoto 2013] Morimoto, Carlos Eduardo. Servidores Linux – Guia Pratico, 1° ed. Sul Editores 2013.
[18] [Mota Filho 2013] Mota Filho, João Eriberto, Análise de Trafego em redes TCP/IP. 1º.ed. Novatec 2013.
[19] [Nemeth 2012] Nemeth,Evi. Manual Completo do Linux, Guia do administrador. 2° ed. Pearson 2012.
[20] [Stanek 2009] Stanek, William R. , Windows Server 2008 – Guia Completo, 1°.ed. Bookman 2009.
[21] [Stone-Gross et al. 2009] Stone-Gross, B., Cova, M., Cavallaro, L., Gilbert, B., Szydlowski, M., Kemmerer, R., Kruegel, C., and Vigna, G. (2009). Your botnet is my botnet: Analysis of a botnet takeover. In Proceedings of the 16th ACM Conference on Computer and Communications Security, CCS ’09, pages 635–647.
[22] [Tanenbaum 2011] Tanenbaum,Andrew S. ,Redes de Computadores. 5°.ed. Pearson.
AU
TOR
ES
ADIANA NASCIMENTO SILVA
Graduação e mestrado em Engenharia Mecânica e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais. Atualmente é professora do Curso de Engenharia Mecânica do Câmpus Caraúbas. Desenvolve projetos sobre fragilização induzida por hidrogênio em juntas soldadas e sua correlação com a microestrutura destas juntas.
ADRIANO ALVES RABELO
Possui graduação em Engenharia de Materiais, mestrado e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Tem experiência na área de Engenharia de Materiais, com ênfase em síntese, processamento e caracterização de cerâmicas, atuando principalmente na área de reaproveitamento de resíduos e coprodutos industriais em materiais cerâmicos convencionais. As pesquisas realizadas tem envolvido, principalmente, a caracterização microestrutural por microscopia eletrônica, difratometria de raios X e caracterização da resistência mecânica.
ADRIANO BRESSANE
Adriano Bressane is a Professor at the Universidade Estadual Paulista (UNESP), teaching courses such as biostatistics, data science, introduction to engineering, assessment of environmental impacts, environmental auditing, control of atmospheric emissions. Bressane obtained his Postdoctoral by Pontifical Catholic University (PUC) and PhD in Environmental Sciences by Institute of Science and Technology of Sorocaba (ICTS). Environmental engineer with Master's in Urban engineering by Federal University of São Carlos (UFSCar). As a researcher, Bressane is focused on active learning methodologies, and artificial intelligence applied to environmental modeling, ecological pattern recognition, nature-deficit disorder, expert and data-driven systems.
ALDI RUI MORAIS SILVA
Possui graduação em Administração pela Escola de Negócios do Estado da Bahia (2006), Mestrado em Administração pela UNIFACS (2015) e Especialização Lato Sensu em Administração pela UNIFACS (2014), Especialização Lato Sensu em Engenharia de Sistemas pela ESAB (2014), MBA Executivo em Gestão de Projetos pelo SENAI (2011), Especialização Lato Sensu em Tecnologia em Recursos Humanos pela ESAB (2009). Desenvolve pesquisas nas áreas de: tecnologias, práticas de ensino, gestão com a aplicação de simuladores computacionais, ferramentas CAD, gestão de projetos, produção e qualidade. Atualmente, é Coordenador do Curso de Engenharia de Produção, professor e pesquisador do Grupo Nobre (FAESF/UNEF e FAN), onde também atuou como coordenador na Pós Graduação em Automação e Controle Industrial da FAESF/UNEF de 2018.2 até 2019.2. Foi professor da UNIFACS entre 2013 e 2015 e professor horista dos cursos técnicos do SENAI entre 2010 e 2016, e como terceiro até 2019.
ALEX NOGUEIRA BRASIL
Possui graduação em Engenharia Mecânica - Ênfase em Mecatrônica pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (1998), mestrado em Engenharia Mecânica pela UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (2002), Doutorado em Engenharia Mecânica (Energia e Sustentabilidade) pela UFMG (2015) e Pós-doutorado em Energia e Sustentabilidade pela UFMG (2018). Foi Conselheiro do CREA-MG (Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais) por três mandatos (2006-2012) e (2018-2019), Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Biominas Engenharia de Energias (2006-2015) e Coordenador Adjunto do Colégio Estadual de Instituições de Ensino do CREA-MG (2015-2018). Foi Professor Dedicação da Faculdade de Engenharia da Universidade de Itaúna por dezenove anos (2001-2020). Atualmente é Oficial Engenheiro da Força Aérea Brasileira (Base Aérea de Lagoa Santa) e sócio fundador da Startup BChem Biocombustíveis, empresa pioneira na oferta de tecnologias inovadoras que transformam óleos de baixa qualidade, por exemplo fritura, em biodiesel. Revisor da revista Química Nova da Sociedade Brasileira de Química, possui 3 patentes depositadas no Brasil e 3 nos Estados Unidos, sendo estas licenciadas. É inventor da Usina Móvel de Produção de Biodiesel Autossustentável,
AU
TOR
ES
atua principalmente nas seguintes áreas: projeto mecânico, catálise, biodiesel, fontes alternativas de energia. Em 2012 recebeu do MCT (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) o Prêmio Ciência, Tecnologia e Inovação em Biodiesel pelo projeto: Usina Modular para Produção de Biodiesel a Partir de Óleos e Gorduras Residuais. Em 2013 foi premiado, junto com alunos de doutorado da UFMG, em primeiro lugar geral na competição internacional I2P Latin America (Idea to Product) e em primeiro lugar no mundial Idea to Product Global Competition. Ainda em 2013 participou do UFMG Challenge, durante a e-Week, Semana Internacional de Empreendedorismo, conquistando o primeiro lugar geral, bem como o prêmio de maior Impa
ALFRAN SAMPAIO MOURA
Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará (1994), graduação em Licenciatura Plena Em Disciplinas Específicas pela Universidade Estadual do Ceará (2000), mestrado em Geotecnia pela Universidade de Brasília (1997) e doutorado em Geotecnia pela Universidade de Brasília (2007). Atualmente é professor Associado da Universidade Federal do Ceará (UFC) e leciona no Mestrado em Geotecnia do POSDEHA - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil: Recursos Hídricos, Saneamento Ambiental e Geotecnia da UFC. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Fundações e Escavações, atuando principalmente nos seguintes temas: Fundações de edifícios, Fundações de aerogeradores, investigação geotécnica e mecânica dos solos.
AMANDA NERGER
Recebeu o título de Engenheira Eletricista com a modalidade Eletrônica pela Universidade Paulista - UNIP, Bauru/SP, em 2017. Em 2020 ingressou como aluna de mestrado no programa de pós graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Estadual Paulista-UNESP, Bauru/SP, na área de Sistemas de Energia. Seus interesses de pesquisa envolvem otimização de sistemas de potência.
ANA ALEIXO DINIZ MATTOSINHO DE CASTRO FERRAZ
Possui graduação em Licenciatura em Física pela Universidade Federal de São Carlos. Mestre em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Educação da UFSCar. Participou em projetos de extensão e iniciação científica na área de Ensino de Física e atuou como professora na área de Ensino de Física e Física Geral da UFSCar campus Sorocaba. Trabalhou com formação de professores da rede pública a atua como docente de ensino médio e superior no estado de Goiás atualmente.
ANA CAROLINE DE SOUSA ANDRADE
Graduanda do 9º período de Engenharia Civil na Universidade Federal de Campina Grande. Foi monitora da disciplina Cálculo II no primeiro semestre do ano 2017. Pesquisadora em projetos de Iniciação Científica na área de Cálculo e Materiais de Construção Civil. Atuou em projetos e execução de obras como empresária júnior no ano de 2019.
ANA MARA ARAÚJO TORRES
Doutoranda em geotecnia e mestre pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP/NUGEO). Engenheira Ambiental e de segurança do Trabalho pelo Cento Universitário de Belo Horizonte ( UNIBH). Possui experiência na área de projetos tecnológicos na área geotecnia de pavimentos e atua como engenheira geotécnica na área de gestão de barragens.
ANDRÉ DA SILVA LUZ
Formado em Engenharia Civil no ano de 2019, pela Universidade Estadual do Mato Grosso - UNEMAT e atualmente cursando o MBA de Investimentos Financeiros e Private Banking do IBMEC em parceria com o Infomoney.
AU
TOR
ES
ANDRÉ EUGÊNIO LAZZARETTI
Possui graduação em Engenharia Industrial Elétrica (Ênfase Eletrotécnica) pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2007), mestrado em Engenharia Elétrica (Ênfase Informática Industrial) pela mesma instituição (2010) e doutorado em Engenharia Elétrica (Ênfase Engenharia da Computação - Sistemas Inteligentes) pela mesma instituição (2015). Atualmente é professor do Departamento Acadêmico de Eletrônica (DAELN) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Curitiba (UTFPR-CT) e membro do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial (CPGEI). Tem experiência na área de reconhecimento de padrões, processamento digital de sinais, sistemas embarcados, visão computacional e sistemas de energia.
ANDRÉ NOGUEIRA BRASIL
Graduação em Comunicação Social (Pontifícia Univ - - - 2005; 2006 - 2007); e junto ao fotógrafo Erik Lang em Nova Iorque (2005 - 2006). Diretor de criação em agências de publicidade de 2007 a 2018. Funcionário público federal atuante na Assessoria de Comunicação do Iphan.
ANTÔNIO MARCIO FIGUEIRÊDO FILHO
Engenheiro Mecânico, pós graduado em engenharia da manutenção industrial com experiência na área de manutenção no Porto de Suape.
ARACELLE DE ALBUQUERQUE SANTOS GUIMARÃES
Doutora em Ciência e Engenharia de Materiais pela UFPB. Possui Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais pela UFCG com graduação na mesma área e instituição. Formação técnica de nível médio em eletrônica e telecomunicações com experiência na área. Registrada no Conselho Regional de Química da Paraíba, atuou na área de galvanização. Possui experiência na indústria em polímeros, mais especificamente borrachas. Lecionou disciplinas na área de engenharia de materiais com ênfase em polímeros (Senai Cimatec). Como professora substituta da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), atuou no curso de Graduação em Engenharia Mecânica lecionando as disciplinas: conformação mecânica, fundamentos de ciência dos materiais, materiais compósitos e métodos de caracterização de materiais. Atualmente, na Uninassau em João Pessoa, leciona no curso de engenharia mecânica, as disciplinas: máquinas operatrizes, máquinas primárias, soldagem e manutenção mecânica e projeto de máquinas e no curso de engenharia civil, leciona a disciplina de fundamentos da termodinâmica. Também como professora da faculdade Pitágoras, leciona a disciplina química e ciências dos materiais.
BIANCA LIMA E SANTOS FIGUEIREDO
Coordenadora Geral e Pedagógica de Engenharias na UNEF e FAN. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Católica do Salvador (2009), fez mestrado em Engenharia Civil e Engenharia Ambiental na Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS (2012).
BRUNO HENRIQUE LONGUINHO GOUVEIA
Geólogo formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (2013), pós-graduando pela Pontifícia Universidade Católica em Master em Engenharia Geotécnica (2021). Geólogo Junior II na empresa WALM Engenharia, com experiência em geologia de engenharia, geotecnia urbana e no acompanhamento e descrição de sondagem geotécnica. Competente em elaboração de estudos de estabilidade urbana, levantamento de fundação para implantação de pilhas e áreas habitacionais.
AU
TOR
ES
CARLOS HENRIQUE PALMA KOTINDA
Possui graduação em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica (2009) e Especialização em Engenharia de Projetos Industriais (2012) ambos pela Universidade Positivo - UP, Mestrado em Engenharia Elétrica - Fotônica (2018) pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR. Atualmente é militar do Exército Brasileiro atuando como engenheiro eletricista. Tem experiência na área de Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrotécnica, Eletrônica Geral e Digital, Eletrônica de Potência, Máquinas Elétricas, Acionamentos Industriais, Fotônica, Comunicações Óticas e Sensores em Fibra Ótica.
CARLOS OBERDAN ROLIM
Possui Doutorado em Ciência da Computação (UFRGS 2016), Mestrado em Ciência da Computação (UFSC 2006) e graduação em Ciência da Computação (URI 2003). Atualmente é professor tempo integral na graduação e pós-graduação na URI Campus Santo Ângelo nas áreas de programação, redes e sistemas distribuídos onde orienta projetos de extensão, iniciação científica e alunos de mestrado. É pesquisador do Grupo de Processamento Paralelo e Distribuído (GPPD) - INF / UFRGS) e do Laboratório de Redes e Gerencia (LRG) - UFSC / CTC / INE). Atualmente desenvolve seus trabalhos nas áreas de Cidades Inteligentes e Ambientes de Inovação.
CLAYTON HILGEMBERG DA COSTA
Possui graduação em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2017) e mestrado em Engenharia Elétrica pela mesma instituição (2020). Possui experiência nas áreas de automação industrial, aprendizado de máquina, energia solar fotovoltaica, automação robótica de processos e automação cognitiva de processos.
CRISTIANO JOSÉ DE FARIAS BRAZ
Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais (PPG-CEMat) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Bolsista CAPES. Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais pelo PPG-CEMat da UFCG. Comunicativo, flexível, organizado, dedicado ao trabalho e bom relacionamento interpessoal. Experiência de 4 anos em Projetos de Engenharia na Indústria de Óleo & Gás. Projetos de FEED e detalhamento. Graduado em Engenharia de Materiais pela UFCG (2008). Bolsista em pesquisas de Iniciação Científica do Programa CNPq/PIBIC na área de Compósitos e Nanocompósitos (2004/2005). Bolsista do Programa de Intercâmbio Brafitec (Brasil-França) no Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon) associado ao Departamento Sciences et Génie des Matériaux (2005-2006).
CRISTINA SANTOS ARAÚJO
Geóloga e Química, Mestre e Doutoranda em Geologia Regional pela UFMG, onde desenvolve pesquisa na área de tectônica, geoquímica isotópica U-Pb e Lu-Hf e petrogênese de granitos do Orógeno Araçuaí. Tem experiência na área de Geociências, com ênfase em petrologia, geocronologia, mapeamento regional, geotecnia, litoquímica, geoquímica isotópica U-Pb e Lu-Hf e petrogênese.
ED WILSON TAVARES FERREIRA
Professor Titular no Instituto Federal de Mato Grosso - IFMT. Realizou estágio de pós-doutorado na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP (2014). Doutor em Ciências pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU (2009) e mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU (2002). Cientista da Computação pela Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT (1997). Representante docentes da Região Centro Oeste na Comissão Acadêmica Nacional do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT. Líder do Grupo de Pesquisa em Ensino Profissional - GPEP. Desenvolve trabalhos de pesquisas na seguintes áreas: educação profissional e tecnológica, inteligência artificial, computação aplicada, redes de computadores e segurança da informação.
AU
TOR
ES
ÉDIPO FILIPE SOUZA E SILVA
Técnico em Mecânica Industrial (SENAI CETEF – 2010); Graduação em Engenharia de Controle e Automação (Faculdade Pitágoras – 2019). Trabalhou na empresa BChem Biocombustíveis de julho de 2018 à fevereiro de 2019, contratado para participar do projeto EMBRAPII intitulado: “O z ã ã b ó , é rota inovadora utilizando irradiação ultrassônica, para uso em motores de veículos da frota de ã ”
EDWIN AUGUSTO TONOLO
Graduação em Engenharia Elétrica com ênfase em Sistemas de Potência pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE (2016). Pós-Graduação em Engenharia de Software para dispositivos móveis pela Centro Universitário Internacional (2019). Mestrado em Engenharia Elétrica no Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Energia (PPGSE) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR (2019). Doutorando do Programa De Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial (CPGEI) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR.
ELIAS FAGURY NETO
Graduado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Pará , com mestrado e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de São Carlos, o autor atualmente é Professor Associado da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, lotado no Instituto de Geociências e Engenharias. Como pesquisador, tem experiência na área de Engenharia Metalúrgica e de Materiais, com ênfase em Materiais Cerâmicos e Compósitos, atuando principalmente nos seguintes temas: reciclagem e reaproveitamento de rejeitos industriais, síntese e processamento de materiais cerâmicos e compósitos, cerâmicas refratárias e caracterização de materiais. Atua também em temas relacionados à Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia.
EVERTON GUSTAVO DA SILVA LIMA
Graduando em Engenharia Civil pela Faculdade de Integração do Sertão – FIS. Atualmente estagiando na empresa UNA Soluções em Engenharia LTDA – EPP, realizando orçamentos, análises de propostas técnicas, desenhos de arranjos eletromecânicos e acompanhamento de montagem e inspeção de obras. Teve artigos aceitos em eventos como CONACED, SICC, SIMPAq e JEPEX
FELIPE GÂMBARO PEREIRA
Mestrando e graduado em Engenharia Química na Universidade Estadual de Maringá.
FERNANDA KAROLLINE DE MEDEIROS
Possui Graduação em Engenharia Civil (2013) e Mestrado em Engenharia Civil (2016) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte na área de Estruturas e Construção Civil. Atualmente é Professora efetiva do Magistério Superior na Universidade Federal de Campina Grande, ministrando aulas para os cursos de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. Pesquisadora na área de Engenharia Civil, com ênfase em Materiais e Componentes de Construção e Recursos Hídricos. Possui experiência em projeto, execução e planejamento de obras.
FERNANDA PERPÉTUA CASCIATORI
Engenheira de Alimentos pela Universidade Estadual Paulista 'Júlio de Mesquita Filho' (2008), com Mestrado (2011), Doutorado (2015) e Pós-Doutorado (2015) em Engenharia e Ciência de Alimentos, área de concentração Engenharia de Alimentos, também pela Universidade Estadual Paulista 'Júlio de Mesquita Filho', campus São José do Rio Preto. Realizou Estágio de Pesquisa no Exterior por 1 ano (período Doutorado Sanduíche) na Otto-von-Guericke Universität, junto ao Instituto de Engenharia de Processos (IVT), Departamento de Engenharia de Processos Térmicos
AU
TOR
ES
(TVT), em Magdeburg, Alemanha (2013). Atualmente é Professora Adjunta no Departamento de Engenharia Química (DEQ) do Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia (CCET) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), campus São Carlos. Pertence à área de pesquisa em 'Engenharia Bioquímica' do DEQ/UFSCar, com ênfase nas linhas de Biorreatores e Bioprocessos de Fermentação em Estado Sólido e de Cultivos de Células Animais, sendo credenciada como Jovem Docente Permanente no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química (PPG-EQ UFSCar, Conceito CAPES 7). Coordena projetos FAPESP e CNPq. Atua nas áreas de ensino de 'Engenharia das Reações Químicas e Bioquímicas' e 'Fenômenos de Transporte' e é tutora do grupo PET Engenharia Química (Programa de Educação Tutorial - SESu MEC - bolsa FNDE).
FERNANDO FEITOSA MONTEIRO
Graduação em Engenharia Civil pela Universidade de Fortaleza (2014). Mestre em Engenharia Civil (Geotecnia), pelo Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental - DEHA, da Universidade Federal do Ceará - UFC. Doutorando em Geotecnia na UnB. Publicou diversos trabalhos científicos em diferentes periódicos e anais de congressos, internacionais e nacionais. Atua na área de Engenharia Civil, com ênfase em Fundações, Ensaios de campo e Ensaios de laboratório.
FLÁVIO ALESSANDRO CRISPIM
Doutor em Engenharia Civil (Geotecnia) pela Universidade Federal de Viçosa - UFV (2010), mestre em Engenharia Civil (Geotecnia) pela UFV (2007) e graduado em Engenharia Civil pela UFV (2004). Atualmente é Professor Adjunto da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat - Campus de Sinop). Tem experiência na área de Engenharia Civil com ênfase em: estabilização de solos para fins rodoviários, compactação de solos, aterros, drenagem e ensaios de laboratório.
GABRIELLE SPERANDIO MALTA
Engenheira Civil graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG). Mestranda em Construção Metálica pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), com linha de pesquisa em Habitação de Interesse Social. MBA em Gestão Pública com ênfase em Cidades Inteligentes. Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, com Prêmio de Destaque Acadêmico. Chefe do Núcleo para Assessoramento Técnico Especial (NATE) da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Agência RMBH), do Governo de Minas Gerais.
GUSTAVO RIBEIRO DA SILVA
Graduando em Engenharia Civil pela Faculdade de Integração do Sertão – FIS, onde na presente data, também realiza estágio no Complexo Laboratorial de Engenharia Civil da Instituição. Em 2019 recebeu o 1° lugar na premiação de trabalhos acadêmicos, apresentados no IX Simpósio da Construção Civil de Serra Talhada-PE.
GUSTAVO VINICIUS GOUVEIA
Geólogo formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (2013), pós-graduado pela Pontifícia Universidade Católica em Master em Engenharia Geotécnica (2016) e Mestre em Engenharia Geotécnica pela Universidade Federal de Ouro Preto (2018). Com 7 anos de experiência como geólogo-geotécnico com foco no desenvolvimento de projetos de engenharia aplicados às áreas de geologia, geotecnia urbana e de mineração, geologia de engenharia, mecânica das rochas e investigações geotécnicas.
HUMBERTO LUIZ DE OLIVEIRA DALPRA
Mestre em Ciência da Computação pela UFJF, Especialista em Gerência de Projetos pela UFJF e Bacharel em Sistemas de Informação pelo CES/JF. Atualmente é professor na Faculdade Metodista Granbery.
AU
TOR
ES
ILLA BEGHINE SONCIN
Graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 2019, Mestranda do Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora, segundo a Linha de Pesquisa de Mecânica das Estruturas. Atualmente desenvolve projeto de pesquisa na área de inovações tecnológicas em Fundações, através de modelagem numérica e computacional de geometrias ramificadas inspiradas em padrões fractais presentes na natureza. Durante o período da graduação, participou de projeto de Iniciação Científica realizado no Laboratório Interdisciplinar de Modelagem Numérica na área de Estruturas, sob título Eficiência Mecânica e Energética de Estruturas Fractais - Árvores e Raízes, promovido pela faculdade de Engenharia (2017 a 2019).
ISABELA YUMI ASANOME
Graduanda de Engenharia Química na Universidade Estadual de Maringá, com experiência em cooperativa agroindustrial e indústria multinacional de ingredientes industriais.
ITAMARA FARIAS LEITE
Possui graduação em Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande (2004), mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande (2006) e doutorado em Ciência de Materiais pela Universidade Federal de Pernambuco (2010). Atualmente é professor adjunto IV da Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência na área de Engenharia de Materiais e Metalúrgica, com ênfase em Materiais Conjugados Não-Metálicos, atuando principalmente nos seguintes temas: blendas, compósitos, nanocompósitos, liberação de fármacos, argilas organofílicas; polímeros biodegradáveis e biodegradação e atividade antimicrobiana.
IVONETE MACIEL LIMA OLIVEIRA
Graduada em Sistemas de Informação pela Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC, 2007) e mestra em Computação Aplicada pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS, 2015). Desenvolveu pesquisa na área de telecomunicações com ênfase no sinal digital. Especialização em Logística pela FTC e em Gestão e Tutoria (Uniasselvi - Centro Universitário Leonardo Da Vinci). Atualmente é diretora de imagem da TV Subaé e docente da Faculdade Nobre e na Faculdade FAESF/UNEF nos cursos de engenharia Elétrica, Civil, Mecânica, Química e Publicidade e Propaganda.
JAIR URBANETZ JUNIOR
Professor TITULAR na UTFPR. Doutor na área de Sistemas Fotovoltaicos pela UFSC (2010), sob orientação do Prof. PhD. Ricardo Rüther; Mestre em Eletrônica de Potência e Acionamento Elétrico pela UFSC (2002), sob orientação do Prof. PhD. Ivo Barbi; Especialista em Gerência da Engenharia de Manutenção pela UTFPR (1999), sob orientação da Profa. Dra. Andréa Lucia Costa; Graduado em Engenharia Industrial Elétrica pela UTFPR (1995) e Técnico em Eletrônica pela UTFPR (1986). Professor no Departamento de Eletrotécnica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná em Curitiba, desde 1996, onde atua nos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação e no Curso Superior de Tecnologia em Automação Industrial. Professor no Programa de Pós Graduação em Sistemas de Energia (PPGSE) a nível de Mestrado, e no Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil (PPGEC) a nível de Mestrado e Doutorado. Atua também como Professor nos Cursos de Especialização em Energias Renováveis e Especialização em Construções Sustentáveis.
JEAN CARLOS CARDOZO DA SILVA
Graduado em Engenharia Industrial Elétrica pela Universidade Regional de Blumenau (FURB) (1999); mestre (2001) e doutor (2005) em Ciências pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus Curitiba, com estágio de doutorando na Universidade de Aveiro -
AU
TOR
ES
Portugal. No âmbito administrativo, exerceu as funções de coordenador de Programas de Pós-Graduação, de Assessor de Pós-Graduação Stricto Sensu e de Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação. Em seu currículo constam cerca de 150 publicações em periódicos especializados e anais de congressos, depósitos de patentes de privilégio de inovação e orientações de mestres e doutores. Atuou nos seguintes conselhos deliberativos especializados da UTFPR: membro eleito do Conselho de Planejamento e Administração e membro nato do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação. Membro da Sociedade Brasileira de Microondas e Optoeletrônica (SBMO). Atua na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Teoria Eletromagnética, Microondas, Propagação de Ondas, Antenas. Tem especial interesse em assuntos relacionados aos seguintes temas: Instrumentação Optoeletrônica, Interferência Eletromagnética, Dispositivos Fotônicos, Sensores a Fibra Ótica e Redes de Bragg em Fibra Ótica.
JOÃO PAULO BAZZO
Graduado em Engenharia de Telecomunicações pela Faculdade Assis Gurgacz (FAG), Cascavel-PR, em 2006. Em 2010, obteve o título de Mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Tecnologia Federal do Paraná - Campus Pato Branco (UTFPR). No ano de 2017, obteve o título de Doutor em Ciências através do programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Informática Industrial (CPGEI) da UTFPR-Campus Curitiba, com estágio doutoral no Instituto de Telecomunicações de Aveiro - Portugal. Publicou diversos artigos em congressos e periódicos especializados, 5 pedidos de patente no INPI, e também foi membro da equipe de projeto P&D regulamentado pela ANEEL. Tem especial interesse em assuntos relacionados aos seguintes temas: Sistemas de comunicação de dados, Instrumentação, Dispositivos Fotônicos, Sensores Ópticos Distribuídos e Redes de Bragg em Fibra Óptica, Reconstrução de Imagens, Aplicação de Sensores ópticos em Engenharia.
JOEDY MAYARA SANTA ROSA DE SOUZA
Possui graduação em Engenharia Civil pelo Centro Universitário CESMAC (2012) é especialista em Gerenciamento de obras e tecnologia da Construção pela UNICID e mestranda pela Universidade de Pernambuco. Atualmente ocupa o cargo de coordenadora de estágios e docente na Faculdade Integrada do Sertão(FIS) no curso de engenharia civil, além de exercer a função de diretora técnica na Santa Rosa Engenharia. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em Construções Residenciais e Sustentáveis, Construções semi industriais, Engenharia diagnóstica , Planejamento e controle de obras.
JULIANA D'ANGELA MARIANO
Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil na (UTFPR), campus Curitiba, Mestre em Engenharia Civil pela UTFPR (2017), Graduada em Tecnologia em Eletrotécnica pela UTFPR (2010), e Técnica em Eletrotécnica (2007) pela UTFPR. É pesquisadora pela UTFPR no Grupo de Pesquisa em Energia Solar e Sistemas Fotovoltaicos (LABENS) e no Institutos Lactec. Atua regularmente como revisora para os seguintes periódicos: IET Renewable Power Generation e IEEE PES Transmission & Distribution Latin America. Tem experiência com projetos elétricos prediais, comerciais e industriais e de subestações. As principais áreas de atuação são: Energia Solar Fotovoltaica, Sistemas de Armazenamento de Energia, Energias Renováveis, Sustentabilidade e Educação Ambiental
JULIANO STOLPE
Bacharel em Sistemas de Informação pela URI Santo Ângelo, e Tecnólogo em Defesa Cibernética pela Universidade Estacio de Sá. Possui certificações em tecnologia da informação com enfase em Segurança Ofensiva e Defensiva. É pesquisador das areas de Forense Computacional, Analise de Malware e Teste de Intrusão (Pentest).
KAROLINE RODRIGUES COSTA
Engenheira ambiental formada na UFMG (2019). Tem experiência na área de biomassa, com iniciações científicas na UFMG e estágios no DBFZ (Alemanha), na Methanum e na Walm.
AU
TOR
ES
Atualmente atua como engenheira hidróloga trainee na Walm, onde trabalha com participação em estudos\projetos de hidrologia e hidráulica. Estudos de ruptura hipotética (Dam Break). Projetos de Auditoria Técnica de Segurança de Barragens, Engenharia de Registo (EoR).
LAZARO JOSE GUIMARAES NETO
Formado em engenharia elétrica pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba (UniFacens), pós graduado em Didática e Metodologia no Ensino Superior e Mestrando em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Estadual Paulista (UNESP).
LEANDRO SOARES DE OLIVEIRA
Graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Minas Gerais (1988), mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais (1991) e doutorado em Agricultural And Biological Engineering - Purdue University (1995). Atualmente é Professor Titular do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais. Consultor ad-hoc da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, dos periódicos Computers and Chemical Engineering, Journal of Agricultural and Food Chemistry, Journal of Food Science, Fuel, Journal of Hazardous Materials, Bioresource Technology.
LEON NEY RAMOS LIMA
Graduando em Engenharia Civil pela Faculdade de Integração do Sertão-FIS. Atualmente estagiando na Union Projetos Integrados na área de projetos complementares. Teve trabalhos apresentados no Congresso Nacional de Construção de Edifícios - CONACED e no Simpósio da Construção Civil - SICC.
LEONARDO NEPOMUCENO
Recebeu o título de Engenheiro Eletricista pela Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Uberlândia-MG, em 1990, e os títulos de mestre e doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, Campinas-SP, em 1993 e 1997, respectivamente. De 1997 a 2000 ele trabalhou em um projeto de pós-doutorado na UNICAMP. A partir de 2000, ele é professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual Paulista - UNESP, Bauru, SP. Em 2014 ele obteve o título de livre-docente em Sistemas Elétricos de Potência pela UNESP. Suas áreas de especialidade envolvem sistemas elétricos de potência, mercados de eletricidade, bem como teoria de otimização e suas aplicações.
LETICIA SANTOS MACHADO DE ARAÚJO
Engenheira Civil (Unicamp, 2000), Mestre em Engenharia Civil (Unicamp, 2004). Aluna do curso de doutorado em Engenharia Civil da FEC-Unicamp. Estagiária docente das disciplinas da área de Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários nos cursos de graduação em Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo da FEC-Unicamp (2015 e 2017). Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, onde atua no ensino técnico (nível médio) e superior desde 2009. Projetista de sistemas prediais hidráulicos e sanitários - SPHS (2004-2007). Coordenadora de projetos de SPHS (2007-2009). Supervisora de planejamento e custo da instalação e montagem de sistemas prediais em edifícios industriais (2009-2010). Áreas de interesse no campo da educação em Engenharia: metodologias ativas aplicadas ao ensino, com ênfase na abordagem baseada em problemas e novas tecnologias aplicadas ao ensino.
LUCAS TEOTÔNIO DE SOUZA
Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com ênfase em Estruturas e Transportes (2016), Mestre e Doutorando (2019) em Engenharia de Estruturas pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Desde dezembro de 2019 é professor de Ensino
AU
TOR
ES
Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Campus Juiz de Fora. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em comportamento dinâmico e controle de sistemas estruturais e aeroelasticidade aplicada às estruturas sob ação de vento.
MARCELO MIRANDA BARROS
Desenvolve pesquisas relacionadas à Geometria Fractal e Fenômenos Complexos desde 2005, incluindo desenvolvimento científico e tecnológico. Trabalha no desenvolvimento de métodos e ferramentas para a caracterização de fenômenos e dados complexos e no desenvolvimento de dispositivos altamente eficientes e multifuncionais. Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2005), mestrado e doutorado em Modelagem Computacional pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (2007 e 2011). Atualmente é professor adjunto no departamento de Estruturas da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFJF e pesquisador do LIMON
MARCO ANTÔNIO PEREIRA ARAÚJO
Doutor e Mestre em Engenharia de Sistemas e Computação pela COPPE/UFRJ. Especialista em Métodos Estatísticos Computacionais e Bacharel em Informática pela UFJF. Professor na UFJF e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus Juiz de Fora.
MARCOS ALEXANDRE MIGUEL
Mestre em Ciência da Computação pela UFJF, MBI (Master in Business Intelligence) pela UFJF, Bacharel em Sistemas de Informação pelo CES/JF. Atualmente é diretor de desenvolvimento da Projetus TI e Professor no Centro Universitário Academia (UniAcademia).
MARCOS DAVID DOS SANTOS
Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Campina Grande (2019). Foi monitor da disciplina Geologia Geral no primeiro e segundo semestre do ano de 2016. Foi monitor da disciplina Cálculo Numérico no primeiro e segundo semestre do ano de 2018. Participou de projetos de pesquisa na área de Engenharia Civil, com ênfase em estruturas e materiais de construção entre os anos de 2018 e 2019. Atuou como estagiário na elaboração de projetos, execução, orçamento, planejamento e pavimentações de obras.
MARCOS FÁBIO PORTO DE AGUIAR
Possui doutorado em engenharia civil, área de concentração em geotecnia, pela COPPE/Universidade Federal do Rio de Janeiro (2008), mestrado em geotecnia e infraestrutura pela Universidade de Hannover - Alemanha (1997) e graduação em engenharia civil pela Universidade Federal do Ceará (1993). Atua, como professor e consultor, principalmente nas áreas de investigações geotécnicas, engenharia de fundações e contenções e infraestrutura de transportes.
MARCOS VINÍCIUS RIBEIRO
Mestrado em Educação Matemática pela UNESP-Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, ano 2010. Licenciado em Matemática pelo Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, ano 1999. Graduado em Engenharia Elétrica pela Faculdade de Engenharia de Sorocaba, ano 1991. Professor do Centro Universitário Facens em Sorocaba. Coordenador do Facens Musical. Professor na ESAMC Sorocaba. Experiência docente no Ensino Fundamental II, Ensino Médio, Cursos Pré-Vestibulares, onde ministrou Matemática e Desenho Geométrico. Experiência docente no Ensino Técnico em cursos técnicos como Eletrotécnica nas Escolas Técnicas da Fundação Paula Souza.
AU
TOR
ES
Experiência docente no Ensino Superior, ministrando disciplinas da área de Cálculo Diferencial e Integral, Álgebra, Geometria Analítica e Estatística para cursos de Engenharia, Administração, Economia, Comunicação. Atuação como coordenador do Ciclo Básico/Metodologias Ativas e Inovação na Facens período 2016-2019. Utiliza PNL-Programação Neurolinguística nas disciplinas de cálculo diferencial e integral, estatística. Como violinista traz para aulas as relações entre matemática e música, história da matemática.
MARCUS VINÍCIUS LIA FOOK
Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal da Paraíba (1983), mestrado em Química pela Universidade Federal da Paraíba (1999) e doutorado em Química pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2005). Atualmente é professor Associado IV da Universidade Federal de Campina Grande, participa como representante da REBRATS/ Ministério da Saúde, Presidente da Sociedade Latino Americana de Biomateriais e Órgãos Artificiais/SLABO, Membro do Comitê Gestor Nacional Harpya da Fundação Oswaldo Cruz, membro da ASSOCIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS OFICIAIS DO BRASIL (ALFOB) e COORDENADOR do Laboratório de Avaliação e Desenvolvimento de Biomateriais do Nordeste-CERTBIO, um dos 3 laboratórios credenciados para avaliar próteses mamárias, por determinação da ANVISA, quando em 2011 ocorreu o problema com as próteses mamárias francesas. Atualmente único laboratório público acreditado pelo INMETRO para avaliar biocompatibilidade em próteses mamárias. Hoje o CERTBIO possui diversos produtos desenvolvidos no estágio de pesquisa clínica, com Nível de Maturidade Tecnológica Avançado, prontos para o processo de Transferência de Tecnologia. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Biomateriais, atuando principalmente nos seguintes temas: Biomateriais, Biopolímeros, Biocerâmicas, Modificação de Superfície e Sistemas de Liberação Controlada de Fármacos. Atuou na estruturação do sistema de vigilância e monitoramento de produtos para a saúde, cooperação técnica UFCG-ANVISA em nível Mestrado e, também, na estruturação do Convênio com a Associação Médica da Paraíba para formação de médicos em nível de mestrado e doutorado.
MARIA BEATRIZ DA SILVA NETO
Graduanda do 10º período de Engenharia Civil na Universidade Federal de Campina Grande. Participou de projeto de Extensão na área de Educação no Trânsito em escolas municipais entre os anos de 2018 e 2019. Participou de projeto de Iniciação Científica na área de Materiais de Construção no ano de 2019. Atuou como estagiária na elaboração de Projetos na empresa 4Engenharia entre os anos de 2016 e 2018. Atuou como estagiária na Prefeitura Municipal de Pombal entre os anos de 2018 à 2019, bem como na empresa Vergari Engenharia entre os anos de 2019 e 2020, na elaboração de Orçamentos de Obras Públicas e Projetos de Prevenção à Incêndio.
MARINA SANGOI DE OLIVEIRA ILHA
Engenheira Civil (UFSM, 1985), Mestre em Engenharia Civil (EPUSP, 1988). Doutora em Engenharia Civil (EPUSP, 1996). Professora titular da Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas (FEC-Unicamp), onde atua em pesquisa e ensino desde maio de 1994. Diretora da FEC-Unicamp (2014-2018). Diretora Associada da FEC-Unicamp (2010-2014). Chefe do Departamento de Arquitetura e Construção da FEC-Unicamp (2006-2010). Membro do grupo de trabalho responsável pela reforma curricular do curso de EC da FEC-Unicamp (2002-2006). Coordenadora associada do curso de graduação em Engenharia Civil (EC) da FEC-Unicamp (1998-2002). Professora do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (1988-1994), na área de sistemas prediais. Áreas de interesse no campo da educação em Engenharia: metodologias ativas aplicadas ao ensino, com ênfase na abordagem baseada em problemas e novas tecnologias aplicadas ao ensino; ensino de BIM (Building Modeling Information) na graduação.
MARTIM BANDT NETO
Graduado em Automação Industrial pela Faculdade de Tecnologia - CETEP (2008), Especialista em Automação Industrial (2014) e Mestre em Ciências em Engenharia elétrica (2019), ambos pela
AU
TOR
ES
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR. Atua na área de Engenharia de Manutenção, tem experiência na área de robótica, eletrônica e automação, com desenvolvimento de programas de CLP, manutenção de robôs e robôs colaborativos.
NÁDIA CUIABANO KUNZE
Possui graduação em Licenciatura em Pedagogia e Mestrado em Educação, na linha de pesquisa da História da Educação, pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Doutorado em Educação, na linha de pesquisa História da Educação e Historiografia, pela Universidade de São Paulo (USP). É servidora, técnica em assuntos educacionais e pesquisadora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) - Campus Cuiabá; membro do Grupo de Pesquisa em Ensino Profissional (GPEP) do IFMT.
NATALIA ALVAREZ RODRIGUES
Engenheira de Alimentos graduada pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), campus Lagoa do Sino (2018). Atualmente, é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química da UFSCar, pertencendo à área de Engenharia Bioquímica do Departamento de Engenharia Química da UFSCar com ênfase na linha de pesquisa de Biorreatores de Fermentação em Estado Sólido.
NATÁLIA DOLFINI
Doutoranda em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Maringá (UEM 2018-2022), Mestra e graduada em Engenharia Química (UEM). Professora de Cursos EAD de Engenharia com aplicação de Metodologias Ativas.
NEHEMIAS CURVELO PEREIRA
Possui graduação em Química Industrial pela Universidade Federal de Sergipe (1970), mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1972) e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1980). Atualmente é professor titular da Universidade Estadual de Maringá. Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química, atuando principalmente nos seguintes temas: secagem, sistemas particulados, separação sólido-fluido, processos de separação com membranas, secagem industrial e transferência de massa, produção de biodiesel, separação de biodiesel e glicerol.
PATRÍCIA RODRIGUES DE ARAÚJO
Graduada em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido (2017). Atualmente é servidora da Universidade Federal de Itajubá, atuando principalmente na área e eletrônica analógica. Tem experiência em circuitos integrados analógicos, instrumentação e controle.
RENATA LILIAN RIBEIRO PORTUGAL FAGURY
Possui graduação em Química Industrial pela Universidade Federal do Pará, mestrado em Química pela Universidade de São Paulo e doutorado em Química pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é docente da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Atua principalmente nos seguintes temas: Desenvolvimento de metodologias, Biocompósitos, Biossensores, Geopolímeros, Adsorção e tratamento de resíduos.
RENATO PINTO DA CUNHA
Possui graduação em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ (1985), mestrado em engenharia civil pela Coordenação dos Programas de Pós Graduação em Engenharia -
AU
TOR
ES
COPPE/UFRJ (1988), doutorado em Geotecnia pela Universdade de British Columbia - UBC do Canadá (1994), e pós doutorado na Universidade de Sydney - USYD da Austrália (1999) e no Instituto Superior Técnico – IST de Portugal (2019). Atualmente é Professor Titular da Universidade de Brasília, atuando em nível de graduação e pós graduação respectivamente no Departamento de Eng. Civil e Ambiental e no Prog. de Pós Graduação em Geotecnia.
SANDRA BIZARRIA LOPES VILLANUEVA
Graduada em Engenharia de Produção Química pelo Centro Universitário da FEI (1995), mestre em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas (2000), doutora em Engenharia Química pela UNICAMP (2005) e Pós doutora em Engeharia Química pela UNICAMP. Atualmente é Diretora de Operações Acadêmicas e Coordenadora do Curso de Engenharia Química da FACENS (Faculdade de Engenharia de Sorocaba) onde também atua como docente. Possui 15 anos de experiência em administração acadêmica e 16 anos como docente em cursos de engenharia. Tem experiência na área de Engenharia Química, com ênfase em Reatores Químicos, atuando principalmente nos seguintes temas: preparação e caracterização de catalisadores, condensação aldólica, etanol e n-butanol, e produção de combustíveis a partir de fontes renováveis; formação de docentes e qualidade acadêmica.
STÉVILLIS MONTEIRO DE SOUSA
Acadêmico do curso de Sistemas para Internet no Instituto Federal de Mato Grosso. Ex-Bolsista de Projetos de Iniciação Científica.
TAÍS GOMES DE SOUSA
Graduando em Engenharia Civil pela faculdade de Integração do Sertão- FIS. Estagiaria da CONSTRUCAJ LTDA, atuando na área de gestão e planejamento de obra. Artigos aceitos em Cesmac, JEPEX, SICC, CONACED, FIS e SIMPA. E participação no concurso Árvore Solar realizado pela CELPE.
TANIA LUNA LAURA
Possui doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2013), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Bahia (2006) e graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidad Nacional Del Altiplano (2002). Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Engenharia Elétrica, atuando principalmente nos seguintes temas: modelagem, controle por servo-visão, navegação visual e corrosões em dutos.
TASSIO FERENZINI MARTINS SIRQUEIRA
Doutor em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2019), Mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2016), Bacharel em Sistemas de Informação pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (2013) e Técnico em Informática Industrial pelo SENAI-JFN (2008). Atualmente é professor do Centro Universitário Academia e Avaliador de cursos superiores do INEP/MEC.
VALMIR DE OLIVEIRA
Possui graduação em Engenharia Industrial Elétrica com ênfase em Eletrônica e Telecomunicações (1993), Mestrado em Informatica Industrial - Fotônica (2005) e Doutorado na mesma área (2012) todos pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR. Atualmente é professor no Departamento de Eletrônica da mesma Universidade . Tem experiência na área de Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica Geral e Digital, Telecomunicações, Eletrônica de Potência, Máquinas Elétricas, Acionamentos Industriais, Fotônica, Comunicações Óticas e Sensores em Fibra Ótica.
AU
TOR
ES
WILDSON WELLINGTON SILVA
Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Católica de Pernambuco (2003). MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (2013). Especialista em Inspeção, Manutenção e Recuperação de Estruturas pela Universidade de Pernambuco (2019). Tem experiência na área de Planejamento e Custos em projetos de Óleo e Gás, Linhas de Transmissão de Energia, Estradas, Orçamentação de obras pesadas. É Sócio-diretor da Riviera Engenharia.
YAGO MACHADO PEREIRA DE MATOS
Possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e mestrado em Geotecnia pela Universidade Federal do Ceará (UFC) com experiência em mecânica dos solos, investigações geotécnicas, estabilidade de taludes, mecânica das rochas e aplicação de sistemas inteligentes em problemas geotécnicos. Atualmente, é bolsista de doutorado pela Universidade de Brasília (UnB), onde estuda o comportamento mecânico de fundações de torres eólicas em solos de regiões de clima tropical.