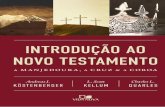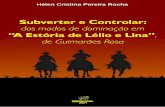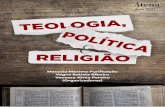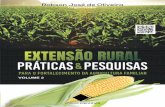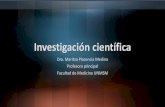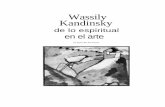Editora Científica Digital
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Editora Científica Digital
Copyright© 2021 por Editora Científica Digital Copyright da Edição © 2021 Editora Científica Digital
Copyright do Texto © 2021 Os Autores
EDITORA CIENTÍFICA DIGITAL LTDAGuarujá - São Paulo - Brasil
www.editoracientifica.org - [email protected]
Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição Creative Commons. Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
Parecer e Revisão Por ParesOs textos que compõem esta obra foram submetidos para avaliação do Conselho Editorial da Editora Científica Digital, bem como revisados por pares, sendo indicados para a publicação.
O conteúdo dos capítulos e seus dados e sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores. É permitido o download e compartilhamento desta obra desde que no formato Acesso Livre (Open Access) com os créditos atribuídos aos respectivos autores, mas sem a possibilidade de alteração de nenhuma forma ou utilização para fins comerciais.
CORPO EDITORIAL
Direção EditorialR e i n a l d o C a r d o s oJ o ã o B a t i s t a Q u i n t e l aEditor CientíficoP r o f . D r . R o b s o n J o s é d e O l i v e i r aAssistentes EditoriaisE l i e l s o n R a m o s J r . E r i c k B r a g a F r e i r eB i a n c a M o r e i r aS a n d r a C a r d o s oBibliotecárioM a u r í c i o A m o r m i n o J ú n i o r - C R B 6 / 2 4 2 2JurídicoD r . A l a n d e l o n C a r d o s o L i m a - O A B / S P - 3 07 8 5 2
Robson José de Oliveira Universidade Federal do Piauí, Brasil
Eloisa Rosotti Navarro Universidade Federal de São Carlos, Brasil
Rogério de Melo Grillo Universidade Estadual de Campinas, Brasil
Carlos Alberto Martins CordeiroUniversidade Federal do Pará, Brasil
Ernane Rosa Martins Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Brasil
Rossano Sartori Dal Molin FSG Centro Universitário, Brasil
Edilson Coelho Sampaio Universidade da Amazônia, Brasil
Domingos Bombo Damião Universidade Agostinho Neto, Angola
Elson Ferreira Costa Universidade do Estado do Pará, Brasil
Carlos Alexandre Oelke Universidade Federal do Pampa, Brasil
Patrício Francisco da Silva Universidade CEUMA, Brasil
Reinaldo Eduardo da Silva Sales Instituto Federal do Pará, Brasil
Dalízia Amaral Cruz Universidade Federal do Pará, Brasil
Susana Jorge Ferreira Universidade de Évora, Portugal
Fabricio Gomes Gonçalves Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil
Erival Gonçalves Prata Universidade Federal do Pará, Brasil
Gevair Campos Faculdade CNEC Unaí, Brasil
Flávio Aparecido De Almeida Faculdade Unida de Vitória, Brasil
Mauro Vinicius Dutra Girão Centro Universitário Inta, Brasil
Clóvis Luciano Giacomet Universidade Federal do Amapá, Brasil
Giovanna Moraes Universidade Federal de Uberlândia, Brasil
André Cutrim Carvalho Universidade Federal do Pará, Brasil
Silvani Verruck Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil
Auristela Correa Castro Universidade Federal do Pará, Brasil
Osvaldo Contador Junior Faculdade de Tecnologia de Jahu, Brasil
Claudia Maria Rinhel-Silva Universidade Paulista, Brasil
Dennis Soares Leite Universidade de São Paulo, Brasil
Silvana Lima Vieira Universidade do Estado da Bahia, Brasil
Cristina Berger Fadel Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil
Graciete Barros Silva Universidade Estadual de Roraima, Brasil
CONSELHO EDITORIALMestres, Mestras, Doutores e Doutoras
CONSELHO EDITORIAL
Juliana Campos Pinheiro Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil
Cristiano Marins Universidade Federal Fluminense, Brasil
Silvio Almeida Junior Universidade de Franca, Brasil
Raimundo Nonato Ferreira Do Nascimento Universidade Federal do Piaui, Brasil
Marcelo da Fonseca Ferreira da Silva Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Brasil
Carlos Roberto de Lima Universidade Federal de Campina Grande, Brasil
Iramirton Figuerêdo Moreira Universidade Federal de Alagoas, Brasil
Daniel Luciano Gevehr Faculdades Integradas de Taquara, Brasil
Maria Cristina Zago Centro Universitário UNIFAAT, Brasil
Wescley Viana Evangelista Universidade do Estado de Mato Grosso, Brasil
Samylla Maira Costa Siqueira Universidade Federal da Bahia, Brasil
Gloria Maria de Franca Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil
Antônio Marcos Mota Miranda Instituto Evandro Chagas, Brasil
Carla da Silva Sousa Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Brasil
Dennys Ramon de Melo Fernandes Almeida Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil
Francisco de Sousa Lima Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Brasil
Reginaldo da Silva Sales Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Brasil
Mário Celso Neves De Andrade Universidade de São Paulo, Brasil
Maria do Carmo de SousaUniversidade Federal de São Carlos, Brasil
Mauro Luiz Costa Campello Universidade Paulista, Brasil
Sayonara Cotrim Sabioni Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano, Brasil
Ricardo Pereira Sepini Universidade Federal de São João Del-Rei, Brasil
Flávio Campos de Morais Universidade Federal de Pernambuco, Brasil
Sonia Aparecida Cabral Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Brasil
Jonatas Brito de Alencar Neto Universidade Federal do Ceará, Brasil
Moisés de Souza Mendonça Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Brasil
Pedro Afonso Cortez Universidade Metodista de São Paulo, Brasil
Iara Margolis Ribeiro Universidade do Minho, Brasil
Julianno Pizzano Ayoub Universidade Estadual do Centro-Oeste, Brasil
Cynthia Mafra Fonseca de Lima Universidade Federal de Alagoas, Brasil
Marcos Reis Gonçalves Centro Universitário Tiradentes, Brasil
Vitor Afonso Hoeflich Universidade Federal do Paraná, Brasil
Bianca Anacleto Araújo de Sousa Universidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil
Bianca Cerqueira Martins Universidade Federal do Acre, Brasil
CONSELHO EDITORIAL
Daniela Remião de Macedo Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Portugal
Dioniso de Souza Sampaio Universidade Federal do Pará, Brasil
Rosemary Laís GalatiUniversidade Federal de Mato Grosso, Brasil
Maria Fernanda Soares Queiroz Universidade Federal de Mato Grosso, Brasil
Letícia Cunha da Hungria Universidade Federal Rural da Amazônia, Brasil
Leonardo Augusto Couto Finelli Universidade Estadual de Montes Claros, Brasil
Thais Ranielle Souza de Oliveira Centro Universitário Euroamericano, Brasil
Alessandra de Souza Martins Universidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil
Claudiomir da Silva Santos Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, Brasil
Fabrício dos Santos Ritá Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, Brasil
Danielly de Sousa Nóbrega Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Brasil
Livia Fernandes dos Santos Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Brasil
Liege Coutinho Goulart Dornellas Universidade Presidente Antônio Carlos, Brasil
Ticiano Azevedo Bastos Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil
Walmir Fernandes Pereira Miami University of Science and Technology, Estados Unidos da América
Jónata Ferreira De Moura Universidade Federal do Maranhão, Brasil
Camila de Moura Vogt Universidade Federal do Pará, Brasil
José Martins Juliano Eustaquio Universidade de Uberaba, Brasil
Adriana Leite de Andrade Universidade Católica de Petrópolis, Brasil
Francisco Carlos Alberto Fonteles Holanda Universidade Federal do Pará, Brasil
Bruna Almeida da Silva Universidade do Estado do Pará, Brasil
Clecia Simone Gonçalves Rosa Pacheco Instituto Federal do Sertão Pernambucano, Brasil
Ronei Aparecido Barbosa Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, Brasil
Julio Onésio Ferreira Melo Universidade Federal de São João Del Rei, Brasil
Juliano José Corbi Universidade de São Paulo, Brasil
Thadeu Borges Souza Santos Universidade do Estado da Bahia, Brasil
Francisco Sérgio Lopes Vasconcelos Filho Universidade Federal do Cariri, Brasil
Francine Náthalie Ferraresi Rodriguess Queluz Universidade São Francisco, Brasil
Maria Luzete Costa Cavalcante Universidade Federal do Ceará, Brasil
Luciane Martins de Oliveira Matos Faculdade do Ensino Superior de Linhares, Brasil
Rosenery Pimentel Nascimento Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil
Irlane Maia de Oliveira Universidade Federal do Amazonas, Brasil
Lívia Silveira Duarte Aquino Universidade Federal do Cariri, Brasil
Xaene Maria Fernandes Mendonça Universidade Federal do Pará, Brasil
CONSELHO EDITORIAL
Thaís de Oliveira Carvalho Granado Santos Universidade Federal do Pará, Brasil
Fábio Ferreira de Carvalho Junior Fundação Getúlio Vargas, Brasil
Anderson Nunes Lopes Universidade Luterana do Brasil, Brasil
Carlos Alberto da Silva Universidade Federal do Ceara, Brasil
Keila de Souza Silva Universidade Estadual de Maringá, Brasil
Francisco das Chagas Alves do Nascimento Universidade Federal do Pará, Brasil
Réia Sílvia Lemos da Costa e Silva Gomes Universidade Federal do Pará, Brasil
Arinaldo Pereira Silva Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Brasil
Laís Conceição Tavares Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Brasil
Ana Maria Aguiar Frias Universidade de Évora, Brasil
Willian Douglas Guilherme Universidade Federal do Tocatins, Brasil
Evaldo Martins da Silva Universidade Federal do Pará, Brasil
Biano Alves de Melo Neto Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Brasil
António Bernardo Mendes de Seiça da Providência Santarém Universidade do Minho, Portugal
Valdemir Pereira de Sousa Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil
Sheylla Susan Moreira da Silva de Almeida Universidade Federal do Amapá, Brasil
Miriam Aparecida Rosa Instituto Federal do Sul de Minas, Brasil
Rayme Tiago Rodrigues Costa Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Brasil
Priscyla Lima de Andrade Centro Universitário UniFBV, Brasil
Andre Muniz Afonso Universidade Federal do Paraná, Brasil
Marcel Ricardo Nogueira de Oliveira Universidade Estadual do Centro Oeste, Brasil
Gabriel Jesus Alves de Melo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Brasil
APRESENTAÇÃOO l i v ro “ P l a n t a s m e d i c i n a i s d o Es t a d o d o A m a p á : d o s re l a t o s d a p o p u l a ç ã o à p e s q u i s a c i e n t í f i c a ” , t ra t a - s e de pesqu isas rea l i zadas a par t i r de observações dos háb i tos ro t ine i ros l oca is de uso de p lan tas med ic ina is . F o i i d e a l i z a d o p a r a p u b l i c a r t r a b a l h o s d e a l u n o s d e g r a d u a ç ã o , e m e s p e c i a l o s a l u n o s v i n c u l a d o s a o P ro g ra m a d e E d u c a ç ã o T u t o r i a l – P E T c u r s o d e Fa r m á c i a d a U n i v e r s i d a d e Fe d e ra l d o A m a p á ( P E T - Fa r m á c i a U N I FA P ) , e s t e p r o g r a m a é v i n c u l a d o a o M i n i s t é r i o d a E d u c a ç ã o q u e v i s a f o r t a l e c e r o e n s i n o , p e s q u i s a e ex t e n s ã o u n i v e r s i t á r i a . O G r up o P ET Fa rm á c i a d a U N I FA P a t u a n a p e s q u i s a d e P ro d u t o s N at u ra i s d e o r i ge m Ve ge t a l , a n i m a l e m i c ro rg a n i s m o s e m b u s c a d e p r i n c í p i o s a t i v o s c o m p ro p r i e d a d e s b i o l ó g i c a s , re a l i z a n d o p e s q u i s a s d e c a m p o , p e s q u i s a s d e l a b o r a t ó r i o e p e s q u i s a / e s t u d o s t e ó r i c o s d o s a s s u n t o s r e l a c i o n a d o s . S e n d o a s s i m , e s t e l i v r o é a p u b l i c a ç ã o d e t r a b a l h o s r e a l i z a d o s p o r a c a d ê m i c o s c o m a p a r t i c i p a ç ã o d o s m a i s d i v e r s o s p e s q u i s a d o re s , f o r t a l e c e n d o o c o n h e c i m e n t o m u l t i d i s c i p l i n a r e d i v u l g a n d o o s re s u l t a d o s d e p e s q u i s a s c o m P l a n t a s M e d i c i n a i s d o e s t a d o d o A m a p á , e f o r t a l e c e n d o o p r o c e s s o d e e n s i n o e p e s q u i s a . U m a b o a l e i t u r a a t o d o s e v a m o s a p r e n d e r u m p o u c o m a i s s o b r e P l a n t a s m e d i c i n a i s d o Es t a d o d o A m a p á .
Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaAna Luzia Ferreira FariasPatrick de Castro Cantuária
SUMÁRIOCAPÍTULO 01
ANÁLISE FITOQUÍMICA, CITOTÓXICA E ANTIMICROBIANA DO EXTRATO BRUTO ETANÓLICO DAS FOLHAS DE AMBELANIA ACIDA AUBLET (APOCYNACEAE).Vinícius Magno Monteiro de Oliveira; Tony David Santiago Medeiros; Nádia Rosana Matos Soares; Débora Regina dos Santos Arraes; Mikaeli Katriny Vaz da Costa; Amanda Maria de Sousa Diógenes Ferreira; George Azevedo de Queiroz; Ana Luzia Ferreira Farias; Patrick de Castro Cantuária; Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaDOI: 10.37885/210404186 .................................................................................................................................................................................. 15
CAPÍTULO 02ANÁLISE PRELIMINAR FITOQUÍMICA DO EXTRATO BRUTO DAS FOLHAS DE NEPHROLEPIS PECTINATA (WILLD.) SCHOTT (1834)Mayra Araújo da Cunha Leite; Alana Carine Sobrinho Soares; Luciedi de Cássia Leôncio Tostes; Alzira Marques Oliveira; Maryele Ferreira Cantuária; Jorge Breno Palheta Orellana; Bruna Bárbara Maciel Amoras Orellana; Ana Luzia Ferreira Farias; Patrick de Castro Cantuária; Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaDOI: 10.37885/210303742 ................................................................................................................................................................................. 30
CAPÍTULO 03AVALIAÇÃO FITOQUÍMICA, MICROBIOLÓGICA E CITOTÓXICA DAS FOLHAS GOSSYPIUM ARBOREUM L.Jaryelle Santos de Oliveira; Ana Luzia Ferreira Farias; Gerlany de Fátima dos Santos; Patrick de Castro Cantuária; Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaDOI: 10.37885/210203129 ..................................................................................................................................................................................41
CAPÍTULO 04AVALIAÇÃO ANTIOXIDANTE, ANTIBACTERIANA E CITOTÓXICA DA ESPÉCIE PHYLLANTHUS NIRURI L. (1753)Andreza da Silva Silva; Patrick de Castro Cantuária; Elizabeth Viana Moraes da Costa; Ana Luzia Ferreira Farias; José Policarpo Miranda Júnior; Líbio José Tapajós Mota; Antônio Carlos Freitas Souza; Pablo de Castro Cantuária; Juliana Eveline dos Santos Farias; Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaDOI: 10.37885/210303484 .................................................................................................................................................................................55
CAPÍTULO 05AVALIAÇÃO FITOQUÍMICA, TOXICOLÓGICA E ANTIOXIDANTE DA ESPÉCIE ROSMARINUS OFFICINALIS L. (ALECRIM)Thays Rodrigues Peres; Tony David Santiago Medeiros; Nádia Rosana Matos Soares; Débora Regina dos Santos Arraes; Mikaeli Katriny
Vaz da Costa; Amanda Maria de Sousa Diógenes Ferreira; George Azevedo de Queiroz; Ana Luzia Ferreira Farias; Patrick de Castro
Cantuária; Sheylla Susan Moreira da Silva de Almeida
DOI: 10.37885/210404185 ................................................................................................................................................................................. 69
SUMÁRIOCAPÍTULO 06
ESTUDO FITOQUÍMICO, ATIVIDADE MICROBIOLÓGICA E CITOTOXICIDADE DAS FOLHAS E CAULE DA MIKANIA LINDLEYANA DC. (1836)Natálya Gabriely Lobato Santos; Alana Carine Sobrinho Soares; Luciedi de Cássia Leôncio Tostes; Alzira Marques Oliveira; Maryele Ferreira Cantuária; Jorge Breno Palheta Orellana; Bruna Bárbara Maciel Amoras Orellana; Ana Luzia Ferreira Farias; Patrick de Castro Cantuária; Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaDOI: 10.37885/210303744 ..................................................................................................................................................................................79
CAPÍTULO 07ESTUDO FITOQUÍMICO, ANÁLISE FARMACOGNÓSTICA E ENSAIO TOXICOLÓGICO DAS CASCAS DA DALBERGIA MONETARIA LINNAEUS F. (1782)
Thayná Oliveira Corrêa; Patrick de Castro Cantuária; Elizabeth Viana Moraes da Costa; Ana Luzia Ferreira Farias; José Policarpo Miranda Júnior; Líbio José Tapajós Mota; Antônio Carlos Freitas Souza; Pablo de Castro Cantuária; Juliana Eveline dos Santos Farias; Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaDOI: 10.37885/210303483 ................................................................................................................................................................................ 93
CAPÍTULO 08ESTUDO FITOQUÍMICO, FÍSICO-QUÍMICO E ENSAIO TOXICOLÓGICO DAS CASCAS DO HURA CREPITANS L. (EUPHORBIACEAE)
Ingrid Isabelly Araújo Barbosa; Alana Carine Sobrinho Soares; Luciedi de Cássia Leôncio Tostes; Alzira Marques Oliveira; Maryele Ferreira Cantuária; Jorge Breno Palheta Orellana; Bruna Bárbara Maciel Amoras Orellana; Ana Luzia Ferreira Farias; Patrick de Castro Cantuária; Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaDOI: 10.37885/210303782 ............................................................................................................................................................................... 105
CAPÍTULO 09ESTUDO FITOQUÍMICO E DE CITOTOXICIDADE DO EXTRATO BRUTO ETANÓLICO DO CAULE DE MONTRICHARDIA LINIFERA (ARRUDA) SCHOTT (ARACEAE)
Alice Mara Rosário da Costa; Tony David Santiago Medeiros; Nádia Rosana Matos Soares; Débora Regina dos Santos Arraes; Mikaeli Katriny Vaz da Costa; Amanda Maria de Sousa Diógenes Ferreira; George Azevedo de Queiroz; Ana Luzia Ferreira Farias; Patrick de Castro Cantuária; Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaDOI: 10.37885/210404182 ................................................................................................................................................................................ 115
SUMÁRIOCAPÍTULO 10
ESTUDO FITOQUÍMICO, FÍSICO-QUÍMICO, ANTIMICROBIANO E DE TOXICIDADE DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DAS FOLHAS DE MENTHA PIPERITA L.Rafaela Nascimento Marques; Tony David Santiago Medeiros; Nádia Rosana Matos Soares; Débora Regina dos Santos Arraes; Mikaeli Katriny Vaz da Costa; Amanda Maria de Sousa Diógenes Ferreira; George Azevedo de Queiroz; Ana Luzia Ferreira Farias; Patrick de Castro Cantuária; Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaDOI: 10.37885/210404184 ................................................................................................................................................................................123
CAPÍTULO 11ESTUDO FITOQUÍMICO DO EXTRATO ETANÓLICO DAS FOLHAS DE MORINGA OLEIFERA LAM.Ericlison Willian de Souza Monteiro; Tony David Santiago Medeiros; Nádia Rosana Matos Soares; Débora Regina dos Santos Arraes; Mikaeli Katriny Vaz da Costa; Amanda Maria de Sousa Diógenes Ferreira; George Azevedo de Queiroz; Ana Luzia Ferreira Farias; Patrick de Castro Cantuária; Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaDOI: 10.37885/210504518 ............................................................................................................................................................................... 138
CAPÍTULO 12ESTUDO FITOQUÍMICO, TOXICIDADE EM ARTEMIA SALINA ARTEMIA SALINA (LINNAEUS, 1758) E ATIVIDADE ANTIBACTERIANA DE PSEUDOXANDRA CUSPIDATA MAAS.Mirian Andrade de Oliveira; Patrick de Castro Cantuária; Elizabeth Viana Moraes da Costa; Ana Luzia Ferreira Farias; José Policarpo Miranda Júnior; Líbio José Tapajós Mota; Antônio Carlos Freitas Souza; Pablo de Castro Cantuária; Juliana Eveline dos Santos Farias; Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaDOI: 10.37885/210303482 ...............................................................................................................................................................................154
CAPÍTULO 13ESTUDO QUÍMICO, ANTIOXIDANTE, CITOTÓXICO, ANTIMICROBIANO E LARVICIDA DE OCIMUM MICRANTHUM WILLD. E OCIMUM GRATISSIMUM L.Ridelley de Sousa de Sousa; Alana Carine Sobrinho Soares; Luciedi de Cássia Leôncio Tostes; Alzira Marques Oliveira; Maryele Ferreira Cantuária; Jorge Breno Palheta Orellana; Bruna Bárbara Maciel Amoras Orellana; Ana Luzia Ferreira Farias; Patrick de Castro Cantuária; Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaDOI: 10.37885/210303736 ................................................................................................................................................................................167
CAPÍTULO 14METABÓLITOS SECUNDÁRIOS DA ESPÉCIE CURATELLA AMERICANA LINNAUES (DILLENIACEAE)Larissa de Cássia Moreira Coutinho; Patrick de Castro Cantuária; Elizabeth Viana Moraes da Costa; Ana Luzia Ferreira Farias; José Policarpo Miranda Júnior; Líbio José Tapajós Mota; Antônio Carlos Freitas Souza; Pablo de Castro Cantuária; Juliana Eveline dos Santos Farias; Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaDOI: 10.37885/210303485 .............................................................................................................................................................................. 189
SUMÁRIOCAPÍTULO 15
SCREENING FITOQUÍMICO E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DAS FOLHAS DA ESPÉCIE VEGETAL POUTERIA CAIMITO (RUIZ & PAV.) RADLK.Camila Ágata Magalhães Soares; Alana Carine Sobrinho Soares; Luciedi de Cássia Leôncio Tostes; Alzira Marques Oliveira; Maryele Ferreira Cantuária; Jorge Breno Palheta Orellana; Bruna Bárbara Maciel Amoras Orellana; Ana Luzia Ferreira Farias; Patrick de Castro Cantuária; Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaDOI: 10.37885/210303779 ............................................................................................................................................................................... 201
CAPÍTULO 16SCREENING FITOQUÍMICO, ANÁLISE CITOTÓXICA E ANTIMICROBIANA DO EXTRATO DAS FOLHAS DE ANNONA MURICATA L. (1753) (ANNONACEAE)
Heloíza Rabêlo Cunha; Patrick de Castro Cantuária; Elizabeth Viana Moraes da Costa; Ana Luzia Ferreira Farias; José Policarpo Miranda Júnior; Líbio José Tapajós Mota; Antônio Carlos Freitas Souza; Pablo de Castro Cantuária; Juliana Eveline dos Santos Farias; Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaDOI: 10.37885/210303480 ..............................................................................................................................................................................209
SOBRE OS ORGANIZADORES ............................................................................................................................. 221
ÍNDICE REMISSIVO .............................................................................................................................................222
01Análise fitoquímica, citotóxica e antimicrobiana do extrato bruto etanólico das folhas de Ambelania acida Aublet (Apocynaceae).
Vinícius Magno Monteiro de OliveiraUNIFAP
Tony David Santiago MedeirosIEPA
Nádia Rosana Matos SoaresIMMES
Débora Regina dos Santos ArraesUEAP
Mikaeli Katriny Vaz da CostaIMMES
Amanda Maria de Sousa Diógenes FerreiraIEPA
George Azevedo de QueirozUFRJ
Ana Luzia Ferreira FariasUEAP
Patrick de Castro CantuáriaIEPA
Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaUNIFAP
10.37885/210404186
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
15
Palavras- chave: At iv idade Biológica, Ex trato Bruto, Metaból i tos Secundár ios, Plantas Medicinais.
RESUMO
Objetivo: A pesquisa teve como objetivo realizar o estudo da composição química da espécie Ambelania acida Aublet (1775), identificando seus principais metabólitos se-cundários através de uma análise fitoquímica. Além disso, tal estudo buscou investigar os potenciais efeitos biológicos do extrato bruto etanólico de suas folhas, avaliando sua atividade citotóxica e antimicrobiana. Metodologia: A prospecção fitoquímica foi realizada segundo a metodologia proposta por Barbosa, onde buscou-se identificar qua-litativamente a presença de ácidos orgânicos, fenóis,taninos, polissacarídeos, açúcares redutores, flavonoides, alcaloides, esteroides, triterpenóides, Saponinas espumídicas, Depsídios e depsidonas, purinas e resinas. A avaliação citotóxica frente à Artemia sali-na foi realizada segundo o método de Meyer adaptado por Nunes, aplicando-se várias concentrações com a finalidade de obter a LC50. A ação antimicrobiana foi realizada através do método de Kirby-Bauer frente às cepas bacterianas de linhagem gram-positi-va (Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus) e gram-negativa (Escherichia coli). Resultados: Os metabólitos secundários encontrados no extrato bruto etanólico das folhas foram fenóis, taninos, açúcares eedutores, alcaloides, esteroides, triterpenóides e resinas. Na avaliação citotóxica o extrato bruto se mostrou tóxico frente às larvas de Artemia salina apresentando CL50<100 µg/mL. Os testes para sua ação antibacteriana não mostraram resultados positivos frente às cepas das bactérias utilizadas nos ensaios. Conclusão: O extrato bruto da espécie mostrou-se promissor, sobretudo pelos resultados positivos nos testes fitoquímicos preliminares e a mensuração inicial de sua toxicidade.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
16
INTRODUÇÃO
A utilização popular das plantas medicinais para promover a cura de várias enfermi-dades ocorre há vários séculos no mundo, sendo que mais recentemente seu uso tem se intensificado em razão do acesso e menor custo.
O uso de plantas medicinais na terapêutica ou como suplementos dietéticos remontam além da história registrada, mas tem aumentado substancialmente nas últimas décadas. Basicamente, os recursos terapêuticos utilizados pelos nossos ancestrais concentravam-se nos recursos da natureza, notadamente nas plantas, animais e minerais (CALIXTO et al., 2008; CASTRO et al., 2009).
A tradição popular é a origem de valiosos conhecimentos acerca das plantas, porém o uso indevido de determinadas espécies como medicinais é muito perigoso, podendo acarretar desde leves eventos adversos, até a morte do indivíduo. As informações sobre o uso e as virtudes terapêuticas das plantas medicinais foram sendo acumuladas através dos séculos e a utilização de suas propriedades representa uma forma de tratamento e cura das doenças. Apesar do uso de plantas medicinais terem sua propagação associada ao conhecimento popular empírico, paulatinamente vem sendo reconhecido e incorporado ao saber científico (BOSCOLO et al., 2008; DANTAS et al., 2007).
Diante do grande hábito cultural e conhecimento popular sobre produtos naturais, é de suma importância fornecer a população informações que indicam o uso adequado e efeitos com comprovação científica destes produtos. Promovendo assim, saúde e bem-estar. As aná-lises preliminares ou avançadas são importantes para caracterizar as substâncias presentes e no controle de qualidade de um fitofármaco.
Com certeza, a principal contribuição para o desenvolvimento da terapêutica moderna foi à utilização das plantas medicinais, inicialmente pelos Egípcios, e que depois foi alastrando para outras regiões do mundo. Contudo, foi somente no século XIX que se iniciou a procura pelos princípios ativos presentes nas plantas medicinais, criando assim, os primeiros medica-mentos com as características que nós os conhecemos atualmente (CALIXTO et al., 2008).
As plantas têm sido tradicionalmente utilizadas por populações em todos os continentes no controle de diversas doenças e pragas, sendo reconhecidas mais de 13.000 espécies que são mundialmente manipuladas como fármacos ou fonte de fármacos. A possibilidade de substâncias com potencial farmacológico serem descobertas no Brasil é muito gran-de. No Brasil, as plantas medicinais da flora nativa são consumidas com pouca ou nenhuma comprovação de suas propriedades farmacológicas, propagadas por usuários ou comercian-tes (COSTA et al., 2007; SIMÕES et al., 2001).
Comparada com a dos medicamentos usados nos tratamentos convencionais, a to-xicidade de plantas medicinais e fitoterápicos pode parecer trivial. Isto, entretanto, não é
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
16 17
verdade. A toxicidade de plantas medicinais é um problema sério de saúde pública. Os efei-tos adversos dos fitos-medicamentos, possíveis adulterações e toxidez, bem como a ação sinérgica (interação com outras drogas) ocorrem comumente. As pesquisas realizadas para avaliação do uso seguro de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil ainda são incipientes, assim como o controle da comercialização pelos órgãos oficiais em feiras livres, mercados públicos ou lojas de produtos naturais (ASSIS et al., 2009; VEIGA JR et al., 2005).
O Brasil possui a maior biodiversidade do mundo, compreendendo mais de 50.000 espécies de plantas superiores (20-22% do total existente no planeta). Em função disso e, sobretudo pela grande tradição do uso das plantas medicinais pela medicina popular no Brasil, o interesse pelos estudos das propriedades medicinais das plantas, vem sendo ex-plorado extensivamente pelos pesquisadores brasileiros e, mais recentemente, pela indústria farmacêutica, interessada em desenvolver novos medicamentos. A Floresta Amazônica é um grande celeiro que abriga 20% da biodiversidade existente no planeta. Assim, a possi-bilidade de substâncias com potencial farmacológico serem descobertas no Brasil é muito grande (ASSIS et al., 2009; CALIXTO et al., 2008).
Na floresta Amazônica estão inseridas muitas famílias e várias espécies com ação far-macológica, que são usadas pela população para o tratamento de muitas doenças. As plantas da família Apocynaceae estão incluídas fitogeneticamente na ordem Gentiales e subclasse Asteridae, sendo consideradas como espécies dicotiledôneas bem evoluídas e são caracteri-zadas normalmente pela presença de látex. Essa família contém entre 3700 a 5100 espécies em 250 a 550 gêneros. No Brasil ocorrem cerca de 95 gêneros e 850 espécies sendo 32 destes encontrados apenas na Amazônia (PEREIRA et al., 2007; LORENZI et al., 2008).
A família Apocynaceae pode ser considerada uma das mais importantes fontes de constituintes químicos de origem vegetal utilizados na medicina moderna. Várias substân-cias isoladas a partir de espécies dessa família representam protótipos de classes farma-cológicas distintas de drogas e fazem parte da história da farmacologia e da terapêutica (CORNELIUS et al., 2006).
Essa família tem sido estudada extensivamente ao longo dos anos em relação à ci-totoxicidade de componentes químicos. Entre os mais conhecidos das plantas, produtos químicos e farmacêuticos, estão os metabólitos secundários, que no campo da medicina que tem propriedades comprovadas, são os alcaloides. Estes compostos foram isolados de várias partes de espécies da família Apocynaceae, principalmente sementes, cascas, folhas e caules. O papel dos alcaloides nas defesas químicas das plantas é sustentado pela grande variedade de efeitos fisiológicos que estes exercem sobre os animais e também por suas atividades antimicrobianas. Vários alcaloides são tóxicos aos insetos e atuam como repelente para herbívoros (FUMAGALI et al., 2008; RODRÍGUEZ et al., 2008).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
18
Os produtos secundários têm um papel importante na adaptação das plantas aos seus ambientes; essas moléculas contribuem para que as mesmas possam ter uma boa interação com os diferentes ecossistemas. Eles aumentam a probabilidade de sobrevivên-cia de uma espécie, pois são responsáveis por diversas atividades biológicas com este fim como, por exemplo, podem atuar como antibióticos, antifúngicos e antivirais para proteger as plantas dos patógenos, e também apresentando atividades antigerminativas ou tóxicas para outras plantas como fitoalexinas. Além disso, alguns destes metabólitos constituem importantes compostos que absorvem a luz ultravioleta evitando que as folhas sejam dani-ficadas (FUMAGALI et al., 2008).
As Apocynaceae são ricas em glicosídeos e alcaloides, como dito anteriormente, es-pecialmente nas sementes e látex. Entre as principais substâncias extraídas estão a leu-cocristina e a vincristina, utilizadas no tratamento do câncer. O gênero Ambelania abriga várias espécies das quais são poucos os relatos disponíveis, na literatura especializada, que demostrem o potencial biológico e farmacológico deste gênero, mesmo tendo em vista que a família Apocynaceae possui muitas espécies que já possuem comprovadas sua ação biológica e farmacológica (LORENZI et al., 2008).
Dentre as espécies deste gênero está Ambelania acida Aubl. conhecida popularmente como pepino-do-mato, papaia-do-veado vermelho. Ambelania acida ocorre em solos argila arenoso com uma espessa camada de húmus ou em semi-inundados, áreas como um ar-busto ou árvore pequena, sub-bosque da floresta aberta alta ou vegetação secundária de altura conhecida como “capoeirão”. São muito dispersas, geralmente apresentam-se como indivíduos isolados, mas podem ocorrer em densidades de até 3 – 4 plantas/ha. Ambelania acida é nativa da Amazônia, mais frequentemente encontrada no estuário, mas com uma distribuição um pouco disjunta na parte norte da Amazônia, com algumas penetrações para as Guianas. Podem ser árvores arbustivas de 1-3 m e podem alcançar até 7-10 m (FAO, 1986; GRENAND et al., 2009).
Informações indicam que Ambelania acida é usada popularmente como expectorante e também como laxativa com a ingestão das frutas. Apesar da espécie ser encontrada nos estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazônas na região Norte, no estado do Maranhão no Nordeste ela é considerada não endêmica a qual possui na literatura poucas informações acerca de sua eficácia farmacógica ou biológica e de seu grau de toxicidade no organis-mo. A fim de estabelecer a toxicidade de novos produtos naturais, muitos ensaios podem ser utilizados, como o ensaio de letalidade com o microcrustáceo Artemia salina, que foi desenvolvido para detectar compostos bioativos em extratos vegetais, mas que também pode ser utilizado para expressar a toxicidade de produtos naturais, como extratos de plantas e de produtos marinhos (FAO, 1986; FORZZA et al., 2010; NUNES, 2008).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
18 19
Adicionalmente, alguns trabalhos mostram uma boa correlação entre o ensaio de le-talidade com larvas de Artemia salina e a citotoxicidade em linhagens de células humanas para esses produtos. Ela é utilizada em testes de toxicidade aguda devido à sua capacidade para formar cistos dormentes, sua praticidade de manuseio e cultivo, por ser um método rápido e barato, além de ser um bioindicador capaz em uma avaliação toxicológica pré-clínica (NUNES, 2008; OLIVEIRA et al., 2008).
OBJETIVO
Diante do exposto, essa pesquisa objetivou a análise fitoquímica, antimicrobiana e citotóxica com Artemia salina (Linnaeus, 1758) do extrato bruto etanólico das folhas de Ambelania acida e buscou expressar de que forma os resultados positivos obtidos por meio dos testes realizados afetam as funções atribuídas a espécie, ressaltando a importância da compreensão dos componentes químicos encontrados na planta.
MATERIAIS E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica do curso de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Amapá.
Coleta do material vegetal
O material vegetal da espécie foi coletado na comunidade de Santa Luzia do Pacuí a 130 km de Macapá no estado do Amapá-Brasil. Onde o mesmo foi posto em uma prensa. Foram coletadas cerca 3 kg das folhas da espécie.
Identificação do material
O material vegetal prensado foi levado ao Herbário do Laboratório de Botânica da Universidade Federal do Amapá-HUFAP para confecção de exsicatas em triplicata e iden-tificação, localizado no bloco de Ciências Biológicas. As exsicatas foram identificadas no Herbário e encontram-se depositadas sob o número de registro 444 pela Curadora Profa. Dra. Wegliane Campelo da Silva Aparício (UNIFAP).
Preparação da amostra e obtenção do extrato
A estabilização, secagem e moagem foram realizadas segundo a metodologia proposta por Falkenberg (2010). As folhas de Ambelania acida, foram inicialmente fragmentadas me-canicamente. Os fragmentos (35 g) foram submetidos a um processo de extração etanólica
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
20
(750 mL) a quente sob refluxo por 45 min., por uma temperatura em torno de 45 ºC, sendo este processo realizado três vezes. Em seguida, o material foi filtrado e o extrato etanólico obtido concentrado em evaporador rotatório a aproximadamente 45oC sob pressão reduzida, em seguida o concentrado ficou ao ar livre para eliminação total do solvente, obtendo-se assim, o Extrato Bruto de Etanólico de suas folhas. (EBEAA).
Análise fitoquímica
Foram investigadas as seguintes classes metabólicas segundo a metodologia proposta por Barbosa (2001): ácidos orgânicos, fenóis, taninos, polissacarídeos,açúcares redutores, flavonoides, alcaloides, esteroides, triterpenóides, saponinas espumídicas, depsídios e depsidonas, purinas e teste para resina.
Ensaio citotóxico
A avaliação citotóxica foi realizada segundo o método de Meyer (1982) adaptado por Nunes (2008) em Artemia salina (Linnaeus, 1758) nas concentrações de 50 μg/mL, 100 μg/mL, 250 μg/mL, 500 μg/mL, 750 μg/mL e 1000 μg/mL, para se obter a LC50.
Ação antibacteriana
A ação antibacteriana foi observada por meio dos métodos de difusão em disco de papel, por hole-plate e por template frente à Escherichia coli (Migula, 1895) Castellani & Chalmers, 1919 (ATCC 25922), Klebsiella pneumoniae (Schroeter, 1886) Trevisan, 1887 (ATCC 13883) e Staphylococcus aureus Rosenbach, 1884 (ATCC 25923) seguindo as metodologias descritas na literatura (ASSIS, 2009; GONÇALVES, 2011; SEQUEIRA, 2009).
RESULTADOS
Análise fitoquímica
Os resultados do estudo fitoquímico revelaram a presença fenóis, taninos, tçúcares redutores, alcalóides, esteroides, triterpenoides e resinas (Tabela 1). Estas classes de me-tabólitos secundários apresentam um amplo espectro de atividades biológicas.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
20 21
Tabela 1. Testes fitoquímicos e respectivos resultados da espécie Ambelania acida.
Classes de metabólitos Resultado Classes de metabólitos Resultado
Ácidos orgânicos Negativo alcaloides Positivo
Fenóis e taninos Positivo Esteróides e triterpenóides Positivo
Polissacarídeos Negativo Resinas Positivo
Açúcares redutores Positivo Depsídio e depsidonas Negativo
Flavonoides Negativo Saponinas espumídicas Negativo
Ensaio citotóxico
Para a avaliação citotóxica o extrato foi usado nas concentrações de 50 µg/mL, 100 µg/mL, 250 µg/mL, 500 µg/mL, 750 µg/mL e 1000 µg/mL, que provocaram mortes de Artemia salina, sendo que o resultado mais viável para sobreviventes foi a LC50< 100 µg/mL. Esta toxicidade que pode estar relacionada como presença de alcaloides, que quando presentes em plantas devem ser considerados potencialmente tóxicos.
Ação antibacteriana
Não foi observada ação inibitória frente às cepas das bactérias utilizadas nos ensaios, mesmo seu extrato bruto apresentando esteróides, triterpenóides e alcaloides que exercem tal ação e outras espécies representantes da mesma família desempenharem ação anti-bacteriana. No entanto, tal resultado pode estar relacionado com a baixa concentração dos metabólitos, visto que foi utilizado o extrato bruto.
DISCUSSÃO
Os resultados do estudo fitoquímico revelaram a presença Fenóis, como citado ante-riormente, onde nos vegetais apresentam ação antibacteriano e antiviral, esses compostos são de extrema importância para a vida e adaptação de vegetais e aliados no combate a doenças em humanos e animais. Fenóis também podem apresentar ação antibacteriana, porém não foi observada inibição usando o extrato bruto etanólico de Ambelania acida nas concentrações testadas. Os compostos fenólicos são incluídos na catego ria de interruptores de radicais livres, sendo muito eficientes na prevenção da auto oxidação, isso explica sua ação hepatoprotetora e antioxidante (FUMAGALI, 2008; RODRIGUES, 2010).
Esses compostos pertencem a uma classe que compõe uma grande diversidade de estruturas, simples e complexas, onde possui pelo menos um anel aromático ao qual, ao menos, um hidrogênio é substituído por um grupamento hidroxila. São formados pela rota biogenética da via do ácido chiquímico a partir de carboidratos, ou pela via do acetato-poli-malato que inicia com acetil-coenzima A e malonil-coenzima A. Eles são solúveis em água e
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
22
outros solventes polares. Por possuírem característica ácida pode ser isolado com soluções fracamente básica, como o carbonato de cálcio. Dentre os compostos fenólicos pertencentes ao metabolismo secundário dos vegetais são encontradas estruturas tão variadas quanto à dos ácidos fenólicos, dos derivados de cumarina, dos pigmentos hidrossolúveis das flores, dos frutos e das folhas. Além disso, essa classe de compostos abrange as lignanas e os taninos, polímeros com importantes funções nos vegetais. Ainda, estruturas fenólicas são encontradas fazendo parte de proteínas, alcaloides e terpenóides (CARVALHO, 2010).
Os taninos obtiveram resultados positivos nos testes, são amplamente empregados na medicina tradicional contra diversas moléstias, tais como diarreia, hipertensão arterial, reumatismo, hemorragias, feridas, queimaduras, problemas estomacais, problemas renais, processos inflamatórios, antifúngico, bactericida, antiviral e moluscicida. Acredita-se que as atividades farmacológicas dos taninos são devidas, pelo menos em parte, a três caracte-rísticas gerais que são comuns em maior ou menor grau aos dois grupos de taninos, con-densados e hidrolisados, como complexação com íons metálicos, atividade antioxidante e sequestradora de radicais livres e habilidade de complexar com outras moléculas incluindo macromoléculas tais como proteínas e polissacarídeos (SANTOS, 2010).
A importância de plantas ricas em taninos está ligada às suas propriedades de trans-formar a pele animal em couro. Durante o curtimento são formadas ligações entre as fibras de colágeno na pele animal, a qual adquire resistência a calor, água e abrasivos. Isso ocorre devido sua capacidade de precipitar proteínas, celulose e pectinas. Esse fenômeno confere sua ação no controle de insetos, fungos e bactérias, bem com suas atividades farmacoló-gicas (SANTOS, 2010).
Os testes indicaram a presença de alcaloides, que apresentam ação antitumoral, anes-tésica, antimalárica, antibacteriana e repelente. Os alcaloides são metabólitos comuns na família Apocynaceae, logo são marcadores quimiossistemáticos e pode estar relacionado com a toxicidade do vegetal sendo alvo de diversos estudos. Os alcaloides são compostos nitrogenados farmacologicamente ativos e são encontrados predominantemente em angios-permas, na sua grande maioria, possuem caráter alcalino, com exceções tais como colchi-cina, piperina, oximas e alguns sais quaternários como o cloridrato de laurifolina (CASTRO, 2009; FUMAGALI, 2008; SANTOS, 2010).
Tem sido observado que muitas plantas que produzem alcaloides são evitadas por animais e insetos em sua dieta, isso certamente devido à sua toxicidade ou ao fato de a maioria dos alcaloides ter gosto amargo. A presença de alcaloides pode ser assinalada em ampla gama de atividades biológicas investigadas. Assim, pode-se citar ametina (amebicida e emético), atropina, hiosciamina e escopolamina (anticolinérgico), reserpina e protove-ratrina A (anti-hipertensivo), quinina (antimalárico), camptotecia, vimblastina e vincristina
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
22 23
(antitumorais), codeína e noscapina (antitussígeno), morfina (hipinoanalgésico), quinidina (depressor cardíaco), cafeína (estimulante do SNC), teobromina e teofilina (diuréticos), col-chicina (tratamento da gota) entre outros (SANTOS, 2010).
Os alcaloides são constituintes muito comuns nessa família, sendo já demonstrado em isolamentos. Biologicamente, alcaloides agem provavelmente nos sistemas neurotrans-missores opiáceos, GABAérgicos, colinérgicos, muscarínicos, serotoninérgicos e dopami-nérgicos. Por isso, são empregados largamente como hipotensor arterial, simpatolítico, diurético, vasoconstrictor periférico, estimulante respiratório, anestésico, agente bloqueador adrenérgico, espasmogênico intestinal, sedativo e relaxante do músculo esquelético. Além disso, são responsáveis pelos efeitos alucinógenos do tabaco, de bebidas e rapés utilizados por nativos da Amazônia, bem como pelas propriedades sedativas. Outros alcaloides são parasiticidas e apresentam citotoxicidade em células cancerosas. Testes contra a doença de Chagas mostram que esses alcaloides são ativos contra epimastigotos de Tripanosoma cruzi Chagas, 1909 (LIMA, 2011; PEREIRA, 2007).
Esteroides e triterpenóides apresentaram teste positivo, estes apresentam ação anti--inflamatória, antibacteriana e analgésica. Os esteróides formam uma classe de me tabólitos secundários formados por descar boxilações de precursores que se originam a partir dos triter-penos, isso pode estar relacionado com diversas ações farmacológicas (RODRIGUES, 2010).
Os triterpenos são um dos grupos de terpenos mais estruturalmente diversifica-dos. Os terpenos constituem uma ampla classe de produtos naturais, que possuem muitas funções no reino vegetal e na saúde humana. Esta classe de substâncias defende muitas espécies de plantas, animais e microrganismos contra predadores, patógenos e competi-dores, e estão envolvidas na transmissão de mensagens sobre a presença de alimento e organismos nocivos. No entanto, o papel biológico de diversos terpenóides ainda não é co-nhecido. Nessa classe, existem mais de 40 mil estruturas diferentes, com vários compostos que servem como importantes agentes farmacêuticos (DOMINGO, 2009; GERSHENZON, 2007; ROBERTS, 2007).
O pirofosfato de isopentenila (IPP) e o seu isômero pirofosfato de λ,λ-dimetilalila (DMAPP), também chamados de unidades de isopreno, são os precursores dos terpenoi-des. Os diversos tipos de terpenoides são formados pela condensação de moléculas de IPP por meio de enzimas conhecidas como preniltransferases (ROBERTS, 2007).
A maioria dos triterpenos são tetracíclicos do tipo 6-6-6-5 e, principalmente, pentací-clicos dos tipos 6-6-6-6-5 e 6-6-6-6-6, mas podendo ocorrer acíclicos, monocíclicos, bicícli-cos, tricíclicos e hexacíclicos, contendo acima de 100 esqueletos descritos como produtos naturais. O 2,3-epoxiesqualeno é provavelmente o precursor da maioria dos triterpenoides 3ƒÀ-hidroxilados (XU, 2004).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
24
Os triterpenos pentacíclicos são de grande interesse devido às diversas atividades biológicas apresentadas, servindo como candidatos ou protótipos de novos medicamentos. Estudos com a friedelina indicaram a atividade antiproliferativa, proapoptótica, antiinflamatória, analgésica e antipirética. Contudo, não foi observado a formação de halo nas amostras mi-crobianas nesta pesquisa nas concentrações testadas (ALVARENGA, 2006; ANTONISAMY, 2011; MARTUCCIELLO, 2010).
O provável gatilho da apoptose, parece ser a inibição de enzimas metabólicas do DNA, no entanto, isso não é claramente estabelecido. Independentemente disto, esta abordagem molecular pode ser utilizada como ferramenta na inibição do crescimento tumoral, seja como agente antitumoral ou como adjuvante da terapia antitumoral. Cisplatina, bleomicina (A2 e B2), neocarzinostatina e agentes monofuncionais alquilantes do DNA podem ser potencializados com o uso de inibidores de enzimas metabólicas do DNA. Eles são de grande interesse devido às diversas atividades biológicas apresentadas, servindo como candidatos ou protótipos de novos fármacos. Devido a todas essas características, em poucos anos, inúmeros estudos têm sido dedicados aos triterpenos (SILVA, 2014; VECHIA, 2009).
As resinas também apresentaram teste positivo, possuem ação fungicida, inseticida e bactericida descrita na literatura. As três famílias de moléculas principais são geralmente consideradas: os compostos fenólicos, terpênicos e esteróides, e os alcaloides. Estas clas-ses de metabólitos são muito comuns na família, os quais foram confirmados nesta análise preliminar qualitativa (FENNER, 2006; FUMAGALI, 2008).
CONCLUSÃO
Os primeiros estudos com esta espécie foram satisfatórios, sobretudo pelos diversos resultados positivos nos testes fitoquímicos preliminares apresentando os principais meta-bólitos secundários presentes na espécie e a mensuração inicial de sua toxicidade. Desta forma, pode-se correlacionar algumas atividades biológicas com as atividades dos metabólitos presentes no extrato bruto etanólico, descritos na literatura, comprovando que esta espécie apresenta grande potencial farmacoterapêutico.
A grande variabilidade na composição química dos metabólitos secundários possivel-mente deve-se às suas diferentes procedências e condições edafoclimáticas, pois o conteúdo final dessas substâncias é influenciado por diversos fatores, como o local e o horário de coleta, processos de estabilização e condições de estocagem, sazonalidade e entre outros.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
24 25
AGRADECIMENTOS
Agradecimento ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão de bolsas. Ao curso de Farmácia, da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) para com o Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, coordenado pela Dra. Sheylla Susan Moreira. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
FINANCIAMENTO
Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC), bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET). Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
REFERÊNCIAS
1. ALVARENGA, E.; FERRO, E. A. Bioactive triterpenes and related compounds from Celastra-ceae. Studies in Natural Products Chemistry, v. 33, p. 239-307, 2006.
2. ANTONISAM, Y. P.; DURAIPANDIYAN, V.; IGNACIMUTHU, S. Anti-inflammatory, analgesic and antipyretic effects of friedelin isolated from Azimatetracantha Lam. in mouse and rat models. Journal of Pharmacy and Pharmacological, v. 63, p. 1070-1077, 2011.
3. ASSIS, C. M.; MORENO, P. R. H.; YOUNG, M. C. M.; CAMPOS, I. P. A.; SUFFREDINI, I. B. Isolamento e avaliação da atividade biológica dos alcaloides majoritários de Tabernaemontana angulata Mart. Ex Müll. Arg., Apocynaceae. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 19, p. 626-631, 2009.
4. BARBOSA, W. L. R.; QUIGNARD, E.; TAVARES, I. C. C.; PINTO, L. N.; OLIVEIRA, F. Q.; OLI-VEIRA, R. M. Manual para análise fitoquímica e cromatográfica de extratos vegetais. Revista Científica da UFPA, v. 4, p. 1-19, 2001.
5. BOSCOLO, O. H.; VALLE, L. S. Plantas de uso medicinal em Quissamã, Série Botânica, v. 63, p. 263-277, 2008.
6. CALIXTO. J. B.; JARBAS, M. S. Desenvolvimento de Medicamentos no Brasil: Desafios. Gazeta Médica da Bahia, v. 78, p. 98-106, 2008.
7. CASTRO LS, PERAZZO FF, MAISTRO EL. Genotoxicity testing of Ambelania occidentalis (Apocynaceae) leaf extract in vivo. Genetics and Molecular Research, v. 8, p. 440-447, 2009.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
26
8. CORNELIUS, M. T. F. Atividade Biologica e Identificação dos Constituintes Químicos das Isolados das Espécies Vegetais: Plumeria lancifolia MULL. ARG. (Apocynaceae) e Solanum crinitum LAM. (Solanaceae) e Identificação da Acetanilida Exsudada por Xenohyla truncata (Izecksohn, 1998). 2006, 117f. Tese de Doutorado, Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2006.
9. COSTA, M. P.; MAGALHÃES, N. S. S.; GOMES, F. E. S.; MACIEL, M. A. M. Uma revisão das atividades biológicas da trans-desidrocrotonina, um produto natural obtido de Croton cajucara, Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 17, p. 275-286, 2007.
10. DANTAS, I. C.; GUIMARÃES, F. R. Plantas medicinais comercializadas no município de Cam-pina Grande, PB. Revista Biologia e Farmácia, v. 1, p. 1-13, 2007.
11. DOMINGO, V.; ARTEAGA, J. F.; MORAL, J. F. Q.; BARRERO, A.F. Unusually cyclized triter-penes: occurrence, biosynthesis and chemical synthesis. Natural Product Reports, v. 26, p. 115-134, 2009.
12. FALKENBERG, M. B.; SANTOS, R. I.; SIMÕES, C. M. O. Introdução à análise fitoquímica. In: SIMÕES, C. M. O. (Org.). Farmacognosia da planta ao medicamento. 6. ed. Porto Alegre: UFSC, 2010, p. 229-231.
13. FAO. Food fruit bearing forest species 3 exemples from latin America. 1986, FAO.
14. FENNER, R.; BETTI, A. H.; MENTZ, L. A.; RATES, S. M. K. Plantas utilizadas na medicina popular brasileira com potencial atividade antifúngica. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 42, p. 369-394, 2006.
15. FORZZA, R. C.; JAKOBSSON, A. Catálogo de plantas e fungos do Brasil. Rio de Janeiro: Estúdio Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2010.
16. FUMAGALI, E.; GONÇALVES, R. A. C.; MACHADO, M. F. P. S.; VIDOTI, G. J.; OLIVEIRA, A. J. B. Produção de metabólitos secundários em cultura de células e tecidos e plantas: o exem-plo dos gêneros Tabernaemontana e Aspidosperma. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 18, p. 627-641, 2008.
17. GERSHENZON, J.; DUDAREVA, N. The function of terpene natural products in the natural world. Nature Chemical Biology, v. 3, p. 408-414, 2007.
18. GONÇALVES, D. M.; ARAÚJO, J. H. B.; FRANCISCO, M. S.; COELHO, M. A.; FRANCO, J. M. Avaliação da atividade antimicrobiana in vitro do extrato de Tabernaemontana catharinensis A. DC. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 13, p. 197-202, 2011.
19. GRENAND F. Nommer son univers: Pourquoi Comment Exemples parmi des societies ama-zoniennes. In: Prat D, Raynal RA, Roguenant A (Org). Peut-on classer le vivant Linné et lasystématiqueaujourd’hui. Paris: Belin, p. 119-130.
20. LIMA, L. A. R. S.; JOHANN, S.; CISALPINO, P. S.; PIMENTA, L. P. S.; BOAVENTURA, M. A. D. Antifungal activity of 9-hydroxy-folianin and sucrose octaacetate from the seeds of Annona cornifolia A. St. -Hil. Annonaceae). Food Research International, v. 44, p. 2283–2288, 2011.
21. LORENZI, H.; SOUZA, V. C. Botânica sistemática. Nova Odessa: Inst. Plantarum, 2008.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
26 27
22. NUNES, P. X.; MESQUITA, R. F.; SILVA, D. A.; LIRA, D. P.; COSTA, V. C. O.; SILVA, M. V. B.; XAVIER, A. L.; DINIZ, M. F. F. M.; AGRA, M. F. Constituintes químicos, avaliação das atividades citotóxica e antioxidante de Mimosa paraibana Barneby (Mimosaceae). Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 18, p. 718-723, 2008.
23. MARTUCCIELLO, S.; BALESTRIERI, M. L.; FELICE, F.; ESTEVAM, C. S.; SANT’ANA, A. E.; PIZZA, C.; PIACENTE, S. Effects of triterpene derivatives from Maytenus rigida on VEG-F-induced Kaposi’s sarcoma cell proliferation. Chemico-biological Interactions, v. 183, p. 450-454, 2010.
24. OLIVEIRA, D. A. F.; BARBOSA, R. S. S.; OKUYAMA, C. E. Avaliação toxicológica de compostos bioativos e insumos farmacêuticos. Anais... I Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica UNIBAN. São Paulo, Brasil, 2008.
25. PEREIRA, M. M.; JÁCOME, R. L. R. P.; ALCÂNTARA, A. F. C.; ALVES, R. B.; RASLAN, D. S. Indole alkaloids from species of the Aspidosperma (Apocynaceae). Química Nova, v. 30, p. 970-983, 2007.
26. ROBERTS, S. C. Production and engineering of terpenoids in plant cell culture. Nature Che-mical Biology, v. 3, p. 387-395, 2007.
27. RODRIGUES, K. A. F.; DIAS, C. N.; FLORÊNCIO, J. C.; VILANOVA, C. M.; GONÇALVES, J. R. S.; COUTINHO-MORAES, D. F. Prospecção fitoquímica e atividade moluscicida de folhas de Momordica charantia L. Caderno de Pesquisa, v. 17, p. 69-77, 2010.
28. RODRÍGUEZ, A. M.; CAMARGO, J. R.; GARCÍA, F. J. B. Actividad in vitro de lamezcla de al-caloides de Ervatamia coronária (Jacq) Staff. Apocynaceae sobre amastigotes de Leishmania braziliensis. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 18, p. 350-355, 2008.
29. CARVALHO, J. C. T.; GOSMANN, G.; SCHENKEL, E. P.; 2010, Fenóis simples e heterosídi-cos.In: Simões CMO (Org). Farmacognosia da planta ao medicamento.6 ed. Porto Alegre: UFSC, p. 519-535.
30. SANTOS, S. C.; MELLO, J. C. P. taninos. In: SIMÕES, C. M. O. (Org). Farmacognosia da planta ao medicamento. 2010, 6 ed. Porto Alegre: UFSC, p. 615-656.
31. SANTOS, S. C.; MELLO, J. C. alcaloides. In: SIMÕES, C. M. O. (Org). Farmacognosia da planta ao medicamento. 2010, 6 ed. Porto Alegre: UFSC, p. 765-791.
32. SEQUEIRA, B. J.; VITAL, M. J. S.; POHLIT, A. M.; PARAROLS, I. C.; CAÚPER, G. S. B. Antibacterial and antifungal activity of extracts and exudates of the Amazonian medicinal tree Himatanthus articulates (Vahl) Woodson (common name: sucuba). Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 10, p. 659-661, 2009.
33. SILVA, F. C.; DUARTE, L. P.; VIEIRA FILHO, A. S. Celastráceas: Fontes de Triterpenos Penta-cíclicos com Potencial Atividade Biológica. Revista Virtual de Química, v. 6, p. 000:000, 2014.
34. SIMÕES, C. M. O. et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 3. ed. Porto Alegre/ Florianópolis: Editora da Universidade UFRGS/ Editora da UFSC, 2001.
35. SUFFREDINI, I. B.; BACCHI, E. M.; SAKUDA, T. M. K.; OHARA, M. T.; YOUNES, R. N.; VARELLA A. D. Antibacterial activity of Apocynaceae extracts and MIC of Tabernaemontana angulatas tem organic extract. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, v. 38, p. 89-94, 2002.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
28
36. VECHIA, L. D.; GNOATTO, S. C. B.; GOSMANN, G. Derivados oleananos e ursanos e sua importância na descoberta de novos fármacos com atividade antitumoral, anti-inflamatória e antioxidante. Química Nova, v. 32, p. 1245-1252, 2009.
37. VEIGA JR, F. V.; PINTO, A. C.; MACIEL, M. A. M. Plantas Medicinais: Cura Segura? Química Nova, v. 28, p. 519-528, 2005.
38. XU, R.; FAZIO, G. C.; MATSUDA, S. P. T. On the origins of triterpenoid skeletal diversity. Phytochemistry, v. 65, p. 261-291, 2004.
02Análise preliminar fitoquímica do extrato bruto das folhas de Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott (1834)
Mayra Araújo da Cunha LeiteUNIFAP
Alana Carine Sobrinho SoaresUEAP
Luciedi de Cássia Leôncio TostesIEPA
Alzira Marques OliveiraUNIFAP
Maryele Ferreira CantuáriaIFAP
Jorge Breno Palheta OrellanaUNB
Bruna Bárbara Maciel Amoras Orellana
Ana Luzia Ferreira FariasUEAP
Patrick de Castro CantuáriaIEPA
Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaUNIFAP
10.37885/210303742
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
30
Palavras-chave: Plantas Medicinais, Propriedades F i toquímicas, Rabo-de-Gato, Samambaia Paulista.
RESUMO
Objetivo: o objetivo desta pesquisa foi analisar as propriedades fitoquímicas do extrato bruto das folhas de Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott (1834). Metodologia: Para o desenvolvimento das análises fitoquímicas foram realizados inicialmente a coleta do vege-tal, preparação da exsicata, lavagem, secagem e trituração. Em seguida, a extração pelo método de percolação e por fim, as análises fitoquímicas. Resultados: Nos resultados preliminares fitoquímicos do extrato bruto das folhas de Nephrolepis pectinata foi obser-vado a presença de açúcares redutores (fundamentais no processamento de alimentos), fenóis/taninos (taninos catéquinos) que são adstringentes, cicatrizantes e vasoconstritores, e catequinas (antioxidante, redutora de gordura corporal). Conclusão: Os resultados preliminares fitoquímicos do extrato bruto das folhas de Nephrolepis pectinata apresen-taram presença de açúcares redutores, fenóis/taninos (taninos catéquinos) e catequinas.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
30 31
INTRODUÇÃO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 80% da população global utiliza plantas medicinais como principal recurso no atendimento básico de saúde, seja sob a forma in natura (por opção ou por ser a única alternativa disponível) ou em sistemas de medicina que empregam plantas processadas em formulações medicamentosas como a medicina chinesa (YUNES; PEDROSA; CECHINEL FILHO, 2001).
O governo brasileiro tem incentivado a população a utilizar produtos naturais com o objetivo de valorizar o conhecimento popular. Por exemplo, a criação da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que tem o propósito de garantir à população brasi-leira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos, promovendo assim o uso sustentável da biodiversidade associada ao desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional (BRASIL, 2006).
Apesar dos benefícios observados, muitas reações tóxicas têm sido associadas às plan-tas. Neste sentido são necessários estudos criteriosos relativos a sua utilização. Diferentes autores têm apontado a importância dos estudos químicos e farmacológicos em várias espécies vegetais em virtude da intensa produção de metabólitos secundários que podem ser medicinais ou tóxicos (COSTALONGA, 2009; MANETTI et al., 2009; ZUCHETTO, 2014; CAMPOS et al., 2016).
As pteridófitas são plantas criptógamas vasculares com caule, raiz e folhas (estes últi-mos ausentes em psilotales), porém sem flores, frutos ousementes, sendo que a reprodução destas ocorre por meio de esporos (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2007).
Além da sua importância biológica, as pteridófitas têm aplicações diversas, uma vez que delas podem ser extraídas substâncias que são utilizadas como medicamentos e tam-bém nas indústrias de alimentos e cosméticos, como açúcares, proteínas e óleos essenciais (BITTENCOURT; DALLA CORTE; SANQUETTA, 2004). Na medicina popular cerca de 220 espécies são utilizadas, sendo que aproximadamente 60 espécies são usadas no Brasil (BARROS; ANDRADE, 1997). Na Amazônia, o principal uso é medicinal. Já foram registra-dos usos para curar diarreia, gripes, dores no estômago, corpo, dente, rins, para cicatrizar feridas, desinchar pancadas e também para uso veterinário (ZUQUIM et al., 2008).
O gênero Nephrolepis Schott (1834) é tropical e subtropical, com aproximadamente 25-30 espécies. Sete espécies são nativas das Américas e outras foram introduzidas na região (MICKEL; BEITEL, 1988; SAKAGAMI, 2006). No Brasil, o gênero encontra-se composto por nove espécies que se distribuem pelo país inteiro (LOURENÇO, 2012). São plantas terrícolas, epífitas ou rupícolas. Caule ereto a subereto, escamoso (SAKAGAMI, 2006).
A Nephrolepis pectinata pertencente à família Davalliaceae (Frank) Schomb (1849) é co-nhecida popularmente como samambaia paulista, escadinha-do-céu, rabo-de-gato (SANTOS
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
32
et al., 2004). Esta espécie se distribui geograficamente pelo Sul do México, Mesoamérica, Antilhas, Colômbia, Venezuela, Bolívia Peru e Brasil (ROCHA, 2008). É uma pteridófita nativa de diversas áreas, principalmente tropical, e apresenta uma altura de 30 a 40 centímetros. Adapta-se a todas as estações, é herbácea, rizomatosa, possui caule subterrâneo, apresenta folhagem densa, cresce em meio úmidos com sombra e calor, porém apresenta resistência a baixas temperaturas. A Nephrolepis pectinata é uma planta ornamental muito indicada para forrações de muros e composição de buquês com flores e residências em geral (JASCONE; MIGUEL; PISSINATTI, 2008; PADRO, 2005).
De acordo com a literatura, os flavonoides das samambaias são primariamente res-tritos a quatro principais grupos: flavonóis, glicosilflavonas, flavonas e flavanonas. Outros flavonoides também são encontrados nas samambaias, porém esporadicamente, como antocianinas, xantonas e as biflavonas (WALLACE, 1989).
As samambaias são utilizadas na medicina popular para o tratamento de picadas de cobra (14 espécies), sendo que as mais utilizadas são: Nephrolepis pectinata, Trichomanes membranaceum L. (1753), Selaginella praestans Alston (1981) ou Adiantum obliquum Willd. (1810), sendo que este último é usado pelos índios Chácobo da Bolívia para tratar diarreia e reumatismo (BOOM, 1985). Na região amazônica, as samambaias são utilizadas em rituais religiosos por povos tradicionais, sendo empregadas em banhos de felicidade tanto nas práticas ritualísticas indígenas quanto em cultos afro-brasileiros (TEIXEIRA et al., 2015).
OBJETIVO
Analisar as propriedades fitoquímicas do extrato bruto das folhas de Nephrolepis pec-tinata e correlacionar com as atividades encontradas na literatura dos metabólitos secun-dários, visto que poucos trabalhos descrevem o potencial farmacológico das samambaias.
MÉTODOS
Material vegetal
A espécie vegetal Nephrolepis pectinata foi coletada no Município de Macapá, no bairro Zerão. Sendo que alguns ramos foram utilizados para a preparação das exsicatas e o restante foi utilizado para os processos e métodos analíticos em laboratório. A obtenção do extrato, bem como os testes fitoquímicos foram realizados no Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
32 33
Preparação, secagem, moagem, extração e obtenção do extrato seco
Os ramos de samambaia foram lavados com água corrente. Em seguida, foi tirado o excesso de umidade utilizando jornal e, por conseguinte, foi realizada a separação das folhas do caule da planta e colocados para secar. As folhas foram colocadas em estufa de circulação de ar (45 ºC) para desidratação. Após a secagem foi realizado o processo de trituração, até chegar a partículas bem menores, aumentando a superfície de contato e fa-cilitando a extração. Em seguida, foi realizada a extração, usando 70 g das folhas trituradas com 1.300 mL de álcool etílico 96% (EtOH). O procedimento foi realizado em duplicata. Para a eliminação do solvente foi utilizado o rotaevaporador, com temperatura em média de 45ºC e rotação em 60-70 rpm.
Análises fitoquímicos preliminares
Os testes fitoquímicos realizados foram: Ácidos orgânicos, açúcares redutores, alcaloi-des, catequinas, fenóis e taninos, flavonoides, saponinas, polissacarídeos e purinas. As aná-lises seguiram as metodologias descritas na Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 2010) com algumas adaptações.
Testes para ácidos orgânicos
Na pesquisa de ácidos orgânicos cerca de 3 mg do extrato seco foram dissolvidos em 5 mL de água destilada e posteriormente filtrado. Foi transferido 2 mL para um tubo de ensaio e adicionado gotas do Reativo de Pascová, sendo a descoloração do reativo indicativo de reação positiva.
Testes para açúcares redutores
Na pesquisa de açúcares redutores no extrato seco das folhas de Nephrolepis pectinata foram dissolvidos cerca de 3 mg de extrato em 5 mL de água destilada, a solução foi filtrada e em seguida adicionado ao filtrado 2 mL dos reativos FEHLING A e FEHLING B. Posteriormente foi aquecido durante 5 minutos em banho-maria. A reação seria positiva se houvesse a for-mação de um precipitado vermelho tijolo.
Testes para alcaloides
Para o teste de alcaloides, diluiu-se cerca de 3 mg de extrato seco em 5 mL de ácido clorídrico (HCl) concentrado a 5%. A solução foi dividida em três tubos de ensaios, sendo cada um contendo 1 mL de extrato preparado. Foi filtrado e separado em 3 tubos de ensaio
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
34
e acrescentado 6 gotas dos reativos de Mayer, Dragendorff e Bouchardat, separadamente, em cada tubo de ensaio.
Testes para catequinas
Para a análise de catequinas foram utilizados cerca de 3 mg de extrato seco dissolvido em 3 mL de metanol. Um palito de fósforo foi embebedado na solução e evaporado em tem-peratura ambiente até ficar seco, depois foi umedecido em HCl concentrado, e em seguida seco em uma chama forte. O aparecimento de cor vermelha indica a presença de catequinas.
Testes para fenóis e taninos
O extrato seco (3 mg) foi dissolvido em 5 mL de água destilada, em seguida filtrado e adicionado 1 a 2 gotas de solução alcoólica de FeCl3 a 1%. Sendo que a coloração inicial entre azul e vermelho indica a presença de fenóis, quando comparado ao teste em branco, e precipitados escuro de tonalidade azul (presença de taninos pirogálicos) e verde (presença de taninos catéquicos).
Testes para flavonoides
O extrato seco (3 mg) foi dissolvido em 10 mL de metanol, em seguida a solução foi filtrada e foi adicionado 15 gotas de HCl concentrado e algumas raspas de Magnésio. Sendo o surgimento de coloração rósea atribuído ao resultado positivo.
Teste para saponina
Para o teste de saponinas foram utilizados 3 mg do extrato seco e água destilada. O mé-todo utilizado foi de saponina espumídica, onde foram dissolvidos 3 mg de extrato seco em 5 mL de água destilada para solubilização, e completado o volume para 10 mL (qsp). Após este procedimento, a solução foi agitada vigorosamente para formação de espuma e deixada em repouso por um período de 2 minutos. Se a camada de espuma permanecer estável por mais de meia hora, o resultado é considerado positivo para saponina espumídica.
Teste para polissacarídeo
No teste de polissacarídeos cerca de 3 mg de extrato seco foi dissolvido em 5 mL de água destilada. Após a dissolução total do extrato na água, o mesmo foi filtrado e adicionado a ele 2 gotas do reagente Lugol. O aparecimento de coloração azul indica resultado positivo.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
34 35
Teste purinas
Para detecção de purinas utilizou-se uma cápsula de porcelana onde foi depositado alguns miligramas do extrato seco e adicionado em seguida 3 gotas de HCl 2N e duas gotas de H2O2 a 30%, sendo em seguida evaporado em banho-maria, devendo formar um resíduo corado de vermelho, onde seria adicionado 3 gotas de NH4OH 6N. O surgimento de colo-ração violeta indica reação positiva.
RESULTADOS
A partir das análises fitoquímicas realizadas com o extrato bruto etanólico de Nephrolepis pectinata obteve-se resultado positivo para açúcares redutores, fenóis/taninos (taninos ca-téquinos) e catequinas. Para os demais testes o resultado foi negativo (Tabela 1).
Tabela 1. Perfil fitoquímico qualitativo do extrato bruto etanólico de Nephrolepis pectinata.
Classe dos metabólitos secundários Resultados
ácidos orgânicos -
açúcares redutores +
alcaloides -
catequinas +
fenóis/Taninos +
flavonoides -
saponinas -
polissacarídeos -
purinas -
DISCUSSÃO
Os testes fitoquímicos preliminares das folhas de Nephrolepis pectinata apresenta-ram resultados positivos para açúcares redutores. Esses metabólitos são fundamentais no processamento de alimentos, especialmente se o produto alimentício contém proteína e se for aquecido durante seu preparo, processamento ou conservação. Açúcares redutores são assim denominados por possuírem capacidade de se oxidarem na presença de agentes oxidantes em soluções alcalinas (SILVA et al., 2003). Dentre os açúcares redutores estão a glicose e a frutose. O primeiro atua no sistema nervoso central suprindo energia e a sua regulação intestinal protege o organismo em patologias como a diabetes tipo 2, obesidade e síndrome metabólica, já o segundo quando ingerido de forma moderada através de alimentos, tem efeitos benéficos a partir de sua utilização como fonte de energia (BARREIROS et al., 2005; ARAÚJO; MARTEL, 2009).
Outro metabólito que apresentou resultado positivo foi a catequina que tem como efeito a redução de gordura corporal baseado no metabolismo dos lipídeos. Elas estão presentes
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
36
também no chá verde (LAMARÃO; FIALHO, 2009). Sua atividade antiulcerogênica deve--se, primordialmente, aos taninos e derivados da catequina. Os derivados da catequina são potentes antioxidantes (mais potentes que a vitamina C ou E para inibir a oxidação in vitro), além de exibirem atividade sobre diferentes radicais livres, tais como o radical superóxido ou peróxido. A atividade antioxidante dos derivados da catequina é maior sobre o tubo di-gestivo, inibindo a lesão de células da mucosa por radicais livres gerados durante a digestão (OLIVEIRA; CUNHA; COLAÇO, 2009).
As análises fitoquímicas também apresentaram resultados positivos para taninos. Eles possuem propriedades adstringentes, cicatrizantes e vasoconstritoras (LIMA, 2006). Por via interna exercem efeito antidiarreico e antisséptico; por via externa impermeabilizam as camadas mais expostas da pele e mucosas, protegendo assim as camadas subjacentes (BRUNETON, 1991). Os taninos também são utilizados na indústria têxtil, como no cur-timento de couro, além de contribuírem sensação adstringente de vinho e chás no ramo alimentício (SIMÕES, 2010).
Os mecanismos de ações dos taninos estão relacionados a três fatores: habilidade de complexação com moléculas e também com macromoléculas (proteínas e polissaca-rídeos); atividade antioxidante e sequestrante de radicais livres e complexação com íons metálicos, como ferro, manganês, cobre, alumínio, cálcio, entre outros (SANTOS; MELLO, 2007). Em processos de cura de feridas, queimaduras e inflamações, auxiliam formando uma camada protetora (complexo tanino-proteína e/ou polissacarídeo) sobre tecidos epiteliais lesionados podendo, logo, abaixo dessa camada o processo curativo ocorrer naturalmente (MONTEIRO, 2005; SIMÕES, 2010).
CONCLUSÃO
A fim de que seu uso seja efetivado da forma mais viável e saudável possível o estudo da espécie N. pectinata é de grande relevância para a área da saúde e para as pessoas que já utilizam esse recurso terapêutico. Dessa maneira, os testes fitoquímicos preliminares realizados a partir do Extrato Bruto Etanólico (EBE) das folhas da planta apresentaram po-sitividade para alguns metabólitos secundários, os quais são responsáveis não apenas pela proteção e adequação da planta, como também em atividades biológicas no corpo humano, como tratamento ou amenização de afecções. Os testes revelaram metabólitos correspon-dentes à atividade antioxidante, anti-inflamatória, antidiarreica, antisséptica, antiulcerogênica, entre outras já descritas na literatura e no conhecimento popular. No entanto é necessário realizar pesquisas e testes aprofundados da espécie em questão para conhecimento mais claro dos seus benefícios e malefícios à saúde.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
36 37
AGRADECIMENTOS
Agradecimento pela concessão da Bolsa pelo Programa de Educação Tutorial (SESu/MEC/FNDE), ao curso de Farmácia, da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) para com o Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, coordenado pela Dra. Sheylla Susan Moreira. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
FINANCIAMENTO
Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC), bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET), Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
REFERÊNCIAS
1. ARAÚJO, J. R.; MARTEL, F. Regulação da Absorção Intestinal de Glicose: Uma Breve Revisão. Arquivos de Medicina, Portugal, v. 23, n. 2, p. 35-43, 2009.
2. ASLTON, A. H. G. Selaginella praestans. Bulletin of the British Museum (Natural History), Botany 9 - 260. 1981.
3. BARREIROS, C. R.; BOSSOLAN, G.; TRINDADE, P. E. C. Frutose em humanos: efeitos me-tabólicos, utilização clínica e erros inatos associados. Revista Nutrição, Campinas, v. 18, n. 3, p. 377-389, 2005.
4. BARROS, I. C. L.; ANDRADE, L. H. C. Pteridófitas medicinais (samambaias, avencas e plantas afins). Universitária da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 1997.
5. BITTENCOURT, S.; CORTE, D. A. P.; SANQUETTA, C. R. Estrutura da Comunidade de Pte-ridophyta em uma Floresta Ombrófila Mista, Sul do Paraná, Brasil. Silva Lusitana, Paraná, n. 2, p. 243-254, 2004.
6. BOOM, B. M. 1985. Ethnopteridology of the Chácobo Indians in Amazonian Bolivia. American Fern Journal, New York, p. 19-21, 1985.
7. BRASIL. Decreto nº 5813, de 22 de junho de 2006. Aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e dá outras providências. Diário Oficial da União, 2006.
8. BRUNETON, J.; FRESNO, Á. V. Elementos de Fitoquímica y de Farmacognosia. Espanha: Acribia, 1991.
9. CAMPOS, S. C.; et al. Toxicidade de espécies vegetais. Revista Brasileira de Plantas Me-dicinais, Campinas, v. 18, n. 1, p. 373-382, 2016.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
38
10. COSTALONGA, S. A. Avaliação dos efeitos alelopáticos e mutagênicos de formas extra-tivas de Passiflora edulis Sims por meio do bioensaio Allium cepa, Vitória (Universidade Federal do Espírito Santo), 2009.
11. JASCONE, C. E. S; MIGUEL, J. R.; PISSINATTI, A. Padrão de distribuição geográfica das espécies de Pteridophyta ocorrentes da Estação de Ecologia Estadual do paraíso Rio de Janeiro, Brasil. Saúde & Ambiente em Revista, Duque de Caxias, v. 3, n. 1, p 86-95, 2008.
12. LAMARÃO, C. R.; FIALHO, E. Aspectos funcionais das catequinas do chá verde no metabolismo celular e sua relação com a redução da gordura corporal. Revista de nutrição, Campinas, v. 22, n. 2, p. 257-269, 2009.
13. LIMA, R. C. Atividade cicatrizante e avaliação toxicológica pré-clínica do fitoterápico sanativo, Recife, 2006.
14. LINNAEUS, C. V. Trichomanes membranaceum. Species Plantarum. 1753
15. MANETTI, M. L.; et al. Metabólitos Secundários da Família Bromeliaceae. Química Nova, Paraná, v. 32, n. 7, p. 1885-1897, 2009.
16. MICKEL, J. T.; BEITEL, J. M. Pteridophyte Flora de Oaxaca, Mexico. Memoirs of the New York Botanical Garden, 1988.
17. MONTEIRO, M. J. et al. Taninos: Uma abordagem da química à Ecologia. Química Nova, São Paulo, v. 28, n. 5, p. 892-896, 2005.
18. OLIVEIRA, S. R.; CUNHA, C. S.; COLAÇO, W. Revisão da Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek, Celastraceae. Contribuição ao estudo das propriedades farmacológicas. Revista Brasileira de Farmacognosia, João Pessoa, v. 19, n. 2, p. 650-659, 2009.
19. PADRO, J. Flora da Reserva Ducke, Amazonas, Brasil: Pterydophyta-Davalliaceae. Rodri-guésia, Amazonas, v. 56, n. 86, p. 38-42, 2005.
20. RAVEN, P.H.; EVERT, R.F.; EICHHORN, S. E. Biologia Vegetal, 7. ed. Rio de Janeiro: Gua-nabara Koogan, 2007.
21. ROCHA, L. A. M. Inventário de espécies de Pteridófitas de uma mata de galeria em Alto Paraíso, Goiás, Brasil e morfogênese dos gametófitos de Pecluma ptilodon (KUNZE) Price e Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl (Polypodiaceae), Brasília- DF, 2008.
22. SAKAGAMI, CINTHIA RURIKO. Pteridófitas do Parque Ecológico da Klabin, Telêmaco Borba, Paraná, Brasil. In: (Mestrado em Botânica) – Setor de Ciências, Curitiba. Universidade Federal do Paraná, 2006.
23. SANTOS, G. M. et al. Análise florística das pteridófitas do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, Rio de Janeiro, Brasil. Acta Botanica Brasilica, Rio de Janeiro, v. 18, n. 2, p. 271-280, 2004.
24. SANTOS, S. C.; MELLO, J. C. P. Taninos. In: SIMÕES, C. M. O. et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. Porto Alegre: Editora da UFRGS; Florianópolis: Editora da UFSC, 2007. p. 29-43.
25. SCHOMB. M. R. Davalliaceae. Reis. Br.-Guiana 3: 883, 1849.
26. SCHOTT, H. W. Nephrolepis, Genera Filicum 1: ad t. [1-5]. 1834.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
38 39
27. SCHOTT, H. W. Nephrolepis Pectinata, Genera Filicum pl. 3. 1834.
28. SILVA, N. R. et al. Comparação de métodos para a determinação de açúcares redutores e totais em mel. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 23, n. 3, p. 337-341, 2003.
29. SIMÕES, C. M. O. et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6º Ed. Porto Alegre: UFRGS. 1102 p., 2010.
30. TEIXEIRA, G.; PIETROBOM, R. M.; MACIEL, S. Potencial Utilitário de Licófitas e Samambaias: Aplicabilidade ao Contexto Amazônico. Biota Amazônia, Belém, v. 5, n. 1, p. 68-73, 2015.
31. WALLACE, J. W. Chemosystematic implications of flavonoids and C-Glycosylxanthones in “ferns”. Biochemical Systematics and Ecology, Cullowhee, v. 17, n. 2, p. 145-153, 1989.
32. WILLDENOW, C. L. V. Adiantum obliquum. Espécie Plantarum. Editio quarta 5 (1): 429. 1810.
33. YUNES, R. A.; PEDROSA, R. C.; CECHI NEL FILHO, V. Fármacos e fitoterápicos: a necessi-dade do desenvolvimento da indústria de fitoterápicos e fitofármacos no Brasil. Química Nova, v. 24, n. 1, p. 147-152, 2001.
34. ZUCHETTO, M. Contribuição ao estudo fitoquímico e atividades biológicas (alelopática, antioxidante e toxicológica in vitro) de Cyathea atrovirens (Langsd. Et Fisch) Domin, Cyatheaceae. 2014.
35. ZUQUIM, G. et al. Guia de Samambaias e Licófitas da REBIO Uatumã- Amazônia Central. Manaus, 2008.
03Avaliação fitoquímica, microbiológica e citotóxica das folhas Gossypium arboreum L.
Jaryelle Santos de OliveiraUNIFAP
Ana Luzia Ferreira FariasUEAP
Gerlany de Fátima dos SantosUEAP
Patrick de Castro CantuáriaIEPA
Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaUNIFAP
10.37885/210203129
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
41
Palavras-chave: Algodão, Artemia Salina, Ensaio Biológico, Metabólitos Secundá-rios, Toxicidade.
RESUMO
A espécie Gossypium arboreum L., pertence à família Malvaceae, ao gênero Gossypim, com ampla distribuição no mundo, a destaque no Brasil, o algodão, como é popularmen-te conhecida, possui propriedades terapêuticas em suas folhas, flores e frutos, e estes são utilizados pela população para várias enfermidades, principalmente para doenças respiratórias. Objetivo: Realizar a triagem fitoquímica, atividade microbiológica e análise citotóxica do extrato bruto etanólico das folhas dessa espécie. Métodos: Utilizou-se para análise fitoquímica a metodologia analítico-qualitativa descrita por Barbosa et al. (2004), e a microbiológica pelo método de difusão em disco nas concentrações de 25 mg/mL, 50 mg/mL e 100 mg/mL do extrato bruto etanólico. Resultados: Por meio da triagem fitoquí-mica foram identificados alcaloides, fenóis, taninos, saponinas espumídicas, depsídeos e depsidonas, esteroides e triterpenos, estes metabólitos apresentam algumas atividades que se correlacionam com as alegadas pela população. Com a análise citotóxica reali-zada por bioensaio em Artemia salina, foi possível obter a CL50 = 238 µg/mL, indicando que o extrato bruto etanólico apresenta moderada toxicidade. O extrato não apresentou nenhuma inibição frente à Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883), Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e Escherichia coli (ATCC 25922) nas concentrações de 25 mg/mL, 50 mg/mL e 100 mg/mL. Conclusão: Os resultados estão correlacionados com uso popular da espécie, sendo que, a citotoxicidade deverá ser investigada com mais profundidade para que esta espécie seja usada de forma adequada e segura, ou seja, buscando sempre segurança e eficácia na utilização de plantas medicinais.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
42
INTRODUÇÃO
A Gossypium arboreum L., descrita por descrita por Carl Von Linnaeu em 1753, origina-da de região tropical, pertence à família Malvaceae, ao gênero Gossypium L. Muitas espécies da família Malvaceae estão sendo estudas, baseando-se no uso tradicional que a caracteriza com grande potencial fitoterapêutica. Esta família possui distribuição predominantemente pantropical, incluindo cerca de 250 gêneros e 4.200 espécies. No Brasil. ocorrem cerca de 80 gêneros e 400 espécies. A família Malvaceae é uma valiosa fonte matéria prima para ob-tenção de alimentos, bebidas, fármacos, madeira e paisagismo (CARVALHO; GAIAD, 2002).
Estudos etnobotânicos descrevem várias espécies da família Malvaceae que são usadas na medicina popular. Cita-se Sida acuta Burm. f. sendo utilizada como antimalárico, para doenças urinárias e impotência sexual (SINGH et al., 2002; ADEBAYO; KRETTLI, 2011), já Hibiscus sabdariffa L. é usada como diurética, antifúngica, para analgesia erisipela e inchaço (SILVA, 2002; FERREIRA, 2009). Outra espécie descrita é Waltheria indica L. utilizada para tratar pústulas (RUYSSCHAERT et al., 2009). Há ainda o uso de Malva sylvestris L. para o tratamento de asma, roquidão, resfriado, catarro e inflamação (LARDOS, 2006; CARRIÓ et al., 2012). No campo da fitoquímica os metabólitos mais encontrados na família foram flavonoides e esteroides (GOMES et al., 2008; SILVA et al., 2006; GOMES et al., 2011).
O gênero Gossypium L., pertencente à família Malvaceae, apresenta cerca de 50 espé-cies (45 espécies diploides e 5 alelotetraploides), distribuídas, principalmente, na África, Austrália, Peru, México, Arábia e Brasil (SILVA et al., 2010). No âmbito etnobotânicos as es-pécies mais citadas pela população são Gossypium hirsutum L. como antimalárico (CHRISTO et al., 2006; ADEBAYO; KRETTLI, 2011), Gossypium barbadense L. disenteria e analgesia (VALADEAU et al., 2010; ADEBAYO; KRETTLI, 2011) e G. arboreum para problemas res-piratórios (ADEBAYO; KRETTLI, 2011; SILVA, 2002). Ademais, as espécies desse gênero podem conter o gossipol, um aldeído triterpenoide que tem propriedades antitumorais (COYLE et al., 1994) e antimicrobianas (WAAG et al., 1984), caracterizando uma certa resistência da planta para com organismo (BRINK; ACHIGAN-DAKO, 2012).
A espécie G. arboreum L. apresenta diversificado uso pela população, as suas folhas como antimalárico (ADEBAYO; KRETTLI, 2011), antitussígeno, tonsilite, diurético, asma, queimaduras, problemas na circulação, gastrite e micoses. Suas flores para o tratamento de anemias, hemorragias, disenteria e expectorante. E o fruto é utilizado no combate de micoses (SILVA, 2002), e ainda, para a retenção da placenta (WONDIMU et al., 2007). No entanto, não foram encontrados estudos mais específicos no âmbito fitoquímico e farmacológico.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
42 43
OBJETIVO
Identificar as principais classes de metabólitos secundários através da análise fitoquí-mica, realizar testes microbiológicos e análise citotóxica do extrato bruto etanólico das folhas da espécie vegetal G. arbereum L., oriundas do entorno da área de preservação ambiental do Curiaú, Macapá – Amapá, afim de elucidar possíveis atividades farmacológicas.
MÉTODOS
Coleta do material botânico
O material botânico foi coletado no entorno da área de preservação ambiental do Curiaú (APA do Curiaú) localiza em no município de Macapá, Amapá, onde se produziu uma exsicata do vegetal. O material foi identificado e depositado no Herbário da Universidade Federal do Amapá (HUFAP), sendo catalogado com o número 427.
Obtenção do extrato bruto
O material coletado foi processado no Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica da Universidade Federal do Amapá. O material vegetal utilizado para a análise foram as folhas da G. arboreum, estas passaram por uma seleção, em seguida iniciou-se o processo de secagem, as folhas foram acondicionadas na estufa de secagem à 45°C, foi realizado a moagem por rasuração manual e, posteriormente, com auxílio de almofariz e pistilo da maté-ria-prima, no qual foi possível obter o material seco e moído, este foi submetido ao processo de extração por maceração, no qual O extrato foi obtido por extração a quente sob refluxo, foi utilizado como solvente 1000 mL de álcool etílico 96% (EtOH), após 72 horas, foi filtrado utilizando um papel filtro estéril, obtendo-se o extrato etanólico, adicionou-se novamente 1000mL do solvente ao material vegetal, sendo repetido 3 vezes a cada 3 dias a maceração
O extrato etanólico obtido passou pelo processo de rotaevaporação em temperatura constante de 50°C à 60°C, com pressão reduzida, desta forma ocorreu a eliminação do solvente, obtendo-se o extrato bruto.
Análise fitoquímica
A triagem fitoquímica foi realizada segundo a metodologia descrita por Barbosa et al. (2004), foram realizados 11 testes fitoquímicos com o extrato bruto das folhas da G. arbo-reum , através de reações analítico-qualitativo, foi possível fazer a identificação das classes de metabólitos secundários presentes na espécie vegetal, para identificar: ácidos orgânicos,
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
44
açúcares redutores, antraquinonas, alcaloides, depsideos, depsidonas, esteroides e triter-penoides, fenóis, taninos, flavonoides, polissacarídeos, resinas, saponinas espumídicas.
Ensaio antimicrobiano
A bioprospecção do extrato foi realizada segundo a metodologia de Kirby Bauer apud Gonçalves (2011) utilizando as cepas de microrganismos padronizados Staphylococcus au-reus Rosenbach, 1884 (ATCC 25923), Escherichia coli (Migula, 1895) Castellani & Chalmers, 1919 (ATCC 25922) e Klebsiella pneumoniae (Schroeter, 1886) Trevisan, 1887 (ATCC 13883).
Realizaram-se três diluições do extrato, 25 mg/mL, 50 mg/mL e 100 mg/mL, em cada solução foram embebidos 10 discos de papel filtro e posteriormente os mesmos foram co-locados em dessecador até a evaporação total do solvente.
Procedeu-se a semeadura de três placas para cada uma das cepas, cada placa conti-nha um disco de antibióticos, que correspondia ao controle positivo, e ainda, um disco com extrato em uma das concentrações utilizadas. Após 24 horas de incubação em estudos de Demanda Bioquímica de Oxigênio (BOD) mediu-se os halos de inibição.
Bioensaio de citotoxicidade em Artemia salina (Linnaeus, 1758)
Utilizou-se a metodologia descrita por Meyer et al. apud Amaral (2008) com algumas adaptações. Os cistos de A. salina foram colocados em um aquário com água do mar artificial, sob iluminação artificial e controle da temperatura (25-31 ºC). Após 24 horas de incubação, as larvas em estágio de náuplio foram retiradas para o ensaio.
Para a análise utilizou-se as concentrações de 50 µg/mL, 100 µg/mL, 250 µg/mL, 500 µg/mL, 750 µg/mL e 1000 µg/mL do extrato bruto. A população exposta foi de 10 náuplios por concentração e cada concentração em triplicata. Após 24 horas realizou-se a contagem do número de larvas que sobreviveram. O cálculo da concentração letal média (CL50) do extrato foi realizado utilizando-se o programa BioEstat 5.0 a partir das concentrações utilizadas.
RESULTADOS
Análise fitoquímica
De acordo com os testes realizados, a partir da metodologia de Barbosa et al. (2004), foi possível realizar a identificação de algumas das classes de metabólitos secundários, a partir dos 11 testes realizados, através da análise fitoquímica com as folhas da G. arboreum, apresentando resultado positivo para 5 (cinco) e negativo para 6 (seis) classes de metabólitos secundários, de acordo com a Tabela 1:
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
44 45
Tabela 1. Testes fitoquímicos para classes de metabólicos secundários
Testes fitoquímicos Resultados
Ácidos Orgânicos -
Açucares Redutores -
Antraquinonas -
Alcaloides +
Depsideos e Depsidonas +
Esteroides e Triterpenoides +
Fenóis e Taninos +
Flavonoides -
Polissacarídeos -
Resinas -
Saponinas espumídicas +
Parâmetros: Positivo (+); Negativo (-)
Ensaio antimicrobiano
O ensaio antimicrobiano do extrato bruto etanólico de G. arboreum não apresentou nenhuma inibição (Tabela 2) frente às cepas S. aureus (ATCC 25923), E. coli (ATCC 25922) e K. pneumoniae (ATCC 13883), analisadas nas concentrações testadas.
Tabela 2. Resultados do ensaio antimicrobiano
Microrganismos Halo de inibição (mm)/Concentração (mg/mL)
25 50 100
Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883) 0 0 0
Staphylococcus aureus (ATCC 25923) 0 0 0
Escherichia coli (ATCC 25922) 0 0 0
Entretanto, esse resultado não anula a possibilidade de ação frente a outros microrganis-mos, como os fungos ou mesmo outras cepas bacterianas e em outras concentrações, sendo assim necessário aumentar o espectro do bioensaio para com atividades antimicrobianas,
Bioensaio de citotoxicidade em Artemia salina
O bioensaio de citotoxicidade em A. salina é realizado com uma análise citotóxica foi realizada e observou-se que, em um período de 24 h, o extrato apresentou toxicidade aguda para mais de 50% da população (Tabela 3) em todas as concentrações, sendo a CL50= 238 µg/mL.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
46
Tabela 3. Resultados da análise citotóxica do extrato bruto etanólico de G. arboreum
Concentração do extrato em µg/mL
Nº de indivíduos expostos (n) por série
Média (%) de indivíduos mortos (24 h)
CL50µg/mL
50 10 66,6
238
100 10 60
250 10 66,6
500 10 70
750 10 73,3
1000 10 100
Controle 10 46,6
DISCUSSÃO
De acordo com o teste fitoquímico realizado, o resultado (Tabela 1) apresentou re-sultado positivo para algumas classes de metabólitos secundários, como os alcaloides, depsideos e depsidonas, esteroides e triterpenoides, fenóis, taninos e para saponinas es-pumidícas. A cerca dos alcaloides, que segundo Henriques et al. (2010) são compostos orgânicos nitrogenados que apresentam atividades farmacológicas relevantes, podem ser classificados biogeneticamente, sendo as principais classes: alcaloides tropânicos, indólicos, pirrolizidínicos, esteroidais e as metilxantinas. Rates (2010) diz que existem discordâncias quanto a classificação das metilxantinas como alcaloides devido não serem originárias de aminoácidos, e sim de bases púricas, porém muitos as classificam, do ponto de vista quí-mico-estrutural, como alcaloides purínicos.
Para Bacchi (2010) os alcaloides inibem as ações da acetilcolina em efetores autônomos inervados pela via parassimpática, ou seja, sua ação é antagonista. Esse mecanismo de ação está relacionado principalmente com efeitos antimuscarínicos que está correlacionado a sua ação antiespasmódica sobre o trato gastrointestinal, e com seu frequente emprego em distúrbios gastrointestinais e úlceras pépticas. A este metabólito a literatura também tem associado efeitos sobre a via simpática/noradrenérgica, como exemplo a ioimbina tem ação hipotensora e vasodilatadora da circulação periférica, ela também tem sido utilizada em casos de impotência masculina (OLIVEIRA et al., 2009; SCHRIPSEMA et al., 2010). Desse modo, o mesmo, provavelmente, é responsável por atividades biológicas da G. arboreum, são grandes as evidências que correlacionam esse metabólito ao seu uso popular.
Na classe das metilxantinas se destacam cafeína, teofilina e teobromina, que apre-sentam amplo espectro farmacoterapêutico, induzem relaxamento da musculatura lisa, principalmente a brônquica, biliar e dos ureteres. A teobromina apresenta notável efeito diurético, por aumentar o débito sanguíneo renal e a filtração glomerular. É valido dizer ain-da, que muitos derivados xantínicos, são utilizados em emergências respiratórias, como o pró-fármaco aminofilina, que após o metabolismo de primeira passagem se transforma em
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
46 47
teofilina. Corroborando assim, com seu uso popular para o tratamento de asma e distúrbios na diurese (RATES, 2010).
A reação para fenóis e taninos foi positiva, segundo a literatura os fenóis são comumente utilizados como aromatizantes, em virtude muitos serem constituintes de óleos voláteis, pos-suem ainda, propriedades antioxidantes, estas podem estar associadas a ações biológicas da espécie estudada, de certo modo os fenóis podem agir retardando o desenvolvimento de patologias causadas por reações oxidativas. Sua ação expectorante, correlacionada ao uso popular das folhas de algodão, foi primeiramente identificada com o uso do guaiacol, que gerou a guaifenesina, um expectorante comercialmente utilizado (CARVALHO; GOSMANN; SCHENKEL, 2010).
Os depsídeos e as depsidonas tiveram teste positivo. São moléculas de natureza fenólica que apresentam atividade antimicrobiana, eventualmente correlacionado a planta estudada, ademais, pode possuir atividade antitumoral, antiviral, analgésica, antipirética e antioxidante (RAMOS; RODRIGUES; ALMEIDA, 2014).
Os metabólitos esteroides e triterpenoides também apresentaram reação positiva. Os tri-terpenoides são produtos biossintéticos gerados a partir de unidades de isopreno, eles possuem atividade anti-inflamatória, porém o mecanismo não está bem descrito, e apre-senta ação secretolítica, devido promover irritação na mucosa brônquica aumenta também o volume da secreção e facilita expectoração (SIMÕES; SPINTZER, 2010). Os esteroides são formados a partir dos triterpenos por meio de descarboxilações, dentre suas principais atividades está a anti-inflamatória e a analgésica (RODRIGUES et al., 2010).
Os taninos são caracterizados principalmente por sua capacidade de complexar com outras moléculas incluindo macromoléculas tais como proteínas e polissacarídeos. Seu efeito sobre o processo de cura de feridas, queimaduras, úlceras pépticas está diretamente relacionado a formação do complexo tanino/proteína gera uma camada protetora sobre a área lesada, possibilitando que ocorra o processo fisiológico de cura, sendo esta caracte-rística, associada ao uso popular curativas e antissépticas das folhas de algodão (SANTOS; MELLO, 2010). Potente ação antifúngica é associada aos taninos, pressupõe-se que ocor-ra um processo de inibição enzimática e complexação dos taninos a membrana da célula fúngica, comprometendo assim o metabolismo celular, pode ser responsável, decerto por ações antifúngicas, sendo assim caracterizado como um agente fungiostático e/ou fungicida (SANTOS; MELLO, 2010; OLIVEIRA; RAMOS; ALMEIDA, 2013).
As saponinas espumídicas demonstram-se presente no extrato de G. arboreum, essas biomoléculas possuem potencial anti-inflamatório, como exemplo, temos a glicirrizina oriunda da Glycyrrhiza glabra sendo que seu mecanismo de ação envolve a inibição de enzimas catabolizadoras de prostaglandinas, aumentando assim a concentração das prostaglandinas
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
48
endógenas que participam de processo fisiológicos anti-inflamatórios (BIGHETTI; ANTÔNIO; CARVALHO, 2002; SCHENKEL; GOSMANN; ATHAYDE, 2010). Também apresentam ativi-dade expectorante, porém o mecanismo não é bem elucidado, possivelmente aumentam o volume do fluido respiratório, hidratando a secreção brônquica e, assim, facilitando a expul-são/expectoração do muco. Essas substâncias têm também a capacidade de complexar com esteroides, sendo esta a razão por suas propriedades antifúngicas (ROS, 2006; SCHENKEL; GOSMANN; ATHAYDE, 2010) analogamente associadas ao conhecimento popular, no qual faz recorrente uso das folhas da espécie em estudada, objetivando a ação antifúngica.
Os ensaios microbiológicos (Tabela 2) visam investigar o potencial antimicrobiano de extratos vegetais, visto que muitos compostos do metabolismo secundários possuem esta atividade (BARNECHE et al., 2010). Entretanto de acordo com os resultados obtidos, o extrato não apresentou ação inibitória frente ao microrganismo, mas faz-se necessário um estudo com maior amplitude, devido a presença da classe de metabólitos secundários dos fenóis, identificados no extrato das folhas, provavelmente, podem ter ação antimicrobiana, nessa classe, presente na espécie estudada, para estas ações biológicas, pois há estudos que apontam que os microrganismos Gram-negativos possuem uma maior resistência à ação de antimicrobianos, uma vez que sua parede celular se encontra protegida por uma camada de lipopolissacarídeos. A maior suscetibilidade de microrganismos Gram-positivos, acredita-se que o mecanismo da ação antimicrobiana do extrato, decorra da interação do mesmo com o peptidoglicano presente na parede celular bacteriana, caracterizando uma barreira mais frágil do que a parede celular das bactérias Gram-negativas (CHANDRASHEKAR et al., 2011)
O bioensaio de citotoxicidade em A. salina é proposto a realização, na triagem de novos fármacos (LHULLIER et al., 2006). Segundo Meyer et al. (1982) amostras que apesentam DL50>1000 µg/mL–1, são consideradas atóxicas e amostras no qual a DL50<1000 µg/mL–1 são consideradas tóxicas frente a A. salina. De acordo com o teste citotóxico realizado, foi possível observar, uma toxicidade aguda de, aproximadamente, 50% para mais, frente a população microcrustáceos, em todas as concentrações, sendo a CL50= 238 µg/mL.
A atividade está possivelmente relacionada com a presença das saponinas que apre-sentam atividade larvicida (RODRIGUES et al., 2010) e aos alcaloides que também são associados a atividades tóxicas (STEGELMEIER, 2011). A literatura associa extratos tóxi-cos e alcaloides (RODRIGUES, 2010; FREITAS 2011) a atividades antitumorais, sugerindo assim que o extrato desta espécie possa também apresentar essa mesma característica.
De acordo com atividades descritas na literatura, dos metabólitos secundários, presente na espécie vegetal e encontrados nesta pesquisa, corroboram com as atividades alegadas pela população justificando o uso popular da espécie (Quadro 1).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
48 49
Quadro 1. Correlação entre a atividade farmacológica das biomoléculas de G. arboreum e seu uso popular
Metabólito secundário Atividade farmacológica Uso popular correlacionado Fontes
Alcaloides- Antimalárico,- Antitussígeno,- Diurético.
- Antimalárico,- Tosse,- Diurético.
Henriques et al. (2010);Rates (2010);Bacchi (2010);Oliveira et al. (2010);Schrupsema et al. (2010).
Saponinas espumídicas- Anti-inflamatório,- Expectorante,- Diurético.
- Garganta inflamada.- Tosse com catarro.- Diurético.
Ros (2006);Schenkel et al. (2010).
Fenóis e taninos
- Expectorantes,- Antifúngica,- Antimalárica,- Diurético,- Antiulcera.
- Tosse com catarro,- Micoses,- Antimalárico,- Diurético, - Gastrite.
Oliveira et al. (2013);Carvalho et al. (2010);Santos et al. (2010).
Esteroides eTriterpenoides
- Anti-inflamatória,- Secretolítica.
- Garganta inflamada,- Tosse com catarro.
Simões et al. (2010);Rodrigues et al. (2010).
Depsídeos e Depsidonas - Antimicrobiana. - Micoses. Ramos et al. (2014).
CONCLUSÃO
A pesquisa realizada com a espécie vegetal G. arboreum por meio de testes fitoquími-cos, microbiológicos e análise citotóxica, realizados a partir do extrato bruto etanólico das folhas do algodoeiro apresentaram positividade para algumas classes de metabólitos secun-dários, nos quais estes são responsáveis por atividades biológicas no corpo humano, como tratamento ou amenização de infecções, cicatrizante, auxilia em tratamentos de problemas respiratórios, entre outras enfermidades. Sendo assim, o extrato bruto etanólico das folhas de G. arboreum gerou resultados satisfatórios, pois em seu screening fitoquímico apresentou metabólitos que estão correlacionados biologicamente com seu uso popular, demonstrou em seus resultados citotóxicos uma CL50= 238 µg/mL que significa que o extrato apresenta moderada toxicidade.
O estudo e aplicação desta pesquisa se mostra de grande relevância tanto para a co-nhecimento científico na área da saúde, como para pessoas que já utilizam desse recurso terapêutico, almejando tratamentos farmacoterapêuticos, entre outros objetivos, entretanto, para que tenha uma aplicabilidade farmacológica e terapêutica evidencia-se a importância de mais estudos.
AGRADECIMENTOS
Agradecimento pela concessão da Bolsa pelo Programa de Educação Tutorial (SESu/MEC/FNDE), ao curso de Farmácia, da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) para com o Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, coordenado pela Dra. Sheylla Susan Moreira. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP), Herbário da Universidade
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
50
Federal do Amapá (HUFAP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
FINANCIAMENTO
Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC), bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET).
REFERÊNCIAS
1. ADEBAYO, J. O.; KRETTLI A. U. Potential antimalarials from Nigerian plants: A review. Journal of Ethnopharmacology, v. 133, p. 289-302, 2011.
2. AMARAL, E. A.; SILVA, R. M. G. Avaliação da toxidade aguda de Angico (Anadenanthera falcata), Pau-santo (Kilmeyera coreacea) e Cipó-de-São-João (Pyrostegia venusta), por meio do bioensaio com Artemia salina. Perquirere. v. 5, p. 1-16, 2008.
3. BACCHI, E. M. Alcaloides tropânicos. In: SIMÕES, C.M.O. et al. Farmacognosia da planta ao medicamento. 7. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, Florianópolis, p. 519-533, 2010.
4. BARBOSA, W. L. R., et al. Manual para análise fitoquímica e cromatográfica de extratos ve-getais. Revista Cientifica da UFPA. Pará, v. 4, n. 5, 2001. Disponível em: http://www.ufpa.br/rcientifica. Acesso em: 18 fev. 2021.
5. BARNECHE, S.; BERTUCCI, A.; HARETCHE, F.; OLIVARO, C.; CERDEIRAS, M. P.; VÁZ-QUEZ, A. Prospección química y microbiológica del bosque de galería del río Uruguay. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 20, p. 878-885, 2010.
6. BIGHETTI, A. E.; ANTÔNIO, M. A.; CARVALHO, J. E. Regulação e modulação da secreção gástrica. Revista de Ciências Médicas. v. 11. p. 55-60. 2002.
7. BRASIL, Portaria nº. 971/GM/MS, 2006. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0971_03_05_2006.html, acessado em: 18 de fev. 2021.
8. BRINK, M.; ACHIGAN-DAKO, E. G. Fibres. PROTA, 2012
9. CARRIÓ, E.; VALLÉS, J. Ethnobotany of medicinal plants used in Eastern Mallorca (Balearic Islands, Mediterranean Sea). Journal of Ethnopharmacology, v. 141, p. 1021-1040, 2012.
10. CARVALHO, J. C. T; GOSMANN, G.; SCHENKEL, E. P. Compostos fenólicos simples e he-terosídeos. In: SIMÕES, C.M.O. et al. Farmacognosia da planta ao medicamento. 7. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS; Florianópolis, p. 519-533, 2010.
11. CARVALHO, P. E. R.; GAIAD, S. Agência de informações Embrapa: espécies arbóreas bra-sileiras. Malvacea. 2002. Disponível em: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/espe-cies_arboreas_brasileiras/arvore/CONT000fu1ekyj602wyiv807nyi6s9rqihfq.html.Acessado em: 18 de fev. 2021.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
50 51
12. CHANDRASHEKAR, C.; KULKARNI, V. R. Isolation, characterization and antimicrobial activity of Annona squamosa leaf. Journal of Pharmacy Research, Melbourne, v. 4, n. 6, p. 1.831- 1.832, 2011.
13. CHRISTO, A. G.; GUEDES-BRUNI, R. R.; FONSECA-KRUEL, V. S. Uso de recursos vegetais em comunidades rurais limítrofes à reserva biológica de poço das antas, Silva Jardim, Rio de Janeiro: estudo de caso na gleba aldeia velha. Rodriguésia, v. 57, p. 519-542, 2006.
14. COYLE, T.; LEVANTE, S.; SHETLER, M.; WINFIELD, J. In vitro andin vivo cytotoxicity of gos-sypol against central nervous system tumor cell lines. Journalofneuro-oncology, v. 19, n. 1, p. 25-35, 1994
15. FERREIRA, M. C. Medicinal knowledge and plant utilization in an Amazonian coastal community of Marudá, Pará State (Brazil). Journal of Ethnopharmacology, v. 126, p. 159-175, 2009.
16. FREITAS, M. C. R.; ANTÓNIO, J. M. S.; ZIOLLI, R. L.; YOSHIDA, M. I.; REY, N. A.; DINIZ, R. Synthesis and structural characterization of a zinc (II) complex of the mycobactericidal drug isoniazid – Toxicity against Artemia salina. Journal Polymer, v. 30, p. 1922-1926, 2011.
17. GOMES, R. A.; NOGUEIRA, T. B. S. S; SILVA, D. A.; AGRA, M. F.; SOUZA, M. F. V. Consti-tuintes químicos de Wissadula periplocifolia (L.) C. Presl Malvaceae. 34ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, Florianópolis, Brasil. 2011.
18. GOMES, R. A.; RAMIREZ, R. R. A.; SILVA, D. A.; SANTOS, M. N.; AGRA, M. F.; SOUZA, M. F. V. Estudo fitoquímico de Sida sp. 31ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, Águas de Lindóia, Brasil. 2008.
19. GONÇALVES, D. M.; ARAÚJO, J. H. B.; FRANCISCO, M. S.; COELHO, M. A.; FRANCO, J. M. Avaliação da atividade antimicrobiana in vitro do extrato de Tabernaemontana catharinensis A. DC. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 13, p. 197-202, 2011.
20. HENRIQUES, A. T.; LIMBERGER, R. P.; KERBER, V. A.; MORENO, P. R. H. Alcaloides: generalidades e aspectos básicos. In: SIMÕES, C.M.O. et al. Farmacognosia da planta ao medicamento. 7. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, Florianópolis, p. 767- 788. 2010.
21. LARDOS, A. The botanical material medica of the Iatrosophikon-A collection of prescriptions from a monastery in Cyprus. Journal of Ethnopharmacology, v. 104, p. 387-406, 2006.
22. LHULLIER, C.; HORTA, P. A.; FALKENBERG, M. Avaliação de extratos de macroalgas bênticas do litoral catarinense utilizando o teste de letalidade para Artemia salina. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 16, p. 158-163, 2006.
23. OLIVEIRA, D. S. B.; RAMOS, R. S.; ALMEIDA, S. S. M. S. Phytochemical study, microbiological and cytotoxicity in Artemia salina Leach, aerial parts of Petiveria alliacea L. Phytolaccadeae. Biota Amazônica. v. 3, p. 76-82, 2013.
24. OLIVEIRA, V. B.; FREITAS, M. S. M.; MATHAS, L.; BRAZ, R. F.; VIEIRA, I. J. C. Atividade biológica e alcaloides Indólicos do gênero Aspidosperma (Apocynaceae): uma revisão. Revista Brasileira de Plantas Medicinais. v. 11, p. 92-99, 2009.
25. PILARSKI. R.; FILIP, B.; WIETRZYK, J.; KURAS, M.; GULEWICZ, K. Anti câncer activity of the Uncaria tomentosa DC. Preparations with differen toxindole alkaloid composition. Phyto-medicine. v. 17, p 1133–1139, 2010.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
52
26. RAMOS, R. S.; RODRIGUES, A. B. L.; ALMEIDA, S. S. M. S. Preliminary study of the extract of the barks of Licania macrophylla Benth: phytochemicals and toxicological aspects. Biota Amazônica. v. 4, p. 94-99, 2014.
27. RATES, S. M. K. Metilxantinas. In: SIMÕES, C.M.O. et al. Farmacognosia da planta ao me-dicamento. 7. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS; Florianópolis, p. 519-533, 2010.
28. RODRIGUES, K. A. F.; DIAS, C. N.; FLORÊNCIO, J. C.; VILANOVA, C. M.; GONÇALVES, J. R. S.; MORAES, D. F. C. Prospecção fitoquímica e atividade moluscicida de folhas de Momordica charantia L. Cadernos de Pesquisa. v. 17, p. 69-76, 2010.
29. ROS, E. Doble inhibición del colesterol: papel de la regulación intestinal y hepática. Revista Española de Cardiología Supl. v.6. p. 52-62, 2006.
30. RUYSSCHAERT, S.; ANDEL, T.V.; PUTTE, K. V.; DAMME, P. V. Bathe the baby to make it strong and healthy: Plant use and child care among Saramaccan Maroons in Suriname. Journal of Ethnopharmacology, v. 121, p. 148-170, 2009.
31. SANTOS, S. C.; MELLO, J. C. P. Taninos. In: SIMÕES, C.M.O. et al. Farmacognosia da planta ao medicamento. 7. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS; Florianópolis, p. 615-645. 2010.
32. SCHENKEL, E. P.; GOSMANN, G.; ATHAYDE, M. L. Saponina. In: SIMÕES C. M. O. et al. Farmacognosia da planta ao medicamento. 7. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS; Floria-nópolis, p. 711- 734. 2010.
33. SCHRIPSEMA, J.; DAGNINO, D. GOSMANN, G. Alcaloides Indólicos. In: SIMÕES C. M. O. et al. Farmacognosia da planta ao medicamento. 7. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS; Florianópolis, p. 519-533, 2010.
34. SILVA, D. A.; NOGUEIRA, T. B. S. S.; MATIAS, W. N. M.; CAVALCANTE, J. M. S. C.; COSTA, D. A.; SOUZA, M. F. V. Estudo químico de Sidastrum sp (Malvaceae). 29ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. Águas de Lindóia, Brasil. 2006.
35. SILVA, R. B. L. A etnobotânica de plantas medicinais da comunidade quilombola de Curiaú. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação em Agronomia, Universidade Federal Rural da Amazônia, Macapá-AP. 172 f. 2002.
36. SILVA, T. M. S.; CAMARA, C. A.; BARBOSA-FILHO, J. M.; GIULIETTI, A. M. Feoforbídeo (Ettoxi-purpurina-18) isolado de Gossypium mustelinum (Malvaceae). Química Nova. v. 33, p. 571-573, 2010.
37. SIMÕES, C. M. O.; SPINTZER, V. Óleos voláteis. In: SIMÕES, C. M. O. et al. Farmacognosia da planta ao medicamento. 7. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, Florianópolis, p. 467-492. 2010.
38. SINGH, A. K.; RAGHUBANSHI, A. S.; SINGH, J. S. Medical ethnobotany of the tribals of So-naghati of Sonbhadra district, Uttar Pradesh, India. Journal of Ethnopharmacology, v. 81, p. 31-41, 2002.
39. STEGELMEIER, B. L. Pyrrolizidine alkaloid-containing toxic plants (Senecio, Crotolaria, Cyno-glossum, Amsinckia, Heliotropium, and Echium spp.). Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, v. 27, p. 419 – 428, 2011.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
52 53
40. VALADEAU, C.; CASTILLO, J. A.; SAUVAIN, M.; LORES, A. F.; BOURDY, G. The rainbow hurts my skin: Medicinal concepts and plants uses among the Yanesha (Amuesha), an Amazonian Peruvian ethnic group. Journal of Ethnopharmacology, v. 127. p. 175-192, 2010.
41. WONDIMU, T.; ASFAW, Z.; KELBESSA, E. Ethnobotanical study of medicinal plants arou-nd‘Dheeraa’ town, Arsi Zone, Ethiopia. Journal of Ethnopharmacology,v. 112, p. 152-161, 2007.
04Avaliação antioxidante, antibacteriana e citotóxica da espécie Phyllanthus niruri L. (1753)
Andreza da Silva SilvaUNIFAP
Patrick de Castro CantuáriaIEPA
Elizabeth Viana Moraes da CostaUNIFAP
Ana Luzia Ferreira FariasUEAP
José Policarpo Miranda JúniorAMBIEX
Líbio José Tapajós MotaGEA
Antônio Carlos Freitas SouzaIEPA
Pablo de Castro CantuáriaALAP
Juliana Eveline dos Santos FariasIFAP
Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaUNIFAP
10.37885/210303484
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
55
Palavras-chave: Atividade Biológica, Phyllanthus niruri L., Quebra-pedra.
RESUMO
Objetivo: o presente estudo buscou avaliar a atividade antioxidante da espécie Phyllanthus niruri L. (1753) pertencente à família Euphorbiaceae, tal espécie é conhecida popular-mente como quebra-pedra, se utilizou a metodologia do radical 2,2-difenil-1-picril-hidra-zila (DPPH), atividade antibacteriana. Métodos: utilizando o método de microdiluição com Pseudomonas aeruginosa (SCHROETER, 1872), Escherichia coli (MIGULA, 1895) Castellani & Chalmers, 1919, e citotoxicidade frente a Artemia salina Leach. Resultados: os resultados apresentaram Concentração de Inibição de 50% (CI50) através de regressão linear que apresentou valor 2,24 mg/mL (R2 = 0,942). Em relação à atividade antibacte-riana foi possível obter resultados significativamente positivos, a bactéria Pseudomonas aeruginosa (Schroeter, 1872) é mais suscetível ao extrato etanólico de P. niruri L. (1753) com CIM de 50 mg/mL e MBC 100 mg/mL do que a E. coli (Migula, 1895) Castellani & Chalmers, 1919, que foram CIM e MBC 100 mg/mL. Conclusão: Dessa forma foi possível demonstrar o potencial antibacteriano da espécie. Na avaliação citotóxica se constatou que não há nenhum risco de toxicidade nas concentrações testadas do extrato P. ni-ruri L. (1753), mostrando seu potencial terapêutico.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
56
INTRODUÇÃO
O uso de plantas medicinais na busca da cura e alívio de doenças é uma prática milenar, que na época atual é o recurso mais valioso das comunidades ribeirinhas que não possuem acesso à rede de saúde básica. Este uso milenar de plantas medicinais ditas pela população ao decorrer dos séculos são informações indispensáveis para a pesquisa científica, e para poder fundamentar a importância do uso destes recursos naturais e os efeitos medicinais, buscando novas substâncias ativas que as compõem (OTTOBELLI et al., 2011).
Os estudos voltados para pesquisa de metabólitos secundários de plantas medici-nais estão relacionados com a fitoquímica, que é a responsável por analisar e registrar os metabólitos derivados das plantas, através do isolamento e da elucidação das estruturas moleculares existentes (LORENZO et al., 2011). E para os efeitos medicinais que as plantas possuem têm-se a pesquisa sobre seus efeitos biológicos para o monitoramento da bioati-vidade de extratos, frações e compostos isolados de plantas que tem sido frequentemente incorporada à pesquisa fitoquímica (NASCIMENTO et al., 2008). Além disso, a produção e busca por novos agentes antimicrobianos é fruto da rica biodiversidade presente no bioma brasileiro, em especial o Amazônico, cujos estudos e pesquisas sobre espécies com potencial antibacteriano ainda estão em processamento. Muitas pesquisas relacionam a utilização de ensaios biológicos in vitro de extratos e óleos essenciais para inibição do crescimento de fungos e bactérias (MOTA, 2013).
Dentre as plantas medicinais usadas popularmente está a espécie Phyllanthus ni-ruri L. (1753), conhecida popularmente por quebra-pedra, que é utilizada para o tratamen-to de problemas renais, distúrbios urinários e infecções intestinais, sendo pertencente ao gênero Phyllanthus da família Euphorbiaceae (SANDINI et al., 2011). Segundo Domingues et al. (2015) a quebra pedra é uma planta que ocorre amplamente nas regiões tropicais, desenvolve-se em qualquer tipo de solo e pode ser encontrada em todo o território brasi-leiro, além disso, ocorre uma grande semelhança entre as espécies de Phyllanthus, sendo Phyllanthus niruri L. (1753) e Phyllanthus tenellus Roxb. (1832), característica que dificulta consideravelmente a identificação. O que justifica o uso de ambas as espécies na medicina popular para os mesmos fins.
As plantas pertencentes ao gênero Phyllanthus são amplamente distribuídas em paí-ses tropicais e subtropicais. Existem aproximadamente 750 espécies neste gênero, sendo 200 nas Américas e 100 no Brasil. Os hábitos desta espécie são diversos, principalmente herbáceos, mas existem em pequenas árvores e arbustos (CALIXTO et al., 1998; FORZZA et al., 2010; SILVA; SALES, 2007).
Quanto a espécie Phyllanthus niruri L. (1753) esta é um arbusto ou erva com altura entre 12 a 73 cm, com ramificação do tipo filantoide, com ramos medindo cerca de 3 a 15
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
56 57
cm, são angulosos. Suas folhas são assimétricas, seu limbo foliar mede 0,5-1,5×0,25-0,6 cm, sendo membranáceo, podendo ser oblongo a oblongo-elíptico, oval- oblongo ou oval--elíptico, de base oblíqua, ápice obtuso a arredondado. Com flores em címulas unissexuais, as pistiladas distais com uma única flor, as que são estaminadas proximais com 3 a 7 flores e possuem brácteas lineares a lanceoladas (SILVA; SALES, 2007).
A espécie P. niruri L. (1753) pode ser encontrada na Índia, Ásia e na América, sendo distribuída do Sul do Texas (Estados Unidos) à Argentina (inclui as Antilhas). No Brasil, é capaz de aparecer em todas as regiões, com diferentes tipos de vegetação, em locais úmi-dos e sombreados ou em áreas áridas, ou seja, altamente adaptativa. Flores e frutos são encontrados ao longo de todo ano (BAGALKOTKAR et al., 2006; SILVA; SALES, 2007).
OBJETIVO
Avaliar a atividade antioxidante, antibacteriana e citotóxica do extrato bruto etanólico das folhas de Phyllanthus niruri L. (1753).
MÉTODOS
Atividade antioxidante
A avaliação da atividade antioxidante foi baseada na metodologia proposta por Sousa et al. (2007) e Andrade et al. (2012) diante do consumo de 2,2-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH) com algumas modificações.
Foi preparada uma solução metanólica de DPPH na concentração de 40 mg/mL. O ex-trato foi diluído em metanol nas concentrações (5, 1, 0,75, 0,50, 0,25 µg/mL). Em seguida foram adicionadas em tubo de ensaio a solução estoque de DPPH, e a solução de extrato bruto em cada concentração. Foi preparado o branco apenas com solução metanólica de DPPH. Após 30 minutos foi realizada leitura em espectrofotômetro (Biospectro SP-22) no comprimento de onda de 517 nm. A atividade antioxidante foi calculada de acordo com Sousa et al. (2007).
%AA = [100 – (Absamostra– Absbranco)] x100 /Abscontrole]
%AA – porcentagem de atividade antioxidanteAbsamostra – Absorbância da amostraAbsbranco – Absorbância do brancoAbscontrole – Absorbância do controle
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
58
Avaliação da atividade antibacteriana
Preparação das substâncias-teste
O extrato bruto etanólico de Phyllanthus niruri L. (1753) ou EEPN, frações e subfrações foram devidamente solubilizados em água estéril deionizada com 4% de Dimetilsulfóxido (DMSO) à concentração de 200mg/mL previamente ao uso.
Ensaio de atividade antibacteriana
Para avaliação da atividade antibacteriana foram utilizadas 2 linhagens de bactérias, Pseudomonas aeruginosa (Schroeter, 1872) – ATCC 25922 e Escherichia coli (MIGULA, 1895) Castellani & Chalmers, 1919 – ATCC 8789. O ensaio foi realizado segundo o teste de microdiluição em placas de poliestireno de 96 poços de fundo em “U” padronizada segundo a norma do CLSI (CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE, 2010).
Cada poço da placa foi inicialmente preenchido com 0,05 mL de salina 0,9% estéril, com exceção da primeira coluna, a qual, foi preenchida com 0,05 mL da substância-teste na concentração de 200 mg/mL. Em seguida realizaram-se diluições seriadas na base dois para obtenção de diferentes concentrações (100 - 0,04 mg/mL) em um volume final de 0,05 mL. Depois deste processo, 0,05 mL de células (2 x 107 UFC mL–1) ajustadas segundo item anterior foi adicionado a cada poço, obtendo-se um volume final de 0,1 mL. Amoxicilina e meio de cultura MHI com 4% de DMSO foram utilizados, respectivamente, como controles positivos e negativos, além do controle de turbidez da substância-teste, que continha o ex-trato ou as frações diluídas nas mesmas concentrações do teste antibacteriano.
Em seguida, as placas foram colocadas em estufa a 37 °C durante 24 ho-ras. O crescimento bacteriano foi medido pela turbidez com auxílio de espectrofotômetro a 630nm. A Concentração Inibitória Mínima (CIM) foi estabelecida como sendo a menor concentração da substância teste capaz de inibir visualmente o crescimento bacteriano.
Para a determinação da Concentração Bactericida Mínima (CBM) utilizou-se placas de petri contendo meio BHI ágar, as quais foram inoculadas com 10 µL da suspensão contida nos poços que não apresentaram crescimento visual durante o experimento de determinação da CIM. A CBM foi estabelecida como sendo a menor concentração das substâncias-testes capaz de inibir completamente o crescimento microbiano nas placas de petri após 24-48 horas de crescimento.
Todos os experimentos foram realizados em triplicata com os respectivos resultados categorizados em Microsoft Excel (Versão 2012 para Windows) e posteriormente analisadas no “software” GraphPad Prism (Versão 5.0 para Windows, San Diego California USA). As dife-renças significativas entre os grupos foram verificadas através da aplicação do teste One-way
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
58 59
ANOVA com pós-teste de Bonferroni. Os dados foram considerados estatisticamente sig-nificantes quando p<0, 001.
Toxicidade frente à Artemia salina Leach
Preparação da solução marinha artificial
A solução salina foi preparada com Cloreto de Sódio; Sulfato de Magnésio; Bicarbonato de Sódio e água destilada. Depois homogeneizada, e seu pH ajustado para 9,0, utilizando-se uma solução de 2 mol/L de Hidróxido de sódio.
Obtenção dos metanáuplios de Artemia salina Leach
Para obtenção dos metanáuplios, cistos de A. salina Leach foram incubados em solu-ção marinha artificial (pH 9,0 e 28 ºC) sob iluminação artificial de uma lâmpada de 40 W por 24 horas. Após a eclosão os metanáuplios migram através de uma placa perfurada para outro compartimento com livre incidência de luz, devido ao seu fototropismo, assim, foram separadas as larvas dos resíduos dos cistos que não eclodirem.
Preparação das amostras e do bioensaio
O bioensaio com A. salina Leach foi baseada na técnica descrita por Meyer et al. (1982). Utilizado o extrato bruto etanólico, adicionando 1 mL de Tween 80 a 5% para ajudar a solubilização. As soluções foram homogeneizadas e o volume completado para 5 mL com solução marinha artificial a pH=9,0. Destas soluções foram retiradas alíquotas de 2500, 1875, 1250, 625, 250 e 125 µL e depois transferidas para tubos de ensaio de 5mL e os volumes completados com o mesmo solvente, obtendo-se concentrações de 1000, 750, 500, 250, 100 e 50 µg/mL para cada extrato.
Os metanáuplios foram separados em sete grupos, cada um contendo dez indiví-duos. O primeiro grupo recebeu a solução controle (solução de Tween 80 a 5%) e os seis seguintes as soluções dos extratos nas diferentes concentrações. As amostras foram sub-metidas à iluminação artificial durante 24 horas, após este período foram contabilizadas as larvas vivas e mortas. Assim, foram contabilizadas como larvas mortas as que não apresen-taram nenhum movimento ativo em cerca de vinte segundos de observação. O experimento se realizou em triplicata para cada concentração.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
60
RESULTADOS
Avaliação da atividade antioxidante
No estudo fitoquímico realizado por Rosário et al. (2016) com EEPN (extrato bruto eta-nólico da espécie P. niruri L.) se demonstrou a presença de alcaloides, que é um composto fenólico com atividade antioxidante. Onde as propriedades terapêuticas seriam sustentadas, em parte por sua capacidade varredora de radicais livres que podem estar associados em muitas doenças. Logo, a atividade antioxidante foi determinada pela captação do radical DPPH (difenil-1-picril-hidrazila) pelo extrato bruto. Assim, foi determinada a atividade antio-xidante em termos de Concentração de Inibição de 50% (CI50) através de regressão linear que apresentou valor 2,24 mg/mL (R2 = 0,942). Navarro et al. (2017) avaliou a atividade an-tioxidante de uma fração aquosa rica em compostos fenólicos obtida de P. niruri, L. (1753) por se tratar de uma fração enriquecida o resultado obtido foi bastante promissor com CI50 = 6,4 μg/mL. No entanto, essa diferença de valores do CI50 pode estar relacionada a sazo-nalidade do local influenciando na composição química da espécie (Gráfico 1.).
Gráfico 1. Porcentagem de inibição do radical DPPH pelas amostras e pelos padrões da solução de extrato bruto de Phyllanthus niruri L. (1753).
Os agentes antioxidantes atuam no combate a doenças, ligadas ao envelhecimento precoce das células ligadas a processos químicos, enfisema, cirrose e aterosclerose. Doenças essas causadas devido à ineficiência da proteção antioxidante (COUTINHO et al., 2009). Assim, os antioxidantes podem, teoricamente, prolongar a fase de iniciação ou então inibir a fase de propagação, mas não podem prevenir completamente a oxidação (LEÃO et al., 2017).
Avaliação da atividade antibacteriana
O maior desafio da atualidade é a resistência a múltiplos antimicrobianos devido ao uso indiscriminado desses medicamentos, fazendo-se necessário a busca por novas subs-tâncias com propriedades antimicrobianas para o combate de diferentes microrganismos
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
60 61
causadores de infecções. Essas novas substâncias podem ser encontradas em diversas fontes, incluído a principal fonte natural que são as plantas que já são utilizadas para estes fins terapêuticos (DOMINGUES et al., 2015).
De acordo com Sandini et al. (2011) a popular quebra-pedra é muito utilizada em infec-ções urinárias, fazendo com que os estudos sobre esta espécie cresçam. Neste contexto, a avaliação da atividade antibacteriana nesta pesquisa é muito importante e confirma o conhecimento popular.
O (Gráfico 2.) demonstra que o EEPN foi capaz de inibir o crescimento da bacté-ria E. coli (MIGULA, 1895) Castellani & Chalmers, 1919, principalmente na concentração de 100mg/mL. Adicionalmente, foi possível observar uma inibição quase total do crescimento de P. aeruginosa (SCHROETER, 1872), pelo EEPN a 100 mg/mL e também a inibição desta mesma bactéria na concentração de 50mg/mL, apresentando inibição semelhante à apresentada pelo controle positivo Amoxicilina (Gráfico 3.). Logo, este último resulta-do mostrou que a P. aeruginosa (Schroeter, 1872) é mais suscetível ao extrato etanólico de P. niruri L. (1753) com CIM de 50 mg/mL e MBC 100 mg/mL do que a E. coli (Migula, 1895) Castellani & Chalmers, 1919, que foram CIM e MBC 100 mg/mL.
Gráfico 2. Atividade antibacteriana do extrato etanólico de Phyllanthus niruri L. (1753) perante Escherichia coli (Migula, 1895) Castellani & Chalmers, 1919.
EtOh Phyllanthus niruri L. x E. coli ATCC 8789
- + 100 50 25 12,5 6,25 3,1250.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
#***
concentração mg/mL
OD
. 630
nm
# - Similar ao controle negativo; *** - Diferente do controle positivo
Estudos de Rollando et al. (2017) sobre a atividade antibacteriana da espécie P. ni-ruri L. (1753) apresentaram Concentração Inibitória Mínima em uma das frações realizadas no estudo, onde a fração de diclorometano foi a melhor devido à sua capacidade de inibir todas as bactérias em menor concentração do que duas outras frações. Sendo que a E. coli (Migula, 1895) Castellani & Chalmers, 1919, foi a bactéria mais suscetível em relação a esta fração com CIM de 125 µg/mL. Mostrando assim o potencial antibacteriano da espécie.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
62
Gráfico 3. Atividade antibacteriana do extrato bruto etanólico de Phyllanthus niruri L. (1753) perante Pseudomonas aeruginosa (Schroeter, 1872).
EtOh Phillanthus niruri L. x P. aeruginosa ATCC 25922
- + 100 50 25 12,5 6,25 3,1250.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
#***
#***
concentração mg/mL
OD
. 630
nm
# - Similar ao controle negativo; *** - Diferente do controle positivo
Avaliação de citotoxicidade
O ensaio biológico de toxicidade com Artemia salina Leach é um bioensaio prelimi-nar que permite estimar a avaliação da toxicidade do extrato ou óleo essencial, através da concentração letal (CL50) da fração ou componentes ativos frente a um organismo marinho (NASCIMENTO et al., 2008). Este tipo de teste visa avaliar ou prever os efeitos tóxicos que uma substância pode produzir buscando estabelecer o uso seguro desta substância de for-ma que não cause danos ao meio ambiente, à saúde dos animais e de outros seres vivos (BITENCOURT et al., 2014).
Considerando este fato o extrato bruto etanólico de P. niruri L. (1753) não foi capaz de apresentar nas suas concentrações (1000, 750, 500, 250, 100 e 50 µg/mL) nenhuma morte dos organismos marinhos, mostrando nenhum risco de toxicidade nas concentrações tes-tadas. Nascimento et al. (2008) mostrou que os extratos de P. niruri L. (1753) possui duas características, podendo ser atóxico ou que as concentrações letais sofrem influência do local de coleta. Visto que a constituição química de espécies vegetais pode ser influenciada qualitativamente e quantitativamente por variações climáticas, com repercussão direta sobre a atividade biológica (GOBO-NETO et al. 2007).
DISCUSSÃO
No Brasil a fitoterapia é uma opção para as populações carentes do país. Essa predi-leção é devido aos efeitos adversos de fármacos sintéticos, sendo assim, os consumidores tomaram como preferência os tratamentos naturais, na qual tem sido crescente a validação
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
62 63
científica das propriedades farmacológicas de espécies vegetais, o desenvolvimento de novos métodos analíticos para o controle de qualidade e novas formas de preparações, bem como a administração dos produtos e baixo custo, como o uso da espécie P. niruri L. (1753) a popular quebra-pedra, para o tratamento de cálculo renal ou urolitíase (ROCHA et al., 2014).
Segundo Rosário et al. (2016) pelo conhecimento popular a quebra-pedra é utilizada em forma de chá de todas as partes da planta para o cálculo renal. Onde sua administração causa um efeito relaxante dos ureteres que com a ação analgésica, facilita na expulsão dos cálculos, geralmente sem dor e nem sangramento, aumentando também a filtração glomeru-lar e a excreção de ácido úrico. Estes efeitos caracterizam-se pela presença de compostos fenólicos na espécie, tais como o alcaloide e taninos.
No estudo fitoquímico realizado por Rosário et al. (2016) com o extrato bruto etanólico, se notou a presença dos seguintes metabólitos secundários: alcaloides, esteroides e triter-penoides, depsídeos e depsidonas, açúcares redutores e antraquinonas.
No que tange aos esteroides estes são compostos de esqueleto tetracíclico que se encontram distribuídos de forma ampla em ácidos biliares, plantas, hormônios sexuais e adrenocorticais (DIAZ, 2007). São capazes de reduzir a absorção de colesterol, logo di-minuem a possibilidade do desenvolvimento de doenças cardiovasculares e até podem inibir alguns tumores malignos (PEREIRA; CARDOSO, 2012). Isso ocorre devido à intera-ção que os esteroides fazem com o músculo cardíaco, atuando como glicosídeos esteroi-dais (SANTOS, 2007).
Ao se considerar os triterpenoides, são definidos como metabólitos biossintetizados por organismos marinhos, fungos e plantas, sendo um resultado da união de várias unida-des de isopreno, e são classificados de acordo com o número de unidades de isoprenos, podendo ser encontrados em rochas, fósseis e animais (DIAZ, 2007). Gosmann et al. (2009) os caracteriza com propriedade anti-inflamatória visto que os triterpenos podem diminuir as enzimas relacionadas a inflamação e também podem induzir a apoptose e impedir a invasão por células tumorais.
Em relação aos alcaloides, estes são os constituintes de um dos maiores grupos de metabólitos secundários, quanto a sua forma química são compostos heterogêneos com uma base nitrogenada que pode ser glicosilada ou livre (DIAZ, 2007). Segundo Rosário et al. (2016) em suas buscas relacionadas ao referencial teórico da espécie P. niruri L. (1753) alguns estudos não constam a presença de alcaloides, entretanto sua análise fitoquímica apresentou esse metabólito, logo, se pode inferir que a presença ou ausência de alcaloides pode estar relacionada com ao ambiente que a espécie se encontra. Quanto as suas ativi-dades biológicas, é notável uma série de propriedades amplas, como: amebicida, emética,
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
64
antimalárica, anestésica, antitumoral, colinérgica, antiviral, miorrelaxante, estimulante do sistema nervoso central, anticolinérgica, hipoanalgésica (BARBOSA-FILHO et al., 2006).
De acordo com Marques (2010) se presenciou uma atividade antiespasmódica de um alcaloide isolado da espécie P. niruri L. (1753), denominada phyllantimida, que possui ação miorrelaxante, ou seja, tal ação seria responsável pela eliminação dos cálculos renais que ocorrem no ureter.
No que diz respeito aos metabólitos secundários depsídeos e depsidonas presentes na espécie P. niruri L. (1753), sua reação biossintética se origina do ácido orselínico na qual ocorre uma reação de desidratação ao final do processo, dentre suas atividades biológicas se tem ação anti-inflamatória e antibiótica (MEDEIROS, 2010).
Ao se explanar sobre as antraquinonas Malik et al. (2016) afirma que estas são subs-tâncias fenólicas, encontradas em plantas e bactérias. Sendo responsáveis por atividades laxativas, antifúngicas e antibacterianas, sendo esta última verificada na presente análise, logo tais substâncias têm relevância para a indústria farmacêutica.
No que se refere os açúcares redutores, são descritos como substâncias que possuem grupo carbonílico e cetônico livres, sendo capazes de oxidarem na presença de agentes oxidantes presentes em soluções alcalinas, como exemplo, os monossacarídeos: glicose e frutose. Tais açúcares têm muita importância para planta em situações de déficit hídrico, pois o aumento na produção de sacarose contribui para o ajuste osmótico sem precisar inibir a fotossíntese (SILVA; MONTEIRO; ALCANFOR, 2003).
CONCLUSÃO
Com os resultados obtidos no estudo das propriedades biológicas foi possível constatar e evidenciar o potencial do uso de Phyllanthus niruri L. (1753) na terapêutica, onde o extrato etanólico desta espécie demonstrou dados importantes aos testes realizados. Apresentando então atividade antioxidante baixa em relação ao que diz na literatura, porém, tal resultado pode estar relacionado a questão de sazonalidade, pois possui compostos fenólicos que tem capacidade de inibir a formação de radicais livres, logo é relevante novos estudos para verificar tal propriedade.
Além disso, a avaliação antibacteriana da espécie demonstrou efeitos positivos, pois foi capaz de inibir o crescimento bacteriano em menor concentração contra a bactéria P. ae-ruginosa (SCHROETER, 1872), compondo características relevantes para ser um bom candidato a um possível antimicrobiano.
Entre os bioensaios realizados em laboratórios para definir se uma determinada planta apresenta algum efeito tóxico, destaca-se o teste de citotóxicidade frente à Artemia salina Leach, que são pequenos crustáceos que são usados como bioindicador por ser um material
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
64 65
de fácil manipulação e baixo custo econômico. Assim, esta análise apresentou resultado positivo mostrando que a espécie em estudo se declara atóxico, ou seja, pode ser liberada para consumo humano em doses limites segundo a literatura.
Porém, levando em consideração a comparação com outros trabalhos, deve-se realizar novas pesquisas em relação à toxicidade da espécie estudada para elucidar melhor seus efeitos toxicológicos, de forma que possa tornar seu uso mais seguro. Portanto, a espé-cie P. niruri L. (1753), demonstrou nestes testes um grande potencial para que seja utiliza-da como um novo produto fitoterápico que possa ser direcionado para a população. E ao considerar que a espécie apresenta atualmente poucos estudos em relação à atividade antimicrobiana, é relevante continuar estimulando então a continuidade da pesquisa para aprimora o potencial desta atividade biológica.
AGRADECIMENTOS
Agradecimento pela concessão de Bolsa pelo o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI/CNPq) para com o Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, coordenado pela Dra. Sheylla Susan Moreira da Silva de Almeida. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
FINANCIAMENTO
Bolsa pelo o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI/CNPq). Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq).
REFERÊNCIAS
1. ANDRADE, M. A. et al. Óleos essenciais de Cymbopogo nnardus, Cinnamomum zeylanicume Zingiber officinale: composição, atividades antioxidante e Antibacteriana. Revista Ciência Agronômica, v. 43, n. 2, p. 399-408, 2012.
2. BAGALKOTKAR, G. et al. Phytochemicals from Phyllanthus niruri Linn. and their pharmaco-logical properties: a review. Journal of pharmacy and pharmacology, v. 58, n. 12, p. 1559-1570, 2006.
3. BARBOSA-FILHO, J. M. et al. Anti-inflammatory activity of alkaloids: A twenty-century re-view. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 16, n. 1, p. 109-139, 2006.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
66
4. BITENCOURT, A. P. R.; ALMEIDA, S. S.M. S. Estudo fitoquímico, toxicológico e microbioló-gico das folhas de Costus spicatus Jacq. Revista Biota Amazônia, v. 4, n. 4, p. 75-79, 2014.
5. CALIXTO, J. B. et al. A review of the plants of the genus Phyllanthus: their chemistry, pharma-cology, and therapeutic potential. Medicinal research reviews, v. 18, n. 4, p. 225-258, 1998.
6. CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE. M02-A10 and M07-A8: Performan-ce standards for antimicrobial susceptibility testing: twentieth informational supplement. Pennsylvania, 2010.
7. COUTINHO, I. D.; CARDOSO, C. A. L.; RÉ-POPPI, N.; MELO, A. M.; VIEIRA, M. C.; HONDA, N. K.; COELHO, R. G. Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) and evaluation of antio-xidant and antimicrobial activities of essential oil of Campomanesia adamantium (Cambess.) O. Berg (Guavira). Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 45, n. 4, p. 767-776, 2009.
8. DOMINGUES, K.; GONÇALVES A.; OLIVEIRA C.P.; PERIM C.M.; GONÇALVES F.B. Avaliação de extratos de quebra-pedra (Phyllanthus sp) frente à patógenos causadores de infecções no trato urinário. Revista Brasileira de Plantas Medicinais. v.17, n.3, p.427-435, 2015.
9. FORZZA, R. C. Catálogo de plantas e fungos do Brasil. 1 ed. Rio de Janeiro: JBRJ, 2010.
10. GBIF. Global Biodiversity Information Facility, 2001. Phyllanthus niruri. Disponível em: <https://www.gbif.org/species/3223154>. Acesso em: 20 de fev. 2021.
11. GOBBO-NETO, L.; LOPES, N. P. Plantas Medicinais: Fatores de influência no conteúdo de metabólitos secundários. Química Nova, v. 30, n. 2, p. 374-381, 2007.
12. LINNAEUS, C. Species Plantarum 2: 981, 1753.
13. LEÃO, M. F. M.; GÜEZ, C. M.; DUARTE, J. A.; SCHMITT, E. G.; QUINTANA, L. D.; ZAMBRA-NO, L. A. B.; ROCHA, M. B.; ZURAVSKI, L.; OLIVEIRA, L. F. S.; MACHADO, M. M. Avaliação dos Efeitos Anti-Genotóxicos de Phyllanthus niruri (Euphorbiaceae) em Leucócitos Humanos Expostos a Agente Agressor. Saúde (Santa Maria), v. 43, n.1, p. 133-139, 2017.
14. LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. Plantas tóxicas: Estudo de fitotoxicologia química de plan-tas Brasileiras. 1. ed. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2011.
15. MALIK, E. M.; MULLER, C. E. Anthraquinones as pharmacological tools and drugs. Medicinal Research Reviews, v. 36, n.4, p. 705-748, 2016.
16. MARQUES, L. C. Phyllanthus niruri (QuebraPedra) no Tratamento de Urolitíase: Proposta de Documentação para Registro Simplificado como Fitoterápico. Revista Fitos, v. 5, n. 03, p. 20-33, 2010.
17. MEDEIROS, L. S. Estudo químico e biológico de microorganismos endofíticos associados às frutas banana, pêra e goiaba. São Carlos, SP, 2010. Originalmente apresentada como dissertação de mestrado, Universidade Federal de São Carlos, 2010.
18. MEYER, B. N. et al. Brine shrimp: a convenient general bioassay for active plant constituents. Journal of Medicinal Plants Research, v. 45, n. 05, p. 31-34, 1982.
19. MOTA, L. J. T. Estudo químico e biológico das folhas e galhos de Hyptis crenata (Pohl) ex Benth (Lamiaceae - Lamiales). 2013. 63p. Dissertação (mestrado). Programa de Pós-Gra-duação em Ciências da Saúde. Universidade Federal do Amapá, Macapá. 2013.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
66 67
20. NASCIMENTO, J. E.; MELO, A. F. M.; LIMA, T. C. S.; VERAS FILHO, J.; SANTOS, E. M.; ALBUQUERQUE, U. P; AMORIM, E. L. C. Estudo fitoquímico e bioensaio toxicológico frente a larvas de Artemia salina Leach. de três espécies medicinais do gênero Phyllanthus (Phyllantha-ceae). Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada. v. 29, n. 2, p. 145-150, 2008.
21. NAVARRO, M.; MOREIRA, I.; ARNAEZ, E.; QUESADA, S.; AZOFEIFA, G.; ALVARADO, D.; MONAGAS, M. Proanthocyanidin Characterization, Antioxidant and Cytotoxic Activities of Three Plants Commonly Used in Traditional Medicine in Costa Rica: Petiveria alliaceae L., Phyllanthus niruri L. and Senna reticulata Willd. Plants, v. 50, n. 6, p. 2-13, 2017.
22. OTTOBELLI, I.; FACUNDO, V. A.; ZULIANI, J.; LUZ, C. C.; BRASIL, H. O. B.; MILITAO, J. S. L. T.; BRAZ-FILHO, R. Estudo químico de duas plantas medicinais da amazônia: Philodendron scabrum k. Krause (araceae) e Vatairea guianensis aubl. (fabaceae). Acta Amazônica, v. 41, n. 3, p. 393-400, 2011.
23. PEREIRA, R. J.; CARDOSO, M. G. Metabólitos secundários vegetais e benefícios antioxidantes. Journal of Biotechnology and Biodiversity, v. 3, n. 4, p. 146-152, 2012.
24. ROCHA, A. P. T.; ALSINA O. L. S.; SILVA, O. S.; ARAÚJO, G. T.; GOMES, J. P. Taxa de evaporação em função do processo de recobrimento de grânulos de quebra pedra. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.18, n.10, p.1053–1058, 2014.
25. ROLLANDO, N. D.; MONICA, E.; ADITYA, M.; SITEPU, R. Antimicrobial, antioxidant, and cytotoxic activities of endhopitic fungi Chaetomium sp. isolated from Phyllanthus niruri Linn: in vitro and in silico studies. Journal of Pure and Appilied Chemistry Research,v. 6, n. 1, p. 64-83, 2017.
26. ROSÁRIO, A.C.A.; ALMEIDA, S. S. M. S. Análise fitoquímica da espécie Phyllanthus niruri L. (quebra-pedra). Estação Científica (UNIFAP), v. 6, n. 1, p. 35-41, 2016.
27. ROXBURGH, W. Flora Indica: 126856-3, 1753.
28. SANDINI, T. M.; RODRIGUES, N. M.; PELOI, K. E.; PEREZ, E. Avaliação farmacognóstica de Phyllanthus tenellus Roxb., Euphorbiaceae (Quebra-Pedra) coletadas em Rancho Alegre D’Oeste, Paraná. Biosaúde, v. 13, n. 1, p. 1-11, 2011.
29. SILVA, R. N.; MONTEIRO, V. N.; ALCANFOR, J. D. X. Comparação de métodos para a de-terminação de açúcares redutores e totais no mel. Ciência e Tecnologia dos Alimentos, v. 23, n. 3, p. 337-341, 2003.
30. SILVA, M. J.; SALES, M. F. Phyllanthus L. (Phyllanthaceae) em Pernambuco, Brasil. Acta Botanica Brasilica, v. 21, n. 1, p. 79-98, 2007.
31. SIMÕES, C. M. O. et al. Farmacognosia, da planta ao medicamento. 6. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007.
32. SOUZA, T. M. et al. Avaliação da atividade antisséptica de extrato seco de Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville e de preparação cosmética contendo este extrato. Revista Brasi-leira de Farmacognosia, v. 17, n.1, p. 71-75, 2007.
05Avaliação fitoquímica, toxicológica e antioxidante da espécie Rosmarinus officinalis L. (Alecrim)
Thays Rodrigues PeresUNIFAP
Tony David Santiago MedeirosIEPA
Nádia Rosana Matos SoaresIMMES
Débora Regina dos Santos ArraesUEAP
Mikaeli Katriny Vaz da CostaIMMES
Amanda Maria de Sousa Diógenes FerreiraIEPA
George Azevedo de QueirozUFRJ
Ana Luzia Ferreira FariasUEAP
Patrick de Castro CantuáriaIEPA
Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaUNIFAP
10.37885/210404185
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
69
Palavras-chave: Plantas Medicinais, Atividade Biológica, Metabólitos Secundários, Alecrim.
RESUMO
Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi realizar a avaliação fitoquimica, atividade an-tioxidante e análise toxicológica do extrato bruto etanólico das folhas da Rosmarinus officinalis L. Metodologia: Foi adotada a metodologia de Barbosa et al. (2001), na qual o extrato obtido é analisado através de reações de coloração e/ou precipitação, para identificação das principais classes de metabólitos secundários. A avaliação da atividade antioxidante foi baseada na metodologia proposta por Sousa et al. (2007), Lopes-Lutz et al. (2008) e Andrade et. al. (2012) diante do consumo de 2,2-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH) com algumas modificações. Resultados: A análise fitoquímica da espécie apre-sentou como principais metabólitos secundários: alcaloides, fenóis e taninos, depsídeos e depsidonas, açúcares redutores e cumarinas. A atividade antioxidante da espécie que foi determinada através da regressão linear da concentração de inibição de 50% (CI50) que apresentou valor 2,24 mg/mL-1 e forte coeficiente de correlação (R2) de 0,9425, mostrando o seu potencial terapêutico. Quanto a análise toxicológica com Artemia salina, onde é considerada a morte e vida dos metanáuplios, o extrato bruto de Rosmarinus officinalis L. não apresentou em nenhuma de suas concentrações a morte desses or-ganismos marinhos, o que faz com que o extrato da espécie não apresente toxicidade nas concentrações testadas. Conclusão: É possível constatar e evidenciar o potencial do uso da espécie Rosmarinus officinalis L. na terapêutica, onde o extrato bruto desta espécie se mostrou bastante eficaz nos testes realizados. Assim, a grande variabilidade dos compostos químicos encontrados nesta espécie deve-se a diversas influencias por vários fatores climáticos e edáficos.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
70
INTRODUÇÃO
A fitoterapia é o uso de plantas medicinais com potencial terapêutico, assim, os estu-dos realizados para identificar os constituintes químicos e as propriedades biológicas das espécies medicinais é de grande importância. A fitoquímica tem como objetivo analisar e registrar os constituintes derivado das plantas como metabólitos secundários, através do isolamento e elucidação de suas estruturas moleculares (LORENZO et al., 2012).
A espécie Rosmarinus officinalis L. da família Lamiaceae, conhecida popularmente como alecrim, é uma erva bastante utilizada para fins medicinais e na culinária, esta espécie vem sendo estudada para a identificação de compostos químicos, efeitos fisiológicos e atividade microbiana (PORTE et al., 2001). Esta espécie é uma planta de característica perene, nativa do mediterrâneo, e é uma das 2800 espécies da família Lamiaceae existentes no mundo.
A atividade antioxidante de compostos presentes em plantas, como os compostos fenólicos, tem levantado grande interesse na investigação dos efeitos e seus benefícios relacionados às doenças ligadas ao estresse oxidativo e outras enfermidades. E os chás e condimentos dessas plantas tem um grande interesse também em relação à conservação devido às atividades antioxidantes e antimicrobianas (MORAIS et al., 2009).
Segundo Asolini et al. (2006) o processo de estresse oxidativo é um desequilíbrio entre o pró-oxidante e antioxidante, em favor da situação pró-oxidativo, promovendo um dano po-tencial. Este processo se relaciona a doenças crônicas ocorridas em grande número, como doenças cardiovasculares e doenças neurodegenerativas.
Assim, baseado nos testes as substâncias naturais ou compostos químicos obtidos nas plantas, são identificadas como captadoras de espécie reativas de oxigênio, defenden-do o corpo humano destes efeitos, inibindo o aparecimento de muitas doenças crônicas (MORAIS et. al., 2009).
E como há grandes interesses nos potenciais naturais em fitoterapia das plantas é preciso ter uma grande atenção ao seu uso, pois mesmo sendo naturais, as plantas podem trazer grandes riscos de intoxicação, e um dos métodos mais econômico e eficaz, é o teste de toxicidade animal frente à Artemia salina, uma espécie de micro-crustáceos da ordem Anostraca, utilizada como bioindicador em ensaios de laboratório e considerado seguro (PEREIRA et al., 2015).
Assim, este teste de toxicidade é uma fase de grande importância ao estudo fitoquímico, pois tem como objetivo avaliar os efeitos tóxicos em sistema biológico e procurar estabelecer o uso seguro de plantas medicinais (BITENCOURT et al., 2014). É possível avaliar os testes agudo-letais, onde este tem por objetivo avaliar os efeitos nos organismos marinhos selecio-nados, resumindo o resultado avaliado pelo CL50, que é a concentração letal em teste que é possível apresentar morte de 50% dos organismos marinhos testados (RAMOS et al., 2014).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
70 71
OBJETIVO
Realizar o estudo fitoquímico na busca de suas principais classes de metabólitos se-cundários, avaliar a atividade antioxidante e de toxicidade com o teste frente à Artemia salina do extrato bruto etanólico das folhas de Rosmarinus officinalis L.
MÉTODOS
Obtenção do extrato bruto
A espécie vegetal foi coletada no dia 29 de agosto de 2014 na cidade de Macapá-Amapá-Brasil, encaminhadas para o laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica da Universidade Federal do Amapá, campus Zerão, para serem limpas e secas em temperatura ambien-te. As folhas secas foram moídas em moinho elétrico e extraídas utilizando etanol como líquido extrator por maceração, por um período de dois dias. Após filtração e evaporação do solvente em rotaevaporador, obteve-se o extrato bruto etanólico.
Análises Fitoquímicas
Para serem realizadas as análises foi adotada a metodologia de Barbosa et al. (2001), na qual o extrato obtido é analisado através de reações de coloração e/ou precipitação, para identificação das principais classes de metabólitos secundários.
Toxicidade frente à Artemia salina Leach
A solução salina foi preparada com 34,2 g de Cloreto de Sódio; 1,425 g de Sulfato de Magnésio; 4,75 g de Bicarbonato de Sódio e 951 mL de água destilada. Depois homoge-neizada, e seu pH ajustado para 9,0, utilizando-se uma solução de 2 mol/L de Hidróxido de sódio. Para obtenção dos metanáuplios, cistos de A. Salina foram incubados em solução marinha artificial (pH 9,0 e 28 ºC) sob iluminação artificial de uma lâmpada de 40 W por 24 horas. Após a eclosão os metanáuplios migram através de uma placa perfurada para outro compartimento com livre incidência de luz, devido ao seu fototropismo, assim, separando as larvas dos resíduos dos cistos e dos cistos que não eclodirem.
O bioensaio com A. Salina foi baseado na técnica descrita por Meyer et al. (1982). Foram utilizados 10 mg do extrato bruto etanólico, adicionados 1 mL de Tween 80 a 5% para ajudar a solubilização. A soluções foram homogeneizadas e o volume completado para 5 mL com solução marinha artificial a pH=9,0. Destas soluções devem foram retiradas alíquotas de 2500, 1875,1250, 625, 250 e 125 µL e depois transferidas para tubos de ensaio de 5 mL
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
72
e os volumes completados com o mesmo solvente, obtendo-se concentrações de 1000, 750, 500, 250, 100 e 50 µg/mL para cada extrato.
Os metanáuplios foram separados em sete grupos, cada um contendo dez indiví-duos. O primeiro grupo recebeu a solução controle (solução de Twewn 80 a 5%) e os seis seguintes as soluções dos extratos nas diferentes concentrações. As amostras foram sub-metidas à iluminação artificial durante 24 horas, após este período foram contabilizadas as larvas vivas e mortas. Foram consideradas as larvas mortas as que não apresentarem qualquer movimento ativo em cerca de vinte segundos de observação. O experimento foi realizado em triplicata para cada concentração.
Atividade Antioxidante
A avaliação da atividade antioxidante foi baseada na metodologia proposta por Sousa et al. (2007), Lopes-Lutz et al. (2008) e Andrade et. al. (2012) diante do consumo de 2,2-di-fenil-1-picril-hidrazila (DPPH) com algumas modificações.
Foi preparada uma solução metanólica de DPPH na concentração de 40 µg.mL–1. O ex-trato foi diluído em metanol nas concentrações 5, 1, 0,75, 0,50 e 0,25 mg/mL–1. Foram adi-cionados em tubo de ensaio 2,7 mL da solução estoque de DPPH, e 0,3 mL da solução de extrato bruto em cada concentração. Foi preparado o branco, apenas solução metanólica de DPPH. Após 30 minutos foram realizadas leituras em espectrofotômetro (Biospectro SP-22) no comprimento de onda de 517 nm (TEPE et al., 2005). A atividade antioxidante foi calculada de acordo com Sousa et al. (2007).
%AA = [100 – (Absamostra – Absbranco)] x100/Abscontrole]%AA – porcentagem de atividade antioxidanteAbsamostra – Absorbância da amostraAbsbranco – Absorbância do brancoAbscontrole – Absorbância do controle
RESULTADOS
Neste estudo, foram realizados treze testes fitoquímicos, onde foram identificados na espécie apenas cinco metabólitos secundários, sendo elas: alcaloides, depsideos e depsido-nas, taninos, açúcares redutores e cumarinas. A Tabela 1 mostra as classes de metabólitos secundários que foram pesquisadas.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
72 73
Tabela 1. Classes de metabólitos secundários pesquisadas neste estudo
Testes Fitoquímicos Resultados
Saponinas -
Ácidos Orgânicos -
Esteroides e Triterpenoides -
Cumarinas +
Purinas -
Alcaloides +
Taninos +
Depsídeos e Depsidonas +
Açúcares Redutores +
Flavonoides -
Proteínas e Aminoácidos -
Antraquinonas -
Polissacarídeos -
Parâmetros: Positivo (+); Negativo (-)
O extrato bruto etanólico do alecrim não apresentou em nenhuma de suas concen-trações a morte dos organismos marinhos, o que faz com que o extrato da espécie não apresente toxicidade nas concentrações testadas.
A análise fitoquímica do extrato bruto etanólico de R. officinalis apresentou compos-tos que apresentam atividade antioxidante comprovada na literatura, como por exemplo os compostos fenólicos, que são eficientes captadores de radicais livres.
A determinação da atividade foi através da regressão linear da Concentração de Inibição de 50% (CI50) que apresentou valor 2,24 mg/mL–1 e forte coeficiente de correlação (R2) de 0,9425. Como pode ser observado no Gráfico 1.
Gráfico 1. Porcentagem de inibição do radical DPPH pelas amostras e pelos padrões da solução de extrato bruto de Rosmarinus officinalis L.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
74
DISCUSSÃO
Os alcaloides agem inibindo a acetilcolina em efetores autônomos inervados pelos nervos pós-glanglionares colinérgicos, como na musculatura lisa, que é desprovida de iner-vação colinérgica. As ações antimuscarínica, de maneira geral, tem pouco efeito nas ações de acetilcolina em receptores nicotínicos, onde na junção neuromuscular, os receptores são nicotínicos, são necessárias doses altas deste princípio ativo para produzir bloqueios (SIMÕES et al., 2007).
A presença dos metabólitos secundários depsídeos e depsidonas na espécie vem de sua biossíntese originada do ácido orselínico, os depsídeos são um dos exemplos de poli-cetideos, a reação biossintética da formação deste ácido está no ácido orselínico sintase, onde seu mecanismo envolve reação de desidratação somente na etapa final quando ocorre a ciclização da cadeia para a formação deste ácido. Este tem sido caracterizado como um complexo enzimático contendo atividades transacetilases, uma proteína transportadora de grupos acil, uma enzima de condensação e uma atividade hidrolase. Os depsídeos e dep-sidonas já foram reportadas a respeito de atividades anti-inflamatória e antibiótica. Devido a essas atividades, estes metabólitos vêm sendo sintetizados para avaliações de suas respectivas atividades biológicas e possibilidade de uso farmacológico (MEDEIROS, 2010).
Os açúcares redutores, substâncias que fazem parte dos grupos dos carboidratos, caracterizam-se por possuírem grupo carbonílico e cetônico livres, capazes de se oxidarem na presença de agentes oxidantes em soluções alcalinas. Os monossacarídeos, glicose e frutose são exemplos dessa classe de compostos (SILVA et al., 2003). São importantes nas plantas principalmente em situações de déficit hídrico, pois propiciam um aumento na síntese de sacarose que contribui com o ajuste osmótico sem inibir a fotossíntese.
Os taninos são complexos de natureza fenólica e hidrossolúveis. A ação dos taninos como captadores de radicais livres, que ocorre em função da interceptação do oxigênio ati-vo formando radical estável, ajuda a prevenir várias doenças degenerativas como câncer, esclerose múltipla, aterosclerose e o próprio processo de envelhecimento (SIMÕES et al., 2001). As atividades bactericidas e fungicidas ocorrem por três características gerais comuns aos dois grupos de taninos: complexação com íons metálicos; atividade antioxidante e se-questradora de radicais livres; habilidade de complexar com outras moléculas, principalmente proteínas e polissacarídeos (MELLO; SANTOS, 2001).
As cumarinas são derivadas da 5,6-benzo-2-pirona (α-cromona). Originam-se do ácido trans-cinâmico que, por oxidação, resulta no ácido o-cumárico, cuja hidroxila fenólica conden-sa com uma unidade de glicose. Esse composto isomeriza no seu correspondente cis, o qual por ciclização forma a cumarina. Este metabólito possui propriedades farmacológicas como a ação anticoagulante, e algumas classes das cumarinas possuem poderosos inibidores da
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
74 75
peroxidação lipídica, além de eliminarem o ânion radical superóxido e quelarem íons ferro. Essas propriedades as tornam substâncias de interesse como antioxidantes, de possível aplicação na prevenção de doenças causadas por radicais livres, além de outras atividades farmacológicas ainda em estudo (KUSTER et. al, 2007).
Nas pesquisas em literatura (PEREIRA et al., 2015) foi possível observar que os testes de toxicidades feitos em óleo essencial de R. officinalis L. possui efeito atóxico com base na taxa de mortos e vivos de metanáuplios (cistos A. salina), semelhante aos resultados observados para o extrato bruto etanólico de R. officinalis L. nesta pesquisa.
Segundo Andrade et al., (2007) a atividade antioxidante dos fenóis ocorre devido às propriedades de oxirredução, que permite agir como agente redutor, doador de hidrogênio e eliminadores de oxigênio singleto. E seu efeito antioxidante das plantas aromáticas atribui-se pela presença de grupos hidroxilas em seus compostos fenólicos.
CONCLUSÃO
Com os estudos das propriedades químicas e biológicas realizadas é possível cons-tatar e evidenciar o potencial do uso da espécie Rosmarinus officinalis L. na terapêutica, onde o extrato bruto desta espécie mostrou bastante eficaz nos testes realizados. Assim, a grande variabilidade dos compostos químicos encontrados nesta espécie deve-se a diversas influencias por vários fatores climáticos e edáficos.
Os compostos químicos encontrados na espécie são os principais fatores relacionados a atividades biológicas. Assim, os testes realizados como a análise fitoquímica, foi possíveis encontrar cinco das principais classe de metabolitos secundários: alcaloides, depsideos e depsidonas, taninos, açúcares redutores e cumarinas.
Com a identificação desses compostos químicos, enfatizou-se o composto fenólico que é reconhecidamente como um composto de atividade antioxidante onde este tem capaci-dade de inibir a formação de radicais livres, que são substâncias reativas. Sendo o teste de atividade antioxidante positivo, podendo assim ser utilizada como uma forma terapêutica fitoterápica para tratamentos de doenças crônicas.
Os bioensaios realizados em laboratórios para definir se uma planta apresenta algum efeito toxico, destaca-se o teste de toxicidade frente à Artemia salina, apresentando resul-tado negativo mostrando que a espécie em estudo é atóxica nas concentrações testadas.
Portanto, a espécie Rosmarinus officinalis da família Lamiacea, mostrou em seus tes-tes um potencial de grande relevância para que esta seja utilizada como fitoterápico, pois os resultados descritos neste trabalho estimulam a continuidade da pesquisa para avaliar o potencial das atividades biológicas das substâncias isoladas da espécie estudada.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
76
AGRADECIMENTOS
Agradecimento pela concessão da Bolsa pelo Programa de Educação Tutorial (SESu/MEC/FNDE), ao curso de Farmácia, da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) para com o Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, coordenado pela Dra. Sheylla Susan Moreira. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
FINANCIAMENTO
Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC), bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET).
REFERÊNCIAS
1. ANDRADE, C. A. et al. Determinação do conteúdo fenólico e avaliação da atividade antio-xidante de Acacia podalyriifolia A. Cunn. ex G. Don, Leguminosae-mimosoideae. Revista Brasileira de Farmacognosia. v. 17, n.2, p. 231-235, 2007.
2. ANDRADE, M. A. et al. Óleos essenciais de Cymbopogon nardus, Cinnamomum zeylani-cum e Zingiber officinale: composição, atividades antioxidante e Antibacteriana. Revista Ciência Agronômica, v. 43, n. 2, p. 399-408, 2012.
3. ASOLINI, F. C., et al. Atividade Antioxidante e Antibacteriana dos Compostos Fenólicos dos Extratos de Plantas Usadas como Chás. Brasilian Journal of food technology. UTFP. v. 9, n. 3, p. 2009-215, Pato Branco, 2006.
4. BACCHI. Elfriede Marianne. Alcaloides Tropânicos. In: SIMÕES, C. M. O. et al. Farmacog-nosia, da planta ao medicamento. 6. Ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS; Florianópolis: Editora da UFSC, 2007. Cap. 30.
5. BARBOSA, W. L. R., et al., Manual Para Análise Fitoquímica e Cromotográfica de Extratos Vegetais. Revista Cientifica da UFPA, 2001.
6. BITENCOURT, A. P. R. et al. Estudo fitoquímico, toxicológico e microbiológico das folhas de Costus spicatus Jacq. Revista Biota Amazônia. v. 4, n. 4, p. 75-79, Macapá, 2014.
7. GENENA, A. K. et al. Rosemary (Rosmarinus officinalis) – a study of the composition, antioxidant and antimicrobial activities of extracts obtained with supercritical carbon dioxide. Ciência e Tecnologia dos Alimentos. v. 28, n. 2, p. 463-469, Campinas, 2008.
8. KUSTER et. al. Cumarinas, cromonas e xantonas. In: SIMÕES, C. M. O. et al. Farmacog-nosia, da planta ao medicamento. 6. Ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS; Florianópolis: Editora da UFSC, 2007. Cap. 21.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
76 77
9. MEDEIROS, Livian Soman. Estudo químico e biológico de microorganismos endofíticos associados às frutas banana, pêra e goiaba. São Carlos, SP, 2010. Originalmente apresen-tada como dissertação de mestrado, Universidade Federal de São Carlos, 2010.
10. MELLO, J. C.P.; SANTOS, S. C. Taninos. In: SIMÕES, C.M.; SCHENKEL, E. P.; GOSMANN, G.; MELLO, J. C.P.; MENTZ, L.A.; PETROVICK, P.R. Farmacognosia: da planta ao medi-camento. UFGRS/ UFSC. 3 ed., p.517-543, Porto Alegre, 2001.
11. MEYER, B. N. et al. Brine shrimp: a convenient general bioassay for active plant consti-tuents. Journal of Medicinal Plants Research. v. 45, p. 31-34, 1982.
12. MORAIS, S. M. et al. Ação antioxidante de chás e condimentos de grande consumo no Brasil. Revista Brasileira de Farmacognosia. v. 19, n. 1, 2009.
13. PEREIRA. E. M. et al. Potencial toxicológico frente Artemia Salina em plantas condimentares comercializadas no município de Campina Grande-PB. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável. UFCG. v. 10, n.1, p. 52 - 56, Campina Grande, 2015.
14. PORTE, A. et al. ALECRIM (Rosmarinus officinalis L.): Propriedades antimicrobiana e química do óleo essencial. B.CEPPA. v. 19, n. 2, Curitiba, 2001.
15. RAMOS, R. S. et al. Preliminary study of the extract of the barks of Licania macrophylla Ben-th: phytochemicals and toxicological aspects. Revista Biota Amazônia v. 4, n. 1, p. 94-99, Macapá, 2014.
16. SILVA, M. S. A. et al. Atividade antimicrobiana e antiaderente in vitro do extrato de Rosmarinus officinalis Linn. sobre bactérias orais planctônicas. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 18, n.2, p. 236-240, 2008.
17. SILVA, R.N.; MONTEIRO, V.N.; ALCANFOR, J.D.X.; Comparação de métodos para a determi-nação de açúcares redutores e totais no mel. Ciência e Tecnologia dos Alimentos. Campinas, v. 23. n. 3. p. 337 – 341, set – dez. 2003.
18. SIMÕES, Cláudia Maria Oliveira; SCHENKEL, Eloir Paulo; GOSMANN, Grace; MELLO, João Carlos Palazzo de; MENTZ, Lilian Auler; PETROVICK, Pedro Ros. Farmacognosia: da planta ao medicamento. Editora Universidade/UFRGS. Ed.2 Porto Alegre, 2001.
19. SOUZA, T. M. et al. Avaliação da atividade antisséptica de extrato seco de Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville e de preparação cosmética contendo este extrato. Revista Brasi-leira de Farmacognosia, v. 17, n.1, p. 71-75, 2007.
06Estudo f i toquímico , at iv idade microbiológica e citotoxicidade das folhas e caule da Mikania lindleyana DC. (1836)
Natálya Gabriely Lobato SantosUNIFAP
Alana Carine Sobrinho SoaresUEAP
Luciedi de Cássia Leôncio TostesIEPA
Alzira Marques OliveiraUNIFAP
Maryele Ferreira CantuáriaIFAP
Jorge Breno Palheta OrellanaUNB
Bruna Bárbara Maciel Amoras Orellana
Ana Luzia Ferreira FariasUEAP
Patrick de Castro CantuáriaIEPA
Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaUNIFAP
10.37885/210303744
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
79
Palavras-chave: Mikania lindleyana, Fitoquímico, Microbiológico, Citotoxicidade.
RESUMO
Mikania lindleyana DC., popularmente conhecida como sucurijú, é uma trepadeira ama-zônica, cujo chá das folhas é a principal forma de uso popular, sendo predita como cicatrizante, anti-inflamatório e antinociceptivo. Objetivo: estudo fitoquímico, avaliação da atividade antimicrobiana e de citotoxicidade do extrato bruto etanólico das folhas e caule da Mikania lindleyana DC. Métodos: O screening fitoquímico, foi realizado de acordo com a metodologia descrita por Carvalho. O bioensaio de citotoxicidade frente à Artemia salina L., foi realizado nos extratos etanólicos da sucurijú, onde os cálculos para CL 50 foram feitos no BioEstat®, através da ferramenta PROBIT. O ensaio microbioló-gico foi realizado pelo método de macrodiluição em tubo, em cepas de Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Resultados: A presença de taninos, saponinas e alcaloides nos extratos, sugeriu seu uso popular, e não apresentou atividade antimicrobiana, frente às bactérias testadas. A citotoxicidade dos extratos, pode estar relacionada aos alcaloides e saponinas presentes em sua constituição. Considerações Finais: O estudo ajudou a comunidade, sugerindo seu uso popular, e contribuiu com a comunidade científica, abrindo frente a novas pesquisas.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
80
INTRODUÇÃO
A espécie vegetal Mikania lindleyana DC. (1836) é uma trepadeira Amazônica, conheci-da popularmente como sucurijú, sucurijuzinho, erva-das-serpentes, cipó-sucurijú entre outros nomes. Suas folhas são muito utilizadas popularmente em forma de chá, como cicatrizante de feridas internas e externas, anti-inflamatório, antinociceptivo e anti-hipertensivo. Esta es-pécie é uma trepadeira arbustiva, perene, lenhosa e sem gavinhas (garras para se prender), com caule volúvel, cilíndrico estriado, verde e ramoso, pertencente à família Asteraceae Bercht. & J. Presl (1820) e ao gênero Mikania Willd. (1803), originária da América do Sul e do Brasil. O Brasil pode se inserir no cenário mundial, como detentor de uma das maiores biodiversidades do mundo. Neste contexto, é muito importante um melhor conhecimento sobre as espécies brasileiras, principalmente, da região amazônica, como a espécie em estudo.
As pesquisas científicas acerca das plantas medicinais, em diferentes partes do mundo, vêm sendo realizadas no sentido de verificar sua atividade farmacológica ou a eficácia de plantas medicinais no tratamento de diversas doenças, contudo, o uso dessas plantas não pode mais ser considerado apenas como cultura de povos ou tradição, mas como ciência que vem sendo estudada, aperfeiçoada e utilizada por grande parte da população mundial, como recurso medicinal, a qual pode trazer inúmeros benefícios aos usuários. Tendo em vista que o uso de produtos naturais pelas comunidades tradicionais da região Amazônica é muito grande, devido ao pouco acesso aos medicamentos, ao seu baixo custo e a ativida-de de comercialização de plantas medicinais serem amplamente difundida nessa região, a comprovação científica destes produtos pode agregar valores a estas atividades.
As análises farmacognósticas proporcionarão, possivelmente, os níveis de qualidade do material vegetal da espécie em estudo, através da comparação com os parâmetros de controle de qualidade estabelecidos pela Farmacopeia Brasileira. A análise fitoquímica irá sugerir seu uso medicinal popular e contribuirá com sua quimiossistemática. Para a atividade microbiológica, os resultados demonstrarão se os extratos, nas concentrações estipuladas, têm possível atividade antimicrobiana, frente a cepas de Escherichia coli (ATCC 25922) e Staphylococcus aureus (ATCC 25923). O bioensaio frente à Artemia salina L., contribuirá com a população, gerando informações sobre as possíveis concentrações atóxicas e citotó-xicas da espécie em estudo, além de contribuir, possivelmente, com a comunidade científica, abrindo novas frentes de pesquisa. O presente trabalho teve como objetivo geral o estudo fitoquímico e a avaliação da atividade antimicrobiana e de citotoxicidade do extrato bruto etanólicos das folhas e caule da espécie vegetal Mikania lindleyana.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
80 81
OBJETIVO
Identificar as classes de metabólitos secundários dos extratos brutos etanólicos das folhas e caule da Mikania lindleyana DC., bem como avaliar sua atividade antimicrobiana e citotoxicidade.
MÉTODOS
Este estudo teve caráter experimental, exploratório e natureza quali-quantitativa. As aná-lises farmacognósticas, a triagem (screening) fitoquímica e a atividade de citotoxicidade frente à Artemia salina foram realizadas no Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP). Os ensaios microbiológicos foram realiza-dos no Laboratório Biodiagnósticos. Os procedimentos experimentais seguem de acordo com Fluxograma 1.
Fluxograma 1 Metodologia utilizada para estudo fitoquímico, atividade microbiológica e de citotoxicidade da espécie vegetal Mikania lindleyana.
Obtenção do Material Vegetal
Os exemplares da espécie vegetal M. lindleyana foram coletados na cidade de Belém, Estado do Pará. Os materiais utilizados para análise foram as folhas e o caule da espécie
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
82
em estudo, identificada por comparação no Herbário da Universidade Federal do Amapá, no município de Macapá.
Obtenção dos Extratos Brutos
As folhas e o caule de M. lindleyana foram separados e fragmentados mecanicamen-te. Os fragmentos foram submetidos a um processo de extração etanólica a quente, sob refluxo à 45 °C, por 45 minutos, utilizando 700 mL para cada extração, sendo que esse processo realizado em triplicata. Em seguida, os materiais foram filtrados e os extratos etanólicos obtidos concentrados em evaporador rotativo, sob pressão reduzida, obtendo-se assim, o Extrato Bruto Etanólico das folhas e caule da espécie vegetal M. lindleyana (EBEFM e EBECM) respectivamente (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010). Os extratos foram utili-zados para triagem fitoquímica, análise microbiológica e de citotoxicidade.
Determinação de pH
A determinação de pH, foi feita de acordo com Macêdo (2003) e com as normas estabelecidas por Zenebon et al. (2008). Foram pesados 10 g do material vegetal em um béquer e diluídos com auxílio de 100 mL de água. O conteúdo foi agitado até que as par-tículas ficassem uniformemente suspensas. O pH foi determinado utilizando-se o pHmetro previamente calibrado.
Determinação de Lipídios
Foram pesados 3 g do material vegetal em papel de filtro e amarrados com fio de lã. O papel de filtro amarrado foi transferido para o aparelho extrator tipo Soxhlet, que foi acoplado em um Erlenmeyer de 250 mL e aquecido em manta aquecedora a 45 °C, e sobre ele foi encaixado um refrigerador de bolas. Foi adicionado 150 mL de hexano no Erlenmeyer em aquecimento. Após eliminação do solvente, o Erlenmeyer foi colocado em estufa a 105 °C e mantido por uma hora, dessecado por 30 minutos e pesado, esse processo foi repetido até obtenção do peso constante (MACÊDO, 2003; ZENEBON et al., 2008).
Cálculo:
Onde:N = massa em g de lipídiosP = massa em g da amostra
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
82 83
Determinação de Resíduo por Incineração – Cinzas Totais
As cinzas totais incluem cinzas fisiológicas e cinzas não fisiológicas. Foram pesados cerca de 3 g do material vegetal pulverizado e transferindo para um cadinho (de silício ou platina) pesado e tarado. A amostra foi distribuída uniformemente no cadinho e incinerada a uma temperatura aumentada gradativamente, de 200 °C à 600 °C ± 25 ºC, até a eliminação total do carvão. As Cinzas Totais foram resfriadas, dessecadas e pesadas (MACÊDO, 2005; ZENEBON et al., 2008; FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010).
Cálculo:
Onde:N = massa em g de cinzasP = massa em g da amostra
Determinação de Umidade – Método Gravimétrico
Foram pesados em 6 placas de Petri lavadas, 3 amostras de pó da folha e 3 amostras de pó do caule, com cerca de 2 g cada. Depois foram submetidas à secagem na estufa a 105 °C durante 2 horas, dessecadas por 30 minutos e pesadas, obtendo-se o peso da soma da placa com amostra seca e dessecada. Em seguida foi colocada novamente na estufa a 105 °C por 30 minutos e no dessecador por 30 minutos e pesada. Esse processo foi repetido até a obtenção do peso constante (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010).
Cálculo:
Onde:Pa = massa da amostra em g.Pu = massa da placa de Petri contendo a amostra antes da dessecação.Ps = massa da placa de Petri contendo a amostra após a dessecação.
Determinação de Alcaloides
Nesta análise, cerca de 2 ou 3 mg do EBEFM e EBECM foram dissolvidos em etanol (5 mL) e adicionado 20 mL de ácido clorídrico a 1%, separadamente. Alíquotas do extrato clorídrico obtido (1 mL) foram transferidas para tubos de ensaio, e adicionados os reativos
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
84
gerais (Mayer, Dragendorff e Bouchardat). A formação de precipitado branco, vermelho tijolo e laranja avermelhado nos reativos respectivamente, indicam presença de alcaloides (CARVALHO et al., 2008; FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010).
Determinação de Antraquinonas
Foram dissolvidos cerca de 2 ou 3 mg do EBEFM e EBECM separadamente, com 5 mL de tolueno e filtrado. Em seguida foi adicionado 2 mL de solução NH4OH a 10% e agi-tado suavemente. O aparecimento de coloração rósea, vermelha ou violeta na fase aquosa indicam reação positiva (CARVALHO et al., 2008).
Determinação de Esteroides e Triterpenos
Em um béquer, 2 ou 3 mg do EBEFM e EBECM foram solubilizados em 5 mL de cloro-fórmio e filtrado. Alíquotas de 0,1 mL, 0,5 mL e 1,0 mL do extrato clorofórmico assim obtido foram pipetadas para tubos de ensaio, o volume foi reajustado para 2,0 mL com clorofórmio. Foi adicionado em cada tubo de ensaio 1,0 mL de anidrido acético e 1 a 3 gotas de ácido sulfúrico concentrado, o rápido desenvolvimento de coloração, que vão do azul evanescence ao verde persistente indicam reação positiva (CARVALHO et al., 2008).
Determinação de Heterosídeos Antociânicos
Cerca de 2 ou 3 mg do EBEFM e EBECM foram solubilizados em 5 mL de água desti-lada, e as alíquotas foram colocadas em três tubos de ensaio. O primeiro tubo foi acidificado com ácido sulfúrico 0,5 M até pH 1, o segundo tubo foi alcalinizado com hidróxido de sódio até pH 10 e o terceiro tubo foi neutralizado até pH 7. O aparecimento de coloração rósea na fase amoniacal indica a presença de heterosídeos antociânicos (CARVALHO et al., 2008).
Determinação de Saponinas
Os três tubos de ensaio utilizados na análise de heterosídeos antociânicos foram agita-dos energicamente por 5 minutos . Em seguida foram deixados em repouso por 30 minutos, se a camada de espuma permaneceu estável por mais de meia hora, com altura de 1 cm, indicando a presença de saponinas espumídicas (CARVALHO et al., 2008).
Determinação de Taninos
Cerca de 2 ou 3 mg do EBEFM e EBECM foram solubilizados em 50 mL de água des-tilada obtendo-se assim a solução mãe. Em 5 mL dessa solução foram adicionados cinco
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
84 85
(5) gotas de solução aquosa de cloreto férrico a 1%. A mudança na coloração ou formação de precipitado é indicativo de reação positiva, quando comparada com o teste em branco (água + solução de FeCl3) (CARVALHO et al., 2008).
Atividade Antimicrobiana
Para a determinação da possível atividade antimicrobiana, foi utilizado o método de macrodiluição em tubo. Foram feitas duas soluções, utilizando o EBEFM e EBECM, cada uma com 10 mg da amostra e 10 mL de soro fisiológico. Em seguida foram colocados 1 mL em tubos a vácuo sem anticoagulante, o concentrado e as diluições 1:2, 1:4, 1:8 e 1:16. Foi preparado uma suspenção bacteriana de 300.000 bactérias por mL da escala de Mc Farland, em tubo de vidro para Escherichia coli e outra para Staphylococcus aureus. Posteriormente foi inoculado 10 µL da suspenção, o que corresponde a 300 bactérias por inoculação, nas concentrações dos extratos da planta, em seguida foi incubado a 36 °C. Após 1 hora foi semeado a cepa de Escherichia coli em meio Eosin Metilen Blue (BEM) e Staphylococcus aureus em ágar sangue. As concentrações foram incubadas novamente e o processo repe-tido durante 3 horas (CUNHA, 2012).
Preparação da solução marinha artificial
A solução salina foi preparada com 34,2 g de Cloreto de Sódio; 1,425 g de Sulfato de Magnésio; 4,75 g de Bicarbonato de Sódio e 951 mL de água destilada. Depois de homogeneizada, o seu pH foi acertado para 9,0, utilizando-se uma solução de 2 mol/L de Hidróxido de Sódio.
Obtenção dos metanáuplios de A. salina
Para a obtenção dos metanáuplios, cistos de A. salina foram incubados em solução ma-rinha artificial (pH 9,0 e 28 ºC) sob iluminação artificial de uma lâmpada de 40 W por 24 horas. Após eclosão os metanáuplios migraram através de uma placa perfurada para outro com-partimento com livre incidência de luz, devido ao seu fototropismo, assim, foram separadas as larvas dos cistos que não eclodiram. Posteriormente, os metanáuplios foram separados em placa de Petri, e deixados à luz artificial por mais 24 horas para obtenção dos náuplios.
Preparação das amostras e do bioensaio
O bioensaio com A. salina foi baseado na técnica descrita por Nascimento et al. (2008). Foram utilizados 10 mg do EBEFM e EBECM, aos quais foram adicionados 1 mL de Tween 80 a 5% para ajudar a solubilização do mesmo. A solução foi homogeneizada e o volume
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
86
foi completado para 5 mL com a solução marinha artificial a pH = 9,0. Desta solução tiveram que ser retiradas alíquotas de 2500, 1875, 1250, 625, 250 e 125 μL e depois foram trans-feridas para tubos de ensaio de 5 mL e os volumes completados com o mesmo solvente, obtendo-se concentrações de 1000, 750, 500, 250, 100 e 50 μg/mL do EBEFM e EBECM.
Os náuplios foram separados em sete grupos, cada um contendo dez indivíduos. O pri-meiro grupo recebeu a solução controle (solução marinha) e os seis seguintes receberam a solução do extrato de M. lindleyana em diferentes concentrações. As amostras foram sub-metidas à iluminação artificial durante 24 horas, após este período foram contabilizadas as larvas vivas e mortas. Foram consideradas larvas mortas as que não apresentaram qualquer movimento ativo em cerca de vinte segundos de observação. O experimento foi realizado em triplicata para cada extrato.
Análise estatística
Para obtenção dos valores de cinzas totais e umidade, foi utilizada a ferramenta Excel 2007. Os cálculos para determinação da taxa de mortalidade de Artemia Salina em função da concentração do EBEFM e EBECM, foram feitos no programa BioEstat® 5.0 através da ferramenta PROBIT.
RESULTADOS
De acordo com os resultados das análises farmacognósticas (Tabela 1), o pH das fo-lhas e caule foram 5,56 e 5,46 respectivamente. Os valores obtidos para lipídios totais foram 3,15% para as folhas e 0,38% para o caule. Para umidade, verificou-se que o pó das folhas e caule da Mikania lindleyana apresentaram resultados em porcentagem de 7,46 ± 0,09 e 7,77 ± 0,06 por cento. Quanto aos valores em porcentagem de cinzas totais para folhas e caule de Mikania lindleyana, essa apresentou 17,29 ± 0,99 e 1,41 ± 0,91 por cento.
Tabela 1. Análises Farmacognósticas das folhas e caule da espécie vegetal Mikania lindleyana DC.
Análise Físico-Química Folha Caule
pH 5, 56a 5, 46a
Lipídios (% m/m) 3,15ª 0,38ª
Cinzas Totais (% m/m) 17,29 ± 0,99 1,41± 0,91
Umidade (% m/m) 7,46 ± 0,09 7,77 ± 0,06
ª -Desvio padrão nulo
A pesquisa fitoquímica proporcionou a detecção de metabólitos secundários, sendo eles: alcaloides, heterosídeos antociânicos, saponinas e taninos (Tabela 2).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
86 87
Tabela 2. Screening Fitoquímico da folha e caule da espécie vegetal Mikania lindleyana DC.
Classe de metabólitos Folha Caule
Alcaloides + +
Antraquinonas -
Esteroides e triterpenos -
Heterosídeos antociânicos + +
Saponinas + +
Taninos + +
(+) Presente (-) Ausente.
Para atividade antimicrobiana, os resultados demonstraram que o EBEFM e EBECM não apresentaram atividade em cepas de E.coli e S. aureus, tendo em vista que a concen-tração de 1000 µg/mL é considerada tóxica, é irrelevante a realização de novos testes em concentrações mais elevadas. Os resultados foram demonstrados na Tabela 3 e 4.
Tabela 3. Crescimento de cepas de E. coli no EBEFM e EBECM concentrados e diluídos de Mikania lindleyana.
Diluições do Extrato do Sucurijú
E. coliEBEFM
E. coliEBECM
E. coliEBEFM
E. coliEBECM
E. coliEBEFM
E. coliEBECM
1 hora 1 hora 2 horas 2 horas 3 horas 3 horas
1000 µg/mL + + + + + +
1:2 + + + + + +
1:4 + + + + + +
1:8 + + + + + +
1:16 + + + + + +
(+) Crescimento
Tabela 4. Crescimento de cepas de S. aureus no EBEFM e EBECM concentrados e diluídos de Mikania lindleyana.
Diluições do Extrato do Sucurijú
S. aureus EBEFM S. aureus EBECM S. aureus EBEFM S. aureus EBECM S. aureus EBEFM S. aureus EBECM
1 hora 1 hora 2 horas 2 horas 3 horas 3 horas
1000 µg/mL + + + + + +
1:2 + + + + + +
1:4 + + + + + +
1:8 + + + + + +
1:16 + + + + + +
(+) Crescimento
O bioensaio de citotoxicidade, frente à Artemia salina, proporcionou a CL50 para EBEFM e EBECM iguais a 619,5571 e 636,9632 µg/mL respectivamente. A concentração da solu-ção das folhas e caule de Sucurijú para matar 50% dos microcrustáceos está demonstrada no Gráfico 1 e 2.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
88
Gráfico 1. Curva concentração-resposta da mortalidade de Artemia salina ao EBEFM após 24 horas.
Gráfico 2. Curva concentração-resposta da mortalidade de Artemia salina ao EBECM após 24 horas.
DISCUSSÃO
Os valores de pH das folhas e caule encontrados pode caracterizar a presença de subs-tâncias ácidas, o que provavelmente está relacionado a presença de saponinas e taninos, pois estes, tendem a diminuir o pH das espécies em que estão presentes, devido a libera-ção de íons no meio reacional (SIMÕES et al., 2003). O resultado obtido é semelhante ao relatado por Owiti (2011), para ele o valor encontrado para as folhas de sucurijú foi 5,0.
Os valores obtidos para lipídios totais na extração não são constituídos apenas de lipí-dios, mas por todos os compostos que nas condições da determinação, possam ser extraídos pelo solvente, sendo assim, torna-se necessária uma análise mais rigorosa para determinação qualitativa na identificação e consequentemente sua quantificação (SIMÕES et al., 2003).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
88 89
Para umidade, o limite máximo recomendado para drogas vegetais é de 14% (SIMÕES et al., 2003), dessa forma, é possível predizer que o material vegetal analisado está pro-tegido de ataques por microrganismos e ações enzimáticas que venham modificar suas propriedades naturais.
No que diz respeito aos valores em porcentagem de cinzas totais para folhas e caule de Mikania lindleyana, em comparação com o limite de 8-14%, estabelecido pela Farmacopeia Brasileira (2010), observou-se que o valor para as folhas está acima do recomendado, o que sugere uma grande concentração de material inorgânico (MARQUES, 2012). Owiti (2011) relata valor de cinzas totais para as folhas de sucurijú de 17,067% ± 0,5 o que é semelhante ao encontrado neste trabalho.
Os metabólitos secundários encontrados neste estudo se assemelham aos relatados por Mendes et al. (2002) que, estudando o extrato hidroalcoólico a partir das folhas do Sucurijú encontrou alcaloides, taninos, esteroides e triterpenóides, já no estudo realizado por Silva (2011) constatou-se a presença de saponinas espumídicas nas folhas desta espécie.
A presença dos grupos de metabólitos secundários encontrados nas análises, eviden-ciam o interesse farmacológico e seu uso popular como cicatrizante, através da presença de taninos (PEREIRA et al., 2012), que atua formando uma camada protetora sobre tecidos epiteliais lesionados, permitindo que, logo abaixo dessa camada, o processo de reparação tecidual ocorra naturalmente (CASTEJON, 2011). A ação anti-inflamatória e antinociceptiva, se dá através dos alcaloides, que atuam biologicamente ao interferir mediadores envolvidos no processo inflamatório (SIMÕES et al., 2003). As saponinas têm capacidade de diminuir os níveis de colesterol, através do aumento de sua excreção, que ocorre devido sua ca-pacidade em se ligar a esteróis, sendo assim, um agente hipolipemiante (SIMÕES et al., 2003). Os heterosídeos antociânicos são metabólitos antioxidantes, que atuam retardando ou impedindo o dano oxidativo, ao bloquear as reações de oxidação (SIMÕES et al., 2003).
A respeito do bioensaio de citotoxicidade, frente à Artemia salina, os resultados ob-tidos confirmaram atividade citotóxica dos extratos das folhas e caule, tendo em vista que Nascimento et al. (2008) considera valores abaixo de 1000 µg/mL como citotóxicos, o que pode está diretamente relacionado à atividade citotóxica dos alcaloides e saponinas (SILVA et al., 2007), presentes nessas partes da planta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A família Asteraceae é uma das maiores do reino plantae, dentre as plantas dessa família á Mikania lindleyana se destaca na medicina popular por apresentar diversas ativi-dades farmacológicas como cicatrizante, anti-inflamatória, analgésico, diurético e anti-hiper-tensiva. No presente estudo, os extratos das folhas e caule da M. lindleyana apresentaram
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
90
as classes de metabólitos secundários alcaloides, antraquinonas, esteroides e triterpenos, heterosídeos antociânicos, saponinas e taninos.
O screening fitoquímico sugere o uso popular da M. lindleyana como cicatrizante, anti-inflamatório e analgésica, através da ação biológica dos taninos e alcaloides, além de somar com outras possíveis atividades, como hipolipemiante e antioxidante pela presença de saponinas e heterosídeos antociânicos respectivamente, o que torna este estudo relevante para a sociedade e colaborando na quimiossistemática da espécie.
O EBEFM e EBECM não apresentaram atividade antimicrobiana em cepas de Escherichia coli e Staphylococcus aureus o que não exclui a possibilidade dessa espécie ter atividade antimicrobiana em outras bactérias. O bioensaio frente à Artemia salina, con-tribuiu com a população, alertando-a sobre as possíveis concentrações tóxicas da espécie em estudo, além de contribuir com a comunidade científica, abrindo uma nova frente de pesquisa, considerando que as saponinas tem ação citotóxica contra células antitumorais e que muitos fármacos citotóxicos de origem vegetal são usados no tratamento do câncer.
AGRADECIMENTOS
Agradecimento pela concessão da Bolsa pelo Programa de Educação Tutorial (SESu/MEC/FNDE), ao curso de Farmácia, da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) para com o Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, coordenado pela Dra. Sheylla Susan Moreira. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao Laboratório Biodiagnósticos.
FINANCIAMENTO
Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC), bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
90 91
REFERÊNCIAS
1. BERCHTOLD, W.; PRESL, J. S. Prir. Rostlin, v. 254, 1820.
2. BRASIL. Farmacopeia Brasileira. 5ª ed. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2010.
3. CARVALHO, L. E.; et al. Estudo em raiz e ráquis foliar de Spathelia excelsa: fitoquímica e atividade frente ao fungo Moniliophthora perniciosa associado ao cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum). Química Nova, v. 35, n. 11, p. 2237-2240, 2012.
4. CASTEJON, F. V. Taninos e saponinas. 2011. Seminário (Mestrado em Ciência Animal) - Escola de Veterinária e Zootecnia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás. 2011.
5. CUNHA, E. L. Avaliação da contaminação bacteriana e por metais pesados na orla fluvial do município de Macapá, Amapá. 2012. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade tropical) - Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical, Universidade Federal do Amapá, Macapá, Amapá. 2012.
6. DC. A. P. Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis. v. 5, p. 195. 1836
7. ZENEBON, O. et al. Métodos químicos e físicos para análise de alimentos. 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008.
8. MACÊDO, J. A. B. Métodos Laboratoriais de Análises Físico-Químicas e Microbiológicas. 2. ed. Belo Horizonte: CRQ-M.G, 2003.
9. MARQUES, G. S. et al. Caracterização fitoquímica e físico-química das folhas de Bauhinia for-ficata Link coletada em duas regiões. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica Aplicada, v. 33, n. 1, p. 57-62, 2012.
10. MENDES, B. et al. Informações fitoterápicas e composição química de Mikania lindleyana DC. (Asteraceae). Revista Brasileira de Farmácia, Curitiba, v. 83, n. 1/4, p. 27-29, jan. 2002.
11. NASCIMENTO, J. et al. Estudo fitoquímico e bioensaio toxicológico frente a larvas de Artemia salina Leach. de três espécies medicinais do gênero Phyllanthus (Phyllanthaceae). Revista Ciências Farmacêuticas Básica Aplicada, v. 29, n. 2, p. 145-150, 2008.
12. OWITI, A. O. Desenvolvimento de um método para caracterização de extrato hidroeta-nólico das folhas de Mikania lindleyana DC. por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). 2011. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará. 2011.
13. PEREIRA, R. J. et al. Metabólitos secundários vegetais e benefícios antioxidantes. Journal of Biotechnology and Biodiversity, v. 3, n. 4, p. 146-152, 2012.
14. SILVA, A. S. B. Avaliação da atividade antinociceptiva e anti-inflamatória de Mikania lindleyana DC.: validação do uso na medicina popular. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará. 2011.
15. SILVA, D. B. et al. Isolamento e avaliação da atividade citotóxica de alguns alcalóides oxapor-fínicos obtidos de Annonaceae. Química nova, v. 30, n. 8, p. 1809-1812, 2007.
16. SIMÕES, C. M. O. et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5. ed. Florianópolis: Editora UFRGS, 2003.
17. WILLDENOW. C. L. Species Plantarum. 4. ed. Berlin. 1803.
07E s t u d o f i t o q u í m i c o , a n á l i s e farmacognóstica e ensaio toxicológico das cascas da Dalbergia monetaria Linnaeus f. (1782)
Thayná Oliveira CorrêaUNIFAP
Patrick de Castro CantuáriaIEPA
Elizabeth Viana Moraes da CostaUNIFAP
Ana Luzia Ferreira FariasUEAP
José Policarpo Miranda JúniorAMBIEX
Líbio José Tapajós MotaGEA
Antônio Carlos Freitas SouzaIEPA
Pablo de Castro CantuáriaALAP
Juliana Eveline dos Santos FariasIFAP
Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaUNIFAP
10.37885/210303483
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
93
Palavras-chave: Artemia salina L, Plantas medicinais, Triagem fitoquímica, Verônica.
RESUMO
A espécie vegetal Dalbergia monetaria L. f. pertence à família Fabaceae, uma das maiores famílias de angiospermas, e possui ampla distribuição por diversos países. No Brasil, esta espécie é popularmente conhecida como Verônica, suas folhas e cascas são am-plamente empregadas na medicina tradicional, na forma de chás ou banho de asseio, para tratamento de distúrbios gastrointestinais, anemias e diarreias. Objetivo: avaliar o perfil fitoquímico, físico-químico e a toxicidade frente à Artemia salina (Linnaeus, 1758) do extrato bruto etanólico das cascas do caule da espécie D. monetaria. Métodos: reali-zou-se a prospecção fitoquímica do extrato bruto etanólico de acordo com a metodologia descrita por Barbosa et al. (2004) e a análise físico-química foi realizada seguindo os procedimento do Instituto Adolfo Lutz (2008) e por métodos encontrados na Farmacopeia Brasileira (2010). Para o ensaio toxicológico seguiu-se a metodologia de Araújo, Cunha e Vezenziani (2010) e Lobo et al. (2010). Resultados: as análises fitoquímicas de-tectaram açúcares redutores, saponinas, fenóis e taninos. Em relação aos parâmetros físico-químicos apresentou pH de 5,35, possivelmente pela presença de substâncias ácidas. O teor de umidade foi de 6,81% e está relacionada a pouca quantidade de água presente, fator indispensável para não ocorrência de desenvolvimento de microrganismo ou degradação enzimática. O teor de cinzas apresentou valor de 5,65% e está dentro do limite recomendado. Conclusão: a análise fitoquímica confirmou, em partes, a utilização da espécie para fins terapêuticos. Os parâmetros físico-químicos adotados mostraram que a espécie encontra-se livre de agentes decompositores e o ensaio toxicológico de-monstrou a baixa toxicidade do extrato.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
94
INTRODUÇÃO
O Brasil apresenta uma das maiores diversidades de espécies de plantas do planeta (SILVA, 2014). Essa variedade exerce um maior acesso ao desenvolvimento e atualização de fármacos propostos a terapia de inúmeras patologias (FIRMO, 2014). Pensando na im-portância do potencial terapêutico das plantas medicinais, seus estudos e pesquisas são de grande valia para a compreensão de suas atividades farmacológicas e propriedades toxicológicas (ARRAIS, 2014).
O gênero Dalbergia Linnaeus f. (1782) possui distribuição em diversos países e centros de diversidade na América Central e do Sul, África, Madagascar e Ásia (VATANPARAST et al., 2013). Conta com cerca de 500 espécies, das quais 39 espécies foram catalogadas no Brasil até o momento. As espécies deste gênero crescem em diversos habitats, incluindo florestas úmidas e secas, savanas, dunas costeiras e afloramentos rochosos e contêm uma variedade de formas de vida lenhosas, incluindo árvores, arbustos eretos ou escandentes e lianas. Essa diversidade de ecologia e formas de vida pode ter contribuído para a capaci-dade das espécies de Dalbergia de colonizar com sucesso e, assim, expandir sua área de distribuição (VATANPARAST et al., 2013).
As espécies vegetais do gênero Dalbergia possuem estípulas foliáceas geralmente pe-quenas e caducas. Folhas normalmente imparipinadas e raramente unifolioladas. Apresenta inflorescência paniculada, às vezes grande, com pequenas folhas mescladas. Flores papi-lionadas, bilateralmente simétricas, geralmente pequenas e numerosas e frequentemente perfumadas. Os frutos são legumes samaroides, oblongos a oblongo-elípticos, membraná-ceos para submembranáceos e com venação reticulada proeminente sobre toda a super-fície ou, ainda, com nervuras em vez difusa (FILLARDI; LIMA; CARDOSO, 2021; SENA, 2018). Em relação à composição química, metabólitos como isoflavonoides, neoflavonoides, glicosídeos, quinonas, furanos, esteroides e outros compostos diversos, têm sido isolados de espécies do gênero Dalbergia (SAHA et al., 2013).
A espécie vegetal Dalbergia monetaria Linnaeus f. (1782) é pertencente à família Fabaceae Lindl. (1836), a terceira maior família dentro das angiospermas, caracteriza-se por ser um arbusto ou liana robusta, com folhas compostas de 3 a 5 folíolos ovais, acuminados, concolores. Possui flores brancas dispostas em racemos paniculados e frutos do tipo vagem glabra. Peciólulo com cutícula estriada, plano de secção transversal circular e contorno regu-lar, epiderme foliolar e peciolular com tricomas tectores lanceolados, ausência de cera epicu-ticular na face abaxial da epiderme foliolar e margem foliolar acuminada (COTA, 1999; SENA, 2018). Esta planta possui distribuição por países como Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Guiana Francesa, Guatemala, Guadalupe, Haiti, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Peru, Porto Rico, Suriname e Venezuela (SAHA et al., 2013). No Brasil,
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
94 95
esta espécie é popularmente conhecida como Verônica e ocorre naturalmente nos estados da região Amazônica (COTA, 1999). Na literatura é relatada a presença de metabólitos secundários na casca e nas sementes de D. monetaria, dentre estes compostos tem-se iso-flavonoides e taninos, como as proantocianidinas. Também já foram isolados desta espécie vegetal, (VASUDEVA et al., 2009; SAHA et al., 2013; GOIS et al., 2016).
Na Medina tradicional é relatado o uso das cascas de D. monetaria no tratamento de diarreia, anemia, desordens gástricas e desintoxicação hepática. Ainda, é empregada no tratamento de corrimento vaginal, na regulação do ciclo menstrual e também na recupera-ção da musculatura vaginal pós-parto (COTA, 1999; GOIS et al., 2016). As folhas e cascas também são utilizadas para tratar inflamações, vômitos e ferimentos, na forma de chás ou banho de asseio (FREITAS; FERNANDES, 2006). Quanto às atividades biológicas, já tem relatos na literatura de certa atividade antiulcerogênica no extrato aquoso liofilizado das cascas de D. monetaria (SOUZA BRITO; COTA; NUNES, 1997) e atividade imunomodu-ladora, de compostos Isoflavonoides, isolados das cascas desta espécie (KAWAGUCHI et al., 1998). Em outro estudo, o extrato acetato de etila das folhas da D. monetaria mostrou potencial antioxidante (CAVALCANTE, 2011).
OBJETIVO
Avaliar o perfil fitoquímico, físico-químico e a toxicidade frente à Artemia salina do extrato bruto etanólico das cascas do caule da espécie D. monetaria L. f.
MÉTODOS
Coleta do material vegetal
As cascas da espécie D. monetaria foram coletadas no Polo da Fazendinha, distrito da cidade de Macapá, no estado do Amapá. Em seguida, o material vegetal foi transportado para o Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, instalado no campus Marco Zero.
Obtenção do extrato bruto etanólico
A casca do caule da espécie foi separada para secagem a temperatura ambiente e tritu-rado em moinho de facas no Laboratório de Bioprospecção e Absorção Atômica da UNIFAP. Após a secagem e pulverização, o material botânico foi colocado em balão de fundo redondo com etanol 96ºGL na proporção 1:2 (m/v), compreendendo um período de extração durante
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
96
quatro dias até o esgotamento do vegetal. Posteriormente, o extrato obtido foi concentrado em rotaevaporador sob pressão reduzida e acondicionado em erlenmeyer no dessecador.
Análises físico-químicas
Os parâmetros físico-químicos adotados nesta pesquisa foram: pH, resíduos por inci-neração (cinzas) e umidade. Seguiram-se os procedimentos do Instituto Adolfo Lutz (2008) e os métodos descritos na Farmacopeia Brasileira (2010).
Na determinação de pH, 10g de amostra vegetal foram pesadas em um béquer e adi-cionou-se 100 mL de água destilada. A mistura foi então agitada e em seguida realizou-se a análise do pH utilizando o equipamento pHmetro, previamente calibrado. Para padronização do pHmetro foram realizadas leituras das soluções tampões com pH 4,0 e 7,0.
Para obtenção do teor de cinzas, 3 g de material vegetal foi levado e transferido para um cadinho de porcelana, previamente calcinado a 450°C em um forno mufla. Após o resfriamen-to, o recipiente foi pesado. O material vegetal foi submetido à incineração e foi posteriormente resfriado em Aaron por 30 min e pesado em uma balança analítica. Este procedimento foi realizado em triplicata e então foi realizado o cálculo usando a seguinte equação:
N = Massa de cinzas (g)P = Massa da amostra (g)A determinação do teor de umidade foi realizada em triplicata. Foram pesados 2g da
amostra vegetal e transferidos para um cadinho de porcelana, previamente pesado. O material foi aquecido por 3 horas e em seguida resfriado em dessecador. Após alcançar a tempera-tura ambiente, pesou-se novamente. Este procedimento foi repetido até o peso se manter constante. Ao final, foi obtida a média do teor de umidade do material, conforme a equação:
N = perda de massa(g)P = quantidade de amostra(g)
Estudo fitoquímico
Foi realizado o screening fitoquímico do extrato obtido com a utilização de reveladores específicos segundo metodologia proposta por Barbosa et al. (2004), para Ácidos orgânicos,
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
96 97
açúcares redutores, saponinas, polissacarídeos, fenóis e taninos, flavonoides, alcaloides, purinas, esteroides e triterpenos, depsídios e depsidonas, antraquinonas e catequinas.
Ensaio de toxicidade frente à Artemia salina L.
O ensaio de toxicidade frente à Artemia salina Linneaus (1758) foi baseado na técnica de Araújo, Cunha e Veneziani isoflavonoides, neoflavonoides, glicosídeos, quinonas, fura-nos, esteroides (2010) e Lobo et al., (2010) com algumas modificações. Inicialmente, foram preparados 250 mL da solução sal marinho sintético (35,5 g/L) para incubação de 25 mg de ovos de A. salina, no qual foram expostas à luz artificial em período de 24 h para eclosão das lavas (metanáupilos), em seguida os metanáupilos foram separados e colocados em ambiente escuro por período de 24h. A solução mãe foi preparada contendo 62,5 mg do ex-trato bruto das cascas do caule de D. monetaria, 28 mL da solução de sal marinho sintético e 2 mL de Dimetilsufoxido (DMSO) para facilitar a solubilização do mesmo.
Posteriormente, ao término do período em escuro os mesmos foram selecionados e divididos em 7 grupos com 10 indivíduos em cada tubo de ensaio, a cada grupo foi adicio-nada uma alíquota retirada da solução mãe (3000 µL a 100 µL) no qual o volume foi com-pletado para 5 mL com a solução de sal marinho sintético. As soluções finais apresentaram as seguintes concentrações variando de 1250 µg/mL a 1 µg/mL, dessa forma os grupos foram designados de acordo com sua respectiva concentração e todos os testes foram realizados em triplicatas.
RESULTADOS
Análise fitoquímica
A análise fitoquímica preliminar do extrato etanólico das cascas do caule da D. mo-netaria revelou a presença dos seguintes metabólitos secundários: açúcares redutores, saponinas, fenóis e taninos. Os resultados podem ser observados na Tabela 1.
Tabela 1. Resultado preliminar da análise fitoquímica do extrato etanólico das cascas de D. monetaria.
Metabólitos secundários Resultados
Ácidos orgânicos -
Açúcares redutores +
Alcaloides -
Depsídeos e Depsidonas -
Esteroides e Triterpenoides -
Fenóis e Taninos +
Flavonoides -
Polissacarídeos -
Purinas -
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
98
Metabólitos secundários Resultados
Saponinas +
Legenda: (+) presente (-) ausente.
Análises físico-químicas
Os valores determinados nas análises físico-químicas da casca do caule de D. mone-taria estão expressos na Tabela 2.
Tabela 2. Caracterização físico-química da casca do caule de D. monetaria.
Parâmetros Resultados
pH 5,35
Umidade (% m/m) 6,81
Cinzas (% m/m) 5,65
Ensaio de toxicidade frente à Artemia salina
Para o teste de toxicidade frente à A. salina do extrato bruto das cascas do caule de D. monetaria foi realizado o cálculo de CL50 e este apresentou valor de 4034,23µg/mL. A comparação entre a mortalidade e as concentrações no extrato para as diluições, está expresso no Gráfico 1.
Gráfico 1. Resultado do teste de toxicidade do extrato bruto das cascas de D. monetaria frente à larva A. salina.
DISCUSSÃO
A análise fitoquímica demonstrou a presença de açúcares redutores. Os açúcares redutores são utilizados como agregantes de sabor, na indústria alimentícia e são úteis na
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
98 99
confecção de bebidas através da fermentação fúngica da sacarose e doces, proporcionan-do sabor, odor e coloração diferentes aos mesmos (OETTERER, 2006). A atividade anti--inflamatória dassaponinas é conhecida pelas espécies Aesculus hippocastanum Loudon. (castanheira-da-índia) e Glycyrrhiza glabra Linnaeus (alcaçuz). Nas espécies Glycyrrhiza glabra L. e Gymnema sylvestre (Retz) pode-se encontrar atividade antiviral desses com-postos (SCHENKEL; GOSMANN; ATHAYDE, 2007). Além destas propriedades, também são descritas na literatura outras atividades biológicas associadas às Saponinas, como a atividade antioxidante, anti-helmíntica e antiedematogênica (SCHENKEL, 2007). Diante dis-so, a presença destas classes de metabólitos secundários vem corroborar, em parte, com o uso da planta pela população.
Outro metabólito secundário que teve resultado positivo neste estudo foram os Taninos. A utilização de plantas medicinais ricas em Taninos é aplicada na medicina tradi-cional na terapia de distúrbios estomacais, como gastrite e úlcera, distúrbios renais e em processos inflamatórios (SANTOS, 2007). Sobre a atividade farmacológica dos Taninos acredita-se que deva ser correspondente as propriedades de: 1) complexação com íons metálicos (ferro, manganês, vanádio, cobre, alumínio, cálcio, entre outros); 2) atividade antioxidante e sequestradora de radicais livres e 3) habilidade de complexar com outras moléculas incluindo macromoléculas tais como proteínas e polissacarídeos (SANTOS, 2007).
A produção de uma camada protetora (complexo tanino-proteína e/ou polissacarídeo) na derme ou mucosa lesada é uma característica dos Taninos no tratamento de feridas, queimaduras e inflamações, ajudando assim, no progresso curativo espontâneo com a re-generação do epitélio e formação dos vasos (SANTOS, 2007). Em um estudo realizado em ratos, o extrato aquoso liofilizado de D. monetaria demonstrou potencial antiulcerogênico já registrado na literatura, e ainda com base em estudos anteriores que identificaram a presença de proantocianidinas nesta espécie vegetal, sendo estes compostos fenólicos inibidores da enzima histidina descarboxilase. O mecanismo envolvido na redução de lesões ulcerativas pode estar relacionado à propriedade desses compostos de inibir a produção de histamina (SOUZA BRITO; COTA; NUNES, 1997). Dessa maneira, a presença de Taninos nesta es-pécie, pode justificar em partes, o uso medicinal das cascas de D. monetaria, na forma de chá, no tratamento de distúrbios gástricos e como agente anti-inflamatório.
Além disso, a atividade antioxidante tem sido descrita em alguns ácidos fenólicos (CARVALHO; GOSMANN; SCHENKEL, 2007). Isso se deve especialmente à propriedade redutora e estrutura química dessas substâncias, uma vez que ambas as características possuem uma função significativa na neutralização ou sequestro de radicais livres e quela-ção de metais de transição, operando tanto no período inicial como no desenvolvimento do
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
100
processo oxidativo (SOUSA, 2007). Assim, o potencial antioxidante desta planta descrito na literatura, pode estar associado à presença desses compostos.
O pH é um importante parâmetro físico-químico, pois ele é um indicador de possíveis mudanças químicas no vegetal, distingue quais substâncias serão obtidas, de acordo com a polaridade e caráter químico do composto e atesta se o ácido pode ser prejudicial para os microrganismos (LONGHINI et al, 2007).
A análise físico-química apresentou um valor de pH de 5,35 para o extrato etanólico das cascas de D. monetaria, este resultado caracteriza a presença de substâncias potencial-mente ácidas. A presença dos metabólitos secundários ácidos como os Fenóis e Saponinas espumídicas na espécie ou ainda, a ausência de compostos básicos como os Alcaloides, podem justificar o caráter ácido deste extrato.
O teste de cinzas tem como objetivo indicar o conteúdo de impurezas inorgânicas pre-sente na matéria orgânica (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010). Essas impurezas podem ser representadas pelos elementos magnésio, cálcio e ferro. Grandes quantidades de cinzas, em alguns casos derivadas do ambiente, podem indicar alteração ou poluição (VERDAM, 2014). Neste experimento o teor de cinzas do material vegetal foi de 5,65%. O limite reco-mendado de acordo com a Farmacopeia Brasileira (2010) é de 15%. Portanto, o material vegetal está em conformidade com o requisito e provavelmente apresenta baixa quantidade de impurezas inorgânicas.
O surgimento de microrganismos e hidrólise nos componentes do extrato pode ser ocasionado devido à umidade excessiva (VERDAM, 2014). O limite máximo proposto de umidade para drogas vegetais é de 14% (RAMOS; RODRIGUES; ALMEIDA, 2014). O extrato das cascas de D. monetaria apresentou resultado de 6,81%. Sendo assim, o teor de umidade encontrado permite prever que o material botânico esteja protegido de ataques por microrga-nismos e ações enzimáticas que resultam na transformação de suas propriedades naturais.
Muitos testes toxicológicos de extratos de plantas desenvolvidos com A. salina são encontrados na literatura, devido a sua velocidade de realização e acessibilidade (ARAÚJO; CUNHA; VENEZIANI, 2010). O Gráfico 1 demonstra a mortalidade em função das concen-trações de extrato para as diluições do extrato de D. monetaria obtidas no presente estudo.
Segundo o teste de toxicidade do extrato bruto, a espécie D. monetaria apresenta baixa toxicidade, pois a CL50 calculada foi de 4034,23µg/mL. Estatisticamente o valor F (1,3686) é bastante significativo, assim, a taxa de mortalidade aumenta com a diminuição na deter-minação do valor da CL50. Portanto, o extrato desta planta é considerado atóxico. Uma vez que, para os extratos de plantas serem conceituados como atóxicos, a relação estabelecida entre a mortalidade e CL50 apresentada pelo extrato sobre as lavas de A. salina deve ser superior a 1000µg/mL (RAMOS; RODRIGUES; ALMEIDA, 2014).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
100 101
Este experimento mostrou-se correspondente a outras atividades biológicas, como antitumorais e ação contra Trypanosoma cruzi, as quais possuem alta toxicidade para A. sa-lina (LIMA, 2014). Logo, o extrato de D. monetaria apresenta esse potencial. Ainda, este experimento é considerado importante para o conhecimento toxicológico de possíveis ati-vidades biológicas.
CONCLUSÃO
De acordo com os resultados apresentados neste estudo, a análise fitoquímica demons-trou resultados positivos para açúcares redutores, fenóis, taninos e saponinas. A presença desses metabólitos secundários, que possuem atividades biológicas descritas na literatura, possivelmente está associada ao uso medicinal da espécie D. monetaria pela população. Ainda, os parâmetros físico-químicos analisados demonstraram que o material vegetal não sofre degradação por agentes decompositores. Acerca do ensaio toxicológico realizado para o extrato das cascas da espécie D. monetaria, este é considerado de baixa toxicidade, o que corrobora com o uso da população como banho de asseio e o uso do chá. Diante disso, a espécie estudada apresenta potencial para fins medicinais e é consistente com seu uso pela medicina popular. Porém, sugerem-se mais estudos e experimentos in vivo e in vitro, a fim de elucidar as atividades farmacológicas desta planta.
AGRADECIMENTOS
Agradecimento pela concessão da Bolsa pelo Programa de Educação Tutorial (SESu/ MEC/ FNDE), ao curso de Farmácia, da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) para com o Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, coordenado pela Dr. Sheylla Susan Moreira. Ao Laboratório de Bioprospecção e Absorção Atômica da UNIFAP. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
FINANCIAMENTO
Secretária de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC), bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
102
REFERÊNCIAS
1. ARAÚJO, M. G. F.; CUNHA, W. R.; VENEZIANI, R. C. S. Estudo fitoquímico preliminar e bioensaio toxicológico frente a larvas de Artemia salina Leach. de extrato obtido de frutos de Solanum lycocarpum A. St.-Hill (Solanaceae). Revista Ciência Farmácia Básica Aplicada, v. 31, n. 2, p. 205-209, 2010.
2. ARRAIS, L. G. et al. Atividade antimicrobiana dos extratos metanólicos da raiz, caule e folhas de Croton pulegioides Baill. (Zabelê). Revista Brasileira Plantas Medicinais, v. 16, n. 2, p. 316-322, 2014.
3. BARBOSA, W. L. R. et al. Manual para análise fitoquímica e cromatográfica de extratos vege-tais. Revista Científica da UFPA, v. 4, n. 5, p. 12-18, 2004.
4. CARVALHO, J. C. T.; GOSMANN, G.; SCHENKEL, E. P. Compostos fenólicos simples e heterosídicos. In: SIMÕES, C. M. O. et al. Farmacognosia: da Planta ao Medicamento. 6 ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007, p. 519-533.
5. CAVALCANTE, M. A. Estudo do potencial antimicrobiano e antioxidante de espécies vegetais amazônicas. 2011. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimento) – Universidade Federal do Pará, Belém, 2011.
6. COTA, R. H. S. et al. Anti‐ulcerogenic mechanisms of a lyophilized aqueous extract of Dalbergia monetaria L. in rats, mice and guinea‐pigs. Journal of Pharmacy and Pharmacology, v. 51, n. 6, p. 735-740, 1999.
7. FARMACOPEIA BRASILEIRA. 5 ed. Brasília: ANVISA, 2010.
8. FILARDI, F. L. R.; LIMA, H. C.; CARDOSO, D. B. O. S. Dalbergia. Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22908>. Acesso em: 16 fev. 2021.
9. FIRMO, W. C. A. et al. Estudo fitoquímico e avaliação da atividade antibacteriana de Lafoen-sia pacari (Lythraceae). Publicação UEPG Ciências Biológicas e da Saúde, v. 20, n. 1, p. 7-12, 2014.
10. FREITAS, J. C. de; FERNANDES, M. E. B. Uso de plantas medicinais pela comunidade de Enfarrusca, Bragança, Pará. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi Ciências Naturais, v. 1, n. 3, p. 11-26, 2006.
11. GOIS, M. A. F. et al. Etnobotânica de espécies vegetais medicinais no tratamento de trans-tornos do sistema gastrointestinal. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 18, n. 2, p. 547-557, 2016.
12. INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Métodos químicos e físicos para análise de alimentos. São Paulo: IMESP, 2008.
13. KAWAGUCHI, K. et al. Colony stimulating factor-inducing activity of isoflavone C-glucosides from the bark of Dalbergia monetaria. Planta Medica, v. 64, n. 7, p. 653-655, 1998.
14. LIMA, C. M. P. et al. Avaliação da toxicidade aguda do extrato das cascas de Pithecellobium cochliocarpum (Gomez) Macbr. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 16, n. 4, p. 832-838, 2014.
15. LINDLEY, J. An introduction to the natural system of botany. 2 ed. 1836. Disponível em:< https://www.ipni.org/p/19640-2>. Acesso em: 20 fev. 2021.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
102 103
16. LINNAEUS, C. Artemia salina. Global biodiversity information facility. 1758. Disponível em:< https://www.gbif.org/pt/species/148742377/verbatim>. Acesso em: 20 fev. 2021.
17. LINNAEUS, C. Supplementum Plantarum Systematis Vegetabilium. International plant names index. 1782. Disponível em:< https://www.ipni.org/n/490342-1>. Acesso em: 20 fev. 2021.
18. LOBO, K. M. S. et al. Avaliação da atividade antibacteriana e prospecção fitoquímica de So-lanum paniculatum Lam. e Operculina hamiltonii (G. Don) D. F. Austin & Staples, do semiárido paraibano. Revista Brasileira Plantas Medicinais, v. 12, n. 2, p. 227-233, 2010.
19. LONGHINI, R. et al. Obtenção de extratos de própolis sob diferentes condições e avaliação de sua atividade antifúngica. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 17, n. 3, p. 388-395, 2007.
20. OETTERER, M. Propriedades dos açúcares. In: OETTERER, M.; D’ARCE, M. A. B. R.; SPO-TO, M. H. F. Fundamentos da ciência e tecnologia de alimentos. 1. ed. São Paulo: Manole, 2006, p. 135-192.
21. RAMOS, S. R.; RODRIGUES, A. B. L.; ALMEIDA, S. S. M. S. Preliminary study of the extract of the barks of Licania macrophylla Benth: phytochemicals and toxicological aspects. Revista Biota Amazônia, v. 4, n. 1, p. 94-99, 2014.
22. SAHA, S. et al. Ethnomedicinal, phytochemical, and pharmacological profile of the genus Dal-bergia L. (Fabaceae). Phytopharmacology, v. 4, n. 2, p. 291-346, 2013.
23. SANTOS, S. C.; MELLO, J. C. P. Taninos. In: SIMÕES, C. M. O. et al. Farmacognosia: da Planta ao Medicamento. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007, p. 615-645.
24. SCHENKEL, E. P.; GOSMANN, G.; ATHAYDE, M. L. Saponinas. In: SIMÕES, C. M. O. et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6 ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2007, p. 711-740.
25. SENA, R. X. Estudo anatômico comparativo de Dalbergia L.f. (Fabaceae - Papilionoideae) da amazônia brasileira. 2018. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) – Universidade Federal Rural do Amazônia, Belém, 2018.
26. SILVA, A. C. et al. Projeto de extensão plantas medicinais na atenção básica à saúde. EX-TRAMUROS-Revista de Extensão da Univasf, v. 2, n. 2, p. 75-85, 2014.
27. SOUSA, C. M. M. et al. Fenóis totais e atividade antioxidante de cinco plantas medicinais. Química Nova, v. 30, n. 2, p. 351-355, 2007.
28. SOUZA BRITO, A. R. M.; COTA, R. H. S.; NUNES, D. S. Gastric antiulcerogenic effects of Dalbergia monetaria L. in rats. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Medical and Scientific Research on Plants and Plant Products, v. 11, n. 4, p. 314-316, 1997.
29. VASUDEVA, N. et al. Chemistry and biological activities of the genus Dalbergia-A review. Pharmacognosy Reviews, v. 3, n. 6, p. 307, 2009.
30. VATANPARAST, M. et al. First molecular phylogeny of the pantropical genus Dalbergia: impli-cations for infrageneric circumscription and biogeography. South African Journal of Botany, v. 89, p. 143-149, 2013.
31. VERDAM, M. C. S. Contribuição ao estudo fitoquímico e biológico de Byrsonima ducke-ana W. R. Anderson (Malpighiaceae). 2014. Tese (Doutorado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014.
08Estudo fitoquímico, físico-químico e ensaio toxicológico das cascas do Hura crepitans L. (Euphorbiaceae)
Ingrid Isabelly Araújo BarbosaUNIFAP
Alana Carine Sobrinho SoaresUEAP
Luciedi de Cássia Leôncio TostesIEPA
Alzira Marques OliveiraUNIFAP
Maryele Ferreira CantuáriaIFAP
Jorge Breno Palheta OrellanaUNB
Bruna Bárbara Maciel Amoras Orellana
Ana Luzia Ferreira FariasUEAP
Patrick de Castro CantuáriaIEPA
Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaUNIFAP
10.37885/210303782
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
105
Palavras-chave: Alcaloides, Cinzas Totais, Atividade Biológica.
RESUMO
Introdução: Hura crepitans L. (Euphorbiaceae) é em planta característica da Amazônia. Sua casca é descrita como anti-inflamatório e cicatrizante. Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi realizar o estudo fitoquímico e físico-químico e atividade de citotoxicidade frente às larvas de Artemia salina das cascas de H. crepitans. Metodologia: O material foi coletado no distrito de Fazendinha - Macapá – Brasil. A metodologia utilizada para a determinação dos metabólitos secundários foi descrita pela Farmacopeia Brasileira e Macêdo. Os parâmetros físico-químicos de resíduos por incineração e umidade fo-ram realizados de acordo com as metodologias do Instituto Adolf Lutz e Farmacopéia Brasileira. A análise de citotoxicidade seguiu metodologia padrão descrita por Araújo e Lobo. Resultados: A análise fitoquímica do extrato bruto etanólico das cascas detectou a presença de saponinas, que apresenta atividade na cicatrização de feridas e atividade anti-inflamatória; alcaloides, que atua como anti-hipertensivos, antitumorais, estimulan-tes do SNC, entre muitos outros, e açúcares redutores. Segundo Simões e Hubinger a umidade máxima recomendada para drogas vegtal é de 14%. Assim, H. crepitans mostraram um resultado de 12,75 ± 0,12%, mostrando que o material está protegido do ataque por microorganismos e ação enzimática. Resíduos por incineração correspondeu a 6,93% encontrando-se dentro dos padrões farmacognóstica. A citoxicidade resultou em CL50>1 µg/mL confirmando a descrição de planta venenosa. Conclusão: A característica citotoxica pode estar relacionada com a presença de saponinas, por ser anfifílica e pela capacidade de formar complexos com esteroides, proteínas e membranas fosfolipídicas, sua permeabilidade é alterada, causando sua destruição, demonstrando seu pontecial para busca de princípios ativos.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
106
INTRODUÇÃO
A forte tendência à busca de novos agentes terapêuticos, especialmente aqueles oriun-dos por meios naturais, tem crescido cada vez mais nos últimos anos, devido à grande variedade de substâncias bioativas com potencial antimicrobiano e tem sido usada para tratar doenças de diversas origens, incluindo a origem infecciosa viral. Uma das famílias de plantas mais estudada é Euphorbiaceae Juss. (JUSSIEU, 1789), que inclui 8.000 espécies, muitas das quais têm sido úteis para o tratamento de várias doenças, pois estudos têm-se centrado na avaliação dos seus efeitos, demonstrando o seu potencial antitumoral, antiviral, antibacteriano e antioxidante (TABORDA, 2007).
A família é distribuída entre 317 gêneros agrupados em 49 tribos e 5 subfamí-lias. No Brasil, cerca de 80 gêneros estão presentes, sendo uma das famílias mais ricas quanto a sua distribuição no ecossistema brasileiro, com cerca de 1.000 espécies. São encontradas representantes desta família em todos os tipos de vegetação do país, po-rém, a caatinga é o bioma com maior número de espécies, com 17 espécies (SÁTIRO, 2008). As plantas pertencentes à família Euphorbiaceae possuem hábito bastante variado, desde ervas, subarbustos, árvores, até trepadeiras, algumas vezes suculentas, com folhas inteiras ou partidas, em geral com estípulas, latescentes ou não. Muitas espécies da família Euphorbiaceae são tóxicas e vêm causando muitos casos de intoxicações em humanos em várias partes do mundo (OLIVEIRA et al., 2007).
As utilizações desta família possuem destaque no setor econômico, no setor alimentício e para a medicina empírica a partir de conhecimentos populares. A Euphorbiaceae e seus respectivos gêneros apresentam diversidade em relação aos seus aspectos morfológicos, sendo a única família com espécies que manifestam glândulas e látex, além de serem deten-toras de variados tipos de composição química e atividades biológicas (TRINDADE, 2014).
Os principais gêneros desta família são Euphorbia L. (LINNAEUS, 1753), Croton L. (LINNAEUS, 1753), Phyllanthus L. (LINNAEUS, 1753), Macaranga Thouars. (THOUARS, 1806), Antidesma L. (LINNAEUS, 1753), Drypetes Vahl. (VAHL, 1807), Manihot Mill. (MILLER, 1754) e Hura L. (LINNAEUS, 1753).
O Hura crepitans é característico da Amazônia, pertencente a esta família, é popular-mente conhecido como açacu ou árvore-do-diabo (LORENZI, 2008). Trata-se de árvores altas que apresentam um tronco espinhoso e látex venenoso; as folhas são de coloração esverdeada e seus frutos são esferoidais, repartidos em espécies de “casulos” que se divide pela metade após a maturação. A espécie cresce em regiões quentes, com temperaturas que variam de 25° a 28°C, e preferencialmente são encontradas em solos ricos em nutrientes (FRANCIS, 2000).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
106 107
Esta árvore é descrita como tóxica devido ao seu látex apresentar toxialbuminas, causando reações alérgicas, conjuntivite, dor no sistema digestivo, queimação na boca e faringe (BANG, 2004). No entanto, o uso de sua casca é referido como anti-inflamatório odontológico e cicatrizante (VIERA, 2014). As sementes são fontes de óleo e proteína, possibilitando considerar seu uso como suplemento alimentar e seu óleo para uso industrial (ODERINDE, 2009).
Os metabólitos secundários compõem uma rica e diversa classe de compostos que se destinam a dar propriedades ou atividades funcionais de uma dada planta. Porém, a quali-dade da matéria vegetal não garante por si só a eficácia e segurança do produto final, pois a análise fotoquímica rege-se de testes qualitativos para detecção de classes de metabolitos, dessa forma a análise físico-química associada com a farmacológica, garante em parte a eficácia por meio de ensaios pré-clínicos e clínicos dos efeitos preconizados (SIMÕES et al., 2003). Fatores como sazonalidade, ritmo circadiano e desenvolvimento podem influenciar no conteúdo de metabólitos secundários. A época em que a droga é coletada é um dos fa-tores de maior importância, visto que a quantidade e, às vezes, até mesmo a natureza dos constituintes ativos, não é constante durante o ano. Estudos demonstram que composição de metabólitos pode variar apreciavelmente durante o ciclo dia/noite (NETO et al., 2006).
O teste de toxicidade contra a Artemia salina é considerado uma das ferramentas mais utilizadas para avaliação preliminar de toxicidade (AMARANTE et al., 2011). Determina a Concentração Letal 50% em um meio salino de componentes ativos e extrato.
OBJETIVO
Avaliar o perfil fitoquímico e físico-químico da espécie vegetal e a toxicidade do extrato bruto etanoico do Hura crepitans L. frente às larvas de Artemia salina.
MATERIAL E MÉTODOS
Coleta e identificação do material vegetal
O material vegetal foi coletado no Polo da Fazendinha, distrito da cidade de Macapá, no mês de maio do ano de 2012. Foi identificada no Herbário da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP.
Obtenção do extrato etanoico bruto
A casca do Hura crepitans foi inicialmente seca na estufa e triturada em moinho de facas no Laboratório de Bioprospecção e Absorção Atômica da UNIFAP. Os fragmentos
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
108
foram submetidos a um processo de extração etanoica a quente sob refluxo, por 45 minutos a 45º, repetindo 3 vezes o processo. O material foi filtrado e o extrato etanoico obtido foi concentrado em evaporador sob pressão reduzida.
Análises físico-químicas
Os parâmetros físico-químicos realizados nesta pesquisa foram: Resíduos por Incineração (Cinzas) e Umidade. E realizados segundo normas no Instituto Adolf Lutz (2008) e Farmacopeia Brasileira (2010).
Estudo fitoquímico
A realização do screening fitoquímico do extrato obtido seguiu a metodologia descrita por Farmacopeia Brasileira (2010) e Macêdo (2005), para ácidos orgânicos, açúcares re-dutores, saponinas espumídicas, flavonoides, alcaloides, polissacarideos, fenóis e taninos, esteroides e triterpenoides e depsideos e depsidonas.
Teste de toxicidade
A análise de toxicidade frente à Artemia salina seguiu a metodologia de Araújo et al. (2010) e Lobo et al. (2010) com algumas modificações. Primeiramente, foram preparadas 250 mL da solução sal marinho sintético (35,5 g/L) para incubação de 25 mg de ovos de A. salina, no qual foram expostas a luz artificial em período de 24 h para eclosão das lavas (metanáu-plios), em seguida os metanáuplios foram separados e colocados em ambiente escuro por período de 24h. A solução mãe foi preparada contendo 62,5 mg do extrato bruto das cascas do caule, adicionados 28 mL da solução de sal marinho sintético e 2 mL de dimetilsufóxido (DMSO) para facilitar a solubilização do mesmo.
Posteriormente, ao término do período ao abrigo da luz os mesmos foram selecionados e divididos 7 grupos com 10 indivíduos em cada tubo de ensaio, e cada grupo foi adiciona-da com alíquota retirada da solução mãe (3000 µL a 100 µL) no qual o volume completado para 5 mL com a solução de sal marinho sintético, na qual as soluções finais apresentaram as seguintes concentrações, variando de 1250 µg.mL–1 a 1 µg.mL–1, dessa forma os grupos foram designados de acordo com sua respectiva concentração e os testes foram realiza-dos em triplicatas.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
108 109
RESULTADOS
Ensaio fitoquímico
A triagem fitoquímica preliminar do extrato etanoico das cascas do Hura crepitans indicou a presença dos seguintes metabólitos secundários: açúcares redutores, saponinas e alcaloides. Os resultados podem ser visualizados na Tabela 1.
Tabela 1. Resulta da análise fitoquímica preliminar no extrato bruto etanóico das cascas de Hura crepitans
Classe de Metabólito Resultado
Saponinas +
Ácidos Orgânicos -
Açúcares Redutores +
Polissacarídeos -
Taninos -
Flavonoides -
Alcaloides +
Purinas -
Esteroides e Triterpenoides -
Depsídios e Depsidonas -
Parâmetros: Positivo (+), Negativo (-)
Teste de toxicidade
O teste preliminar de toxicidade contra Artemia salina é determina a Concentração Letal 50% em um meio salino de componentes ativos e duas destas apresentaram alta toxicida-de. A análise resultou em CL50> 1 µg.mL–1 corroborando com a descrição de planta venenosa.
DISCUSSÃO
Ensaio fitoquímico
As saponinas caracterizam-se por glicosídeos esteroidais ou terpenos que possuem massas moleculares elevadas e complexas. Apresentam no sistema imunológico processo de cicatrização, ação anti-inflamatória, ação hemolítica sobre células e ação antimicrobiana contra bactérias Gram-positivas (RODRIGUES, 2010; AGUIAR, 2018). Também são tradi-cionalmente usadas como expectorantes e diuréticos, todavia os mecanismos ainda não são totalmente conhecidos e outro emprego é ajudando no aumento da absorção de medicamen-tos e resposta imunológica (CASTEJON, 2011). Além de possuir utilidades para formulações farmacêuticas, como adjuvantes, emulsificantes, detergentes (SIMÕES et al., 2010).
Os alcaloides são substâncias nitrogenadas presentes em determinadas espécies de planta, agindo como defesa natural. Possuem ampla atividade biológica, atuando como
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
110
repelente de herbívoros, anti-hipertensivo, antitumorais, estimulante do SNC, tratamento do mal de Alzheimer dentre muitos outros (SIMÕES et al., 2010). E estão entre os produtos naturais citotóxicos usados no tratamento de neoplasias, o qual tem ação sobre a inibição do fuso mitótico, ligando-se a proteínas microtubulares e assim interrompendo divisão celular da metáfase (ALMEIDA, 2005).
Os açúcares redutores são compostos que reagem com aminoácidos e proteínas e possuem capacidade de reduzir íons metálicos em soluções alcalinas. Suas principais utili-zações estão relacionadas à indústria alimentícia, não apresentando relevância na atividade farmacológica (SALOMANI et al., 2000).
Análises físico-químicas
Segundo Mentz et al. (2003) e Hubinger et al. (2009) o limite máximo recomendado de umidade para drogas vegetais é de 14%. Assim, o Hura crepitans apresentou resultado inferior ao considerado satisfatório, pois seu pó resultou em 12,74826% 0,12. Demonstrando que o material apresenta proteção contra-ataques por microorganismos e ações enzimáticas que modificam propriedades naturais.
A determinação do teor de cinzas totais de um vegetal constitui um ensaio de pureza para verificar impurezas inorgânicas não voláteis (SOUZA, 2003) e os resíduos por incine-ração (cinzas) da espécie correspondeu a 6,93274%, encontrando-se dentro dos padrões farmacognóstico, apresentando comportamento de materiais inorgânicos não voláteis, como pode ser observado na Tabela 2.
Tabela 2. Caracterização físico-química das cascas do caule de Hura crepitans.
Parâmetros Resultados
Umidade (% m/m) 12,74826%
Cinzas (% m/m) 6,93274%,
Teste de toxicidade
A presença de saponinas pode estar relacionada com essa atividade, pois o comporta-mento anfifílico e a capacidade e formar complexos com esteroides, proteínas e fosfolipídios de membranas determinam alteração de sua permeabilidade, causando sua destruição (SIMÕES et al., 2010).
CONCLUSÃO
Os resultados são significativos, visto que na análise fitoquímica o Hura crepitans apresentou dois metabólitos secundários importantes: saponinas e alcaloides. Necessitando
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
110 111
de testes farmacológicos mais aprofundados, pois estes metabólitos podem tornar o Hura crepitans um possível agente antitumoral e anti-inflamatório.
O bioensaio toxicológico constatou que o material vegetal é tóxico, no entanto em con-centrações < 1 µg.mL–1 o extrato não é letal, o que possibilita a utilização do composto como possível fármaco. E os testes físico-químicos preliminares caracterizam a matéria prima de alta qualidade farmacológica.
AGRADECIMENTOS
Programa de Educação Tutorial – PET (SESu/MEC/FNDE), Ministério da Educação. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
FINANCIAMENTO
Secretaria de Ensino superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC) e bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET).
REFERÊNCIAS
1. AGUIAR, A. L. R. et al. Atividade antimicrobiana do extrato de Psidium guajava L. (goiabeira) e sinergismo com antimicrobianos convencionais. Revista Cubana de Plantas Medicinales, v. 24, n. 1, 2018.
2. ALMEIDA, V. F. et al. Câncer e agentes antineoplásicos ciclo-celular específicos e ciclo-celular não específicos que interagem com o DNA: uma introdução. Química Nova, v. 28, p. 118-129, 2005.
3. ARAÚJO, M. G. F. et al. Estudo fitoquímico preliminar e bioensaio toxicológico frente a larvas de Artemia salina Leach. de extrato obtido de frutos de Solanum lycocarpum A. St.-Hill (Sola-naceae). Rev. Ciênc. Farm. Básica Apl, v. 3, p. 205-209, 2010.
4. ANVISA. Farmacopéia Brasileira. Brasília, 2010.
5. AMARANTE, B. C. et al. Estudo fitoquímico biomonitorado pelos ensaios de toxicidade frente à Artemia salina e de atividade antiplasmódica do caule de aninga (Montrichardia linifera). Acta Amaz, v. 41, p. 431-434, 2011.
6. BARG, D. G. et al. Plantas tóxicas. Trabalho apresentado para créditos em Medologia Cientifica no Curso de Fitoterapia no IBEHE/FACIS, 2004.
7. CASTEJON, F. V. et al. Taninos e saponinas. Seminário apresentado junto à disciplina
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
112
8. Seminários Aplicados do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal da Escola de Me-dicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, 2011.
9. FRANCIS, J. K. Hura crepitans L. Molinillo, jabillo, sandbox. Bioecología de Arboles Nativos y Exóticos de Puerto Rico y las Indias Occidentales, p. 270, 2000.
10. HUMBIGER, S. Z. et al. Controles físico, físico-químico, químico e microbiológico dos frutos de Dimorphandra mollis Benth., Fabaceae. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 19, p. 690-696, 2009.
11. INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Métodos químicos e físicos para análise de alimentos. São Paulo - IMESP, 2008.
12. LINNAEUS, C. von. C. L. Species plantarum: exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas. Laurentii Salvii, Stockholm, 1753.
13. LOBO, K. M. S. et al. Avaliação da atividade antibacteriana e prospecção fitoquímica de So-lanum paniculatum Lam. E Operculina hamiltonii (G. Don) D. F. Austin & Staples, do semiári-doparaibano. Rev. Bras. plantas med., v. 12, p. 227-233, 2010.
14. LORENZI, H. et al. Arvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de planta arbóreas nativas do Brasil. São Paulo/ Nova Odessa, 2008.
15. MACÊDO, J. A. B. Métodos laboratoriais de análises físico-químicas e microbiológicas. Belo Horizonte: CRQ-MG, 2005.
16. MENTZ, L. A.; PETROVICK, P. R. Farmacognosia: da planta ao medicamento. UFRGS/UFSC, Porto Alegre, 2003.
17. MILLER, P. The Gardeners Dictionary: Containing the Methods of Cultivating and Improving All Sorts of Trees, Plants, and Flowers, for the Kitchen, Fruit, and Pleasure Gardens; as Also Those which are Used in Medicine. With Directions for the Culture of Vineyards, and Making of Wine in England. In which Likewise are Included the Practical Parts of Husbandry, 1754.
18. NETO, G. N. et al. Plantas medicinais: fatores de influência no conteúdo de metabólitos se-cundários. Química Nova, v. 30, p. 374-381, 2007.
19. ODERINDE, R. A. et al. Characterization of seed oil of Hura crepitans and the kinetics of de-gradation of the oil during heating. Electronic Journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry, v 8, n. 3, p. 201-208, 2009.
20. OLIVEIRA, R. B. GIMENEZ, V. M. M. Intoxicações com Espécies da Família Euphorbiaceae. Revista Brasileira de Biociências, v. 5, p. 69-71, 2007.
21. OLIVEIRA, Diogo Gallo. A família Euphorbiaceae Juss. em um fragmento de Caatinga em Sergipe. Scientia Plena, v. 9, n. 4, 2013.
22. RODRIGUES, K. A. F. et al. Prospecção fitoquímica e atividade moluscicida de folhas de Mo-mordica charantia. Cad. Pesq., v. 17, p. 69-76, 2010.
23. SIMÕES, C. M. O. Farmacognosia: da planta ao medicamento. UFRGS; Florianópolis: UFSC, 2001.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
112 113
24. SOUZA, O. V. S. et al. Estudo farmacognóstico de galhos de Vanillosmopsis erythropappa Schult. Bip.-Asteraceae. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 13, p. 50-53, 2003.
25. SALAMONI, A. T. et al. Variância genética de açúcares redutores e matéria seca e suas cor-relações com características agronômicas em batata. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 35, n. 7, p. 1441-1445, 2000.
26. SÁTIRO, L. N.; ROQUE, N. A família Euphorbiaceae nas caatingas arenosas do médio rio São Francisco, BA, Brasil. Acta Botanica Brasilica, v. 22, n. 1, p. 99-118, 2008.
27. TABORDA, N. A. et al. Actividad antiviral in vitro de extractos de Hura crepitans y Codiaeum variegatum en la replicación de herpes virus bovino tipo-1 y virus de estomatitis vesicular. Re-vista Colombiana de Ciencias Pecuarias, v. 20, n. 3, p. 241-249, 2007.
28. THOUARS, L. M. A. P. Genera Nova Madagascariensia, 1806.
29. TRINDADE, M. J. S.; LAMEIRA, O. A. Espécies úteis da família Euphorbiaceae no Brasil. Em-brapa Amazônia Oriental-Artigo em periódico indexado (ALICE), 2014.
30. VAHL, M. H. Eclogae Americanae, 1807.
31. VIEIRA, D. R. P. et al. Plantas e constituintes químicos empregados em Odontologia: revisão de estudos etnofarmacológicos e de avaliação da atividade antimicrobiana in vitro em patógenos orais. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 16, n. 1, p. 135-167, 2014.
09Estudo fitoquímico e de citotoxicidade do extrato bruto etanólico do caule de Montrichardia linifera (Arruda) Schott (Araceae)
Alice Mara Rosário da CostaUNIFAP
Tony David Santiago MedeirosIEPA
Nádia Rosana Matos SoaresIMMES
Débora Regina dos Santos ArraesUEAP
Mikaeli Katriny Vaz da CostaIMMES
Amanda Maria de Sousa Diógenes FerreiraIEPA
George Azevedo de QueirozUFRJ
Ana Luzia Ferreira FariasUEAP
Patrick de Castro CantuáriaIEPA
Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaUNIFAP
10.37885/210404182
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
115
Palavras-chave: Metabólitos secundários, Artemia salina, Biodiversidade, Plantas medicinais.
RESUMO
Montrichardia linifera (Arruda) Schott (Araceae) é uma planta aquática popularmente conhecida como Aninga. Encontrada nas regiões de clima tropical, nativa do Brasil, várias utilizações contra doenças têm sido atribuídas à essa espécie pela população ribeirinha, dentre estas podemos citar a ação expectorante, antirreumática, antiulcerosa e antidiuréti-co. Objetivo: analisar o perfil fitoquímico do extrato bruto etanólico do caule de M. linifera e avaliar a atividade de citotoxicidade em Artemia salina. Métodos: Os caules coletados em Macapá – AP, foram secos em estufa com desumidificador a, aproximadamente, 45 °C, até tornarem-se quebradiços, e moído em moinho de facas. Após secagem parte deste pó (200 g) foi submetido à percolação descontínua com etanol, seguida de filtração e concentração em evaporador rotativo, para obtenção do extrato bruto etanólico (25 g). Foi realizado análise fitoquímica do extrato obtido com a utilização de reveladores específicos segundo a metodologia proposta pela Farmacopeia Brasileira, o ensaio de citotoxicidade ocorreu frente à A. salina. Resultados: Verificou-se a presença dos seguin-tes metabolitos secundários: alcaloide, açúcares redutores, núcleo esteroidal, saponinas, fenóis, proteínas e aminoácidos, taninos e purinas. Conclusão: As análises confirmam em parte a utilização da espécie para fins fitoterápicos, porém o tratamento e o local de coleta da espécie podem influenciar diretamente na concentração dos metabólitos secundários; o extrato apresentou toxicidade moderada frente A. salina. Apesar do forte potencial para conter substâncias bioativas a composição química da M. linifera não é conhecida por completo, existem poucos estudos científicos sobre a espécie, reforçando a grande importância desta pesquisa.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
116
INTRODUÇÃO
O homem sempre esteve em uma constante luta pela sobrevivência, nesta feroz ba-talha ele tem se valido do seu raciocínio e dos conhecimentos adquiridos no decorrer da história. A descoberta do fogo, a elaboração de técnicas de agricultura e a transição de uma vida nômade para viver em locais fixos (sedentarismo), foram apenas alguns dos conhecimentos adquiridos com o tempo. Dentre eles está a utilização de plantas para a cura de males do corpo, tal conhecimento está relacionado com a própria evolução do ser humano (CEOLIN, 2011).
A observação do comportamento animal como, por exemplo, a ingestão de capim por animais não herbívoros, como cachorros e gatos; pode ter sido um ponto de partida para a utilização de plantas para tratamento de doenças. Porém, muito desse conhecimento foi perdido devido à falta de registros, as civilizações mais avançadas como os egípcios, co-meçaram a registrar e organizar as informações que eram adquiridas com as experiências do dia a dia (ROCHA, 2014).
O Papiro de Ebers, do nome de Georg Ebers (1837 – 1898), foi um dos primeiros acha-dos sobre registros de utilização de plantas para a cura do homem, encontrado no Egito, tem mais de 20 metros de comprimento e inclui referências a mais de 7000 substâncias medi-cinais inclusas em mais de 800 fórmulas, esse papiro em escrita hierática está atualmente na Alemanha (ROCHA, 2014; AGRA, 2007).
Voltando o nosso olhar para as ciências farmacêuticas, a farmacognosia é considerada uma das áreas mais antigas a serem estudadas. O alvo do estudo da farmacognosia são os princípios ativos naturais, tanto animais quanto vegetais. Por meio da farmacognosia o estudo de várias espécies foi possível, mostrando características medicinais. Uma prática antiga, porém, só em 1815 começou a utilizar-se do termo farmacognosia (ROCHA, 2014).
Os povos indígenas também contribuíram muito com as descobertas dos benefícios das plantas, por meio de rituais de cura, os “médicos” da aldeia conhecidos como pajés buscavam nas plantas e nas crenças de poderes divinos a cura das doenças da aldeia. A natureza do conhecimento indígena é derivada da observação e da transmissão de conhecimento dos mais antigos para os mais jovens. Uma observação a ser feita está no fato que existem di-ferenças entre o conhecimento selvagem e o conhecimento científico, sendo um analógico, instruído pela intuição, percepção e da imaginação (CEOLIN, 2011) e o outro baseia- se em hipóteses criadas a partir de um pensamento lógico que deve ser provada e que possa ser repetida por meio de métodos adequados. No entanto, mesmo existindo tais diferenças um vem para auxiliar o outro; um claro exemplo disso está no fato de que muitas pesqui-sas cientificam tiveram um “norte” por intermédio dos conhecimentos populares. Assim, o conhecimento sobre as plantas proporcionou a possibilidade de diferenciação entre plantas que tem caráter medicinal e plantas venenosas (CEOLIN, 2011; AGRA, 2007).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
116 117
Com esta visão, dar valor a importância do estudo e das relações entre o homem e a natureza significa um avanço cognitivo para a humanidade (SILVEIRA, 2006; YUNES, 2001). Desse modo, a farmacognosia é uma ciência que se vale dos conhecimentos prévios de vários povos como, por exemplo, os povos indígenas citados anteriormente. Ainda sob esse contexto, plantas medicinais possuem maior frequência de estudos, a fim de descobrir quais são as substâncias (princípio ativo) que pode ter relevância para o mundo (YUNES, 2001).
As indústrias farmacêuticas foram, e continuam sendo, as maiores beneficiadas pelos conhecimentos populares sobre o uso medicinal das plantas. Recentemente, mostrou-se por meio de pesquisas que 50% dos medicamentos aprovados entre 1981 e 2006, são di-retamente ou indiretamente derivados de produtos naturais (YUNES, 2001).
De acordo com a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, sua portaria nº 6 de 31 de janeiro de 1995, considera-se fitoterápico “todo medicamento tecnicamente obtido e ela-borado, empregando-se exclusivamente matérias-primas vegetais com finalidade profilática, curativa ou para fins de diagnostico, com benefício par o usuário, sendo identificado pelo conhecimento da sua eficácia e dos ricos que o paciente corre ao fazer uso do mesmo. Sendo necessários meios para sua reprodutibilidade, não sendo reconhecido como fitoterápicos substancias que derivem de qualquer meio que não seja o vegetal, isoladas ou mesmo sua mistura” (YUNES, 2001).
Sobre os fitoterápicos ainda existem pontos que devem ser comentados, e devemos ter atenção redobrada; um deles é a comercialização popular de plantas para cura de doen-ças, cuidados este como averiguar o estado de conservação da matéria prima (levando em conta os aspectos organolépticos da planta), para que deste modo os processos se-guintes não venham a sofrer danos por falta de cuidados nas etapas iniciais (SILVEIRA, 2006; YUNES, 2001).
A Organização Mundial de Saúde dá à definição de planta medicinal como sendo: “todo e qualquer vegetal que possui, em um ou mais órgãos, substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam precursores de fármacos semissintéticos” (SILVEIRA, 2006; YUNES, 2001).
Está em vigor no uma legislação sanitária brasileira, que estabelece que medicamen-tos derivados exclusivamente de matérias-primas vegetais são denominados fitoterápicos. Tais medicamentos têm significante expressividade no mercado, sendo o responsável pela movimentação financeira de cerca de US$ 21,7 por ano segundo pesquisas (YUNES, 2001).
O Brasil é um país privilegiado pela sua imensa riqueza com quando nos referimos à biodiversidade, a medicina popular é rica em conhecimentos referentes a plantas medici-nais. No entanto, o Brasil precisa avançar no campo da fitoterapia, há muito conhecimento a ser lapidado; a falta de incentivo e conhecimento cientifica são algumas das barreiras enfrentadas para o avanço da mesma (ALVES, 2010).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
118
A região Norte neste panorama está deitada em berço esplêndido, pois, está no seio da Amazônia a maior fonte de biodiversidade; nesta região a cultura popular de cura por meio de plantas é intensa. Exemplo disso é a feira do Ver-o-Peso onde diariamente são vendidos milhares exemplares de plantas que na maioria dos casos tem o intuito de curar o corpo (ALVES, 2010).
A Montrichardia linifera é uma planta aquática da família Araceae é popularmente conhecida como Aninga. Encontrada nas regiões de clima tropical, nativa do Brasil principal-mente na região Norte. Ela é considerada uma planta pioneira por apresentar uma relevante colaboração para a ecologia na formação das margens de rios e igarapés.
Além disso, a população ribeirinha também utiliza os frutos para também curar males do corpo, normalmente eles coletam o fruto e como mesmo preparam um xarope (com a adição de alguns outros ingredientes junto aos frutos de Montrichardia linifera) que normal-mente é utilizado para o tratamento de tuberculose e tosse forte. Há também pessoas que afirmam que os frutos de M. linifera servem de alimento a réptil (tartarugas), peixes (pacu) e mamífero (peixe-boi e Búfalos). Porém há estudos que tentam comprovar que o fruto já esteve envolvido na morte de bovinos e bubalinos. Ainda se conhece pouco sobre o valor nutritivo dos frutos (AMARANTE, 2011).
Várias utilizações contra doenças têm sido atribuídas à espécie M. linifera pela po-pulação ribeirinha, dentre estas podemos citar a ação expectorante, anticoagulante, antir-reumática, antibacteriano, antiulcerosa e antidiurético, há relatos de que suas raízes são tóxicas (AMARANTE, 2011).
OBJETIVOS
Analisar os estudos fitoquímicos atribuídos ao extrato etanólico das folhas de Montrichardia linifera, haja vista que tais pesquisas demonstram que existe atividade anti-plasmódica nesse vegetal. Além disso, apesar do forte potencial para conter substâncias bioativas, a composição química dessa espécie não é conhecida por completo, existem poucos estudos científicos que abordem as atividades relacionadas a M. linifera.
MÉTODOS
Coleta do material vegetal
Os caules de Montrichardia linifera (Aninga) foram coletados na Rua Canal das Pedrinhas, em Macapá – AP, às margens do canal em 05/04/2015.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
118 119
Obtenção do extrato bruto etanólico
O material vegetal foi seco em estufa com desumidificador à aproximadamente 45 °C, até tornar-se quebradiço, e moído em moinho de facas. Após secagem e moagem foi obtido 400g de pó do caule dessa espécie vegetal. Parte deste pó (200g) foi reservado para os estudos posteriores e o restante (200g) foi submetido à percolação descontínua com etanol, seguida de filtração e concentração em evaporador rotativo, para obtenção do extrato bruto etanólico (25g).
Estudo fitoquímico
Foi realizado análise fitoquímica do extrato obtido com a utilização de reveladores específicos segundo a metodologia proposta pela Farmacopeia Brasileira (2010).
RESULTADOS
Metabólitos encontrados que maior relevância para o estudo das propriedades medi-cinais da M. linifera encontram-se listados na Tabela 1.
Tabela 1. Análise fitoquímica do extrato etanólico de M. linifera.
METABÓLITOS SECUNDÁRIOS RESULTADOS
Alcaloides +
Polissacarídeos -
Açúcares redutores +
Flavonoides -
Núcleo esteroidal +
Resinas -
Cumarinas +
Antraquinonas -
Saponinas +
Despsídeos e depsinonas -
Proteínas e aminoácidos +
Purinas -
Fenóis +
Ácidos orgânicos -
Heterosídeos antraquinonicos -
Taninos +
Esteroides e triterpenoides -
Legenda: (+) presente (-) ausente.
DISCUSSÃO
A presença de alcaloides apresenta várias atividades biológicas atribuídas a ele, em que está a forte ação sobre o sistema nervoso central. Sendo classificados em alcaloides indólicos
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
120
e tropânicos, sendo os primeiros responsáveis pela atividade antitumoral pelo mecanismo de inibição da síntese de DNA, RNA e proteínas. Um dos alcaloides mais conhecidos e o extraído da papoula utilizado para a produção da morfina (XAVIER, 2010).
Os alcaloides tropânicos e seus substitutos sintéticos realizam a salivação excessiva; sendo estes associados a ação tóxica das raízes da M. linifera (ALVES; XAVIER, 2010). Além disso, foi detectado a presença de açúcares redutores que, em meio básico, têm a capacidade de precipitar sais de cobre e prata, podendo ser usado como indicador da pre-sença dos mesmos em soluções, por possuírem forte ação redutora em pH básico adquirem a capacidade de transformar aldoses em cetoses (XAVIER, 2010).
As saponinas, por sua vez, são moléculas com o caráter anfifílico, que tem importante ação emulsificante, agindo como tensoativo Tendo grande utilização pela indústria farmacêu-tica na fabricação de anticoncepcionais e utilizados como adjuvantes para outros fármacos pelo fato de aumentar a solubilidade do mesmo; as saponinas têm ação contra as membranas celulares podendo levar a lise das mesmas (XAVIER, 2010). A ação antibacteriana pode ser explicada pela presença das saponinas, que agem sobre as membranas celulares dos microrganismos, provando uma quebra nas mesmas (ALVES; XAVIER, 2010).
De mesmo modo a presença de taninos é responsável pela adstringência de algumas plantas tem ação antioxidante, bactericida e fungicida, devido à capacidade de complexar (XAVIER, 2010). Pelo fato de possuírem ação antioxidante pode ligar-se a eles a atividade antitumoral que é atribuída a M. linifera (ALVES; XAVIER, 2010).
Já a identificação das cumarinas representam muitas atividades bem como pode ser citada a ação anticoagulante. Além disso, uma característica marcante das cumarinas que em meio alcalino elas apresentam fluorescência. Novas pesquisas mostram também a ação da mesma contra uma doença autoimune conhecida como vitiligo (furano-derivados) (YUNES, 2001). Ação anticoagulante da M. linifera pode ser explicada pela presença das cumarinas (dicumol) (ALVES, 2010; YUNES, 2001).
CONCLUSÃO
As análises confirmam em parte a utilização da espécie para fins fitoterápicos, po-rém o local de coleta da espécie possa influenciar diretamente na determinação de me-tabolitos secundário, sendo que o extrato apresentou toxicidade moderada frente A. sali-na. Um Pesquisas mais aprofundada devem ser feitas para ampliar o leque de conhecimento disponível relacionado a esta espécie.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
120 121
AGRADECIMENTOS
Agradecimento pela concessão da Bolsa pelo Programa de Educação Tutorial (SESu/MEC/FNDE), ao curso de Farmácia, da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) para com o Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, coordenado pela Dra. Sheylla Susan Moreira. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
FINANCIAMENTO
Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC), bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET).
REFERÊNCIAS
1. AGRA, M.F. Synopsis of the plants known as medicinal and poisonous in northeast of Brazil. REVISTA BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA, v. 17, pág. 15, ano 2007.
2. ALVES, C. MONTRICHARDIA LINIFERA SUAS CARACTERÍSTICAS. Disponível em http://floradobrasil.jbrj.gov.br. 2010. (acessado em 06/04/2015).
3. AMARANTE, C. B. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA, QUÍMICA E NUTRICIONAL DOS FRUTOS DA ANINGA. Dissertação (Mestrado), Universitário do Estado do Pará – CESUPA, Belém, 2011.
4. CEOLIN, T. P. PLANTAS MEDICINALES: TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS EN LAS FAMILIAS DE AGRICULTORES DE BASE ECOLÓGICA EN EL SUR DE RS. 2011. Tese (Doutorado em Farmácia) Universidade federal do Rio grande do sul. Rio Grande do Sul.
5. ROCHA, F. A. G. O USO TERAPÊUTICO DA FLORA NA HISTORIA MUNDIAL. 2014. Dis-sertação (Mestrado em Farmácia), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte.
6. SILVEIRA, D. P.O ensino da Farmacognosia: temos motivos para preocupação? BOLETÍN LATINO AMERICANO Y DEL CARIBE DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS, vol. 5, p. 47, ano 2006.
7. YUNES, R. A. Fármacos e fitoterápicos: a necessidade do desenvolvimento da indústria de fitoterápicos e fitofármacos no brasil. QUÍMICA NOVA. Vol. 6, p. 23, ano 2001.
8. XAVIER, R. C. CUMARINAS. Disponível em http://www.sbfgnosia.org.br/Ensino/cumarinas.html, 2010. (Acessado em 08/09/2015).
9. XAVIER, R.C. SITE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMACOGNOSIA. Disponível em http://www.sbfgnosia.org.br/Ensino/cumarinas.html, 2010. (Acessado em 08/09/2015).
10Estudo fitoquímico, físico-químico, antimicrobiano e de toxicidade do extrato hidroalcoólico das folhas de Mentha piperita L.
Rafaela Nascimento MarquesUNIFAP
Tony David Santiago MedeirosIEPA
Nádia Rosana Matos SoaresIMMES
Débora Regina dos Santos ArraesUEAP
Mikaeli Katriny Vaz da CostaIMMES
Amanda Maria de Sousa Diógenes FerreiraIEPA
George Azevedo de QueirozUFRJ
Ana Luzia Ferreira FariasUEAP
Patrick de Castro CantuáriaIEPA
Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaUNIFAP
10.37885/210404184
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
123
Palavras-chave: Hortelã Pimenta, Lamiaceae, Metabólitos Secundários.
RESUMO
Conhecida como hortelã pimenta, a Mentha piperita L.(1753) é utilizada popularmente no tratamento de desordens no estômago, dores nos músculos, dores de cabeça e resfria-dos. Objetivo: Realizar o estudo dos testes fitoquímico, físico-químico, antimicrobiano e de toxicidade frente à Artemia salina L. (1753) do extrato bruto hidroalcoólico das folhas da Mentha piperita L. Métodos: Utilizou-se para a análise fitoquímica a metodologia analítica-qualitativa descrita por Barbosa et al. Os testes realizados para a determina-ção físico-química foram com base nos métodos descritos pela Farmacopeia Brasileira (2010).O teste de citotoxicidade frente à Artemia salina (Linnaeus, 1758) foi feito através do Brine Shrimp Test (BST). Resultados: Na análise dos testes fitoquímicos houve posi-tividade para: saponinas espumídicas, ácidos orgânicos,açucares redutores, esteroides e triterpenoides. O teor de umidade obtido na análise das folhas secas de Mentha piperita se encontra abaixo dos limites estabelecidos pela Farmacopeia Brasileira. A atividade bacteriana do extrato frente à Pseudomonas aeruginosa (Schroeter, 1872) Migula, 1900 foi efetiva tanto quanto ao antibiótico amoxicilina, que foi utilizado como controle. Com CIM (Concentração Inibitória Mínima) de 100 mg/mL, a Staphylococcus aureus (Rosenbach, 1884) teve seu crescimento interferido e não inibido. O extrato hidroalcoólico das folhas da Mentha piperita apresentou frente aos náuplios de Artemia salina a CL50 de 533,777 mg/mL, em um período de 24 horas, o que caracteriza baixa toxicidade em relação à este estudo. Conclusão: Por tratar-se de estudos preliminares, é necessário que mais testes sejam realizados com a capacidade de isolar os grupos orgânicos, com a finalidade de realizar novas descobertas e corroborar com o descrito na literatura.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
124
INTRODUÇÃO
Desde a antiguidade, o homem utiliza as plantas, ora seja para alimentação, agricultura ou uma possível cura (PEREIRA; CARDOSO, 2012). Há relatos, de que inicialmente foram utilizadas por romanos, chineses, indianos, árabes, gregos e egípcios (SÁ, 2008). No Brasil, a utilização de plantas medicinais está relacionada com a cultura dos índios que aqui habi-tavam na época da colonização, os portugueses que exploravam o país, se expuseram as doenças endêmicas, onde buscando a cura, diante à falta de medicamentos, recorreram às ervas nativas utilizados pelos povos indígenas (CECHINEL FILHO; YUNES, 1998).
Segundo Tulp e Bohlin (2002), há várias razões pelas quais os estudos com extratos vegetais continuarão a ser o alvo da maioria dos pesquisadores das diversas áreas biológicas, pois muitos medicamentos disponíveis hoje no mercado são de origem natural, apresentando atividades similares às de compostos sintéticos já disponíveis no mercado.
As plantas medicinais constituem importantes recursos na terapia para o tratamen-to de doenças, principalmente das populações de países subdesenvolvidos (FREITAS, 1999). As plantas medicinais correspondem às mais antigas buscas por cura pelo homem no tratamento de enfermidades de todos os tipos (MORAES; SANTANA, 2001).
O metabolismo das plantas origina produtos que são chamados de metabólitos primários e secundários. Como primário, temos os lipídeos, protídeos, nucleotídeos e, glicídeos, eles possuem funções vitais ao organismo; os secundários decorrem do metabolismo primário e têm ação biológica que garante vantagens adaptativas e estão limitados a determinados grupos vegetais (CARDOSO et al., 2001; TAIZ; ZEIGER, 2004).
As plantas sintetizam metabólitos secundários, esses metabólitos podem ocasionar reações no organismo, podendo ser tóxicos, dependendo da dosagem. (CARRETTO, 2007). Através de conhecimentos empíricos houve-se um grande investimento nos estudos sobre as plantas, tendo em vista que a medicina popular passou a ser substituta muitas vezes, em relação à prescrição médica (SILVA et al., 2002).
Os metabólitos secundários destacam-se na área da farmacologia, isto devido aos seus efeitos biológicos sobre a saúde da espécie humana, sendo estes utilizados há séculos e nos dias atuais na medicina popular (PEREIRA; CARDOSO, 2012). Os compostos secundários das plantas são classificados de acordo com a sua rota biosintética, onde o metabolismo em si, resumidamente ocorre a partir do metabolismo da glicose, via dois intermediários principais: o ácido chiquímico e o acetato (HARBORNE, 1999; GOBBO-NETO; LOPES, 2007; SIMÕES et al., 2007).
A maioria das plantas medicinais são utilizadas com base no conhecimento empíri-co, nota-se ainda a carência do conhecimento científico de suas propriedades farmaco-lógicas e toxicológicas, sendo então necessária uma validação científica (FIRMO et al.,
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
124 125
2012). A partir da medicina popular, foram descobertos alguns medicamentos utilizados na medicina tradicional, entre eles vincristina, pilocarpina, reserpina, digitálicos,, entre outros (COX; HEINRICH, 2001).
O gênero Mentha Linnaeus (1753) que pertence à família Lamiaceae Martinov (1820) é um dos mais complexos do reino vegetal. Isso se dá devido aos inúmeros híbri-dos, que são resultantes do cruzamento espontâneo das espécies, estando constituída por um elevado número de espécies e híbridos que acabam dificultando sua classificação (BUNSAWAT et al., 2004).
As hortelãs chegaram até a Europa, entrando pelo norte da África, ou vindo do Oriente (RUSSOMANNO et al., 2005).Ultimamente as espécies encontram-se em quase toda Europa e no norte da África (SANCHES et al., 1996) e nas Américas, incluindo o Brasil (LORENZI; MATOS, 2002).
As plantas medicinais pertencentes ao gênero Mentha, são conhecidas popularmente como hortelãs ou mentas, e abrangem cerca de 30 espécies diferentes, são pertencentes à or-dem Tubiflorae (Lamiales) e a família Lamiaceae (PATON et al., 2000; DORMAN et al., 2003).
A Mentha piperita L.(1753) é cultivada em todo mundo, embora seja uma planta na-tiva da Europa, é muito utilizada na culinária, em produtos medicamentosos e cosméticos (GARLET et al., 2007). A hortelã pimenta pertencente à família Lamiaceae, que possui aproximadamente 300 gêneros e 7.500 espécies distribuídas nos diferentes continentes (MALAQUIAS et al., 2014).
As espécies do gênero Mentha, são muito utilizadas para as pesquisas biológicas e fitoquímicas (PAULUS et al., 2005). Muitos extratos e óleos essenciais isolados de plantas têm mostrado atividade antimicrobiana, representando o papel dos metabólitos secundários nas plantas, defendendo-as de bactérias e fungos (CARRETTO, 2007).
As espécies de hortelã hibridizam facilmente entre si, a Mentha piperita é originada da hibridização natural, entre a Mentha spicata Lebeau (1974) e a Mentha aquatica L.(1753) Entre os mais conhecidos tipos de hortelãs, a Mentha piperita é a mais conhecida popular-mente, tratando-se de uma espécie herbácea, perene, de caule subarbustivo com 60 a 90 cm de altura e muito ramificados (PEGORARO, 2007; MALAQUIAS et al., 2014).
As plantas desta espécie são perenes e de crescimento rápido e fácil, possuem ramos quadriculares de cor verde-escura a roxo-purpúrea, semiereta ou ramificando-se por mais de 50 cm. Possuem folhas pequenas e opostas, elíptico-acuminadas, denteadas, pubes-centes e muito aromáticas (LORENZI; MATOS, 2002), de cor verde-escura. As flores ficam reunidas em espigas de coloração violácea (CARDOSO, 2001) e o fruto é do tipo aquê-nio (JOLY, 1970).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
126
O óleo de Mentha piperita, cujo componente principal é o mentol, é utilizado na in-dústria de fármacos, bebidas, perfumes, higiênicas e tabaco (MAROTTI et al., 1993; PICCAGLIA, 1993; MAIA, 1998) . Também é usado como flavorizantes na indústria alimen-tícia (LAWRENCE, 1981). O óleo ou apenas seu componente que é chamado de mentol, tem ação antifúngica, antibacteriana (SINGH et al., 1992), antialérgica (GHERMAN et al., 2000), antiviral (SCHUMACHER et al., 2003),e é usado contra candidíase (DUARTE et al., 2005), bem como para combater e espantar insetos (ASNARI et al., 2000).
O extrato e o óleo essencial de Mentha piperita apresentam propriedades antimicrobia-nas contra diferentes cepas de bactérias, tais como: Escherichia coli (Migula, 1895) Castellani & Chalmers, 1919 , Salmonella typhimurium (Loeffler, 1892) Castellani & Chalmers, 1919 e Staphylococcus aureus (Rosenbach, 1884), entre outras (ISCAN et al., 2002; YDEGARINIA et al., 2006). A Mentha piperita pode ser usada como analgésica, antiespasmódica, antiinfla-matória, antiviral, anti-helmíntica, antimicrobiano, expectorante e descongestionante. É re-latada ainda sua utilização no combate a desordens estomacais, problemas do sono e da circulação (SCRAVONI, 2006; VALMORBIDA, 2007; LORENZI, 2008). De acordo com Cassol (2007) essa planta tem ação antidepressiva.
OBJETIVO
Realizar o estudo dos testes fitoquímico, físico-químico, antimicrobiano e de toxicidade frente à Artemia salina, do extrato bruto hidroalcoólico das folhas da Mentha piperita L.
MÉTODOS
Obtenção do extrato bruto das folhas da Mentha piperita L.
A coleta do material foi realizada em Macapá-AP, as folhas apresentavam aspecto sadio, não apresentava fungos visíveis ou qualquer outra coisa que pudesse prejudicar os resultados do estudo fitoquímico. O material passou por um processo de limpeza, as folhas foram lavadas com água corrente para a redução de impurezas. Feito isso, as amostras para obtenção do extrato foram expostas em temperatura ambiente por um período de sete dias. E com o auxílio do liquidificador, obteve-se o material seco e triturado, onde o mesmo foi pesado na balança analítica, contabilizando 500 g do material.
O método de extração utilizado foi o de maceração, onde se colocou o material em um recipiente de vidro e em seguida foi adicionado 1L de álcool etílico 47,8º INPM com agitações ocasionais, em recipiente fechado e deixado em repouso por três dias, repetindo-se por qua-tro vezes esse procedimento. As amostras foram filtradas em papel filtro e concentradas no
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
126 127
rotaevaporador (CARVALHO, 2001; CAMPOS et al., 2011) a 60 ºC e 40 rpm. O processo a qual se fez o uso do rotaevaporador foi repetido por quatro vezes. Por um período o extrato foi mantido em um ambiente climatizado para depois serem feitos os testes.
Estudo fitoquímico
A análise fitoquímica é importante na detecção das principais classes de metabólitos secundários através de reações químicas que resultam em formação de precipitado e/ou coloração, característico de cada classe de substância a ser analisada (SIMÕES et al., 2004). Para obtenção dos testes fitoquímico das folhas da Mentha piperita, adotou-se a metodologia proposta por (BARBOSA et al., 2001).
Estudo físico-químico
Os testes realizados para a determinação físico-química foram para: Ph, umidade e cinzas (Tabela 2). Foram realizados com base nos métodos descritos na Farmacopeia Brasileira (2010).
Estudo de toxicidade frente à Artemia salina L.
O teste de citotoxicidade com Artemia. salina (BST- Brine Shrimp Test) é utilizado como teste de triagem para extratos bioativos de plantas medicinais, incorporado como um método de toxicidade econômico para a pesquisa fitoquímica (SIMÕES; ALMEIDA, 2015). Para a realização do teste, utilizou-se 35 g de sal marino em 1 litro de água, através de um pequeno aquecimento em manta aquecedora, obteve-se a solução salina. Uma solução mãe foi preparada com 0,05625 g do extrato bruto hidroalcóolico, pré-solubilizada em 2,25 mL de Tween 80. Houve-se um grupo controle, apenas com solução marinha artificial, em cada tubo colocou-se a concentração de extrato determinada e nestas foram colocadas 10 Artemias Salina, sendo completadas com a solução salina. Após 24 horas, contou-se o nú-mero de mortos e vivos, onde se calculou a concentração letal. Os dados obtidos da morta-lidade (%) x concentração (ppm) foram analisados pelo programa SPSS, e para determinar a Concentração Letal 50% (CL), utilizou-se o gráfico em Probit (Gráfico 1).
Estudo da análise da ação Antimicrobiana
Com o surgimento e a disseminação de microrganismos resistentes aos antimicrobianos disponíveis no mercado, têm-se relatado há décadas, o incentivo a busca de novas fontes de substâncias com atividades antimicrobianas, como as plantas utilizadas na medicina tradicional (MENDES, 2011).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
128
Para a análise da ação antimicrobiana, cultivou-se a bactéria Staphylococcus aureus em BHI por 24 h. O extrato foi solubilizado em água com 2% de DMSO. Em seguida, a concentração inibitória mínima (CIM) foi verificada através de metodologia realizada em microplaca de poliestireno com 96 poços. Na diluição seriada realizada, o extrato foi diluído na proporção 1:2 até a diluição 1:128. As placas foram montadas colocando-se 100 mL da solução oriunda da diluição seriada e 100 µL Mueller Hinton duas vezes concentrado com a bactéria ajustada para uma concentração de 106-108 UFC/ml em cada poço. Foi utiliza-da como controle negativo água destilada com 2% de DMSO e amoxicilina como controle positivo. As leituras das placas foram realizadas em leitor de ELISA (Do630nm) logo após montagem e com 24 h de incubação a 37°C.
RESULTADOS
De 500 g do material vegetal, obteve-se 317 g do extrato bruto hidroalcoólico. A análise fitoquímica do extrato bruto hidroalcoólico das folhas da Mentha piperita, revelou resultado positivo para saponinas espumídicas, ácidos orgânicos, açucares redutores e esteroides e triterpenoides. Foram observados testes negativos para polissacarídeos, proteínas e aminoá-cidos, fenóis e taninos, flavonoides, alcaloides, purinas, glicosídeos cardioativos, catequinas, depsídeos e depsidonas, derivados da cumarina e antraquinonas Tabela 1.
Tabela 1. Análise dos testes fitoquímicos dos metabólitos secundários.
Metabólitos Secundários Resultados
Saponinas espumídicas +
Ácidos orgânicos +
Açucares redutores +
Polissacarídeos - -
Proteínas e Aminoácidos -
Fenois e Taninos -
Flavonoides -
Alcaloides -
Purinas -
Glicosídeos cardioativos -
Catequinas -
Esteroides e Triterpenoides +
Depsídeos e Depsidonas -
Derivados da cumarina -
Antraquinonas -
Positivo: (+); Negativo: (-)
Na análise dos testes físico-químicos da Mentha piperita, o pH foi considerado neu-tro (6,0), ou seja, pH favorável a maior parte das plantas. Os resultados para umidade se encontram abaixo dos limites estabelecidos (8-14%) pela Farmacopeia Brasileira V (2010) (Tabela 2). Entretanto, como não ultrapassaram o valor máximo de 14%, é possível inferir
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
128 129
sua estabilidade microbiológica e química, uma vez que, teores de umidade acima do especi-ficado possibilitam o desenvolvimento de fungos e bactérias, hidrólise e atividade enzimática com consequente deterioração de constituintes químicos (COUTO et al., 2009). E as cinzas tiveram efeitos positivos em seus resultados comparando com outros estudos já realizados.
Tabela 2. Análise dos testes físico-químicos.
Parâmetros Resultados
pH 6
Umidade 14,566 ± 3,007%
Cinzas 10,56 ± 0,36
A relação entre o grau de toxicidade e a concentração letal média (CL50) apresentada por extratos de plantas sobre larvas de Artemia salina (Gráfico 1). Os valores de CL50 acima 1000 μg/mL, são considerados atóxicos, é considerada baixa toxicidade quando a CL50 for superior a 500 μg/mL; moderada quando CL50 estiver entre 100 a 500μg/mL e muito tóxico quando a CL50 foi inferior a 100 μg/mL (AMARANTE et al., 2011). A CL50 para a planta em estudo foi considerada com baixa toxicidade, ou seja, CL50 (maior que 500 µg/mL).
Gráfico 1. Respostas em Probit do teste de toxicidade frente à Artemia salina L. do extrato bruto hidroalcóolico das folhas da Mentha piperita L.
Observou-se que o estudo realizado com o extrato hidroalcoólico da Mentha pipe-rita frente à Staphylococcus aureus teve o CIM em 100 µg/mL (Gráfico 2), onde o resul-tado foi positivo na interferência do crescimento da bactéria, mas não teve ação inibitó-ria frente a mesma.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
130
Gráfico 2. Teste da ação antimicrobiana de Mentha piperita frente à Staphylococcus aureus.
Através da atividade antimicrobiana estabelecida, foi possível observar a CIM, verifi-cada em microplaca de poliestireno com 96 poços. Observou-se que com o CIM de 12,5, Pseudomonas aeruginosa demonstrou estatisticamente ser eficiente tanto quanto o antibiótico amoxicilina que foi utilizado como controle Gráfico 3.
Gráfico 3. Teste da ação antimicrobiana de Mentha piperita frente à Pseudomonas aeuruginosa
DISCUSSÃO
Os estudos fitoquímicos das folhas da Mentha piperita são escassos na literatura, o que limita a comparação com a quantidade de dados disponíveis. Grande parte dos es-tudos químicos feitos com esta espécie está relacionada aos seus óleos voláteis (FÉLIX-SILVA et al., 2012).
As saponinas espumídicas são um grupo de glicosídeos encontrados nas plantas, sua característica mais citada é a capacidade de formar espuma em soluções aquosas. Possuem uma estrutura anfipática formada por resíduos hidrofílicos de açúcares ligados a uma agli-cona hidrofóbica. De acordo com a estrutura de suas agliconas, as saponinas podem ser
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
130 131
classificadas em esteroidais e triterpênicas (DINIZ, 2006; MAN, 2010; WYKOWSKI, 2012). Entre as atividades mais citadas acerca das ações das saponinas no homem, destacam-se sua atividade hemolítica, antiinflamatória, antibacteriana, antimicrobiana, antiparasitária e por possuir propriedades de ações anticâncer (WYKOWSKI, 2012).
Os ácidos orgânicos são utilizados pela indústria alimentícia como aditivos, agen-tes de processamento, sendo esse último, adicionado para o controle da alcalinidade de produtos, agindo como substância tampão ou agente neutralizante. Os ácidos orgânicos constituem também a classe de conservante mais utilizada em alimentos, agindo na inibi-ção do crescimento de fungos e bactérias. (HYACIENTH; ALMEIDA, 2015; FREIBERGER, 2016). Os ácidos orgânicos têm poder de inibir o crescimento de gram-negativas, in vitro, desde que as moléculas do ácido se encontrem dissociada e em contato determinado com a bactéria (EIDELSBURGER, 1997).
Açucares redutores, são substâncias que fazem parte dos grupos dos carboidratos, sendo importantes nas plantas, especialmente em situações de déficit hídrico, pois ocasiona um aumento na síntese de sacarose contribuindo então com o ajuste osmótico, sem que ocorra interferência no crescimento e redução da atividade fotossintética da planta (LOPES et al., 1998; ROSÁRIO; ALMEIDA, 2016). Ou seja, a presença de Açúcares redutores, contri-buem para o ajuste osmótico na planta, melhorando a resistência da planta, onde adapta-se ao déficit hídrico no meio em que se encontra.
Os esteroides são triterpenoides modificados, onde se forma pela união de duas mo-léculas de FPP (C15) unidas cauda-cauda, formando o esqualeno que sofre uma epoxi-dação catalisada por enzima gerando o esqualeno-2,3-óxido (DEWICK, 2002; QUEIROZ, 2009). Os Triterpenoides têm várias potencialidades medicinais, com grandes propriedades biológicas, tais como: anti-inflamatórios, antibacterianos, fungicidas, antivirais, analgésicos, cardiovasculares e antitumorais (PATOCKA, 2003).
Félix-Silva et al. (2012) encontraram resultados positivos para fenóis e taninos em extrato aquoso das folhas da Mentha piperita, resultado que não corrobora em extrato hi-droalcoólico das folhas da mesma planta.
O teor de cinzas totais estabelece a quantidade de substâncias residuais não voláteis, obtidas por incineração, o que representa a soma de material inorgânico integrante da espécie (cinzas intrínsecas) com as substâncias aderentes de origem terrosa (cinzas extrínsecas) (BRAGA et al., 2007; SIMÕES et al., 2007).
Os valores obtidos na análise das folhas secas de Mentha piperita se encontram abaixo dos limites estabelecidos (8-14%) pela Farmacopeia Brasileira V (2010) (Tabela 2). A toxicidade frente à Artemia salina, das folhas de Mentha piperita a CL50 de 533,777 µg/mL, em um período de 24 horas em condições controladas, as médias de mortalidade
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
132
foram analisadas em Probit no programa SPSS®, sendo as médias submetidas a análise por variância (ANOVA), houve diferenças significativas, onde p-valor < 0,05, gerou-se em gráfico o log de concentração Gráfico 1.
A CL50 para a espécie em estudo caracterizou a planta com baixa toxicidade (maior que 500 µg/mL), demonstrando que a mesma não representa risco eminente à saúde, sen-do que este não exclui a necessidade do seu monitoramento no que se refere ao seu uso popular, seja por garrafadas ou por chás medicinais. Através da atividade antimicrobiana estabelecida, foi possível observar a CIM, verificada em microplaca de poliestireno com 96 poços. Observou-se que com o CIM de 12,5, Pseudomonas aeruginosa demonstrou estatisticamente ser eficiente tanto quanto o antibiótico amoxicilina utilizado como controle (Gráfico 3). Observou-se ainda que o extrato para Staphylococcus aureus teve-se o CIM em 100 µg/mL (Gráfico 2), onde o extrato interferiu no crescimento da bactéria, mas não teve ação inibitória frente a esta.
Estudos demonstram ocorrência de sinergismo entre produtos naturais e drogas anti-microbianas (SILVA, 2010). O isolamento das substâncias majoritárias favorece o resulta-do, já que extrato em estudo, preliminarmente, possui grupos orgânicos que descritos em literatura possuem ações bacteriostáticas e bactericidas. Portanto, estudos cromatográficos são necessários para uma maior especificidade, com frações purificadas revelando assim se há atividade antibacteriana frente a esses microrganismos (SIMÕES; ALMEIDA, 2015).
CONCLUSÃO
Através dos testes realizados no presente estudo, foi possível detectar a presença de saponinas espumídicas, ácidos orgânicos, açucares redutores e esteroides e triterpenoides no extrato bruto hidroalcoólico de Mentha piperita. O extrato apresentou ação antimicrobiana frente à Pseudomonas aeruginosa e interferiu o crescimento de Staphylococcus aureus. Constatou-se que o extrato apresentou baixa toxicidade em relação à Artemia salina. Visto que não foram realizados testes preliminares, faz-se necessário a realização de mais testes, onde a confirmação de tais resultados trará mais segurança e são essenciais para novas descobertas e corroboração com os estudos já descritos na literatura.
AGRADECIMENTOS
Agradecimento pela concessão da Bolsa pelo Programa de Educação Tutorial (SESu/MEC/FNDE), ao curso de Farmácia da Universidade Federal do Amapá( UNIFAP) para com o Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, coordenado pela prof. Dra. Sheylla Susan Moreira da Silva de Almeida. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
132 133
e Tecnológico (CNPq), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
FINANCIAMENTO
Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC), bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET), Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
REFERÊNCIAS
1. AMARANTE, C. B.; MÜLLER, A. H.; PÓVOA, M. M.; DOLABELA, M. F. Estudo fitoquímico biomonitorado pelos ensaios de toxicidade frente à Artemia salina e de atividade antiplasmódi-ca do caule de aninga (Montrichardia linifera). Acta Amazônica, v. 41, n. 3, p.431-434, 2011.
2. BARBOSA, W. L. R.; QUIGNARD, E.; TAVARES, I. C. C.; PINTO, L. N.; OLIVEIRA, F. Q.; OLIVEIRA MARTINS, R. Manual para Análise fitoquímica e Cromatografia de Extratos Vegetais. Edição revisada, Belém, 2004.
3. BRAZ FILHO, R. Contribuição da fitoquímica para o desenvolvimento de um país emergente. Química Nova, v. 33, n. 1, p. 229-239, 2010.
4. CAMPOS, M. S.; OLIVEIRA, L. G. A.; PIRES, F. R.; REBELLO, L. C.; BELINELO, V. J. Estudo fitoquímico e biológico do extrato etanólico de Solanum cernuum Vell (Solanaceae). Enciclo-pédia Biosfera, Centro Científico Conhecer. Goiânia, 2011. v. 7, n.13.
5. CARRETTO, C. E. F. P. Atividade antimicrobiana de Mentha piperita L. sobre leveduras do gênero Cândidas. 2007. Dissertação (Mestre em Biopatologia Bucal). Faculdade de Odonto-logia de São José dos Campos. Universidade Estadual Paulista, 2007.
6. CARVALHO, J. L. S. Contribuição ao estudo fitoquímico e analítico de Nasturtium offi-ci-nale R. BR., Brassicaceae. Curitiba. 2001. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Setor de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Paraná, 2001.
7. CECHINEL FILHO, V.; YUNES, R. A. Estratégias para obtenção de compostos farmacologi-camente ativos a partir de plantas medicinais. Conceitos sobre modificação para otimização da atividade. Química nova, v. 21, n.1, p. 99-105, 1998.
8. COSTA. E, V, M. Estudo etnobotânico sobre plantas utilizadas como antimaláricas no Estado do Amapá e avaliação da atividade antimalárica e toxicidade aguda de Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke. Universidade Federal do Amapá. Macapá-AP, 2013.
9. COUTO, R.O.; VALGAS, A. B.; BARA, M. T. F.; PAULA, J. R. Caracterização físico-química do pó das folhas de Eugenia dysenterica DC. (Myrtaceae). Revista Eletrônica Farmacêutica, v.6, n.3, 2009.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
134
10. COX, P. A.; HEINRICH, M. Ethnobotanical drug discovery: uncertainty or promise? Pharma-ceutical News, v.8, n.3, p. 55-59, 2001.
11. FARMACOPEIA BRASILEIRA, 5.ed. Volume II. Brasília: Anvisa, 2010.
12. FÉLIX-SILVA, J.; TOMAZ, I. M.; SILVA, M. G.; SANTOS, K. S. C. R.; SILVA-JÚNIOR, A. A.; CARVALHO, M. C. R. D.; SOARES, L. A. L.; FERNANDES-PEDROSA, M. F. Identificação bo-tânica e química de espécies vegetais de uso popular no Rio Grande do Norte, Brasil. Revista Brasileira Plantas Medicinais, v. 14, n. 3, 2012.
13. FIDALGO, O.; BONINI, V. L. R. (Ed.). Técnicas de coleta, preservação e herborização de material botânico. Secretaria do Meio Ambiente, 1989.
14. FIRMO, W. C. A.; MENEZES, V. J.; PASSOS, C. E. C.; DIAS, C. N.; ALVES, L. P. L.; DIAS, I. C. L.; NETO, M. S.; OLEA, R. S. G. Contexto histórico, uso popular e concepção científica sobre plantas medicinais. Cadernos de Pesquisa, v. 18, 2012.
15. FREIBERGER, R C. P. Utilização de ácidos orgânicos como conservantes em linguiças curadas cozidas embaladas à vácuo. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos, Florianópolis, 2016.
16. FREITAS, P. C. D. Atividade antioxidante de espécies medicinais da família Piperaceae: Pothomorphe umbellata (L) Miq e Piper regnellii (Miq) CDC. São Paulo, 1999. (Tese de Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo.
17. FUMAGALI, E.; GONÇALVES, R. A. C.; MACHADO, M. F. P. S.; VIFOTI, G. J.; OLIVEIRA, A. J. B. Produção de metabólitos secundários em cultura de células e tecidos de plantas: O exemplo dos gêneros Tabernaemontana e Aspidosperma. Revista Brasileira de Farmacog-nosia, v. 18, n. 4, p. 627-641, 2008.
18. GARLET, T. M. B.; SANTOS, O. S.; MEDEIROS, S. L. P.; MANFRON, P. A.; GARCIA, D. C.; BORCIONI, E. Produção e qualidade do óleo essencial de menta em hidroponia com doses de potássio. Ciência Rural. 2007.
19. GOBBO-NETO, L.; LOPES, N. P. Medicinal plants: factors of influence on the content of se-condary metabolites. Química Nova, v. 30, n. 2, p. 374-381, 2007.
20. HYACIENTH, D. C.; ALMEIDA, S. S. M. S. Estudo fitoquímico, toxicidade em Artemia salina Leach e atividade antibacteriana de Pseudoxandra cuspidata Maas. Biota Amazônia, v. 5, n. 4, p. 4-7, 2015.
21. LINNAEUS, C. Species Plantarum, 2:576, 1753
22. LINNAEUS, C. Species Plantarum, 2:1197, 1753.
23. LOPES, B. F.; SETER, T. L.; DAVID, C. R. Photosynthesis and water vapor exchange of pigeonpea leaves in response to water deficit and recovery. Crop Science, Madison, v.28, p.141-145, 1988.
24. LORENZI, H. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. 2º ed. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 2008.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
134 135
25. MALAQUIAS, G.; CERQUEIRA, G. S.; FERREIRA, P. M. P.; PACHECO, A. C. L.; SOUZA, J. M. C.; DEUS, M. S. M.; PERON, A. P. Utilização na medicina popular, potencial terapêutico e toxicidade em nível celular das plantas Rosmarinus officinalis L., Salvia officinalis L. e Mentha piperita L.(Família Lamiaceae). Revista Intertox de Toxicologia, Risco Ambiental e Socie-dade, v. 7, n. 3, p. 50-68, 2014.
26. MAN, S.; GAO, W.; ZHANG, Y.; HUANG, L.; LIU, C. Chemical study and medical application of saponins as anti-cancer agents. Fitoterapia, v. 81, n. 7, p. 703–714, 2010.
27. MARQUES, G. S.; LYRA, M. A. M.; PEIXOTO, M. S.; MONTEIRO, R. P. M. M.; LEÃO, W. F.; XAVIER, H. S.; SOARES, L. A. L.; NETO, P. J. Caracterização fitoquímica e físico-química das folhas de Bauhinia forficata Link coletada em duas regiões brasileiras. Revista de Ciências Farmacêutica Básica e Aplicada, v. 33, n. 1, p. 57-62, 2012.
28. MARTINOV, C. Lamiaceae. Tekhno-Bot. Slovar. 355. 1820.
29. MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. (2007), Bioquímica Básica. 3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 736p.
30. MENDES, L. P. M.; MACIEL, K. M.; VIEIRA, A. B. R.; MENDONÇA, L. C. V.; SILVA, R. M. F.; ROLIM NETO, P. J.; BARBOSA, W. L. R.; VIEIRA, J. M. S. Atividade antimicrobiana de ex-tratos etanólicos de Peperomia pellucida e Portulaca pilosa. Revista Ciências Farmacêuticas Básicas Aplicadas, v. 32, n. 1, p. 121-5, 2011.
31. PATOčKA, J. Biologically active pentacyclic triterpenes and their current medicine signification. Journal of Applied Biomedicine, v. 1, n. 1, p. 7-12, 2003.
32. PAULUS, D.; MEDEIROS, S. L. P.; SANTOS, O. S.; RIFFEL, C.; FABBRIN, E.G.; PAULUS, E. Substratos na produção hidropônica de mudas de hortelã. Horticultura Brasileira, v. 23, n.1, 2005.
33. PEGORARO, R. L. Avaliação do crescimento e produção de óleos essenciais em plantas de Mentha x piperita L. var. piperita (Lamiaceae) submetidas a diferentes níveis de luz e nutrição. Florianópolis, 2007. (Tese de Mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina.
34. PEREIRA, R. J.; DAS GRAÇAS, C. M. Metabólitos secundários vegetais e benefícios antioxi-dantes. Journal of Biotechnology and Biodiversity, v. 3, n. 4, 2012.
35. QUEIROZ, G.S. Análise de esteroides em extratos vegetais e estudo fitoquímico e bio-lógico preliminar de Brunfelsia uniflora. Relatório (Disciplina de Estágio Supervisionado - Departamento de Química). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. 45p.
36. ROSÁRIO, A. C. A.; ALMEIDA, S. S. M. S. Análise fitoquímica da espécie Phyllanthus ni-ruri L.(quebra-pedra). Estação Científica (UNIFAP), v. 6, n. 1, p. 35-41, 2016.
37. SÁ, A. P. C. S. Potencial antioxidante e aspectos químicos e físicos das frações comes-tíveis (polpa e cascas) e sementes de Jamelão (Syzygiumcumini, L. Skeels). Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2008.
38. SCAVRONI, J. et al. Rendimento e composição química do óleo essencial de Mentha piperita L. submetida a aplicações de giberelina e citocinina. Revista Brasileira de Plantas Medici-nais, v.8, n.4, p.40-3, 2006.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
136
39. SILVA, K. L.; FILHO, V. C. Plantas do gênero Bauhinia: composição química e potencial far-macológico. Química nova, v. 25, n. 3, p. 449-454, 2002.
40. SIMÕES, R. C.; ALMEIDA, S. S. M. S. Estudo fitoquímico de Bauhinia forficata (Fabaceae). Biota Amazônia, v. 5, n. 1, p. 27-31, 2015.
41. TULP, M.; BOHLIN, L. Functional versus chemical diversity: is biodiversity important for drug discovery? Trends Pharmacol. Sciences, v. 23, n. 5, 2002.
42. VALMORBIDA, J.; BOARO, C. S. F.; SCAVRONI, J.; DAVID, E. F. S. Crescimento de Mentha piperita L, cultivada em solução nutritiva com diferentes doses de potássio. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v.9, n.4, p.27-31, 2007.
11Estudo fitoquímico do extrato etanólico das folhas de Moringa oleifera Lam.
Ericlison Willian de Souza MonteiroUNIFAP
Tony David Santiago MedeirosIEPA
Nádia Rosana Matos SoaresIMMES
Débora Regina dos Santos ArraesUEAP
Mikaeli Katriny Vaz da CostaIMMES
Amanda Maria de Sousa Diógenes FerreiraIEPA
George Azevedo de QueirozUFRJ
Ana Luzia Ferreira FariasUEAP
Patrick de Castro CantuáriaIEPA
Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaUNIFAP
10.37885/210504518
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
138
Palavras-chave: Metabólitos Secundários, Moringaceae, Propriedades Medicinais.
RESUMO
A Moringa ou Moringueiro é uma planta de origem asiática e atualmente encontrada em vários países do mundo. Pertencente à família Moringaceae, possui um único gênero denominado também de Moringa, com mais de 10 espécies conhecidas. De fácil cultivo e crescimento, têm em suas flores um aroma forte que atrai muitos polinizadores. Com múltiplas ações benéficas para o organismo, seu alto valor nutricional e microbiológico, permite que esta seja eficiente no combate à desnutrição, infecções, problemas diuréti-cos e inflamações. Objetivo: Reforçar o conhecimento sobre as espécies vegetais como a Moringa, e, realizar um estudo fitoquímico com o extrato etanólico de suas folhas, assim como comparar com as suas propriedades descritas e existentes na literatura. Metodologia: Foram realizados testes referentes a composição de metabólitos secun-dários em suas folhas baseando-se no método de Barbosa (2001). Resultados: Foi possível constatar a presença de fenóis e taninos, proteínas e aminoácidos, depsideos e depsidonas, açúcares redutores e um grupo de alcaloides. Outros metabólitos secun-dários não foram identificados, porém, possivelmente estes podem ter sido influenciados por fatores ambientais e genéticos, ou ainda estarem em menor quantidade nas folhas. Conclusão: Os resultados obtidos foram discutidos em relação as propriedades e efeitos farmacológicos das substâncias encontradas relacionando-as com a revisão literária sobre o material vegetal Moringa oleifera e propondo-se mais estudos de suas propriedades assim como incentivando seu uso popular na região.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
138 139
INTRODUÇÃO
As plantas medicinais constituem a rica biodiversidade do Brasil e são a principal base para a fitoterapia que faz uso da prática da medicina popular para o tratamento de diversas patologias e que agrega diferentes formas de intervenção na saúde humana. As espécies vegetais cultivadas ou não e que são utilizadas para propósitos terapêuticos com equivalência para drogas vegetais podem ser classificadas como plantas medicinais (BRANDELLI, 2017).
Nesse contexto a farmacognosia é uma área antiga que agrega princípios da farma-cobotânica, fitoterapia e farmacologia e que tem como objeto de estudo produtos naturais advindos de plantas com princípio ativo para a produção de fármacos com a realização de testes fitoquímicos e obtenção de extratos brutos (MELLO, 2015).
Os estudos com espécies vegetais para fins farmacêuticos iniciou nos anos 50, e, entre as plantas medicinais com grande potencial bioativo encontra-se a Moringa oleifera Lam. (1785) que conforme a descrição de Colombo (2012) é uma vegetação arbórea milenar com atribuições como milagre da natureza, presente de Deus ou árvore da vida.
Dessa forma, fez-se importante o estudo fitoquímico de seus metabólitos secundários, assim como abordar tópicos bibliográficos de suas propriedades para contribuir com o co-nhecimento popular de seus efeitos para a saúde e vida humana.
A família Moringaceae Lam. (1820) recebe a classificação de angiospermas, ou seja, plantas que florescem, resultando em flores. As estruturas dessas plantas promovem uma proteção que garante a produção de frutos. Atualmente, as angiospermas contam com mais de 700 mil espécies que colaboraram para a biodiversidade vegetal, as estruturas dessas plantas promovem uma proteção que garante a produção de frutos. O gênero Moringa Lam. (1789) é o representante exclusivo da família Moringaceae, que é formada por 14 espécies, das quais, a M. oleifera é a mais conhecida (ANWAR, 2007).
A associação da palavra oleífera no nome da moringa vem do latim usado para plan-tas que contém ou produzem muitos óleos (FARIA, 1991). As oleíferas são plantas que têm em sua composição química óleos essenciais. A maioria desses substratos é presente em suas folhas e agregam potenciais nutricionais, como é o caso de oleaginosas da fa-mília Moringaceae.
Os óleos essenciais têm funções diferentes dependendo do órgão do vegetal em que foram produzidos. Normalmente os óleos essenciais contidos nas folhas, raízes e cas-cas, estão associados à defesa e sobrevivência da planta contra microrganismos e pe-quenos insetos. Em flores essas substâncias estão relacionadas a ação de polinizadores (GROSSMAN, 2005).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
140
Óleos essenciais são misturas complexas de várias substâncias simples onde cada uma tem seu efeito biológico. As células oleíferas são responsáveis pela defesa de predadores e dão característica a algumas plantas angiospermas (GROSSMAN, 2005).
A identificação morfológica de uma espécie é muito importante. Através de seus frutos e sementes pode-se reconhecer mecanismos de sobrevivência, dispersão e regeneração.
A árvore Moringueira cresce, frutifica e floresce durante todo o ano. Afinal, a Moringa tem uma forma de reprodução através de cruzamento entre suas sementes e mudas e se adapta bem à constantes estiagens (COLOMBO, 2012).
Com troncos estreitos, grossos e de aspecto macio, suas folhas são pequenas, ver-des claras e diclamídeas. As flores têm coloração branca e amarelada. As sementes são de forma redonda e os frutos são secos, em forma de “baquetas” e de tom marrom escuro quando apresentam a fase do amadurecimento (RIBEIRO, 2015).
De acordo com Ramos et al., (2010), a M. oleifera apresenta um fruto seco do tipo cápsula loculicida, com três valvas de coloração castanho-médio. As folhas da Moringa crescem em forma de guarda-chuva, possuem bastante óleos e são muito delicadas. Por sua vez suas raízes remetem as rábanos e são muito espessas e bulbosas.
Nativa de zonas montanhosas do Norte da Índia, de habitat terrestre e com desenvol-vimento tanto em solos arenosos como áridos, a Moringa é de fácil cultivo levando-se em consideração processos relacionados ao seu plantio com sementes, sua maturação fisiológica e cuidados com sua podagem e folhagem (COLOMBO, 2012).
A Moringa cresce em zonas propícias de regiões semiáridas e subtropicais, com tole-rância a seca e as temperaturas ideais para o seu cultivo variam entre 25 ºC a 35 ºC, ou até 48 ºC com leves geadas nas zonas subtropicais. A Moringa proporciona aproximadamente duas colheitas por ano. O crescimento de brotos, ramos, sementes, folhas, vagens, flores, a germinação ocorre com 9 dias após o plantio (COLOMBO, 2012).
A M. oleifera tem um papel ecológico muito importante no controle e purificação de águas, devido a suas substâncias solúveis de caráter hidrofílico. Sendo um coagulante na-tural muito usado e comum nos estados do Nordeste, devido a sua rápida germinação e o eficiente uso de suas sementes (COLOMBO, 2012).
Desde a antiguidade, o uso da moringa é apreciado por civilizações históricas, sendo considerada uma erva medicinal há cerca de 2000 anos a.C. Segundo um relato antigo de Duke, 1987: “A moringa pode ser usada de várias maneiras, das quais podemos citar: como alimento; uso agronômico; medicinal e industrial”. A seguir na Tabela 1. estão exemplos de lugares que fazem uso múltiplo da M. oleifera.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
140 141
Tabela 1. Exemplo de lugares que fazem uso múltiplo da M. oleifera.
Romanos, Gregos e Egípcios Fabricação de diversos cosméticos
Ilhas jamaicanas Fins culinários e receitas locais
África, Ásia, Madagascar e outros locais Uso medicinal e terapêutico com extrato de suas partes vegetais
Nordeste do Brasil e África Coagulante e purificante de águas e comestível em farinhas de suas sementes
De múltiplos benefícios, o seu perfil farmacológico e fitoquímico são de excelente qualidade. Entre suas ações encontram- se um potencial antimicrobiano, antifúngico e an-ti-inflamatório. Os efeitos da Moringa atuam no sistema nervoso, exercendo atividades an-ticonvulsivas e ajudam no tratamento de pessoas com diabetes, embora os estudos ainda não sejam concretos (RIBEIRO, 2015).
O uso da Moringa é muito comum para ajudar pacientes em diversas situações de risco: como em condições anêmicas ou para portadores de DST’s. A moringa previne o envelheci-mento, pois, evita a formação de radicais livres, sendo antioxidante das células. O consumo de Moringa é considerado seguro pelo Journal of complementary & integrative medicine, em estudo realizado na Nigéria em 2013, as indicações para patologias são: desordens alimen-tares, condições de suplementos alimentares, desnutrição, doenças crônicas, problemas respiratórios, infecções em órgãos como o fígado e bexiga, controle das taxas de glicemia e artrites e disfunções ósseas (ALMEIDA, 2018).
Para o departamento de saúde dos Estados Unidos, a Moringa é substância essen-cial para o organismo, sendo chancelada por uma política nacional de plantas medicinais pelo núcleo National Institutes of Health. Ademais, outras propriedades da M. Oleifera são: antiulcerificante, anti-hipertensiva, antidepressiva e antiepiléptica (SOUSA; MELO, 2019).
É importante relatar também que a Moringa contém em toda sua estrutura: um composto denominado pterigospermina, que é um antibiótico para tratar a cólera. Para seus efeitos farmacológicos são identificados dois alcaloides: a moringina e a moringinina que dão toda a consistência, característica e riqueza medicinal para a planta (RIBEIRO, 2015).
A influência da M. oleifera se dá em diversos setores e devido a todo o seu valor agregado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações Unidas (ONU) recomendam o seu uso e a consideram como poderosa no combate de patologias no planeta. Todas as partes do material vegetal contêm uma utilidade: alimentação, arte-sanato, terapias médicas, extração de óleo, profilática e coagulante da água (BEZERRA; MOMENTE; MEDEIROS, 2004).
Sua composição química é composta de vitaminas, betacarotenos, biomoléculas, fla-vonoides: campferol, quercetina rutina, saponinas e ácidos fenólicos. A Moringa tem folhas super vitaminadas e é considerada por muitos como um superalimento, além de ter ação
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
142
polinizadora, bioindicadora e biofertilizantes (SUMI, 2015). Dentre suas possíveis utilidades: o uso para celulose de seu tronco, a fabricação de sabonetes, tapetes e artefatos e cosmé-ticos. (COLOMBO, 2012).
As sementes trituradas da Moringa são eficientes para promover a coagulação de partí-culas poluidoras da água, por ter uma proteína flutuante em sua composição, e, assim ajuda no tratamento de águas (ARANTES, 2012). O betacaroteno presente em suas folhas tem potencial para melhorar a visão em decorrência das suas vitaminas A. (KEER et al., 2015).
Seus nutrientes melhoram o sistema imunológico e o metabolismo humano no com-bate à patógenos (COLOMBO, 2012). A Moringa, é a planta medicinal com maior caráter nutricional, segundo diversos estudos. Com a ingestão da M. Oleifera é possível prevenir doenças e ter uma condição de vida melhorada. A moringa tem sua necessidade expressa em todas as suas principais utilidades descritas, e, cada vez mais seus benefícios são con-cretizados e efetivos.
OBJETIVO GERAL
Compreender através de um levantamento bibliográfico e de testes fitoquímicos as múltiplas propriedades e metabólitos secundários da planta medicinal M. Oleifera.
MATERIAIS E MÉTODOS
A coleta da M. oleifera aconteceu no município de Santana – AP, com as seguintes coordenadas: 00º 03’ 30” S 51º 10’ 54” W). A podagem de seus galhos e folhas ocorreu de modo manual e utilizou-se um plástico de 30 litros para o seu armazenamento.
Os ramos foram coletados para a confecção de exsicatas e posterior identificação no Herbário Amapaense (HAMAB) do Instituo de Pesquisa Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapá, em Macapá-AP- Brasil.
Após a etapa de coleta, ocorreu à separação dos galhos e folhas, e estes foram coloca-dos para de secar. Posteriormente moído obtendo-se 154,731 g, em seguida esse material seco e moído foi submetido a extração com etanol 96 % GL, que após obtenção obteve-se de extrato bruto etanólico.
Foi realizado o teste fitoquímico, segundo a metodologia de Barbosa (2001), para aos seguintes testes fitoquímicos: saponinas, flavonoides, antraquinonas, alcaloides, purinas, catequinas, proteínas e aminoácidos, depsideos e depsidonas, azulenos, açúcares redutores, fenóis e taninos, ácidos orgânicos, carotenoides, sesquitorpenolactonas e outras lactonas, polissacarídeos, glicosídeos cardíacos e esteroides e triterpenoides.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
142 143
RESULTADOS
O extrato seco do material vegetal após a evaporação total do solvente teve sua mas-sa medida para a determinação do seu rendimento que resultou em 9,21%. Para os testes fitoquímico, uma pequena porção deste foi redissolvida em solventes orgânicos como o metanol e em inorgânicos como a água.
A M. oleifera apresentou resultados dos testes positivos para proteínas e aminoáci-dos, fenóis e taninos, açúcares redutores, alcaloide (Borchardt), alcaloide (Dragendorff) e depsideos e depsidonas. Por sua vez os resultados do extrato etanólico deram negativo para alcaloide (Mayer), antraquinonas, ácidos orgânicos, flavonoides, azulenos, catequinas, carotenoides, saponinas, purinas, sesquitorpenolactonas e outras lactonas, polissacarideos, glicosideos cardíacos e esteroides e triterpenoides, conforme mostrado na Tabela 2.
Tabela 2. Resultado dos testes fitoquímico da espécie M. oleifera
Classe de metabólito secundário Resultado
Polissacarideos _
Ácidos Orgânicos _
Açúcares Redutores +
Fenóis e Taninos +
Proteínas e Aminoácidos +
Saponinas _
Purinas _
Catequinas _
Flavonoides _
Alcaloides (Borchardat) +
Alcaloides (Mayer) _
Alcaloides (Drangerdoff) +
Antraquinonas _
Glicosídeos Cardíacos _
Carotenoides _
Esteroides e triterpenoides _
Depsideos e Depsidonas +
Azulenos _
Sesquitorpenolactonas e outras lactonas _
DISCUSSÃO
Dos 19 testes realizados, apenas 6 demonstraram-se positivos e os outros 13 apre-sentaram-se negativos. No entanto, os resultados negativos apresentados, não implicam necessariamente na ausência desses metabolitos secundários, sendo provável que a quan-tidade dos mesmos esteja pequena para ser detectada (BRUM et al., 2011). Diante disso, é possível compreender o teste negativo para flavonoides, já que segundo a literatura, a Moringa apresenta um grupo de flavonóis do tipo: campferol, quercetina e rutina (SUMI, 2015).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
144
Alguns fatores externos podem interferir também, e é importante ressaltar que o estudo não especificou a parte do vegetal onde é encontrado esses flavonoides.
A composição de metabólitos secundários de um material vegetal depende de fatores genéticos, ontogenéticos e ambientais. Já que a maioria dos processos metabólicos é ca-talisada por enzimas e essas são expressas pelos genes. Ao fator ontogenético atribui-se a variação da composição e concentração dos metabolitos de acordo com a idade e estágio de desenvolvimento da planta. Quanto aos principais fatores ambientais incluem-se os tipos de solo, temperatura, pluviosidade, altitude e etc. (LEITE, 2009).
Dessa forma, a geografia do Amapá que compreende uma área de cerrado, pode ter inferido na produção de compostos metabólitos vegetais da M. Oleifera, pois, segundo Arimura et al., (2005), a interação do ambiente com os mecanismos fisiológicos das plantas medicinais pode influenciar na produção desses componentes, apesar de a planta ter um bom cultivo e adaptação em diferentes regiões. Além disso, existe a possibilidade de nem todos os componentes secundários serem encontrados em suas folhas, visto que outras partes da M. Oleifera têm propriedades bioativas, como suas flores, frutos e sementes.
Os metabólitos secundários, também definidos como produtos naturais, são biossinte-tizados a partir dos metabólitos primários como lipídeos, carboidratos e aminoácidos, e por intermédio de reações enzimáticas, ocorridas no interior das células dos vegetais (LEITE, 2009). A seguir serão apresentados os principais componentes metabólitos do extrato bruto que se apresentaram positivos:
Compostos fenólicos
São substâncias que pertencem a uma classe de compostos, que incluem uma gran-de diversidade de estruturas simples e complexas. Estes possuem pelo menos um anel aromático no qual, ao menos, um hidrogênio é substituído por um agrupamento hidroxila (SIMÕES et al., 2007). Os fenóis estão entre os mais importantes constituintes vegetais que dão origem a outros produtos como os taninos e que são derivados do ácido cinâmico e benzoico, podendo ser encontrados ainda em cumarinas (SOUZA, 2007).
Atividade antioxidante
Os compostos fenólicos atuam em atividades antioxidantes nos vegetais, com a ca-pacidade de interceptar a cadeia de oxidação de radicais livres através da doação de um hidrogênio de suas hidroxilas fenólicas e assim são capazes de alterar a permeabilidade da membrana citoplasmática e lesar células microbianas (RIGHI et al., 2011).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
144 145
Atividade inflamatória
A atividade anti-inflamatória estaria relacionada não aglomeração das plaquetas san-guíneas, mas também a ação de radicais livres no organismo. Já que estes são efetivos na proteção das moléculas de ácidos nucleicos, como o DNA, e, que por conta disso podem vir a abortar alguns processos carcinogênicos (SIMÕES et al., 2007).
Atividade antibacteriana
Os prolifenóis são substâncias que tem em extratos de plantas efeitos antimicrobianos contra patógenos alimentares. O modo de ação contra agentes microbianos é a reação com a membrana celular causando aumento de permeabilidade e a perda de seus constituintes celulares, assim como a inativação de sistemas enzimáticos e a destruição do material ge-nético (ANH et al., 2007).
O metabólito secundário, que são os compostos fenólicos, estão associados também ao pigmento hidrossolúveis de partes dos vegetais e em reações de defesa contra patóge-nos. Os fenóis utilizam diferentes mecanismos de ação tais como a complexação de metais, sequestro de oxigênio e absorção da radiação UV. Os extratos de plantas que apresentam fenóis geralmente são eficientes na redução da oxidação de lipídeos em tecidos vegetais, assim como no efeito anticancerígeno (SIMÔES et al., 2007).
Sabe-se ainda que estes apresentam propriedades fisiológicas como: anti-inflamatória, antialérgica e cardioprotetora, porém, seus mecanismos são pouco conhecidos (DEL, RE; JORGE, 2012). No entanto, é provável que esse metabólito secundário contribua sobretudo para a ação antioxidante e antimicrobiana da M. Oleifera conforme produtos para tratar mi-cróbios de cólera e produtos que retardam o envelhecimento fabricados com seus extratos.
Taninos
Os taninos são substâncias fenólicas solúveis em água que formam complexos com alcaloides, metais, proteínas e outras macromoléculas. Costumam ser encontrados nas partes das folhas e frutos dos vegetais e são classificados em taninos hidrolisáveis e taninos condensados (LEITE, 2009).
Atividade antifúngica
A complexação entre taninos e proteínas é a base para suas propriedades como fatores de controle de insetos, fungos e bactérias tanto quanto para suas atividades farmacológicas antifúngicas e antimicrobianas (SIMÕES et al., 2007). A importância de material vegetal rico
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
146
em taninos está ligada às suas propriedades de transformar a pele animal em couro, pois, durante o curtimento são formadas ligações entre as fibras de colágeno na pele animal, a qual adquire resistência a calor, água e abrasivos. Isso ocorre devido sua capacidade de precipitar proteínas, celulose e pectinas e é justamente esse fenômeno que o confere ação no controle de insetos, fungos e bactérias, bem com suas atividades farmacológicas (SANTOS, 2010).
Efeito adstringente e complexador
Estes compostos são particularmente importantes componentes degustativos, sendo responsáveis pela adstringência de muitos frutos e produtos vegetais. Além da capacidade de complexar ferro, vanádio, manganês, cobre e alumínio, ação antioxidante e sequestra-dora de radicais livres e habilidade em complexar com outras macromoléculas a exemplo de proteínas e polissacarídeos (SIMÕES et al., 2007).
Assim sendo os taninos são importantes metabólitos que constituem a composição de folhas da M. Oleifera e colaboram com suas propriedades antifúngicas pesquisadas na literatura. Os taninos são essenciais para a vida e adaptação de espécies vegetais e seu emprego está em patologias como hipertensão arterial e reumatismo, contribuindo assim com um estudo de 2013 que evidencia essa planta com efeitos anti-hipertensivos e anti-inflamató-rios. Ademais os taninos são empregados na medicina tradicional com ações antioxidantes, anti-hemorrágicas, cicatrizante e anti-inflamatórias (RODRIGUES et al., 2012).
Alcaloides
São compostos nitrogenados farmacologicamente ativos e são encontrados predomi-nantemente nas angiospermas e geralmente de caráter alcalino. Um alcaloide é uma subs-tância orgânica, de origem natural, cíclica, contendo um nitrogênio em estado de oxidação negativo e cuja distribuição é limitada entre os organismos vivos. Os alcaloides com um átomo de nitrogênio derivado de aminoácidos em um anel heterocíclico são chamados alcaloides verdadeiros e os que não possuem essa estrutura são denominados como protoalcaloides, os que apresentam nitrogênio sem ou com anel heterocíclico e não são derivados de ami-noácidos são conhecidos como pseudoalcaloides. Os alcaloides constituem um vasto grupo de metabólitos secundários com grande diversidade estrutural e com impacto em diversos setores como na economia e medicina (SIMOÊS et al., 2007).
Atividade cito protetora
Os alcaloides podem ser encontrados em todas partes do vegetal, e, são sintetizados no retículo endoplasmático. A função dos alcaloides nos vegetais é a proteção contra patógenos,
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
146 147
herbívoros e insetos, possivelmente devido a toxicidade e sabor amargo presente nesses compostos. Além disso, estes atuariam também como reserva de nitrogênio, reguladores do crescimento, do metabolismo interno e do equilíbrio iônico, assim como agentes de de-sintoxicação e proteção contra raios UV (SIMÕES et al., 2007).
Atividades farmacológicas
A presença de alcaloides pode ser assinalada em ampla gama de atividades biológicas investigadas. Assim, pode-se citar ametina (amebicida e emético), atropina, hiosciamina e escopolamina (anticolinérgico), reserpina e protoveratrina A (anti-hipertensivo), quinina (antimalárico), camptotecia, vimblastina e vincristina (antitumorais), codeína e noscapina (antitussígeno), morfina (hipinoanalgésico), quinidina (depressor cardíaco), cafeína (esti-mulante do SNC), teobromina e teofilina (diuréticos), colchicina (tratamento da gota) entre outros (SANTOS, 2010).
Alcaloides morginina e moringina
Indicada para doenças diuréticas e gástricas foram comprovadas que o conteúdo das folhas apresenta o alcaloide morginina e que este melhora a tolerância à glicose, como pôde-se observar em estudos com camundongos que atestaram efeitos hiperglicêmicos e que podem atuar na queda de pressão sanguínea (SOLAR, 2017).
Assim sendo é provável que este metabólito esteja associado com os principais efeitos no controle de patologias relacionados com o uso da planta Moringa, visto que esta é usada comumente para tratar hipertensão, vasoconstrição e problemas diuréticos, o que colabora para a presença dos alcaloides ser efetiva (COLOMBO, 2012). Os métodos para a detecção de alcaloides consistem em reações de precipitações com reativos específicos. A maioria dos alcaloides precipitam em soluções neutras ou levemente ácidas pelos reagentes como Dragendorff (solução de iodeto de potássio e subnitrato de bismuto) e Bouchardat (solução de iodo e iodeto de potássio). Ambos os reativos apresentaram resultados positivos para a presença de alcaloides no extrato etanólico de folhas de M. oleifera.
Depsideos e Depsidonas
Duas estruturas fenólicas derivadas do orcinol, isto é, sem substituintes na posição 3 podem formar compostos denominados depsideos. Estes compostos são formados pela esterificação da carbonila da posição 1 da primeira unidade com a hidroxila da posição 4’ ou da posição 3’ da segunda unidade. A biossíntese deste grupo ocorre através da rota do acetato-polimalonato e os compostos resultantes são para-depsideos e meta-depsideos da
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
148
série do orcinol, como o ácido lecanórico e o ácido criptoclorofeico. Além dos depsideos derivados do orcinol (ácido orsenílico) ocorrem outros derivados do b-orcinol, como por exemplo atranorina, os ácidos difractalico, obstusático e baeomiscésico (ELIX, 1996).
Mecanismo de ação
Os depsideos são compostos fenólicos que são percussores das depsidonas e que fazem parte da biologia dos liquens e de vegetais superiores em decorrência da estrutura química deste grupamento que contribui para a biossíntese e complexação de variadas substâncias farmacológicas como o ácido orsenilíco que tem potencial antioxidante após a avaliação de ésteres obtidos do ácido lecanórico e que são importantes para associações simbióticas. Os depsideos e as depsidonas são moléculas de natureza fenólica que apre-sentam atividade antimicrobiana, antitumoral, antiviral, analgésica, citotóxica e anti-infla-matória (MICHELETTE, 2009). Assim colaborando com o potencial farmacológico descrito da M. Oleifera que inclui essas mesmas propriedades.
Proteínas e Aminoácidos
As proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes nas células e são consti-tuintes tanto das células animais como vegetais. As unidades funcionais e os polímeros de compostos das proteínas são os aminoácidos que são ácidos orgânicos formados por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Os α-aminoácidos consistem de um grupo funcional ácido carboxílico (-COOH), um grupo amino (-NH2) e um hidrogênio (-H) ligados ao átomo de carbono-α. Um aminoácido diferem de outro pelo grupo R (cadeia lateral) que realizam ligações covalentes e formam cadeias peptídicas que envolvem grupamento amino e ácido carboxílico, após liberação de água (LEHRINGER, 2002).
Mecanismo de ação
A síntese de aminoácidos não essenciais é realizada em animais a partir de moléculas percussoras do ciclo de Krebs, e os aminoácidos essenciais são sintetizados com o ciclo do nitrogênio. As proteínas formam o principal constituinte do organismo animal, e atuam em atividades reguladoras, estruturais, defensivas e energéticas do metabolismo (VOET, 2000).
Atividade Nutricional
As proteínas exercem uma grande e rica atividade nutricional, sendo as folhas de M. Oleifera uma das melhores fontes com seu complexo de vitaminas A, B e C. Assim sendo, o principal mecanismo de proteínas e aminoácidos é atividade nutricional biodisponível
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
148 149
em alimentos vegetais que devem fazer parte da dieta humana, pois, servem para o forta-lecimento do corpo e atuam no combate à patógenos, além de fornecerem com nutrientes todas as condições fisiológicas necessárias para sobrevivência (HELVIOB, 2007).
Açúcares redutores
Os açúcares redutores são monossacarídeos caracterizados pela habilidade de reduzir íons metálicos como, por exemplo, o cobre e a prata e, são formados principalmente por glicose e frutose. Existem também açúcares redutores que são considerados dissacarídeos, como é o caso da maltose formada por duas moléculas de glicose e, da lactose formada por glicose e a galactose que é o principal carboidrato do leite. Na reação de oxirredução dos açúcares estes formam ácidos carboxílicos, onde a estrutura é caracterizada por uma hidroxila anomérica livre. Na forma linear é possível identificar um grupo carbonila e na forma cíclica uma hidroxila (MARZZOCO, 2009).
Mecanismo de ação
Nos vegetais os açúcares redutores podem indicar o estado metabólico da fotossíntese ou a capacidade de translocação desses compostos para tecidos de reserva. O material vegetal apresenta altas taxas metabólicas, atuando com ação antioxidante e enriquecedora para a composição do mesmo. Os açúcares redutores agem em reações metabólicas do organismo, pois, agregam os principais carboidratos para o organismo (MARZZOCO, 2009).
CONCLUSÃO
Através da análise do perfil fitoquímico do extrato etanólico do material vegetal de M. Oleifera foi possível identificar a presença de metabólitos secundários como: fenóis e taninos, açúcares redutores, alcaloides, proteínas e aminoácidos e depsideos e depsidonas, corroborando assim com o que é relatado na literatura sobre a M. Oleifera. Os metabolitos secundários são fundamentais para o desenvolvimento de atividades essenciais para a vida e manutenção de espécies vegetais.
Segundo a literatura, a M. Oleifera é um dos vegetais que mais agregam nutriente necessários para o metabolismo humano, e, através desse trabalho pôde-se constatar a presença de proteínas e aminoácidos em seu extrato bruto, o que contribui assim para con-firmar a existência desses metabólitos. O uso popular de M. Oleifera no meio econômico inclui a fabricação no artesanato e de coagulantes naturais para purificação de águas no nordeste brasileiro. Ademais, o seu uso é efetivo em diversos lugares, pois, de sua folhagem e sementes, são feitas receitas caseiras, saladas e chás naturais.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
150
Dessa forma, pode-se concluir que a M. Oleifera tem grande potencial bioativo es-pecialmente nutricional e que estudos sobre suas propriedades podem ser cada vez mais concretizados. O presente trabalho permitiu assim a discussão cientifica e o incentivo ao uso popular da M. Oleifera especialmente na região do estado do Amapá.
AGRADECIMENTOS
Agradecimento pela concessão da Bolsa pelo Programa de Educação Tutorial (SESu/MEC/FNDE), ao curso de Farmácia, da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) para com o Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, coordenado pela Dra. Sheylla Susan Moreira. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP), Herbário da Universidade Federal do Amapá (HUFAP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
FINANCIAMENTO
Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC), bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET). Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
REFERÊNCIAS1. ADANSON, Par M. Moringaceae. Familles des Plantes, v. 1, n. 2, p. 318, 1763.
2. ALMEIDA, F. N. C. et al. Caracterização físico-química do óleo de moringa para produção de biodiesel, v. 1, s/n, p. 205, set. 2014.
3. ALMEIDA, M. S. M. Moringa oleifera Lam., seus benefícios medicinais, nutricionais e avaliação de toxicidade. 2018, 50 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Faculdade de Farmácia de Coimbra, 2018.
4. AHN, J.; GRÜN; I. U.; MUSTAPHA, A. Effects of plant extracts on microbial growth, color change, and lipid oxidation in cooked beef. Food Microbiology, v. 24, n. 1, p. 7-14, 2007.
5. ANWAR, F., HUSSAIM, A.I., IQBAL, S. AND BHANGER, M. Enhancement of the oxidative stability of some vegetable oils by blending with Moringa oleifera oil. Food Chem, v. 193, s/n, p. 1181-1191, 2007.
6. ARANTES, C. C.; RIBEIRO, T. A. P.; PATERNIANI, J. E. S. Processamento de sementes de Moringa Oleífera utilizando-se diferentes equipamentos para obtenção de solução coagulante. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 16, n. s/n, p. 661-666, 2012.
7. ARIMURA, G.; KOST, C.; BOLAND, W. Herbivore-induced, indirect plant defences. Biochimica et Biophysica, v. 1734, p. 91-71, 2005.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
150 151
8. BARBOSA, W. L. R. Manual para Análise Fitoquímica e Cromatografia de Extratos Vegetais. Revista Científica da UFPA, v. 4, p. 1-19, 2001.
9. BEZERRA, A. M. E.; MOMENTE, V. G.; MEDEIROS, F. S. Germinação de sementes e desen-volvimento de plântulas de moringa (Moringa oleifera Lam.) em função do peso da semente e do tipo de substrato. Horticultura Brasileira, v. 22, n. 2, p. 295-299, 2004.
10. BRANDELLI, C. L. C; MONTEIRO, S.C. Farmacobotânica: Aspectos teóricos e Aplicação. Artmed Editora, v.1, n. s/n, p. 172, 2017.
11. COLOMBO, M. Moringa Oleífera, v.1, p. 1120, 2012.
12. COSTA, A. F. Farmacognosia, v. 3, p. 367, 2004.
13. DEL RE, P.V.; JORGE, N. Especiarias como antioxidantes naturais: Aplicações em alimentos e implicação na saúde. Revista Brasileira de Plantas Medicinais. Botucatu, v.14, n. 2, p. 389-399, 2012.
14. DOSSIÊ TÉCNICO, Brasil. O cultivo da Moringa Oleífera. 1 ed, p.1-23, 2015.
15. DUKE, J.A. Moringaceae: horseradish-tree, benzolive-tree, drumstick-tree, sohnja, Moringa, murunga-kai, mulungay. In: Benge, M. D. (ed.) Moringa: A multipurpose vegetable and tree that purifies water. Science and Technology for Environment and Natural Resources AgroFo-restation, p.19-28, 1987.
16. ElLIX, J. A.; Biochemistry and secondary metabolites; In Lichen Biology; Nash III, T. H. Ed.; Cambridge University Pres, p. 154, 1996.
17. FARIAS, M.R., DAVIDE, A.C. Aspecto morfológico do fruto, semente e plântulas de 4 espécies florestais nativas. Revista Informativo Abrates, v.3, n. s/n, p.133, 1991.
18. FRIGHETTO, R. T. S.; FRIGHETTO, N.; SCHNEIDER, R. P.; LIMA, P. C. F. O potencial da espécie Moringa oleifera (Moringaceae). A planta como fonte de coagulante natural no sa-neamento de águas e como suplemento alimentar. Revista Fitos, v. 3, n. 2, p. 78-88, 2007.
19. GALLÃO, M. I.; DAMASCENO, L. F.; DE BRITO, E. S. Avaliação química e estrutural da se-mente de moringa. Revista Ciência Agronômica, v. 37, n. 1, p. 106-109, 2008.
20. GIMENIS, J. M. Avaliação da atividade antioxidante, fotoprotetora e antiglicante dos extratos das folhas e flores de Moringa oleífera. p.60, 2015. Dissertação (mestrado) - Uni-versidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Assis, 2015.
21. GUALBERTO, A. F. FERRARI, M. G. ABREU, K. M. P. PRETO, B. P FERRARI, J, L. Carac-terísticas, propriedades e potencialidades da Moringa. Revista Verde Brasil. POMBAL (SP): v. 9, n. 5, p. 19, 2005.
22. GROSSMAN, L. Óleos essenciais na culinária, cosmética e saúde. v. 1, p. 301, 2005.
23. JUSSIEU, A. L. Genera Plantarum 348. 1789.
24. LAMARCK, J. B. A. P. M. Encyclopédie Méthodique, Botanique 1(2): 398, 1785.
25. LEITE, J. P. V. Fitoterapia: bases científicas e tecnológicas, 1 ed. Atheneu: São Paulo, 328 p., 2009.
26. LEHNINGER, A.L.; NELSON, D.L.; COX, M.M. Princípios de bioquímica. 3.ed. São Paulo: Sarvier, p. 975, 2002.
27. MARTINOV, I. I. Tekhno-Botanicheskīĭ Slovar’: na latinskom i rossīĭskom iazykakh. Sank-tpeterburgie 404, 1820.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
152
28. MARZZOCO, A.; TORRES, B. Bioquímica básica. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
29. MELLO, J. C.P.; SANTOS, S. C. Taninos. In: SIMÕES, C.M. et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 3ed. Porto Alegre. 2001.
30. MELLO, J. C. P.; SOUZA, G. H. B.; LOPES, N. P. Farmacognosia: Coletânea Científica. Ouro Preto. 1 ed, p. 67, 2012.
31. PATRO, R. Acácia Branca. Moringa Oleífera, 40 p. 11 de janeiro, 2016.
32. PEREIRA, F. S. G. Viabilidade sustentável de biomassas de Moringa oleífera para pro-dução de biodisel e biriquetes. 1 ed. 55 pag. Recife. 2015.
33. RAMOS, L. M.; COSTA, R. S.; MORO, F. V.; SILVA, R. C.Morfologia de frutos e sementes e morfofunção de plântulas de Moringa (Moringa oleifera Lam.). Comunicata Scientiae, v. 1, n. 2, p. 156-160, 2010.
34. RODRIGUES, M. B.; CARPES, S. T.; OLDONI, T. C. Optimization of the extraction of phenolic compoundsand antioxidants in the leaves of Jambo (Syzyum malaccense). III Simpósio Internacional de Plantas Medicinais e Nutracêuticos. Aracaju, SE, v. 1, p.1, 2012
35. RIGHI, A. A. et al. “Brazilian red propolis: unreported substances, antioxidant and antimicrobial activities.” Journal of the science of food and agriculture, v. 91, n. s/n, p. 2363-2370, 2011.
36. RIBEIRO, C. E. D. S. Moringa. Presente de Deus. Árvore da vida. 1 ed. 43 pag. Aparecida (SP), 2015.
37. SANTOS, S. C.; MELLO, J. C. Alcaloides. In: SIMÕES, C. M. O. (Org). Farmacognosia da planta ao medicamento. 2010, 6 ed. Porto Alegre: UFSC, p. 765-791.
38. SANTOS, S. C.; MELLO, J. C. P. Taninos. In: SIMÕES, C. M. O. (Org). Farmacognosia da planta ao medicamento. 2010, 6 ed. Porto Alegre: UFSC, p. 615-656.
39. SILVA, J.C.; MARQUES, R.G.; TEIXEIRA, E.M.B.; CIABOTTI. Determinação da composição química das folhas de Moringa Oleifera. Revista IFMT, Brasil, v. 2, n. s/n, p. 4, 2013.
40. SILVA, A. R.; KERR, W. E. Moringa: uma nova hortaliça para o Brasil. Uberlândia (MG), 2015.
41. SIMÕES, C. M. O. et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6.ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS: Florianópolis: Editora da UFSC, 2010.
42. SIMÕES, C. M. O. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6 ed. Porto Alegre (RS), 2007.
43. SOUSA, C. M. M. et al. Fenóis totais e atividade antioxidante de cinco plantas medicinais. Química Nova, v .30, n. 2, p. 351-355, 2007.
44. SOUSA, L. F. B.; MELO, A. Benefícios da Moringa oleifera para a saúde humana e meio am-biente. Revista Faculdades do Saber, v. 4, n. s/n, p. 472-484, 2019.
45. SUMI, A. Fitoterapia. Moringa. 2 ed, p. 25. São Paulo, 2015.
46. VOET, D.; VOET, J.; PRATT, C. W. Fundamentos de bioquímica: a vida em nível molecular. 1. ed. 100 pag. Porto Alegre: Artmed, 2000.
12Estudo fitoquímico, toxicidade em Artemia salina Artemia salina (L innaeus , 1758) e a t i v idade antibacteriana de Pseudoxandra cuspidata Maas.
Mirian Andrade de OliveiraUNIFAP
Patrick de Castro CantuáriaIEPA
Elizabeth Viana Moraes da CostaUNIFAP
Ana Luzia Ferreira FariasUEAP
José Policarpo Miranda JúniorAMBIEX
Líbio José Tapajós MotaGEA
Antônio Carlos Freitas SouzaIEPA
Pablo de Castro CantuáriaALAP
Juliana Eveline dos Santos FariasIFAP
Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaUNIFAP
10.37885/210303482
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
154
Palavras-chave: Alcaloides, Estudo Fitoquímico, Produtos Naturais, Pseudoxandra Cuspidata.
RESUMO
A Pseudoxandra cuspidata Maas (1986) (Annonaceae Juss), conhecida como Lamuci, é uma árvore de médio porte. Esta planta é empregada no Amapá para o tratamento de micoses superficiais e na Guiana Francesa é utilizada como antimalárico. Objetivo: Buscou avaliar o perfil fitoquímico de P. cuspidata, sua toxicidade e a atividade anti-biótica do extrato. Métodos: O extrato bruto etanólico foi obtido através do método de extração a quente sob refluxo, previsto na Farmacopeia Brasileira. Para a prospecção fitoquímica utilizou-se a metodologia de Matos (1977). Para o ensaio de letalidade foi utilizado Artemia salina Linnaeus (1758) de acordo com o método de Ayres (2003) e Silva Junior (2009). E para os testes de atividade antimicrobiana, foi utilizado o método de Kirby-Bauer modificado. Resultados: O extrato bruto etanólico apresentou média toxicidade (CL50= 605, 92 μg/mL), além de ter a presença de alcaloides, compostos fe-nólicos e ácidos orgânicos; porém no teste antibacteriano não houve inibição frente às cepas de Staphylococcus aureus Rosenbach (1884), Klebsiella pneumoniae (Schroeter, 1886) Trevisan, 1887 e Escherichia coli (Migula, 1895) Castellani & Chalmers, 1919, nas concentrações testadas. Conclusão: Observou-se sua média toxicidade e atividade antifúngica prevista pela presença de alcaloides e ácidos orgânicos respectivamen-te. No entanto, não houve resposta antimicrobiana para as cepas utilizadas.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
154 155
INTRODUÇÃO
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a pesquisa de plantas medicinais é de grande benefício, haja vista, que incentiva a descoberta de medicamentos fitoterápicos aliados aos seus diversos benefícios, além de evidenciar os riscos que podem causar. Além disso, mais de 65% da população mundial utiliza principalmente as plantas no tratamento de diversos transtornos (CARELLI, 2011; SANTOS et al., 2011).
Em consonância com a Resolução da Diretoria Colegiada nº 26 de 2014, planta medi-cinal é a espécie vegetal, semeada ou não, empregue com objetivos terapêuticos, ou seja, o vegetal que possui atividade biológica, com componentes fitoquímicos potencialmente úteis à saúde. Enquanto que a fitoterapia pode ser definida como a prática de utilizar medicamentos, suplementos e chás a base destas plantas medicinais (BRASIL, 2014).
O emprego de plantas medicinais na recuperação da saúde tem evoluído, desde as formas mais simples de tratamento local, provavelmente utilizadas pelos antepassados mais longínquos, até as formas tecnologicamente sofisticadas da fabricação industrial utilizada pelo homem moderno. Porém, entre essas duas maneiras de uso, há um fato comum: algo presente nesses vegetais que, administrado sob a forma de mistura complexa como chás, garrafadas, tinturas, pós, ou ainda como substância pura isolada, e sendo transformadas em substâncias semissólidas (pomadas), sólidas (comprimidos e cápsulas) e líquidas (xaropes), têm a propriedade de provocar reações benéficas no organismo, resultando na recupera-ção da saúde. Esse “algo” atuante é denominado como princípio ativo, o qual é aquele que possui ação terapêutica, seja ele constituído de uma única ou um conjunto de substâncias que atuam sinergicamente, chamado de complexo fitoterápico (TOMAZZONI; NEGRELLE; CENTA, 2006; LORENZI; MATOS, 2008).
A intensa pesquisa da atividade de metabólitos secundários de plantas medicinais tem se tornado uma alternativa no controle de patógenos com potencial ecológico para substituir o emprego de produtos sintéticos, por meio da utilização do extrato bruto e óleo essencial, uma vez que apresentam, em sua composição, substâncias com propriedades farmacológi-cas (GOBBO-NETO; LOPES, 2007; VENTUROSO et al., 2011). Esses compostos possuem como vantagens: causarem menos efeitos adversos, menores custos, fácil acesso para a população, e dependendo da patologia abordada, suas ações podem ser superiores ao produto sintético (VENTUROSO et al., 2011).
A família Annonaceae apresenta de 2.300 a 2.500 espécies (SILVA et al., 2009; FORMAGIO et al., 2010) de distribuição quase inteiramente tropical sendo os gêneros em regiões da América, África e Ásia (ROCHA; LUZ; RODRIGUES, 1981). As espécies decorren-tes dessa família são utilizadas como frutíferas, na cosmetologia, perfumaria e construções em geral (TRIGO, 2007).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
156
A Pseudoxandra cuspidata Maas (1986), conhecida como Lamuci é pertencente à família Annonaceae Juss. O Lamuci é frequentemente encontrado no Estado do Amapá (TRIGO, 2007), onde a população utiliza para o tratamento de micoses superficiais (ALMEIDA, 2009), vulgarmente conhecidas como “impinges” e como antimalárico pelas comunidades da Guiana Francesa (ROUMY, 2006). É uma árvore de médio a grande porte de 5 a 25 m de altura, 5 a 20 cm de diâmetro. Encontra-se presente em florestas de baixa altitude, apresentando sua floração em maio e outubro e frutificação de abril à maio e de agosto a dezembro. Relatado por comunidades empíricas (tribos indígenas e ribeirinhos) contendo atividade anti-inflamatória, antifúngica e antimalárica (TRIGO, 2007).
A espécie P. cuspidata Maas (1986) apresenta poucos relatos na literatura acerca de estudo sobre a sua constituição química e atividade biológica. Uma dessas atividades bio-lógicas de interesse é a sua atuação como antimalárica, comprovada no estudo de Roumy et al. (2006), confirmando a presença de alcaloides, componente este que tem atividade antimalárica. Dessa forma, evidencia-se no estudo também que, P. cuspidata Maas (1986) possui uma atividade moderada frente ao Plasmodium falciparum Welch (1897) em testes in vitro (BERTANI et al., 2005). Sendo assim, com o interesse em se confirmar ou não o conhecimento da medicina popular, as plantas medicinais têm tido seu valor terapêutico pesquisado mais intensamente pela ciência. Além disso, o Lamuci tem estudos escassos, necessitando assim, de mais pesquisas acerca de seu potencial biológico. Desta forma, a pesquisa objetivou o estudo fitoquímico, sua atividade citotóxica frente à Artemia sali-na Linnaeus (1758) e atividade microbiológica frente às cepas de Staphylococcus aureus Rosenbach (1884), Klebsiella pneumoniae (Schroeter, 1886) Trevisan, 1887 e Escherichia coli Migula (1895) Castellani & Chalmers (1919) de P. cuspidata Maas (1986).
OBJETIVO
Avaliar o perfil fitoquímico de P. cuspidata Maas (1986), sua toxicidade (ensaio de leta-lidade com Artemia salina Linnaeus (1758) e a atividade antibiótica do extrato pelo método de Kirby-Bauer modificado.
MÉTODOS
Material vegetal
As cascas do caule de P. cuspidata Maas (1986), foram coletadas no município de Pedra Branca do Amaparí – AP. A identificação botânica foi realizada pela Dra. Wegliane
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
156 157
Campelo da Silva Aparício, no Herbário da Universidade Federal do Amapá (HUFAP) e depositada com a numeração 458.
Preparo, secagem do material vegetal e obtenção do extrato bruto etanólico
O material vegetal foi seco em estufa com desumidificador a aproximadamente 45 °C por três dias e moído em moinho de facas. Após o processo de secagem e moagem foi obtido o pó das cascas do caule de P. cuspidata Maas (1986). Parte do pó (121,72 g) foi submetida à extração a quente sob refluxo com 750 mL de etanol, sendo este procedimento de extração repetido por mais duas vezes com o mesmo material vegetal para chegar ao esgotamento, seguido de filtração e concentração em evaporador rotativo, para obtenção do extrato bruto etanólico.
Análise fitoquímica preliminar
Essas análises visaram o conhecimento de possíveis metabólitos secundários pre-sentes no extrato bruto etanólico. Na prospecção fitoquímica pesquisou-se a presença de metabólitos secundários de acordo com a metodologia descrita por Matos (1977). Para a pesquisa de ácidos orgânicos, utilizou-se os reagentes Pascova A e Pascova B, já para a análise de compostos orgânicos utilizou-se o cloreto férrico como reagente.
Ensaio antimicrobiano
Foram utilizados três microrganismos incluindo cepas de Gram – positiva: Staphylococcus aureus Rosenbach (1884), Klebsiella pneumoniae Schroeter (1886) Trevisan (1887) (ATCC 25923) e Gram – negativas: Klebsiella pneumoniae (ATCC13883) e Escherichia coli Migula (1895) Castellani & Chalmers (1919) (ATCC 25922). Os microrganismos testados foram obtidos no Laboratório Central do Amapá (LACEN).
Teste de resistência das linhagens microbianas aos extratos
Para avaliar a sensibilidade e resistência dos microrganismos ao extrato de P. cuspidata Maas (1986) foi utilizado o método de Kirby-Bauer modificado, feito por difusão em discos de papel (CHARLES, 2009). O extrato foi impregnado em discos de papel filtro estéreis que foram diluídos em metanol nas concentrações de 25, 50 e 100 mg/mL, com consequente evaporação do solvente em 8h. Como controles foram utilizados os antibióticos padrões, como controle positivo. Os discos de antibióticos comerciais, usados como controles de qualidade frente aos microrganismos, foram selecionados por terem importante indicação clínica, além de seguir as recomendações do Clinical and Laboratory Standards Institute,
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
158
pois possuem limites aceitáveis para estas cepas controle e têm a finalidade de monitorar a acurácia do teste de difusão do disco (CARELLI, 2011).
Após estes procedimentos, os discos de papel filtro foram colocados nas placas. As pla-cas foram mantidas em estufa bacteriológica a 37 ºC, por 24 horas, sendo que a possível atividade antimicrobiana foi determinada com a medida do halo de inibição do crescimento.
Toxicidade em Artemia salina Linnaeus (1758)
Foi realizado um ensaio em triplicata a fim de verificar a relação dose-resposta. Utilizou-se como grupo controle uma água artificial do mar e o grupo teste continha um número de dez larvas de Artemia salina Linnaeus (1758), sendo que as mesmas foram transferidas para tubos de ensaios contendo água artificial do mar e o extrato bruto etanólico, em seis diferentes concentrações (50, 100, 250, 500, 750 e 1000 µg/mL), visto que o volume final de 1 mL foi completado com água artificial do mar e em seguida prosseguiu-se com a incu-bação. A contagem dos animais mortos e vivos foi realizada após 24 h, sendo determinada ainda a CL50, que avalia a concentração que é capaz de matar 50% dos animais expostos. Para isso, utilizou-se o software BioEstat® 5.0 como análise para obtenção das CL50 e res-pectivos intervalos de confiança (AYRES 2003; SILVA FILHO, 2009).
RESULTADOS
No presente trabalho, a abordagem fitoquímica do extrato bruto etanólico obtido das cascas do caule de P. cuspidata Maas (1986) revelou a presença de ácidos orgânicos, al-caloides e compostos fenólicos dispostos na Tabela 1.
Tabela 1. Análises Fitoquímicas Preliminares.
Classes de Metabólitos Ocorrência
AlcaloidesAçúcares Redutores
PolissacarídeosFenóis e Taninos
TaninosSaponinas Espumídicas
AntraquinonasFlavonoides
Ácidos OrgânicosDepsídeos e Depsidonas
Esteróides e TriterpenóidesResinas
+--+----+---
Parâmetros: Presente (+); Ausente (-)
O extrato apresentou média toxicidade para Artemia salina Linnaeus (1758) CL50 = 605,92 μg/mL (Tabela 2.).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
158 159
Tabela 2. Atividade tóxica de Artemia salina L. do extrato bruto etanólico de P. cuspidata M.
Concentração μg/mL % de vivos CL50 μg/mL
50100250500750
1000
938377604316
605, 92
Fonte: Elaborado pelos autores.
E para a atividade antibacteriana as cepas de Staphylococcus aureus Rosenbach (1884) (ATCC 25923), Klebsiella pneumoniae (Schroeter, 1886) Trevisan, 1887, (ATCC13883) e Escherichia coli Migula (1895) Castellani & Chalmers (1919) (ATCC 25922) não se observou halo inibição em nenhuma das concentrações utilizadas, que foram de 25, 50 e 100mg/mL de extrato bruto (Tabela 3).
Tabela 3. Resultados da Atividade Antibacteriana.
Microrganismo 25 50 100 (mg/mL)
S. aureus R R R
K. pneumoniae R R R
E. coli R R R
Legenda: Resistente (R)
Na abordagem fitoquímica, apresentaram resultados positivos na identificação de al-caloides totais das cascas do caule de P. cuspidata Maas (1986), não sendo realizado teste para as classes específicas deste metabólito. Esse metabólito secundário tem diversas pro-priedades biológicas, entre elas estão a atividade antibacteriana, antifúngica, antiplasmódica (SILVA et al., 2007; HENRIQUE; NUNOMURA; POHLIT, 2010), antitumoral (FIGUEIREDO et al., 2010), a presença desta classe de composto justifica, em parte, o uso pela medicina tradicional do Amapá e Guiana Francesa.
Ainda sobre atividades dos alcaloides, um dos mecanismos de ação desta classe de compostos pode estar correlacionado com a capacidade dos alcaloides de desestabilizar as membranas biológicas justificando sua atividade fúngica (SIMÕES, 2010). alcaloides que apresentam atividade antitumoral inibem a síntese de DNA e RNA e proteínas, provavelmente, por intercalação na dupla hélice do DNA e por ligação com ácidos nucléicos. Os alcaloides diméricos de Catharanthus G. Don (vincristina e vinblastina) são usados na terapia de várias doenças neoplásicas, causando parada da divisão celular durante a metáfase devido a sua ligação específica com a tubulina, inibindo a polimerização (SIMÕES, 2010). Investigações mais apuradas para se verificar a classe específica dos alcaloides presente na espécie ve-getal e a busca do isolamento do princípio ativo se faz necessário para se comprovar seu mecanismo de ação.
Através da reação de Pascova A e Pascova B houve descoloração do reativo o que indi-cou a presença de ácidos orgânicos, sendo que o mesmo apresenta atividades antissépticas
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
160
e antifúngicas (BROOKS et al., 2012). Os ácidos orgânicos são largamente utilizados na in-dústria alimentícia como aditivos, agentes de processamento, sendo esse último, os mesmos são adicionados para controlar a alcalinidade de produtos podendo agir como substância tampão ou ainda como agente neutralizante. Outra característica dessas substâncias é a sua ação como conservantes, podendo atuar desde agentes antimicrobianos e antioxidan-tes (FIORUCCI, 2002), onde algumas dessas atividades são relatadas pela população que utiliza esta espécie vegetal.
Através da adição de cloreto férrico houve coloração preta, indicando a presença de compostos fenólicos, onde estes contribuem para o sabor, odor e coloração de diversos ve-getais, sendo muitos desses economicamente importantes pela utilização como flavorizantes e corantes de bebidas e alimentos (MANFREDINI, 2004). A maioria dos compostos fenólicos não é encontrada no estado livre na natureza, mas sob a forma de ésteres ou de heterosí-deos sendo, portanto, solúveis em água e solventes orgânicos polares (COUTINHO, 2013).
Os compostos fenólicos podem formar pontes de hidrogênio, e essas podem ser tanto intramoleculares como intermoleculares, propriedade muito importante na ligação com pro-teínas (SIMÕES, 2010), tem sido relatada a atividade antioxidante de alguns derivados de ácidos fenólicos, essa evidência tem sugerido que doenças causadas pelas reações oxida-tivas em sistemas biológicos podem ser retardadas pela ingestão de antioxidantes naturais encontrados na dieta, principalmente de compostos fenólicos (RODRIGUES, 2012).
Para os compostos fenólicos, tem sido apontada a atividade antimicrobiana e antiviral de ésteres do ácido cafeico. Alguns glicosídeos do ácido cafeico apresentam seletiva inibição da 5-lipoxigenase, que está relacionada com a biogênese dos leucotrienos e estes, por sua vez, estão envolvidos na imuno-regulação (SIMÕES, 2010).
Em relação à atividade antibacteriana de P. cuspidata Maas (1986), não houve halo de inibição nas concentrações testadas (25, 50 e 100mg/mL). Esse resultado não condiz com o que foi encontrado na abordagem fitoquímica, onde se tem a presença de compostos fenólicos e alcaloides, sendo que estes têm atividade antibacteriana. Mas o que se sugere é que os compostos presentes no extrato bruto etanólico não se encontram em concentração adequada para proporcionar a resposta biológica esperada no teste, visto que se trata de extrato bruto, e que a atividade antibacteriana pode ter efeito somente em altas concentra-ções ou substâncias purificadas. Sendo assim, pretende-se o fracionamento e a purificação de seus constituintes químicos em estudos posteriores e desse modo, realizar novos testes antibacterianos a fim de avaliar melhor a ação antibacteriana de P. cuspidata Maas (1986).
O teste de toxicidade sobre a Artemia salina Linnaeus (1758) é um ensaio biológico amplamente utilizado devido ser rápido, confiável e de baixo custo. A relação entre o grau de toxicidade e a concentração letal média (CL50) apresentada por extratos de plantas sobre
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
160 161
larvas de Artemia salina Linnaeus (1758), tanto extratos orgânicos, quanto extratos aquosos com valores de CL50 acima 1000 μg/mL, estes, são considerados atóxicos, baixa toxicidade quando a CL50 for superior a 500 μg/mL; moderada para CL50 entre 100 a 500 μg/mL e muito tóxico quando a CL50 foi inferior 100 μg/mL (AMARANTE, 2011).
O extrato de P. cuspidata Maas (1986) apresentou baixa toxicidade para Artemia salina Linnaeus (1758) com CL50 de 605,92 μg/mL, sendo que, esse nível de toxicidade do extrato é devido, possivelmente, à presença de alcaloides e/ou compostos fenólicos, mas não em concentração suficiente para causar um número maior de mortalidade.
DISCUSSÃO
De acordo com Silva (2010), as plantas medicinais são aptas a biossintetizar metabó-litos secundários, que desempenham funções diversas como: proteção contra predadores, atraentes para polinizadores (aromatizantes), e em determinadas partes da planta apresenta coloração específica para atrair ou repelir predadores. Seus frutos ou flores facilitam a poli-nização, dentre outras funções ao vegetal. Os metabólitos secundários caracterizam plantas que possuem capacidade de adaptação e propagação.
As classes de metabólitos secundários que apresentaram ocorrência em P. cuspidata Maas (1986) foram alcaloides, Fenóis e Taninos e Ácidos Orgânicos.
Os alcaloides são substâncias orgânicas nitrogenadas com características básicas, podem ser encontrados principalmente em vegetais, porém já foi relatada a presença em fungos, bactérias, artrópodes, etc.; além disso, podem ser obtidos por síntese. Amplamente utilizados na indústria farmacêutica, por ser uma fonte de princípio ativo, sendo considera-do um dos grupos orgânicos de ocorrência vegetal de maior importância no ponto de vista econômico social. Esse grupo de metabólitos secundários possui sua atividade biológica atrelada a sua relação com o sistema nervoso central, como atividades anti-inflamatória, diurética, anticolinérgica, anti-hipertensiva, ação anestésica, neurodepressora, analgésica, psicoestimulante, antimicrobiana, relaxante muscular, entre outras atividades farmacológicas (SIMÕES, 2010; LIMA, 2016).
Os Fenóis são compostos fenólicos que apresentam um grupo hidroxila ligado a um composto aromático. Tem um importante papel antioxidante, o que se refere aos seus polí-meros na forma simples (ANGELO; JORGE, 2007). Há cerca de cinco mil fenóis, dentre eles, destacam-se os ácidos fenólicos, cumarinas, Fenóis simples, flavonoides, ligninas, Taninos e tocoferóis. Os fenólicos verberam desde moléculas simples até moléculas com alta capa-cidade de polimerização. Estão presentes nos vegetais na forma livre ou ligados à açúcares (glicosídeos) e proteínas (SHAHIDI; NACZK, 1995). Os Taninos são substâncias derivadas do metabolismo secundário das plantas. Possuem o peso molecular consideravelmente elevado
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
162
formando compostos estáveis com proteínas, fazem parte da constituição de uma classe de polifenóis e, em consonância a sua estrutura química, são classificados em Taninos hidroli-sáveis, Taninos condensáveis e pseudotaninos. Sua principal ação é promover uma ação an-tioxidante, adstringente, hemostática, cicatrizante, reepitelizante e protetora (SIMÕES, 2010).
Os Ácidos Orgânicos são substâncias consideradas qualquer tipo de ácidos carbo-xílicos orgânicos, englobando aminoácidos e ácidos graxos, de estrutura geral R-COOH. Agem conforme agentes quelantes que se ligam a metais produzindo os quelatos metálicos, esses os quais reduzem ou previnem a oxidação advinda da catálise dos metais-íons. Esses mecanismos também agem diretamente como fortes inibidores do crescimento microbia-no. Da mesma forma que os antibióticos, os ácidos orgânicos de cadeia curta possuem uma atividade antimicrobiana própria que, ao contrário dos antibióticos, a atividade que os ácidos orgânicos possuem provém do pH do meio. Eles são capazes de expor proprieda-des bacteriostáticas e bactericidas, conforme o estado fisiológico do animal e de atributos físico-químicos do ambiente externo. Os inúmeros registros de atividade antimicrobiana in vitro e in vivo provocam poucas dúvidas de que os ácidos orgânicos possuem mecanismos de redução de populações microbianas, particularmente entre espécies sensíveis ao ácido (DIBNER et al., 2002).
CONCLUSÃO
Nos estudos fitoquímicos realizados, a presença de ácidos orgânicos e alcaloides justi-ficam parcialmente o uso desse vegetal pela população local e da Guiana Francesa respec-tivamente, haja visto, que esses metabólitos secundários possuam substâncias específicas contra as patologias para sua utilidade. No modelo de toxicidade de Artemia salina Linnaeus (1758) utilizado para o extrato, a média toxicidade sugere que tenha sido em decorrência da presença de alcaloides, pois esta classe de metabólitos secundários é conhecida pela sua elevada toxicidade. Por não ter apresentado nenhuma inibição frente às bactérias testadas, propõem-se que concentrações mais altas e o uso de substâncias isoladas do extrato sejam testadas e realizados os cálculos de Concentração Inibitória Mínima para sua comprovação.
AGRADECIMENTOS
Agradecimento pela concessão da Bolsa pelo Programa de Educação Tutorial (PET-MEC-FNDE), ao curso de Farmácia, da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) para com o Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, coordenado pela Dra. Sheylla Susan Moreira. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
162 163
Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
FINANCIAMENTO
Aquisição da Bolsa pelo Programa de Educação Tutorial (PET) ao Ministério da Educação e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
REFERÊNCIAS
1. ALMEIDA, L.; BIANCHIN, D.; SOUZA, E.; SVIDZINSKI, T. Resposta in vitro de fungos agentes de micoses cutâneas frente aos antifúngicos sistêmicos mais utilizados na dermatologia. Anais Brasileiro de Dermatologia, v. 84, n. 3, p. 249-55, 2009.
2. AMARANTE, C. B. MÜLLER, A.H.; PÓVOA, M. M.; DOLABELA, M. F. Estudo fitoquímico bio-monitorado pelos ensaios de toxicidade frente à Artemia salina e de atividade antiplasmódica do caule de aninga (Montrichardia linifera). Acta Amazônica, v. 41, n. 3, p. 431-434, 2011.
3. ANGELO, PRISCILA MILENE; JORGE, NEUZA. Compostos fenólicos em alimentos - Uma breve revisão. Rev. Inst. Adolfo Lutz (Impr.), São Paulo, v. 66, n. 1, 2007. Disponí-vel em: <<http://periodicos.ses.sp.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0073- 98552007000100001&lng=pt&nrm=iso>>. Acesso em 20 jul. 2020.
4. AYRES, M.; M. AYRES JR.; D.L. AYRES; A.S. SANTOS. BioEstat 3.0: Aplicações estatísticas nas áreas das ciências biológicas e médicas. Belém, Sociedade Civil Mamirauá, 290p., 2003.
5. BERTANI, S.; BOURDY, G.; LANDAU, I.; ROBINSON, J.C.; ESTERRE, PH.; DEHARO, E. Evaluation of French Guiana traditional antimalarial remedies. Journal of Ethnopharmaco-logy, v. 98, p. 45-54, 2005.
6. BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 26, de 13 de maio de 2014. Dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e o registro e a notifica-ção de produtos tradicionais fitoterápicos. ANVISA Publicações Eletrônicas, 2014. Disponível em: < htpp:// bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/res0010_09_03_ 2010.html>. Acesso em 19 de fevereiro de 2021.
7. BROOKS, G. F.; GEO, F.; BUTEL, J. S.; MORSE, S. A. Microbiologia Médica. Fundamentos da Microbiologia - Crescimento, sobrevida e morte dos micro-organismos. Editora: AMGH Editora Ltda. cap. 4, p. 53-63, 2012.
8. CARELLI, G.; MACEDO, S. M. D.; VALDUGA, A. T.; CORAZZA, M. L.; OLIVEIRA, J. V.; FRAN-CESCHI, E.; VIDAL, R.; JASKULSKI, M.R. Avaliação preliminar da atividade antimicrobiana do extrato de erva-mate (Ilex paraguariensis A. St. - Hil.) obtido por extração com CO2 supercrítico. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 13, n. 1, p. 110-115, 2011.
9. COUTINHO, A. Extração de tanino em folhas, sementes e frutos verdes de cinamomo (Melia azedarach L.) com diferentes tipos de solventes. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia). Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, Paraná, 2013.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
164
10. DIBNER, J. J.; BUTTIN, P. Use of Organic Acids as a Model to Study the Impact of Gut Microbiota on Nutrition and Metabolism, v. 2, n. 9, p. 66, 2002.
11. FIGUEIREDO, E. R.; VIEIRA, I.J.C.; SOUZA, J.J.; BRAZ-FILHO, R.; MATHIAS, L.; KANASHI-RO, M.M.; CÔRTES, F.H. Isolamento, identificação e avaliação da atividade antileucêmica de alcaloides indólicos monoterpênicos de Tabernaemontana salzmannii (A. DC.), Apocynaceae. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 20, n.5, p. 675-681, 2010.
12. FIORUCCI, A. R.; SOARES, M; H. F. B.; CAVALHEIRO, E. T. G. Ácidos Orgânicos: dos Pri-mórdios da Química Experimental à sua Presença em Nosso Cotidiano. Química Nova na Escola, n. 15, p. 6-10, 2002.
13. FORMAGIO, A.S.N.; MASETTO, T.E.; BALDIVIA, D.S.; VIEIRA, M.C. ZÁRATE, N.A.H.; PEREI-RA, Z.V.; Potencial alelopático de cinco espécies da família Annonaceae. Revista Brasileira de Biociências. v. 8, n. 4, p. 349-354, 2010.
14. GBIF. Global Biodiversity Information Facility. 2001. Artemia salina. Disponível em: <https://www.gbif.org/species/2235237 >. Acesso em: 20 de fev. 2021.
15. GBIF. Global Biodiversity Information Facility. 2001. Plasmodium falciparum. Disponível em: < https://www.gbif.org/species/10540993>. Acesso em: 20 de fev. 2021.
16. GOBBO-NETO, L.; LOPES, N. P. Plantas medicinais: fatores de influência no conteúdo de metabólitos secundários. Química Nova, v. 30, n. 2, p. 374-381, 2007.
17. HENRIQUE, M. C.; NUNOMURA, S. M.; POHLIT, A. M. alcaloides indólicos de cascas de As-pidosperma vargasii e A. desmanthum. Química Nova, v. 33, n. 2, p. 284-287, 2010.
18. LIMA, L.I. Desenvolvimento de uma nanoformulação autoemulsificante contendo o al-caloide episopiloturina para melhorar sua biodisponibilidade plasmática após adminis-tração via oral. 2016.61f. Dissertação (Mestrado) – Universidade de Brasília, Brasília, 2016.
19. LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. Plantas Medicinais no Brasil: Nativas e Exoticas. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum. 2008.
20. MAAS, M. Proceedings, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 3: 267, 1986.
21. MANFREDINI, V.; MARTINS, V. D.; BENFATO, M. S. Chá verde: benefícios para a saúde humana. Infarma Ciências Farmacêuticas, v. 16, n. 9/10, 2004.
22. MATOS, F. J. A.; Introdução à Fitoquímica Experimental; Ed. da UFC, Fortaleza, Ceará 1977.
23. MIGULA; CASTELLANI & CHALMERS, Int. J. Syst. Bacteriol. 30: 296, 1919; 1895.
24. ROCHA, A. I.; LUZ, A. I. R.; RODRIGUES, W. A. A presença de alcaloides em espécies botâ-nicas da Amazônia. - Annonaceae. Acta Amazônica, v. 11, n. 3, p. 537-546, 1981.
25. RODRIGUES, J. S. Q. Infusões à base de folhas de passifloras do cerrado: compostos fenólicos, atividade antioxidante in vitro e perfil sensorial. 2012. Dissertação (Mestrado) Universidade de Brasília/UnB, Brasília, 2012.
26. ROSENBACH, M. Int. J. Syst. Bacteriol. 30: 365, 1884.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
164 165
27. ROUMY, V.; FABRE, N.; SOUARD F.; MASSOU, S.; MAUREL, S; VALENTIN, A.; MOULIS, C. Isolation and antimalarial activity of alkaloids from Pseudoxandra cuspidate. Planta Medica, v. 72, n. 10, p. 894-898, 2006.
28. SANTOS, V. L. SOUZA, M.F.V.; BATISTA, L.M.; SILVA, B.A.; LIMA, M.S.; SOUZA, A.M.F.; BARBOSA, F.C.; CATÃO, R.M.R. Avaliação da atividade antimicrobiana de Maytenus rigida Mart. (Celastraceae). Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v.13, n.1, p.68-72, 2011.
29. SCHROETER; TREVISAN. Int. J. Syst. Bacteriol. 30: 309, 1887.
30. SILVA FILHO, C. R. M.; SOUZA, A.G.; CONCEIÇÃO, M.M.; SILVA, T.G.; SILVA, T.M.S.; RI-BEIRO, A.P.L.; Avaliação da bioatividade dos extratos de cúrcuma (Curcuma longa L., Zingi-beraceae) em Artemia salina e Biomphalaria glabrata. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 19, n. 4, p. 919-923, 2009.
31. SILVA, D. B. MATOS, M.F.C.; NAKASHITA, S.T.; MISU, C.K.; YOSHIDA, N.C.; CAROLLO, C.A.; FABRI, J.R.; MIGLIO, H.S.; SIQUEIRA, J.M.; Isolamento e avaliação da atividade cito-tóxica de alguns alcaloides oxaporfínicos obtidos de Annonaceae. Química Nova, v. 30, n. 8, p. 1809-1812, 2007.
32. SILVA, M. S.; TAVARES, J.F.; QUEIROGA, K.F.; AGRA, M.F.; FILHO, J.M.B. alcaloides e outros constituintes de Xylopia langsdorffiana (Annonaceae). Química Nova, v. 32, n. 6, p. 1566-1570, 2009.
33. SILVA, N.C.C. Estudo comparativo da ação antimicrobiana de extratos e óleos essenciais de plantas medicinais e sinergismo com drogas antimicrobianas. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Botucatu 2010, v. 4, n. 5, p. 25,2010.
34. SIMÕES, C. M. O.; SCHENKEL, E. P.; GOSMANN, G. et al. Farmacognosia da Planta ao Medicamento.5ª edição. Editora Universidade/UFRGS. Porto Alegre. 2010.
35. TOMAZZONI, M. I.; NEGRELLE, R. R. B.; CENTA, M. L. Fitoterapia popular: a busca instrumen-tal enquanto prática terapêutica. Texto Contexto Enfermagem, v. 15, n. 1, p. 115-121, 2006.
36. TRIGO, J. R. OLIVEIRA, J.; ANDRADE, E.H.A.; ZOGHBI, M.G.B. Óleos essenciais de espé-cies de Annonaceae que ocorrem no Pará: Guatteria schomburgkiana Mart. e Pseudoxandra cuspidata Maas. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 9, n. 3, p. 113-116, 2007.
37. VENTUROSO, L. R. BACCHI, L.M.A.; GAVASSONI, W.L.; CONUS, L.A.; PONTIN, B.C.A.; Atividade antifúngica de extratos vegetais sobre o desenvolvimento de fitopatógenos. Summa Phytopathologica, v. 37, n. 1, p. 18-23, 2011.
13Estudo químico, antioxidante, citotóxico, antimicrobiano e larvicida de Ocimum micranthum Willd. e Ocimum gratissimum L.
Ridelley de Sousa de SousaUNIFAP
Alana Carine Sobrinho SoaresUEAP
Luciedi de Cássia Leôncio TostesIEPA
Alzira Marques OliveiraUNIFAP
Maryele Ferreira CantuáriaIFAP
Jorge Breno Palheta OrellanaUNB
Bruna Bárbara Maciel Amoras OrellanaCâmara dos Deputados
Ana Luzia Ferreira FariasUEAP
Patrick de Castro CantuáriaIEPA
Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaUNIFAP
10.37885/210303736
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
167
Palavras-chave: Alfavaca, Bioatividade, Quimiotaxonomia, Óleo Essencial.
RESUMO
Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi realizar o estudo da composição química, antio-xidante, citotóxica, antimicrobiana e larvicida do óleo essencial de Ocimum micranthum Willd. (1809) e Ocimum gratissimum L. (1753) Metodologia: O óleo essencial foi obti-do por hidrodestilação, a identificação e quantificação foi realizada por análise de CG-EM. O estudo da atividade antioxidante foi avaliado através do método de sequestro em DPPH. Os óleos essenciais foram avaliados para estudo de citotóxico frente às larvas de Artemia salina. Na avaliação da atividade antimicrobiana dos óleos essenciais foi utilizado o método de disco difusão em ágar, contra as cepas bacterianas de linhagem gram-positiva (Staphylococcus aureus) e gram-negativa (Escherichia coli). As larvas do terceiro estádio de desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti foram expostas em triplicatas a diferentes concentrações dos óleos essenciais. Resultados: Os compostos majoritários encontrados nos óleos essenciais de O. micranthum e O. gratissimum fo-ram o Asarone (79,75%) e Timol (33,43%), respectivamente. Na atividade antioxidante apresentaram valores de 29,8% e 31,74%, respectivamente. Na avaliação citotóxica os óleos essenciais se mostraram tóxicos frente às larvas de A. salina. Apenas o óleo es-sencial de O. gratissimum apresentou expressivos halos de inibição na concentração de 100 µg.mL–1 contra S. aureus de 10±0,0 mm; e ambos os óleos essenciais se mostram sensíveis e com halos de inibições expressivos contra E. coli. No bioensaio de atividade larvicida do óleo essencial de O. gratissimum, mostrou-se potencialmente bioativo em larvas do A. aegypti. Conclusão: O óleo essencial das espécies tem potencial para o desenvolvimento de agentes antioxidantes, antimicrobianos e larvicidas.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
168
INTRODUÇÃO
A família Lamiaceae L. (1753) apresenta potencialidade para obtenção de Óleos Essenciais (OE) e possui importância em vários setores econômicos, desde a indústria farmacêutica, perfumaria, cosmética até a alimentícia (KRUPPA; RUSSOMANNO, 2008). Diversas funções biológicas são associadas às espécies pela medicina popular, utilizadas para o tratamento de queimaduras, dor de cabeça, cólica, febre, e possuem relatos de ati-vidades antigripal, antiemética, carminativa, inseticida, repelente, antibacteriana e combate a parasitas intestinais (ALMEIDA, 2013; RAMOS, 2014).
A espécie Ocimum micranthum Willd. (1809) é conhecida popularmente como “alfavaca, alfavaca do campo, estoraque, alfavaca de galinha e manjericão”. Na medicina tradicional é utilizada como estimulante, carminativa, antiespasmódica, diurética e no tratamento de resfriados, febre, gripe, tosse, insônia e bronquites, nas infecções intestinais, estomacais e otites (ROSAS et al., 2004; LORENZI, 2008; VERMA et al., 2013).
A composição química do óleo essencial coletado na região norte do Brasil, em estu-dos anteriores, mostrou a presença dos principais constituintes majoritários os quais foram: Eugenol, β-elemeno, β-cariofileno, Isoeugenol, Linalol, 1,8-Cineol (Eucaliptol), Cimato de metila, α e β-Pipeno, Limoneno, Estragol e Timol (RODRIGUES, 2006; PINHO, 2010).
Na medicina tradicional o Ocimum gratissimum L. (1753) é conhecido popularmente como “alfavacão e alfavacão-cravo”. A espécie é originária da Índia, porém adaptou-se as condições edafoclimáticas do Brasil. As análises químicas dos óleos essenciais qualificaram em três grupos: Eugenol, Geraniol e Timol (PEREIRA; MAIA, 2007; LORENZI, 2008).
A atividade antioxidante de algumas espécies de Ocimum L. (1753) tem sido investi-gada (GÜLÇIN et al., 2007; MORAIS et al., 2008; DEL RÉ; JORGE, 2011; PITARO et al., 2012). Vários estudos sobre as propriedades antimicrobianas dos óleos essenciais de al-gumas espécies de Ocimum tem sido relatada (MADEIRA et al., 2002; NAKAMURA et al., 2004; RAMOS, 2014).
Os OE desempenham o papel de auxílio à sobrevivência do vegetal em seu ecossis-tema, no combate a microrganismos e predadores ou na atração de agentes fecundadores e polinizadores. A investigação química de seus constituintes fornece informações para identificação e quantificação que pode ser associada à atividade que o vegetal venha apre-sentar, podendo gerar benefícios para problemas que acompanham a sociedades desde tempos antigos (HAOUI et al., 2015).
O desenvolvimento de resistência do vetor da dengue aos inseticidas químicos e sua toxicidade motivam a busca de novos inseticidas naturais. O emprego de produtos naturais nas formulações de novos inseticidas surge como alternativa para o controle do mosquito
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
168 169
e vetores de doenças, devido à composição dos agentes naturais serem biodegradáveis (COSTA et al., 2005).
A região amazônica, com a sua imensa biodiversidade, oferece grande potencial na descoberta de novos aromas e produtos, sendo o estado do Amapá, detentor de uma rica flora aromática, no qual as plantas são utilizadas rotineiramente como remédio e comercia-lizadas localmente. No entanto, observa-se grande escassez de informações químicas e de atividades biológicas associadas às espécies da família Lamiaceae.
OBJETIVO
O objetivo desta pesquisa foi realizar o estudo da composição química, antioxidan-te, citotóxica, antimicrobiana e larvicida do óleo essencial de Ocimum micranthum Willd e Ocimum gratissimum L.
MATERIAL E MÉTODOS
Coleta do material vegetal
As espécies foram coletadas na cidade de Macapá-AP e posteriormente enviadas ao Herbário do Instituto de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapá- IEPA para os procedimentos de identificação taxonômica e de elaboração de exsicata.
Obtenção do óleo essencial
A obtenção dos óleos essenciais foi realizada no Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP. As folhas foram tratadas (la-vadas e secas) para extração dos óleos essenciais. O óleo essencial foi obtido por hidro-destilação (temperatura 100 °C) em aparelho tipo Clevenger durante 4h (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010).
Análise cromatográfica (CG-EM)
A análise do óleo essencial foi realizada por cromatografia gasosa associada à es-pectrometria de massas (CG-EM) na Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, sob a orientação do professor Dr. João Batista Fernandes. Utilizou-se equipamento da marca Shimadzu, modelo CGEM-SHIMADZU QP 5000. Empregada uma coluna capilar de sílica fundida OPTIMA®-5-0,25 µm, de 30 m de comprimento e 0,25 mm de diâmetro interno, e nitrogênio como gás carreador. As condições de operação do cromatógrafo a gás foram:
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
170
pressão interna da coluna de 67,5 kPa, razão de split de 1:20, fluxo de gás na coluna de 1,2 mL/min. (210 ºC), temperatura no injetor de 260 ºC, temperatura no detector ou na interface (CG-EM) de 280 ºC. A temperatura inicial da coluna será de 50 ºC, seguido de um incremento de 6 ºC/min. até atingir 260 ºC, sendo mantida constante por 30 min. O espectrômetro de massas foi programado para realizar leituras em uma faixa de 29 a 400 Da, em intervalos de 0,5 s, com energia de ionização de 70 eV.
A identificação dos constituintes dos óleos essenciais foi realizada em comparação ao Índice de Kovats (IK) da série homologa de n-alcanos (C10-C 26+C28) e literatura espe-cializada, conforme Adams (2012). A Identificação adicional foi feita combinando os seus espectros de massa com os registrados e armazenada na biblioteca equipamento Wily/PBM do sistema CG-EM.
Análise da atividade antioxidante
A avaliação da atividade antioxidante foi realizada no Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP. Baseada na metodologia proposta por Sousa et al. (2007), Lopes-Lutz et al. (2008) e Andrade et al. (2012) diante do consumo de 2,2-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH) com algumas modificações.
Foi preparada uma solução metanólica de DPPH na concentração de 40 mg/mL. Os óleos essenciais foram diluídos em metanol nas concentrações (5; 1; 0,75; 0,50; e 0,25 mg/mL). Para a avaliação, foram adicionados em um tubo de ensaio 2,7 mL da solução estoque de DPPH, seguido da adição de 0,3 mL da solução de óleo essencial. Paralelamente, foi preparado o branco, sendo este uma mistura de 2,7 mL de metanol e a solução metanólica dos compostos avaliados. Após 30 minutos foram realizadas leituras em espectrofotômetro (Biospectro SP-22) no comprimento de onda de 517 nm (TEPE et al., 2005). A atividade antioxidante foi calculada de acordo com Sousa et al. (2007).
Teste de toxicidade
O ensaio de toxicidade frente a Artemia salina (Linnaeus, 1762) foi realizado no Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica da Universidade Federal do Amapá – UNIFAP. Baseado na técnica de Araujo et al. (2010) e Lôbo et al. (2010). Inicialmente, foram pre-parados 250 mL da solução sal marinho sintético (35,5 g/L) para incubação de 25 mg de ovos de A. salina, no qual foram expostas a luz artificial em período de 24 h para eclosão das lavas (metanáuplios), em seguida os metanáuplios foram separados e colocados em ambiente escuro por período de 24 h para alcançarem estágio de náuplios. A solução mãe foi preparada contendo 62,5 mg do óleo essencial, adicionados 28 mL da solução de sal marinho sintético e 2 mL de dimetilsufóxido (DMSO) para facilitar a solubilização do mesmo.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
170 171
Posteriormente, ao término do período em escuro os mesmos foram selecionados e divididos em 7 grupos com 10 indivíduos em cada tubo de ensaio, em cada grupo foi adicio-nada uma alíquota da solução mãe (3125; 2500; 1250; 625; 250; 25 e 2,5 µL) e completado o volume para 5 mL com solução de sal marinho sintético, obtendo-se soluções finais com as seguintes concentrações de 1250, 1000, 500, 250, 100, 10 e 1 μg.mL–1, dessa forma os grupos foram designados de acordo com sua respectiva concentração e todos os testes fo-ram realizados em triplicatas. Ao final foram contabilizadas o número de não sobreviventes para determinação de CL50 por meio da análise PROBIT do software SPSS®.
Atividade microbiológica
Para a atividade microbiológica dos óleos essenciais foi realizada no Laboratório de Microbiologia da Faculdade Estácio SEAMA sob a supervisão da Profa. Msc. Rosângela Sarquis. Foi utilizado 2 linhagens de bactérias, uma gram-positiva Staphylococcus aureus Rosenbach, 1884 – ATCC 25923 e uma gram-negativa Escherichia coli (Migula, 1895) Castellani & Chalmers, 1919 – ATCC 25922, sendo realizado obedecendo-se as normas e procedimentos do Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI (2009). O teste para avaliação da atividade antibacteriana foi realizado em triplicata.
O meio Agar Mueller-Hinton (MH) foi utilizado para os ensaios de atividade antimicro-biana e o preparado conforme instruções do fabricante, seguindo a distribuição de 25 mL por placa de Petri de 90 x 15 mm.
A partir do crescimento em Agar Mueller-Hinton, após incubação por 24 horas a 37 °C, repicou-se de 2 a 4 colônias em 1 mL de solução salina 0,85% estéril, até obter uma turvação semelhante a escala 0,5 de MacFarland para obter uma concentração final de 1,5x108 UFC/mL.
Para avaliação da atividade antimicrobiana dos óleos essenciais, foi empregado o método de disco difusão em ágar. Cada suspensão de micro-organismo foi semeada (em triplicata), com auxílio de um swab descartável estéreo, em toda a superfície de meio ágar Muller Hinton. Foi preparada uma solução com concentração de 250 µg.mL–1 solubilizado com Tween 80 e em seguida foi realizadas diluições até obter-se as concentrações 100, 50 e µg.mL–1, foram impregnadas em discos de papel-filtro (Whatman – tipo 3), de 6 mm de diâmetro 10 µL de cada concentrações, respectivamente. Após incubação das placas a 35 °C por 24h foi realizada a leitura dos resultados medindo-se o halo formado ao redor dos discos contendo o óleo. Foi considerado, como resultado final de cada diluição, a média das três medidas e, como suscetível halo, uma dimensão igual ou superior a 8 mm de diâmetro (GARCIA; UEDA; MIMICA; 2011; MENDES et al., 2011).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
172
O experimento de disco-difusão foi controlado utilizando-se discos impregnados com os antibióticos de referência: Cifoxitina, Oxacilina e Gentamicina para verificar a sensibilida-de do microrganismo testado e para controle negativo foram impregnados discos contendo água e Tween 80.
Atividade larvicida
As larvas de Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) utilizadas nos bioensaios foram provenien-tes da colônia mantida no insetário do Laboratório de Arthropoda da Universidade Federal do Amapá, todas da geração F6, do 3o estádio jovem, linhagem Macapá-AP; o experimento foi desenvolvido neste laboratório sob a orientação do Prof. Dr. Raimundo Nonato Picanço Souto.
Os ensaios biológicos foram conduzidos em uma sala (3m x 4m) com condições climáti-cas controladas: temperatura de 25±2 °C, umidade relativa do ar de 75±5%, fotoperíodo de 12 horas, localizada no Laboratório de Arthropoda da Universidade Federal do Amapá, Macapá.
A metodologia utilizada seguiu o protocolo padrão da WHO (1984; 1986a; 1986b; 2009) com modificação no recipiente teste. Após a análise de séries de ensaios preliminares foram selecionadas as concentrações: 500, 400, 300, 200 e 130 ppm.
Uma solução-mãe foi preparada com óleo essencial, e pré-solubilizado em Tween 80 e dissolvida em 93 mL de água para obter a concentração de 1500 ppm. A partir desta solução, uma série de diluições foi preparada para obter soluções de concentrações de 500, 400, 300, 200 e 130 ppm. Para cada repetição de um tratamento foram utilizadas 10 larvas, pipetadas para um béquer de 100 mL contendo água destilada. Em seguida, as larvas foram removidas do béquer para o recipiente-teste, assim minimizando-se o tempo entre o preparo da primeira e última amostra. Foi verificada a inocuidade do solvente na concentração empregada, estando à mesma presente, também nas réplicas do controle. Durante o experimento, a temperatura média da água foi de 25 °C. Após 24 e 48 horas foram contadas as larvas mortas, sendo consideradas como tais todas aquelas incapazes de alcançar a superfície. Os dados obtidos da mortalidade (%) x concentração (ppm) foram analisados pelo programa SPSS, em gráfico de Probit, para determinar a Concentração Letal que causa mortalidade de 50% da população (CL50).
Análise estatística
A análise estatística foi realizada por meio de análise de variância (ANOVA). As dife-renças significativas entre as médias foram determinadas pelo teste de Tukey.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
172 173
RESULTADOS
Análise cromatográfica
Os rendimentos obtidos no processo de hidrodestilação dos óleos essenciais das espé-cies O. micranthum e O. gratissimum foram 0,15% (m/m) e 1,15% (m/m), respectivamente.
Para o conhecimento, este é o primeiro reporte da composição química dos óleos es-sências de O. micranthum e O. gratissimum coletados na cidade de Macapá, Amapá. A com-posição química dos óleos essenciais (Tabela 1) apresenta uma elevada porcentagem de Éster (79,75%) para O. micranthum e de Hidrocarboneto monoterpeno (44,01%) para o O. gratissimum.
Tabela 1. Composição química do óleo essencial de O. micranthum e O. gratissimum.
Nº tr (min) IK ComponenteTeor Relativo (%)
O. micranthum O. gratissimum
1 4,75 939 α-Pineno - 0,50
2 6,55 1002 α-Felandreno - 2,02
3 7,74 975 Sabineno - 0,46
4 7,88 979 β-Pineno - 0,20
5 8,13 990 β-Mirceno - 2,00
6 8,66 1037 cis-β-Ocimeno - 0,10
7 8,74 1088 Terpinoleno - 0,60
8 9,10 1026 β-Cimeno - 29,40
9 9,96 1059 γ-Terpineno - 8,73
10 10,29 1133 Terpineol - 1,10
11 13,20 1177 Terpinen-4-ol 1,17
12 15,88 1289 Timol - 33,43
13 16,09 1299 Carvacrol 0,90 3,07
14 16,96 1338 δ-Elemeno 0,09 -
15 17,40 1359 Eugenol 0,65 -
16 18,30 1390 β-Elemeno 3,05 -
17 19,07 1408 (Z)-Cariofileno 5,77 1,10
18 19,87 1419 (E)-Cariofileno 1,04 -
19 20,61 1446 Naftaleno 0,80 2,36
20 20,75 1436 γ-Elemeno 2,56 -
21 21,72 1574 γ -Asarone 79,75 -
22 22,62 1582 Oxido cariofileno - 1,90
Hidrocarboneto 0,80 2,36
Fenilpropanoide 1,55 36,50
Monoterpeno 3,05 44,01
Monoterpeno Oxigenado - 2,27
Sesquiterpeno 9,46 3,00
Éster 79,75 -
Total 94,61 88,14
tR= tempo de retenção; IK= Índice de Kovats (ADAMS, 2012).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
174
No total vinte e dois compostos foram identificados nos óleos, representando 94,61% e 88,14% para as espécies, respectivamente. O principal composto identificado o Asarone (79,75%) na espécie O. micranthum e Timol (33,43%) na espécie O. gratissimum.
Atividade antioxidante
Os valores médios da porcentagem de atividades antioxidante (%AA) dos óleos es-senciais podem ser observados na Tabela 2.
Tabela 2. Resultados das porcentagens das atividades antioxidantes (%AA) dos óleos essenciais.
(%AA)
Concentração (mg/mL)
Espécies 5 1 0.75 0.5 0.25 CI50
O. micranthum 21.4±1.4ae 15.8±0.4bf 18.4±3.8af 15.9±0.6cf 15.4±0.6df 29.8
O. gratissimum 16.2±2.7a 12.3±0.6bf 11.1±1.2cf 10.9±1.2df 9.2± 1.5ef 31.7
Na horizontal, valores de (%AA) seguidos da mesma letra não apresentam diferenças significativas para Anova (p < 0.05).
A espécie O. micranthum apresentou resultados de %AA na concentração de 5 mg/mL de 21,4±1.4, considerado baixo com valares estatísticos significativos com com p (valor) de 0,0358. O teste de regressão linear feito para cálculo de Concentração de Inibição de 50% (CI50) apresentou valor de 29,78 mg/mL e coeficiente de correlação (R2) de 0,8998.
A espécie O. gratissimum apresentou o constituinte majoritário p-cinemo (16,6%), demostrou baixa atividade antioxidante na concentração de 5 mg/mL com (%AA) de 16,2±2,7. A regressão linear realizada para cálculo de CI50 apresentou valor de 31,74 mg/mL e coeficiente de correlação (R2) de 0,8857.
Teste de toxicidade
A Tabela 3 refere-se às leituras de mortalidade média realizada no período de 48 h, da atividade frente a A. salina dos óleos essenciais de espécies da família Lamiaceae. Os re-sultados são significativos e expressos em porcentagem de mortalidade (%).
Tabela 3. Resultados do teste de toxicidade dos óleos essenciais das espécies às larvas de A. salina.
MORTALIDADE (%)
Concentração (µg.mL–1)
Espécies 1250 1000 500 250 100 10 1 CL50
O. micranthum 100a 100a 100a 100a 100a 98a 64.4b 0.8
O. gratissimum 98.6a 96.7a 91.7a 88.7b 68c 21.7d 0e 73.5
Caracteres minúsculos diferentes representam diferenças significativas na mortalidade entre as concentrações dos óleos.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
174 175
O óleo essencial de O. micranthum com CL50 de 0,8 µg.mL–1 e coeficiente de correlação 0,6470, e o óleo essencial O. gratissimum apresentou CL50 de 73,5 µg.mL–1 e coeficiente de correlação 0,7369.
Atividade antimicrobiana
As Tabela 4 e 5 referem-se aos resultados de medição do halo de inibição dos óleos essenciais de espécies da família Lamiceae (expressos em mm) contra cepas das bacté-rias S. aureus e E. coli.
Tabela 4. Resultados de medição dos halos de inibição dos óleos essenciais de espécies da família Lamiaceae contra cepas de S. aureus.
Halos de inibições (mm)
Espécies 100 µg.mL–1 50 µg.mL–1 10 µg.mL–1 1 µg.mL–1
O. micranthum NA NA NA NA
O. gratissimum 10±0.0 8.8±1.2 7.3±0.6 NA
NA=não apresentou halo de inibição.
Tabela 5. Resultados de medição dos halos de inibição dos óleos essenciais de espécies da família Lamiaceae contra cepas de E. coli.
Halos de inibições (mm)
Espécies 100 µg.mL–1 50 µg.mL–1 10 µg.mL–1 1 µg.mL–1
O. micranthum 9,6±0,6 9±1,0 6,5±0,5 NA
O. gratissimum 7,6±1,15 7,3±0,6 8±1 9,3±1,5
NA = não apresentou halo de inibição.
O óleo essencial da espécie O. micranthum não apresentou sensibilidade a bacté-ria S. aureus porém expressiva sensibilidade a E. coli com halo de inibição (9,6±0,6mm) na concentração de 100 µg.mL–1. O óleo essencial de O. gratissimum apresentou inibição para ambas bactérias testadas, na concentração de 100 µg.mL–1 com 10±0,0 mm para S. aureus e 1 µg.mL–1 com 9,3±1,5 mm para E. coli, respectivamente.
Atividade larvicida
A Tabela 6 refere-se às leituras de mortalidade média realizada no de período 48 h, da atividade larvicida dos óleos essenciais de espécies da família Lamiaceae. Os resultados são significativos e expressos em porcentagem de mortalidade (%).
Tabela 6. Resultados da Atividade larvicida do óleo essencial da espécie da família Lamiaceae frente às larvas do mosquito A. aegypti.
MORTALIDADE (%)
Concentração (ppm)
Espécies 500 400 300 200 130 CL50
O. micranthum 100a 95,5a 93a 59b 7c 196,5
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
176
MORTALIDADE (%)
Concentração (ppm)
O. gratissimum 100a 100a 100a 98,3a 70,9b 76,6
Caracteres minúsculos diferentes representam diferenças significativas na mortalidade entre as concentrações dos óleos.
A espécie O. micranthum apresentou CL50 de 196,5, significativo p(valor) <0,01 e coefi-ciente d determinação (R2) de 0,7553. O óleo essencial da espécie O. gratissimum apresentou CL50 de 76,6 ppm, p(valor) significativo de 0,013 e coeficiente de determinação (R2) de 0,8013.
DISCUSSÃO
Análise cromatográfica
Os compostos identificados na espécie O. micranthum foram o Carvacrol (0,90%), δ-Elemeno (0,09%), Eugenol (0,65%), β-Elemeno (3,05%), (Z)-Cariofileno (5,77%), (E)-Cariofileno (1,04%), Naftaleno (0,80%), γ-Elemeno (2,56%), γ -Asarone (79,75%) e da es-pécie O. gratissimum foram o α-Pineno (0,50%); α-Felandreno (2,02%); Sabineno (0,46%); β-pineno (0,20%); β-Mirceno (2,0%); Cis-β-Ocimeno (0,10%); Terpinoleno (0,60%); β-Cimeno (29,40%), γ-Terpineno (8,73%), Terpinenol (1,10%), Terpinen-4-ol (1,17%), Timol (33,43%), Carvacrol (3,07%) e Oxido cariofileno (1,90%). Apenas três compostos são comuns em am-bos os óleos essências sendo eles o Carvacrol (0,90-3,07%), (Z)Cariofileno (5,77-1,10%) e Naftaleno (0,80-2,36%).
Os óleos essenciais das espécies O. micranthum e O. gratissimum contém compostos majoritários com propriedades de interesse biológico como 12 Timol e 21 Asarone repre-sentados na Figura 1.
Figura 1. Compostos presentes no óleo essencial de O. micranthum e O. gratissimum.
OH
O
O
O
12 21
Alguns autores afirmam que o Timol (12) tem atividade antifúngica (BASER, 2008), antimicrobiana (RAO et al., 2010; AHMAD et al., 2011), antitumoral (JAAFARI et al., 2007), antimutagênica (YIN et al., 2012), analgésico, antiespasmódico (TEÓFILO, 2012), anti-infla-matório (BOMFIM, 2013; RODRIGUES et al., 2015), antiparasitários (SOBRAL-SOUZA et al.,
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
176 177
2014), anti-plaquetário e atividades hepatoprotetores. Outros relatam que o Asarone (21) têm atividade analgésica (ROSSI et al., 2007), anti-inflamatória, antifúngica (TAVARES et al., 2008), antimalárica (PINO et al., 1996) e atividade tripanocida in vitro (GARCEZ et al., 2009).
Atividade antioxidante
A atividade antioxidante (capacidade ou potencial antioxidante) é um parâmetro utili-zado para caracterizar diferentes materiais biológicos. Esta atividade está relacionada com compostos capazes de proteger um sistema biológico contra os efeitos danosos de proces-sos ou reações que causam oxidação excessiva, envolvendo espécies reativas de oxigênio (FERRONATTO et al., 2006).
A grande maioria dos compostos com propriedade antioxidante possui uma estrutura molecular com pelo menos um anel aromático e um grupo hidroxila, incluindo os fenóis, flavonoides, isoflavonas, ésteres, ligninas, cumarinas, flavonas e protoantocianidinas oligo-méricas. Em misturas esses compostos produzem um arranjo de antioxidantes que podem agir por diferentes mecanismos para conferir um sistema de defesa efetivo contra os radicais livres (RAVELLI, 2011). De acordo com Andrade et al. (2012), os fenóis compõem a classe de compostos mais ativas em atividade antioxidante, seguida dos álcoois que são a segunda classe de monoterpenos oxigenados.
A espécie O. micranthum apresentou resultados de %AA na concentração de 5 mg/mL de 21,4±1,4, considerado baixo com valores estatísticos significativos com p (valor) de 0,0358. O teste de regressão linear feito para cálculo de Concentração de Inibição de 50% (CI50) apresentou valor de 29,78 mg/mL e coeficiente de correlação (R2) de 0,8998.
Na pesquisa de Sacchetti et al. (2004) do óleo essencial de O. micranthum sobre a atividade antioxidante em comparação ao óleo essencial comercial, o óleo extraído apre-sentou boa capacidade antioxidante com valor de 76,61±0,33% do radical, com valores mais elevados do que os relatados para óleos da espécie na literatura. A expressiva ativi-dade antioxidante é associada à presença do composto majoritário Eugenol (46,55±5,11%), conforme pesquisa.
O estudo da composição química do óleo essencial de O. gratissimum segundo dados da literatura atribuem atividade antioxidante ao composto Eugenol (MIRANDA, 2010). No en-tanto, diversos fatores influenciam no quimiotipo da espécie, e nesta pesquisa o constituinte majoritário foi Timol (33,43%), evidenciando a baixa atividade oxidante em 5 mg/mL com (%AA) de 16,2±2,7. A regressão linear realizada para cálculo de CI50 apresentou valor de 31,74 mg/mL e coeficiente de correlação (R2) de 0,8857.
Em estudo realizado por Miranda (2010) no óleo essencial das folhas frescas e secas de O. gratissimum apresentou expressiva atividade antioxidante nas maiores concentrações
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
178
testadas com valores médios de 92,2% para o padrão de Eugenol, 89,1% para o óleo es-sencial das folhas frescas e 85,7% nas folhas secas, onde possivelmente atribui-se esses valores a presença do Eugenol 77,97% e 70,97%, respectivamente. A estrutura fenólica do Eugenol permite a doação de um hidrogênio radicalar para o radical DPPH, reduzindo-o.
Teste de toxicidade
Os óleos essenciais mostram-se como bons agentes bioativos, pois conforme Meyer et al. (1982), Nascimento et al. (2008), Rebelo et al. (2009) e Ramos et al. (2014) óleos e extratos de plantas que apresentam valores de concentração letais abaixo de 1000 µg.mL–1 são considerados como bioativos. Especificadamente, Nguta et al. (2011) classificou os extratos vegetais, em graus de toxicidade contra larvas de A. salina, conforme intervalo, no qual são considerados com valores de CL50 menores que 100 μg.mL–1 apresentam alta toxicidade, CL50 entre 100 e 500 μg.mL–1 toxicidade moderada, CL50 entre de 500 e 1000 μg.mL–1 fraca toxicidade e CL50 acima de 1000 μg.mL–1 são considerados atóxicos.
O óleo essencial de O. micranthum com CL50 de 0,8 µg.mL–1 e coeficiente de correlação 0,6470, confirma sua bioatividade de alta toxicidade frente A. salina. Dessa forma, surge uma grande preocupação com a utilização dessa espécie por comunidades tradicionais para fins condimentares, no entanto, não existem relatos sobre a toxicidade da espécie para humanos.
Em seu estudo Pinho (2010) avaliou as propriedades farmacológicas do óleo essen-cial de O. micranthum e seu principal constituinte, o Cinamato de metila, em vias aéreas de ratos Wistar, e foi evidenciado que tanto o óleo essencial quanto o Cinamato de metila não interferem no tônus basal de traqueias de ratos, porém é capaz de reverter e bloquear a resposta contrátil induzida por Cloreto de potássio e Carbacol, resultados estes comprovam que o óleo essencial não provocou efeitos adversos no tônus basal dos ratos.
O óleo essencial de O. gratissimum apresentou CL50 de 73,5 µg.mL–1 e coeficiente de correlação 0,7369, indicando alta toxicidade frente A. salina. A toxicidade observada, desaconselha o uso interno de monopreparados à base das inflorescências desta planta. Segundo Kpoviessi et al. (2012), no estudo da atividade citotóxica foi observado que o óleo essencial de O. gratissimum, mostrou toxicidade contra as larvas de A. salina, com os valores de CL50 nos intervalo de 43-146 µg.mL–1 para os diferentes dias de coleta e estágio vegetati-vo. Os resultados encontrados nesta pesquisa enquadram-se nos intervalos de CL50 descrito por diversos autores e mostra o grande potencial da espécie coletada na região amazônica.
Nos estudos de Silva et al. (2010) na avaliação preliminar da atividade citotóxica do óleo essencial de O. gratissimum coletado no Rio Grande do Sul, os resultados, tanto para o óleo essencial das inflorescências [CL50 233,8 (200,7-272) μg.mL–1] quanto para o Eugenol [CL50 186,1 (144,1-228,5) μg.mL–1] apresentaram toxicidade sem diferenças estatísticas entre si.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
178 179
Atividade antimicrobiana
Os produtos naturais têm se tornando uma excelente alternativa terapêutica, as pes-quisas por compostos vegetais que tenham alguma propriedade medicamentosa têm se intensificado consideravelmente nos últimos anos. Isso tem despertado novos olhares para região amazônica, pois sua flora é estimada em mais de 55 mil espécies e menos de 1% foi estudada cientificamente (NADER, 2010; HAIDA et al., 2007).
As bactérias gram-positivas protegem sua membrana citoplasmática com uma parede celular espessa. As muitas camadas de peptidoglicano impedem a passagem de compostos hidrofóbicos, devido à presença de açúcares e aminoácidos. A membrana externa apresenta características lipoproteicas e por esse motivo as bactérias necessitam dispor de um me-canismo que permitam a entrada de compostos hidrofílicos como açúcares, aminoácidos e certos íons. Por isso a membrana externa possui canais especiais chamadas de porinas, que permitem a difusão passiva de compostos hidrofílicos. O mecanismo pelo qual a maioria desses óleos exerce seu efeito antimicrobiano é agindo diretamente na estrutura da parede celular bacteriana, desnaturando e coagulando as proteínas. Mais especificamente, atuam al-terando a permeabilidade da membrana citoplasmática por íons de hidrogênio (H+) e potássio (K+). A alteração dos gradientes de íons conduz à deterioração dos processos essenciais da célula como transporte de elétrons, translocação de proteínas, etapas da fosforilação e outras reações dependentes de enzimas resultando em perda do controle quimiosmótico da célula afetada e consequentemente a morte bacteriana (DORMAN; DEANS, 2000; PRETTO, 2005).
O óleo essencial de O. micranthum não apresentou sensibilidade a bactéria S. aureus nas concentrações testadas, no entanto, pode-se observa expressiva sensibilidade a E. coli com maior halo de inibição (9,6±0,6mm) na concentração de 100 µg.mL–1. Estes resultados, de certa forma, contrariam alguns trabalhos relatados na literatura, pois estes afirmam que as bactérias gram-positivas são mais suscetíveis a ação dos óleos essenciais do que as bactérias gram-negativas.
Desse modo, Machado et al. (2012) avaliaram a atividade antimicrobiana da espécie contra as cepas de S. aureus e E. coli e observaram que houve expressivo halo de inibição do óleo essencial das folhas de 15,5±0,7 e 12,5±2,1mm, respectivamente.
Vieira (2009) avaliou o efeito antifúngico do óleo essencial da espécie contra cepas de Candida spp. Berkhout, (1923) e Microsporum canis E.Bodin ex Guég. (1902), o óleo essencial de O. micranthum foi eficaz contra todas as cepas testadas. Observou-se que a MIC de O. micranthum variou de 312,5 a 1250 µg.mL–1 e o CFM variou 625-1250 µg.mL–1 para as espécies de Candida.
O óleo essencial de O. gratissimum apresentou halo de inibição para as duas bactérias testadas, na concentração de 100 µg.mL–1 com 10±0,0 mm para S. aureus e 1 µg.mL–1 com
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
180
9,3±1,5mm para E. coli, respectivamente. A expressiva atividade antibacteriana é prova-velmente devido à presença de Carvacrol, embora não se deve descartar a possibilidade de sinergismo entre os demais componentes do óleo essencial, mesmo que presentes em menores concentrações.
No estudo realizado por Almeida et al. (2013) na avaliação do potencial antimicrobiano do óleo essencial de O. gratissimum e cravo-da-índia em carne moída de ovinos contami-nadas experimentalmente com S. aureus, os óleos essenciais analisados apresentaram atividade antimicrobiana na matriz alimentar utilizada, entretanto, apenas o óleo essencial do cravo-da-índia apresentou maior efeito inibitório no tempo de 60 minutos em relação aos demais tratamentos (p≤0,001). Dessa forma, compara-se o baixo efeito antimicrobiano ao relatado na literatura.
Em comparação a ação antimicrobiana dos extratos metanólicos e hexânicos de O. gra-tissimum, estes apresentaram grande potencial contra as bactérias S. aureus e E. coli com expressivas concentrações mínimas inibitórias, resultados estes devido a presença de com-postos com reconhecida atividade antibacteriana e com características polares, por exemplo, como taninos, flavonóis e terpenos, extraídos principal mente por solventes polares como o Metanol (MATIAS et al., 2010).
Atividade larvicida
Diversos estudos comprovam a atividade de óleos essenciais e de extratos vegetais contra diferentes espécies de mosquitos (FURTADO et al., 2005; PORTO et al., 2008; ACIOLE, 2009) incluindo A. aegypti (SOUZA, 2010; AGUIAR, 2011). O estudo do potencial larvicida, inseticida e repelente dos óleos essenciais surge como tecnologia alternativa aos produtos sintéticos para controle do vetor, visto que até o momento não existe vacina pronta para uso contra os quatro sorotipos da dengue. Consideram-se bons agentes com potencial larvicida óleos essenciais ou extratos vegetais com valores de CL50<100 ppm.
Pesquisas para o controle do vetor tem mostrado a eficiência do efeito larvicida de óleos essenciais, na qual identificaram na composição química destes em geral monoterpenos, assim como, alguns Sesquiterpenos, os quais servem como agentes repelentes que tem significante toxicidade contra insetos, mas toxicidade negligenciável para mamíferos. Misturas destes compostos voláteis de baixo peso molecular, denominados óleos essenciais, são os compostos que fornecem às plantas, como hortelã pimenta, limão, basílico, e sálvia seus característicos odores, e são comercialmente importantes na aromatização de alimentos e na produção de perfumes (AGUIAR, 2009; SOUZA, 2010).
A espécie O. micranthum não apresentou atividade larvicida ideal, pois o valor de CL50 foi de 196,5, significativo p(valor) <0,01 e coeficiente de determinação (R2) de 0,7553. O gênero
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
180 181
Ocimum é conhecido por suas propriedades pesticidas, devido à presença diversos compos-tos em seus óleos essenciais. Segundo a levantamento bibliográfico realizado por Pandey et al. (2014) a espécie em sua composição química tem como composto majoritário o Eugenol (64,80%) e o β-Cariofileno (14,30%) com relatada atividade larvicida, repelente e insetici-da. No entanto, neste estudo a espécie teve baixo potencial larvicida em virtude da baixa ocorrência do Eugenol.
O óleo essencial da espécie O. gratissimum apresentou significativo potencial larvicida com CL50 de 76,6 ppm, p(valor) significativo de 0,013 e coeficiente de determinação (R2) de 0,8013. Cavalcanti et al. (2011) avaliando o potencial larvicida do óleo essencial de plantas brasileiras, determinaram ação larvicida do O. gratissimum contra A. aegypti com valores de CL50 de 60 ppm, considerado com potencial ação larvicida.
Silva et al. (2014) buscaram avaliar o potencial larvicida em larvas de libélulas que são pragas graves que predavam larvas de peixes, pós-larvas, alevinos em tanques, que causam perdas significativos na produção de tanques. Os resultados considerados altamente potente dos óleos das espécies Hesperozygis ringens (Bentham) Epling (1936), Ocimum gratissi-mum L. (1753) e Lippia sidoides Cham. (1832), com CL50 de 62,92; 75,05 e 51,65 µL.L–1. Resultados estes que corroboram com o uso potencial da espécie para atividade larvicida e repelente em trabalhos futuros para elucidação de mecanismo de ação biológica.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estudos das propriedades químicas e biológicas realizadas nessa pesquisa pude-ram evidenciar o potencial das espécies, no qual os óleos essenciais se mostraram eficazes para a atividade antioxidante, controle bacteriano e larvicida. A composição química variada dos compostos presentes nos óleos essenciais dessas espécies é o principal fator relevante associado a atividades biológicas, diversas pesquisas direcionam e fundamentam para ação biológica isolada ou em conjunto (sinergismo) dos compostos majoritários.
A grande variabilidade na composição química dos óleos essenciais possivelmente deve-se às suas diferentes procedências e condições edafoclimáticas, pois o conteúdo final de metabólitos secundários é influenciado por diversos fatores, como o local e o horário de coleta, processos de estabilização e condições de estocagem, sazonalidade e entre outros.
AGRADECIMENTOS
Agradecimento ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão de bolsas. Ao curso de Farmácia, da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) para com o Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, coordenado pela Dra.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
182
Sheylla Susan Moreira. Ao Laboratório de Arthropoda da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) sob a orientação do Prof. Dr. Raimundo Nonato Picanço Souto pelo auxilio no ensaio larvicida. Ao Laboratório de Microbiologia da Faculdade Estácio SEAMA pelo ensaio microbiológico. A Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, sob a orientação do pro-fessor Dr. João Batista Fernandes pelo auxilio na análise cromatográfica. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
FINANCIAMENTO
Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC), bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET). Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
REFERÊNCIAS
1. ACIOLE, S. D. G. Avaliação da atividade inseticida dos óleos essenciais das Plantas Amazônicas Annonaceae, Boraginaceae e de Mata Atlântica Myrtaceae como aternativa de controle às larvas de Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) (Diptera: Culicidae). 2009. 86p. Dissertação - (Mestrado em Biologia Humana e Ambiente). Universidade de Lisboa, 2009.
2. ADAMS, R. P. Identification of essential oil components by gas chromatography/quadru-pole mass spectroscopy. 4. ed. Illinois: Allured Publishing Corporation, 2012.
3. AGUIAR, D. L. A utilização dos óleos essências como tecnologia alternativa aos inse-ticidas sintéticos para o controle do Aedes aegypti (Diptera: Culicidae). 2011. 57p. Dis-sertação- (Mestrado em Ciências e Tecnologia Ambiental. Universidade Estadual da Paraíba, Campo Grande, 2011.
4. AHMAD, A. et al. Fungicidal activity of thymol and carvacrol by disrupting ergosterol biosyn-thesis and membrane integrity against Candida. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, v. 30, s/n, p. 41-50, 2011.
5. ANDRADE, M. A. et al. Óleos essenciais de Cymbopogon nardus, Cinnamomum zeylanicum e Zingiber officinale: composição, atividades antioxidante e Antibacteriana. Revista Ciência Agronômica, v. 43, n. 2, p. 399-408, 2012.
6. ALMEIDA, A. C. Potencial antimicrobiano dos óleos essenciais de cravo-da-índia (Syzygium aromaticum L.) e alfavacão (Ocimum gratissimum L.) em carne moída de ovinos contaminada experimentalmente com Staphylococcus aureus. Revista Brasileira de Ciências Veterinária, v. 20, n. 4, p. 248-251, 2013.
7. ARAÚJO, M. G. F. et al. Estudo fitoquímico preliminar e bioensaio toxicológico frente a larvas de Artemia salina Leach. de extrato obtido de frutos de Solanum lycocarpum A. St.-Hill (Solana-ceae). Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, v. 31, n. 2, p. 205-209, 2010.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
182 183
8. BASER, K. H. Biological and pharmacological activities of carvacrol and carvacrol bearing essential oils. Current Pharmaceutical Designs, v. 14, n. 29, p. 3106-3119, 2008.
9. BRASIL. Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira. 5ª ed. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2010.
10. BOEKHOUT, T. Schimmelnagel. Monilia, v. 2, s/n, p. 987-1278, 1923.
11. BOMFIM, R. R. Efeito antioxidante, anti-inflamatório, antinociceptivo do isoprópoxi-carva-crol em roedores. 2013, 66p. Dissertação (Mestrado em Ciências Fisiológicas)- Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão, 2013.
12. CAVALCANTI, Y. W.; ALMEIDA, L. F. D.; PADILHA, W. W. N. Anti-adherent activity of Rosma-rinus officinalis essential oil on Candida albicans: an SEM analysis. Revista Odonto Ciência., v. 26, n. 2, p. 139-144, 2011.
13. CASTELLANI A; CHALMERS A. J. Manual of Tropical Medicine, 3ª ed. 1919.
14. CHAMISSO, L. K. A. Linnaea; Ein Journal für die Botanik in ihrem ganzen Umfange. v. 7, n. 2, p. 224, 1832.
15. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Reference method for broth dilution antifungal susceptibility testing of yeasts. Approved Standard-Third Edition. M27-A3. Wayne, PA: CLSI; 2009.
16. COSTA, J. G. M. et al. Estudo químico-biológico dos óleos essenciais de Hyptis martiusii, Lippia sidoides e Syzigium aromaticum frente às larvas do Aedes aegypti. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 15, n. 4, p. 304-309, 2005.
17. DEL RÉ, P.V.; JORGE, N. Antioxidant potential of oregano (Oreganum vulgare L.), basil (Oci-mum basilicum L.) and thyme (Thymus vulgaris L.): application of oleoresins in vegetable oil. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 31, n. 4, p. 955-959, 2011.
18. DORMAN, H.J.D.; DEANS, S.G. Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oil. Journal of Applied Microbiology. v. 83, s/n, p.308-316, 2000.
19. EPLING, C. C. Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis. Centralblatt für Sammlung und Veroffentlichung von Einzeldiagnosen neuer Pflanzen, v. 85, s/n, p.134, 1936.
20. FERRONATTO, R. et al. Atividade antioxidante dos óleos essenciais produzidos por Baccharis dracunculifolia d.c. e Baccharis uncinella D.C. (Asteraceae). Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR, v.10, n.2, p. 224-230, 2006.
21. FURTADO, R. F. et al. Atividade Larvicida de Óleos Essenciais Contra Aedes aegypti L. (Dip-tera: Culicidae). Neotropical Entomology, v. 34, n. 5, p.843-847, 2005.
22. GÜLÇIN, I. et al. Determination of antioxidant and radical scavenging activity of basil (Ocimum basilicum L.) assayed by different methodologies. Phytotherapy Research, v. 21, n. 4, p.354-61, 2007.
23. GARCIA, C. S.; UEDA, S. M. Y.; MIMICA, L. M. J. Avaliação da atividade antibacteriana in vitro de extratos hidroetanólicos de plantas sobre Staphylococcus aureus MRSA e MSSA. Revista Instituto Adolfo Lutz, v. 70, n. 4, p. 589-98, 2011.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
184
24. GARCEZ, F. R et al. Fenilpropanóides e outros constituintes bioativos de Nectandra megapo-tamica. Química Nova, v. 32, n. 2, p. 407-411, 2009.
25. GEDOELET, L. Les champignons parasites de l’homme et des animaux domestiques. p. 137, 1902.
26. HAIDA, K. S. et al. Avaliação in vitro da atividade antimicrobiana de oito espécies de plantas medicinais. Arquivos Ciências Saúde Unipar, v.11, n.3, p.185-192. 2007.
27. HAOUI, I. E. et al. Analysis of the chemical composition of essential oil from Algerian Inula viscosa (L.) Aiton. Arabian Journal of Chemistry, v. 8, s/n, p. 587–590, 2015.
28. JAAFARI, A. et al. Chemical composition and antitumor activity of different wild varieties of Moroccan thyme. Revista Brasileira de Farmacognosia, v.17, n. 4, p. 477-491, 2007.
29. KPOVIESSI, B. G. K. et al. Chemical Variation of Essential Oil Constituents of Ocimum gra-tissimum L. from Benin, and Impact on Antimicrobial Properties and Toxicity against Artemia salina Leach. Chemistry & Biodiversity, v. 9, n. 1, p. 139-150, 2012.
30. KRUPPA, P. C; RUSSOMANNO, O. M. R. Ocorrência de fungos em sementes de plantas medicinais, aromáticas e condimentares da família Lamiaceae. Tropical Plant Pathology, v. 33, n. 1, p. 072-075, 2008.
31. LINNAEUS, C. Species Plantarum, v. 2, s/n, p. 1197, 1753.
32. LINNAEUS, C. Species Plantarum, v. 2, s/n, p. 597, 1753.
33. LÔBO, K.M.S. et al. Avaliação da atividade antibacteriana e prospecção fitoquímica de So-lanum paniculatum Lam. e Operculina hamiltonii (G. Don) D. F. Austin & Staples, do semiárido paraibano. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v.12, n.2, p.227-233, 2010.
34. LOPES-LUTZ , D. et al. Screening of chemical composition, antimicrobial and antioxidant ac-tivities of Artemisiaessential oil. Phytochemistry, v. 69, s/n, p. 1732-1738, 2008.
35. LORENZI, H. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. 2ª ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2008.
36. MACHADO, T. F.; PEREIRA, R. C. A.; BATISTA, V. C. V. Seasonal variability of the antimi-crobial activity of the essential oil of Lippia alba. Revista Ciência Agronômica, v. 45, n. 3, p. 515-519, 2014.
37. MADEIRA, S. V. F. et al. Relaxant effects of the essential oil of Ocimum gratissimum Linn. on isolated ileum of the guinea pig. Journal of Ethnopharmacology, v. 81, s/n, p. 1-4, 2002.
38. MATIAS, E. F. F. et al. Atividade antibacteriana In vitro de Croton campestris A.,Ocimum gra-tissimum L. e Cordia verbenacea DC. Revista Brasileira de Biociências, v. 8, s/n, p. 294-298, 2010.
39. MENDES L. P. M. et al. Atividade antimicrobiana de extratos etanólicos de Peperomia pellucida e Portulaca pilosa. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada., v. 32, n. 1, p. 121-125, 2011.
40. MEYER, B. N. et al. Brine shrimp: a convenient general bioassay for active plant constituents. Journal of Medicinal Plants Research. v. 45, n.1, p. 31-34, 1982.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
184 185
41. MIRANDA, C. A. S. F. Atividade antioxidante óleos essenciais de diversas plantas. 2010. 153f. Dissertação. Universidade Federal de Lavras-Programa de Pós-graduação em Acroquí-mica, 2010.
42. NADER, T. T. Potencial de atividade antimicrobiana in vitro de extratos vegetais do cer-rado frente estirpes de Staphylococcus aureus. 2010. 68f. Dissertação (Mestrado). Uni-versidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências agrárias e Veterinárias, São Paulo, 2010.
43. NAKAMURA, C. V. e consequentemente haverá In vitro activity of essential oil from Ocimum gratissimum L. against four Candida species. Revista de Microbiologia, v. 155, n. 7, p. 579-586, 2004.
44. NASCIMENTO, J. E. e consequentemente haverá Estudo fitoquímico e bioensaio toxicológico frente a larvas de Artemia salina Leach. de três espécies medicinais do gênero Phyllanthus (Phyllanthaceae). Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada. v. 29, n.2, p. 145-150, 2008.
45. NGUTA, J. M. e consequentemente haverá Biological screeig of keya medicial plats usig Artemia salina L. (ARTEMIIDAE). Pharmacology online, v. 2, s/n, p. 458-478, 2011.
46. PANDEY, A. K.; SINGH, P.; TRIPATHI, K. N. Chemistry and bioactivities of essential oils of some Ocimum species: an overview. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, v. 4, n. 9, p. 682–694, 2014.
47. PEREIRA, C. A. M; MAIA, J. F. Estudo da atividade antioxidante do extrato e do óleo essencial obtidos das folhas de alfavaca (Ocimum gratissimum L.). Ciência Tecnologia de Alimentos, v. 27, n. 3, p. 624-632, 2007.
48. PINHO, J. P. M. Estudos das propriedades antiespasmódicas e miorrelaxantes do óleo essencial de Ocimum micrathum em traqueias isoladas de ratos wistar. 2010. 89p. Dis-sertação (mestrado) – Departamento de Fisiologia e Farmacologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2010.
49. PINO, J. A. e consequentemente haverá Chemical Composition of the Essential Oil of Artemisia dracunculus L. from Cuba. Journal of Essential Oil Research, v. 8, n. 5, p. 563-564, 1996.
50. PITARO, S.P.; FIORANI, L.V.; JORGE, N. Potencial antioxidante dos extratos de manjericão (Ocimum basilicum Lamiaceae) e orégano (Origanum vulgare Lamiaceae) em óleo de soja. Revista Brasileira de Plantas Medicinais., v. 14, n. 4, p.686-691, 2012.
51. PORTO, K. R. A. e consequentemente haverá Atividade larvicida do óleo de Anacardium humile Saint Hill sobre Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) (Diptera, Culicidae). Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 41, n. 6, p. 586-589, 2008.
52. PRETTO, J. B. Potencial Antimicrobiano de Extratos, Frações e Compostos Puros Obtidos de Algumas Plantas da Flora Catarinense. 2005. p. 85. Dissertação (Mestrado). Universidade Vale do Itajaí, Santa Catarina, 2005.
53. RAMOS, R. S. Estudo Fitoquímico e Atividade Microbiológica, de Citotoxicidade e Lar-vicida dos Óleos Essenciais de Espécies da Família Lamiaceae (Lamiales). 2014, 85 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas)- Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2014.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
186
54. RAMOS, R. S.; RODRIGUES, A. B. L.; ALMEIDA, S; S; M; S. Preliminary Study of the Extract of the Barks of Licania macrophylla Benth: Phytochemicals and Toxicological Aspects. Biota Amazônia, v. 4, n. 1, p. 94-99, 2014.
55. RAO, A. e consequentemente haverá Mechanism of antifungal activity of terpenoid phenols resembles calcium stress and inhibition of the TOR pathway. Antimicrob. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 54, s/n, p. 5062–5069, 2010.
56. RAVELLI, D. Estabilidade oxidativa de óleo de soja adicionado de extratos de speciarias: correlação entre parâmetros físico-químicos e avaliação sensorial. 2011. 114f. Dissertação. Universidade de São Paulo-Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. 2011.
57. REBELO, M. M. et. al. Antioxidant capacity and biological activity of essential oil and methanol extract of Hyptis crenata Pohl ex Benth. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 19, n.1, p. 230-235, 2009.
58. RODRIGUES, E. Plants and animals utilized as medicines in the Jaú National Park (JNP), Brazilian Amazon. Phytotherapy Research, v. 20, s/n., p. 378–391, 2006.
59. RODRIGUES, V. e consequentemente haverá Chemical composition, anti-inflammatory acti-vity and cytotoxicity of Thymus zygis L. subsp. sylvestris (Hoffmanns. & Link) Cout. essential oil and its main compounds. Arabian Journal of Chemistry, v.12, n. 8, p. 3236-3246, 2015.
60. ROSAS, J. F. e consequentemente haverá Comparação dos voláteis das folhas de Ocimum micranthum Willd. Obtidos por hidrodestilação e destilação-extração simultânea. Revista Bra-sileira de Plantas Medicinais, v. 17, n. 1, p. 26-29, 2004.
61. ROSENBACH. International Journal of Systematic Bacteriology, v. 30, s/n, p. 365, 1884.
62. ROSSI, P. G. e consequentemente haverá (E)-Methylisoeugenol and Elemicin: Antibacterial Components of Daucus carota L. Essential Oil against Campylobacter jejuni. Journal of Agri-cultural and Food Chemistry, v. 55, n. 18, p. 7332–7336, 2007.
63. SACCHETTI, G. e consequentemente haverá Composition and functional properties of the essential oil of Amazonian Brasil, Ocimum micranthum Willd., Labiatae in omparison with commercial essential oils. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 52, n. 11, p. 3486-3491, 2004.
64. SILVA, D. T. e consequentemente haverá Larvicidal Activity of Brazilian Plant Essential Oils Against Coenagrionidae Larvae. Journal of Economic Entomology, v. 107, n. 4, p. 1713-1720, 2014.
65. SILVA, L. L. e consequentemente haverá Composição química, atividade antibacteriana in vitro e toxicidade em Artemia salina do óleo essencial das inflorescências de Ocimum gratissimum L., Lamiaceae. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 20, n. 5, p. 700-705, 2010.
66. SOBRAL-SOUZA, C. E. e consequentemente haverá Avaliação da atividade citotóxica e po-tencial antiparasitário in vitro do a-pineno e carvacrol. Acta Toxicológica Argentina. v. 22, n. 2, p. 76-81, 2014.
67. SOUSA, T. M. e consequentemente haverá Avaliação da atividade antisséptica de extrato seco de Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville e de preparação cosmética contendo este extrato. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 17, n.1, p. 71-75, 2007.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
186 187
68. SOUZA, S. A. M. e consequentemente haverá Óleos essenciais: aspectos econômicos e sus-tentáveis. Enciclopédia Biosfera, v. 6, n. 10, p. 1-11, 2010.
69. TAVARES, A. C. e consequentemente haverá Essential oil of Daucus carota subsp. halophilus: Composition, antifungal activity and cytotoxicity. Journal of Ethnopharmacology, v. 119, n. 1, p. 129–134, 2008.
70. TEPE, B. e consequentemente haverá Antimicrobial and antioxidant activities of the essential oil and various extracts of Salvia tomentosa Miller (Lamiaceae). Food Chemistry, v. 90, n. 3, p. 333-340, 2005.
71. TEÓFILO, T. M. N. G. Efeito antiespasmódico do óleo essencial da Lippia sidoides Cham. e seus constituíntes, timol, para-cimeno e beta-cariofileno, sobre o músculo liso traqueal de ratos. 2012, 97 p. Dissertação (Mestrado em Ciências Fisiológicas)- Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2012.
72. VERMA, R. S. e consequentemente haverá Exploring compositional diversity in the essential oils of 34 Ocimum taxa from Indian flora. Industrial Crops and Products, v. 45, s/n., p. 7-19, 2013.
73. VIEIRA, P. R. R. Atividade antifúngica dos óleos essenciais de espécies de Ocimum frente a cepas de Candida spp. e Microsporum canis. 2009. 93f. Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias. Faculdade de Veterinária da Universidade Estadual do Ceará, 2009.
74. YIN, Q. H. e consequentemente haverá Anti-proliferative and pro-apoptotic effect of carvacrol on human hepatocellular carcinoma cell line HepG-2. Cytotechnology, v. 64, n.1, p. 43–51, 2012.
75. WILLDENOW, C. L. Enumeratio Plantarum Horti Regii Botanici Berolinensis: continens descriptiones omnium vegetabilium in horto dicto cultorum, v. 2, s/n, p. 630, 1809.
76. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, preven-tion and control. New edition, 2009. Geneva, (WHO/HTM/NTD/DEN/2009).
77. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Dengue haemorrhagic fever control programme in Singapore: a case study on the successful control of Aedes aegypti and Aedes albopic-tus using mainly environmental measures as a part of integrated vector control. Geneva: World Health Organization, 1986a.
78. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Dengue haemorrhagic fever: diagnosis, treatment and control, 2ª ed. Geneva: World Health Organization, 1986b.
79. WORLD HEALTH ORGANIZATION. 1984. Report to the Regional Director: dengue virus vaccine development peer review meeting, Bangkok, 1-5 August 1983.
14Metabólitos secundários da espécie Curatel la americana Linnaues (Dilleniaceae)
Larissa de Cássia Moreira CoutinhoUNIFAP
Patrick de Castro CantuáriaIEPA
Elizabeth Viana Moraes da CostaUNIFAP
Ana Luzia Ferreira FariasUEAP
José Policarpo Miranda JúniorAMBIEX
Líbio José Tapajós MotaGEA
Antônio Carlos Freitas SouzaIEPA
Pablo de Castro CantuáriaALAP
Juliana Eveline dos Santos FariasIFAP
Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaUNIFAP
10.37885/210303485
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
189
Palavras-chave: Análise Fitoquímica, Caimbé, Planta Medicinal.
RESUMO
O uso de plantas medicinais foi durante muito tempo o único recurso disponível para o cuidado da saúde das pessoas e estes conhecimentos foram transmitidos através das gerações familiares. Dessa forma a Curatella americana, é uma planta medicinal utiliza-da na medicina tradicional para o tratamento de artrite, diabetes, úlceras gástricas e no controle da pressão arterial, devido a suas propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, diuréticas e cicatrizantes. Objetivo: Identificar os principais metabólitos secundários da C. americana e correlacionar com o seu uso na medicina tradicional e na literatura. Métodos: Realizou-se extração por maceração utilizando etanol como líquido extrator e a concentração foi por rotaevaporador para a obtenção do extrato bruto da espé-cie. Os testes fitoquímicos foram realizados de acordo com a metodologia de Barbosa et al. (2004). Resultados: Foram identificados na espécie fenóis, taninos, açúcares redutores, saponinas, depsideos e depsidonas, esteroides, triterpenoides e alcaloides, os quais apresentam ampla atividade biológica. Considerações finais: A ação compro-vada na literatura dos metabólitos secundários encontrados nas folhas de C. americana, justifica, em parte, a utilização popular da planta medicinal. Portanto, são necessários estudos mais específicos com substâncias químicas isoladas de cada metabólito para verificar a ação e eficácia da espécie vegetal.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
190
INTRODUÇÃO
O modelo de saúde predominante na sociedade ocidental contemporânea está focado no cuidado da doença e no tratamento alopático (a base de medicamentos industrializa-dos). Porém, este modelo deixa marginalizado o conhecimento popular, repassado entre gerações familiares, com particularidades que ficam restritas a determinados grupos, que diferem entre si através de suas culturas. Neste contexto, as plantas medicinais são utili-zadas com a finalidade de prevenir e tratar doenças ou de aliviar os sintomas das mesmas (CEOLIN et al., 2011).
Durante muito tempo, o uso de plantas medicinais foi o principal recurso terapêutico para cuidar da saúde das pessoas e suas famílias. No entanto, com o avanço científico e tecnológico, os medicamentos industrializados foram gradativamente introduzidos no coti-diano das pessoas modernas (BADKE , 2011).
Apesar do uso de plantas medicinais para tratamento, cura e prevenção de deter-minadas doenças ser uma das práticas medicinais mais antigas e estar apoiada em um conhecimento consolidado por séculos de observação, planta medicinal não é sinônimo de inocuidade. Ao contrário do senso comum de que o medicamento natural não faz mal, a planta medicinal é um xenobiótico, ou seja, um produto estranho ao organismo com finali-dades terapêuticas, que ao ser introduzido no organismo humano sofre biotransformação e pode vir a gerar produtos tóxicos (OLIVEIRA; MACHADO; RODRIGUES, 2014).
No Brasil, mesmo com o incentivo da indústria farmacêutica para a utilização de medi-camentos industrializados, grande parte da população ainda se utiliza de recursos naturais no cuidado humano (BADKE et al., 2011). Em 2006, foi criada no Brasil uma Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS), sendo instituída pelo Ministério da Saúde por meio da portaria n° 971, de 03 de maio de 2006, que tem como objetivo ampliar as opções terapêuticas aos usuários do SUS a plantas medicinais (BRASIL, 2006).
Somando-se a isso, o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, ins-tituído em 2007, visa “garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional”. Com vistas a atingir o obje-tivo desse programa, dentre as proposições, destaca-se a de “Promover e reconhecer as práticas populares e tradicionais de uso de plantas medicinais, fitoterápicos e remédios caseiros” (BRASIL, 2007).
A Curatel la americana L., é uma planta medicinal que foi descri-ta em 1759 (LINNAUES,1759), pertencente à família Dilleniaceae e ao gênero Curatella L. (LOEFLING,1758), é conhecida popularmente como “lixeira” ou “caimbé”. É uma
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
190 191
planta nativa, porém não endêmica, distribuída desde o México Central até o Brasil e pos-sui uma ampla dispersão tropical, com frequência em savanas, florestas secas e cerrados (HIRUMA-LIMA et al., 2009). A C. americana é uma árvore ou arbusto tortuoso, perene lenhoso, medindo entre 6 e 10 metros de altura, e pode ser encontrado na Amazônia, na Caatinga, no Cerrado, na Mata Atlântica e no Pantanal (BARBOSA, 2011; FRAGA, 2013).
Amplamente utilizada na medicina popular em toda a sua variedade, sobretudo, como analgésico e anti-inflamatório, sendo suas porções mais utilizadas: a casca, entrecasca e folhas sob a forma de chás e infusões (HIRUMA-LIMA et al., 2009; TOLEDO et al., 2011). A in-fusão de suas folhas e talos é usada contra artrite, diabetes e pressão arterial elevada. Além das atividades já citadas, estudos anteriores têm descrito a atividade terapêutica da plan-ta com ação anti-hipertensiva e vasodilatadora (GUERRERO et al., 2002; HIRUMA-LIMA et al.,2009). Portanto, observa-se que a C. americana possui um interesse farmacológico e já é comumente utilizada na medicina tradicional.
OBJETIVO
Realizar uma análise fitoquímica para identificar os principais metabólitos secundários da C. americana e correlacionar com o seu uso na medicina tradicional e na literatura.
MÉTODOS
Coleta e classificação do material vegetal
As folhas (cerca de 400 g) da planta C. americana foram coletadas em área particular na cidade de Macapá onde havia abundância da espécie para que, se necessário, realizar novas coletas, diminuindo as variáveis edáficas. A identificação da espécie foi realizada por comparação com amostras autênticas.
O material vegetal coletado foi transportado até Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica da Universidade Federal do Amapá, onde os experimentos foram realizados.
Preparação do extrato bruto de C. americana
As folhas foram submetidas à secagem em estufa de ar circulante por 48 h para impe-dir proliferação de microrganismos e degradação por ação enzimática. Em seguida foram trituradas até a obtenção de 70 g de material. E 35 g do material triturado foi submetido à extração por maceração com 1,5 L de etanol.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
192
O extrato obtido foi concentrado por evaporação do solvente em um rotaevaporador para a obtenção de 12,90 g de extrato bruto das folhas que foram armazenados em ge-ladeira a 18±1 ºC.
Análise fitoquímica
Os testes fitoquímicas foram realizadas seguindo a metodologia de Barbosa et al. (2001), com reações de coloração e precipitação de análises qualitativas. Dentre os testes realizados estão os descritos a baixo:
Ácidos orgânicos:
Dissolveu-se cerca de 3 mg de extrato bruto etanólico em 5 mL de água destilada. Filtrou-se e transferiu-se para um tubo de ensaio e adicionou-se 9 gotas do reativo de Pascová A e 1 gota de reativo de Pascová B. A reação é considerada positiva se houver descoloração do reativo.
Fenóis e Taninos
Dissolveu-se 3 mg de extrato bruto etanólico em 5 mL de água destilada. Filtrou-se e transferiu-se para um tubo de ensaio adicionando 1 a 2 gotas de FeCl3 a 1 %. Qualquer mudança na coloração ou formação de precipitado é indicativo de reação positiva.
Polissacarídeos
Dissolveu-se cerca de 3 mg de extrato bruto etanólico em 5 mL de água destilada. Filtrou-se e transferiu-se para um tubo de ensaio, adicionando 2 gotas de lugol. O apareci-mento de coloração azul indica resultado positivo.
Açúcares redutores
Dissolveu-se 3 mg do extrato bruto etanólico em 5 mL de água destilada. Filtrou-se e transferiu-se para um tubo de ensaio, onde foram adicionados 2 mL do reativo de fehling A e 2 mL do reativo de fehling B. Em seguida, a amostra foi aquecida em banho-maria até ebu-lição durante 5 minutos. O aparecimento de um precipitado vermelho tijolo indica presença de açúcares redutores.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
192 193
Saponinas
Dissolveu-se 3 mg do extrato seco em 5 mL de água destilada. Em seguida, diluiu-se para 15 mL e agitou-se vigorosamente durante 2 minutos em tubo fechado. Quando a ca-mada de espuma permaneceu estável por mais de meia hora, o resultado foi considerado positivo para saponina espumídica.
Flavonoides
Dissolveu-se 3 mg do extrato bruto etanólico, em 5 mL de metanol. Em seguida o material foi filtrado e transferido para um tubo de ensaio, onde adicionou-se 8 gotas de HCl concentrado e raspas de magnésio. O surgimento de uma coloração rósea na solução indica reação positiva.
Esteroides e Triterpenoides
Dissolveu-se 3 mg do extrato bruto etanólico em 5 mL de Clorofórmio. Filtrou-se e transferiu-se o filtrado para um tubo de ensaio completamente seco. Foi adicionado 0,5 mL de anidrido acético ao filtrado e agitou-se suavemente. Em seguida, adicionou-se, cuidado-samente, 2 gotas de ácido sulfúrico concentrado. A mudança de coloração que vai do azul evanescente ao verde persistente indica resultado positivo.
Antraquinonas
Dissolve-se 3 mg do extrato bruto etanólico em 5 mL de tolueno. Filtrou-se e transferiu--se 2 mL de solução de hidróxio de amônio a 10 %, agitou-se suavemente. O aparecimento de coloração rósea, vermelha ou violeta na fase aquosa, indica reação positiva.
Cumarinas
Dissolveu-se 3 mg do extrato bruto etanólico em 5 mL de éter etílico. Concentrou-se em banho-maria até 0,5 mL. Em papel filtro, aplicou-se gotas da solução etérea, de modo a formar duas manchas de, aproximadamente,1 cm de diâmetro cada. A uma destas, apli-cou-se 1 gota de solução de hidróxido de sódio a 1 N. Cobriu-se a metade da mancha com papel escuro, e a outra metade foi exposta à luz ultravioleta. A fluorescência azul na parte exposta da mancha indica reação positiva.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
194
Depsídeos e Depsidonas
Dissolveu-se 3 mg do extrato seco em 5 mL de éter etílico. Filtrou-se e evaporou-se todo o éter em banho-maria, juntou-se ao resíduo 3 mL de metanol. Agitou-se e adicionou-se 3 gotas de solução de cloreto férrico a 1 %. O aparecimento de coloração verde, azul ou cinza, indica reação positiva.
Alcaloides
Dissolveu-se 3 mg do extrato bruto etanólico em 5 mL de solução de ácido clorídrico a 5 %, filtrou-se e separou-se três porções de 1 mL em tubos de ensaio. Adicionou-se, então, cerca de 3 gotas dos reativos de Bouchardat (precipitado laranja avermelhado), de Drangendorff (precipitado vermelho tijolo), de Mayer (precipitado branco).
Purinas
Numa cápsula de porcelana, juntou-se 3 mg do extrato bruto etanólico, 3 gotas de solução de ácido clorídrico 6 N e duas gotas de peróxido de hidrogênio concentrado (30 %). Evaporou-se a solução em banho-maria. Havendo formação de um resíduo corado verme-lho, juntou-se 3 gotas de solução de hidróxido de amônio 6 N. O surgimento de coloração violeta indica reação positiva.
Proteínas e Aminoácidos
Dissolveu-se 3 mg do extrato bruto etanólico em 3 mL de água destilada e filtrou-se. Adicionou-se 0,5 mL de solução aquosa de nihidrina a 1 %, aquecendo-se até a ebuli-ção. O aparecimento de coloração violeta persistente indica reação positiva.
RESULTADOS
Com a realização dos testes fitoquímicos foram identificadas no extrato bruto etanólico das folhas da espécie Curatella americana as seguintes classes de metabólitos secundá-rios: fenóis, taninos, açúcares redutores, saponinas, esteroides, triterpenoides, depsídeos e depsidonas e alcaloides. Na Tabela 1 são demonstrados os reagentes que foram utilizados na análise fitoquímica assim como o resultado (presença ou ausência do metabólito).
Tabela 1. Resultado dos testes fitoquímicos.
Metabólito secundário Reagente Resultado
Ácidos orgânicos Reativo de Pacová -
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
194 195
Metabólito secundário Reagente Resultado
Fenóis e Taninos FeCl3a 1 %. +
Polissacarídeos Lugol -
Açúcares redutores Reativo de Fehling +
Saponinas - +
Flavonoides Metanol, HCL -
Esteroides e Triterpenoides Clorofórmio, anidrido acético, ácido sulfúrico +
Antraquinonas Tolueno, hidróxio de amônio a 10% -
Cumarinas Éter etílico, hidróxido de sódio a 1N -
Depsídeos e Depsidonas Cloreto férrico a 1 %, metanol, éter etílico +
Alcaloides Ácido clorídrico, reativo de Bouchardat, reativo de Drangendorff, reativo de Mayer +
Purinas Ácido clorídrico 6 N, peróxido de hidrogênio, hidróxido de amônio 6 N -
Proteínas e Aminoácidos Nihidrina a 1 %, -
(-) Ausência; (+) Presença
Os metabólitos secundários que apresentaram resultados positivos nos testes, são os que influenciam na atividade biológica exercida pela planta, ou seja, são esses metabólitos que podem comprovar a eficácia dessa planta no seu uso terapêutico utilizado na população.
DISCUSSÃO
A C. americana é uma planta medicinal bastante utilizada na medicina tradicional, e dentre os usos populares da espécie estão os mencionados na pesquisa de Ustulin et al. (2009) para diabetes, antitussígeno, artrite, pressão arterial alta, bronquite e úlceras gástricas, além disso, também é utilizada como analgésico e anti-inflamatório. A presença de fenóis, taninos, saponinas e esteroides é comumente constata em plantas da família Dilleniaceae (RODRIGUES, 2013), e foram alguns dos metabólitos identificados nesta análise fitoquí-mica, e, portanto, podem estar corroborando com as possíveis atividades farmacológicas da C. americana para diversas enfermidades. No Quadro 1, estão presentes os metabólitos secundários que foram identificados na espécie juntamente com suas atividades biológicas já mencionadas na literatura.
Quadro 1. Atividades biológicas dos metabólitos secundários
Metabólito secundário Atividades biológicas Referência
TaninosAntibacteriana, antiparasitária, antioxidantes, ação na reparação tecidual e na regulação en-zimática
Castejon (2011)
Fenóis Antioxidante, antibacteriana, antiviral, analgé-sica. Carvalho, Gosmann e Schenkel (2010)
SaponinasAnti-inflamatória,, analgésica, antimicrobiana, antioxidante e capacidade de redução de co-lesterol
Santos, Simões e Silva (2011); Schenkel etal. (2007); Pinheiro (2016)
Esteroides e triterpenoides anti-inflamatória, analgésica e inseticida Tavares (2010)
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
196
Metabólito secundário Atividades biológicas Referência
Açúcares redutores Antioxidante Tavares (2010)
Alcaloides Antitumorais, anti-hipertensivos, diuréticos, an-titussígenos, entre outros Henriques et al. (2010)
Depsídeos e depsidonas analgésicas, antipiréticas, antimicrobianas, an-tioxidantes e antitumorais.
Macedo et al. (2007); Bauer et al. (2012);Ramos e Almeida (2014)
Dentre os metabólitos secundários identificados na espécie estão os taninos, que são bastante utilizados no tratamento de diarreias, hemorragias, cicatrização de feridas e pro-cessos inflamatórios, a maior parte dessas ações é devido a capacidade dos taninos de se complexar com íons metálicos e outras macromoléculas como proteínas e polissacarídeos (CASTEJON, 2011; COSTA, 2010). Em estudo de Cabral (2015) houve a aplicação de um gel cremoso que continha o extrato de C. americana em camundongos com feridas induzi-das, e a atividade cicatrizante da planta foi efetiva, o gel foi capaz de aumentar a migração celular, otimizar a cascata de cicatrização e potencializar a redução da ferida por segunda intenção, o que pode justificar a possível ação cicatrizante da espécie e o seu uso popular em processos inflamatórios e diabetes.
As saponinas são metabólitos secundários que apresentam a capacidade de redução de colesterol e no estudo realizado por Lopes e colaboradores (2016) houve uma redução na concentração sérica de colesterol e triglicerídeos em camundongos hiperlipidêmicos tratados com C. americana, em comparação com camundongos controle hiperlipidêmicos, efeito semelhante para os medicamentos de sinvastatina e ciprofibrato, usados para tratar a patologia. Além disso, a teobramina, pertencente a classe dos alcaloides, apresenta notável efeito diurético por aumentar o débito sanguíneo renal e a filtração glomerular (MEIRA-NETO; ALMEIDA, 2015), portanto as saponinas e os alcaloides podem ser os responsáveis pelo con-trole da pressão arterial sanguínea, podendo estar relacionado com o uso popular da espécie.
Ainda na classe das metilxantinas, do alcaloide teobramina, a pesquisa de Meira-Neto e Almeida (2015) mostra que essa classe é capaz de induzir o relaxamento da musculatura lisa, principalmente a brônquica, sendo este mecanismo podendo estar relacionado ao trata-mento para bronquite, que é uma das utilidades da espécie. Já a utilização da espécie para tratar úlcera gástrica, foi identificado no estudo de Andrade (2002), nele o extrato etanólico da casca de C. americana apresentou atividade gastroprotetora em ratos e camundongos frente aos modelos de úlceras gástricas induzidos por agentes irritantes, indicando os tani-nos e triterpenóides os responsáveis por essa ação. Podendo corroborar esse estudo com o uso popular da C. americana para o tratamento de úlceras gástricas.
Por fim, a maioria dos metabólitos secundários identificados na espécie, foram en-contrados na literatura por suas atividades antioxidantes assim como afirma o estudo de Lopes e seus colaboradores (2016) e nesse estudo o potencial anti-hemolítico do extrato
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
196 197
de C. americana foi avaliado em eritrócitos submetidos à peroxidação, onde a espécie foi capaz de reduzir a hemólise de eritrócitos induzida por DPPH, sendo, portanto, uma ativi-dade antioxidante.
Apesar de já existirem alguns estudos científicos que demonstram a eficácia da C. ame-ricana em relação ao seu uso popular, como ação cicatrizante, anti-inflamatório e de controle da pressão arterial, ainda se torna necessário estudos mais específicos que comprovem a ação da planta medicinal no uso das diversas enfermidades.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados, os metabólitos secundários identificados na espécie C. ame-ricana foram: fenóis, taninos, saponinas, depsídeos e depsidonas, alcaloides, esteroides, triterpenoides e açúcares redutores. Esses metabólitos possuem atividades farmacológicas que corroboram com uso tradicional da espécie. Algumas pesquisas na literatura já compro-varam essa eficácia para ação cicatrizante, anti-hipertensiva e em úlceras gástricas. No en-tanto, são necessários estudos mais específicos com substâncias químicas isoladas de cada metabólito para verificar sua ação, eficácia e segurança.
Portanto, percebe-se a importância da prospecção fitoquímica, pois se obtém um co-nhecimento científico preliminar da espécie para consequentemente chegar a um isolamento de princípios ativos importantes na produção de novos medicamentos farmacêuticos. Além disso, seria interessante repassar o conhecimento de plantas medicinais já registradas na literatura para a população, indicando a melhor utilização, os seus riscos e benefícios, e consequentemente haverá uma contribuição para a diminuição no custo de medicamentos e no uso irracional de plantas medicinais, por exemplo.
AGRADECIMENTOS
Agradecimento pela concessão de Bolsa pelo Programa de Educação Tutorial (SESu/ MEC/ FNDE), ao curso de Farmácia da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) para com o Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, coordenado pela Dra. Sheylla Susan Moreira. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
198
FINANCIAMENTO
Secretária de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC), bolsa do Programa de Educação Tutorial.
REFERÊNCIAS
1. ANDRADE, F.D.P. Estudo químico de chás brasileiros. 2002. Tese de doutorado – Univer-sidade Estadual Paulista, 2002.
2. BADKE, M. R. et al. Plantas Medicinais: O saber sustentado na prática do cotidiano popular. Esc. Anna Nery. v. 15, n. 1, p. 132-139, 2011.
3. BARBOSA, C. S. Avaliação alelopática e caracterização fitoquímico do extrato e diclo-rometano de folhas de Curatella Americana L. (lixeira). Programa de Pós-graduação em Quimica. Universidade Federal de Uberlândia. Minas Gerais, 2011.
4. BARBOSA, W. L. R.; et al. Manual para Análise Fitoquímica e Cromatográfica de Extratos Vegetais. Revista Científica da UFPA, v. 4, p. 1-19, 2001.
5. BAUER, J. Discovery of Depsides and Depsidones from Lichen as Potent Inhibitors Of Microsomal Prostaglandin E2 Synthase-1 Using Pharmacophore Models. 2012. Disponí-vel em <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3524419/>. Acesso em: 18 fev. 2021.
6. BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Brasília, 2006.
7. BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Brasília, 2007.
8. CABRAL, M. S. Avaliação da atividade cicatrizante de formulações fitoterápicas a base de Curatella americana e Costus spicatus in vivo. 2015. Dissertação de mestrado – Uni-versidade Federal do Amapá, 2015.
9. CARVALHO, J. C. T.; GOSMANN, G.; SCHENKEL, E. P. Compostos fenólicos simples e he-terosídicos. In: SIMÕES, C. M. O. Farmacognosia: Da Planta ao Medicamento. p. 229-246, 6ª Ed., Ed. UFSC, Porto Alegre, 2010.
10. CASTEJON, F. V. Taninos e Saponinas. 2011. Dissertação (Mestrado) -Escola de Veterinária e Zootecnia-Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2011.
11. CEOLIN, T. et al. Plantas medicinais: transmissão do conhecimento nas famílias de agricultores de base ecológica no sul do RS. Rev. Esc. Enferm.USP. v. 45, n. 1, p. 47-54, 2011.
12. FRAGA, C. N. Dilleniaceae in Lista de Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 2013.
13. GUERRERO, M. F. et al. Assessment of the antihypertensive and vasodilatador effects of etha-nolic extracts of some Colombian medicinal plants. J. Ethnopharmacol., v. 80, p. 37- 42, 2002.
14. HENRIQUES, A. T.; et al. Alcalóides: Generalidades e aspectos básicos. In: SIMÕES, C. M. O. Farmacognosia: Da Planta ao Medicamento. p. 229-246, 6ª Ed., Editora UFSC, Porto Alegre, 2010.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
198 199
15. HIRUMA-LIMA, C. A. et al. The anti-ulcerogenic effects of Curatella americana L. Journal of Ethnopharmacology, v.121, p.425-432, 2009.
16. LINANNEUS, C. V. Sytema Nature, ed. 10. 2: 1079, 1759. Disponível em: https://www.biodi-versitylibrary.org/page/586740#page/4/mode/1up. Acesso em: 20 de fev.2021
17. LOEFLING, P. Iter Hispanicum. 229, 260. 1758. Diponível em: http://legacy.tropicos.org/Name/40018422. Acesso em: 20 de fev. de 2021.
18. LOPES, R.H. et al. Antioxidant and hypolipidemic activity of the hydroethanolic extract of Cura-tella Americana L. Hidawi, 2016.
19. MACEDO, F. M. et al. Triagem fitoquímica barbatimão [Stryphnodendron adstringens (Mart) Coville]. Revista Brasileira de Biociências, v. 5, n. 2, p. 1166--1168, 2007.
20. MEIRA-NET O, R. A.; ALMEIDA, S.S.M. Avaliação fitoquímica, microbiológica e citotóxica das folhas de Gossypium arboreum L. (Malvacear). Biota Amazônia, v.5, n.2, p.18-22, 2015.
21. OLIVEIRA, L. A. R.; MACHADO, R. D.; RODRIGUES, A. J. L. Levantamento sobre o uso de plantas medicinais com a terapêutica anticâncer por pacientes da Unidade Oncológica de Anápolis. Revista Brasileira de Plantas Medicinais, v. 16, n. 1, p. 32-40, 2014.
22. PINHEIRO, M. Avaliação fitoquímica e da atividade antioxidante, citotóxica, inseticida e repelente de extratos vegetais das folhas de Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen, Acmella ciliata (kunth.) Cass e Tithonia diversifolia (hemsl.) A. gray (asteraceae) contra Aedes aegypti. 2016. Tese de doutorado (Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biodiversi-dade e Biotecnologia da Rede BIONORTE,) -Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2016.
23. RAMOS, R. S.; RODRIGUES, A. B. L.; ALMEIDA, S. S. M. S. Preliminary study of the extract of the barks of Licania macrophylla Benth: phytochemicals and toxicological aspects. Biota Amazônica. v. 4, p. 94-99, 2014.
24. RODRIGUES, C. M.. Caracterização qualitativa e quantitativa de metabólitos secundários em extratos vegetais. 2013.Tese (Doutorado em Química orgânica) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Química, 2013.
25. SANTOS, F. M.; SIMÕES, J. C.; SILVA, J. R. A. Otimização das condições de extração de saponinas em Ampelozizyphus amazonicus usando planejamento experimental e metodologia de superfície de resposta. Química Nova. v. 34, n. 9, p. 1629-1633, 2011.
26. SCHENKEL, E. P. et al. Farmacognosia: da Planta ao Medicamento. 6. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, p.1104, 2007.
27. SILVA, M. M. C. Transformações químio-enzimáticas em esteróides. 2005. Dissertação (Mestrado em Farmácia) – Faculdade de Farmácia, Universidade de Coimbra, Lisboa, 2005.
28. TAVARE, J. T. et al. Interferência do ácido ascórbico na determinação de açúcares redutores pelo método de lane e eynon. Química Nova. v. 33, n. 4, p. 805-809, 2010.
29. TOLEDO, C. F. M. et al. Antimicrobial and cytotoxic activities of medicinal plants of the Brazi-lian cerrado, using Brazilian cachac¸ a as extractor liquid. Journal of Ethnopharmacology, v.133, p.420–425, 2011.
30. USLIN, M. et al. Plantas medicinais comercializadas no Mercado Municipal de Campo Gran-de-MS. Revista brasileira de farmacognosia, v. 19, n. 3, 2009.
15Screening fitoquímico e análise físico-química das folhas da espécie vegetal Pouteria caimito (RUIZ & PAV.) RADLK.
Camila Ágata Magalhães SoaresUNIFAP
Alana Carine Sobrinho SoaresUEAP
Luciedi de Cássia Leôncio TostesIEPA
Alzira Marques OliveiraUNIFAP
Maryele Ferreira CantuáriaIFAP
Jorge Breno Palheta OrellanaUNB
Bruna Bárbara Maciel Amoras OrellanaCâmara dos Deputados
Ana Luzia Ferreira FariasUEAP
Patrick de Castro CantuáriaIEPA
Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaUNIFAP
10.37885/210303779
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
201
Palavras-chave: Prospecção Fitoquímica, Farmacognósticas, Abieiro.
RESUMO
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. (Abieiro) é uma árvore de pequeno porte e se adapta muito bem a clima quente e úmido. É comum encontrá-la na Amazônia e em regiões lito-râneas. Produz frutos ovóides amarelo-esverdeados. Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi realizar a triagem fitoquímica e análises físico-químicas do extrato bruto etanólico das folhas de Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. Metodologia: Foi utilizada para a prospecção fitoquímica a metodologia descrita por Barbosa et al. (2001) e as análises físico-químicas foram realizadas segundo a metodologia de Macêdo (2005). Resultados: Foi detectada a presença de ácidos orgânicos, açúcares redutores, fenóis e taninos, saponinas, depsídeos e depsidonas. Em relação aos testes físico-químicos realizados, o teor de cinzas totais foi de 4,04% e está dentro dos padrões farmacognósticos; pH de 5,04. O valor do pH está relacionado com a presença de substâncias ácidas, tais como ácidos orgânicos, fenóis, taninos e saponinas. Índice de lipídeos 2,51% e umidade de 9,80%. Conclusão: O extrato bruto etanólico de Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. evidenciou importantes resultados, de modo a se tornar um valoroso candidato para o desenvolvimento de novas pesquisas.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
202
INTRODUÇÃO
Durante muito tempo, as plantas eram usadas com um objetivo primário terapêutico, devido à grande variedade em compostos orgânicos que são produzidos a partir do seu metabolismo. No vegetal existem dois tipos de metabolismo, o primário e o secundário.
O metabolismo primário está relacionado com as atividades essenciais para a manu-tenção do funcionamento do vegetal como os carboidratos, proteínas, clorofila, nucleotídeos e lipídeos. O metabolismo secundário sintetiza substâncias nas quais não são necessárias em todas as plantas, pois são resultados da interação do vegetal com o ambiente, ou seja, os fatores extrínsecos (PERES, 2004).
Essa ampla diversificação de substâncias permitiu ao homem produzir medicamentos de origem vegetal e animal como também microrganismos, isolando os seus princípios ativos para o desenvolvimento de medicamentos.
A família Sapotaceae pertence à ordem Ericales, é pantropical com 53 gêneros e pos-sui cerca de 1.100 espécies e são importantes ecologicamente (MONTEIRO et al., 2007). Possuem frutos carnosos que servem de alimento para animais e pelo homem. No qual estabelece uma relação entre as espécies vegetais e os animais (ALENCAR, 1994).
O abieiro possui pequeno porte, produz frutos ovoides amarelo-esverdeados, é carac-terístico dessa família, há presença de ductos lactíferos, produz látex (MONTEIRO et al., 2007). As espécies desse gênero apresentam atividades antioxidante, anti-inflamatória, an-tibacteriana e antifúngica, porém seu potencial como fármaco ainda não foi bem elucidado.
OBJETIVO
O objetivo desta pesquisa foi avaliar o perfil fitoquímico e físico-químico das folhas de Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.
MÉTODOS
Coleta e identificação do material vegetal
O material foi coletado no município de Macapá, no bairro Laguinho, durante o mês de agosto de 2012. O material vegetal foi enviado ao herbário da Universidade Federal do Amapá (HUFAP) e foi identificado pela Profa. Dra. Wegliane Campelo onde se encontra um exemplar sob o registro nº 883.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
202 203
Preparo e obtenção do extrato
O material vegetal foi secado em estufa a 45 ºC e posteriormente foi moído. Após este procedimento o material foi submetido à extração sob refluxo em manta aquecedora à tem-peratura de, aproximadamente, 45 ºC, com etanol 96 ºGL (700 mL) e renovação de solvente por três vezes no mesmo material vegetal, sendo feito duas extrações (60 g cada extração), obtendo-se o extrato etanólico das folhas que foi evaporado em rotaevaporador, objetivando o extrato bruto etanólico. O extrato bruto etanólico das folhas foram submetidos à triagem fitoquímica para determinar as principais classes de metabólitos secundários.
Análise fitoquímica
O screening fitoquímico foi realizado a partir da obtenção do extrato bruto etanólico, utili-zando reagentes específicos com base na metodologia de Barbosa (2001) e da Farmacopeia Brasileira (2010).
Análises físico-químicas
Foram realizados os seguintes testes físico-químicos: pH, umidade, lipídeos, resíduos por incineração (cinzas) utilizando a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2008).
RESULTADOS
Da análise fitoquímica preliminar foi detectada a presença de ácidos orgânicos, açú-cares redutores, fenóis e taninos, saponinas, depsídeos e depsidonas. Os resultados estão apresentados na Tabela 1.
Tabela 1. Resultados obtidos do screening fitoquímico do EBEF de P. caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.
Metabólitos secundários Resultado
Ácidos orgânicosAçúcares redutoresPolissacarídeosFenóis e TaninosFlavonoidesAlcaloidessaponinasEsteroides e terpenoidesPurinasDepsídeos e depsidonasAntraquinonas
++-+--+--+-
Os resultados das análises físico-químicas realizadas podem ser observados na Tabela 2.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
204
Tabela 2. Resultados obtidos da análise físico-química das folhas de Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.
Análise físico-química Resultado
pH
Umidade (% m/m)
Lipídeos (% m/m)
Cinzas (% m/m)
5,04
9,8
2,5
4,04
DISCUSSÃO
Os carboidratos têm a capacidade, em soluções alcalinas, de reduzir sais de cobre e prata, por isso são conhecidos como açúcares redutores. Estes apresentam grupo aldeídico e cetônico livre. Todos os monossacarídeos são redutores e o mecanismo de óxido-redução está relacionado à formação do enediol, que em meio alcalino possui função fortemente redutora e interconverte aldoses e cetoses (DEMIATE, 2002).
Os Ácidos orgânicos, que são encontrados em diversas plantas, conferindo-lhe sabor ácido e propriedades farmacêuticas particulares, tais como, ação laxativa e refrescante. São usados na indústria alimentícia, podendo atuar como agente antimicrobiano e antioxidante (RAMOS, 2014), os ácidos orgânicos, in vitro, tem poder bacteriostático e bactericida.
Os grupos fenólicos possuem em sua estrutura anéis benzênicos característicos com substituintes hidroxilas. Esta classe divide-se em polifenóis, fenóis simples ou ácidos. Os com-postos fenólicos são amplamente encontrados na natureza e uma grande parte já foi detec-tada em plantas. Esse grupo pode ser encontrado em vegetais, frutas e também produtos industrializados, podendo dar aparência colorida a estes. Este grupo age como antioxidante por possuir radicais intermediários estáveis e também pela sua capacidade em doar hidro-gênio ou elétrons (SILVA et al., 2010).
Depsídeos e depsidonas estão relacionadas com propriedades antioxidantes, antivirais, antitumorais, analgésicas e antipiréticas. Assim como também os ácidos orgânicos, depsi-deos e depsidonas conferem sabor amargo em várias espécies de plantas (RAMOS, 2014).
As saponinas, substância que possui atividade anti-inflamatória e anti-helmíntica, pos-suem caráter anfifílico e podem formar complexos com esteróides. Dentre outros mecanismos de ação de algumas saponinas está a capacidade de lise celular, apresentam ação sobre membranas: são capazes de causar desorganização das membranas das células sanguíneas conferindo-lhe ação hemolítica (SIMÕES et al.,2003).
Os taninos que apresentam ação bactericida e fungicida ocorrem por três caracte-rísticas gerais comuns aos dois grupos de Taninos, devido a sua complexação com íons metálicos e a capacidade de complexar com outras moléculas, principalmente proteínas e polissacarídeos (CASTEJON, 2011), estes são formados devido ao estresse da planta que
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
204 205
sofre ataques de invertebrados e vertebrados herbívoros, corroboram o uso desta espécie para algumas atividades alegadas pela população.
O valor de pH foi de 5,04 está relacionado com a presença de substâncias ácidas, tais como Ácidos orgânicos, Taninos e saponinas.
O limite máximo do teor de umidade estabelecido é de 14% (SIMÕES et al., 2003), o material vegetal pulverizado apresentou o índice de 9,8%, abaixo do estabelecido. Quanto ao valor baixo de umidade encontrado, pode-se inferir que esteja protegido de ações enzi-máticas e/ou microbiológicas, reduzindo a probabilidade de modificações das substâncias.
Os resíduos por incineração (cinzas) têm como valor determinado de 4,04% que pode indicar a qualidade do material vegetal, inferindo-se a qualidade do solo.
O teor de lipídeos encontrados nas folhas de Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk foi de 2,5%, porém deve ser feito uma análise quantitativa do teor lipídico, visto que o solvente utilizado, hexano, pode extrair outras substâncias com caráter apolar.
Os metabólitos secundários encontrados na espécie vegetal contribuem parcialmente para o uso desta espécie com fins terapêuticos. Fatores extrínsecos e a sua localização geográfica estão relacionados com a concentração dos metabólitos secundários encontrados em Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. O material vegetal está dentro dos parâmetros farmacognósticos, mas é necessário realizar estudos biológicos que confirmem estas ativi-dades, para o desenvolvimento de futuros fármacos.
CONCLUSÃO
Levando em consideração todos estudos feitos usando o Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. e seus compostos, foi possível observar que seu uso na medicina popular tem base cientifica onde seus compostos do metabolismo secundário agem sobre o organismo cau-sando efeito sobre enfermidades. Os ensaios do extrato etanólico confirmaram a presença de açúcares redutores, açúcares redutores, ácidos orgânicos, fenóis, taninos, saponinas, dep-sidios e depsidonas. É interessante observar que alguns compostos apresentam atividades similares, como a atividade antioxidante dos ácidos orgânicos, fenóis, taninos, depsídios e depsidonas. Além disso, cada um destes metabólitos exerce várias funções biológicas sobre o corpo, e estes agem sinergicamente entre si, trazendo consigo vários benefícios como a ação antibacteriana, fungicida, laxativa, anti-inflamatória, antiviral, analgésica, entre outras.
Os resultados das análises físico-químicas realizadas evidenciaram o valor do pH sendo correspondente a 5,04, o índice de umidade equivalente a 9,8 %, os resíduos por in-cineração têm como valor determinado de 4,04 % e o teor de lipídeos encontrado nas folhas de Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. foi de 2,5 %. É importante ressaltar que em um vegetal a concentração de alguns desses metabolitos é diferente em cada órgão da planta.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
206
Prosseguir com os estudos sobre o Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. é de grande inte-resse farmacêutico, tanto para se identificar todos os metabólitos presentes nesta planta e quais são os órgãos com maiores concentrações de tais metabólitos, estes podem ser usados para isolamento de substâncias como possíveis princípios ativos para novos medicamentos.
AGRADECIMENTOS
Programa de Educação Tutorial (PET), Ministério da Educação. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
FINANCIAMENTO
Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC), bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET).
REFERÊNCIAS
1. ALENCAR, C. J. Fenologia de Cinco Espécies Arbóreas Tropicais de Sapotaceae Correlacio-nada a Variáveis Climáticas na Reserva Ducke. Acta Amazônica, Manaus, v. 24, n. 3/4, p. 161-182, 1994.
2. BARBOSA, W. L. R.; et al. Manual para Análise Fitoquímica e Cromatográfica de Extratos Vegetais. Revista Científica da UFPA, Belém, v. 4, s/n, p. 12-19, 2001.
3. CASTEJON, V. F. Taninos e saponinas. Seminário apresentado junto à disciplina Seminários Aplicados do Programa de Pós-graduação em Ciência Animal da Escola de Medicina Veteri-nária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2011.
4. DEMIATE, I. M.; et al. Determinação de açúcares redutores e totais em alimentos. Compara-ção entre método calorimétrico e titulométrico. Ciências exatas e da terra, Ponta Grossa, v. 8, s/n, p. 65-78, 2002.
5. FARMACOPÉIA BRASILEIRA. 5. ed. Brasília: ANVISA, 2010.
6. GBIF. Global Biodiversity Information Facility. 2001. Pouteria caimito. Disponível em: <ht-tps:// https://www.gbif.org/pt/species/2884788 >. Acesso em: 28 de abr. 2021.
7. HUBINGER, S.; et al. Controles físico, físico-químico, químico e microbiológico dos frutos de Dimorphandra mollis Benth, Fabaceae. Revista Brasileira de Farmacognosia, Curitiba, v. 19, n. 3, p. 690-696, 2009
8. MACÊDO, J. A. B. Métodos laboratoriais de análises físico-químicas e microbiológicas. 3. ed. Belo Horizonte: CRQ-MG. 2005.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
206 207
9. MONTEIRO, A. D. H. M; ANDREATA, P. H. R; NEVES J. L. Estruturas Secretoras em Sapo-taceae. Pesquisas, Botânica, São Leopoldo, s/v, n. 58, p. 253-261, 2007.
10. PERES, L. E. P. Metabolismo secundário. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, São Paulo, ESALQ/USP, 2004.
11. RADAK, L. Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. München. 12: 312, 1882.
12. RAMOS, S. R.; et al. Preliminary study of the extract of the barks of Licania macrophylla Ben-th, phytochemicals and toxicological aspects. Revista Biota Amazônia, Macapá, v. 4, s/n, p. 94-99, 2014.
13. SILVA, M.L.C.; et al. Compostos fenólicos, carotenóides e atividade antioxidante em produtos vegetais. Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v. 31, n. 3, p. 669-682, 2010.
14. SIMÕES, C. M. O.; et al. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2003.
16Screening fitoquímico, análise citotóxica e antimicrobiana do extrato das folhas de Annona muricata L. (1753) (Annonaceae)
Heloíza Rabêlo CunhaUNIFAP
Patrick de Castro CantuáriaIEPA
Elizabeth Viana Moraes da CostaUNIFAP
Ana Luzia Ferreira FariasUEAP
José Policarpo Miranda JúniorAMBIEX
Líbio José Tapajós MotaGEA
Antônio Carlos Freitas SouzaIEPA
Pablo de Castro CantuáriaALAP
Juliana Eveline dos Santos FariasIFAP
Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaUNIFAP
10.37885/210303480
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
209
Palavras-chave: Graviola, Metabólitos Secundários, Produtos Naturais.
RESUMO
As folhas de Annona muricata L. são muito utilizadas medicinalmente, contra doenças parasitárias. A espécie também é utilizada como analgésico e contra infecções urinárias. Objetivo: Esta pesquisa objetivou realizar a triagem fitoquímica, analisar atividade citotó-xica e antibacteriana do extrato bruto etanólico das folhas de Annona muricata L. (1753). Métodos: Para a prospecção fitoquímica, realizou-se uma análise qualitativa, realizada com o extrato bruto etanólico (EBE), de acordo com a metodologia proposta por Estevam (2009). A citotoxicidade foi analisada frente à Artemia salina L. (1753), através do método de Mayer com algumas adaptações, no qual testou-se concentrações do extrato bruto das folhas de 50 µg.mL–1, 100 µg.mL–1, 250 µg.mL–1, 500 µg.mL–1, 750 µg.mL–1, 1000 µg.mL–1. A análise antimicrobiana, foi determinada através do método Kirby-Bauer com algumas adaptações, utilizou-se cepas de Staphylococcus aureus (Rosenbach, 1884), Escherichia coli (Migula,1895), Klebsiella pneumoniae (Schroeter, 1886). Foram utilizadas três concentrações de extrato bruto. Resultados: Detectou-se as classes: alcaloides, esteroides e triterpenoides. Observou-se toxicidade frente à A. salinas nas concentra-ções a partir de 250 µg.mL–1 de extrato. A concentração de 25 µg.mL–1 e a de 50 µg.mL–1
mostraram halos de inibição frente à cepa de E. coli. Demonstrou-se o potencial dessa espécie para fonte de compostos antibacterianos. Considerações finais: Sendo assim, os resultados contidos neste estudo justificam parcialmente seu uso popular.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
210
INTRODUÇÃO
As observações populares sobre o uso de plantas medicinais contribuem de forma relevante para as pesquisas, uma vez que são a primeira fonte de informação para que seja feita uma investigação científica das propriedades medicinais de uma planta.
A família Annonaceae Juss. (1789) é muito usada medicinalmente. Diversas espécies desta família foram estudas na América do Sul e mostraram alta atividade biológica. A partir de plantas da família Annonaceae foram isolados acetogeninas (PETTITETAL, 2008). Estes produtos naturais apresentam uma ampla gama de propriedades biológicas, tais como ci-totóxica, imunossupressora, pesticida, atividades antiparasitárias e antimicrobianas e seu potencial para inibir células que têm resistência a múltiplas drogas, que tem atraído interesse crescente (BERMEJO et al., 2005).
Pesquisa etnobotânica realizada nas regiões Centro e Sul dos Camarões revela que Annonaceae, incluindo Annona muricata L. (1753), são localmente usadas na medicina tra-dicional para curar muitas doenças parasitárias, incluindo helmintíases, disenteria, malária e sintomas relacionados (BOYONET et al., 2011). Diante da relevância etnofarmacológica, várias espécies de Annona são usadas na medicina tradicional mexicana por seu efeito an-siolítico, propriedades anticonvulsivantes e tranquilizantes (JOSABAD, 2011). A decocção das folhas é usada na cabeça para matar piolhos e outros insetos, enquanto nas Ilhas do Caribe o chá é usado como sedativo (WATISON et al., 2009).
Annona muricata é uma pequena árvore tropical cujos frutos são comestíveis e usa-dos comercialmente para a produção de doces, sucos e sorvetes (CHEONG, 2011), suas folhas são muito utilizadas medicinalmente por infusão (BRADACS, 2011). Alega-se que as frutas e as folhas da Annona muricata possuem um efeito tranquilizante e sedativo (HAMID, 2012). Diversos extratos vegetais foram estudados por Broglio- Micheletti et al. (2009) com o objetivo de avaliar sua eficiência no controle de Rhipicephalus microplus Canestrini, 1888 e A. muricata apresentou o maior poder acaricida, com eficácia de 100%.
Intensivas investigações químicas das sementes e folhas desta espécie levaram ao isolamento de um grande número de acetogeninas. Estes compostos mostram algumas atividades biológicas interessantes, como citotoxicidade, antitumoral, antiparasitária e pro-priedades pesticidas (GLEYE et al., 1997). Um estudo de avaliação das propriedades an-timicrobianas e antifúngicas das substâncias ativas de A. muricata sobre meios de culti-vo de Staphylococcus aureus Rosenbach, 1884, Streptococcus mitis Andrewes & Horder 1906, S. mutans (Rosenbach, 1884) e Candida albicans (C.P. Robin) Berkhout, demonstrou que os compostos acetogênicos promovem halos de inibição (VALEJO et al., 2006).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
210 211
OBJETIVO
Realizar a prospecção fitoquímica, análise antimicrobiana e citotóxica com Artemia salina (Linnaeus, 1758) a partir do Extrato Bruto Etanólico das folhas de Annona muricata L.
MÉTODOS
Coleta do material vegetal
A espécie A. muricata L. foi coletada em um bairro da zona Sul do município de Macapá no estado do Amapá.
Preparação da amostra e obtenção do extrato
As folhas foram lavadas depois secadas em uma estufa à temperatura de aproxima-damente 45°C. A extração foi realizada à quente em sistema fechado, por meio de extração sob refluxo (FALKENBERG et al., 2007). Neste caso, usou-se 35g de material, para 750mL de etanol, filtrou-se, e por fim, fez-se a concentração em rota evaporador à 55oC.
Prospecção Fitoquímica
Esta foi uma análise qualitativa, realizada com o extrato bruto etanólico (EBE), de acordo com a metodologia proposta por Estevam (2009). Foram investigadas as seguintes classes metabólicas: ácidos orgânicos, fenóis, taninos, polissacarídeos, açúcares redutores, flavonoi-des, alcaloides, esteroides, triterpenoides, resinas, antraquinonas, depsídios e depsidonas.
Toxicidade em A. salina
Realizou-se através do tradicional método de Mayer (NUNES, 2008) com algumas adaptações. Dez larvas de Artemia salina (náuplios) foram transferidas para tubos de en-saios contendo água artificial do mar e o EBE, em seis diferentes concentrações cada uma em triplicata. O teste ocorreu com as seguintes concentrações do EBE: 50 µg.mL–1, 100 µg.mL–1, 250 µg.mL–1, 500 µg.mL–1, 750 µg.mL–1e 1000 µg.mL–1. A contagem dos mortos e vivos foi realizada após 24 horas. As análises estatísticas dos resultados foram realiza-das no Biostat 5.0.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
212
Análise Antimicrobiana
A análise antimicrobiana foi determinada através do método Kirby-Bauer (SEQUEIRA, 2009) com algumas adaptações. Utilizou-se cepas de Staphylococcus aureus Rosenbach, 1884 (ATCC 25923), Escherichia coli (Migula, 1895) Castellani & Chalmers, 1919 (ATCC 25922) e Klebsiella pneumoniae (Schroeter, 1886) Trevisan, 1887 (ATCC 13883). Para con-trole positivo foram utilizados antibióticos padronizados. Discos de papel foram esterilizados e embebidos nas concentrações de 25 mg, 50 mg e 100 mg de EBE.
RESULTADOS
Obteve-se um rendimento de, aproximadamente, 114 mg de EBE, após evaporação do total do solvente.
Screening Fitoquímico
Dentre os 10 testes realizados com a espécie, foram obtidos apenas 2 resultados po-sitivos. Os testes que reagiram positivamente foram para as seguintes classes: alcaloides, esteroides e triterpenoides. Sendo que os dois últimos foram investigados em um único teste. Como mostra a Tabela 1.
Tabela 1. Testes fitoquímicos e respectivos resultados.
Classes de metabólitos Resultado Classes de metabólitos Resultado
Ácidos Orgânicos Negativo Alcaloides Positivo
Fenóis e Taninos Negativo Esteroides e Triterpenoides Positivo
Polissacarídeos Negativo Resinas Negativo
Açúcares redutores Negativo Antraquinonas Negativo
Flavonoides Negativo Depsídios e depsidonas Negativo
Análise citotóxica frente à Artemias salinas
No ensaio de toxicidade sobre A. salina a concentração necessária para matar 50% das larvas foi observada nas concentrações a partir de 250 µg.mL–1de extrato, como mostra a Tabela 2. A atividade é considerada significativa quando o valor da CL 50 é menor do que 1000 µg.mL–1 (STEFANELLO, 2006).
Tabela 2. Análise citotóxica em A. salina.
Concentração em µg.mL–1 Média de indivíduos mortos
50 4,33
100 4,66
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
212 213
Concentração em µg.mL–1 Média de indivíduos mortos
250 5,66
500 5,66
750 6,66
1000 9,66
Controle 4
Análise antimicrobiana
Quanto à avaliação antimicrobiana, as concentrações de 25 mg/mL e o de 50 mg/mL mostraram pequenos halos de inibição medindo, respectivamente, 7 mm e 8 mm de diâmetro frente à cepa de E. coli (25922), como mostra a Tabela 3.
Tabela 3. Demonstração de halos de inibição frente às cepas de acordo com as concentrações testadas.
Micro-organismos 25mg 50mg 100mg
E. colli - 7mm 8mm
K. pineumoniae - - -
S. aureus - - -
DISCUSSÃO
Screening Fitoquímico
Atualmente, a função natural de muitos metabólitos secundários tem sido reavaliada, reconhecendo-se que estes são, de fato, essenciais para a existência dos vegetais. Tem sido observado que muitas plantas que produzem alcaloides são evitadas por animais e insetos em sua dieta, isso certamente devido à sua toxicidade ou ao fato de a maioria dos alcaloides ter gosto amargo (SAMUELSSON, 1992 apud SANTOS, 2010). A presença de alcaloides pode ser assinalada em ampla gama de atividades biológicas investigadas. Assim, pode-se citar ametina (amebicida e emético), atropina, hiosciamina e escopolamina (anticolinérgico), reserpina e protoveratrina A (anti-hipertensivo), quinina (antimalárico), camptotecia, vimblas-tina e vincristina (antitumorais), codeína e noscapina (antitussígeno), morfina (hipinoanalgé-sico), quinidina (depressor cardíaco), cafeína (estimulante do SNC), teobromina e teofilina (diuréticos), colchicina (tratamento da gota) entre outros (SANTOS, 2010).
Os alcaloides são compostos nitrogenados farmacologicamente ativos e são encon-trados predominantemente em angiospermas, na sua grande maioria, possuem caráter alcalino, com exceções tais como colchicina, piperina, oximas e alguns sais quaternários como o cloridrato de laurifolina (SANTOS, 2010).
Os alcaloides são constituintes muito comuns nessa família, sendo já demonstrado em isolamentos (LIMA, 2011). Biologicamente, alcaloides agem provavelmente nos sistemas
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
214
neurotransmissores opiáceos, GABAérgicos, colinérgicos, muscarínicos, serotoninérgicos e dopaminérgicos. Por isso, é empregado largamente como hipotensor arterial, simpatolítico, diurético, vasoconstrictor periférico, estimulante respiratório, anestésico, agente bloqueador adrenérgico, espasmogênico intestinal, sedativo e relaxante do músculo esquelético. Além disso, são responsáveis pelos efeitos alucinógenos do tabaco, de bebidas e rapés utilizados por nativos da Amazônia, bem como pelas propriedades sedativas. Outros alcaloides são parasiticidas e apresentam citotoxicidade em células cancerosas. Testes contra a doença de Chagas mostram que esses alcaloides são ativos contra epimastigotas de Tripanosoma cruzi (PEREIRA, 2007).
Os esteroides e triterpenoides apresentam ação anti-inflamatória, antibacteriana e anal-gésica, segundo Dewick (1997), os esteroides formam uma classe de me tabólitos secundá-rios formados por descar boxilações de precursores que se originam a partir dos triterpenos (RODRIGUES et al., 2010), isso pode estar relacionado com diversas ações farmacológi-cas. Os esteróides podem apresentar diversas ações farmacológicas, sendo as principais: antiin flamatória e analgésica (RODRIGUES, 2010).
De acordo com Silva (2009) a família Anonácea é caracterizada pela presença de terpenoides (principalmente diterpenos), alcaloides (principalmente derivados isoquinolíni-cos), além de óleos essenciais cuja composição é predo minantemente de monoterpenos e sesquiterpenos, logo as três classes metabólicas detectadas no presente estudo estão de acordo com as características fitoquímicas da família Annonaceae descrito na literatura.
Os triterpenos são um dos grupos de terpenos mais estruturalmente diversificados (DOMINGO, 2009). Os terpenos constituem uma ampla classe de produtos naturais, que possuem muitas funções no reino vegetal e na saúde humana (ROBERTS, 2007). Estas classes de substâncias defendem muitas espécies de plantas, animais e microrganismos contra predadores, patógenos e competidores, e estão envolvidas na transmissão de men-sagens sobre a presença de alimento e organismos nocivos. No entanto, o papel biológico de diversos terpenoides ainda não é totalmente conhecido (GERSHENZON, 2007). Nessa classe, existem mais de 40 mil estruturas diferentes, com vários compostos que servem como importantes agentes farmacêuticos (ROBERTS, 2007).
O pirofosfato de isopentenila (IPP) e o seu isômero pirofosfato de λ,λ-dimetilalila (DMAPP), também chamados de unidades de isopreno, são os precursores dos terpenoi-des. Os diversos tipos de terpenoides são formados pela condensação de moléculas de IPP por meio de enzimas conhecidas como preniltransferases (ROBERTS, 2007).
A maioria dos triterpenos são tetracíclicos 6-6-6-5 e, principalmente, pentacícli-cos 6-6- 6-6-5 e 6-6-6-6-6, mas podendo ocorrer acíclicos, monocíclicos, bicíclicos, tri-cíclicos e hexacíclicos, contendo acima de 100 esqueletos descritos como produtos
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
214 215
naturais. O 2,3-epoxiesqualeno e provavelmente o precursor da maioria dos triterpenoides 3ƒÀ-hidroxilados (XU, 2004).
Os triterpenos pentacíclicos são de grande interesse devido às diversas atividades biológicas apresentadas, servindo como candidatos ou protótipos de novos medicamentos (ALVARENGA, 2006). Estudos com a friedelina indicaram a atividade antiproliferativa, proapop-tótica (MARTUCCIELLO, 2010), antiinflamatória, analgésica e antipirética (ANTONISAMY, 2011). Isso pôde ser observado pela formação de halo nas amostras microbianas.
Eles são de grande interesse devido às diversas atividades biológicas apresentadas, servindo como candidatos ou protótipos de novos fármacos. Devido a todas essas caracterís-ticas, em poucos anos, inúmeros estudos têm sido dedicados aos triterpenos (SILVA, 2014).
O provável gatilho da “morte celular programada”, ou apoptose, parece ser a inibi-ção de enzimas metabólicas do DNA, no entanto, isso não é claramente estabelecido. Independentemente disto, esta abordagem molecular pode ser utilizada como ferramenta na inibição do crescimento tumoral, seja como agente antitumoral ou como adjuvante da terapia antitumoral. Cisplatina, bleomicina (A2 e B2), neocarzinostatina e agentes monofun-cionais alquilantes do DNA podem ser potencializados com o uso de inibidores de enzimas metabólicas do DNA (DENG, 1999 apud VECHIA, 2009).
Análise citotóxica frente à Artemia salina
A toxicidade sobre A. salina é um bioensaio conveniente como “screening” prévio no monitoramento de extratos de plantas (ARAÚJO, 2010). É um ensaio importante para isola-mento e identificação de compostos presentes nessas frações ativas e para caracterização da atividade biológica dessa planta medicinal.
Essa toxicidade pode estar relacionada com a presença de alcaloides, compostos que formam uma classe de metabólitos secun dários estruturalmente bastante diversifica da que se caracterizam por apresentar uma ampla gama de atividades biológicas, e que tornam as plantas altamente tóxicas.
Entretanto, estudos mais detalhados para a avaliação da toxicidade dos extratos bioa-tivos empregando-se outros modelos (in vitro e in vivo) se fazem necessários.
Análise antimicrobiana
A atividade antimicrobiana pode estar relacionada com a presença de triterpenoides, constituintes que têm inúmeras atividades terapêuticas, entre elas, antibacterianas, antiinfla-matórias, antifúngicas e antidiuréticas (BANDEIRA et al., 2007). Segundo Wink (1993) citado por Santos (2010) essa inibição também pode estar relacionada à presença de alcaloides,
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
216
como a solanina e sanguinarina, que assim com outros metabólitos secundários possui um comprovado papel na defesa contra a invasão de microrganismos e vírus.
Segundo Silva (2011), seus estudos com extratos hidroalcóolicos e aquosos das folhas de A. muricata não demonstraram atividade antibacteriana frente às cepas de E. colli. Estes resultados são divergentes em relação aos encontrados neste estudo, porém este fato pode estar associado ao modo de preparo dos extratos assim como também a linhagem micro-biana analisada. Pois no presente estudo utilizou-se extrato etanólico, o que torna diferente dos estudos citados a cima.
Efeitos anti-bacterianos de extratos aquosos e etanólicos de sementes de Moringa oleífera Lam. e de A. muricata foram examinados contra diversos tipos de bactéria incluin-do E. coli. Os extratos aquosos de A. muricata apresentaram efeito antibacteriano con-tra S. Aureus e Vibrio cholerae Pacini 1854, mas ação antibacteriana dos extratos etanólicos da espécie não foi demonstrada (VIERA, 2010).
De acordo com resultados encontrados neste estudo, constatou-se que as classes de metabólitos secundários presentes em A. muricata são as mesmas, as quais apresentam atividades farmacológicas contra várias doenças descritas na literatura, sendo também os mesmos já descritos em vários estudos realizados com as diversas espécies deste gênero. Esses resultados demonstram o potencial dessa espécie tanto para fonte de compostos antibacterianos como de analgésicos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com resultados encontrados neste estudo, constatou-se que as classes de metabólitos secundários presentes em A. muricata são as mesmas, as quais apresentam atividades farmacológicas contra várias doenças descritas na literatura, sendo também os mesmos já descritos em vários estudos realizados com as diversas espécies deste gênero. Esses resultados demonstram o potencial dessa espécie tanto para fonte de compostos antibacterianos como de analgésicos.
AGRADECIMENTOS
Agradecimento pela concessão da Bolsa pelo Programa de Educação Tutorial (SESu/MEC/FNDE), ao curso de Farmácia, da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) para com o Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica, coordenado pela Dra. Sheylla Susan Moreira. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá (FAPEAP) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
216 217
FINANCIAMENTO
Secretaria de Ensino Superior (SESu) do Ministério da Educação (MEC), bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET).
REFERÊNCIAS
1. ALVARENGA, E.; FERRO, E. A. Bioactive triterpenes and related compounds from Celastra-ceae. Studies in Natural Products Chemistry, v. 33, p. 239-307, 2006.
2. ANTONISAMY, P.; DURAIPANDIYAN, V.; IGNACIMUTHU, S. Anti-inflammatory, analgesic and antipyretic effects of friedelin isolated from Azima tetracantha Lam. in mouse and rat models. Journal of Pharmacy and Pharmacological, v. 63, p. 1070-1077, 2011.
3. ARAÚJO, M. G. F.; CUNHA, W. R.; VENEZIANI, R. C. S. Estudo fitoquímico preliminar e ioensaio toxicológico frente a larvas de Artemia salina Leach. de extrato obtido de frutos de Solanum lycocarpum A. St.-Hill (Solanaceae). Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, v. 31, p. 205-209, 2010.
4. BANDEIRA, P. N.; LEMOS, T. L. G.; COSTA, S. M. O.; SANTOS, H. S. Obtenção de derivados da mistura triterpenoídica α- e β-amirina. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 17, p. 204-208, 2007.
5. BERMEJO, A.; FIGADÉRE, B.; ZAFRA-POLO, M. C.; BARRACHINA, I.; ESTORNELL, E.; CORTES, D. Acetogenins from Annonaceae: Recent progress in isolation, synthesis and me-chanisms of action. Natural Product Reports, v. 22, p. 269-203, 2005.
6. BOYOM, F. F.; FOKOU, P. V. T.; YAMTHE, R. L. T.; MFOPA, A. N.; KEMGNE, E. M. MBACHAM, W. F.; TSAMO, E.; ZOLLO, P. H. A.; GUT, J.; ROSENTHAL, P. J. Potent antiplasmodial extracts from Cameroonian Annonaceae. Journal of Ethnopharmacology, v. 134, p. 717-724, 2011.
7. BRADACS, G.; HEILMANNB, J.; WECKERLEC, C. S. Medicinal plant use in Vanuatu: A com-parative ethnobotanical study of three Islands. Journal of Ethnopharmacology, v. 137, p. 434-448, 2011.
8. BROGLIO-MICHELETTI, S. M. F.; VALENTE, E. C. N.; SOUZA. L. A. Extratos de plantas no controle de Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini,1887) (Acari: Ixodidae). Revista Brasileira de Parasitologia, v. 18, p. 44-48, 2009.
9. CHEONG, K. W.; TAN, C. P.; MIRHOSSEINI, M.; CHIN, S. T.; MAN, Y. B. C.; HAMID, N. S. A.; OSMAN, A.; BASRI, M. Optimization of equilibrium headspace analysis of volatile flavor compounds of Malaysian soursop (Annona muricata): Comprehensive two-dimensional gas chromatography time-of-flight mass spectrometry (GC-GC-OFMS). Food Chemistry, v. 125, p. 1481-1489, 2011.
10. DOMINGO, V.; ARTEAGA, J. F.; MORAL, J. F. Q.; BARRERO, A. F. Unusually cyclized triter-penes: occurrence, biosynthesis and chemical synthesis. Natural Product Reports, v. 26, p. 115-134, 2011.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
218
11. ESTEVAM, C. S.; CAVALCANTI, A. M.; CAMBUI, E. V. F.; ARAÚJO NETO, V. LEOPOLDO, P. T. G.; FERNANDES, R. P. M.; ARAUJO, B. S.; PORFÍRIO, Z.; SANT’ANA, A. E. G. Perfil fitoquímico e ensaio microbiológico dos extratos da entrecasca de Maytenus rígida Mart. (Ce-lastraceae). Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 19, p. 299-203, 2009.
12. FALKENBERG, M. B. Introdução à Análise Fitoquimica. In: SIMÕES, M. O. et al. (Org.). Far-macognosia da planta ao medicamento. 6 ed. Editora FSC, 2007, p. 229-244.
13. GERSHENZON, J, DUDAREVA, N. The function of terpene natural products in the natural world. Nature Chemical Biology, v. 3, p. 408-414, 2007.
14. GLEYE, C.; LAURENS, A.; ROCQUEMILLER, R.; LAPRÉVOT, O.; SERANI, L.; CAVÉ, A.; Cohibins A and, acetogenins fron roots of Annona muricata. Phytochemistry, v. 44, p. 1541-1545, 1997.
15. HAMID, R. A.; FOONG, C. P.; AHMAD, Z.; HUSSAIN, M. K. Antinociceptive and anti-ulcerogenic activities of the ethanolic extract of Annona muricata leaf. Revista Brasileira de Farmacog-nosia, 22: 630-641, 2012.
16. JUSSIEU, A. L. Genera Plantarum. 283, 1789.
17. LIMA, L. A. R. S.; JOHANN, S.; CISALPINO, P. S.; PIMENTA, L. P. S.; BOAVENTURA, M. A. D. Antifungal activity of 9-hydroxy-folianin and sucrose octaacetate from the seeds of Annona-cornifolia A. St. -Hil.Annonaceae). Food Research International, v. 44, p. 2283–2288, 2011.
18. MARTUCCIELLO, S.; BALESTRIERI, M. L.; FELICE, F.; ESTEVAM, C. S.; SANT’ANA, A. E.; PIZZA C.; PIACENTE, S. Effects of triterpene derivatives from Maytenus rigida on VEGF-induced Kaposi’s sarcoma cell proliferation. Chemico-biological Interactions, v. 183, p. 450-454, 2010.
19. NUNES, P. X.; MESQUITA, R. F.; SILVA, D. A.; LIRA, D. P.; COSTA, V. C. O.; SILVA, M. V. B.; XAVIER, A. L.; DINIZ, M. F. F. M.; AGRA, M. F. Constituintes químicos, avaliação das atividades citotóxica e antioxidante de Mimosa paraibana Barneby (Mimosaceae). Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 18, p. 718-723, 2008.
20. PETTIT, G. R.; VENUGOPAL, J. R. V.; MUKKU, G. C.; HERALD, D. L.; KNIGHT, J. C.; HERALD C. L. Antineoplastic agents: 558. Ampelocissus sp. cancer cell growth inhibitory constituents. Journal of Natural Products, v. 71, p. 130-133, 2008.
21. PEREIRA, M. M.; JÁCOME, R. L. R. P.; ALCÂNTARA, A. F. C.; ALVES, R. B.; RASLAN, D. S. Indole alkaloids from species of the Aspidosperma (Apocynaceae). Química Nova, v. 30, p. 970-983, 2007.
22. ROBERTS, S. C. Production and engineering of terpenoids in plant cell culture. Nature Che-mical Biology, v. 3, p. 387-395, 2007.
23. RODRIGUES, K. A. F.; DIAS, C. N.; FLORÊNCIO, J. C.; VILANOVA, C. M.; GONÇALVES, J. R. S.; COUTINHO-MORAES, D. F. Prospecção fitoquímica e atividade moluscicida de folhas de Momordica charantia L. Caderno de Pesquisa, v. 17, p. 69-77, 2010.
24. RUBALCAVA, C. L. B.; MEDINA, P.; REYES, R. E. Anxiolytic-like actions of the hexane extract from leaves of Annona cherimolia in two anxiety paradigms: Possible involvement of the GABA/benzodiazepine receptor complex. Life Sciences, v. 78, p. 730-737, 2006.
25. SANTOS, S. C.; MELLO, J. C. Alcaloides. In: Simões CMO (Org). Farmacognosia da planta ao medicamento. 6 ed. Porto Alegre: UFSC, 2010, p. 765-791.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
218 219
26. SEQUEIRA, B. J.; VITAL, M. J. S.; POHLIT, A. M.; PARAROLS, I. C.; CAÚPER, G. S. B. Antibacterial and antifungal activity of extracts and exudates of the Amazonian medicinal tree Himatanthu sarticulatus (Vahl) Woodson (common name: sucuba). Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 10, p. 659-661, 2009.
27. SILVA, F. C.; DUARTE, L. P.; VIEIRA FILHO, A. S. Celastráceas: Fontes de Triterpenos Pen-tacíclicos com Potencial Atividade Biológica. Revista Virtual de Química, v. 6, 000:000, 2014.
28. SILVA, F. R.; ANTUNES, R. M. P.; CATÃO, R. M. R. Avaliação da atividade antibacteriana de extratos de Annona muricata L. (Annonaceae). Revista de Biologia e Farmácia, v. 06, p. 27-36, 2011.
29. SILVA, M. S.; TAVARES, J. F.; QUEIROGA, K. F.; AGRA, M. F.; BARBOSA FILHO, J. M. Alcaloides e outros constituintes de Xylopia langsdorffiana (Annonaceae). Química Nova, v. 32, p. 1566-1570, 2009.
30. LINNAEUS, C. V. Species Plantarum 1: 536, 1753.
31. STEFANELLO, M. E. A.; SALVADOR, M. J.; ITO, I. Y.; MACARI, P. A T. Avaliação da ativi-dade antimicrobiana e citotóxica de extratos de Gochnatia polymorpha ssp floccosa. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 16, p. 525-530, 2006.
32. VALLEJO, L. G. Z. Propriedades antifúngicas y antibacterianas de la Annona muricata (estúdio in vitro). Medicinal Oral, v. 8, p. 68-73, 2006.
33. VECHIA, L. D.; GNOATTO, S. C. B.; GOSMANN, G. Derivados oleananos e ursanos e sua importância na descoberta de novos fármacos com atividade antitumoral, antiinflamatória e antioxidante. Química Nova, v. 32, p. 1245-1252, 2009.
34. VIERA, G. H. F.; MOURÃO, J. Á.; ÂNGELO, A. M.; COSTA, R. A.; VIEIRA, R. H. S. F. Efeito antibacteriano (in vitro) de Moringa oleifera (moringa) e Annona muricata (graviola) Frente abactérias Gram-negativas e Gram-Positiva. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, v. 52, p. 129-132, 2010.
35. WATSON, R. R.; PREEDY, V. R. Bioactive Foods in Promoting Health. Academic, v. 8, p. 621-643, 2009.
36. XU, R.; FAZIO, G. C.; MATSUDA, S. P. T. On the origins of triterpenoid skeletaldiversity. Phy-tochemistry, v. 65, p. 261-291, 2004.
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
220
Sheylla Susan Moreira da Silva de AlmeidaPossui graduação em Farmácia (1999) e Habilitação em Análises Clínicas (2002) pela Universidade Federal do Pará. Possui Mestrado em Química na área de concentração em Química Orgânica pela, também, Universidade Federal do Pará (2002). Doutora em Química na área de concentração em Química de Produtos Naturais (Química Orgânica) pela Universidade Federal de São Carlos - SP. É professora de Farmacognosia, Química Orgânica e Mecanismos de Reações Orgânicas pela Universidade Federal do Amapá Classe C - Adjunto Nível III, no regime de Dedicação Exclusiva - 40 h. Fundadora e Tutora do Grupo PET (Programa de Educação Tutorial) do Curso de Farmácia da Universidade Federal do Amapá que atua na tríade Pesquisa-Ensino-Extensão. Professora Permanente dos Curso de Mestrados em Ciências Farmacêuticas e do Programa de pós-Graduação em Inovação Farmacêutica da, também, Universidade Federal do Amapá. Professora Permanente do Doutorado do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte. Atua em várias linhas de pesquisa nas áreas de Biotecnologia, Biodiversidade, Óleos essenciais, Química de Produtos Naturais de origem vegetal, animal e microrganismos, com atividade biológica e farmacológica, entre outras.
Ana Luzia Ferreira FariasPossui graduação em Licenciatura em Química pela Universidade do Estado do Amapá (2010) e doutorado em Biotecnologia e Biodiversidade pela Universidade Federal do Amapá (2019). Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química dos Produtos Naturais, atuando principalmente nos seguintes temas: Portulaca pilosa L., trabalhos científicos, plantas medicinais, comunicação e química.
Patrick de Castro CantuáriaPós-Doutorado/Desenvolvimento Regional com Relatório sobre Flores e Plantas Ornamentais de Macapá pela Universidade Federal do Amapá (2020). Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia pela Rede BIONORTE - Universidade Federal do Pará / Museu Paraense Emílio Goeldi (2017). Mestrado em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Amapá (2010), Graduação em Licenciatura em Biologia pelo Centro Universitário do Pará (2007). Pesquisador - Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá, Desenvolve suas atividades no Herbário Amapaense (HAMAB) Núcleo de Biodiversidade do IEPA. Coordena o Laboratório de Taxonomia Vegetal (LABTAX) do IEPA. Tem experiência nas áreas de Botânica e Zoologia, com ênfase em Botânica, atuando principalmente nos seguintes temas: Taxonomia de Orchidaceae, Percepção Ambiental, Coleções Biológicas, Flores e Plantas Ornamentais e Fitoquímica com ênfase em quimiotaxonomia.
SOBRE OS ORGANIZADORES
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
221
A
Abieiro: 201
Alcaloides: 45, 49, 50, 51, 52, 73, 76, 83, 87, 97, 100, 105, 109, 119, 128, 143, 146, 147, 152, 158, 194, 195, 196, 203, 212, 218, 219
Alfavaca: 167
Algodão: 41
Artemia Salina: 15, 18, 19, 20, 21, 41, 44, 45, 50, 51, 55, 59, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 75, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 123, 126, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 170, 182, 184, 185, 186, 209, 211, 215, 217
Atividade Biológica: 15, 51, 105
B
Bioatividade: 167
Biodiversidade: 91, 115, 199
C
Caimbé: 189
Cinzas Totais: 105
Citotoxicidade: 79, 185
E
Ensaio Biológico: 41
Estudo Fitoquímico: 51, 66, 67, 76, 78, 91, 92, 96, 102, 104, 108, 111, 114, 119, 122, 127, 133, 134, 136, 137, 153, 163, 182, 185, 217
Extrato Bruto: 15
F
Farmacognósticas: 86, 201
Fitoquímico: 79, 87, 154, 185, 212, 213
G
Graviola: 209
H
Hortelã Pimenta: 123
L
Lamiaceae: 66, 70, 123, 125, 135, 168, 169, 174, 175, 184, 185, 186, 187
M
Metabólitos Secundários: 15, 41, 67, 91, 97, 115, 123, 135, 138, 188, 203, 209
Microbiológico: 79
Mikania Lindleyana: 78, 79, 80, 81, 86, 87, 89, 91
Moringaceae: 138, 139, 150, 151
O
Óleo Essencial: 62, 75, 77, 126, 134, 135, 155, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 185, 186, 187
P
Pedra: 67, 156
Planta Medicinal: 189
Plantas Medicinais: 15, 26, 30, 93, 112, 115, 134, 164, 184, 198, 199
Produtos Naturais: 209
Propriedades Fitoquímicas: 30
Propriedades Medicinais: 138
Prospecção Fitoquímica: 27, 52, 112, 201, 218
Pseudoxandra Cuspidata: 134, 153, 154, 156, 165
Q
ÍNDICE REMISSIVO
Plantas Medicinais do Estado do Amapá: dos relatos da população à pesquisa científica
222
Quimiotaxonomia: 167
S
Samambaia Paulista: 30
T
Toxicidade: 37, 41, 59, 71, 158, 211
Triagem Fitoquímica: 93, 199
V
Verônica: 93, 95