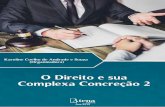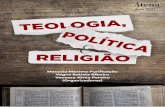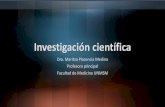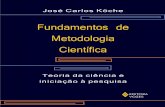Volume 2 - Editora Científica Di
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Volume 2 - Editora Científica Di
Copyright© 2021 por Editora Científica Digital Copyright da Edição © 2021 Editora Científica DigitalCopyright do Texto © 2021 Os Autores
EDITORA CIENTÍFICA DIGITAL LTDAGuarujá - São Paulo - Brasil
www.editoracientifica.org - [email protected]
Todo o conteúdo deste livro está licenciado sob uma Licença de Atribuição Creative Commons. Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).
Parecer e Revisão Por ParesOs textos que compõem esta obra foram submetidos para avaliação do Conselho Editorial da Editora Científica Digital, bem como revisados por pares, sendo indicados para a publicação.
O conteúdo dos capítulos e seus dados e sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores. É permitido o download e compartilhamento desta obra desde que no formato Acesso Livre (Open Access) com os créditos atribuídos aos respectivos autores, mas sem a possibilidade de alteração de nenhuma forma ou utilização para fins comerciais.
CORPO EDITORIAL
Direção EditorialR e i n a l d o C a r d o s oJ o ã o B a t i s t a Q u i n t e l aEditor CientíficoP r o f . D r . R o b s o n J o s é d e O l i v e i r aAssistentes EditoriaisE l i e l s o n R a m o s J r . E r i c k B r a g a F r e i r eB i a n c a M o r e i r aS a n d r a C a r d o s oBibliotecárioM a u r í c i o A m o r m i n o J ú n i o r - C R B 6 / 2 4 2 2JurídicoD r . A l a n d e l o n C a r d o s o L i m a - O A B / S P - 3 07 8 5 2
Robson José de OliveiraUniversidade Federal do Piauí, Brasil
Carlos Alberto Martins CordeiroUniversidade Federal do Pará, Brasil
Rogério de Melo GrilloUniversidade Estadual de Campinas, Brasil
Eloisa Rosotti NavarroUniversidade Federal de São Carlos, Brasil
Ernane Rosa MartinsInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Brasil
Rossano Sartori Dal MolinFSG Centro Universitário, Brasil
Carlos Alexandre OelkeUniversidade Federal do Pampa, Brasil
Domingos Bombo DamiãoUniversidade Agostinho Neto, Angola
Edilson Coelho SampaioUniversidade da Amazônia, Brasil
Elson Ferreira CostaUniversidade do Estado do Pará, Brasil
Reinaldo Eduardo da Silva SalesInstituto Federal do Pará, Brasil
Patrício Francisco da SilvaUniversidade CEUMA, Brasil
Auristela Correa CastroUniversidade Federal do Pará, Brasil
Dalízia Amaral CruzUniversidade Federal do Pará, Brasil
Susana Jorge FerreiraUniversidade de Évora, Portugal
Fabricio Gomes GonçalvesUniversidade Federal do Espírito Santo, Brasil
Erival Gonçalves PrataUniversidade Federal do Pará, Brasil
Gevair CamposFaculdade CNEC Unaí, Brasil
Flávio Aparecido de AlmeidaFaculdade Unida de Vitória, Brasil
Mauro Vinicius Dutra GirãoCentro Universitário Inta, Brasil
Clóvis Luciano GiacometUniversidade Federal do Amapá, Brasil
Giovanna MoraesUniversidade Federal de Uberlândia, Brasil
André Cutrim CarvalhoUniversidade Federal do Pará, Brasil
Dennis Soares LeiteUniversidade de São Paulo, Brasil
Silvani VerruckUniversidade Federal de Santa Catarina, Brasil
Osvaldo Contador JuniorFaculdade de Tecnologia de Jahu, Brasil
Claudia Maria Rinhel-SilvaUniversidade Paulista, Brasil
Silvana Lima VieiraUniversidade do Estado da Bahia, Brasil
Cristina Berger FadelUniversidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil
Graciete Barros SilvaUniversidade Estadual de Roraima, Brasil
CONSELHO EDITORIALMestres, Mestras, Doutores e Doutoras
CONSELHO EDITORIAL
Carlos Roberto de LimaUniversidade Federal de Campina Grande, Brasil
Wescley Viana EvangelistaUniversidade do Estado de Mato Grosso, Brasil
Cristiano MarinsUniversidade Federal Fluminense, Brasil
Marcelo da Fonseca Ferreira da SilvaEscola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, Brasil
Daniel Luciano GevehrFaculdades Integradas de Taquara, Brasil
Silvio Almeida JuniorUniversidade de Franca, Brasil
Juliana Campos PinheiroUniversidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil
Raimundo Nonato Ferreira do NascimentoUniversidade Federal do Piaui, Brasil
Antônio Marcos Mota MirandaInstituto Evandro Chagas, Brasil
Maria Cristina ZagoCentro Universitário UNIFAAT, Brasil
Samylla Maira Costa SiqueiraUniversidade Federal da Bahia, Brasil
Gloria Maria de FrancaUniversidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil
Carla da Silva SousaInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Brasil
Dennys Ramon de Melo Fernandes AlmeidaUniversidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil
Mário Celso Neves de AndradeUniversidade de São Paulo, Brasil
Julianno Pizzano AyoubUniversidade Estadual do Centro-Oeste, Brasil
Ricardo Pereira SepiniUniversidade Federal de São João Del-Rei, Brasil
Maria do Carmo de SousaUniversidade Federal de São Carlos, Brasil
Flávio Campos de MoraisUniversidade Federal de Pernambuco, Brasil
Jonatas Brito de Alencar NetoUniversidade Federal do Ceará, Brasil
Reginaldo da Silva SalesInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Brasil
Iramirton Figuerêdo MoreiraUniversidade Federal de Alagoas, Brasil
Moisés de Souza MendonçaInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Brasil
Bianca Anacleto Araújo de SousaUniversidade Federal Rural de Pernambuco, Brasil
Pedro Afonso CortezUniversidade Metodista de São Paulo, Brasil
Bianca Cerqueira MartinsUniversidade Federal do Acre, Brasil
Vitor Afonso HoeflichUniversidade Federal do Paraná, Brasil
Francisco de Sousa LimaInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Brasil
Sayonara Cotrim SabioniInstituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Baiano, Brasil
Thais Ranielle Souza de OliveiraCentro Universitário Euroamericano, Brasil
Cynthia Mafra Fonseca de LimaUniversidade Federal de Alagoas, Brasil
Marcos Reis GonçalvesCentro Universitário Tiradentes, Brasil
Rosemary Laís GalatiUniversidade Federal de Mato Grosso, Brasil
Maria Fernanda Soares QueirozUniversidade Federal de Mato Grosso, Brasil
CONSELHO EDITORIAL
Letícia Cunha da HungriaUniversidade Federal Rural da Amazônia, Brasil
Dioniso de Souza SampaioUniversidade Federal do Pará, Brasil
Leonardo Augusto Couto FinelliUniversidade Estadual de Montes Claros, Brasil
Danielly de Sousa NóbregaInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Brasil
Mauro Luiz Costa CampelloUniversidade Paulista, Brasil
Livia Fernandes dos SantosInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Brasil
Sonia Aparecida CabralSecretaria da Educação do Estado de São Paulo, Brasil
Camila de Moura Vog tUniversidade Federal do Pará, Brasil
José Martins Juliano EustáquioUniversidade de Uberaba, Brasil
Walmir Fernandes PereiraMiami University of Science and Technology, Estados Unidos da América
Liege Coutinho Goulart DornellasUniversidade Presidente Antônio Carlos, Brasil
Ticiano Azevedo BastosUniversidade Federal de Ouro Preto, Brasil
Jónata Ferreira De MouraUniversidade Federal do Maranhão, Brasil
Daniela Remião de MacedoFaculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Portugal
Francisco Carlos Alberto Fonteles HolandaUniversidade Federal do Pará, Brasil
Bruna Almeida da SilvaUniversidade do Estado do Pará, Brasil
Adriana Leite de AndradeUniversidade Católica de Petrópolis, Brasil
Clecia Simone Gonçalves Rosa PachecoInstituto Federal do Sertão Pernambucano, Brasil
Claudiomir da Silva SantosInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, Brasil
Fabrício dos Santos RitáInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, Brasil, Brasil
Ronei Aparecido BarbosaInstituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, Brasil
Julio Onésio Ferreira MeloUniversidade Federal de São João Del-Rei, Brasil
Juliano José CorbiUniversidade de São Paulo, Brasil
Alessandra de Souza MartinsUniversidade Estadual de Ponta Grossa, Brasil
Francisco Sérgio Lopes Vasconcelos FilhoUniversidade Federal do Cariri, Brasil
Thadeu Borges Souza SantosUniversidade do Estado da Bahia, Brasil
Francine Náthalie Ferraresi Rodriguess QueluzUniversidade São Francisco, Brasil
Maria Luzete Costa CavalcanteUniversidade Federal do Ceará, Brasil
Luciane Martins de Oliveira MatosFaculdade do Ensino Superior de Linhares, Brasil
Rosenery Pimentel NascimentoUniversidade Federal do Espírito Santo, Brasil
Lívia Silveira Duarte AquinoUniversidade Federal do Cariri, Brasil
Irlane Maia de OliveiraUniversidade Federal do Amazonas, Brasil
Xaene Maria Fernandes MendonçaUniversidade Federal do Pará, Brasil
CONSELHO EDITORIAL
Thaís de Oliveira Carvalho Granado SantosUniversidade Federal do Pará, Brasil
Fábio Ferreira de Carvalho JuniorFundação Getúlio Vargas, Brasil
Anderson Nunes LopesUniversidade Luterana do Brasil, Brasil
Iara Margolis RibeiroCentro Universitário Boa Viagem, Brasil
Carlos Alberto da SilvaUniversidade Federal do Ceara
Keila de Souza SilvaUniversidade Estadual de Maringá, Brasil
Francisco das Chagas Alves do NascimentoUniversidade Federal do Pará, Brasil
Réia Sí lvia Lemos da Costa e Silva GomesUniversidade Federal do Pará, Brasil
Priscyla Lima de AndradeCentro Universitário UniFBV, Brasil
Aleteia Hummes ThainesFaculdades Integradas de Taquara, Brasil
Darlindo Ferreira de LimaUniversidade Federal de Pernambuco, Brasil
Sílvia Raquel Santos de MoraisUniversidade Federal do Vale do São Francisco, Brasil
APRESENTAÇÃOEsta obra const i tu iu -se a par t i r de um processo co laborat i vo ent re pro fessores , es tudantes e pesqu isadores q u e s e d e s t a c a ra m e q u a l i f i c a ra m a s d i s c u s s õ e s n e s t e e s p a ç o f o r m at i v o . Re s u l t a , t a m b é m , d e m o v i m e n t o s i n t e r i n s t i t u c i o n a i s e d e a ç õ e s d e i n c e n t i v o à p e s q u i s a q u e c o n g r e g a m p e s q u i s a d o r e s d a s m a i s d i v e r s a s á r e a s d o c o n h e c i m e n t o e d e d i f e r e n t e s I n s t i t u i ç õ e s d e E d u c a ç ã o S u p e r i o r p ú b l i c a s e p r i v a d a s d e a b r a n gê n c i a n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l . Te m c o m o o b j e t i v o i n t e g r a r a ç õ e s i n t e r i n s t i t u c i o n a i s n a c i o n a i s e i n t e r n a c i o n a i s c o m r e d e s d e p e s q u i s a q u e t e n h a m a f i n a l i d a d e d e f o m e n t a r a f o r m a ç ã o c o n t i n u a d a d o s p r o f i s s i o n a i s d a e d u c a ç ã o , p o r m e i o d a p r o d u ç ã o e s o c i a l i z a ç ã o d e c o n h e c i m e n t o s d a s d i v e r s a s á r e a s d o S a b e r e s .A g ra d e c e m o s a o s a u t o re s p e l o e m p e n h o , d i s p o n i b i l i d a d e e d e d i c a ç ã o p a ra o d e s e n v o l v i m e n t o e c o n c l u s ã o d e s s a o b ra . Es p e ra m o s t a m b é m q u e e s t a o b ra s i r v a d e i n s t r u m e n t o d i d á t i c o - p e d a gó g i c o p a ra e s t u d a n t e s , p r o f e s s o r e s d o s d i v e r s o s n í v e i s d e e n s i n o e m s e u s t r a b a l h o s e d e m a i s i n t e r e s s a d o s p e l a t e m á t i c a . D e s e j o à v o c ê u m a ex c e l e n t e l e i t u r a . Robson José de Oliveira
SUMÁRIOCAPÍTULO 01
A EDUCAÇÃO NOS ASSENTAMENTOS RURAIS DA MICRORREGIÃO DE ANDRADINA
Francislene Andréia Berti Rossi; Karem Cristine Pirola Narimatsu; Patrícia Farias da Silva; Camila Regina Silva Baleroni Recco
DOI: 10.37885/210404075..................................................................................................................................................................................16
CAPÍTULO 02A PRODUÇÃO DE RIQUEZA (E MISÉRIA) DO TRABALHO RURAL: UMA INVESTIGAÇÃO NO SETOR PRODUTIVO DA SOJA EM URUÇUÍ-PIFrancisco Eduardo de Oliveira Cunha; Sérgio Gonçalves dos Santos Júnior
DOI: 10.37885/210303857 ................................................................................................................................................................................. 26
CAPÍTULO 03ADUBAÇÃO VERDE COM CROTALÁRIA JUNCEA EM ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO OU REFORMA DE CANAVIAIS, EM PEQUENAS PROPRIEDADES RURAISMauro Wagner de Oliveira; Christiano Nascif; Terezinha Bezerra Albino Oliveira; Thiago Camacho Rodrigues; Wesley Oliveira de Assis;
Dalmo de Freitas Santos; Sara Camylla de Souza Moura
DOI: 10.37885/201102246 ..................................................................................................................................................................................45
CAPÍTULO 04AGRICULTURA CAMPONESA E MULTIFUNCIONALIDADE: MUITO ALÉM DA PRODUÇÃO
Carmem Rejane Pacheco-Porto; Júlia Graziela Puntel; Darwin Aranda Chuquillanque
DOI: 10.37885/210303896 .................................................................................................................................................................................67
CAPÍTULO 05AGRICULTURA FAMILIAR E O IMPACTO DO COVID-19 AOS PROGRAMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS - PNAE E PAA
Alcione Lino de Araújo; Maria Helene Giovanetti Canteri; Juliana Vitória Messias Bittencourt
DOI: 10.37885/210303576 ..................................................................................................................................................................................81
SUMÁRIOCAPÍTULO 06
AVALIAÇÃO DO ACESSO DE PRODUTORES RURAIS À POLÍTICAS PÚBLICAS: UM ESTUDO DE CASO NO ASSENTAMENTO PAULO FONTELES, EM MOSQUEIRO-PA
João Victor da Silva Pinheiro de Nazaré; Érica Coutinho David; André Gustavo Campinas Pereira; Josiene Amanda dos Santos Viana; Raimara Reis do Rosário; Treyce Stephane Cristo Tavares; Leonardo Souza Duarte; Suelen Melo de Oliveira; Leonardo Nascimento dos Santos Junior; Márcia Nazaré Rodrigues Barros
DOI: 10.37885/210303938 .............................................................................................................................................................................. 104
CAPÍTULO 07BANCO DE SEMENTES DE PLANTAS DANINHAS EM DIFERENTES SISTEMAS PRODUTIVOSLeilisâgela Lemes; Ana Caroline Araújo; Emerson Trogello; José Carlos Caetano Reis; Bruna Borges Silva
DOI: 10.37885/210303955 ............................................................................................................................................................................... 115
CAPÍTULO 08BIOMASSA MICROBIANA E CARBONO ORGÂNICO DO SOLO SOB DIFERENTES MANEJOS E SUCESSÃO DE CULTURASMarcos Gomes de Siqueira; Elaine Cosma Fiorelli; Weverton Peroni Santos; Caio Bastos Machado; Weliton Peroni Santos; Aline Silva Vieira; Sirlene Pereira de Souza; Jairo André Schlindwein
DOI: 10.37885/210303685 .............................................................................................................................................................................. 126
CAPÍTULO 09CARACTERIZAÇÃO DOS FEIRANTES E PERCEPÇÕES DOS CONSUMIDORES SOBRE A FEIRA LIVRE DE SÃO LOURENÇO DO SUL - RS
Carmem Rejane Pacheco-Porto; Darwin Aranda Chuquillanque
DOI: 10.37885/210303892 .............................................................................................................................................................................. 139
CAPÍTULO 10CARBONO ORGÂNICO DO SOLO E COMPONENTES DE PRODUÇÃO DO MILHO SOB MANEJOS DO SOLO E SUCESSÃO DE CULTURAS NA AMAZÔNIA OCIDENTAL
Caio Bastos Machado; Elaine Cosma Fiorelli; Weverton Peroni Santos; Marcos Gomes De Siqueira; Weliton Peroni Santos; Aline Silva
Vieira; Sirlene Pereira de Souza; Alaerto Luiz Marcolan
DOI: 10.37885/210303682 ...............................................................................................................................................................................154
SUMÁRIOCAPÍTULO 11
DESEMPENHO PRODUTIVO DE CULTIVARES DE AMENDOIM NO MUNICÍPIO URUÇUÍ-PIMarlei Rosa dos Santos; Rubenalto da Silva Almeida; Romário da Silva Moreira; Ronildo Almeida de Sousa; Maria Felix Gomes Guimarães; Francisco de Assis Gomes Junior; Tamara Santos Ferreira de Farias; Chesliane de Freitas Moreira; Thainara Moura Cardoso; Laércio Gomes Carreiro
DOI: 10.37885/210304050 .............................................................................................................................................................................. 169
CAPÍTULO 12DIAGNOSE FOLIAR DE NITROGÊNIO EM CULTIVARES DE CANA-DE-AÇÚCAR SOB IRRIGAÇÃO SUBTERRÂNEA: FOLHA +1 E +3
Thayane Leonel Alves; José de Arruda Barbosa; Alexandre Barcellos Dalri; Evandro Freire Lemos; Jonathan dos Santos Viana; Antônio Michael Pereira Bertino
DOI: 10.37885/210102938 ............................................................................................................................................................................... 182
CAPÍTULO 13DIAGNOSE FOLIAR DE POTÁSSIO EM CULTIVARES DE CANA-DE-AÇÚCAR SOB IRRIGAÇÃO SUBTERRÂNEA: FOLHA +1 E +3Thayane Leonel Alves; José de Arruda Barbosa; Evandro Freire Lemos; Alexandre Barcellos Dalri; Antônio Michael Pereira Bertino; Jonathan dos Santos Viana
DOI: 10.37885/210102939 ............................................................................................................................................................................... 189
CAPÍTULO 14DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA CONHECIDA E POTENCIAL DE MELIPONA QUADRIFASCIATALuana Gaspar do Nascimento Lopes; Vitor Araujo Lima; Ary Gomes da Silva
DOI: 10.37885/201202481 ................................................................................................................................................................................197
CAPÍTULO 15ESTUDO COMPARATIVO ENTRE CONHECIMENTO POPULAR E CIENTÍFICO DE PLANTAS MEDICINAIS DE ESPÉCIES DA FAMÍLIA FABACEAE
Mateus Santana Rodrigues; Raquel Giselli Assis do Rosário; Marcela Vieira da Costa; Ellem Suane Ferreira Alves; Maria
Auxiliadora Feio Gomes
DOI: 10.37885/210404082 ..............................................................................................................................................................................206
SUMÁRIOCAPÍTULO 16
EXAME ANDROLÓGICO EM ANIMAIS DE PRODUÇÃO E COMPANHIA PARA COMUNIDADE EXTERNAJoão Victor da Silva Teodoro; Geisiana Barbosa Gonçalves; Wesley José de Souza; Daniel de Almeida Rabello; Daniele Alves Corrêa de Abreu; Nathallia Almeida Pires; Andressa Silva Nascimento; Gustavo Gonçalves Ribeiro; Yuri Faria Carneiro; Luís Fernando Martins MendesDOI: 10.37885/210303922 ...............................................................................................................................................................................213
CAPÍTULO 17EXTRATOS DE PLANTAS BIOATIVAS COMO ALTERNATIVA PARA O CONTROLE DA MOSCA BRANCA NA CULTURA DO TOMATEIRO
Mateus Finkler; Carlo Juliantro Giehl; Ana Silvia Rolon; Nathalia de Oliveira Telesca Camargo; Eduardo Guatimosim
DOI: 10.37885/210303468 ..............................................................................................................................................................................222
CAPÍTULO 18GEOTÉCNICAS APLICADAS À AUDITORIA E PERÍCIA AMBIENTAL
Esther Saraiva Carvalho de Souza; Gabriella da Silva França; Rayza Mariane da Silva França
DOI: 10.37885/210102843 ...............................................................................................................................................................................236
CAPÍTULO 19GESTÃO SOCIAL, PEQUENA PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PEQUENO PROPRIETÁRIO NA PRODUÇÃO DE BOVINOS DE CORTE
Argileu Martins da Silva; Éverton A. de Paiva Ferreira; José Alberto de A. Pires; Tania Guimarães Rabello Conceição
DOI: 10.37885/210203394 ..............................................................................................................................................................................244
CAPÍTULO 20IDENTIFICAÇÃO DE PATÓGENOS CAUSADORES DE PODRIDÃO MOLE EM BATATA
Wallace Veríssimo Nascimento; Helena Beatriz da Silva Mota; Nadson de Carvalho Ponte; Miriam Fumiko Fujinawa; Jaqueline Kiyomi Yamada; Clarice Aparecida MegguerDOI: 10.37885/210303872 ...............................................................................................................................................................................256
SUMÁRIOCAPÍTULO 21
MEJORAMIENTO GENÉTICO PARTICIPATIVO: HERRAMIENTAS PARA UNA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE MAÍZ CRIOLLO (ZEA MAYS L.) EN YUCATÁNJacques Fils Pierre
DOI: 10.37885/210303595 ..............................................................................................................................................................................262
CAPÍTULO 22PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E DE CRESCIMENTO DA CANA-DE-AÇÚCAR SOB IRRIGAÇÃO PARCIAL E PLENA, SUBMETIDA A DIFERENTES NÍVEIS DE SALINIDADE
Francisco de Assis Gomes Junior; Lilia Gomes Willadino; Clarice Souza Moura; Bruno Laercio da Silva Pereira; Marlei Rosa dos Santos
DOI: 10.37885/210303829 .............................................................................................................................................................................. 276
CAPÍTULO 23POTENCIAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE PIMENTAS IN NATURA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DO PARÁ
André Gustavo Campinas Pereira; Letícia Cunha da Hungria; Raimara Reis do Rosário; Érica Coutinho David; João Victor da Silva Pinheiro de Nazaré; Lourivan Carneiro de Souza; Mário Sergio de Lima Sousa; Márcia Nazaré Rodrigues Barros; Josiene Amanda dos Santos Viana; Danielle do Socorro Nunes CampinasDOI: 10.37885/210303631 ...............................................................................................................................................................................290
CAPÍTULO 24PRODUÇÃO HIDROPÔNICA DE MUDAS DE HORTALIÇAS/FRUTÍFERAS E FLORESTAIS
João Batista Medeiros Silva
DOI: 10.37885/210303573 ............................................................................................................................................................................... 301
CAPÍTULO 25QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES E DESEMPENHO AGRONÔMICO DE CULTIVARES DE ALFACE DO GRUPO CRESPA
Marlei Rosa dos Santos; Wilson Ribeiro dos Santos Neto; Ana Paula da Silva Santos; Ewerton Gasparetto da Silva; Evandreyce Ferreira Andrade; Francisco de Assis Gomes Junior; Tamara Santos Ferreira de FariaDOI: 10.37885/210303949 ............................................................................................................................................................................... 311
SUMÁRIOCAPÍTULO 26
USO DE RESÍDUOS TÊXTEIS COMO ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL PARA A IRRIGAÇÃO SUBTERRÂNEA POR CAPILARIDADE NO SEMIÁRIDO BRASILEIRONicéa Ribeiro do Nascimento; Francisco Fechine Borges; Luísa Rita Brites Sanches Salvado
DOI: 10.37885/210303962 ..............................................................................................................................................................................332
SOBRE O ORGANIZADOR ....................................................................................................................................363
ÍNDICE REMISSIVO .............................................................................................................................................364
01A educação nos assentamentos rurais da microrregião de Andradina
Francislene Andréia Berti Rossi
Karem Cristine Pirola Narimatsu
Patrícia Farias da Silva
Camila Regina Silva Baleroni Recco
10.37885/210404075
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
17
Palavras-chave: Escola Rural, Movimentos Sociais, Práticas Pedagógicas.
RESUMO
O objetivo do trabalho foi investigar a importância da educação nos Assentamentos Rurais da Microrregião de Andradina e analisar os programas oferecidos pelo governo e as dificuldades dos assentados ao seu acesso. Aplicou-se 20 questionários para famílias de 12 Assentamentos. O trabalho foi documentado por meio de tabela e gráficos. O ní-vel de escolaridade das mães é superior ao nível de escolaridade dos pais. As famílias são constituídas com pais na faixa etária de 40 – 50 anos e mães na faixa etária de 30 – 40 anos. A maioria das escolas dos Assentamentos oferecem apenas o Ensino Fundamental I. Dos 12 Assentamentos, 7 não oferecem transporte escolar. Há ofereci-mentos de cursos de capacitações da área do agronegócio, entretanto, é pouco o inte-resse por parte da comunidade assentada na participação dos mesmos. Grande parte dos responsáveis pelos lotes possuem ensino fundamental ou ensino médio incompleto e as escolas existentes nos Assentamentos não oferecem cursos como o EJA, que se constitui numa chance para os assentados que, por qualquer motivo, não concluíram o ensino na idade apropriada. Há cursos de capacitação da área de agronegócio ofere-cidos pelos órgãos dos governos, porém é pouco o interesse por parte dos assentados em participar dos mesmos.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
18
INTRODUÇÃO
A política de reforma agrária possibilitou o desenvolvimento do agronegócio no Brasil e fortaleceu a agricultura familiar. Os Projetos de Assentamentos surgiram após a implantação da política de reforma agrária no Brasil.
A Microrregião de Andradina, onde a questão agrária se faz presente, é fortemente marcada pela presença de assentamentos rurais, ocorrendo a partir da década de 1980 a implantação de um razoável número de assentamentos rurais (OLIVEIRA, 2014).
Localizada no Noroeste Paulista, a Microrregião de Andradina, pertence à Mesorregião de Araçatuba e é constituída por 11 municípios: Andradina, Castilho, Guaraçaí, Ilha Solteira, Itapura, Mirandópolis, Murutinga do Sul, Nova Independência, Pereira Barreto, Sud Menucci e Suzanápolis (MORAES et al., 2013).
De acordo com dados do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) o número de assentamentos rurais nesses municípios são: Andradina (5), Castilho (10), Guaraçaí (5), Ilha Solteira (2), Itapura (3), Mirandópolis (3), Murutinga do Sul (3), Nova Independência (1), Pereira Barreto (5) e Suzanápolis (1).
Conforme SANT’ANA e TARSITANO (2009) a grande maioria dos casos, a criação dos assentamentos significou uma melhoria das condições de vida das famílias (alimentação, moradia, auto-estima) e foi importante para os municípios onde estes se instalaram, mas há sérios problemas em termos de ação operacional do governo.
Nesse contexto, melhoria das condições de educação da população deve também ser considerada parte fundamental do processo de desenvolvimento.
De acordo com SCARPIM e SLOMSKI (2007) o progresso de um país ou município não pode ser mensurado só pelo dinheiro que as pessoas possuem, mas também pela sua saúde, a qualidade dos serviços médicos e a educação que devem ser consideradas não só pela disponibilidade, mas pela qualidade.
A educação do campo é considerada aquela que atende as especificidades rurais e oferece uma educação de qualidade, adequada ao modo de viver, pensar e produzir das populações identificadas com o campo. Essa noção ganhou força a partir da instituição das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (Resolução CNE/CEB nº 1, de 03/04/2002) pelo Conselho Nacional de Educação. Os dados de instituições federais de pesquisa apontam grande divergência entre os indicadores educacionais do campo e das cidades, com clara desvantagem para as primeiras. Assim é reconhecido que as pessoas que vivem no campo têm direito a uma educação diferenciada daquela oferecida nas cidades, extrapolando a noção de espaço geográfico e compreendendo tam-bém as necessidades culturais, os direitos sociais e a formação integral desses indivíduos (HENRIQUES et al., 2007).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
18 19
A educação do campo foi pensada em contraponto à visão de camponês e de rural como se fossem sinônimo de arcaico e atrasado. Esta educação considera e valoriza os conhecimentos da prática social dos camponeses como sendo um lugar para construção de novas possibilidades de reprodução social, de desenvolvimento sustentável e ainda enfa-tiza o campo como lugar de trabalho, moradia, lazer, sociabilidade e identidade dos atores sociais (SOUZA, 2008).
A educação rural está longe de ser adequada e eficiente para o contexto no qual se insere. Isso porque o rural e sua população ainda continuam sendo vistos como um mundo à parte, fora do comum, ou seja, fora dos parâmetros definidos pela representação urbana (OLIVEIRA e BASTOS, 2004).
Quando se fala de qualidade educacional no meio rural os problemas são muito mais preocupantes do que no meio urbano, apesar de existirem iniciativas por parte de órgãos governamentais, no sentido de se criarem programas educacionais que beneficiem produto-res rurais dos assentamentos, não se verifica a participação de uma quantidade satisfatória.
Na literatura há inúmeros trabalhos que relatam a situação econômica dos assentados da Microrregião de Andradina, entretanto pouquíssimos são os que apresentam informações referentes à educação.
Nesse sentido, este projeto buscou investigar a importância da educação nos assenta-mentos rurais da Microrregião de Andradina, ampliando conhecimentos sobre este assunto, bem como analisar os programas oferecidos pelo governo e as dificuldades dos produtores rurais aos seus acessos.
A pesquisa de campo foi utilizada para extrair dados e informações sobre a educação do campo diretamente da realidade da população dos assentamentos da Microrregião de Andradina por meio visitas e aplicação de questionários, no período de Maio a Agosto de 2017.
A amostragem proposta para entrevista foi composta por um universo de 20 famílias assentadas determinada a partir do cadastro do Incra (Instituto de Colonização e Reforma Agrária) e Itesp (Instituto de Terras do Estado de São Paulo) da Regional de Andradina.
O trabalho englobou 12 Assentamentos pertencentes à Microrregião de Andradina.A tabulação dos dados apresentou a percepção dos assentados sobre a educação e
o trabalho foi documentado com por meio de gráficos e tabela.Nos gráficos foram demonstrados a idade e o nível de escolaridade dos responsáveis
pelo lote, a existência ou não de escolas nos Assentamentos, o oferecimento de transporte através da Prefeitura Municipal do Assentamento para o Município e a participação dos responsáveis pelo lote em capacitações.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
20
REFERENCIAL TEÓRICO
Esta pesquisa contribuiu na construção de uma chave metodológica para interpretação do percurso e da situação atual da educação do campo dos assentados da Microrregião de Andradina, um fenômeno da realidade educacional brasileira, que tem os camponeses como principais protagonistas.
O reconhecimento de que as pessoas que vivem no campo têm direito a uma educação diferenciada daquela oferecida a quem vive nas cidades é recente e inovador, e ganhou força a partir da instituição, pelo Conselho Nacional de Educação, das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (HENRIQUES et al., 2007).
A educação do campo tem conquistado lugar na agenda política nas instâncias muni-cipal, estadual e federal nos últimos anos. Fruto das demandas dos movimentos e organiza-ções sociais dos trabalhadores rurais, a educação do campo expressa uma nova concepção quanto ao campo, o camponês ou o trabalhador rural, fortalecendo o caráter de classe nas lutas em torno da educação (SOUZA, 2008).
Segundo KOLLING et al. (2002) o campo existe e é legítima a luta por políticas públi-cas específicas e por um projeto educativo próprio para quem vive nele: no campo estão milhões de pessoas desde a infância até a terceira idade; o povo do campo têm uma raiz própria, um jeito de viver e de trabalhar distinta do mundo urbano, bem como de viver e de organizar a família, a comunidade, o trabalho e a educação.
Ainda de acordo com os autores, há graves problemas na educação no campo: faltam escolas para atender a população; infraestrutura, docentes qualificados; política de valoriza-ção do magistério e apoio às iniciativas de renovação pedagógica, além de elevado índice de analfabetismo.
Deste modo, esta pesquisa permitiu levantar dados sobre a temática e a comunidade investigada, em que serão identificados alguns impasses e desafios principais da educa-ção do campo na atualidade nesta Microrregião, caracterizada pela presença de inúmeros assentamentos rurais, relacionando-os ao momento atual de crise mundial do capitalismo.
RESULTADOS
As visitas permitiram um levantamento de dados através do contato com a comu-nidade assentada.
A realização das entrevistas resultou em um diagnóstico dos assentamentos que apontaram os principais desafios e oportunidades que permeiam a importância da educa-ção no meio rural.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
20 21
A tabela 1 refere-se aos Assentamentos pertencentes à Microrregião de Andradina englobados na pesquisa.
Tabela 1. Assentamentos pertencentes à Microrregião de Andradina englobados na pesquisa.
Nome do Assentamento Cidade
Arizona Andradina
Esperança de Luz Castilho
Frei Pedro Pereira Barreto
Orlando Molina Murutinga do Sul
Pendengo Castilho
Pousada Alegre Nova Independência
Santa Cristina Murutinga do Sul
São José Guaraçaí
Timboré Andradina
Tremembé Castilho
Três Barras Castilho
Foram aplicados 4 questionários no Assentamento Pendengo em Castilho; 3 questioná-rios nos Assentamentos Timboré em Andradina; 2 questionários nos Assentamentos Arizona em Andradina, Orlando Molina em Murutinga do Sul e Tremembé em Castilho; 1 questio-nário nos Assentamentos Esperança de Luz em Castilho, Estrela da Ilha em Ilha Solteira, Frei Pedro em Pereira Barreto, Pousada Alegre em Nova Independência, Três Barras em Castilho, Santa Cristina em Murutinga do Sul e São José em Guaraçai.
A figura 1 refere-se ao nível de escolaridade dos responsáveis pelo lote.
Figura 1. Nível de escolaridade dos responsáveis pelo lote.
Fonte: Dados da pesquisa.
Observa-se que em relação aos pais ou padrastos, nenhum possui ensino fundamental completo, ensino técnico ou ensino superior completo; 1 é analfabeto; 2 possuem ensino médio incompleto e 3 possuem ensino médio completo. A maioria dos pais (12) possuem ensino fundamental incompleto.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
22
Quanto às mães, nenhuma é analfabeta ou possui ensino superior completo; 1 possui ensino técnico; 3 possuem ensino fundamental completo; 4 possuem ensino fundamental in-completo e ensino médio incompleto. A maioria das mães (8) possuem ensino médio completo.
O nível de escolaridade das mães é superior ao nível de escolaridade dos pais.A figura 2 refere-se à idade dos responsáveis pelo lote.
Figura 2. Nível de escolaridade dos responsáveis pelo lote.
Fonte: Dados da pesquisa.
A amostragem realizada nos Assentamentos da Microrregião de Andradina na pesquisa indicam que as famílias são constituídas com os pais na faixa etária de 40 – 50 anos e com as mães na faixa etária de 30 – 40 anos.
Durante as aplicações dos questionários foi constatado que nas escolas Assentamentos não são oferecidos cursos de EJA (Educação de Jovens e Adultos). Observou-se que 1 pai possui ensino médio completo realizado por meio do EJA, em Nova Independência.
A figura 3 refere-se à existência de escolas nos Assentamentos.
Figura 3. Existência de escolas nos Assentamentos.
Fonte: Dados da pesquisa.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
22 23
Verifica-se que a maioria dos Assentamentos não possuem escolas. Apenas 1 Assentamento (Três Barras em Castilho) possui escola que oferece ensino fundamental II, os demais, apenas ensino fundamental I. Em nenhuma escola é oferecido o EJA.
A figura 4 refere-se ao oferecimento de transporte através da Prefeitura Municipal do Assentamento para o Município.
Figura 4. Oferecimento de transporte através da Prefeitura Municipal do Assentamento para o Município.
Fonte: Dados da pesquisa.
Dos 12 Assentamentos, 7 não possuem meio de transporte da zona rural para a zona urbana, entretanto, durante a aplicação do questionário, foi possível observar que todas as famílias possuem meios de transportes próprios (carro ou moto).
A figura 5 refere-se à participação dos responsáveis pelo lote nas capacitações ofe-recidas, principalmente pelo INCRA e SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).
Figura 5. Participação dos responsáveis pelo lote em capacitações.
Fonte: Dados da pesquisa.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
24
A maioria das capacitações são oferecidas pelo INCRA e SENAR. Dentre os cursos citados, estão o de panificação, artesanato, inseminação artificial, derivados do leite, doma racional, produção de humus, produção de sabão caseiro, apicultura, olericultura (produção orgânica de hortaliças), e floricultura (orquídeas).
Durante a aplicação dos questionários constatou-se que a falta de interesse pela par-ticipação nos cursos de capacitações.
Em todos os Assentamentos há algum tipo de instalação (galpão, barracão ou a pró-pria sede) para reuniões com membros dos órgãos de assistência técnica e extensão rural (INCRA e ITESP) e associações e realização de cursos.
É interessante ressaltar que o INCRA desenvolvia um bom trabalho de assistência téc-nica nos Assentamentos da Microrregião de Andradina, por meio da COATER (Cooperativa de Trabalho e Assessoria Técnica e Extensão Rural), porém se encontra em período de transição entre uma chamada pública e outra, com previsão de retorno em 2018. A matriz dessa cooperativa situa-se em Paraguaçu Paulista e atuava, juntamente com o INCRA em Andradina, há 5 anos.
Das famílias avaliadas, a maioria dos filhos já fizeram ou estão cursando o Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, na Modalidade Alternância. Esse curso é específico para os filhos dos assentados ou pequenos produtores rurais, que permanecem uma semana na escola (sessão família) e uma semana no lote (semana do meio sócio pro-fissional). Nessa semana o aluno desenvolve as atividades que aprendeu na escola no lote.
Porém, são raros os casos em que os filhos que cursaram o ensino técnico permane-ceram no lote, preferindo trabalhar em empresas da região.
Em 4 famílias, os filhos cursam ensino superior em Zootecnia na Unesp de Ilha Solteira (1 no Assentamento Arizona em Andradina) e Agronomia na Fundação Educacional de Andradina (2 no Assentamento Pendengo em Andradina e 1 no Assentamento Santa Cristina em Murutinga do Sul). A faculdade privada de Andradina oferece bolsas de estudos para esses alunos, facilitando o acesso dos jovens ao ensino superior.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Grande parte dos responsáveis pelos lotes possuem ensino fundamental ou ensino médio incompleto e as escolas existentes nos Assentamentos não oferecem cursos como o EJA, que se constitui numa chance para os assentados que, por qualquer motivo, não concluíram o ensino fundamental e/ou o médio na idade apropriada, dando oportunidades educacionais adequadas em relação a seus interesses, condições de vida e de trabalho.
Há cursos de capacitação da área de agronegócio oferecidos pelos órgãos dos gover-nos, porém é pouco o interesse por parte dos assentados em participar dos mesmos.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
24 25
REFERÊNCIAS
1. HENRIQUES, R. et al. Educação do campo: diferenças mudando paradigmas. Cadernos Secad (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade), Brasília, n.2, 81p, 2007.
2. KOLLING, E.J.; CERIOLI, P.R.; CALDART, R.S. Educação do campo: identidade e políticas públicas. Brasília, 92p., 2002 (Coleção por uma educação no campo, 4).
3. OLIVEIRA, T.; BASTOS, V.A. A proposta de educação do campo das escolas rurais de Ara-raquara –SP: destaque na construção da qualidade de vida. Retratos de Assentamentos, Araraquara, n.9, p.147‐166, 2004.
4. OLIVEIRA, T.; BASTOS, V.A. A proposta de educação do campo das escolas rurais de Ara-raquara –SP: destaque na construção da qualidade de vida. Retratos de Assentamentos, Araraquara, n.9, p.147‐166, 2004.
5. MORAES, M.D. et al. Política nacional de assistência técnica e extensão rural e o caso da Microrregião de Andradina-SP. Retratos de Assentamentos, Araraquara, v.16, n.2, 2013.
6. SANT’ANA, A.L.; TARSITANO, M.A.A. Tipificação das famílias de oito assentamentos rurais da região de Andradina (SP), com base em diferentes estratégias de produção e comercialização. Revista Economia e Sociologia Rural, Brasília, v.47, n. 3, p.615-636, 2009.
7. SCARPIM, J.E.; SLOMSKI, V. Estudo dos fatores condicionantes do índice de desenvolvimento humano nos municípios do estado do Paraná: instrumento de controladoria para a tomada de decisões na gestão governamental. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v.41, n.5, p.909-933, 2007.
8. SOUZA, M.A. Educação do campo: políticas, práticas pedagógicas e produção científica. Educação & Sociedade, Campinas, v.29, n.105, p.1089-1111, 2008.
02A produção de riqueza (e miséria) do trabalho rural: Uma investigação no setor produtivo da soja em Uruçuí-PI
Francisco Eduardo de Oliveira CunhaUFPI
Sérgio Gonçalves dos Santos JúniorUFPI/UFPA
10.37885/210303857
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
27
Palavras-chave: Agronegócio, Economia Piauiense, Trabalhador Rural, Superexploração da Força de Trabalho.
RESUMO
A expansão do agronegócio no cerrado piauiense ocorre de forma intensa e voraz, alte-rando a velocidade de interação do ser humano com a natureza, desrespeitando o tempo biológico desta, ajustando-a à impaciência da reprodução do capital. Com efeito, severas são as implicações sobre o trabalhador e os recursos naturais. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo elucidar a categoria superexploração da força de trabalho rural no setor produtivo da soja em Uruçuí-PI, com vistas a provocar reflexões acerca da realidade recente da força de trabalho rural piauiense, no intuito de compreender o seu papel na dinâmica produtiva da economia global e suas implicações no mercado de trabalho nacional e mundial. Tem-se como método de investigação e análise a Teoria Marxista da Dependência, buscando se investigar nas relações sócio produtivas estabe-lecidas pelo agronegócio, a categoria da superexploração da força de trabalho, desen-volvida por Ruy Mauro Marini. Como resultado, o estudo evidenciará o caráter dialético do capital agrário piauiense, onde os trabalhadores rurais produzem riquezas “alheias” e se apropriam tão somente de suas misérias, evidenciando, portanto, a tese de Marini.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
28
INTRODUÇÃO
O sociometabolismo1 do capital, na sua incessante necessidade de auto ampliação, adota em seus métodos e relações sócio produtivas, constantes encurtamentos de tempos de produção que se distanciam dos socialmente estabelecidos. Dito isto, é razoável admitir que a penetração do capitalismo na agricultura ocorra de forma intensa e voraz, numa pers-pectiva de alterar a velocidade de interação do ser humano com a natureza (e transformação dela), consequentemente, desrespeitando o seu tempo biológico, ajustando-a à impaciência da reprodução do capital e que concorre para as mais espúrias implicações, não somente sobre o ser trabalhador rural, mas também sobre os recursos naturais.
Diante disso, Marx (1999, p. 571) já denunciava que “todo progresso da agricultura capitalista significa progresso na arte de despojar não só o trabalhador, mas também o solo”. Com isso, o referido filósofo e crítico social, evidencia que na produção capitalista, sobretudo a agrícola, somente se desenvolve sua base técnica e produtiva, exaurindo necessariamen-te as fontes originais de toda a riqueza produzida, a terra e o trabalhador (MARX, 1999, p. 571). Por isso, a produção capitalista deve se movimentar, e se expandir, e se ultrapassar em suas fronteiras espaciais.
Compreende-se que dentro dessa lógica de valorização e concorrência do capital no espaço agrário, é mister que os sujeitos rurais, sobretudo o pequeno produtor da agricultura familiar, migre de uma condição de produtor autônomo e independente (essencialmente cria-dor de valores-de-uso) para o status de trabalhador rural assalariado, tornando-se, portanto, enquanto força de trabalho, uma mera mercadoria ou simples objeto de posse do capitalista. Desta forma, ter ciência deste processo de transição que perpassa desde a alienação do trabalhador rural aos seus principais meios de produção (a terra) até seu assalariamento e demais implicações sociais do capitalismo no campo, se torna essencial para a compreensão da manutenção da dependência e do subdesenvolvimento rural, especificamente na região do cerrado piauiense.
Portanto, no capitalismo, elucida-se que enquanto sociedade essencialmente produ-tora de mercadorias, a mercadoria força de trabalho se apresenta como elemento central e que condiciona a própria existência do modo de produção hegemônico. O trabalho humano, dessa forma, é inquestionavelmente o elemento fundamental, imprescindível à produção de riquezas no capitalismo. Sem ele, inexiste capitalismo.
A partir desta breve discussão ora apresentada, acredita-se que a reprodução da mer-cadoria força de trabalho, que se confunde com a reprodução das condições materiais de
1 Expressão difundida pelo filósofo húngaro István Mészáros, na qual, podemos compreender o capitalismo como uma estrutura totalizante de organização, cujos elementos constitutivos – capital, trabalho e Estado – se relacionam e interdependem entre si, na analogia de um organismo vivo (metabolismo social). Depreende-se, portanto, que o capitalismo assume essa capacidade de mi-metismo, que o condiciona enquanto modo de produção em constante transformação e adaptação, com vistas a superar sua lógica essencialmente contraditória e autodestrutiva.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
28 29
existência do ser humano que oferta tal mercadoria, é tema central desta análise, principal-mente quando se investigam as regiões periféricas do capitalismo, as quais se escancara a característica peculiar destas quando cotejadas as de capitalismo avançado, que é a superexploração da mercadoria força de trabalho.
Diante do exposto, o presente trabalho tem como principal objetivo elucidar a categoria superexploração da força de trabalho rural no setor produtivo da soja em Uruçuí-PI, no atual século, com vistas a provocar reflexões acerca da realidade recente da força de trabalho assalariado rural piauiense, no intuito de compreender o papel desse trabalhador na dinâ-mica produtiva da economia global e quais as implicações no mercado de trabalho nacional e mundial, culminando na determinação (e transferências) das taxas de mais-valia relativa, sobretudo nas áreas mais industrializadas do sistema mundo do capital.
No intuito de se investigar e compreender a relação entre o capital e a força de trabalho rural piauiense, neste trabalho se fará uso de dados secundários coletados no Ministério da Economia, na base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), submetendo-os a um tratamento ana-lítico orientado pela Teoria Marxista da Dependência, desenvolvida por autores como Ruy Mauro Marini, Theotônio dos Santos, André Gunder Frank, Vânia Bambirra, entre outros. Para tanto, buscar-se-á contrastar os dados referentes às remunerações do trabalho, bem como da defasagem do valor histórico-moral da força de trabalho, cotejados à remuneração do capital, ao salário mínimo e ao salário mínimo necessário, este último tido como proposta metodológica para mensuração do valor da força de trabalho desenvolvida pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).
Enfim, acredita-se que com o presente esforço, se possa contribuir com subsídios teóri-cos e metodológicos para uma análise mais profícua da realidade do espaço sócio produtivo rural do Piauí, não dissociado do sistema mundo do capital, elucidando as condições a que se sujeitam os trabalhadores rurais do agronegócio da soja para a produção de riquezas no estado do Piauí, ao passo que produzem e perpetuam suas próprias misérias.
TRABALHO RURAL NO CERRADO DO PIAUÍ E SUA INSERÇÃO NO CAPITALISMO GLOBAL: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DE RUY MAURO MARINI
O estado do Piauí no ano de 2017 registrou um PIB de 45,4 bilhões, com um desta-cado crescimento real de 7,7%, quando comparado aos 1,32% de crescimento do país no mesmo ano. Conforme a CEPRO (2019), fundamentada a partir de análise dos dados do IBGE (2020), o que alavancou referido desempenho no estado foi principalmente o volu-me de produção na Agropecuária (com 130,3% de crescimento em relação a 2016), com
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
30
destaque especial para a produção da soja, a qual apresentou acréscimo de 313,57%, no ano de 2017, comparado a 2016.
Diante disso, é razoável afirmar que o capitalismo que se desenvolve no Piauí recente tem grande participação de seu espaço agrário, especificamente com o voluptuoso setor do agronegócio que avança na região do cerrado, sudoeste do estado, interagindo com as regiões centrais de capitalismo avançado.
A inserção do espaço agrário piauiense na dinâmica do capitalismo global pode ser mais bem explicada por Marini (2017), quando este elucida que a integração da América Latina no desenvolvimento do capitalismo se deu a partir da necessidade da criação de uma oferta mundial de alimentos e de matérias-primas, a fim de atender a expansão industrial e da população urbana europeia e demais países centrais. Com efeito, o Piauí integra-se ao comércio mundial mediante uma imposição da divisão internacional do trabalho aos países e/ou regiões periféricas, requerendo destes uma especialização em produtos primários, enquanto aos países centrais fica a incumbência da produção de manufaturados.
A partir deste ponto, Marini (2017) desenvolve duas categorias essenciais em sua aná-lise que são a tese das trocas desiguais e a categoria superexploração da força de trabalho, que se apresentam como centrais para a compreensão da realidade do trabalhador rural, latino-americano, brasileiro e piauiense.
Segundo Marini (2017), ao ser integrada ao mercado mundial como ofertante de alimen-tos e matérias-primas, a América Latina desempenha papel significativo na determinação e no aumento da mais-valia relativa nos países industriais.
Conforme elucida Marx (1999), em linhas superficiais, a mais valia relativa refere-se às formas de exploração (consumo) da mercadoria trabalho assalariado que se dão a partir de transformações das condições técnicas de produção e que resultam na desvalorização da força de trabalho.
Ao relacionar mudanças nas condições técnicas de produção com a mais-valia relativa, Marini (2017) trata de esclarecer uma confusão costumeira entre a referida categoria marxista e o conceito de produtividade. Logo, o autor esclarece que o aumento da produtividade não necessariamente assegura aumento da mais-valia relativa, conforme explica:
Ao aumentar a produtividade, o trabalhador só cria mais produtos no mesmo tempo, mas não mais valor; é justamente esse fato o que leva o capitalista individual a procurar o aumento de produtividade, já que isso permite reduzir o valor individual de sua mercadoria, em relação ao valor que as condições gerais de produção lhe atribuem, obtendo assim uma mais-valia superior à de seus competidores — ou seja, uma mais-valia extraordinária. Dessa forma, essa mais-valia extraordinária altera a repartição geral da mais-valia entre os diversos capitalistas, ao traduzir-se em lucro extraordinário, mas não modifica o grau de exploração do trabalho na economia ou no setor considerado, ou seja, não incide na taxa de mais-valia. Se o procedimento técnico que per-
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
30 31
mitiu o aumento de produtividade se generaliza para as demais empresas e, por isso, torna uniforme a taxa de produtividade, isso tampouco acarreta no aumento da taxa de mais-valia: será elevada apenas a massa de produtos, sem fazer variar seu valor, ou, o que é o mesmo, o valor social da unidade de produto será reduzido em termos proporcionais ao aumento da produtividade do trabalho. A consequência seria, então, não o incremento da mais-valia, mas na verdade a sua diminuição (MARINI, 2017, p. 329).
Diante do exposto pelo autor, fica patente que a elevação de produtividade pode concor-rer para o aumento da quantidade produzida que, dadas as condições sociais (e, sobretudo técnicas) de produção, permitem redução de preço de custo individual ao capitalista que as implementa. Uma vez disseminada com os demais capitalistas daquele setor, a referida elevação de produtividade concorrerá para a redução do preço de custo do setor como um todo, que poderá impactar no preço de mercado do setor, no sentido de também reduzi-lo, logo, acarretar inclusive uma possível redução de mais-valia, caso não haja impactos no valor da força de trabalho.
Isso nos faz perceber que:
a determinação da taxa de mais-valia não passa pela produtividade do trabalho em si, mas pelo grau de exploração da força de trabalho, ou seja, a relação entre o tempo de trabalho excedente (em que o operário produz mais-valia) e o tempo de trabalho necessário (em que o operário reproduz o valor de sua força de trabalho, isto é, o equivalente a seu salário). Só a alteração dessa proporção, em um sentido favorável ao capitalista, ou seja, mediante o aumento do trabalho excedente sobre o necessário, pode modificar a taxa de mais-valia (MARINI, 2017, p. 329).
Dessa forma, o autor esclarece que a mais-valia relativa estará intimamente relacio-nada à redução do valor social das mercadorias que se vinculam aos bens necessários à reprodução da força de trabalho, ou seja, os bens-salário (bens de primeira necessidade, como alimentos, por exemplo). Dessa forma, somente mudanças nas condições técnicas que concorram para a redução dos preços dos bens-salário, consequentemente dos valores da força de trabalho, que estarão relacionadas à mais-valia relativa.
Com o exposto, ratifica-se o papel da América Latina na determinação do aumento de taxas de mais-valia nos países centrais, uma vez que ao prover alimentos e matérias-primas para os países industrializados, a América Latina contribui para a elevação da oferta de ali-mentos (bens-salários), concorrendo para a redução dos preços desses bens, consequente-mente acarretando a redução do valor real da força de trabalho nos países industrializados, bem como em seu próprio contexto enquanto países periféricos.
Uma vez esclarecido esse importante papel da América Latina na determinação da mais-valia relativa, os esforços de Marini (2017) se direcionam a explicar a crença de uma
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
32
dissimulada vantagem nessa relação entre o nosso continente e sua integração ao comércio mundial, a partir do que ele denomina de segredo da troca desigual.
Na pretensa ideia de trocas de equivalentes na sociedade capitalista (elucidado por Marx nos capítulos iniciais d’O Capital), escamoteiam-se mecanismos que permitem realizar transferências de valor, burlando as leis de troca determinadas pelos preços de produção e expressas nos preços de mercado. Com efeito, a inter-relação de regiões periféricas e cen-trais – com menor e maior produtividade do trabalho, respectivamente (ou entre produtores de matérias-primas e bens manufaturados) – apresenta nuances, conforme expõe Marini (2017):
E assim como, por conta de uma maior produtividade do trabalho, uma nação pode apresentar preços de produção inferiores a seus concorrentes, sem por isso baixar significativamente os preços de mercado que as condições de pro-dução destes contribui para fixar. Isso se expressa, para a nação favorecida, em um lucro extraordinário, similar ao que constatamos ao examinar de que maneira os capitais individuais se apropriam do fruto da produtividade do traba-lho. É natural que o fenômeno se apresente sobretudo em nível da concorrência entre nações industriais, e menos entre as que produzem bens primários, já que é entre as primeiras que as leis capitalistas da troca são exercidas de maneira plena; isso não quer dizer que não se verifiquem também entre estas últimas, principalmente quando se desenvolvem ali as relações capitalistas de produção. No segundo caso — transações entre nações que trocam distintas classes de mercadorias, como manufaturas e matérias primas — o mero fato de que umas produzam bens que as outras não produzem, ou não o fazem com a mesma facilidade, permite que as primeiras iludam a lei do valor, isto é, vendam seus produtos a preços superiores a seu valor, configurando assim uma troca desigual (MARINI, 2017, p. 331-332).
A partir da exposição do que Marini (2017) chama de troca desigual, fica patente o pro-cesso de transferência de valores (ou mais-valia), uma vez que a defasagem entre as compo-sições de capital2 do centro e da periferia, escancara a distância da produtividade do trabalho entre ambos os espaços produtivos, condicionando aos países periféricos a perpetuarem sua condição de subdesenvolvidos e dependentes do centro, a partir da integração global.
Acerca disso, sintetiza Carcanholo (2013), quando elucida que,
Economias centrais, com tendência de possuir capitais com maior composição orgânica do capital em relação à média do seu setor e de outros setores de produção, tendem a se apropriar de um valor produzido por capitais operantes nas economias dependentes. Esta condição estrutural obriga os capitalismos dependentes, para que possam se desenvolver (CARCANHOLO, 2013, p. 83).
Marini (2017) esclarece que a lógica da manutenção desse sistema de trocas, embora desigual e desvantajosa para os países dependentes, para o capital torna-se viável, con-forme apresenta o autor:
2 De acordo com Marx, a composição do capital, refere-se a um relação entre o capital constante (meios de produção) e o capital vari-ável (força de trabalho). Será melhor explanado na próxima nota de rodapé, sobre composição orgânica do capital.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
32 33
O que aparece claramente, portanto, é que as nações desfavorecidas pela troca desigual não buscam tanto corrigir o desequilíbrio entre os preços e o valor de suas mercadorias exportadas (o que implicaria um esforço redobrado para aumentar a capacidade produtiva do trabalho), mas procuram compensar a perda de renda gerada pelo comércio internacional por meio do recurso de uma maior exploração do trabalhador (MARINI, 2017, p. 332).
Dito de outra forma significa que o capital das economias dependentes, impacientes, talvez, para a realização de seus lucros, prefere reduzir salários de que elevarem suas ca-pacidades produtivas com investimentos, consequentemente que viessem a concorrer para o aumento da composição orgânica do capital3 (elevação da produtividade do trabalho) em seus setores e/ou regiões produtivas. Até porque, uma vez que produzem para fora, suas demandas independem dos salários praticados (e dos consumidores) internamente.
Diante disso, Marini (2017) apresenta o que talvez seja a categoria que melhor carac-teriza a peculiaridade do capitalismo dependente, a saber, a superexploração da força de trabalho4, que se apresenta como um mecanismo de compensação em que o capitalismo dependente se utiliza para fazer frente às transferências de valor ao capitalismo central. Trata-se de uma lei de compensação, que é superexplorar (ou super consumir) a mercado-ria força de trabalho, como condição de sobrevivência nessa competição desigual global, sobretudo nos seus níveis de produtividade do trabalho.
Diante do exposto, evidencia-se que, para além das transações das trocas de mer-cadorias, sejam matérias-primas, sejam manufaturados, a apropriação de valor realizado encobre a apropriação de mais-valia que é gerada mediante a exploração do trabalho no interior de cada nação (MARINI, 2017).
Por fim, a transferência de valor é, portanto, transferências de mais-valias. Nessa dinâ-mica, a América Latina e especificamente o espaço agrário no cerrado piauiense, contribuem para incrementar a taxa de mais-valia e a taxa de lucro nos países industriais centrais. Os tra-balhadores latino-americanos e os trabalhadores rurais do agronegócio piauiense, por sua vez, produzem volumosas riquezas internamente em seus espaços produtivos, exportam (ou transferem) tais riquezas para fora, conforme determinado pelo centro e, permanecem tão somente com vossas misérias e a necessidade de perpetuação destas, para sobreviverem.
3 De acordo com Marx, a composição orgânica do capital, em resumo, significa um maior volume de meios de produção (que não criam mais-valia) a serem movimentados por uma quantidade relativamente (ou absolutamente) menor de força-de-trabalho. Trata-se, por-tanto, de elevação das condições técnicas de produção, seja em um dado setor industrial, uma região ou um país.
4 Conforme Marini, se trata do aumento da utilização da força de trabalho, e, consequentemente, da parte não remunerada que é apropriada pelo capitalista (mais-valia) sem que haja um aumento proporcional da remuneração e/ou diminuição do valor no setor de bens salário.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
34
METODOLOGIA
Nos esforços de se investigar e compreender a geração de riqueza (e pobreza) do trabalho, observada a partir da categoria superexploração da força de trabalho no cerrado piauiense, utiliza-se neste trabalho um tratamento quanti e qualitativo, fazendo uso de va-riáveis econômicas especificamente do setor agropecuário (e do cultivo da soja), subme-tendo-as a um tratamento analítico conceitual forjado na Teoria Marxista da Dependência, desenvolvida por autores como Ruy Mauro Marini, Theotônio dos Santos, Vânia Bambirra, André Gunder Frank, entre outros.
Nesta análise, valer-se-á de dados secundários que ainda não receberam trato ana-lítico, coletados em instituições como Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da Economia (ME), Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), bem como em relatórios e publicações de demais bases de institutos de pesquisas diversos, principalmente regionais.
Para elucidar a tese da superexploração da força de trabalho no setor produtivo piauien-se, especificamente no agronegócio da soja predominantemente no cerrado do sudoeste do estado, buscar-se-á quantificar e contrastar dados referentes às remunerações do capital e trabalho, bem como a defasagem do valor histórico-moral da força de trabalho, cotejados aos salários mínimo e mínimo necessário, calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). Ademais, ressalta-se que os dados ana-lisados se balizarão no setor agropecuário e alguns deles, especificamente, nas atividades produtivas do agronegócio da soja.
A SUPEREXPLORAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO RURAL PIAUIENSE
Segundo o IBGE (2019), o bioma cerrado brasileiro é o segundo maior do país ocupando 23,3% (cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados) do território nacional, sendo o único a estar presente em todas as regiões. De acordo com Andrade & Viana (2015), embora os solos do cerrado fossem antes considerados impróprios para a prática agrícola, em virtude de sua aridez, teve seu uso intensificado principalmente na década de 1970, na conjuntura de expansão das fronteiras agrícolas sob os pacotes tecnológicos da revolução verde. No Piauí, conforme CEPRO (2014), o cerrado representa 11,2 milhões de hectares (cerca de 46% do solo piauiense), onde 70% se situa na região sudoeste e parte do extremo sul do estado.
Conforme Andrade & Viana (2015), bem como Monteiro (2002), no Piauí o processo de ocupação do bioma cerrado se iniciou na década de 1970 sob a especulação fundiária como uma fase prévia à inserção na dinâmica global de produção de grãos em larga escala que ocorreu na década de 1990, intensificando-se com a chegada de produtores oriundos
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
34 35
da região Centro-Sul do Brasil. Com efeito, o cerrado do sudoeste piauiense se tornou, sobretudo no atual século, um centro de atração de produtores rurais e investidores nacio-nais e estrangeiros, tornando a região com papel protagonista no desempenho econômico piauiense recente.
De acordo com Santos Junior (2019), o processo de ocupação da fronteira agrícola do cerrado piauiense foi gestada não só pelos grandes capitalistas e/ou pelos latifundiários nacionais, mas também pelo capital internacional, representados por grandes corporações. Esse processo passa a ditar uma dinâmica diferente no cerrado piauiense, que deixa de ser uma produção agroextrativista, passando a ser determinada pelo aumento da produção de soja e outros grãos, bem como pelo aumento do caráter exploratório dos trabalhadores rurais. Dessa forma, a referida ocupação tem sua força propulsora nos vultosos investimen-tos, elevado uso de matéria-prima e uma excepcional concentração de terra, visando não mais a produção para atendimento de demanda interna, mas o mercado de commodities, projetando o cerrado piauiense para o processo de divisão internacional do trabalho.
Segundo Vilarinho et al. (2018), evidenciado nos dados do IBGE (2020), a cadeia produtiva da referida região piauiense no recente cenário, destaca-se com a produção de soja, milho, feijão, arroz, milheto, sorgo e algodão, bem como as reservas de minério de ferro, níquel, gás e petróleo; e ainda a pecuária. Entretanto, é a soja a principal commodity do agronegócio piauiense, responsável por ter colocado o Piauí como terceiro maior pro-dutor da região Nordeste (IBGE, 2020; VILARINHO et al., 2018). A Tabela 01 apresenta os principais municípios do cerrado do estado do Piauí com participação no valor global da produção de soja. A partir dela, nota-se que o município de Uruçuí-PI tem respondido por parcela importante no valor total de produção de soja no estado, no atual século.
Tabela 01. Municípios do cerrado no Piauí com destaque no Valor da produção de Soja em grão (Valores em Mil Reais)
Municípios2002 2010 2017
R$ % R$ % R$ %
Baixa Grande do Ribeiro (PI) 9.180 5,41% 137.762 15,68% 782.325 21,17%
Bom Jesus (PI) 5.469 3,22% 46.251 5,27% 251.289 6,80%
Corrente (PI) 702 0,41% 4.528 0,52% 64.206 1,74%
Currais (PI) 392 0,23% 25.957 2,96% 151.444 4,10%
Gilbués (PI) 2.862 1,69% 32.335 3,68% 126.293 3,42%
Monte Alegre do Piauí (PI) 724 0,43% 24.313 2,77% 84.288 2,28%
Ribeiro Gonçalves (PI) 19.034 11,22% 70.265 8,00% 365.085 9,88%
Santa Filomena (PI) 3.438 2,03% 48.928 5,57% 187.938 5,09%
Sebastião Leal (PI) 3.358 1,98% 36.260 4,13% 114.452 3,10%
Uruçuí (PI) 18.585 10,95% 162.265 18,47% 706.869 19,13%
Estado do Piauí 169.698 100% 878.357 100% 3.695.050 100%
Fonte: Fonte: Elaboração própria com base no IBGE (2020)
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
36
A título de análise, o referido estudo se limitará ao município de Uruçuí-PI, na Tabela 01 destacado, em virtude de seus desempenhos recentes não somente no valor da produção de soja, mas também, por responder historicamente, de 2002 a 2017 em média, por 22,29% da quantidade total de soja produzida no estado do Piauí, conforme observado no Gráfico 01.
Gráfico 01 - Participação % na quantidade total de soja (em grão) produzida no Piauí
Fonte: Elaboração própria com base no IBGE (2020)
Considerando ainda a voluptuosa participação do agronegócio da soja no desempe-nho econômico da região do cerrado e do estado do Piauí, convém se investigar como se evidencia a categoria superexploração da força de trabalho assalariado rural no espaço agrário piauiense.
A superexploração da força de trabalho rural no setor produtivo da soja em Uruçuí-PI
A década de 1990 foi crucial para o processo de transição econômica da região do cerrado. Segundo Santos Júnior (2019), a partir do processo de expansão do agronegócio no cerrado piauiense, a região de Uruçuí-PI e alguns municípios do seu entorno, migraram de uma economia essencialmente extrativista baseada na castanha de caju, para uma economia forjada na produção de soja. Com efeito, para que o referido fenômeno se intensificasse, era necessário um processo de transição do trabalhador rural, bem como das relações de traba-lho neste setor de produção. Com isto, o trabalhador rural agora necessariamente deveria migrar para a condição de trabalhador assalariado rural (CUNHA & SANTOS JÚNIOR, 2019).
Tal fenômeno pode ser evidenciado com a evolução da formalização dos vínculos de emprego que se expandiram descomunalmente na região e especificamente no município de Uruçuí-PI, conforme observado a partir do Gráfico 02.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
36 37
Gráfico 02. Quantidade de vínculos de emprego formais ativos no ano em Uruçuí-PI
Fonte: Elaboração própria com base no ME (2020)
O Gráfico 02 atesta, portanto, a expansão dos empregos formais em Uruçuí-PI, ve-rificando uma taxa de crescimento acumulado de 242,73%, de 2002 a 2018. Referidos números apontam ainda para uma taxa de crescimento médio dos empregos na ordem de 16,18% ao ano.
A priori é de se deduzir que geração de emprego e renda deva corroborar para me-lhoria das condições de vida dos sujeitos alvos desse fenômeno, sejam capitalistas, sejam trabalhadores. Entretanto, a essência do fenômeno de apropriação desigual das riquezas geradas é dissimulada pela aparência dos números que escancaram o vigoroso desempe-nho econômico do agronegócio da soja piauiense, como será demonstrado no decorrer da análise. Entretanto, nesse ponto importa destacar o processo de transição do trabalhador rural informal autônomo, hegemonicamente vinculado à economia extrativista e familiar, para um trabalhador assalariado, formal e vinculado a processos produtivos patronais, em ritmos/velocidades distintos dos anteriormente verificados, bem como métodos, objetivos e condições de execução de seus trabalhos vinculados, agora, às necessidades do capital.
Ademais, quando se analisa somente o desempenho dos números (em sua aparência) e não os seres humanos ali secundarizados (a essência), perde-se de vista essa característica imanente à lógica de expansão capitalista – a de ser concentradora e excludente – ao passo que se insinua a disseminada retórica de melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento socioeconômico para a região, a partir de meros números de postos de trabalho criados, sem adentrar nos aspectos específicos das relações laborais, pertinentes à precariedade das condições de trabalho, de renda, de qualificação, entre outras, provocadas pela moder-nização da agricultura.
Diante do exposto, é essencial se recorrer à teoria marxista da dependência, quando ela denuncia que as economias latinas (incluindo o setor rural do estado do Piauí), devido ao processo de transferência de mais-valor para as economias centrais, tem seu padrão de acumulação centrado na superexploração da força de trabalho, mecanismo este que tem
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
38
como objetivo contrabalancear esse fenômeno da transferência (troca desigual). Deste modo, a referida categoria idealizada por Marini (bem como as demais categorias discutidas na teo-ria marxista), é uma importante ferramenta conceitual/analítica que permite compreender as relações que cercam a economia política latino-americana e, portanto, brasileira e piauiense.
Por se tratarem de variáveis não apanhadas pelos sistemas de contas regionais/na-cionais oficiais, logo, não mensuráveis pela estatística econômica corrente (que mensuram preços correntes), considerando ainda que a mais-valia relativa, assim como a superex-ploração da força de trabalho, sejam variáveis de valor, carece-se entre os estudiosos, um modelo que balize as investigações empíricas dessas situações histórico-concretas (LUCE, 2012) em nossas economias.
Com efeito, uma das alternativas que se apresenta para se obter indícios desta su-perexploração é confrontando a remuneração/rendimento do capital frente ao da classe trabalhadora. Diante disso, a Tabela 02 tenta evidenciar essa comparação desigual de apropriação das riquezas em Uruçuí-PI. Nela, apresentam-se o Valor Adicionado Bruto da produção do setor da agropecuária, confrontando com o valor das remunerações dos tra-balhadores formais também da agropecuária.
Da diferença de ambos, obtém-se uma vaiável proxy que sugere a remuneração bruta do capital, ou seja, o lucro líquido, permitindo-se, assim, na relação remuneração do capi-tal-trabalhador, se obter a taxa de apropriação da riqueza produzida no setor agropecuário que contribuiria inicialmente para se discutir, embrionariamente e com limitações teóricas, a categoria superexploração.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
38 39
Tabela 02. Comparação entre Remuneração do Trabalhador x Remuneração do Capital em Uruçuí-PI (a preços correntes) no setor Agropecuário
Ano Valor Adicionado Bruto Remuneração do Trabalhador
Remuneração doCapital (Lucro)
Taxa deApropriação
2002 16.575.000,00 1.208.391,00 15.366.609,00 12,72
2003 63.613.000,00 2.599.030,56 61.013.969,44 23,48
2004 86.586.000,00 3.622.335,24 82.963.664,76 22,90
2005 91.855.000,00 5.003.108,04 86.851.891,96 17,36
2006 63.759.000,00 7.567.287,60 56.191.712,40 7,43
2007 57.846.000,00 10.720.799,28 47.125.200,72 4,40
2008 166.010.000,00 11.184.590,40 154.825.409,60 13,84
2009 169.801.000,00 14.937.401,76 154.863.598,24 10,37
2010 94.513.000,00 14.309.642,88 80.203.357,12 5,60
2011 188.831.000,00 17.210.918,28 171.620.081,72 9,97
2012 257.382.000,00 22.460.207,16 234.921.792,84 10,46
2013 184.070.000,00 24.581.405,28 159.488.594,72 6,49
2014 274.555.000,00 28.833.694,20 245.721.305,80 8,52
2015 282.307.000,00 33.394.587,12 248.912.412,88 7,45
2016 94.800.000,00 30.346.861,44 64.453.138,56 2,12
2017 468.689.000,00 36.598.613,76 432.090.386,24 11,81
Fonte: Elaboração própria com base no IBGE (2020) e ME (2020)
A partir da Tabela 02, observa-se no município de Uruçuí-PI um cenário crítico, uma vez que a referida tabela denuncia uma taxa de apropriação média de 10,93 entre 2002 e 2017, ou seja, a remuneração total do capital representa quase 11 vezes a remuneração do trabalho, também no período analisado.
Dessa forma, fica patente o distanciamento abissal das remunerações do capital e do trabalho de tal forma que se evidencia não somente a manutenção, mas, sobretudo o alar-gamento histórico, principalmente nos anos de melhores desempenhos econômicos, como é o caso dos períodos entre 2004-2005, 2008-2009 e no período de 2011-2015 e 2017.
O Gráfico 03, por sua sorte, oferece uma maior e melhor visibilidade a essa dispari-dade de apropriação entre capital-trabalho no município em análise, evidenciada na Tabela anterior descrita.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
40
Gráfico 03. Contraste remuneração capital-trabalho no município de Uruçuí-PI
Fonte: Elaboração própria com base no IBGE (2020) e ME (2020)
De posse destas evidências, a análise marxista da forma social capitalista transcende o plano abstrato do “imaginário” e teórico, passando a ser perceptível e concreto, tomando corpo quando se contrasta a renda do trabalho e a mais-valia (lucro) apropriada pelo ca-pitalista. Evidencia-se, portanto, que a relação que impera no capitalismo é de exploração da força de trabalho, e no caso específico do setor agropecuário piauiense, de superex-ploração dessa mercadoria pertencente aos trabalhadores rurais, que se intensifica e se alarga historicamente.
Diante dessa análise, têm-se condições instrumentais necessárias para a investigação da superexploração no município de Uruçuí-PI (mesmo que ainda de forma embrionária), uma vez que se pode verificar uma pequena parcela da sociedade se apropriando da maior parte da riqueza produzida, reforçando um dos pressupostos de Marx (1999) e especificamente Marini (2017), na evidência da categoria superexploração da força de trabalho.
Na continuidade da análise da categoria marxista da exploração e superexploração, conforme Marini (2017), com efeito, apresentar evidências ainda maiores da afirmação do caráter de superexploração no qual os trabalhadores rurais do cerrado piauiense estão submetidos, convém desenvolver uma análise da evolução histórica, contrastando o valor médio da força de trabalho5 no setor agropecuário, especificamente dos trabalhadores do cultivo da soja, com o valor do salário mínimo e do salário mínimo necessário segundo a proposição do DIEESE (2020), que podem ser verificados no Gráfico 04.
5 A remuneração média do cultivo da soja foi calculada a partir dos dados obtidos junto ao CAGED/ME, obtendo-se a partir da remu-neração nominal total do setor de cultivo da soja, dividida pela quantidade de vínculos formais CLT também do mesmo setor.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
40 41
Gráfico 04. Comparação Remuneração Média do Cultivo da Soja* x Salário Mínimo Nacional x Salário Mínimo Necessário** no município de Uruçuí-PI
Fonte: Elaboração própria com base no ME (2020) e DIEESE (2020)
Notas: * Tabela CNAE 2.0 Subclasse Cultivo da Soja;** Estimativa feita pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos
(Dieese), salário mínimo necessário para sustentar uma família de quatro pessoas.
Com base no Gráfico 04, enfim, evidencia-se historicamente a tese da superexploração da força de trabalho dos trabalhadores rurais da soja em Uruçuí-PI, a partir da constatação do achatamento dos salários médios nominais praticados um pouco acima do salário míni-mo e absurdamente distante do que deveria ser o salário necessário, conforme estimativa do DIEESE (2020).
Enfim, com esses dados cristaliza-se a ideia fundamental de Marx (1999) de que a relação da sociedade capitalista não se encontra em torno da troca de equivalentes, mas sim na relação de exploração daqueles que possuem os meios de produção sobre aqueles que não possuem outra coisa, a não ser a sua própria força de trabalho.
Na periferia, nos países dependentes, há um aviltamento dessa relação e é justamente nesse cenário que reside a importância de se resgatar a categoria superexploração de Ruy Mauro Marini, pois é ela quem “permite capturar o movimento real das relações entre capital e trabalho nas suas múltiplas dimensões, do ponto de vista da produção e circulação do valor” (LUCE, 2012, p. 126).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir das obras de Marx e Marini, fica patente que para o funcionamento do sistema mundo que se expressa a partir de uma sociedade essencialmente produtora de mercadorias, o trabalho humano se apresenta como o principal “insumo“ que possibilita a expansão e a acumulação dessa lógica produtiva. Somente consumindo/extraindo o máximo possível da mercadoria-insumo força de trabalho que o capitalista consegue intensificar a acumulação e financiar sua expansão, sobretudo em países ou regiões produtivas, periféricas. O trabalho
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
42
humano é, portanto, a principal mercadoria (uma pseudo commodity) que, assim como qual-quer outra mercadoria, deve ser consumida ao seu esgotamento para a máxima satisfação da finalidade de quem a consome.
A compreensão da realidade de subdesenvolvimento dependente da América Latina, do Brasil e especificamente, do espaço rural nordestino e piauiense, perpassa pela percep-ção de que a referida condição não é consequência de atrasos institucionais, arcaísmo do capitalismo local, estágio prévio de desenvolvimento ou até mesmo – na compreensão de alguns teóricos – falta de capitalismo. A partir da análise metodológica proposta pela teoria marxista da dependência, é razoável admitir que o subdesenvolvimento e o desenvolvimento são elementos imanentes e necessários à própria lógica de expansão e acumulação histórica do capital. São aspectos diferentes, ao passo que iguais, pertencentes ao mesmo processo dialético. Com efeito, a forma social do capitalismo traz como uma de suas principais carac-terísticas o desenvolvimento desigual.
Portanto, ao entender essa forma social hegemônica – que se denomina capitalismo – como um sistema-mundo, interligado local e globalmente, percebe-se que o urbano e o rural, o centro e a periferia, são indissociáveis. Com efeito, o meio rural tem papel fundamental no processo socioeconômico e nas transformações germinais ocorridas durante o processo de (re)organização do capital, uma vez que foi nele onde primeiro se verificou os impactos da política de cerceamento e da violência do estado, bem como deu subsidio a formação do exército industrial de reserva nos burgos e incipiente indústria europeia do século XVIII.
Na periferia, onde a divisão internacional do trabalho especializou o continente lati-no-americano (especificamente o Brasil agrário e o cerrado piauiense) como uma colônia agroexportadora, o principal espaço sócio produtivo atingido numa remontada do sistema capitalista em sua manifestação mais intensa aqui no país, foi o espaço rural.
Dessa maneira, dentro da (re)integração do capitalismo brasileiro à dinâmica global de produção, o cerrado piauiense passou a ser ocupado e teve seu modo de produção completamente alterado. A referida região produtiva passou a produzir commodities e a ser integrada ao mercado internacional. Desta maneira a produção, que antes era pau-tada no modo agroextrativista, com trabalhadores rurais independentes, tornou-se agora, hegemonicamente, uma produção nos moldes capitalistas, onde os trabalhadores passam a depender quase que exclusivamente do mercado para sua sobrevivência, ao passo, ter sua expropriação de forma permanente. Entretanto, convém destacar que nesse processo também se observam tensões que ratificam a dialética do capitalismo atuante no espaço agrário, uma vez que se manifestam movimentos de contra tendência, imanentes à relação conflituosa entre capital-trabalho.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
42 43
É na busca de compreender tais transformações sócio produtivas ocorridas após a subsunção do cerrado piauiense ao capital, que nos deparamos como a similaridade e con-seguimos sustentar a tese de Ruy Mauro Marini, a qual afirma que as economias dependen-tes são fundamentalmente pautadas na superexploração da força de trabalho. Municiados dos dados ora apresentados nesse estudo, aqui podemos, mesmo que embrionariamente, atestar a veracidade da categoria superexploração da força de trabalho no espaço rural do Piauí, especificamente no agronegócio da soja, praticado no município de Uruçuí-PI.
A partir da análise teórica e instrumental, se acredita que o presente estudo cumpre com o seu objetivo ao denunciar que o trabalhador latino-americano e, consequentemente o trabalhador piauiense da região do agronegócio do cerrado, tem sua relação produtiva com o capital forjada na superexploração da força de trabalho, tendo seu desgaste prematuro, uma vez que as evidencias mostraram uma maior intensificação do consumo da mercadoria da força de trabalho sem o devido acompanhamento do pagamento de bens-salário na mesma proporção, sobretudo em períodos de desempenho econômico-numérico considerável no setor agropecuário.
Ao se analisar a relação do valor da força de trabalho com o salário mínimo e ainda, com a proposição de salário mínimo necessário apresentado pelo Departamento Intersindical e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), vê-se que o valor (e preço) atribuído ao trabalho, pago pelo capitalista, passa longe de atender as necessidades mais básicas do trabalhador, enquanto equivalente necessário à reprodução de suas condições materiais de existência e no caso especificamente do trabalhador rural piauiense, a subsistência sua e dos seus.
Por fim, entende-se que a referida investigação teórica retrata a essência da realidade dos trabalhadores assalariados rurais do agronegócio piauiense, ao qual se lançam diaria-mente na vil esperança de melhoria de suas condições de vida por serem “beneficiados” com os trabalhos formalizados pelo capitalismo rural, mas que têm como única certeza o fato de criarem volumes consideráveis de riquezas para o agronegócio mundial, se apropriando tão somente de suas próprias misérias e em proporções desumanas.
REFERÊNCIAS
1. ANDRADE, P. S.; VIANA, M. R. A Questão Fundiária Sob o Impacto do Agronegócio no Cerrado Piauiense. Rev. FSA, Teresina, v. 12, n. 4, art. 13, p. 207-229, jul./ago. 2015.
2. BAMBIRRA, V. O capitalismo dependente latino-americano. 3° ed. Florianópolis: Insular, 2015.
3. CARCANHOLO, M. D. (Im)Precisões sobre a categoria superexploração da força de trabalho. In: Desenvolvimento e Dependência: cátedra Ruy Mauro Marini / Organizador: Niemeyer Almeida Filho. – Brasília : Ipea, 2013.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
44
4. CEPRO. FUNDAÇÃO CENTRO DE PESQUISAS ECONÔMICAS E SOCIAIS DO PIAUÍ. Cerra-dos piauienses: estudo e análise de suas potencialidades, impactos da exploração da riqueza sobre a população da região. Teresina: CEPRO, 2014.
5. CEPRO. SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS. PIB do estado do Piauí 2017. Teresina: CEPRO, 2019.
6. CUNHA, F. E. O.; SANTOS JUNIOR, S. G. Intensificação e superexploração da força de trabalho dos assalariados rurais no cerrado piauiense. In: XIV Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (SOBER NE). Bacabal-MA, 2019.
7. DIEESE. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Salário mí-nimo nominal e necessário. Disponível em: < https://www.dieese.org.br/ analisecestabasica/salarioMinimo.html>. Acesso em: 09 abr. 2020.
8. FRANK, G. A. América Latina: subdesarrollo o revolución. Ciudad de México: Ediciones Era, 1973.
9. FRANK, G. A. El desarollo del subdesarollo. Pensamiento Crítico, Habana, nº 7, agosto de 1967.
10. IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Biomas e Sistemas Costeiro-Marinhos do Brasil. IBGE. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/apps/biomas>. Acesso em: 20 mar. 2020
11. ____. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Agropecuária Municipal. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 07 abr 2020.
12. LUCE, M. S. A superexploração da força de trabalho no Brasil. Revista Soc. Bras. Economia Política, São Paulo, n° 3, p. 119-141, junho 2012.
13. MARINI, R. M. Dialética da dependência. In: Germinal: Marxismo e Educação em Debate, Salvador, v. 9, n. 3, p. 325-356, dez. 2017.
14. MARX, K. O Capital: crítica da economia política. Livro 1. 17ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999.
15. ME. MINISTÉRIO DA ECONOMIA. RAIS. Relatório Anual de Informação Social. Disponível em < http://bi.mte.gov.br/bgcaged/login.php> Acesso em 07 abr. 2020.
16. MONTEIRO, M. S. L. Ocupação do Cerrado piauiense: estratégia empresarial e especu-lação fundiária. 227 p. Tese (Doutorado) – Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, 2002.
17. SANTOS, T. dos Socialismo o fascismo: El nuevo carácter de la dependencia y el dilema latinoamericano. México, editora Edicol, 1978.
18. SANTOS, T. dos. Imperialismo e dependência. México: Era, 1986.
19. SANTOS JUNIOR, S. G. Intensificação e superexploração do trabalho assalariado rural no cerrado piauiense entre 1990 e 2017. Monografia – Departamento de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Piauí, 2019.
20. VILARINHO, L. S.; LOPES, W. G. R.; MONTEIRO, M. S. L. Desenvolvimento e capital social no agronegócio do Cerrado do Piauí, Brasil. R. Tecnol. Soc. v.14, n. 30, p. 30-46, jan./abr. 2018.
03Adubação verde com crotalária juncea em áreas de implantação ou reforma de canaviais, em pequenas propriedades rurais
Mauro Wagner de OliveiraCECA/ UFAL
Christiano NascifSENAR-MG
Terezinha Bezerra Albino OliveiraCECA/UFAL
Thiago Camacho RodriguesPDPL/RV-UFV
Wesley Oliveira de AssisCECA/UFAL
Dalmo de Freitas SantosCECA/UFAL
Sara Camylla de Souza Moura
10.37885/201102246
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
46
Palavras-chave: Agricultura Familiar, Difusão de Tecnologias, Sustentabilidade, Cicla-gem de Nutrientes.
RESUMO
Na maioria das pequenas propriedades rurais, especialmente nas de agricultura fami-liar, a cana-de-açúcar é cultivada para a alimentação de ruminantes, de monogástricos e humana. Nestas pequenas propriedades, o corte, o carregamento e o transporte da cana-de-açúcar demandam grande quantidade de horas de recursos humanos e, estes constituem isoladamente o item de maior percentual de custo e de desgaste físico dos agricultores nessa cultura. Em canaviais mais produtivos, estes custos são proporcional-mente menores, portanto, há necessidade de implementar medidas que assegurem alta produtividade no ciclo de cana-planta e pequenos decréscimos nos ciclos posteriores, para que o rendimento dos fatores de produção “terra, capital e trabalho” sejam eleva-dos, repercutindo em menor custo de produção. A adubação verde com crotalária juncea nas áreas de reforma ou de implantação do canavial pode contribuir para o aumento da produtividade da cana-de-açúcar, principalmente nos dois primeiros cortes. Neste capítulo são apresentados resultados de estudos conduzidos pelos autores, na zona da mata Mineira. Os tópicos são relacionados a fisiologia da crotalária juncea, a correção da acidez do solo, as épocas de semeadura, as taxas de crescimento e a cobertura do solo, ao acúmulo e ciclagem de nutrientes e, ao aumento da produtividade da cana-de-açúcar nas áreas onde houve o cultivo desse adubo verde antecedendo a implantação do ca-navial. Pelos resultados apresentados concluiu-se que a adubação verde com crotalária juncea nas áreas de reforma ou implantação de canaviais contribui para o aumento da produtividade de cana-de-açúcar e para o uso mais eficiente dos fatores de produção.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
46 47
INTRODUÇÃO
A cana-de-açúcar cultivada em pequenas propriedades rurais na zona da Mata do estado de Minas Gerais (Zona da Mata Mineira), região sudeste do Brasil, geralmente, é destinada a alimentação animal, produção de rapadura, açúcar mascavo, cachaça e álcool carburante. Nesse capítulo são relatados trabalhos de um grupo (OLIVEIRA, M. W. et al.) que realiza pesquisa e difusão de tecnologia para pequenas propriedades rurais da Zona da Mata Mineira. Essas pequenas propriedades rurais têm coordenadas geográficas: latitude variando de 20° 45’ 14” a 21° 11’ 39” Sul e, longitude compreendida entre 42° 52’ 55” e 43° 01’ 04” Oeste. A altitude dessas propriedades oscila de 330 a 650 m. O clima da região varia, segundo a classificação de Köppen, do tipo Aw a Cwa, com verão chuvoso. A precipitação média nos últimos 30 anos foi cerca de 1.200 mm, com excedente hídrico de novembro a março e, de abril a setembro, a precipitação fica abaixo da evapotranspiração potencial, causando déficit hídrico nesse período. No mês de outubro, a precipitação volta a ser maior que a evapotranspiração, portanto, as estações seca e chuvosa são bem definidas nessa região (OLIVEIRA et al., 2019).
Os solos predominantes na região são: Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, Argissolo Vermelho-Amarelo e Cambissolo latossólico. Embora de baixa fertilidade, sua constituição física permite a atividade agrícola desde que se use técnicas agrícolas apropriadas. As prin-cipais técnicas agrícolas recomendadas para esses pequenos produtores rurais são a melho-ria das propriedades físico-químicas do solo, pela calagem, gessagem, adubação química, adubação verde, uso de composto orgânico, plantio de variedades de cana-de-açúcar de maior potencial produtivo, controle químico de plantas daninhas e, controle biológico de pragas (OLIVEIRA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2018).
Neste capítulo são apresentados os resultados dos estudos e avaliações do grupo de pesquisa e difusão de tecnologia para pequenas propriedades rurais, comparando-os com os de outros autores citados na literatura. Os itens discutidos no capítulo são relacionados ao uso da crotalária juncea. Nessa discussão, primeiramente, será abordado o tópico da escolha da espécie de adubo verde, e, em seguida, serão discutidos a fertilidade do solo, épocas de semeadura e florescimento, acúmulo de matéria seca e nitrogênio, concluindo-se a discussão com a apresentação de resultados do aumento da produção de forragem e de colmos nas áreas anteriormente cultivadas com a crotalária juncea.
ESCOLHA DA ESPÉCIE DE ADUBO VERDE A SER SEMEADA
Nas pequenas propriedades da zona da Mata Mineira, à semelhança do centro-sul do Brasil, os plantios de cana-de-açúcar, sem irrigação, são realizados basicamente em duas
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
48
épocas: início do período chuvoso (setembro e outubro) e final do período chuvoso: fevereiro a março. O canavial implantado no início do período chuvoso poderá ser colhido a partir de abril-maio do ano seguinte e, por isto, é designado de “cana de ano”, mas, para o plantio de fevereiro a março a colheita ocorrerá cerca de 15 a 18 meses após, sendo conhecida como “cana de ano e meio” (OLIVEIRA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2019).
Nas áreas de reforma ou de implantação do canavial de ano e meio há as opções de pousio, de cultivos de ciclos rápidos ou da semeadura de adubos verdes. Decidindo-se pela adubação verde, deve-se escolher a espécie a ser plantada e, nesta avaliação, é recomen-dável considerar o histórico da área quanto às presenças de camada adensada, de pragas, de doenças, do tipo de planta daninha predominante, da fertilidade do solo e do tempo que o adubo verde poderá permanecer na área antecedendo ao plantio da cana-de-açúcar (OLIVEIRA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2019).
Em um dos estudos conduzidos por Oliveira (dados não publicados) para difusão de tecnologia, no início dos anos 2000, no município de Mercês, MG, foi avaliado o potencial produtivo de seis adubos verdes: crotalária juncea, feijão guandu, feijão de porco, mucuna cinza, mucuna preta e vegetação espontânea. Foram constatados maiores acúmulo de matéria seca e ciclagem de nutrientes pela crotalária juncea, comparativamente aos demais adubos verdes. Na média dos dois anos de estudo, a crotalária juncea acumulou na parte aérea cerca de 15 t de matéria seca por hectare, estatisticamente superior aos demais. Esses resultados reforçam as observações de Oliveira et al. (1998), que relataram maior produção de biomassa seca da crotalária juncea, comparativamente a outros adubos verdes. O feijão guandu foi o segundo adubo verde com maior acúmulo de matéria seca, em média 10,5 t ha–1. O feijão de porco e as mucunas cinza e preta acumularam próximo a 8 t ha–1, não diferindo entre si. Para a vegetação espontânea (pousio) constatou-se acúmulo médio de matéria seca próximo a 5 t por hectare.
As áreas dos estudos citados anteriormente tinham vegetação predominante de bra-quiária decumbens e braquiária plantagínea (capim marmelada). Os solos destas áreas são de fertilidade construída, com saturação por bases oscilando em torno de 60%, tendo teores médios de fósforo e de potássio. Nos dois anos, as semeaduras foram realizadas na primeira semana de outubro, logo após as primeiras chuvas. Na escolha dos locais, selecionaram-se solos representativos das propriedades rurais nas quais os autores do capítulo desenvolvem estudos ou usam como unidades de validação e difusão de tecnologias recomendadas para a cultura da cana-de-açúcar, com enfoque de alta produtividade e eficiência na utilização dos insumos de produção.
A crotalária juncea é originária da Índia, mas se adaptou muito bem à região centro-sul do Brasil e à zona da Mata Mineira, conforme citado anteriormente. A crotalária juncea, devido
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
48 49
a sua alta produção de matéria seca em curto período de tempo, tem sido a espécie mais recomendada pelos autores como adubo verde em áreas de reforma do canavial ou de plantio da cana de ano e meio. Ademais, suas sementes são de fácil obtenção, não apresentam dormência; tem crescimento rápido, o que lhe confere competitividade com as plantas dani-nhas; possui sistema radicular profundo e vigoroso, capaz de reciclar nutrientes; é resistente às pragas e pouco atacada por doenças e, também fixa o nitrogênio do ar atmosférico em grande quantidade (WUTKE e ARÉVALO, 2006; PERIN et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2007).
AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO E A IMPLANTAÇÃO DOS CANAVIAIS
Com base nos trabalhos conduzidos na região da Zona da Mata Mineira, por Oliveira et al. (2007), os autores têm recomendado o plantio de “cana de ano” em solos mais férteis, de relevos mais suaves e menos erosivos, uma vez que, nesse período, ocorrem chuvas com grande intensidade. Em razão de a cana-de-açúcar iniciar a fase de crescimento máximo a partir de janeiro, quando começa a diminuir a disponibilidade hídrica e térmica, o suprimen-to de nutrientes não deverá ser um fator limitante ao desenvolvimento da planta, para que possam ser obtidas produtividades de biomassa superiores a 120 t de matéria natural por hectare. Entretanto, o plantio de “cana de ano e meio” tem sido recomendado para os solos de relevos mais acidentados e de menor fertilidade, uma vez que a cana permanecerá cres-cendo no campo por mais tempo e, a fase de crescimento máximo coincide com as épocas de maior disponibilidade hídrica e luminosa, o que resulta em maior recobrimento do solo pela folhagem da cana-de-açúcar e em maior taxa fotossintética e acúmulo de matéria seca. Outras duas grandes vantagens do plantio da “cana de ano e meio” são a possibilidade do cultivo de crotalária juncea antecedendo ao plantio da cana e a obtenção de mudas pelo sistema do Método Interrotacional Ocorrendo Simultaneamente (MEIOSI).
A cana-de-açúcar, por produzir grande quantidade de massa, extrai e acumula, con-sequentemente, grande quantidade de nutrientes do solo. Em avaliações realizadas pelos autores em pequenas propriedades da zona da Mata Mineira, verificou-se que para uma produção de 120 toneladas de matéria natural por hectare, cerca de 100 t de colmos indus-trializáveis, o acúmulo de nutrientes na parte aérea da planta é da ordem de 150, 40, 180, 90, 50 e 40 kg de N, P, K, Ca, Mg e enxofre, respectivamente. No caso dos micronutrientes: ferro, manganês, zinco, cobre e boro, os acúmulos na biomassa da parte aérea, também para uma produção de 120 t ha–1, são por volta de 8,0; 3,0; 0,6; 0,4; e, 0,3 kg, respectivamente (OLIVEIRA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2018).
Devido a essa alta remoção de nutrientes, deve-se conhecer a capacidade de forne-cimento de nutrientes pelo solo para, se necessário, complementá-la com adubações e,
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
50
se constatada a presença de elementos em níveis tóxicos, reduzir sua concentração pela calagem e gessagem. Normalmente, avaliam-se a disponibilidade de nutrientes e a presen-ça de elementos em níveis tóxicos no solo pela análise química da camada arável, sendo também de grande valia o histórico da área, sobretudo as adubações realizadas e, se houve ou não ocorrência de sintomas de deficiência ou de toxidez nos cultivos anteriores (ERNANI e ALMEIDA, 1986; OLIVEIRA et al., 2004; RAIJ, 2011).
A crotalária juncea, que poderá anteceder ao plantio da cana-de-açúcar de ano e meio ou ser cultivada simultaneamente com a cana-de-açúcar no sistema de MEIOSI, também é uma planta que responde muito bem à melhoria da fertilidade do solo, assim, todas as ações implementadas para melhorar a nutrição da cana-de-açúcar irão influenciar positivamente no crescimento, acúmulo de matéria seca e nutrientes pela crotalária, refletindo em maior produtividade da cana-de-açúcar, especialmente no primeiro e segundo cortes (ERNANI et al., 2001; MEDA, 2003; OLIVEIRA et al., 2007).
Usualmente, coletam-se amostras de solo das camadas de 0 a 20 e de 20 a 40 cm de profundidade. Os resultados da análise da camada de 0 a 20 cm têm sido utilizados para calcular a adubação e a calagem e, os da camada de 20 a 40 cm, para os cálculos da ne-cessidade de gessagem. Devido as áreas serem pequenas, os autores deste capítulo têm orientado aos produtores coletarem as amostras de solo usando cavadeira e pá reta, pois, o uso da pá reta diminui a variabilidade dos índices de fertilidade do solo. Mais detalhes sobre os procedimentos de amostragem, variabilidade amostral, secagem de amostras e comparação entre extratores químicos podem ser obtidos em Oliveira et al. (2018 e 2019).
CALAGEM PARA A CANA-DE-AÇÚCAR E PARA A CROTALÁRIA JUN-CEA
Conforme citado inicialmente, os solos da região são, em sua grande maioria, natural-mente ácidos, apresentando baixa saturação por cátions básicos, como cálcio, magnésio e potássio. A deficiência desses cátions básicos, associada aos altos teores de alumínio, ferro e manganês, tem sido prejudicial ao crescimento do sistema radicular e, consequentemen-te, de toda a planta. Por esses motivos, a calagem e a gessagem são importantes práticas usualmente recomendadas pelos autores na implantação dos canaviais e no cultivo da cro-talária juncea (OLIVEIRA et al., 2007; RAIJ, 2011). Vários materiais têm sido usados como corretivos da acidez de solos, sendo os mais empregados os calcários dolomíticos, porém, usam-se também os calcários calcíticos, magnesianos e, os silicatos de cálcio e magnésio, designados de escórias de siderurgias. Nessas escórias, o teor de óxido de magnésio oscila em torno de 8%, enquanto os calcários calcíticos possuem teores de MgO inferiores a 5%, os magnesianos entre 6 e 12% e os dolomíticos acima de 12%. A eficiência desses produtos
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
50 51
na correção da acidez do solo depende, dentre outros fatores, da sua granulometria, da distribuição uniforme no campo e da disponibilidade hídrica do solo (OLIVEIRA et al., 2007).
O método de análise de solo mais usado na região é o que utiliza o acetato de cálcio para a determinação do H+ + Al+3. Esse extrator subestima demasiadamente a quantidade de H+ + Al+3, resultando em subestimativa da capacidade de troca catiônica a pH 7,0 e, con-sequentemente, da dose de calcário a ser a aplicada. Oliveira et al. (2004) relatam resultados de avaliação de doses de corretivos e alterações químicas em solos da região e citam que foram necessários de 1,5 a 2,0 vezes a quantidade de corretivos predita analiticamente para elevar a saturação por bases para 60%. Ernani e Almeida (1986) e Kaminski et al. (2002), ao compararem métodos analíticos para avaliar a necessidade de calcário dos solos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, também verificaram que a extração do H+ + Al+3 com o acetato de cálcio subestimou demasiadamente a necessidade de calcário dos solos estudados, sobretudo para os solos mais tamponados. Com base nestas e em outras cita-ções, os autores deste capítulo têm recomendado elevar de 1,5 a 2,0 vezes a quantidade de calcário a ser aplicado, com base na análise de solo que utiliza o acetato de cálcio para a extração do H+ + Al+3.
Para a cana-de-açúcar cultivada nas pequenas propriedades, a recomendação é elevar a saturação por bases (V) a 60%. A quantidade de calcário (QC) a ser usada, quando se emprega o método de saturação por base, é calculada pela seguinte expressão:
(Equação 1)
Sendo:V = saturação por bases atual do solo;T = capacidade de troca catiônica a pH 7,0; e,PRNT = PRNT = poder relativo de neutralização total do corretivo utilizado.
Em relação ao tipo de calcário, recomenda-se o dolomítico quando o teor de magnésio na camada de 0 a 20 cm for inferior a 0,40 cmolc dm–3 de solo. Contudo, se o teor de magnésio na camada de 0 a 20 cm for maior que 0,40 cmolc dm–3 de solo, a orientação é para utilizar aquele corretivo que tenha o menor preço por tonelada de PRNT após a aplicação na lavoura. Dessa forma, inclui-se um fator econômico na tomada de decisão quanto ao tipo de corretivo de acidez a ser empregado (OLIVEIRA et al., 2007; RAIJ, 2011; OLIVEIRA et al., 2018).
Quanto ao gesso, seu uso tem sido recomendado com base nos resultados da análise química da camada de 20 a 40 cm. O gesso tem sido aplicado quando os teores de cálcio forem menores que 0,40 cmolc dm–3 de solo ou a saturação por alumínio (m%) for maior que 20%. A dose usualmente recomendada é de um terço da dose de calcário. Um exemplo:
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
52
supondo-se que a quantidade de calcário a ser aplicada é de 4,5 t por hectare, então, a dose de gesso será de 1,5 t por hectare. O calcário e o gesso são misturados para posterior apli-cação ao solo. A aplicação de gesso levará à melhoria do ambiente radicular das camadas abaixo da arável, efeito que perdura por vários anos, por esse motivo não é necessária a reaplicação anual do gesso (OLIVEIRA et al., 2007).
Sempre que possível, os autores do capítulo reforçam com os produtores que a dose sugerida anteriormente (um terço da dose de calcário) é uma dose muito modesta e relatam observações realizadas em outras propriedades, nas quais o aumento da dose de gesso resultou em maior produção da crotalária juncea e do canavial, especialmente no primeiro e segundo cortes. Bernardo van Raij (RAIJ, 2011) um dos maiores pesquisadores do uso de gesso no Brasil, relata sete estudos com cana- de-açúcar para os quais o valor médio de recomendação de calcário e gesso foram respectivamente de 2,7 e 2,4 t por hectare. Entretanto, o valor médio nos quais se obtiveram as maiores produções de cana-de-açúcar foram respectivamente de 5,7 e 6,0 t de calcário e gesso, respectivamente, por hectare. Nas pequenas propriedades, geralmente a distribuição da mistura calcário + gesso é manual, assim, um método recomendado para esses pequenos produtores tem sido demarcar, um quadrado ou retângulo com a própria mistura de calcário + gesso e, nessa área, aplicar um volume correspondente à dose recomendada. Por exemplo: supondo-se que a dose reco-mendada tenha sido de 6.000 kg (4.500 kg de calcário + 1.500 kg de gesso, por hectare) e a densidade da mistura calcário + gesso seja de 1,25 kg L–1, então devem ser aplicados 4.800 L da mistura por hectare ou 0,48 L da mistura por m2. Uma das opções para o pequeno produtor distribuir manualmente o calcário + gesso, seria demarcar, com a própria mistura, áreas de 25 m2 e, nelas, aplicar 12,0 L de calcário + gesso. Na foto mostrada a seguir (Figura 1), o pequeno produtor de cana-de-açúcar está aplicando calcário + gesso, utilizando esse método de demarcação de área. Podem-se ver ao fundo, duas varas de bambu, com um plástico amarrado na ponta, para servir de balizamento para a demarcação das linhas.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
52 53
Figura 1. Pequeno produtor rural aplicando calcário + gesso em áreas previamente demarcadas.
Após a aplicação do calcário + gesso, geralmente faz-se uma aração e uma gradagem para a incorporação dos produtos ao solo. Na grande maioria das pequenas propriedades rurais, tem-se recomendado a subsolagem (descompactação dos solos ou rompimento de camadas compactadas) após aração e gradagem. A recomendação de subsolagem é com base no histórico de uso da área, no trânsito de máquinas, de implementos e de animais, na observação visual da presença de crostas na superfície do terreno e sistema radicular superficial da vegetação natural. Ainda que possa ser um ônus a mais para o pequeno pro-dutor, a presença de camadas adensadas ou compactadas tem consequências maléficas na absorção de água, nutrição mineral, nos desenvolvimentos da crotalária juncea e da ca-na-de-açúcar e, na longevidade do canavial (OLIVEIRA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2019).
A crotalária juncea é uma planta muito sensível aos baixos teores de cálcio e magnésio no solo e a alta saturação por alumínio. Os autores deste capítulo conduziram um estudo em campo, num Latossolo vermelho amarelo, anteriormente utilizado para pesquisas com adubação da cana-de-açúcar. Nesse estudo, foram analisados os solos na camada de 0 a 20 cm e, nas parcelas sem uso de adubação e de corretivos de acidez nas rebrotas (Testemunha), verificaram valores médios de 18,1% para saturação por bases; 0,96 cmolc dm–3 para o Al3+; saturação por alumínio de 56,4%, fósforo e potássio, respectivamente de 1,3 e 14 mg dm–3. Nas parcelas com uso de adubação potássica, fosfatada e de corretivos de acidez nas rebrotas, verificaram valores médios de 55,8% para saturação por bases; ausência de alumínio, fósforo e potássio, respectivamente de 8,0 e 52 mg dm–3. A crotalária juncea foi semeada no início de outubro e colhida quando as sementes estavam na fase de grãos farináceos duros. O acúmulo de matéria seca nas parcelas testemunhas foi em média de 5,6 t por hectare, por outro lado nas parcelas com uso de adubação potássica, fosfatada e de corretivos de acidez nas rebrotas verificou-se valor médio de 14,2 t por hectare.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
54
Nos estudos conduzidos por Ernani et al. (2001) e Meda (2003), também foi observada grande sensibilidade da crotalária juncea ao alumínio. Ernani et al. (2001) conduziram tra-balho em casa de vegetação, usando um Latossolo bruno, com saturação por alumínio de 38,8% e saturação por bases de 24,5%. No tratamento que recebeu a aplicação de calcário em dose equivalente a 5,0 t por hectare, a saturação por bases elevou-se para 57%, neu-tralizando totalmente o alumínio. Comparativamente à testemunha, o acúmulo de matéria seca da crotalária juncea no tratamento que recebeu calcário aumentou em cerca de 150%. Meda (2003) avaliou a tolerância de leguminosas ao alumínio e classificou o lab-lab, as mucunas preta, cinza e anã como muito tolerantes e o feijão guandu foi considerado como planta tolerante. Como plantas moderadamente intermediária são citadas as crotalárias mucronata, spectabilis e ochroleuca. As crotalárias juncea e breviflora foram as mais sen-síveis à toxidez do alumínio. Assim, pensando tanto na produtividade da crotalária juncea quanto na da cana-de-açúcar, devem ser aplicadas doses de calcário para a elevação da saturação por bases para 60%, o que repercutirá em completa neutralização do alumínio trocável (OLIVEIRA et al., 2007).
SEMEADURA DA CROTALÁRIA JUNCEA
A crotalária juncea é uma planta de crescimento determinado, muito sensível ao com-primento da noite (nictoperíodo), com florescimento precoce sob noites longas crescentes e, consequentemente, interrompendo o crescimento e diminuindo o acúmulo de matéria seca e a ciclagem de nutrientes, especialmente de nitrogênio. Considerando apenas a fisiologia da planta, o acúmulo de matéria seca da crotalária juncea depende do tempo que essas plantas vegetaram antes de entrarem em florescimento. O efeito de épocas de semeadura no acúmulo de matéria seca e nutrientes pela crotalária juncea é também influenciado pelas interações da temperatura do ar, disponibilidade hídrica e de nutrientes no solo e, radiação solar, dentre outros. Oliveira et al. (2019) relatam estudos conduzidos por dois anos, em Mercês, MG, para avaliar o efeito de épocas de semeaduras sobre o florescimento da crota-lária juncea. A crotalária foi semeada em seis épocas: início de outubro, meados de outubro, início de novembro, meados de novembro, início de dezembro, meados de dezembro.
Praticamente não houve diferença entre o início do florescimento das plantas semeadas nas primeiras três épocas, contudo, para as semeaduras a partir de meados de novembro houve encurtamento do período juvenil, com reflexos negativos no acúmulo de matéria seca e de nitrogênio. A altura das plantas das semeaduras realizada em início de outubro, meados de outubro, início de novembro, também não diferiram estatisticamente e, o valor médio foi de cerca de 3 metros. Além de maior acúmulo de matéria seca, plantas mais altas também sombrearam mais o solo, contribuindo para maior controle físico das plantas daninhas da
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
54 55
área. Para as semeaduras realizadas em meados de novembro, início e meados de dezem-bro verificaram-se reduções percentuais médias no acúmulo de matéria seca, comparati-vamente ao início de outubro, de cerca de 20, 35 e 40% (OLIVEIRA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2011a). Por isso, quando se cultivar a crotalária juncea para adubação verde, deve-se fazer a semeadura no começo de outubro, ou tão logo seja possível, mas para a produção de sementes, deve-se semeá-la em março (AMABILE et al., 2000; OLIVEIRA et al., 2019).
Nos cultivos de crotalária juncea na região da Zona da Mata Mineira, têm-se observado que por volta de quarenta dias após a emergência, as plantas estão aptas a receber o estí-mulo para a indução floral, assim, para as semeaduras realizadas a partir de meados de no-vembro, quando as plantas tiverem cerca de quarenta dias pós-emergência, as noites estarão aumentando de comprimento e ocorrerá florescimento precoce das plantas (OLIVEIRA et al., 2019). Os resultados dos estudos de épocas de semeadura citados na literatura permitem concluir que, para se obter alta produção de biomassa na parte aérea da crotalária juncea a semeadura da leguminosa, no centro-sul do Brasil, deve ser realizada do início de outubro a meados de novembro (LEAL, 2006; LIMA et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2019). Lima et al. (2010), em estudos Pariquera-Açu, sul do estado de São Paulo, relatam que o florescimento de 50% da crotalária juncea ocorreu aos 116 dias após a semeadura, quando realizada em 15 de novembro, mas, para a semeadura em 02 de janeiro, aos 90 dias as plantas estavam florescendo, encurtando, portanto, em 15 dias o período vegetativo das plantas.
Nos trabalhos conduzidos em São Vicente da Serra, MT, por Santos e Campelo Júnior (2003), também foram observados que o crescimento e o acúmulo de matéria seca pela crotalária juncea foram muito influenciados pelo nictoperíodo. À medida que as noites foram aumentando, verificou-se redução no número de dias para o florescimento. O período entre a emergência e o florescimento variou de 86 dias na semeadura em 05 de novembro e de 38 dias para a semeadura em 05 de maio. Foram obtidas equações relacionando o compri-mento do dia com o acúmulo de matéria seca:
Y = 71,45 – 11,223 x + 0,4388 x2, R2 = 0,80 e, o comprimento do dia com número de dias para a crotalária entrar em florescimento: Y = 3441,2 – 535,18x + 21,035x2, R2 = 0,93. Ainda segundo Santos e Campelo Júnior (2003) o nictoperíodo crítico para a crotalária juncea ser induzida ao florescimento é de 10 h e 30 minutos.
Normalmente a crotalária juncea é semeada a uma profundidade de a 2 a 3 cm, no espaçamento de 0,50 m entre sulcos, numa densidade de 55 a 60 sementes por m2, com gasto de sementes de 25 kg por hectare. Os autores do capítulo têm recomendado aos produtores que evitem a semeadura a lanço com posterior incorporação das sementes ao solo, passando-se uma grade niveladora aberta ou arrastando-se galhos sobre o solo. Estas práticas resultam em desuniformidade na germinação e emergência das plantas, tendo locais
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
56
sem plântulas e outros com excesso de plântulas, dessa forma, quando possível, deve-se optar pelo uso de semeadeiras. Outra opção muito usada pelos autores nas pequenas pro-priedades rurais é a sulcagem rasa com tração animal, com posterior distribuição uniforme das sementes nesses sulcos e cobrimento manual das sementes usando pequenas enxadas ou os próprios pés, uma vez que na maioria das vezes o terreno estará arado e gradeado.
Para facilitar a distribuição manual das sementes, que são pequenas, sugere-se mis-turá-las com esterco bovino seco e peneirado ou usar calcário bem fino. Supondo-se que o produtor faça a opção de misturar as sementes de crotalária juncea com esterco bovino e, que a densidade do esterco bovino seco e peneirado seja de 0,80 kg por dm3 (“um litro de esterco seco e peneirado pesa 800 gramas”); e, supondo-se, também, que a área a ser semeada com crotalária seja de 0,50 hectare, o gasto de sementes será de 12,5 kg. Misturar então, cuidadosamente os 12,5 kg de sementes de crotalária juncea com 650 litros de esterco bovino seco e peneirado e distribuir 100 mL da mistura esterco + sementes de crotalária em 3,0 metros de sulco. Sugere-se cortar uma garrafa plástica de refrigerante de 200 mL e usá-la como medida.
Em avaliações de campo realizadas pelos autores deste capítulo em anos recentes, constatou- se que o aumento na densidade de semeadura (sementes com 80% de germi-nação) de 25 kg ha–1 para 30 kg de sementes não repercutiu em aumento no acúmulo de matéria seca da crotalária juncea, cultivada em solo de média fertilidade e sem alumínio trocável. Nestas avaliações, o acúmulo médio de matéria seca pela crotalária juncea foi da ordem de 14 t ha–1, com as plantas colhidas no estágio de grãos farináceos duros. Lima et al. (2010), em estudos conduzidos em Pariquera-Açu, SP, também relatam que o aumento da densidade de plantas de crotalária juncea de 500 mil plantas ha–1 para 625 mil plantas ha–1
não resultou em aumento do acúmulo de matéria seca e de nitrogênio.A inoculação das sementes de crotalária juncea com bactérias fixadoras do nitrogê-
nio do ar atmosférico poderia ser uma forma de aumentar a fixação biológica do N2 e o aporte de nitrogênio no sistema solo-planta. Entretanto, trabalhos conduzidos por Oliveira et al. (2011b) em propriedades rurais, localizadas na Zona da Mata Mineira e em Usinas Açucareiras mostraram que a inoculação das sementes de crotalária juncea com bactérias fixadoras do nitrogênio do ar atmosférico não aumentou o aporte de nitrogênio no sistema solo-planta (Tabela 1).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
56 57
Tabela 1. Valores médios da altura de planta (Alt. Planta), acúmulo de matéria seca (Ac. MS), concentração (Conc. de N) e acúmulo de nitrogênio (Ac. N) na biomassa da parte aérea da crotalária juncea, crotalária spectabilis e feijão de porco, em função da inoculação das sementes desses adubos verdes com rhizobium. Estudos conduzidos na Zona da Mata Mineira
(Propriedades 1, 2 e 3) e nos tabuleiros costeiros de Alagoas (Usinas 1 e 2 e, CECA).
Ambiente edafoclimático e adubo verde Alt. Planta (cm) Ac. MS(t/ha) Conc. de N (g/kg) Ac. N
(kg/ha)
Propriedade 1Crotalária juncea inoculada 338 a 15,2 a 20,7 a 315 a
Crotalária juncea sem inoculação 325 a 15,9 a 20,9 a 332 a
Propriedade 2Crotalária juncea inoculada 351 a 14,9 a 22,7 a 338 a
Crotalária juncea sem inoculação 368 a 14,1 a 23,1 a 326 a
Propriedade 3Crotalária juncea inoculada 348 a 15,4 a 20,6 a 318 a
Crotalária juncea sem inoculação 337 a 15,7 a 21,6 a 337 a
Usina 1Crotalária spectabilis inoculada 63 a 5,6 a 26,3 a 147 a
Crotalária spectabilis sem inoculação 59 a 6,1 a 25,2 a 154 a
Usina 2Crotalária spectabilis inoculada 61 a 5,8 a 27,2 a 158 a
Crotalária spectabilis sem inoculação 67 a 6,3 a 26,8 a 169 a
CECA
Crotalária juncea inoculada 111 a 5,9 a 25,9 a 145 a
Crotalária juncea sem inoculação 103 a 6,3 a 25,2 a 155 a
Crotalária spectabilis inoculada 61 a 5,7 a 26,2 a 152 a
Crotalária spectabilis sem inoculação 69 a 6,4 a 27,5 a 173 a
Feijão de porco inoculado 81 a 7,1 a 28,3 a 201 a
Feijão de porco sem inoculação 89 a 7,6 a 27,2 a 207 a
* Para o mesmo adubo verde e mesmo ambiente edafoclimático, médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste t, a 5% de probabilidade.
Ausência de efeito de inoculação também foi citada por Chada e De-Polli (1998) na EMBRAPA Agrobiologia, que constataram que os inoculantes utilizados não foram mais eficientes que as estirpes nativas, não havendo diferença no acúmulo de matéria seca e de nitrogênio entre os tratamentos que receberam ou não a inoculação. Barreto e Fernandes (2001) em avaliações realizadas nos tabuleiros costeiros com crotalária juncea e mais 12 adubos verdes, igualmente não notaram efeito da inoculação com rizóbios seleciona-dos. Em unidade de demonstração e difusão de tecnologia, em Mercês-MG, os autores do capítulo utilizaram inoculantes de empresas governamentais e de empresas particulares e, novamente, foi constatada ausência da inoculação sobre o acúmulo de matéria seca e de nutrientes, especialmente sobre o nitrogênio.
Uma das possíveis causas da ausência de resposta à inoculação poderia ser a elevada população nativa destas bactérias nos solos, conforme citado por Ribeiro Júnior e Ramos (2006). O fato de as leguminosas apresentarem alta nodulação com estirpes nativas não significa que aquelas bactérias tenham eficiência máxima, uma vez que muitas dessas estirpes têm alta capacidade competitiva, dificultando a introdução de outras estirpes via inoculação das sementes. Assim, os autores deste capítulo são de opinião que, enquanto não se obtiverem estirpes mais eficientes e competitivas, a inoculação das sementes de
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
58
crotalária juncea não repercutirá em aumento da fixação biológica do nitrogênio e, conse-quentemente, no acúmulo de nitrogênio pela planta.
Na tabela 2 estão apresentados os principais itens de custos, para a implantação de um hectare de crotalária juncea, com as operações de aplicação de herbicida, preparo do solo e incorporação do calcário e do gesso, semeadura da crotalária juncea e futura incorporação da crotalária ao solo, sendo realizadas com máquina.
Tabela 2. Principais itens de custos para a implantação de um hectare de crotalária juncea em pequenas propriedades rurais, na zona da Mata Mineira.
Item de custoValores (R$)
Unitário Total
Análise de solos (duas amostras)
Herbicida (Glifosato) para matar a rebrota da cana: 5,0 L por hectare
Aplicação do herbicida (1,0 hora-máquina)
Calcário (t ha–1)
Gesso (t ha–1)
Aplicação do calcário e do gesso (1,0 hora-máquina)
Aração do solo (2,0 horas-máquina))
Gradagem (2,0 horas-máquina)
Subsolagem (2,0 horas-máquina))
Sementes de crotalária juncea (25 kg ha–1)
Semeadura (2,0 horas-máquina)
Incorporação da crotalária: duas gradagens (2,0 horas-máquina)
Total
Em função da potência do trator e do tipo de implemento usado, pode haver variação nos rendimentos dessas operações, porém, os índices apresentados são valores observados pelos autores do capítulo em pequenas propriedades rurais, nas quais, geralmente o trator tem potência de 100 cavalos.
TAXA DE COBERTURA DO SOLO E CONTROLE DE PLANTAS DANI-NHAS
A crotalária juncea apresenta alta taxa de crescimento e esse rápido crescimento re-sulta em grande altura da planta, conforme citado na tabela 1. Oliveira et al. (2011a) citam taxas de crescimento em altura, da crotalária juncea, variando de três a cinco cm por dia, durante a fase máxima de crescimento da cultura, que ocorre entre 40 a 80 dias após a semeadura. A associação de alta taxa de crescimento com elevada altura de planta, causa sombreamento no solo, com efeito sobre as outras plantas, especialmente as daninhas. Leal (2006) verificou que a altura da crotalária juncea era de 1,80 metros aos 2 meses de idade, quando a semeadura foi realizada em 29 de outubro. Oliveira et al. (2011a) relatam que, aos 60 dias após a emergência, a altura da crotalária era de 1,92 metro. Teodoro et al. (2011) em avaliações realizadas em Turmalina, MG, citam que aos 40 dias a altura da
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
58 59
crotalária era de 1,23 metro, alcançando 1,73 metro aos 60 dias e 2,58 metros no início do florescimento, aos 88 dias.
Essa característica de rápido crescimento e grande altura da crotalária juncea a torna uma planta passível de ser utilizada em método de controle cultural de plantas daninhas (OLIVEIRA et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2019). Os métodos culturais são práticas que visam tornar a cultura mais competitiva em relação às plantas daninhas e englobam a redução de espaçamentos de plantio, cultivos intercalares ou rotação com adubos verdes (MASCARENHAS et al., 1994; WUTKE e ARÉVALO, 2006; DUARTE JÚNIOR e COELHO, 2008; OLIVEIRA et al., 2019).
Os efeitos da crotalária juncea sobre as plantas daninhas foram relatados no estudo conduzido por Wutke e Arévalo (2006), em área de renovação de canavial em Piracicaba, SP. Nessa área as principais plantas daninhas eram o capim colonião, a tiririca e a anelei-ra. O objetivo do trabalho foi quantificar a redução da biomassa das plantas daninhas por herbicidas e adubos verdes e, para tanto, tiveram parcelas em pousio (testemunha), parcelas que receberam aplicação dos herbicidas Sulfentrazona (Boral 500 SC em pré-emergência) e Halosulfurona (Sempra 750 GRDA + Aterbane a 0,5%, ambos em pós-emergência) e par-celas nas quais foram semeados os adubos verdes: crotalária juncea, crotalária spectabilis, feijão guandu, feijão de porco, girassol, lab-lab e mucuna preta.
Aos 150 dias após a implantação do trabalho e, imediatamente antes da implantação do canavial, avaliou-se o controle do mato quantificando-se a redução de biomassa das plantas daninhas em cada parcela, em relação à testemunha. Verificou-se que a crotalária juncea e a mucuna preta reduziram a biomassa das plantas daninhas em mais de 90% (Figura 2), mostrando-se, portanto, como excelente método de controle cultural.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
60
Figura 2. Percentual de biomassa de plantas daninhas, aos 150 dias de ciclo, nas parcelas de área de renovação de canavial, mantidas em pousio (testemunha), cultivadas com adubos ou pulverizadas com herbicida (Halosulfurona e Sulfentrazona).
Fonte: Adaptado de Wutke e Arévalo (2006).
A altura média da crotalária juncea foi de 2,95 m, com acúmulo de matéria seca de 12,8 t ha–1, enquanto nas parcelas testemunha, mesmo com a presença de capim colonião, o acúmulo de biomassa foi de apenas 5,5 t de matéria seca por hectare. Assim, a semeadura da crotalária além de reduzir a infestação por plantas daninhas aumentou a matéria orgânica a ser incorporada ao solo. A crotalária juncea também é má hospedeira dos nematoides for-madores de galhas (Meloydogyne spp), sendo, portanto, interessante na rotação com culturas que são sujeitas ao ataque desses nematoides, como forma de reduzir sua infestação na área (AMABILE et al., 2000; OLIVEIRA et al., 2007; DUARTE JÚNIOR e COELHO, 2008).
Efeito supressor da crotalária juncea sobre as plantas daninhas é citado por Oliveira et al. (2003) ao constatarem que a semeadura da crotalária, em área densamente infestada com capim marmelada, reduziu a biomassa dessa gramínea em 60% e, aumentou o aporte de matéria seca em 5,0 t ha–1 e o de nitrogênio em 180 kg por hectare. Estes resultados foram confirmados por Duarte Júnior e Coelho (2008), pois verificaram que a crotalária jun-cea destacou-se quanto à taxa de cobertura do solo ao observarem que aos 50 dias após a emergência, as plantas recobriam 100% do solo, contribuindo para o controle da erosão e das plantas daninhas. Oliveira et al. (2011a) verificaram alta taxa de crescimento da crota-lária juncea, mesmo no início do ciclo, uma vez que aos 30 dias após a emergência o índice de área foliar (IAF) era de 2, possibilitando eficiente cobertura do solo e competição com plantas daninhas. Duarte Júnior e Coelho (2008) e Oliveira et al. (2011a) afirmam que em IAF de 2, a cobertura do solo pela crotalária juncea ultrapassa a 80%.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
60 61
Além do efeito físico de sombreamento, a crotalária juncea libera compostos orgânicos, originários do seu metabolismo secundário, designados de compostos alelopáticos, que inibem a germinação das sementes das plantas daninhas, retardam seu desenvolvimento ou interferem negativamente em processos bioquímicos importantes no metabolismo e na fisiologia das plantas (WUTKE e ARÉVALO, 2006; OLIVEIRA et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2019). Os fenóis e os flavonóides são os principais compostos alelopáticos produzidos pela crotalária juncea. Observações de campo realizada por OLIVEIRA et al. (2011a), mostrada na figura 3, comprovam esse efeito alelopático sobre as plantas daninhas, constatado pela ausência de mato em entrelinha ensolarada.
Figura 3. Crotalária juncea na fase inicial de crescimento e seu efeito alelopático sobre as plantas daninhas, constatado pela ausência de mato em entrelinha ensolarada (foto à direita).
Fonte: Oliveira et al. (2011).
A semeadura desta crotalária foi realizada em uma área vizinha a uma pastagem de braquiária decumbens, e, portanto, a quantidade de sementes no solo dessa área era muito grande, devido a dispersão das sementes pelo vento. Os resultados dos testes de atividade alelopática confirmaram as observações de campo citadas anteriormente. Estudos foram conduzidos em laboratório usando como planta teste a alface, planta muito utilizada nos testes de alelopatia. Aos sete dias após iniciados os testes, a redução percentual da germi-nação das sementes de alface foi de 47,5; 66,0; 75,3 e 95,9%, para as concentrações de extrato etanólico a 0,25; 0,50; 1,0 e 2,0%, respectivamente. No sétimo dia após iniciados os testes, o extrato etanólico a 0,25; 0,50; 1,0 e 2,0% causou, respectivamente, reduções de crescimento na radícula e no caulículo das plântulas de alface de 17,9 e 54,4; 34,9 e 69,3; 54,8 e 80,8 e, 88,9 e 97%, comparativamente à testemunha (OLIVEIRA et al., 2011a). Utilizando-se das mesmas amostras de crotalária juncea do estudo de alelopatia, Oliveira et al. (2011a) verificaram que as concentrações de fenóis e flavonóides foram de 32 e 56 g kg–1, respectivamente.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
62
ACÚMULO DE MATÉRIA SECA E DE NITROGÊNIO
Conforme citado anteriormente a quantidade de biomassa e de nutrientes acumulados pela crotalária juncea é dependente de vários fatores, mas de um modo geral os que mais interferem são as condições climáticas como nictoperíodo, disponibilidade hídrica, radiação solar, temperaturas diurnas e noturnas, época de semeadura (inverno, primavera ou verão), práticas culturais e fertilidade do solo. Citando estudo conduzidos na zona da Mata Mineira, Oliveira et al. (2019) relatam que, para as semeaduras realizadas do início do período chuvo-so a início de novembro, os acúmulos de matéria seca e de nitrogênio na biomassa da parte aérea da crotalária juncea foram estatisticamente semelhantes (Tabela 3). As avaliações dos acúmulos de matéria seca e de nitrogênio foram realizadas quando as primeiras vagens da planta estavam no estágio fenológico de enchimento de grãos a grãos farináceos duros, ocasião em que os acúmulos de matéria seca e de nitrogênio na parte aérea são máximos.
Tabela 3. Acúmulos de matéria seca (Ac. MS) e de nitrogênio (Ac. N) na biomassa da parte aérea da crotalária juncea, e a altura de plantas (Alt. da planta) no estágio de grãos farináceos duros, em função da época de semeadura, em estudo
conduzido por dois anos agrícolas em um Latossolo vermelho amarelo, no munícipio de Mercês, MG.
Épocas de semeaduraAc. MS (kg/ha) Ac. N (kg/ha) Alt. da planta (cm)
Ano 1 Ano 2 Ano 1 Ano 2 Ano 1 Ano 2
Início outubro 14.135 a 14.789 a 273 a 284 a 293 a 305 a
Meados de outubro 14.768 a 14.845 a 297 a 275 a 311 a 298 a
Início de novembro 14.235 a 13.785 a 268 a 279 a 287a 293 a
Meados de novembro 11.985 b 11.178 b 220 b 226 b 267 b 256 b
Início de dezembro 9.123 c 9.545 c 198 bc 203 c 247 c 236 c
Meados de dezembro 8.523 d 8.037 d 174 c 168 d 217 d 208 d
Vegetação Espontânea 6.750 e 5.348 e 73 e 66 e --- ---
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.
Para as semeaduras realizadas a partir de meados de novembro, início e meados de dezembro verificaram-se reduções percentuais médias no acúmulo de matéria seca, com-parativamente ao início de outubro, de cerca de 20, 35 e 40%. Amabile et al. (2000) relatam que na semeadura realizada em 07 de janeiro, comparativamente a 12 de novembro, houve decréscimos superiores a 50% no acúmulo de matéria seca na biomassa da parte aérea. Ainda em relação aos resultados da tabela 3 nota-se que para as semeaduras realizadas de início de outubro a início de novembro, os acúmulos de nitrogênio na biomassa da par-te aérea da crotalária oscilam em torno de 300 kg ha–1, confirmando as observações de Amabile et al. (2000), Alvarenga et al. (1995), Perin et al. (2004) e Duarte Júnior e Coelho (2008). Do total do nitrogênio acumulado na biomassa da parte aérea da crotalária, cerca de 60% a 70% originaram-se das associações simbióticas das raízes da leguminosa com as bactérias fixadoras de N2 do ar atmosférico, resultando em aporte de quantidades expressi-vas deste nutriente ao sistema solo- planta (PERIN et al., 2004), dessa forma, contribuindo
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
62 63
para maior sustentabilidade da cultura subsequente (OLIVEIRA et al., 1998; LIMA et al., 2010). Para efeito comparativo, cita-se o sulfato de amônio, um dos fertilizantes nitrogenados mais utilizados: em 100 kg desse fertilizante tem-se 20 kg de N, assim, para se obter 200 kg de N haveria necessidade de utilizar-se 1.000 kg de sulfato de amônio.
PRODUTIVIDADE DA CANA-DE-AÇÚCAR NAS ÁREAS ANTERIOR-MENTE CULTIVADAS COM CROTALÁRIA JUNCEA
Um dos usos mais frequentes da cana-de-açúcar nas pequenas propriedades rurais têm sido para a alimentação de ruminantes (OLIVEIRA et al., 2019). Na tabela 4 estão apresentados os resultados de um trabalho de uso da crotalária juncea como adubo verde em área posteriormente utilizada para produção de cana-de-açúcar destinada a alimenta-ção de bovinos. Nesse trabalho usou- se a variedade RB867515, uma variedade de alto potencial produtivo e muito responsiva à melhoria das propriedades do solo e ao forneci-mento de nutrientes.
Tabela 4. Produção de forragem (matéria natural) da cana-de-açúcar, variedade RB867515, nos ciclos de cana-planta e primeira rebrota, em função do cultivo anterior (pousio ou cultivo com crotalária juncea), em três propriedades que
utilizam cana-de-açúcar na alimentação de vacas leiteiras.
Ciclo
Propriedades
1 2 3
Produção de forragem (t ha–1)
Pousio Crotalária Pousio Crotalária Pousio Crotalária
Cana-planta 156 177 138 153 146 165
Primeira Rebrota 139 150 126 137 123 142
Total 295 a 327 b 264 a 290 b 269 a 307 b
* Para cada fazenda, médias seguidas de mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste F a 5% de probabilidade.
A adubação verde com crotalária juncea, antecedendo ao plantio da cana de ano e meio, resultou em aumento de produção de forragem nos ciclos de cana-planta e primeira rebrota, que, somados, oscilaram de 26 a 38 t por hectare. Em média, os colmos representam de 80 a 85% da biomassa área da cana-de-açúcar (OLIVEIRA et al., 2007), assim, o aumento de produção de colmos industrializáveis variou de 20 a 30 t por hectare. Numa análise de vários anos, os custos dessa adubação verde variaram, em preços equivalentes, de 6 a 12 t de colmos industrializáveis por hectare, desta forma, o aumento de produtividade cobriu com folga os custos do cultivo da crotalária juncea. Deve-se considerar ainda que há estu-dos em que o aumento de produtividade da cana-de-açúcar devido a adubação verde com crotalária juncea foi maior: Mascarenhas et al. (1994), em estudos conduzidos por vários anos em Sales Oliveira, estado de São Paulo, relatam aumentos de produção de colmos industrializáveis variando em 26 a 40 t por hectare.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
64
Ante ao exposto, pode-se concluir que a adubação verde com crotalária juncea nas áreas de reforma ou implantação de canaviais contribui para o aumento da produtividade de cana-de-açúcar e o uso mais eficiente dos fatores de produção terra, capital e trabalho.
REFERÊNCIAS
1. ALVARENGA, R. C. et al. Características de alguns adubos verdes de interesse para a con-servação e recuperação de solos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.30, p. 175-185, 1995.
2. AMABILE, R. F.; FANCELLI, A. L.; CARVALHO, A. M. Comportamento de espécies de adubos verdes em diferentes épocas de semeadura e espaçamentos na região dos cerrados. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.35, p. 47-54, 2000.
3. BARRETTO, A.C.; FERNANDES, M.F. Recomendações técnicas para uso da adubação verde em solos de Tabuleiros Costeiros. Aracaju: EMBRAPA Tabuleiros Costeiros, 2001. 24p.
4. CHADA S.S, DE-POLLI, H. Nodulação de leguminosas tropicais promissoras para a adubação verde em solo deficiente em fósforo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.23, p.1197-1202. 1988
5. DUARTE JÚNIOR, J. B.; COELHO, F. C. Adubos verdes e seus efeitos no rendimento da cana-de- açúcar em sistema de plantio direto. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.67, p. 723-732, 2008.
6. ERNANI, P.R.; ALMEIDA, J. A. Comparação de métodos analíticos para avaliar a necessidade de calcário dos solos do Estado de Santa Catarina. R. Bras. Ci. Solo, v.10, p.143-150, 1986.
7. ERNANI, P.R.; BAYER, C.; FONTOURA, S. M. V. Influência da calagem no rendimento de matéria seca de plantas de cobertura e adubação verde, m casa de vegetação. R. Bras. Ci. Solo, v. 25, p.897- 904, 2001.
8. KAMINSKI, J. et al. Estimativa da acidez potencial em solos e sua implicação no cálculo da necessidade de calcário. Rev. Bras. Ci. Solo, v. 26, p.1107-1113, 2002.
9. LEAL, M. A. A. Produção eficiência agronômica de compostos obtidos com a palhada de gramíneas e leguminosas para o cultivo de hortaliças orgânicas. Tese – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 2006. 113 p.
10. LIMA, J. D. et al. Arranjo espacial, densidade e época de semeadura no acúmulo de matéria seca e nutrientes de três adubos verdes. Pesquisa Agropecuária Tropical, v.40, n. 4, p. 531-540. 2010.
11. MASCARENHAS, H. A. A. et al. Efeito residual de leguminosa sobre rendimento físico e eco-nômico da cana-planta, Instituto Agronômico. Boletim Técnico n.32. Campinas, 1994. 15 p.
12. MEDA, A. R. Tolerância à toxidez do alumínio por leguminosas tropicais utilizadas em adubação verde. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas. Campinas. 2003. 109 p.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
64 65
13. OLIVEIRA, M.W. et al. Acúmulo de matéria seca por adubos verdes semeados em diferentes épocas. In: ENCONTRO CIENTÍFICO DOS PÓS-GRADUANDOS DO CENA/USP. 1998. Re-sumos. Piracicaba, CENA/USP. p.59.
14. OLIVEIRA, M. W. et al. Biomassa e nitrogênio na crotalária juncea e na Brachiaria plantaginea em área de plantio de cana de ano e meio. XXIX Congresso Brasileiro de Ciência do Solo (CBCS). Ribeirão Preto. Anais do Congresso. Botucatu / UNESP/SBCS, 2003. CD.
15. OLIVEIRA, M. W. et al. Doses de corretivos e alterações químicas em dois solos. I Congresso Brasileiro de Mamona. Campina Grande, Paraíba. 2004. CD Room.
16. OLIVEIRA M.W. et al. Nutrição mineral e adubação da cana-de-açúcar. Informe Agropecu-ário, n.28, p.30-43. 2007.
17. OLIVEIRA, M.W. et al. Taxa de crescimento, acúmulo de nutrientes e atividade alelopática da crotalária juncea. In: III Simpósio Brasileiro de Agricultura Sustentável. 2011. Viçosa. Anais do... III Simpósio Brasileiro de Agricultura Sustentável. 2011a. CD ROM.
18. OLIVEIRA, M.W. et al. Acúmulo de matéria seca de nitrogênio por crotalária juncea, crotalária spectabilis e feijão de porco, inoculados com rhizobium. In: XXI Congresso Brasileiro de Zootecnia. 2011b. Maceió. Anais do... XXI Congresso Brasileiro de Zootecnia. 2011. CD ROM.
19. OLIVEIRA, M. W. et al. Época de semeadura altera o crescimento e a produção de biomassa da crotalária juncea. I Congresso Internacional das Ciências Agrárias – COINTER. Recife – PE. Anais do I Congresso. 2016. CD.
20. OLIVEIRA M.W. et al. Mineral nutrition and fertilization of sugarcane. In: Sugarcane – Tech-nology and Research. 1ed. Londres: INTECH - Open Science, 2018. Disponível em: https://www.intechopen.com/books/ sugarcane-technology-and-research/mineral-nutrition-and- ferti-lization-of-sugarcane.
21. OLIVEIRA, M. W. et al. Sugarcane Production Systems in Small Rural Properties. In: Multi-functionality and Impacts of Organic and Conventional Agriculture 1ed. Londres: INTECH - Open Science, 2019. Disponível em: https://www.intechopen.com/books/multifunctionality--and-impacts-of-organic-and-conventional- agriculture/sugarcane-production-systems-in-s-mall-rural-properties
22. PERIN, A. et al. Produção de fitomassa, acúmulo de nutrientes e fixação biológica de nitrogê-nio por adubos verdes em cultivo isolado e consorciado. Pesquisa Agropecuária Brasileira. v.39, p. 35-40, 2004.
23. RAIJ, B. Melhorando o ambiente radicular em subsuperfície. Informações Agronômicas, n. 153, POTAFOS, Piracicaba. P.8-18, 2011.
24. RIBEIRO JÚNIOR, W. Q, RAMOS M.L.G. Fixação biológica de nitrogênio em espécies para adubação verde. IN: Cerrado: Adubação verde. CARVALHO, A. M; AMABILE, R., EMBRAPA Cerrados, p. 171-209, 2006.
25. SANTOS, V. S.; CAMPELO JÚNIOR, J. H. Influência dos elementos meteorológicos na produção de adubos verdes, em diferentes épocas de semeadura. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.7, n.1, p. 91-98. 2003.
26. TEODORO, R. B. et al. Aspectos agronômicos de leguminosas para adubação verde no cerrado do Alto do Vale do Jequitinhonha. Rev. Bras. Ci. Solo, v. 35, p.635-643, 2011.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
66
27. WUTKE E.B, ARÉVALO R.A. Adubação verde com leguminosas no rendimento da cana-de--açúcar e no manejo de plantas infestantes. Instituto Agronômico de Campinas, Campinas, 2006. Boletim técnico n.198, p.28.
04A g r i c u l t u r a c a m p o n e s a e multifuncionalidade: muito além da produção
Carmem Rejane Pacheco-PortoFURG
Júlia Graziela PuntelFURG
Darwin Aranda ChuquillanquePGDR/UFRGS
10.37885/210303896
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
68
Palavras-chave: Pluriatividade, Autoconsumo, Peru.
RESUMO
O artigo traz à discussão uma concepção centrada nos conceitos segurança alimentar, multifuncionalidade e autoconsumo. Com base nesses, faz-se a análise das estratégias empreendidas pelos camponeses por meio de múltiplas funções por eles assumidas no espaço rural e os resultados delas decorrentes. O estudo realizou-se na comunidade de Peringos, província de San Ignacio/Peru e foi elaborado mediante revisão bibliográfica sobre os conceitos mencionados, caracterização da área de estudo por meio de dados secundários e de entrevista e observação participante, que investigou in loco as estraté-gias de sobrevivência das famílias na comunidade. Participaram da pesquisa 30 famílias camponesas que produzem café orgânico para exportação, são pluriativas e reproduzem elementos que fazem parte de suas histórias de vida, esses os fortalecem frente a lógica do mundo globalizado e melhoram a sua existência. A pesquisa foi desenvolvida entre os anos de 2018 e 2020. O artigo apresenta-se seccionado. A primeira discorre sobre a segurança alimentar no contexto da modernização da agricultura. Na continuidade, faz-se uma abordagem sobre multifuncionalidade refletindo sobre a importância desta para a segurança alimentar, sobretudo o autoconsumo, reciprocidade e pluriativida-de. Ao final, busca-se uma possibilidade de análise das informações e dados relativos ao estudo em questão.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
68 69
SEGURANÇA ALIMENTAR NO CONTEXTO DE UM MODELO IMPOSTO PELO GRANDE CAPITAL
Segundo a FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 2014), a missão da Segurança Alimentar está relacionada à quantidade e a qualidade dos alimentos consumidos e adquiridos pelas famílias, de modo a saciar suas necessidades nu-tricionais diárias, tendo em vista o alcance de um padrão de vida ativa e saudável. O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional, considera a quantidade, qualidade e regularidade no acesso aos alimentos (BELIK, 2003, p. 14). O acesso à alimentação e a comida são ele-mentos centrais e fundamentais para assegurar as condições de vida de uma população e para o funcionamento de uma sociedade. Por isso, sua ausência ou a carência das condi-ções adequadas de segurança alimentar tendem a tornar-se um vetor de sofrimento físico, material e emocional (PREISS, SCHNEIDER, SOUZA, 2020, p. 09).
Nessa reflexão, deve-se ressaltar, que a agricultura passou por muitas transformações no decorrer dos tempos, contudo, as principais mudanças se iniciaram nos anos de 1950, pós Segunda Guerra Mundial, com a implantação do programa de inovações tecnológicas na agricultura, denominada Revolução Verde. Este projeto implantou um sistema onde máquinas e armas químicas usadas na II Guerra Mundial passaram a ser aplicadas na agricultura, constrói-se um discurso hegemônico justificando a necessidade de produção de alimentos em larga escala. O objetivo era aumentar a produção e a produtividade no campo por meio de modificações genéticas em sementes, fertilização do solo, ampla utilização de agrotóxicos e mecanização intensiva.
A imagem de modelo de produção entendida como capaz de vencer a fome mundial ganhou corpo e foi adotado pela maioria dos países. Entretanto, a adoção deste modelo de agricultura gerou impactos negativos, tanto ao meio ambiente, como à população e ao espaço rural, em decorrência da expansão indiscriminada do uso de tecnologias, do uso abusivo dos recursos naturais e venenos agrícolas, combinado a desculturalização dos indi-víduos. E contrariando ao discurso preconizado não acabou com a fome no mundo, trata-se, também, de um modo de saber colonialista que tem por pretensão se sobrepor aos sistemas locais de saber (SHIVA, 2003, p. 22).
Por conseguinte, a Revolução Verde não foi apenas um programa de inovações técni-cas na agricultura com finalidade de aumentar o contingente de alimentos e sanar a fome, foi principalmente um programa com intenções lucrativas, um escape/destino para produtos de empresas nascidas e criadas para a guerra, havia intencionalidade de lucro inserida no contexto, que esteve por dentro da estrutura do processo (DE ANDRADES, 2007, p. 44-45).
Entretanto, mesmo com a indiscriminada modernização da agricultura, absorvendo parte da agricultura camponesa e a transformando em agricultura empresarial, o modo de fazer
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
70
agricultura do camponês e o campesinato, permaneceram, segundo pesquisas de Ploeg (2008a, p. 103-163), são evidenciados os diferentes modos de fazer agricultura, com suas respectivas heterogeneidades culturais, e ao mesmo tempo com suas homogeneidades, mesmo em diferentes culturas encontram-se características homogêneas, como a produção para o autoconsumo, a reciprocidade e a pluriatividade, são exercidas em todas as partes do mundo onde se encontram comunidades camponesas. Visto que, são estratégias de so-brevivência herdadas da organização camponesa, exercerem papéis para além da produção agropecuária, para além do econômico, entendidas no contexto da multifuncionalidade.
Dados recentes da FAO (2017), indicam o incremento da fome na América do Sul no período de 2015 a 2017, especialmente na Venezuela, Argentina e Peru, atingindo 42,5 milhões de pessoas (GRISA et al, 2018, P. 17). O que nos permite afirmar que a agricultura familiar responsável pela produção de alimentos para a população historicamente foi negli-genciada. Embora haja o reconhecimento de que, assim como a modernização da agricultura esteve fortemente amparada pelo Estado em diferentes países da América Latina, também é de grande importância as políticas públicas criadas para a agricultura familiar em países da América Latina que diminuíram a pobreza e a pobreza extrema no espaço rural, entre os anos 2000 e 2012, entretanto os dados indicam que no período entre 2014 e 2016 houve um incremento da pobreza (GRISA et al, 2018, P. 17).
MULTIFUNCIONALIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR
A discussão sobre multifuncionalidade surge em meio ao debate sobre desenvolvimento sustentável que teve suas bases na Conferência de Estocolmo em 1972, na Suécia. É o entendimento de que a função da agricultura não se reduz a produzir alimentos em uma lógica produtivista, conforme o propósito da Revolução Verde. A noção de multifunciona-lidade contribui para legitimar a agricultura familiar em suas diferentes dimensões sejam elas: sociais, ambientais, culturais e territoriais. Conforme dito em Sabourin (2008, p. 58), a multifuncionalidade da agricultura familiar foi definida, através do reconhecimento, do inte-resse público sobre as funções sociais, ambientais, culturais e econômicas não diretamente produtivas ou mercantis, agregadas às explorações agropecuárias da agricultura familiar.
As funções oriundas da agricultura familiar são de preservação da agrobiodiversida-de, conservação das paisagens e dos recursos naturais, além da manutenção da coesão social e cultural nos territórios rurais, que não são exploradas pelo mercado. São caracte-rísticas provenientes das explorações camponesas historicamente construídas, que foram desmembradas, deturpadas, em benefício de uma agricultura industrializada durante o processo de modernização agrícola. Este modelo de agricultura, por sua vez, ao privilegiar a exclusividade da lógica de industrialização no espaço rural, extremamente produtivista,
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
70 71
simultaneamente, elaborou uma agricultura desestruturada dos pontos de vista ecológico, cultural, social e também econômico, uma vez que depende de subsídios externos para se manter. Diante do exposto, em síntese a noção de multifuncionalidade constitui um novo apanhado das múltiplas dimensões e funções envolvidas dentro da atividade agrícola, ali-nhando-se à ideia de desenvolvimento sustentável e conservação do ambiente (CARNEIRO e MALUF, 2005, p. 44).
Os autores (Carneiro e Maluf, 2003; Froehlich, 2004), destacam algumas contribuições sobre a multifuncionalidade da agricultura familiar, que encontram eco em grande parte da literatura já publicada sobre o tema, entre essas estão: a reprodução socioeconômica das famílias rurais, a pluriatividade, a manutenção do tecido social e cultural, a promoção da segurança alimentar das próprias famílias rurais e da sociedade, dentre as quais pode-se destacar também, a garantia da qualidade nutricional e diversidade dos alimentos, a produção para o autoconsumo e venda do excedente, a conservação da agrobiodiversidade e da pai-sagem rural, a manutenção da produtividade do solo, e a diversificação das atividades rurais.
A multifuncionalidade da agricultura entra como um elemento disposto a romper com o modelo de desenvolvimento agrícola hegemônico, que não obteve sucesso enquanto generalizado, visto que a diversidade da agricultura familiar, tanto social como cultural, se manteve mesmo com a pressão do mercado capitalista, característica que sustenta o desen-volvimento social e econômico na unidade de produção. Entretanto, para Alves (2004, p. 19), a forte capacidade da agricultura familiar em se modelar e se adaptar a inúmeras formas de organização produtiva, a afasta do hegemônico modelo atual produtivista, é esta, maleabili-dade, que a coloca na base da construção social da multifuncionalidade agrícola, como mais uma entre tantas formas de resistência já experimentadas pelas organizações familiares.
A partir da inserção do conceito multifuncionalidade no âmbito dos debates sobre a agricultura familiar, houve a possibilidade de analisar o diálogo entre famílias rurais e territórios dentro da dinâmica de reprodução social, enxergando suas reais necessidades, que dialogam com aspectos relacionados ao meio ambiente, à segurança alimentar e ao patrimônio cultural, ou seja, uma agricultura multifuncional (CAZELLA et al. 2009, p. 189-190). É sobretudo, um olhar ampliado sobre a agricultura de base familiar que permite analisar a interação entre as famílias rurais e os territórios na dinâmica das relações políticas e nas demais interações entre sociedade e natureza.
A pesquisa aborda na perspectiva da multifuncionalidade o autoconsumo, a reciprocida-de, a pluriatividade, as quais são entendidas como importante contribuição para a segurança alimentar e reprodução social das famílias.
AMARAL, et al. (2016, p. 103-104), destaca que a óptica da multifuncionalidade não se manifesta com o intuito de retirar da agricultura, suas importâncias, mas sim para lhe garantir
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
72
a valoração de suas inúmeras funções e aptidões, que ultrapassam o limite esperado das atividades agrícolas, estas mesmas estão sendo compreendidas pela população rural, que absorvem e concretizam suas implementações, indivíduos percebem as transformações do meio rural e procuram se adaptar à nova realidade.
Grisa (2008, p. 2) descreve a produção para o autoconsumo, como sendo toda a produção realizada pela família na propriedade que é destinada ao seu próprio consumo. Caracteriza-se por ser uma prática que faz parte e que constitui a imagem da vida do cam-ponês ou da agricultura familiar, esta estratégia desempenha diversas funções, além da produção de alimentos, tendo em vista a expressiva insegurança alimentar e a pobreza que permeia o espaço rural. Para Grisa (2008, p. 2-7), existe uma retomada significativa e simul-tânea dentro das unidades de produção agrícolas familiares, que retrata o refortalecimento da produção para autoconsumo. Essa retomada ocorre após um longo período, onde esta produção era colocada em segundo plano no conjunto da produção e vista como sinônimo de atraso pelo modelo de agricultura proposto pela revolução verde, para a qual a prioridade estava em gerar renda com as culturas comerciais.
No âmbito da multifuncionalidade, a produção para o autoconsumo, reciprocidade e pluriatividade se constituem como algumas das muitas estratégias utilizadas para a ma-nutenção da unidade de produção familiar. Menasche (2008, p. 150-151) nos diz que, por ser um hábito enraizado, ou seja, uma reprodução cultural de determinadas comunidades rurais, produzir parte dos alimentos consumidos pela unidade familiar e pelos animais que pertencem a propriedade familiar agrícola, garante a Segurança Alimentar e Nutricional dos indivíduos, visto que, o processo de produção própria de alimentos caracteriza-se principal-mente pela maior diversidade, pela alta qualidade dos alimentos e pela oferta anual, que acontece de forma contínua.
O conceito de reciprocidade discutido por Sabourin (2011, p. 27-28), se justifica nas comunidades camponesas pelo valor que as relações mútuas representam para aquela sociedade, além disso, contribuem para a conservação de normas sociais herdadas dentro destas, passadas de geração em geração. O conceito de reciprocidade é apresentado como uma norma imprescindível para uma convivência saudável, são observados comportamen-tos colaborativos em diversos momentos que abrangem diferentes atividades dentro das comunidades camponesas. A reciprocidade é tratada como uma dádiva por Sabourin (2011, p. 30-31), representa uma das características genéricas dos camponeses, algo que é pas-sado por herança mesmo com suas inovações nas formas de cooperação, reconhecendo a importância da dádiva para a classe camponesa, invisível para a sociedade, o autor afirma em seus estudos que se trata de uma estratégia para a sobrevivência das famílias campo-nesas, especialmente para a sua capacidade de reprodução social e econômica no campo.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
72 73
Ao discutir a pluriatividade, Abramovay (1992, p. 135-207) destaca que além de sua ligação direta com as atividades que podem ocorrer dentro e fora da propriedade rural, tam-bém cabe destacar o direcionamento dos agricultores para outras atividades remuneradas que criam alternativas às crises oriundas das oscilações de preços em função do mercado e da superprodução. Nesta perspectiva, a pluriatividade é sobretudo uma estratégia ligada à sobrevivência dos indivíduos que compõem o domicílio rural.
Na contemporaneidade, segundo contribuições de AMARAL, et al.(2016, P. 103), a sociedade identifica a ascensão da segurança alimentar como um bem público, pelo fato de prover a biodiversidade, a paisagem natural e manter a herança cultural das comunidades, de certa forma é vista como a principal função exercida pela agricultura. Além disso, os autores salientam que a multifuncionalidade não é um aspecto novo na agricultura familiar, visto que faz parte da realidade histórica e social das comunidades rurais, são anteriores às transformações ocorridas no processo de modernização. O que aconteceu mais recen-temente foi seu reconhecimento e registro pelos meios públicos e acadêmicos.
De acordo com estudo De Jesus (2017, p. 207), a segurança alimentar não está re-lacionada somente com a produção de alimentos, mas sim, a forma como esses alimentos foram produzidos e em que ambiente foram produzidos, está muito mais relacionada com a higidez ecológica, ou seja, a saúde do ambiente de produção agrícola, deve-se levar em conta que somente inovações tecnológicas não resolvem o problema da fome, a revolução verde está condenada pela insegurança alimentar que causou. Ainda, que mais presente na mesa das populações carentes, que apresentam difícil acesso a alimentos, tanto em quantidade como em qualidade, a insegurança alimentar não é uma mazela que permeia somente e exclusivamente as populações mais pobres, tornou-se um mal global, atingindo todas as classes sociais, independente do poder aquisitivo.
AS MÚLTIPLAS FUNÇÕES ANALISADAS EM UMA COMUNIDADE CAM-PONESA
A partir do enfoque teórico proporcionado pela noção de multifuncionalidade da agri-cultura, analisou-se o estudo realizado na comunidade de Peringos, em San Ignacio/Peru. Trata-se de identificar de que forma a agricultura, neste caso, em uma organização campo-nesa engendra outras funções de caráter social, cultural, econômico e ambiental e de que forma se expressam as funções para além da produção voltada para o mercado neste terri-tório particular. A pesquisa foi realizada com 30 famílias camponesas em suas Unidades de Produção Familiar, sendo que os trabalhos de campo viabilizaram as entrevistas e a observa-ção participante, ocorridas de 22 de janeiro a 23 de fevereiro de 2018, a complementação da
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
74
revisão bibliográfica atendeu os temas relacionados ao campesinato, a segurança alimentar, a multifuncionalidade, o autoconsumo, a reciprocidade e a pluriatividade.
Nas contribuições de Grisa et al., (2018, p. 9), os complexos familiares no Peru, cor-respondem por 97% das unidades agropecuárias e 83% do emprego agrícola, 60,3% da população rural peruana estava em condição de pobreza em 2009, alcançando 70% nos Departamentos da Serra, região que concentra a “pequena agricultura”. Ainda, segundo Grisa et al., (2018, p.10), os dados de 2016 apontam incremento na pobreza rural e na pobreza extrema rural, alcançando, respectivamente, 48% e 22% da população das áreas rurais. É importante não associar agricultura familiar à pobreza, embora estes dados sejam alarmantes. “(...) la agricultura familiar no es sinónimo de pobreza. En función de su base de activos, del acceso a los mercados y los servicios y de otros factores, las pequeñas explotaciones pueden generar con mucha eficiencia niveles suficientes de producción e ingresos” (IICA, 2016, p. 13).
MÉTODO
A pesquisa foi desenvolvida por meio de vários caminhos que incluem; quanto a abor-dagem, principalmente a qualitativa sem desprezar alguns aspectos quantitativos, quanto aos procedimentos se utiliza a revisão bibliográfica que permite à análise das diversas posições acerca de um problema e a pesquisa de campo, conjugada a observação participante que proporcionou a coleta de informações junto aos camponeses(as).
Outro procedimento para a coleta de informações foi a entrevista semiestruturada. As en-trevistas no formato semiestruturado são um meio termo entre as estruturadas e não es-truturadas. Normalmente é feito num estilo questionário semiaberto, ou seja, adotando um roteiro para a entrevista. O número de questões pode variar, dependendo da análise que se pretende realizar contendo questões fechadas e abertas (SEVERINO, 2007, p. 109). Além da entrevista semiestruturada, foi utilizada a técnica de “observação participante” proposta por Geilfus (2002, p. 34). A observação participante é uma técnica de investigação social em que o observador divide o mesmo espaço, na medida em que as circunstâncias o con-cedem, as atividades, as ocasiões, os interesses e os afetos de um grupo de pessoas ou de uma comunidade. Essa técnica consiste em inserir-se durante um período na comunidade e participar das atividades para entender e adquirir uma compreensão mais profunda da realidade. Para o autor o período de permanência na comunidade, não precisa ser longo.
A organização das informações e análise ocorreu entre janeiro de 2019 e maio de 2020. A entrevista semiestruturada buscou coletar as seguintes informações: identificação (gênero, estado civil, faixa etária, escolaridade); tipos de produtos produzidos na proprie-dade, outras fontes de renda além do café, participação do poder público na produção e
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
74 75
comercialização, participação dos integrantes da família na produção e comercialização, trabalhadores externos na propriedade, aposentadoria ou participação em algum programa social, dificuldades na produção e comercialização; satisfação com a atividade de produção, comercialização e forma de organização. As demais questões também fundamentais para atender os objetivos da pesquisa foram sendo compreendidas por meio da observação participante, observação do espaço rural onde a comunidade camponesa está inserida, a relação desta com a natureza, o modo de vida da comunidade e as relações estabelecidas entre as famílias pertencentes à comunidade.
Na continuidade do estudo, com base nos dados trabalhados num primeiro momento da pesquisa, realiza-se uma reflexão à luz da revisão bibliográfica sobre os temas mencio-nados anteriormente, considerados pertinentes para tentar elucidar as estratégias utilizadas pelos camponeses que complementam a renda, mas sobretudo garantem a permanência do camponês na unidade de produção familiar e a relativa sustentabilidade do espaço rural.
COMUNIDADE CAMPONESA DE PERINGOS E SUAS ESPECIFICIDA-DES
San Ignacio é uma província que tem sua economia movimentada pela agricultura, entre os principais produtos destaca-se a produção de café orgânico, principalmente para exportação e a produção de banana, mandioca, arroz, frutas, verduras, galinhas, patos, suínos, entre outros, todos esses destinados para o autoconsumo e para o abastecimento do mercado local. Segundo o Instituto Nacional de Estatística e Informática – (INEI, 2018) San Ignacio tem um índice de pobreza de 64,5%, pobreza extrema 30,8% e 21,7% de des-nutrição crônica em crianças menores de cinco anos.
Na província de San Ignácio a agricultura é a atividade predominante, mesmo que a cultura do café tenha atualmente uma forte presença nas unidades de produção familiar, outras atividades agrícolas e não agrícolas são identificadas e fazem parte do modo de vida das famílias camponesas. Entre as 30 famílias camponesas entrevistadas na província de San Ignacio - Peru, 53,33% pertencem ao gênero feminino e 46,67% ao gênero masculino, os camponeses apresentam idades entre 23 e 67 anos, observando os dados, pode-se afirmar que os jovens ainda mantêm a sucessão familiar no campo. Relatos durante os tra-balhos de campo e entrevista permitem a inferência em relação ao retorno dos jovens para o campo, que fica corroborada quando três dos camponeses entrevistados, dois homens e uma mulher com idades de 30, 27 e 24 anos respectivamente assinalaram que eles voltaram ao campo porque “cansaram da cidade, e viver no campo é melhor”. Essa volta de jovens ao campo tratada pode ser considerada como uma forma de “Recampesinização”. Ploeg (2008b, p. 23) argumenta que “A recampesinização é uma expressão moderna para a luta
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
76
por autonomia e sobrevivência em um contexto de privação e dependência”. A escolaridade na comunidade é extremamente baixa, e entre os entrevistados, apenas 60% frequentaram o ensino fundamental. Observa-se que, os camponeses que fizeram parte da pesquisa em San Ignacio/Peru, estão perdendo o modo de vida camponês, isso se explica sobretudo por desenvolverem atualmente um tipo de agricultura voltada para inserção na economia global, talvez não por vontade própria e sim pela pressão dos mercados internacionais, onde a visão preponderante é firmada no monocultivo e na produtividade. Além do mais, a cultura de café, na província de San Ignacio/Peru, local do estudo, demonstra a fragilidade da inserção das famílias camponesas no mercado internacional, nota-se que, a produção de café é basicamente realizada por camponeses que em alguns casos possuem um nível mínimo de escolaridade, o que cria limitações para estabelecerem canais adequados de comercialização, tanto nos mercados internos quanto externos.
Neste contexto, a produção para o autoconsumo em propriedades camponesas, de-sempenha um papel importante na economia, na reprodução social e na sobrevivência das famílias de campesinos. A renda proveniente da comercialização do café não garante o básico para a manutenção das famílias, mesmo que os camponeses realizem todo o tra-balho referente a produção e tenham consciência que a mão de obra utilizada no processo de produção, quando contabilizada, representa mais de 50% dos custos de produção do café. A pesquisa revelou que os camponeses priorizam a mão de obra familiar e de mutirões, como não contabilizam as despesas de alimentação durante a realização destes trabalhos coletivos, nem o custo da mão de obra, a sensação é de que o lucro com o cultivo do café é maior do que realmente foi evidenciado.
Alguns camponeses, durante a vivência na comunidade de Peringos, relataram que não aumentam a sua área de produção devido à carência de mão de obra e a falta de me-lhores terras para o cultivo. A falta de terras, faz com que esses camponeses cultivem o café em áreas íngremes, distantes e de difícil acesso. O desmatamento e preparo destas novas lavouras é realizado através de mutirões, que são mobilizações coletivas de auxílio mútuo, uma estratégia de sobrevivência dos camponeses. Segundo Caldeira (1956), os mutirões são um herança da cultura Inca, em que era obrigatório nas atividades agrícolas, o mutirão,identificado como um costume indígena peruano e realiza-se principalmente na época da colheita, mas também ocorre no processo de preparo da terra, ou seja, na capina, no plantio de novas lavouras, na construção de casas, entre outras atividades relacionadas à vida campesina.
Os mutirões são instigados pela penosidade imposta pelo trabalho na agricultura cam-pesina, o que motiva os camponeses a manterem a união nos momentos de maior demanda de mão de obra. Outro motivo que leva o camponês a realizar mutirões é a preservação
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
76 77
da herança de reciprocidade que existe nas comunidades camponesas, onde os vizinhos auxiliam uns aos outros em diversos momentos de necessidade (SABOURIN, 2011, p. 35).
Ainda assim, na atual conjuntura, foi destacado que este método está se perdendo com o passar dos anos, em consequência dos camponeses possuírem pequenas lavouras e disponibilizarem de pouco tempo para se colocarem à disposição de eventuais mutirões organizados por seus vizinhos.
Contudo, cabe realçar que o pouco lucro da produção do café tem limitado as rela-ções de reciprocidade entre os camponeses, que preferem cobrar a diária de trabalho do que participar de mutirões. Se inicialmente a necessidade fez com que os camponeses se unissem em mutirões, uma necessidade entendida por eles como maior faz com que estes mesmos camponeses ofereçam o seu trabalho como mão de obra no campo, pelo simples fato de não conseguirem manter as necessidades básicas da estrutura familiar, apenas com a produção do café, o que resulta na pluriatividade. Considerada como uma estratégia de sobrevivência desenvolvida no meio rural ou uma forma de complementar a renda do cam-ponês, reduzindo a dependência de circuitos bancários (PLOEG, 2008c, p. 49).
Na necessidade de sustentar o complexo familiar, os camponeses tradicionalmente têm como estratégia a diversificação da produção para o autoconsumo e comercialização do excedente. Comercialização esta, feita por atravessadores que pagam um preço muito baixo pelos produtos dos camponeses, desvalorizando a produção para o autoconsumo, que como dito gera o excedente, por vezes tal situação desmotiva a continuidade ou o aumento deste tipo de produção. Nesse contexto, a produção para o autoconsumo, não raras vezes, é vista como uma tarefa a mais a ser realizada, entendida como algo que não oferece um retorno satisfatório. Entre os principais produtos comercializados, além do café considerado na comunidade como principal produto agrícola, estão: frutas (cacau e banana), fumo, animais (galinhas e suínos) e o mel. Entre os principais produtos para o autoconsumo, destacam-se: frutas (banana, maracujá, laranja, mamão, etc), raízes (mandioca), tubérculos (batata doce), cereais (milho), legumes (feijão, abóbora), hortaliças (alface de variadas espécies), animais de pequeno porte (galinhas, porquinhos da índia, patos, suínos, entre outros), derivados de animais (ovos, gordura, carne, mel).
Observa-se, que a produção para o autoconsumo não é só algo cultural, mas sim algo necessário, pois como já foi dito somente a cultura do café, que é destinado à exportação e portanto não faz parte da produção para o consumo, não é suficiente para prover as neces-sidades e manutenção destes indivíduos e de suas famílias. Cabe destacar que, conforme foi dito anteriormente, a produção para o autoconsumo é reconhecida como uma estratégia fundamental, já que a mesma garante a alimentação da família e dos animais da propriedade, animais que são parte do autoconsumo (GRISA, 2008, p. 22-23).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
78
O tempo de desenvolvimento da pesquisa foi anterior a pandemia causada pelo COVID 19. A pobreza já estava presente na comunidade de Peringos, com a pandemia o acesso aos alimentos está dificultado. O contato com a comunidade evidencia um momento de va-lorização da produção para subsistência, pois além da dificuldade de acesso aos alimentos antes comprados nas imediações da comunidade, a elevação dos preços dos alimentos tem impactado diretamente as residências das populações mais vulneráveis.
A COVID-19 está afetando a vida diária de todos. No entanto, as pessoas ainda preci-sam trabalhar e comer para se manterem saudáveis. Os camponeses precisam garantir sua renda. Por esse motivo, a FAO (2020) trabalha para garantir que seus programas continuem a apoiar aqueles que sofrem de insegurança alimentar ou cujos meios de subsistência estão em risco com a pandemia.
ÚLTIMAS PALAVRAS
Este artigo busca identificar as diversas funções que a agricultura campesina realiza para além da produção agropecuária direcionada ao mercado, na busca de uma qualidade de vida melhor ou simplesmente um hábito cultural enraizado. A diversificada produção de alimentos para o autoconsumo dentro das propriedades rurais camponesas, considerada uma atividade de segundo plano, assegura além da subsistência do complexo familiar, a segurança alimentar destas famílias, a cultura herdada do modo de fazer agricultura, que foi e ainda é discriminada pelo atual modelo de agricultura fruto da modernização da agri-cultura. A multifuncionalidade traz consigo outras estratégias como a pluriatividade, a pro-moção da segurança alimentar da sociedade, a produção para o autoconsumo e venda do excedente, a conservação da agrobiodiversidade e a manutenção da paisagem rural, são fatores que auxiliam na manutenção do tecido cultural, social e econômico da comunidade estudada, preservando a identidade cultural dos campesinos. Visto que, são estratégias de sobrevivência herdadas da organização camponesa, exercerem papéis para além da pro-dução agropecuária, para além do econômico, no contexto da multifuncionalidade.
Constata-se que, os camponeses da província de San Ignacio - Peru, estão inseridos no espiral econômico, onde a especialização agrícola ou monocultura assume o comando da comunidade. A produção de café orgânico, é uma monocultura, menos agressiva ao meio ambiente, mas continua sendo o que é, monocultura. Apesar da produção de alimentos di-versos para seu consumo e venda do excedente, nota-se que as famílias camponesas não visualizam a sua importância na cadeia devido desculturalização gerada pela denominada Revolução Verde, onde tudo que importa é a produção direcionada ao mercado, que causa uma falsa participação direta na economia, quando o mesmo só contribui com sua força de trabalho, já que não comercializa seu produto de forma direta com o consumidor e sim
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
78 79
através de multinacionais e intermediários que são os principais beneficiados, sendo que, esses aproveitam da vulnerabilidade socioeconômica dos camponeses e capitalizam as diferentes dimensões de sustentabilidade presentes no produto comercializado no merca-do internacional.
REFERÊNCIAS
1. ABRAMOVAY, R. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. Campinas: Hucitec/Ampocs/Editora da Unicamp, 1992. p.135-207.
2. ALVES, Arilde Franco et al. O caráter multifuncional da agricultura: um estudo de caso no município de Rio do Sul-Alto Vale do Itajaí-SC. 2004.
3. AMARAL, Cleomara Nunes do et al. Contribuições da produção de autoconsumo em quintais para a segurança alimentar e nutricional e renda em Jangada, Baixada Cuiabana, MT. Gua-ju–Revista Brasileira de Desenvolvimento Territorial Sustentável. Matinhos, PR. Vol. 2, n. 1 (jan./jun. 2016), p. 102-119, 2016.
4. BELIK, W. Perspectivas para segurança alimentar e nutricional no Brasil. Revista Saúde So-ciedade, São Paulo, v. 12, n. 1, p. 12-20, jan./jun. 2003.
5. CALDEIRA, Clovis. Mutirão: formas de ajuda mútua no meio rural. Brasiliana, 1956.
6. CARNEIRO, M.J.; MALUF, R.S. (Orgs.) Para além da produção: multifuncionalidade e agricul-tura familiar. Rio de Janeiro : MAUAD, 2003. 230p
7. CARNEIRO, Maria José; MALUF, Renato S. Multifuncionalidade da agricultura familiar. Ca-dernos do CEAM, p. 43-58, 2005.
8. CAZELLA, Ademir A. et al. Agricultura familiar: multifuncionalidade e desenvolvimento territorial no Brasil. Manuad X, 2009.
9. DE ANDRADES, Thiago Oliveira; GANIMI, Rosângela Nasser. Revolução verde e a apropria-ção capitalista. 2007.
10. DE JESUS, Alex Sander Silva; OMMATI, José Emílio Medauar. Segurança alimentar e revolução verde: questionamentos atuais acerca da luta contra a fome no plano internacional. Revista do Direito Público, v. 12, n. 3, p. 191-215, 2017.
11. FAO/FIDA/OMS/PMA/UNICEF. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2017: fomentando la resiliencia en aras de la paz y la seguridad alimentaria. Roma: FAO, 2017.
12. FROEHLICH, J. M. et al. Multifuncionalidade do espaço rural na Região Central do Rio Grande do Sul: análise exploratória. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, 42., 2004, Cuiabá. Anais... Cuiabá: SOBER; UFMT, 2004. 1 CD-ROM.
13. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION – FAO. O estado da segurança alimentar enutri-cional no Brasil: um retrato multidimensional – Relatório 2014. Brasília, 2014. 90 p. Disponível em: <https://www.fao.org.br/download/SOFI_p.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2014.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
80
14. GEILFUS, F. 80 herramientas para el desarrollo participativo diagnóstico, planificación, moni-toreo, evaluación. San José, C.R.: IICA, 2002.
15. GRISA, Catia; SABOURIN, Eric; LE COQ, Jean-François. Políticas públicas para a agricultura familiar na América Latina e Caribe. Raízes: Revista de Ciências Sociais e Econômicas, v. 38, n. 1, p. 7-21, 2018.
16. GRISA, Catia. Riscos e consumo de alimentos na agricultura familiar: a reemergência da pro-dução para autoconsumo.(2008) http://www.fao.org/fao-stories/article/es/c/1272957/
17. INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA. Marco de referência: la agricultura familiar en las Américas: princípios y conceptos que guían la coope-ración técnica del IICA. IICA, 2016.
18. Instituto Nacional de Estatística e Informática - INEI. Disponível em: http://www.inei.gob.pe/. Acesso em: 30 de agosto de 2018.
19. MENASCHE, Renata; MARQUES, Flávia Charão; ZANETTI, Cândida. Autoconsumo e segu-rança alimentar: a agricultura familiar a partir dos saberes e práticas da alimentação. Revista de Nutrição, v. 21, p. 145s-158s, 2008.
20. PREISS, Potira V. SCHNEIDER, Sergio. SOUZA, Gabriela Coelho de. A segurança alimentar e nutricional no Brasil: apresentando o debate. In A Contribuição brasileira à segurança ali-mentar e nutricional sustentável. Organizadores Potira V. Preiss, Sergio Schneider, Gabriela Coelho-de-Souza. – Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2020.275 p. : pdf
21. SABOURIN, E. Multifuncionalidade da agricultura e manejo dos recursos naturais: alternati-vas a partir do caso do semi-árido brasileiro. Revista Tempo da Ciência, n.29, vol.15. Toledo: Unioeste, 2008. p.9-27.
22. SABOURIN, E. Teoria da Reciprocidade e sócio-antropologia do desenvolvimento.Sociologias, v. 13, n. 27, p. 24-51, 2011.
23. SEVERINO, A. J. F do Trabalho Científico. 23. ed. rev. e atual. São Paulo. Edit. Cortez, 2007.
24. SHIVA, V. Monoculturas da mente: Perspectiva da biodiversidade e da biotecnologia. Gaia, São Paulo, 2003.
25. VAN DER PLOEGmodo de saber colonialista , J. D. Camponeses e impérios alimentares: lutas por autonomia esustentabilidade na era da globalização. Porto Alegre: Editora da UFRGS. 2008.
05Agricultura familiar e o impacto do Covid-19 aos Programas de Políticas Públicas - PNAE E PAA
Alcione Lino de AraújoIFMA/UTFPR
Maria Helene Giovanetti CanteriUTFPR
Juliana Vitória Messias BittencourtUTFPR
10.37885/210303576
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
82
Palavras-chave: COVID-19, Políticas Públicas, Agricultura Familiar.
RESUMO
A pandemia da COVID-19 impactou negativamente os produtores rurais de forma multidi-mensional: saúde, produção, comercialização, renda e formas de comunicação. Por outro lado, os produtores rurais nessa pesquisa mostraram relativa capacidade de superação para enfrentar os desafios impostos. Muitos produtores e seus familiares e conhecidos foram infectados com o Sars-CoV-2. Assim, este estudo teve como objetivo analisar o impacto causado aos agricultores familiares devido a pandemia – COVID-19 frente aos programas de políticas públicas do Governo Federal PAA e PNAE na região dos Campos Gerais – PR. A metodologia inicialmente procurou uma revisão bibliográfica dos estudos mais recentes sobre os impactos causados na agricultura familiar com relação a pandemia da COVID-19; participaram desta pesquisa 68 produtores rurais, bem como Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Agricultura da região dos Campos Gerais – PR com dezenove cidades. Os resultados indicaram que a maior parte dos produtores rurais (86%) declarou que tiveram pessoas próximas infectadas, oscilando de dez pessoas ou mais entre familiares conhecidos e/ou o próprio produtor rural. À guisa da conclusão para esse estudo, foi possível identificar que alguns perderam amigos e parentes para a doença, além de sofrerem perdas na produção e quedas na venda e renda, mas nenhum(a) produtor(a) teve perda total da produção ou queda total de vendas.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
82 83
INTRODUÇÃO
A agricultura familiar é apontada como um novo caminho para a construção de agricul-turas de base ecológica ou sustentável. No entanto, o Brasil ainda não reconheceu as vanta-gens da agricultura familiar como estratégia ao desenvolvimento rural. Diante desse cenário, a agricultura familiar promove o rápido processo de inovação na indústria e nos serviços, sem piorar as taxas de desemprego no ambiente urbano. Com isso, as discussões sobre a importância e o papel da agricultura familiar vêm ganhando força, impulsionada através de debates embasados no desenvolvimento sustentável, na geração de emprego e renda e na segurança alimentar. Nesse mesmo processo de debate argumenta-se que, junto ao futuro tecnológico da agricultura e às inovações tecnológicas e organizacionais, não se pode deixar de considerar a questão ambiental. Não se trata mais de produzir em grandes quantidades, mas também, e principalmente, com qualidade, com técnicas socialmente aceitas e menos agressivas ao meio ambiente na região dos Campos Gerais - PR.
No Brasil, o universo da agricultura familiar é extremamente heterogêneo e inclui des-de famílias muito pobres, que detém em caráter precário um pedaço de terra, dificilmente utilizado como base para uma unidade de produção sustentável, até famílias com dotação de recursos suficientes para aproveitar as oportunidades criadas em seu contexto. Na atual condição brasileira, na qual parte da população vive com rendas abaixo da linha de pobreza, a agricultura familiar pode desempenhar um papel fundamental nas metas de segurança alimentar e nutricional; nesse contexto pode-se considerar os Pequenos Produtores Rurais (PPRs) do Brasil que assumem inúmeros riscos para produzir alimentos e colocá-los na mesa do brasileiro dia após dia. Segundo o IBGE (Censo Agropecuário de 2017), são mais de 3,8 milhões de estabelecimentos da agricultura familiar, que representam 77% do total, ocupan-do 80,9 milhões de hectares responsáveis por 23% de toda a produção agrícola brasileira (IBGE, 2019). Esses PPRs podem ser considerados como produtores individuais e também como agricultores familiares, que fazem parte de cooperativas e/ou associações, entre outros grupos com diferentes sistemas agrícolas – corte e queima, agroflorestal, agroecológico, or-gânico – mas com o ponto em comum de enfrentar desafios para produção e comercialização de seus produtos. Muitos, se não quase todos, participam dos dois programas federais de políticas públicas, criados para combater essa vulnerabilidade dos PPRs e dos Agricultores Familiares, fundamentais para viabilizar e fomentar o escoamento da pequena produção, que são: Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), atualmente vinculado ao Ministério da Cidadania (MC), e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ligado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, com o objetivo de executar políticas educacionais desse ministério.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
84
Desde o início de fevereiro de 2020 até o presente momento, em que se convive com a pandemia da COVID-19, o trabalho e a condição desses PPRs e dos Agricultores Familiares tornaram-se mais desafiadores, no Brasil e em outros países da América Latina (MOURA e SOUZA, 2020; PREISS, 2020; SCHNEIDE et.al, 2020). O Brasil contabiliza mi-lhões de infectados, com milhares de mortes pela COVID-19. Diante disso, é fundamental que sejam feitas perguntas com relação aos PPRs e aos Agricultores Familiares: Como está a sua produção? Como está a comercialização de seus produtos? Como está a sua renda? O que mudou com a pandemia – COVID19 com relação às práticas na produção e comercialização? Há políticas públicas voltadas aos PPRs e aos Agricultores Familiares em razão da pandemia?
De 2011 a 2017, o FNDE transferiu quase R$ 3 bilhões para a compra de alimentação escolar nas 26 capitais e no Distrito Federal. Desse total, quase R$ 360 milhões (13%) foram utilizados na compra de alimentos da agricultura familiar (Araújo et al., 2019) para alimentar mais de 40 milhões de alunos atendidos pelo PNAE (FNDE, 2020). Com relação ao PAA, de 2011 a 2018, 4.288 cidades, que representam 77% dos municípios brasileiros, participaram do programa, tendo sido aplicados R$ 2,87 bilhões (BOCCHI et al., 2019). Em 2018, no Brasil, 9.675 agricultores familiares e/ou PPRs foram beneficiados como fornecedores do PAA. No entanto, desde 2019, o PAA sofre com interrupções e reduções em seu orçamento.
Quanto ao PNAE, houve um ajuste de valor de acordo com a Resolução CD/FNDE nº 02, 09 de abril de 2020 (Brasil, 2020) para não descontinuar o fornecimento de alimentos para os alunos em algumas regiões do Brasil. As medidas de emergência adotadas pelo governo no combate à crise provocada pela pandemia da COVID-19, por meio da Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020, autorizam a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do PNAE aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica, de modo a garantir a destinação da cota de 30% à agricultura familiar, e visa atender mais de 80 mil agricultores familiares, segundo o Governo Federal (BRASIL, 2020). Com relação ao PAA, foi assinada a Medida Provisória nº 957/2020 de 27 de abril de 2020, que abre crédito extraordinário para ações de segurança alimentar e nutricional, no âmbito do enfrentamento à pandemia da COVID-19 para compra de produtos da agricultura familiar (BRASIL, 2020).
Além dos beneficiários desses programas, muitos PPRs e Agricultores Familiares na região dos Campos Gerais – PR, comercializam seus produtos em feiras livres ou merca-dos, locais que envolvem aglomeração social. Portanto, com o distanciamento físico, houve restrições ou total suspensão das feiras ou fechamento de mercados. Mesmo em situações tão restritivas ou impeditivas, os PPRs e os Agricultores Familiares inovam e reinventam-se,
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
84 85
tentando superar uma possível crise na comercialização, conforme a Figura 1, apresentada na análise de resultados.
Há inúmeros exemplos de iniciativas criativas de comercialização dos produtos – indi-vidual ou coletiva – via redes sociais e entregas em domicílio. A FAO - Food and agriculture organization of the United Nations, recomenda o uso de e-commerce (comércio virtual) pelos pequenos agricultores para superar a pandemia e, assim, combater a falta de alimentos nas “prateleiras” (GALANAKIS, 2020).
Para o enfrentamento da pandemia provocada pelo novo Coronavírus, o Governo Federal tem anunciado medidas com o objetivo de amenizar os impactos negativos na economia brasileira, como o Auxílio Emergencial, a fim de contribuir para a construção de mecanismos que visem a minimização dos problemas causados pela pandemia no Brasil e subsidiar a tomada de decisão quanto às melhores estratégias de alocação de recur-sos. O PAA pode ser uma política pública importante na redução de impactos negativos na economia, no combate à vulnerabilidade social e à insegurança alimentar e nutricional. O PAA – criado pela Lei n° 10.696, de 2 de julho de 2003, alterada pela Lei n° 12.512, de 14 de outubro de 2011 – é uma política pública que apresenta como focos centrais o incentivo à agricultura familiar e o combate à insegurança alimentar e nutricional. Por esse motivo, vai ao encontro das recomendações de organismos internacionais para o enfrentamento aos possíveis danos provocados pela pandemia da COVID-19. Além disso, é uma política já consolidada, e poderá demonstrar impactos econômicos e sociais positivos no curto prazo, visto que possui os instrumentos de implementação estabelecidos e estruturados (BRASIL, 2003; BRASIL, 2011).
Segundo o Censo Agropecuário 2017, há 10,1 milhões de pessoas ocupadas na agri-cultura familiar no Brasil, que representa 67% de todo pessoal ocupado em agropecuária no país. Nesse cenário, a agricultura familiar representa 77% dos estabelecimentos rurais, ocupando 23% da área total e se tornando responsável também por 23% do valor da pro-dução, ou seja, R$ 107 bilhões. Além disso, essa atividade é a base para a economia local de 90% dos municípios com até 20 mil habitantes, sendo encarregada pela renda de 40% da população economicamente ativa do país (IBGE, 2019).
A crise de saúde pública provocada pela chegada do novo Coronavírus ao Brasil determinou, por parte das distintas esferas de poder federativo, a adoção de medidas de urgência para conter a propagação doméstica da pandemia. A decretação de quarentena em algumas localidades, com o fechamento da maior parte do comércio, a suspensão das aulas nas escolas do ensino fundamental ao médio e também nas Universidades e Faculdades sendo públicas ou privadas e a proibição de atividades e eventos que aglomerem grande
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
86
número de pessoas reduziram o nível de atividade econômica por todo o país, impactando diversos setores produtivos.
Nesse contexto grave e atípico, uma preocupação tem se feito presente em todos os países afetados pela pandemia: como assegurar a oferta de alimentos em quantidade e qua-lidade suficientes à população? O temor do desabastecimento alimentar levantou a discussão sobre a importância primordial da agricultura familiar e sobre medidas de apoio e proteção prioritárias, para que os agricultores e demais envolvidos na produção e na distribuição de alimentos possam continuar seu trabalho. No Brasil, não tem sido diferente. Os setores mais organizados do sistema alimentar têm feito demandas urgentes ao poder público, que já começou a dar respostas.
Essa pesquisa evidencia a discussão em torno do segmento socioprodutivo da agri-cultura familiar na atual conjuntura, uma vez que é responsável por parte significativa da oferta interna de alimentos. No curto prazo, os efeitos econômicos sobre a agricultura familiar dizem respeito, principalmente, à manutenção da atividade produtiva e às dificuldades de escoamento da produção. Isso se dá em virtude da supressão parcial da demanda – por exemplo, o cancelamento das feiras públicas, o fechamento de restaurantes e a perspec-tiva de redução das compras para a merenda escolar, devido à paralisação das aulas – e da queda de rendimentos provenientes da comercialização. No médio prazo, a retração da atividade pode comprometer decisões de plantio, elevando o risco de desabastecimento alimentar após a crise.
Em meio a essa conjuntura de incertezas, organizações mobilizadas em torno da área de segurança alimentar e movimentos sociais e sindicais representativos da agricultura fa-miliar têm apresentado um conjunto de reivindicações emergenciais, para proteger a renda e a produção do setor. Paralelamente, respostas públicas a tais pautas, seja por meio do fortalecimento de políticas públicas já existentes, seja por intermédio de medidas de excep-cionalidade, têm sido dadas no âmbito federal, dos estados e das grandes capitais do país.
OBJETIVO
Analisar o impacto causado aos agricultores familiares devido a pandemia da COVID-19 frente aos programas de políticas públicas do Governo Federal PAA e PNAE na região dos Campos Gerais – PR.
MÉTODOS
Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica dos estudos mais recentes sobre os impactos causados na agricultura familiar com relação a pandemia da COVID-19. Têm-se
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
86 87
como aporte teórico os seguintes autores: i) Schneider (2020), que trata os efeitos da pan-demia da COVID-19 sobre o agronegócio e a alimentação; ii) Bocchi (2020), que delineia a década da nutrição, a política de segurança alimentar e nutricional e as compras públicas da agricultura familiar do Brasil; e, iii) Brasil (2020), que apresenta a Cartilha de orientações para execução do PNAE durante a situação de emergência decorrente da pandemia do Coronavírus-19, entre outros autores.
No que concerne à metodologia científica aplicada, foi utilizada uma pesquisa qualita-tiva por meio de mensagens via aplicativo WhatsApp, conversas por telefone, pesquisa nos sites das prefeituras, acesso ao acervo de registro fotográfico dos Agricultores Familiares e Pequenos Produtores Rurais (PPRs). Essa coleta de informações deu-se através da ins-trumentalização coadjuvante pautada nas ideias de Desgagné (2007), que trata da metodo-logia colaborativa numa visão socioconstrutivista do “avaliar”, relacionando conhecimento ao contexto de pesquisa, e coadunando teoria e prática de forma crítica, na produção de dados e na análise das práticas vivenciadas pela circunstância do momento. Seu objetivo principal está na avaliação e compreensão de como as transformações repentinas geradas pela pandemia da COVID-19 têm afetado as dinâmicas produtivas, comerciais e de consu-mo dos agricultores familiares e dos PPRs da região delimitada. Tais transformações foram acompanhadas por um período histórico ainda acontecendo.
Para analisar o impacto da COVID-19 sobre os PPRs e os agricultores familiares que correspondem as cooperativas e/ou associações, foram coletados dois conjuntos de dados: (1) pesquisa de dados secundários (IBGE, CONAB, FNDE, Ministérios da Educação e da Cidadania; relatórios técnicos de agências governamentais e não governamentais e (2) aplicação de questionários com foco na pandemia da COVID-19, via plataforma online ou por telefone (oralmente), caso o informante não tivesse acesso à internet, ou por meio de mensagens do WhatsApp . Assim sendo, os questionários para os dois grupos alvos abor-daram os mesmos temas: (i) impactos da pandemia sobre os pequenos produtores rurais; (ii) acesso aos programas PNAE e PAA durante a pandemia; (iii) adoção de práticas sani-tárias; (iv) políticas de restrição municipal com a proibição de feiras livres, que impactaram a comercialização dos produtos e a renda; (v) formas de comunicação.
Os questionários foram aplicados no período de 25 de outubro a 03 de dezembro de 2020 de forma remota.
Quanto a abrangência geográfica, a região dos Campos Gerais, no Paraná, compreende as seguintes cidades: Arapoti, Carambeí, Castro, Curiúva, Imbaú, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Reserva, São João do Triunfo, Sengés, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
88
Participaram da pesquisa 68 agricultores, classificados como pequenos produtores individuais - PPRs e/ou agricultores familiares que representam as cooperativas e/ou asso-ciações; bem como duas Secretarias Municipais (de Educação e de Agricultura) da região dos Campos Gerais – PR, com o intuito de compreender o impacto causados aos agricul-tores pela pandemia da COVID-19 com a comercialização dos seus produtos in natura e processados através dos programas de políticas públicas do Governo Federal PAA e PNAE.
Para Cauchick (2010), na pesquisa qualitativa em engenharia de produção o pesquisa-dor visita a organização pesquisada fazendo observações e, sempre que possível, coletando evidências. O acesso às organizações e aos indivíduos que nela trabalham nem sempre é facilitado aos pesquisadores, como no caso da pandemia da COVID-19 que se enfrenta no momento. Por indivíduos, entende-se os PPRS e os agricultores familiares. Corroborando com autor, observa-se que na abordagem qualitativa, a realidade subjetiva dos indivíduos envolvidos na pesquisa é considerada relevante e contribui para o desenvolvimento da pesquisa, bem como pode interferir positivamente no desenvolvimento da pesquisa e na construção de uma realidade objetiva, um dos marcos da ciência.
Segundo Cauchick (2010) apud Bryman (1989), as características da pesquisa quali-tativa são: ênfase na interpretação subjetiva dos indivíduos; delineamento do contexto do ambiente da pesquisa; abordagem não muito estruturada; múltiplas fontes de evidências; im-portância da concepção da realidade organizacional; proximidade com o fenômeno estudado.
Sendo assim, para capturar toda essa complexidade que os indivíduos no seu ambiente natural podem proporcionar ao pesquisador, faz-se necessário que a abordagem não seja muito estruturada em forma. O autor Cauchick (2010) apud Bryman (1989) cita como falta de estrutura pouca orientação teórica e ausência de hipótese a priori. Isso proporciona ao pesquisador flexibilidade para, dentro do possível, escolher caminhos para o desenvolvi-mento da pesquisa.
RESULTADOS
A pesquisa estabeleceu como foco o estudo na região dos Campos Gerais do Paraná, localizada no centro-leste do estado do Paraná, no Brasil. É uma região que leva em consi-deração critérios históricos, culturais, econômicos e sociopolíticos, que une municípios com uma dinâmica territorial sem uma limitação única. A principal referência para esta pesquisa foi a tese redigida dentro do grupo de pesquisa das autoras com estudos tendo como foco a agricultura familiar e os programas de políticas públicas do Governo Federal PAA e PNAE, direcionados a cooperativas e/ou associações. Partindo dessa primícia, entrou-se em contato com o presidente da Associação de Agricultores Familiares das Colônias Iapó, Santa Clara e Vizinhança, sendo obtidos vários relatos quanto ao impacto causado pela pandemia da
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
88 89
COVID-19, como também números de telefones celulares com WhatsApp de outros agricul-tores e Secretários Municipais da Educação e da Agricultura para que pudesse ser realizada essa pesquisa na região dos Campos Gerais - PR.
Em áreas rurais da região dos Campos Gerais com maior acesso à internet, alguns PPRs e/ou agricultores familiares, já comercializavam seus produtos agrícolas, antes mesmo da pandemia da COVID-19, via aplicativo de mensagens WhatsApp ou outras redes sociais, principalmente produtores de orgânicos ou agroecológicos. A proximidade de uma classe média que consome produtos orgânicos contribui para o escoamento da produção desses agricultores, conforme mostram pesquisas feitas no Brasil (Fonseca, 2009). Também, na cidade de Castro, a Colônia Iapó, Santa Clara e Vizinhança já estava desenvolvendo essa prática (Araújo, 2017), conforme figura 1. Pode-se dizer também que em outros países essa prática já bem aceita e permanente (BOCCHI, 2019).
Figura 1. Comercialização de produtos orgânicos via WhatsApp (por encomenda), como: geleias, frutas cristalizadas, produtos embalados à vácuo in natura.
Fonte: Araújo (2017).
Os PPRs e agricultores familiares que participaram desta pesquisa trabalham em suas pequenas propriedade rurais com sua família para o fornecimento dos produtos agrícolas orgânicos (in natura) e processados, comercializados por meio dos programas PAA e PNAE, e por intermédio de cooperativas e/ou associações para serem entregues nas escolas da rede pública de ensino ou comercializados também em feiras livres nas cidades onde resi-dem, para garantir o sustento da família.
Os resultados proporcionados com a pesquisa indicaram que as preocupações em torno da saúde foram crescendo ao longo dos meses dentre os PPRs e os agricultores familiares pesquisados. Nas primeiras intervenções realizadas em abril/2020, a pandemia
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
90
da COVID-19 era vista como algo quase inexpressivo, insípido, distante das áreas rurais e interioranas do território.
Contudo, nos últimos meses (junho a dezembro/2020 e de janeiro a fevereiro/2021), essas preocupações ampliaram-se e a pandemia da COVID-19 tornou-se uma preocupação constante do ponto de vista sanitário. Essa mudança coincide com a interiorização do vírus no país e com o aumento de casos na região dos Campos Gerais.
Vale ressaltar, ainda, que os agricultores familiares e PPRs pesquisados, em sua maioria, possuem idade avançada, fazendo parte do grupo de risco da doença. Esse fator tem redobrado a atenção das famílias, influenciando as atitudes em algumas situações, como a diminuição da presença de agricultores idosos nas feiras ou até mesmo atividades cotidianas da propriedade evitando expô-los.
De modo geral, as informações sobre os cuidados a serem adotados em consequência da pandemia da COVID-19 estão sendo transmitidas aos agricultores por meio da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER) local, os meios de comunica-ção tradicionais (rádio, TV e jornais) e as redes sociais.
Assim sendo, algumas iniciativas e ações têm sido desenvolvidas pelos agricultores familiares e PPRs para amenizar os efeitos sanitários gerados pela pandemia da COVID-19. Enfatiza-se a criação de protocolos de saúde nas feiras municipais (disponibilização de álcool em gel; distanciamento entre as bancas; uso de máscaras; higienização dos produtos) e a solidariedade para doação de alimentos da agricultura familiar e de produtos de higiene e limpeza às populações mais vulneráveis da região.
DISCUSSÃO
A ocorrência da pandemia da COVID-19 entre os PPRs variou bastante em número e grau de gravidade da doença. A maior parte dos PPRs (86%) declarou que tiveram pessoas próximas infectadas, oscilando de dez pessoas ou mais entre familiares, conhecidos e/ou o próprio produtor rural, sendo que apenas 14% responderam que não conheciam alguém que foi infectado. Entre aqueles que contraíram a doença, 60% dos PPRs assumiram que as pessoas tiveram sintomas graves, sendo que 33% não receberam atendimento e 27% foram hospitalizadas. Já, 29% dos PPRs afirmaram que as pessoas tiveram sintomas leves e, infelizmente, 11% disseram que houve falecimento entre seus familiares e na comunidade.
Quarenta e oito por cento dos agricultores familiares representados por cooperativas e/ou associações, na região dos Campos Gerais, informaram que conheciam produtores infectados pela doença, com números que variaram de menos de 30 a 100 casos. Dezoito por cento relataram não haver casos entre os PPRs com quem trabalhavam, mas 34% não souberam responder. E, de acordo com 64% dos agricultores familiares, os PPRs
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
90 91
infectados fizeram testes para COVID-19 em diversos locais, muitos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no próprio município, outros em municípios vizinhos ou na capital do estado, em farmácias, no próprio imóvel rural ou em consultórios itinerantes. Os demais agricultores familiares entre os PPRs 36%, não tinham conhecimento sobre a realização de testes para COVID-19.
Quanto as políticas públicas durante a pandemia da COVID-19, a grande maioria (88%) dos PPRs e os agricultores familiares declararam que participam de alguma política pública ofertada pelo Governo Federal. Desses, 40% participam do PAA, 11% participam do PNAE, 35% do Programa de Regionalização da Merenda Escolar do estado, como o Programa do Leite, e apenas 2% solicitaram acesso à linha de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Uma pequena parcela 12% respondeu que não participa de nenhum programa de política pública.
Com relação ao PAA, 45% dos agricultores familiares e PPRs relataram alterações no programa, tais como redução, suspensão ou cancelamento dos contratos. Vinte e dois por cento declararam que os produtores tinham retomado o PAA durante a pandemia. E 33% dos agricultores familiares e PPRs relataram não terem informação sobre o PAA.
Apesar de ser uma política pública importante para os pequenos produtores para escoar a produção, a grande maioria (78%) dos PPRs declarou não participar do PNAE durante a pandemia, 8% reduziram e 13% pararam. Apenas um produtor afirmou que aumentou sua produção, pois a prefeitura passou a comprar mais alimentos para serem distribuídos tanto para a merenda escolar, como para as famílias mais carentes do município. A maio-ria (66%) dos agricultores familiares respondeu que o PNAE sofreu alterações durante a pandemia da COVID-19, confirmando os relatos dos PPRs; com o fechamento das escolas, muitas prefeituras suspenderam o contrato com os PPRs 31%, outras reduziram 22% a compra de alimentos, ou os alimentos passaram a serem entregues diretamente para as famílias dos alunos 13%.
Com relação à criação de políticas pelas prefeituras para ajudar os PPRs e agricultores familiares durante a pandemia da COVID-19, a grande maioria (84%) respondeu que não foi criada nenhuma alternativa que tenha vindo ao seu conhecimento, e 16% disseram que houve apoio dos municípios quanto a compra dos produtos.
A produção rural durante a pandemia da COVID-19 para os PPRs em seus imóveis rurais foi variada, diversificada dependendo da época, e os produtos podiam ser vendidos in natura e processados, conforme as figuras apresentadas mais adiante: hortaliças, frutas, raízes, mel de abelhas, pães, compotas de geleia e polpas de frutas, entre outros produtos.
Quando perguntados sobre o impacto da pandemia da COVID-19 na produção, as respostas dos PPRs ficaram divididas entre não haver impacto (perda zero) na produção
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
92
(35%) e impactos negativos (62%), com perda da produção entre 1% a mais de 50% , com exceção de um produtor orgânico que teve sua produção aumentada. Os relatos dos PPRs vão ao encontro às declarações dos agricultores familiares, para os quais, porém, a pandemia da COVID-19 impactou os PPRs de forma mais negativa, sendo que 98,47% responderam que os produtores perderam produção, variando também de 1% a mais de 50% de perda. Tanto os PPRs quanto os agricultores familiares informaram que nenhum produtor perdeu 100% de sua produção.
Já a comercialização durante a pandemia da COVID-19, atualmente, é considerada um dos obstáculos, podendo ser considerado também como um gargalo para os PPRs quanto ao escoamento e comércio dos produtos agrícolas. As formas mais comuns de viabilizar sua produção são por meio do acesso a políticas públicas como: PNAE e PAA; e venda direta em feiras livres (em ruas; nas suas próprias residências; praças públicas e mercado muni-cipal). Devido à pandemia da COVID-19, muitos municípios estabeleceram a quarentena e decretaram restrição de horários ou o completo fechamento dos mercados e a suspensão das feiras livres.
A grande maioria dos agricultores familiares (91%) respondeu que os PPRs puderam vender seus produtos agrícolas durante a pandemia em feiras livres e/ou mercados com adoção das medidas sanitárias; alguns sofreram redução nas vendas devido à restrição do horário de funcionamento das feiras e mercados, e para outros as vendas foram normais. Apenas 9% responderam que os PPRs não puderam comercializar nesses locais públicos, devido ao seu fechamento ou pela não ocorrência dessas opções nos municípios. Mesmo com a maioria dos PPRs mantendo as vendas, houve queda na comercialização.
Para os PPRs, a venda foi bastante diversificada. Para poucos (5%), a pandemia da Covid-19 gerou um aumento na venda, para outros 25% não houve modificações, mas para a maioria (68%) teve um impacto negativo. Os dois produtores que tiveram aumento da venda dos produtos informaram que houve aumento da demanda por frutas cítricas (in natura); polpas de frutas para fazer sucos e por produtos orgânicos. Os produtores expuseram que os consumidores foram em busca de alimentos mais saudáveis para ajudar a combater o vírus da COVID-19. O mesmo aconteceu com a comercialização do mel de abelhas nativas, dada as propriedades físico-químicas e o conhecimento local do valor medicinal do mel para o combate à gripe, resfriados e aumento da imunidade, com a finalidade de fortalecer o organismo humano contra a COVID-19.
Segundo os agricultores familiares, nenhum produtor teve aumento na venda, com elevado impacto negativo nas vendas: 80% dos agricultores familiares responderam que os produtores tiveram uma queda maior que 10% na comercialização dos produtos. Um ponto importante é que nenhum PPR teve queda total das vendas, ou seja, todos conseguiram
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
92 93
vender, ainda que menos que o normal. A renda dos PPRs aparece correlacionada às vendas: apenas 9% tiveram a renda aumentada, enquanto para 11% a renda se manteve. No entanto, a grande maioria (84%) relatou queda na renda, de 1% a mais de 50%.
Diversas formas de comercialização foram aderidas pelos PPRS durante a pandemia da COVID-19; uma boa parte (56%) teve que se adaptar no período de pandemia, 30% dos PPRs declararam que venderam, mas não nos locais de costume e 26% comercializaram por encomenda e entregas em domicílio (via delivery) em cestas agroecológicas conforme figura 1, já ressaltada anteriormente (ARAÚJO, 2017). Os outros 44% que representa o total de respondentes, uma pequena parte 11% dos PPRs prosseguiu vendendo em feiras livres e/ou mercados, alguns com redução nas vendas e outros com aumento. E, 33% venderam para cooperativas e/ou associações.
A comunicação entre os PPRs e os agentes da ANATER, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – (IAPAR-EMATER), Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), durante a pandemia da COVID-19 foi relativamente pouco acessível, pois o distanciamento físico aconselhado, recomendado e decretado variou entre os municípios. Averiguou-se que a forma de comunicação mais adotada pelos PPRs na região dos Campos Gerais - PR com o maior acesso à Tecnologia da Informação (TI), foi o WhatsApp ou celular (53%), por ser um meio mais prático, barato e rápido de se comunicar e até mesmo acessar informações. A co-municação tradicional mostrou-se importante também, seja pessoalmente (23%) ou via um técnico (22%). Outra forma menos frequente foi o telefone fixo, ou seja, telefone rural por antena (2%). De acordo com a maioria dos agricultores rurais, a comunicação com os PPRs continuou, mas principalmente de forma remota (59%) ou atendimento presencial parcial (25%) ou a comunicação na comunidade rural não foi alterada (16%).
Quanto aos cuidados sanitários adotados por causa da pandemia da COVID-19 e sua transmissibilidade, muitos protocolos sanitários foram adotados por toda a sociedade e em todos os setores da economia, incluindo as atividades rurais, conforme pode-se observar nas figuras abaixo, o antes e o depois dos protocolos adotados pela Vigilância Sanitária nos municípios da região dos Campus Gerais e também de acordo com a Cartilha de Orientação do PNAE (BRASIL, 2020).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
94
Figura 2. Colheita de produtos para serem entregues nas escolas e vendidos nas feiras livres, mercados públicos, antes da pandemia – COVID-19 – produtores sem usar máscaras (antes da Pandemia da COVID-19), produtos sem proteção
(embalados).
Fonte: Registro fotográfico dos Produtores rurais (2019 e início 2020)
Figura 3. Colheita dos produtos na Pandemia – COVID-19 com orientação do uso de máscara.
Fonte: Registro fotográfico dos Produtores rurais (2020)
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
94 95
Figura 4. Colheita dos produtos na Pandemia – COVID-19 com orientação do uso de máscara e higienização dos alimentos e das mãos.
Fonte: Registro fotográfico dos Produtores rurais (2020)
Figura 5. Embalagens e Separação dos produtos na Pandemia – COVID-19 conforme orientação da vigilância sanitária com uso de máscara e luvas.
Fonte: Registro fotográfico dos Produtores rurais (2020)
Figura 6. Fabricação, Embalagens e Separação dos produtos Processados (Pães, biscoitos) na Pandemia – COVID-19 conforme orientação da vigilância sanitária com uso de máscara e luvas.
Fonte: Registro fotográfico dos Produtores rurais (2020)
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
96
Várias cartilhas ou guias foram produzidos e publicados por órgãos públicos que tra-balham com os PPRs e os Agricultores Familiares para divulgar orientações voltadas para a prevenção da COVID-19 (BRASIL, 2020). Na cartilha, são descritos e detalhados os cuidados sanitários adotados na produção e comercialização dos produtos in natura e processados; quanto a essa recomendação, os entrevistados afirmaram que essa cartilha foi bem aceita tanto pelos PPRs quanto pelos que estão à frente das cooperativas e/ou associações.
Quanto aos protocolos recomendados na cartilha citada acima, referentes à produção, de modo geral, tanto os PPRs quanto os Agricultores Familiares adotaram e priorizaram os cuidados sanitários e de higienização nos processos produtivos durante a pandemia, evidenciados nas figuras 05 a 09 mais adiante. Desses, seja no campo (áreas de plantio) ou durante o processamento (manipulação dos produtos agrícolas, colheita, embalagem), o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) foi o mais citado (48%) pelos PPRs e Agricultores Familiares, seguido dos cuidados com higienização pessoal, dos locais de trabalho e dos produtos e materiais em geral (28%) e do distanciamento físico entre as pes-soas durante o processo produtivo (16%). Ainda, 8% responderam que não houve alteração ou cuidados sanitários específicos, além dos já adotados antes da pandemia da COVID-19.
Para a comercialização, da mesma forma que há protocolos sanitários para os proces-sos produtivos, há também para a venda dos produtos. Mais da metade dos PPRs (56%) res-pondeu que passou a adotar cuidados de higienização pessoal, do local de comercialização e no processo de embalagem e transporte dos produtos, neste caso, lavando as embalagens com água e sabão, com água sanitária ou mesmo passando álcool gel ou líquido 70º. Essa medida foi seguida de uso de EPIs, (44% dos PPRs e Agricultores Familiares), adotando também o distanciamento social. No caso de algumas cooperativas e/ou associações, como é o caso da Associação das Colônias Iapó, Santa Clara e Vizinhança, antes mesmo da pan-demia da COVID-19, os protocolos sanitários já eram adotados por conta das exigências de acesso e permanência do Selo de qualidade dos produtos oferecidos (ARAÚJO, 2017).
Um fato positivo durante a pandemia da COVID-19 foi o surgimento ou a expansão de muitas ações de solidariedade nas localidades pesquisadas. Nesse caso específico, observaram-se ações tanto para ajudar os PPRs, de modo a amenizar os prejuízos da pro-dução/venda; quanto ações dos próprios PPRs para ajudar as pessoas mais vulneráveis com doações de alimentos; produtos de limpeza e higiene pessoal ou outras formas de colaboração ou solidariedade. Pode-se classificar as ações em duas categorias principais: governamentais (órgãos públicos) e não governamentais (entidades sociais ou ações indi-viduais de pessoas físicas).
As respostas dos agricultores familiares e dos PPRs reforçam que as ações dos gover-nos (seja federal, estadual ou municipal) foram fundamentais para ajudá-los. Uma dessas
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
96 97
ajudas refere-se à política do auxílio emergencial do Governo Federal por intermédio da Caixa Econômica Federal, citada por 63% dos agricultores familiares para dar algum apoio aos PPRs que perderam a renda familiar nesse período. Outra forma de apoio foi a assis-tência da ANATER prestada aos agricultores familiares (37%) com relação à orientação da produção e comercialização durante a pandemia da COVID-19.
A grande maioria dos agricultores familiares pesquisados (97%) informou que entida-des sociais e governamentais em parcerias com as cooperativas ou associações, nas quais são inseridos, compraram os produtos dos PPRs para serem doados para os grupos sociais mais vulneráveis dos municípios da região dos Campos Gerais - PR. Outra ajuda informada por dois PPRs refere-se a compra dos produtos agrícolas pela Fundação Banco do Brasil, na capital do Estado do Paraná, em parceria com as organizações locais (cooperativa e/ou associação). Perguntados especificamente sobre recebimento de doações, boa parte dos PPRs (68%) respondeu que não ganhou donativo de nenhum tipo, 15% afirmaram que receberam doações de gêneros alimentícios e 15% ganhou material de limpeza e higiene. Dois outros produtores responderam que tiveram desconto na conta de energia elétrica.
No geral, pode-se inferir que os dados indicaram impacto negativo da pandemia da COVID-19 sobre a saúde dos PPRs e familiares, perda da produção e queda na venda e renda. Por outro lado, os PPRs desvendaram sua capacidade de superação e adequação aos desafios impostos, com histórico de construção de redes sociais, mobilização social e parcerias, que vem contribuindo para o fortalecimento desses grupos sociais mais vulneráveis e para uma resposta mais proativa para as adversidades (ADAMS et al., 2020). Entretanto, as dificuldades mencionadas tanto pelos agricultores familiares quanto PPRs foram muitas, principalmente a morosidade ou ausência do poder público, visto que o ano de 2020 se tratava de um período de política para Prefeito e Vereador. Para compreender melhor as formas encontradas pelos PPRs e os agricultores familiares para superar os desafios da pandemia da COVID-19 e manter sua produção rural e mesmo as vendas de seus produtos, será apresentado a seguir o papel do Estado, o papel das ações coletivas e parcerias e o papel das tecnologias de informação.
O papel do Estado, quanto às políticas públicas, é de extrema importância para pro-porcionar a produção agrícola no Brasil, principalmente, dos PPRs, seja para impulsionar a produção via linhas de crédito agrícola como o PRONAF; ou para apoiar a comercialização através do PNAE e do PAA, pois se trata de um estorvo histórico para o escoamento da produção de pequena escala (GOLETTI et al., 2003). Além das políticas públicas federais, verifica-se a importância do comprometimento das prefeituras, por meio de políticas de apoio e fomento à atividade rural de pequena escala. Aliás, é a entidade pública mais próxima dos PPRs e dos agricultores familiares, o que facilita a interação direta. Governos estaduais
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
98
também são atores sociais importantes para o fortalecimento na comercialização de produtos agrícolas, como é o caso do Programa do Leite das Crianças, criado pelo governo do estado do Paraná, Lei nº 16.457/2010, com atividades interrompidas por conta do cancelamento do calendário letivo desde março de 2020, quando foi declarada a pandemia da COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Apesar da importância do Governo Federal em liderar e coordenar as políticas nacio-nais voltadas para os PPRs e os agricultores familiares, os resultados demonstram que os programas federais do PNAE e do PAA atenderam muito precária e tardiamente a deman-da dos PPRs dos agricultores familiares durante a pandemia da COVID-19. O PNAE vem sofrendo uma redução drástica do orçamento desde 2019 (ARAÚJO et al., 2019). Mesmo com um número bem menor de projetos aprovados, muitos PPRs e agricultores familiares com contratos vigentes sofreram paralisação parcial ou total do contrato em março de 2020, uma vez que as aulas presenciais nas escolas públicas foram suspensas devido à pandemia da COVID-19, reduzindo ou cancelando totalmente a merenda escolar. Para atender aos alunos mais vulneráveis, o PNAE lançou um edital com o objetivo de montar kits de alimen-tos a serem oferecidos às famílias dos alunos, entregues em suas escolas ou residências (FNDE,2020). Porém, nem todas as prefeituras da região dos Campos Gerais – PR lançaram edital com esse propósito, conforme foi relatado por 78% dos PPRs e agricultores familia-res nessa pesquisa.
O PAA sofreu um corte orçamentário maior que o PNAE (Bocchi et al., 2019) e ainda passou por troca de Ministério. Até 2019, era de responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); em 2020, foi transferido para o Ministério da Cidadania (MC) com apoio do MAPA e do Ministério da Economia (ME). Muitos agricultores familiares (47%) e PPRs (53%) informaram que não trabalham ou não atuam no programa do PAA há alguns anos. Por causa da pandemia da COVID-19, o MC publicou a MP nº 957/2020 em 27 de abril de 2020, com liberação de R$ 220 milhões para a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), sendo R$ 126 milhões para reativar o PAA, parado desde 2019, com 1.088 projetos aprovados e prevista a compra de 46 mil toneladas de alimentos pela CONAB. Além disso, foram previstos R$ 94 milhões para receber novos projetos para o ano de 2020, cujo prazo de inscrição foi 17 de julho de 2020 (CONAB, 2020; FNDE, 2020; MC 2020).
Outra política pública federal indispensável é o apoio financeiro por meio de linhas de crédito. A quase totalidade dos PPRs (98%) respondeu que não solicitou crédito em 2020, apenas um acessou o crédito e foi aprovado (provavelmente, referindo-se ao ano de 2019). A maioria dos agricultores familiares (75%) também informou que não havia acessado novas linhas de crédito destinadas a beneficiários do PRONAF e alguns não tinham conhe-cimento sobre a disponibilidade para 2020. Somente em 30 de junho de 2020 foi lançado o
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
98 99
PRONAF para a safra 2020-2021, composto pelas linhas convencionais de financiamento, nenhuma específica para a pandemia da COVID-19.
As prefeituras também exercem um papel fundamental em apoiar o agricultor familiar de forma multidimensional, seja com: assistência técnica e extensão rural, na compra direta dos produtos, nos canais de venda dos produtos, nos arranjos institucionais das cadeias produtivas e de comercialização. Porém, a ação das prefeituras, em geral, é limitada, morosa e atrasada. Nesse momento de pandemia causado pela COVID-19, as poucas prefeituras que lançaram políticas públicas voltadas aos PPRs e aos agricultores familiares tiveram um impacto enorme para que não perdessem a produção, impedindo assim uma queda brusca ou total da renda familiar, conforme descrito nos resultados e também relatado pelos secre-tários municipais de agricultura e da educação da região dos Campos Gerais - PR.
Um fator muito importante tanto para os agricultores familiares quanto para os PPRs, diz respeito ao papel das Tecnologias da Informação (TI), à falta de conectividade e tecnologia do campo brasileiro que dificulta o acesso de produtores a serviços de entregas em domicílio e até atendimentos de emergência (GUIBERT e SABOURIN, 2020). O Departamento de Apoio à Inovação do MAPA estima que apenas 6% a 9% da agricultura familiar brasileira tenha algum tipo de conectividade. Esses números são ratificados pelo IBGE (Censo de 2017), que calcula que 5,07 milhões de estabelecimentos rurais (72% da totalidade) não possuem acesso à internet. Pesquisadores da Embrapa-Informática (2020); e os autores Guibert e Sabourin (2020) apontaram que as grandes propriedades têm mais acesso ao sinal 4G, realidade ainda muito distante das pequenas e médias propriedades.
A TI não é o foco dessa pesquisa, mas conseguiu-se evidenciar a importância dos PPRs e também dos agricultores familiares terem acesso à internet, pois a maioria usou celular/WhatsApp para se conectar com agentes externos, sejam fornecedores, compradores ou técnicos, durante a pandemia da COVID-19; essa relevância foi marcante até mesmo para essa pesquisa, pois toda a pesquisa foi evidenciada pela TI com os agentes participantes. Portanto, com o distanciamento físico entre as pessoas, o acesso TI se tornou premente para os PPRs e os agricultores familiares se comunicarem de maneira remota. Nem todos tiveram essa acessibilidade à internet para que pudessem contatar diretamente seus clien-tes e escoar sua produção durante a pandemia da COVID-19, conforme recomendação da própria FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura) de usar o e-commerce (GALANAKIS, 2020).
Os PPRs e os agricultores familiares sem acesso à internet enfrentaram mais dificul-dades e até perda da produção por falta de mercado para escoar. Conforme a Embrapa-Informática (2020); e os autores Guibert e Sabourin (2020), esse cenário precisa mudar, sendo a TI imprescindível para a agricultura familiar ao fomentar a conectividade; pode
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
100
auxiliar os produtores a superarem, ultrapassarem os desafios de produzirem mais alimen-tos com preços acessíveis e de forma sustentável, portanto, a TI contribuirá para reduzir a vulnerabilidade dos pequenos produtores.
CONCLUSÃO / CONSIDERAÇÕES FINAIS
A agricultura familiar, pelo seu potencial, constitui parte considerável e relevante da solução dos problemas do país e não, simplesmente, porque representa um segmento nu-meroso da população que necessita de um programa de assistência social.
No entanto, esse discurso acadêmico ainda não foi colocado na prática, pois a agricul-tura familiar em todos os municípios do país vem padecendo pela falta de apoio financeiro e de assistência técnica.
Até o presente, a agricultura familiar, no Brasil, ainda não reconheceu as vantagens dessa modalidade de agricultura como estratégia ao desenvolvimento rural. É notório que a agricultura familiar sofre com a falta de assistência técnica e de financiamento à produção, contribuindo para a aniquilação de uma considerável parcela de agricultores familiares.
O caminho para a superação das dificuldades/problemas registrados na agricultura familiar, desenvolvida nos Campos Gerais, resume-se à efetivação de políticas públicas, com efeitos imediatos, melhorando as condições de vida da população rural, e, consequen-temente, revitalizando a economia local, principalmente nesse período de pandemia da CODIV-19 que se vive.
A pandemia da COVID-19 impactou negativamente os PPRs de forma multidimensio-nal: saúde, produção, comercialização, renda e formas de comunicação. Por outro lado, os PPRs nessa pesquisa mostraram relativa capacidade de superação para enfrentar os desafios impostos. Muitos produtores e seus familiares e conhecidos foram infectados com o Sars-CoV-2, alguns perderam amigos e parentes para a doença, além de sofrerem perdas na produção e quedas na venda e renda, mas nenhum(a) produtor(a) teve perda total da produção ou queda total de vendas.
Os casos de infectados pela COVID-19 entre os PPRs apresentaram grande variação em número de casos e na gravidade ou mesmo fatalidade na região dos Campos Gerais – PR, que chega ao número de 20.506 pessoas infetadas pelo Sars-CoV-2 (CBNPG,2021). Importante registrar que muitos PPRs relataram problemas com a falta de leitos de UTIs nos municípios e serviço de saúde pública extremamente precário, com atendimento muito ruim à população, tanto que 33% dos PPRs declararam que os casos graves ficaram sem atendimento médico.
Os impactos sobre a comercialização foram maiores do que na produção, de acordo com declarações de PPRs e agricultores familiares. Trata-se de uma etapa da atividade
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
100 101
rural mais complexa, apresentando várias e diferentes formas de escoar a produção, seja individual ou coletivamente, presencial ou remotamente, por meio de políticas públicas ou organizações sociais. A diversidade de formas de se comercializar os produtos agrícolas possibilitou que praticamente todos os PPRs pudessem escoar sua produção, mesmo que em quantidade reduzida. A forma de comunicação mais usada para realizar as transações de venda ou falar com agentes externos foi o celular/aplicativo de mensagens WhatsApp.
Por fim, as políticas públicas federais – PNAE, PAA e crédito agrícola – e municipais se mostraram primordiais para viabilizar a cadeia produtiva rural de pequena escala. Porém, a morosidade do Estado em propor e executar políticas públicas prejudicaram esses peque-nos produtores rurais em um período de grande vulnerabilidade. Para minimizar os efeitos negativos e as perdas, as ações coletivas e parcerias vinculadas à solidariedade contribuí-ram para que os PPRs tivessem outras opções de escoarem seus produtos para mercados diversos, e até mesmo ajudar redes de doações de alimentos para as populações mais carentes. Portanto, a criatividade e a capacidade de adequação aos novos desafios, bem como a colaboração com agentes externos, contribuíram para que os PPRs não sucumbis-sem totalmente e pudessem superar este período tão crítico da pandemia da COVID-19, enquanto a ação do poder público se fez ausente ou insuficiente durante a pandemia. Por fim, a pandemia da COVID-19 trouxe à tona os sérios riscos dos desequilíbrios ambientais e o aumento das vulnerabilidades de grupos sociais, como os dos PPRs. Esse levantamento de dados coloca também grandes desafios para a academia e para os gestores públicos sobre como responder de forma rápida e eficaz às mudanças ambientais que crescem em ritmo acelerado, com respostas voltadas justamente para esses pequenos produtores rurais historicamente invisíveis e marginalizados.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR – Campus Ponta Grossa, principalmente ao Grupo de Pesquisa GESTÃO DA INOVAÇÃO AGROINDUSTRIAL (GIA) e ao Programa de Pós-graduação em Engenharia da Produção – PPGEP, pela opor-tunidade de realizar o Pós-doutorado o qual resultou essa pesquisa; bem como ao Instituto Federal do Maranhão – Campus Santa Inês.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
102
REFERÊNCIAS
1. ADAMS, Cristina et al. Governança ambiental no Brasil: acelerando em direção aos objetivos de desenvolvimento sustentável ou olhando pelo retrovisor? Cadernos Gestão Pública e Cidadania, v. 25, n. 81, 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.12660/cgpc.v25n81.81403.
2. ARAÚJO, Alcione Lino de. Economia Solidária e a Autonomia Feminina na Associação de Agricultores Familiares das Colônias Iapó, Santa Clara e Vizinhança. Tese de Doutorado. UTFPR – Campus Ponta Grossa – PR, 205 f. 2017.
3. ARAUJO, Lana Raysa da Silva et al. Alimentação escolar e agricultura familiar: análise de recur-sos empregados na compra de alimentos. Cadernos de Saúde Pública, v. 35, p. e00004819, 2019.
4. BOCCHI, C. P., Magalhães, E.S., Rahal, L., Gentil, Gonçalves, R.S. (2019) A década da nu-trição, a política de segurança alimentar e nutricional e as compras públicas da agricultura familiar do Brasil. Rev. Panam Salud Publica. 2019: 43:e84. DOI: https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.84.
5. BRASIL. Cartilha de orientações para a execução do PNAE durante a situação de emer-gência decorrente da pandemia do Coronavírus - (COVID-19). Brasília – DF. 2020.
6. _______. Resolução CD/FNDE nº 02, de 09 de abril de 2020. Dispõe sobre a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE durante o período de estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus – COVID-19. Diário Oficial, Brasília de 13.04.2020, seção 1, pág. 27/28. Acesso em: dezembro 2020.
7. _______. Medida Provisória 957/2020, de 27 de abril de 2020. Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Cidadania, no valor de R$ 500.000.000,00, para o fim que especifica. Diário Oficial, Brasília Publicado em: 27.4.2020. Acesso em: dezembro 2020.
8. _______. Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003. Dispõe sobre a repactuação e o alongamento de dívidas oriundas de operações de crédito rural, e dá outras providências. Diário Oficial, Brasília Publicado em: 2 de julho de 2003. Acesso em: dezembro 2020.
9. _______. Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011. Institui o Programa de Apoio à Conserva-ção Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais; altera as Leis nºs 10.696, de 2 de julho de 2003, 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 11.326, de 24 de julho de 2006. Diário Oficial, Brasília Publicado em: 14 de outubro de 2011. Acesso em: dezembro 2020.
10. CAUCHICK MIGUEL, Paulo Augusto et al. Metodologia de pesquisa em engenharia de produção e gestão de operações. Rio de Janeiro: Elzevir, 2010.
11. CBN-PONTAGROSSSA - https://www.cbnpg.com.br/post/campos-gerais-soma-20-506-casos--de-COVID-19-nesta-quinta-feira-10. Acessado em fevereiro 2021.
12. CONABE - Companhia Nacional de Abastecimento https://www.conab.gov.br/agricultura-fa-miliar. Acesso em: dezembro 2020.
13. DESGAGNÉ, Serge. O conceito de pesquisa colaborativa: a ideia de uma aproximação entre pesquisadores universitários e professores práticos. Revista em Questão. Natal, v.29, n.15, p.7-35, mai/ago. 2007.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
102 103
14. EMBRAPA INFORMÁTICA - https://www.embrapa.br/informatica-agropecuaria. Acessado em dezembro 2020.
15. FAO - Food and agriculture organization of the United Nations. Cities and local governments at the forefront in building inlusive and resilient food systems: key results from the FAO survey “Urban food systems and COVID-19”. Roma: FAO, 2020.
16. FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 2020. Acessado em dezem-bro 2020.
17. FONSECA, Maria Fernanda de Albuquerque Costa. Agricultura orgânica. Regulamentos téc-nicos e acesso aos mercados dos produtos orgânicos no Brasil. Niterói–Rio de Janeiro: PESAGRO, 2009.
18. GALANAKIS, Charis M. The food systems in the era of the coronavirus (COVID-19) pandemic crisis. Foods, v. 9, n. 4, p. 523, 2020.
19. GOLETTI, Francesco; PURCELL, Timothy; SMITH, Dominic. Concepts of commercialization and agricultural development. Agrifood Consulting International Inc. Discussion Paper Series, n. 19, 2003.
20. GUIBERT, Martine; SABOURIN, Eric. Ressources, inégalités et développement des territoires ruraux en Amérique latine, Caraïbe et en Europe. 2020.
21. IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Agropecuário 2017. Brasil: IBGE, 2019. Disponível em: <https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/templates/censo_agro/resultadosagro/index.html>.
22. MINISTÉRIO DA CIDADANIA – MP nº 957/2020, de 27 de abril de 2020. https://www.gov.br/cidadania/pt-br. Acesso em dezembro 2020.
23. MOURA, Jadson; SOUZA, Rodrigo. Impacts of SARS-COV-2 on brazilian agribusiness. 2020.
24. PREISS, Potira V. Challenges facing the COVID-19 pandemic in Brazil: lessons from short food supply systems. Agriculture and human values, p. 1, 2020.
25. SCHNEIDER, Sergio et al. Os efeitos da pandemia da COVID-19 sobre o agronegócio e a alimentação. Estudos Avançados, v. 34, n. 100, p. 167-188, 2020.
06Avaliação do acesso de produtores rurais à políticas públicas: um estudo de caso no assentamento Paulo Fonteles, em Mosqueiro-PA
João Victor da Silva Pinheiro de NazaréUniversidade Federal Rural da Amazônia
Érica Coutinho DavidUniversidade Federal Rural da Amazônia
André Gustavo Campinas PereiraUniversidade Federal Rural da Amazônia
Josiene Amanda dos Santos VianaUniversidade Federal Rural da Amazônia
Raimara Reis do RosárioUniversidade Federal Rural da Amazônia
Treyce Stephane Cristo TavaresUniversidade Federal Rural da Amazônia
Leonardo Souza DuarteUniversidade Federal Rural da Amazônia
Suelen Melo de OliveiraSEMAS
Leonardo Nascimento dos Santos JuniorInstituto de Terras do Pará
Márcia Nazaré Rodrigues BarrosUniversidade Federal do Pará
10.37885/210303938
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
105
Palavras-chave: Índice de Vulnerabilidade Social, Análise Regressiva Socioeconômica e Ambiental, Assentamentos Rurais.
RESUMO
O objetivo deste trabalho foi avaliar a percepção dos produtores rurais do Assentamento Paulo Fonteles quanto ao acesso às políticas públicas de desenvolvimento socioeconô-mico por meio de um estudo de caso, utilizando o índice de vulnerabilidade social através da metodologia SEA. A área de estudo é o Assentamento Paulo Fonteles que se localiza na cidade de Belém-PA, no distrito de Mosqueiro, com acesso pela estrada da Baía do Sol, bairro Sucurijuquara. Os dados foram coletados no ano de 2019, através de uma abordagem mista, com levantamentos quantitativos e qualitativos de fatores básicos que podem ter reflexos de intervenções governamentais, onde para cada fator avaliado foi estipulada uma pontuação que varia de 01 a 05, de muito baixo a muito alto, comparando os dois períodos de análise (2006 e 2019). Foi obtido o índice de vulnerabilidade social que varia de 0 a 1, onde quanto mais próximo de 1 a avaliação será melhor. Observou-se que houve taxa de crescimento de 97,3 % em relação ao índice de vulnerabilidade social de 2006 para 2019. Os atributos que contribuíram para esse aumento foram idade, grau de escolaridade, acesso a moradia, destino do lixo e esgoto e acesso a água potável. Já o índice de acesso às políticas governamentais continuou com o mesmo valor de 1, muito baixo, demonstrando a deficiência do poder público nas áreas de assentamentos rurais. Desse modo, a análise realizada comprova que ocorreram melhorias socioeconômicas para os produtores, mostrando a eficácia do índice de vulnerabilidade social na avaliação.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
106
INTRODUÇÃO
Para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), um assenta-mento rural é um conjunto de unidades agrícolas, independentes entre si, instaladas pela instituição em uma área onde anteriormente existia um imóvel rural pertencente a um único proprietário. Cada unidade independente é dada a uma família rural que não tem condições econômicas para adquirir e manter um imóvel por outras vias. Essa família se compromete a morar na parcela e retirar dela o seu sustento, utilizando predominantemente mão de obra familiar (BRANCO JÚNIOR et al., 2020).
Essas unidades agrícolas são espaços de produção que utilizam diretamente políticas governamentais como meio para atingirem o rearranjo do uso da terra e, por conseguinte, implementarem novos padrões sociais no processo de produção agrícola (BERGAMASCO; NORDER 1996). Todavia, o papel das políticas públicas vai além de apenas redistribuição de terras, também cabe a elas garantir o desenvolvimento das famílias assentadas, sua inserção no Município dos assentamentos, proporcionar assistência técnica e capacitação às famílias assentadas para geração de renda, entre outros aspectos (ALBUQUERQUE et al., 2004).
Para que o desenvolvimento social e econômico das famílias assentadas seja atingi-do, elas contam com diversos programas de apoio para a sua fixação na área, tais como: acesso a créditos onde os assentados recebem os primeiros créditos no período de insta-lação do projeto e os outros vão sendo liberados conforme a necessidade e a garantia de pagamento para o investimento ou melhoria do processo produtivo; assistência técnica; infraestrutura, o instituto implanta a estrutura básica necessária nas áreas; linhas especí-ficas no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e outros benefícios (SILVA; FONSECA, 2018).
Um dos assentamentos provenientes dessas políticas públicas é o Assentamento Paulo Fonteles, localizado no distrito de Mosqueiro, em Belém do Pará (COSTA, 2014). Criado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), com apoio do INCRA que distribuiu terras para as famílias da região, a mesma que com o passar dos anos ficou conhecida como grande produtora de hortaliças.
Diante do exposto, um dos métodos de análise que poderá auxiliar no dimensionamento da aplicação das políticas públicas e do desenvolvimento dos assentamentos, é a metodo-logia de Análise Regressiva Socioeconômica e Ambiental (SEA). Por meio desta metodolo-gia, é possível agrupar e quantificar a influência de parâmetros que estão relacionados ao desenvolvimento das áreas de ocupação dos assentados (OLIVEIRA et al., 2019). A partir disso, o presente estudo teve por objetivo avaliar a percepção dos produtores rurais do Assentamento Paulo Fonteles quanto ao acesso às políticas públicas de desenvolvimento
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
106 107
socioeconômico por meio de um estudo de caso e da utilização do índice de vulnerabilidade social através da metodologia SEA.
MATERIAIS E MÉTODOS
A coleta dos dados foi feita no assentamento Paulo Fonteles, que segundo Costa (2014), fica localizado na cidade de Belém do Pará, mais especificamente no distrito de Mosqueiro, onde seu acesso se dá pela estrada da Baía do Sol, no Bairro Sucurijuquara (Figura 1).
Figura 1. Mapa de Localização da área de estudo.
Fonte: Os autores.
Em junho de 2019, realizou-se o levantamento das condições sociais, econômicas e ambientais do acesso de um morador às políticas públicas em dois períodos distintos (2006 e 2019). O estudo utilizou-se de uma abordagem mista, com o levantamento de dados quantitativos e qualitativos sobre fatores considerados básicos e que podem ser reflexos de intervenções governamentais, sendo eles: idade, grau de escolaridade, acesso a moradia, destino do lixo e esgoto, acesso a água potável, e acesso a programas governamentais. Cada fator foi avaliado em uma pontuação que tinha a seguinte classificação: 01 (muito baixo); 02 (baixo); 03 (médio); 04 (alto) e 05 (muito alto), fazendo uma comparação entre os dois períodos (OLIVEIRA et al., 2019; PEREIRA et al., 2020).
O índice de vulnerabilidade social (IVS) foi obtido através de cálculo que se asseme-lha a análise regressiva feita por Oliveira et al. (2019), onde foi feito a soma dos escores relativos a cada fator analisado, e dividido pela soma total de possíveis maiores escores (escore 5/ muito alto).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
108
Para a delimitação deste índice, a seguinte fórmula foi utilizada:
I = (e1 + e2 + e3 + e4 + ... + en) * 1 / (a * 5)
Onde:I = Índice da dimensão SEA analisada para um determinado período de tempo;e = Escore definido para o atributo analisado;a = Quantidade de atributos definidos para a dimensão SEA.Dessa forma, os índices obtidos podem ficar dentro do intervalo de 0 a 1, sendo que
quanto mais próximo de 1, melhor será a avaliação, assim como, quanto mais próximo de 0 estiver o índice, pior será a avaliação SEA (OLIVEIRA et al., 2019; PEREIRA et al., 2020). Este índice pode demonstrar se houve um desenvolvimento ou regressão das condições avaliadas em função do tempo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observa-se que ocorreu um desenvolvimento nos atributos analisados, onde o índice de vulnerabilidade social sofreu um acréscimo do ano de referência, no caso 2006 (0,37) para o ano de pesquisa, 2019 (0,73), isso representou uma taxa de crescimento de aproxi-madamente 97,3% (tabela 1).
Tabela 1. Evolução dos atributos e do índice de vulnerabilidade social nos anos de 2006 e 2019.
Atributos 2006* 2019**
Idade 3 4
Grau de Escolaridade 2 4
Acesso à Moradia 3 5
Destino do lixo e esgoto 1 3
Acesso à Água Potável 1 5
Acesso à Programas Governamentais 1 1
Índice de Vulnerabilidade Social 0,37 0,73
*= Ano de referência;**= Ano de ocorrência da pesquisa;
Fonte: Os autores.
Dentre os atributos analisados, idade, grau de escolaridade, acesso à moradia, destino do lixo e esgoto e acesso à água potável foram os que tiveram acréscimos e apenas o acesso à programas governamentais não obteve alteração, se mantendo constante no decorrer do período analisado (Figura 2).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
108 109
Figura 2. Desenvolvimento dos atributos nos anos de 2006 e 2019.
Fonte: Os autores.
O atributo idade teve uma melhoraria no intervalo de 2006 (escore 3) e 2019 (escore 4), considerando que estes valores indica uma faixa etária de 30 a 40 anos, conclui-se que ocorreu o envelhecimento dos moradores desta localidade, sendo um indicativo de que as atividades estão bem estabelecidas e que os manejos e melhorias adotadas até agora foram suficientes para contribuir com a fixação destas pessoas na área do assentamento. O parâ-metro de idade no assentamento é fundamental para entendermos o quão fixado e estável os moradores estão. Silva e Vieira (2016), indicam que um dos principais gargalos para a permanência de produtores em uma mesma área rural, são os impactos ambientais de manejos agressivos ao meio ambiente que inviabilizam produções a longo prazo e baixos índices socioeconômicos dessas populações assentadas.
Desta forma, entende-se que a estabilidade não é garantida por grandes produções em um curto período de tempo, mas sim pela perpetuação de tal atividade que garanta condições financeiras mínimas para manter o produtor no campo, estabelecendo desta forma a continuação no assentamento que pode ser associada ao grau de sustentabilidade do mesmo. O grau de sustentabilidade do assentamento se relaciona diretamente com o índice de vulnerabilidade social, pois, segundo Santos e Castro (2019), fatores como falta de coleta de lixo, indisponibilidade de água potável, entres outros limitam a sustentabilidade social, gerando insatisfação e uma tendência da população ao êxodo rural.
A escolaridade evoluiu no decorrer de 13 anos, onde em 2006 era tida como ensino fundamental e alcançou a formação técnica em 2019, sendo uma consequência de diversas estratégias traçadas pelo poder público para levar educação para as áreas rurais. No meio agrário, se percebe a importância de determinados movimentos sociais e de organizações de produtores rurais nessa aproximação do meio educacional ao campo, onde se destacam o
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
110
Movimento dos Sem Terra e o Movimento por uma educação do Campo (SANTOS; BEZERRA NETO, 2017). Ribeiro (2008), indica que uma das metodologias desenvolvidas há muito pelos governos é a pedagogia da alternância. Para esse mesmo autor, essa metodologia é uma alternativa para a formação técnica do profissional agrícola, pois aproxima e fixa os jovens e produtores no campo, estabelecendo um método de ensino próximo da sua realidade de trabalho e vivência.
A melhoria do atributo referente ao acesso a moradia deve-se ao fato de que em 2006, mesmo com os produtores alocados em um assentamento rural, não havia moradias em com condições mínimas adequadas para se residir no local. Apesar da implantação do projeto do INCRA de concessão um lote de terra e construção de uma casa de alvenaria, devido a problemas com a empresa responsável pela construção das casas, estas não contavam com o mínimo de segurança e/ou conforto para quem residia, não possuindo nem portas nem janelas. Já no ano de 2019, a melhoria no atributo deve-se pelas melhorias feitas nas casas ofertadas pelo INCRA, como reformas nos cômodos e construção de banheiros e fossas, sendo que essas promoveram a fixação dos beneficiários nos lotes. Tais avanços podem ser consequência tanto de programas de crédito para melhorias domiciliares quanto de uma maior renda que possibilitou a realização dessas reformas por parte dos assentados.
A precariedade nas moradias ofertadas demonstra a subjetividade na aplicação das políticas públicas, pois mesmo oferecendo moradia aos assentados, essas não se encon-tram em condições habitáveis, embora o INCRA não participe das edificações realizadas no assentamento, cabe a ele a devida orientação dos assentados em busca de entidades organizadoras e financeiras para a reforma das moradias (INCRA, 2016).
Por outro lado, o processo de melhoria nas moradias constrói um sentimento de en-volvimento e uma relação de pertencimento dos produtores e suas famílias com o seu novo espaço de moradia, sendo a materialização de personalidades, estilos de vida, gostos pes-soais e aspectos íntimos dos assentados, sendo que esse processo proporciona uma maior ligação e espírito organizacional entre os envolvidos suprimindo a insuficiência de assistência técnica do planejamento espacial do assentamento (FERREIRA, 2007).
No atributo destino do lixo e esgoto, percebe que houve uma evolução no passar des-ses 13 anos. Essa mudança é ocasionada pela construção de uma fossa para dejetos por iniciativa dos moradores do assentamento, apesar de não ser o mais indicado, esta foi a solução encontrada por eles, pois, no local não há coleta do lixo doméstico na área.
A falta de tratamento adequado do esgoto é um dos grandes problemas enfrentados tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. O esgoto é constituído tanto de fezes e urina humana quanto de águas oriundas do uso doméstico e sem uma destinação correta acabam por ficar se acumulando em pontos do terreno, podendo trazer doenças e/ou contaminar
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
110 111
o solo e reservatórios de águas. No Brasil, apenas 11,6% dos assentados em lotes rurais possuem fossas sépticas (INCRA, 2010), algo preocupante visto que o correto tratamento desse resíduo pode servir como método de prevenção de doenças disseminadas de forma hídrica (SIMONATO et al., 2019).
Sobre a destinação de resíduos domésticos no assentamento Paulo Fonteles, a co-leta pelo poder público não acontece na área e a destinação dada ao lixo doméstico varia de cada morador. Por conta disso, a maioria dos moradores incinera os resíduos e outros costumam abrir grandes covas e enterrar estes rejeitos, sendo que ambas as destinações não são apropriadas ambientalmente.
Ao enterrar, pode haver um fluxo subterrâneo de patógenos a fontes de águas pró-ximas que acabam por comprometer a qualidade da água (SIGUA et al, 2010). Ao optar pela queima, dependendo do material, este pode liberar gases tóxicos como monóxido de carbono, dióxido de enxofre e sulfeto de hidrogênio que podem ter uma influência negativa para a população próxima (BRANDÃO JÚNIOR et al, 2018).
No ano de 2006, a atribuição da nota 1 ao atributo acesso à água potável ocorreu devido a limitação ao acesso à água potável, pois, restringia-se ao uso de um único poço rústico, de boca aberta, utilizado por todos os moradores do assentamento. Este poço de boca aberta foi escavado pelo INCRA para as famílias assentadas, porém, a falta de ma-nutenção e o uso desordenado acabaram por acelerar a degradação do poço. No decorrer dos anos, houve perfuração de um poço artesiano particular e, posteriormente, adquiriu-se uma caixa d’água, extinguindo essa limitação. Por tal ato, esse atributo desenvolveu-se em 2019, ano em que o acesso à água potável foi considerado como amplamente disponível. Esta solução foi adotada por muitos moradores da área, visto o empecilho relacionado ao poço disponibilizado pelo INCRA.
Uma das maiores dificuldades encontradas em assentamentos rurais é a falta de água de qualidade disponível. Segundo pesquisa realizada pelo INCRA, apenas 21,02 % dos assentamentos rurais no Brasil possuíam água suficiente para tarefas básicas do dia a dia (INCRA, 2010) e o poço disponibilizado pelo INCRA, tal qual o relatado, era muito precário, sendo uma alternativa utilizada para a obtenção do acesso de água à curto prazo.
Apesar de solucionar esta problemática, surgem dúvidas em relação as característi-cas dessa água capitada, pois durante as perfurações dos poços artesianos não houve um acompanhamento técnico. Por terem sido escavados por iniciativa particular de cada mora-dor, não foram feitas análises para verificar se a água oriunda desses poços é de qualidade para consumo, não se tendo o conhecimento sobre parâmetros físico-químicos ou biológicos da água. Grumicker et al. (2018), mostram a importância deste acompanhamento não só durante a escavação, mas também periodicamente depois de instalado o poço.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
112
O único atributo avaliado que não apresentou alteração nos dois períodos avaliados foi o de acesso à programas governamentais, isso demostra a deficiência das políticas go-vernamentais através da atuação do poder público. Em estudos de Rosário et al. (2020), na mesma área deste trabalho, mostra que o índice de atuação do poder público perma-neceu sem alterações significativas, chegando ao valor próximo de zero, corroborando à deficiência desse setor nas ações governamentais relacionadas aos pequenos produtores. Apesar de existiram diversos programas governamentais que são disponibilizados a pro-dutores rurais, e alguns especificamente a assentados, embora isso não houve nenhuma evolução nesse quesito.
Um dos fatores que contribui e fortalece o acesso dos produtores aos programas governamentais são os movimentos organizacionais ou associação dos produtores, que buscam as melhorias de interesses coletivos, no entanto, na dimensão organização sindi-cal da área estudada do assentamento, esse foi um dos fatores que atingiu menor índice, mostrando que não há um comprometimento dos produtores em relação ao associativismo (ROSÁRIO et al., 2020).
Dos programas disponibilizados, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PAA) são considera-dos dois dos mais amplos à agricultura familiar. Todavia, O PRONAF possui empecilhos para a aquisição de créditos, como a falta de informações e o excesso de documentos para encaminhar o projeto de financiamento que acabam por limitar seu acesso aos produtores rurais (LIMA et al., 2019). O acesso à programas como o de aquisição de alimentos trazem efeitos positivos diretos na receita dos produtores, pois, apesar dos programas disponíveis, esses sujeitos ainda são dependentes de intermediários para a comercialização do produzido (CUNHA et al., 2017; LOPES, 2019).
CONCLUSÕES
O desenvolvimento observado nos atributos analisados, com exceção do atributo acesso à programas governamentais, comprova que ocorreram melhorias socioeconômicas para os moradores do assentamento Paulo Fonteles. Contudo, a essas foram resultado, majorita-riamente, de medidas implementadas pelos próprios moradores, pois o acesso às políticas públicas é deficitário. Junto a isso, a utilização do índice de vulnerabilidade social se mostra eficaz para avaliação do desenvolvimento socioeconômico, possibilitando a demonstração da dinâmica dos fatores relacionados a melhoria da qualidade de vida dos assentados.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
112 113
REFERÊNCIAS
1. ALBUQUERQUE, F. J.; COELHO, J. A. P. M.; VASCONCELOS, T. C. As políticas públicas e os projetos de assentamento. Estudos de Psicologia, v. 9, n. 1, p. 81-88. 2004. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-294X2004000100010
2. BERGAMASCO, S. M.; NORDER, L. A. C. O que são assentamentos rurais. 1º Ed. São Paulo: Brasiliense, 1996. 87 p.
3. BRANCO JÚNIOR, A. C.; SAMPAIO, T. M.; FARIAS, A. K. S. R.; MIRANDA, K. H. F.; BARBO-SA, M. H.; & NEVES, A. L. (2020). Qualidade da água de abastecimento em assentamentos rurais no Pontal do Triângulo Mineiro e a prevalência de enteroparasitas nas comunidades assentadas e nos cultivos de hortaliças. Interfaces, v. 8, n. 1, p. 248-265. 2020.
4. BRANDÃO JÚNIOR, E. L.; BERNARDO, G. P.; BERNARDO, L. P.; NASCIMENTO, S. I. B.; LIMA, B. F. R.; SILVA, K. V. C. C.; CAVALCANTE, G. M. E.; RULIM, A. L. L.; DUARTE, J. O. Queima Inadequada de Resíduos Sólidos Domésticos, Principais Gases Tóxicos e Manifes-tações Clínicas: Uma Revisão de Literatura. Revista Multidisciplinar e de Psicologia, v. 12; n. 42, p. 602-612. 2018. DOI: https://doi.org/10.14295/idonline.v12i42.1356
5. COSTA, L. T. M. 2014. 64 f. A questão ambiental na visão do camponês ilhéu no assen-tamento Paulo Fonteles – Ilha do Mosqueiro, Belém-PA. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Oceanografia) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2014.
6. CUNHA, W. A.; FREITAS, A. F.; SALGADO, R. J. S. F. Efeitos dos programas governamentais de aquisição de alimentos para a agricultura familiar em Espera Feliz, MG. Revista de Eco-nomia e Sociologia Rural, v. 3, n. 1, p. 427-444. 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1234-56781806-94790550301
7. FERREIRA, T. L. 2007. 172 f. Dos sonhos de uma casa a casa dos sonhos: moradia e qualidade de vida na comunidade Terra Livre. Dissertação (Mestrado em Ciências, Desen-volvimento, Agricultura e Sociedade) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.
8. GRUMICKER, M. G.; BATISTA-SILVA, V. F.; BAILLY, D.; SILVA, A. F. G.; MORAES, A. R. Qualidade da água de poços artesianos em um assentamento do município de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental, v. 7 n. 1, p. 807-821. 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.19177/rgsa.v7e12018807-821
9. INCRA. Reforma agrária: pesquisa sobre a qualidade de vida, produção e renda dos assenta-mentos da reforma agrária. 2010. Disponível em: <Página Inicial — Português (Brasil) (www.gov.br)>. Acessado em: 19 de março de 2021.
10. INCRA. Relatório de Gestão. Goiânia: Superintendência Regional do INCRA em Goiás. 2016. Disponível em: <sr04-go.pdf (incra.gov.br)>. Acessado em: 19 de março de 2021.
11. Lima, L. O.; Medeiros, M. B.; Silva, M. J. R. Identificação das dificuldades de acesso ao PRO-NAF pelos agricultores familiares no Nordeste Brasileiro, Revista de Extensão da UNIVASF, v. 7 n. 2, p. 6-25. 2019. Disponível em: https://www.periodicos.univasf.edu.br/index.php/ex-tramuros/article/view/1015/744.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
114
12. LOPES, D. A. 2019. 32 f. Impactos dos programas governamentais no sistema de pro-dução e comercialização da agricultura familiar na comunidade da Guanduba. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Agronomia) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Macaíba, 2019.
13. OLIVEIRA, J. L.; VASCONCELOS, M. A. M.; BITTENCOURT, P. C. S.; GUERREIRO, C. M. Evaluation of the Impacts of the Macrodrenagement Works of the Tucunduba River: Case Study of the Community of Pantanal - Belém, Brazil. International Journal of Advanced Engineering Research and Science, v. 6, n. 2, p. 268-272. 2019. DOI: 10.22161/ijaers.6.2.33
14. PEREIRA, A. G. C.; VIANA, J. A. S.; SILVA, M. V. S. O.; DAVID, E. C.; LISBOA, A. C. N.; VASCONCELOS, M. A. M. Análise regressiva de sistemas agroecológicos: um estudo de caso no assentamento Paulo Fonteles, distrito de Mosqueiro, Belém – PA. Brazilian Journal of Development, v. 6 n. 3, p. 14356-14372. 2020. DOI: https://doi.org/10.34117/bjdv6n3-343
15. RIBEIRO, M. Pedagogia da alternância na educação rural do campo: projetos em disputa. Educação e Pesquisa, v. 34, n. 1, p. 27-45. 2008. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022008000100003.
16. ROSÁRIO, R. R.; PEREIRA, A. G. C.; ALEIXO, L. R.; SILVA, M. V. S. O.; DAVID, E. C.; EL-LERES, F. A. P.; CAMPINAS, D. S. N.; HUNGRIA, L. C. Análise regressiva socioeconômica e ambiental para compreensão da organização sindical e atuação do poder público: estudo de caso do assentamento Paulo Fonteles – Mosqueiro, Belém-PA. Brazilian Journal of Develo-pment, v. 6, n. 3, p. 38122-38138. 2020. DOI:10.34117/bjdv6n6-380
17. SANTOS, F. R.; BEZERRA NETO, L. Movimentos sociais e políticas públicas de educação para as populações que habitam no meio rural. Impulso, v. 27, n. 70, p. 17-32. 2017. DOI: https://doi.org/10.15600/2236-9767/impulso.v27n70p17-32
18. SANTOS, J. G. R.; CASTRO, S. S. Análise da sustentabilidade de projetos de assentamen-tos rurais em Goiás. GEOUSP, v. 23, n. 2, p. 394-416. 2019. DOI: https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geousp.2019.158368
19. SIGUA, G. C.; PALHARES, J. C. P.; KICH, J. D.; MULINARI, M. R.; MATTEI, R. M.; KLEIN, J. B.; MULLER, S.; PLIESKE, G. Microbiological Quality Assessment of Watershed Associa-ted with Animal-Based Agriculture in Santa Catarina, Brasil. Water Air Soil Pollut, v. 210, p. 307–316. 2010. DOI: https://doi.org/10.1007/s11270-009-0254-y
20. SILVA, A. C. S.; FONSECA, A. I. A. Assentamento rural e agricultura familiar: um desenvolvi-mento pautado nas políticas públicas. Geografia, v. 43, n. 1, p. 65-73. 2018.
21. SILVA, V. C. S.; VIEIRA, I. C. G. Barômetro da Sustentabilidade aplicado a assentamentos rurais do leste do Estado do Pará, Brasil. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 36 n. 1, p. 201-221. 2016. DOI: 10.5380/dma.v36i0.39957
22. SIMONATO, D. C.; FIGUEIREDO, R. A.; DORNFELD, C. B.; ESQUERDO, V. F. S.; BERGA-MASCO, S. M. P. P. Saneamento rural e percepção ambiental em um assentamento rural – São Paulo – Brasil. Retratos de Assentamentos, v. 22, n. 2, p. 264-280. 2019. DOI: https://doi.org/10.25059/2527-2594/retratosdeassentamentos/2019.v22i2.336
07Banco de sementes de plantas daninhas em diferentes sistemas produtivos
Leilisâgela LemesIF GOIANO
Ana Caroline AraújoIF GOIANO
Emerson TrogelloIF GOIANO
José Carlos Caetano ReisIF GOIANO
Bruna Borges SilvaIF GOIANO
10.37885/210303955
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
116
Palavras-chave: Capim-pé-de-Galinha, Eleusine Indica, Fluxo de Emergência de Plantas Daninhas, Fitossociologia de Plantas Daninhas.
RESUMO
O trabalho teve como objetivo identificar e estimar os níveis de densidade populacional das espécies de plantas daninhas em quatro áreas distintas, área I (Grãos), área II (Eucalipto), área III (iLPF), área IV (Pastagem), nas profundidades (0-2,5; 2,5-5; 5-10; 10-20; 20-40 cm), posteriormente foram distribuídas em bandejas plásticas e alocadas em casa de vegetação. Por meio da metodologia da germinação, identificou-se e quantificou as es-pécies a cada 21 dias, durante 90 dias. A medida que a profundidade foi aumentando a quantidade de sementes presentes naquela amostra de solo diminuiu. Durante a tabulação dos dados espécies apresentaram níveis de densidade populacional insignificante, porém, não deixou de ser um dado, pois os prejuízos causados pelas daninhas são influídos tanto pela densidade quanto pela habilidade de sobrevivência de cada uma. Identificou-se 18 espécies de plantas daninhas distribuídas em 17 gêneros e 11 famílias. A família com mais representante foi a Poaceae(212).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
116 117
INTRODUÇÃO
O banco de sementes é uma reserva de sementes viáveis nos solos agrícolas tendo potencial de estar presente tanto na superfície como em profundidade variando de acordo com o sistema de manejo do solo, tipo de cultura, tratos culturais e condições climáticas que estão relacionadas diretamente à sua composição e tamanho (ISAAC; GUIMARÃES, 2008).
Inúmeros trabalhos publicados, baseados em médias mundiais, situam as plantas daninhas como as maiores responsáveis pela queda de produção de algumas culturas. Segundo Pitelli (1985), os fatores que podem afetar o grau de interferência da comunidade infestante sobre uma cultura dependem de algumas condições relacionadas às plantas daninhas, como a espécie, densidade e distribuição, e a própria cultura quanto a cultivar, o espaçamento e a densidade de semeadura. O grau de interferência, e por fim, das condi-ções edafoclimáticas e de manejo empregados. Por essas razões, é de suma importância os trabalhos realizados nas mais diversas condições ecológicas, com diferentes cultivares, espécie daninhas e sistema de cultivo.
A fitossociologia pode ser uma importante ferramenta para o equilíbrio desse ban-co de semente, uma vez que ele explora as comunidades vegetais sob visão florística e estrutural, comparando as populações de plantas daninhas ao longo do tempo e espaço (CARDOSO et al., 2016).
O levantamento do banco de sementes de plantas daninhas quando realizado caute-losamente, pode ser utilizado para previsão de infestações em cultivo posteriores. Assim, o estudo do banco de sementes de plantas daninhas realizados no monocultivo de eucalipto, no sistema iLPF, no monocultivo de grão e em pastagem degradada permitirão aos agri-cultores uma melhor tomada de decisão sobre práticas de controle e manejo integrado de plantas daninhas.
OBJETIVO
O presente trabalho teve como objetivo realizar o levantamento do banco de sementes de plantas daninhas e determinar a quantidade de sementes e sua distribuição no perfil do solo, em quatro áreas distintas fazendo a similaridade entre a flora infestante das áreas no município de Morrinhos/GO.
METODOLOGIA
O projeto foi conduzido na área experimental do Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos, situado a 890 m de altitude, 17°49’ de latitude Sul e 49°12’ de longitude
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
118
Oeste. As amostras foram coletadas em quatro áreas distintas, onde foi feito trincheiras com auxílio de um enxadão nas profundidade de 0,0-2,5; 2,5-5,0; 5-10; 10-20; 20-40 cm. O de-lineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado no esquema fatorial 4x5 com 3 repetições e 60 unidades experimentais, sendo estudado o efeito de quatro sistemas produtivos e cinco profundidades, as quais foram distribuídas em bandejas plásticas de (30x25x13 cm) com camadas de 2,5 cm e perfuradas no fundo, permitindo a percolação do excesso de água.
As bandejas foram identificadas com suas respectivas profundidades de solo e foram acondicionadas aleatoriamente em casa de vegetação sob irrigação diária. A identificação das espécies, quantificação e retirada das plântulas das bandejas foram realizadas a cada 21 dias, durante 90 dias. Aos 42 dias, a irrigação foi suspensa por um período de duas semanas, o solo revolvido com o objetivo de facilitar a germinação das sementes localizadas na parte inferior das bandejas, propiciando um novo fluxo de emergência (MESQUITA et al., 2014).
A análise do banco de sementes do solo foi feita através do método de germinação, conforme metodologia preconizada por Monquero et al. (2011). A identificação botânica das espécies foram feitas pela análise da morfologia externa das partes vegetativas e reprodutivas em bibliografia especializada, a cada contagem, as plântulas identificadas foram arrancadas para permitir um novo fluxo de emergências (Lorenzi, 2014).
Os dados foram tabulados e a densidade e o fluxo de emergência de plantas daninhas foi comparado por meio de estatística descritiva e os resultados foram apresentados em gráficos e tabela.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A comunidade infestante composta de plantas daninhas na área amostrada foi ra-zoavelmente heterogênea, sendo representada por 18 espécies, distribuídas em 17 gê-neros e 11 famílias. As famílias com maior dominância referente ao número de plantas foram Poaceae/212, Asteraceae/98, Amaranthaceae/85, Rubiaceae/69, Solenaceae/40, Phyllantaceae/23, Euphorbiaceae/13, Commelinaceae/9, Laminaceae/2, Portulacaceae/2 e Malvaceae/1 conforme a (Tabela 1). As famílias e espécies deparadas aproximam-se as identificadas por outros autores (EMBRAPA, 2014), no Estado de Goiás.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
118 119
Tabela 1. Estimativa de espécies de plantas daninhas identificadas no levantamento em área de monocultivo de eucalipto, iLPF, monocultivo de grãos e pastagem, no município de Morrinhos, 2019.
FAMÍLIA/ESPÉCIE NOME COMUM SISTEMAS
AMARANTHACEAE GRÃOS EUCALIPTO ILPF PASTAGEM
Alternanthera tenella Apaga-fogo 29 1 30 0
Amaranthus hybridus var. patulus Caruru 1 0 24 0
ASTERACEAE
Conyza banariensis Buva 0 0 13 2
Gamochaeta coarctata Macela 68 0 15 0
COMMELINACEAE
Commelina benghalensis Trapoeraba 6 0 3 0
EUPHORBIACEAE
Chamaesyce hirta Erva-de-santa-luzia 3 0 9 1
LAMINACEAE
Leonotis nepetaefolia Cordão-de-frade 0 0 2 0
MALVACEAE
Sida glaziovii Guanxuma 0 0 0 1
PHYLLANTACEAE
Phyllanthus tenelus Quebra-pedra 0 3 20 0
POACEAE
Digitaria insularis Capim-amargoso 1 0 6 5
Digitaria sanguinalis Capim-colchão 7 0 3 0
Eleusine indica Capim-pé-de-galinha 73 1 93 7
Eragrostispilosa Capim-mimoso 5 0 5 0
Cenchrus echinatus Timbete 0 0 6 0
PORTULACACEAE
Portulaca oleraceae Beldroega 2 0 0 0
RUBIACEAE
Richardia brasiliensis Poaia-branca 63 0 4 2
SOLANACEAE
Nicandra physaloides Joá-de-capote 6 0 3
Solanum americanum Maria-pretinha 0 10 19 2
Total de Indivíduos 258 15 255 22
Total de Famílias 8 3 9 6
Total de Espécies 12 4 16 7
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
120
A planta daninha que teve maior destaque foi o capim-pé-de-galinha (Eleusine indica), uma vez que o mesmo, esteve presente em todos os sistemas apresentados. E entre os sistemas, o mais susceptível a presença de daninhas foi o iLPF. Pois o mesmo encontra-se em processo de implementação, assim proporciona o revolvimento do solo e a ativação do banco de semente ali presente. E em seguida vem a área de grão, por ser uma área de monocultivo e de revolvimento anuário de solo, isso facilita a emergência de sementes das plantas daninhas.
Os demais sistemas, tiveram um breve índice notório, o que justifica devido ao fato de serem áreas de estágio avançado e estabelecidas, uma vez que o solo está coberto de camada vegetativa, sabe-se que as daninhas necessitam de luz para sua germinação e emergência, este é um fato que está diretamente ligado ao baixo índice de germinação das mesmas, tanto no eucalipto, quanto na pastagem.
Segundo Vidal et al., (2007) o banco de semente de plantas daninhas se estabelece nas camadas mais superficiais do solo, como amostrado no gráfico 1.1. Devido as cama-das superficiais serem mais revolvidas durante os tratos culturais realizados no preparo do solo, por exemplo.
De acordo com Canossa et al., (2008) a luz é o fator determinante neste processo, pois é responsável pela germinação das sementes de plantas daninhas, ela induz a manifestação de genes, que são responsáveis por liberar sinais do fitocromo, iniciando assim o desen-volvimento e crescimento das plântulas. Desta forma, ela faz com que plantas fotoblástica saiam da dormência, e muitas daninhas se encaixam nesse grupo. No entanto, a falta de luz, também pode acarretar em um período de dormência maior, é o que normalmente acontece com sementes sobrepostas em perfis de solo com profundidade de 2,5-40 cm, as mesmas só entra em processo germinativo, quando o solo é revolvido, deixando-as expostas.
O fluxo de emergência de plantas daninhas se dá devido a eclosão da infestação para determinada espécie em função do tempo, sendo influenciada pelo manejo do solo, aplicação de herbicidas e condições edafoclimáticas (BLANCO, 2014).
Conforme o gráfico 1.2, a emergência de plantas daninhas consiste em maior predo-minância no período de 21 dias após a amostragem no eucalipto e no iLPF, com 42 dias no grão e na pastagem com 64 dias.
Fatores ambientais e práticas de cultivo influenciam diretamente no fluxo de emergên-cia de plantas daninhas, como os fatores intrínsecos (período de dormência, longevidade e estádio de maturação), e condições edafoclimáticas (umidade, temperatura, disponibilidade de água), etc. Cada um deles tem sua contribuição para a emergência das plantas dani-nhas, porém, cada planta tem a sua exigência fisiológica especifica, o que leva a variação
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
120 121
de espécies em tempos diferentes nas culturas. A ausência de algum fator, pode fazer com que haja a germinação de forma lenta ou em menor escala (CALADO et al., 2011).
Gráfico 1. Densidade e fluxo de emergência de plantas daninhas em diferentes sistemas de cultivo.
Gráfico 1.1 Gráfico 1.2
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A densidade populacional de plantas daninhas e o fluxo de emergência dos diferen-tes sistemas tiveram resultados significativos. Os dois sistemas que destacou-se tanto na densidade populacional quanto no fluxo de emergência foram o iLPF e Grãos, com maior população nas profundidade de 0-5 e 0-20 cm, com maior fluxo dentre 21 e 42 dias após a coleta das amostras, respectivamente.
ANEXOS
Figura 1. Abertura das trincheiras
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
122
Figura 2. Coleta das amostras de solo
Figura 3. Trincheira com suas respectivas profundidades
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
122 123
Figura 4. Alocação do solo nas bandejas
Figura 5. Alocação do solo nas bandejas
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
124
Figura 6. Experimento alocado na casa de vegetação
Figura 7. Amostra de plantas daninhas emergidas
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
124 125
REFERÊNCIAS
1. BLANCO, F.M.G. Classificação e mecanismos de sobrevivência das plantas daninhas. In: Monqueiro, P.A. Aspectos da biologia e manejo das plantas daninhas. São Paulo: SBCPD, 2014. p.33-59.
2. CALADO, J.M.G.; BASCH, G.; CARVALHO, M. Weed emergence in autumn under temperate coditions. Planta Daninha, v.29, n.2, p.343-349, 2011.
3. CANOSSA, R.S.; OLIVEIRA JUNIOR, R.S.; CONSTANTIN, J.; BRACCINI, A.L.; BIFFE, D.F.; ALONSO, D.G.; BLAINSKI. E. Temperatura e luz na germinação das sementes de apaga-fogo (Alternanthera tenella). Planta Daninha, v.26, n.4, p.745-750, 2008.
4. CARDOSO, L.S et al. Bank of weed seeds in agrosystems in the brazilian cerrado. Plantas daninhas. 2016; 34:443-51.
5. EMBRAPA. Levantamento de plantas daninhas em regiões produtoras de milho e soja nos Estados de Goiás e Minas Gerais/ KARAM, D. et al. – Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2014. 31p.: il --(Documentos/Embrapa Milho e Sorgo, ISSN 1518-4277;175), 2014.
6. ISAAC, R.A.; GUIMARÃES, S.C. Banco de sementes e flora emergente de plantas dani-nhas. Planta Daninha, Viçosa-MG, v.26, n.3, p.521-530, 2008.
7. LORENZI, H. Manual de identificação e controle de plantas daninhas: plantio direto e convencional. 7aed. Nova Odessa: Instituto Plantarium, 2014. 383p.
8. MESQUITA, M.L.R et al. Banco de sementes do solo em áreas de cultivo de subsistência na floresta ombrófila aberta com babaçu (Orbtgnia phalerata Mart.) no Maranhão. Revista árvore. 2014; 38:677-88.
9. MONQUERO, P.A. et al. Monitoramento do banco de sementes de plantas daninhas em áreas com cana-de-açúcar colhida mecanicamente. Plantas Daninhas. 2011; 29:107-19.
10. PITELLI, R.A. Interferência de plantas daninhas em culturas agrícolas. In: Controle de Plantas Daninhas II. Inf. Agropec. V.11, n.129, p.16-27, 1985.
11. VIDAL, R.A.; KALSING, A.; GOULART, I.C.G.R.; LAMEGO, F.P.; CRISTOFFOLETI, P.J. Im-pacto da temperatura, irradiância e profundidade das sementes na emergência e germinação de Conyza banariensis e Conyza canadenses resistentes ao glyphosate. Plantas Daninhas, v.25, n.2, p.309-315, 2007.
08Biomassa microbiana e carbono orgânico do solo sob diferentes manejos e sucessão de culturas
Marcos Gomes de Siqueira
Elaine Cosma Fiorelli
Weverton Peroni Santos
Caio Bastos Machado
Weliton Peroni Santos
Aline Silva Vieira
Sirlene Pereira de Souza
Jairo André Schlindwein
10.37885/210303685
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
127
Palavras-chave: Biomassa Microbiana, Carbono Orgânico do Solo, Agricultura Conservacionista.
RESUMO
O manejo inadequado dos solos tem contribuído para o processo de degradação de sua matéria orgânica, causando desequilíbrio nas propriedades físicas, químicas e bio-lógicas do solo. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a biomassa microbiana e carbono orgânico do solo sob diferentes manejos e sucessão de culturas em duas pro-fundidades e ano de amostragem. Métodos: O trabalho foi realizado considerando duas safras, 2010/2011 e 2015/2016, na Universidade Federal de Rondônia, em Rolim de Moura, RO. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com os tratamentos dispostos em esquema fatorial 4x4x2x2, com 3 repetições. Os tratamentos utilizados do primeiro fator foram, métodos de preparo do solo: PRT (preparo tradicio-nal), PRA (preparo alternativo), PDA (plantio direto alternativo) e PDC (plantio direto contínuo); segundo fator: seqüência de culturas: S/F (soja/feijão), M/F (milho/feijão), S/M (soja/milho) e M/M (milho/milho); terceiro fator: profundidade de solo amostrado (0-10 cm e 10-20 cm) e o quarto fator: representou o ano de coleta do solo (fevereiro de 2011 e maio de 2016). Resultados: Na avaliação do manejo para mensurar os impactos sobre Carbono da Biomassa Microbiana (CBM) e Carbono orgânico do Solo (COS), os ma-nejos com menor revolvimento foram os que apresentaram os maiores valores de CBM e COS. As sucessões com a presença da cultura do milho no manejo PDC promovem maior acúmulo de CBM em relação ao preparo convencional PRT.Conclusão: O Manejo PDC apresentou maior teor de CBM e COS em relação ao PRT para ambos os anos de amostragem. Maior valor de CBM é obtido na profundidade 10-20 cm. As sucessões proporcionaram aumento nos valores de COS no ano de 2016.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
128
INTRODUÇÃO
Uma considerável parte da Floresta Amazônica, é formada em solos de baixa fertilidade natural (MOREIRA e FAGERIA, 2009), com isso sua manutenção e desenvolvimento é de total dependência do equilíbrio existente entre a cobertura vegetal, condições climáticas e os processos biogeoquímicos do solo. Segundo Lisboa et al., (2012), a estabilidade da floresta se deve quase que exclusivamente à ciclagem de nutrientes na camada superficial do solo . O nível do impacto com retirada da mata nativa para o desenvolvimento de outra cultura está associado ao manejo do sistema produtivo e das práticas agrícolas (SILVA et al., 2007).
Por muitos anos, as áreas extensivas da Amazônia têm sido desmatadas, e com pouco tempo de uso abandonadas (MOREIRA et al., 2013). Os principais fatores desta transfor-mação são o aumento populacional, exploração da madeira, conversão em pastagem e, em agricultura de subsistência (JOHNSON et al., 2001).
O Estado de Rondônia está localizado na Região da Floresta Amazônica e sua coloniza-ção aconteceu posteriormente a de muitos outros Estados do Brasil, com grande incremento de uso da área agricultável a partir da década de 70, quando o INCRA realizou a distribuição de lotes de terra para agricultores (FERNANDES e GUIMARÃES, 2002).
Segundo Ferreira (2008), para os solos tropicais como os de Rondônia, o cultivo ex-cessivo é ainda mais preocupante, devido à predominância dos minerais de argila do tipo 1:1 e com Capacidade de Troca de Cátions (CTC) dependente do teor de matéria orgânica. Práticas incorretas de manejo do solo provocam alterações nos seus atributos físicos, quí-micos e biológicos, significando perda de qualidade e afetando a sustentabilidade ambiental e econômica da atividade agrícola (NIERO et al., 2010).
Para Freitas (2013), a mudança do uso do solo da região do Cerrado, com a retirada da vegetação nativa para cultivo de cana e pastagem resultou em perda significativa de carbono orgânico do solo (COS) nos primeiros 10 cm do solo, com mudança também na biomassa microbiana do solo (BMS) e respiração basal.
Para compreender o impacto dos diferentes manejos na quantidade de matéria orgânica, deve ser feita uma análise de determinação do COS, com a finalidade de indicar um sistema de cultivo que possua maior capacidade de acumular COS e que aprimore a qualidade do solo (DADALTO et al., 2015).
Para Souza (2006) a biomassa microbiana, a atividade da biomassa e o carbono orgâ-nico do solo são atributos muito sensíveis ao manejo do solo, sendo os primeiros a serem prejudicados quando ocorre a mudança de um sistema em que há ação antrópica, para um sistema cultivado. Lal, (2006) afirma que aproximadamente metade de todo o COS em áreas manejadas foi perdido nos últimos 200 anos.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
128 129
A BMS é considerada a parte viva da matéria orgânica do solo, constituindo de 2 a 5 % do carbono orgânico do solo, representada por bactérias, protozoários, fungos, actinomi-cetos, algas e microfauna (ALMEIDA, 2012). Que corresponde a menos de 4% do carbono orgânico total do solo. A fração não viva é formada pelos resíduos e metabólitos de planta, de animais e microorganismos, correspondendo à maior parte do carbono orgânico total do solo, cerca de 98%. Formada por substâncias não húmicas (30% de carbono do húmus), constituída pelos ácidos orgânicos, e substancias húmicas (70% do carbono do húmus), formada pelos ácidos húmicos, flúvicos e huminas (MACHADO, 2005).
Através dos processos de imobilização e mineralização, a BMS pode controlar os flu-xos de carbono (C) e nitrogênio (N) nos ecossistemas terrestres (ALMEIDA, 2012). Como constitui a maior parte da fração ativa, o estudo da sua dinâmica pode aferir alterações na matéria orgânica causadas pelo manejo do solo num curto prazo de tempo.
OBJETIVO
Objetivou-se com o presente trabalho, avaliar biomassa microbiana e carbono or-gânico do solo sob diferentes manejos e sucessão de culturas em duas profundidades e ano de amostragem.
MÉTODOS
Descrição da área experimental
O experimento foi instalado em dezembro de 2007, sob Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico de textura argilosa (558 g kg–1 de argila,132 g kg–1 de silte e 311 g kg–1 de areia nos primeiros 10 centímetros do perfil do solo (VENTUROSO, 2014), no Campus Experimental da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, localizado no município de Rolim de Moura/RO, (latitude 11º, 35’ e 68” S e longitude 61º, 46’ e 81” W e altitude de 247 m acima do mar).
O clima conforme a classificação de Köppen é do tipo Am, que se caracteriza como um clima equatorial com variação para o quente e úmido, com estações secas bem definidas de junho a setembro, e com chuvas intensas nos meses de novembro a abril (FERNANDES e GUIMARÃES, 2002). A precipitação média anual é de 2.250 mm, umidade relativa do ar elevada no período chuvoso em torno de 85%, e com temperaturas médias anuais em torno de 28 °C (SEDAM e COGEO, 2012).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
130
Instalação do experimento
O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com os tratamen-tos dispostos em esquema fatorial 4x4x2x2, com 3 repetições. Os tratamentos utilizados do primeiro fator conforme a Tabela 1, foram, métodos de preparo do solo: PRT (preparo tradicional), PRA (preparo alternativo), PDA (plantio direto alternativo) e PDC (plantio direto contínuo); segundo fator (Tabela, 2): seqüência de culturas: S/F (soja/feijão), M/F (milho/feijão), S/M (soja/milho) e M/M (milho/milho); terceiro fator: profundidade de solo amostrado (0-10 cm e 10-20 cm) e o quarto fator: representou o ano de coleta do solo (fevereiro de 2011 e maio de 2016).
Tabela 1. Descrição dos sistemas de manejo do solo utilizados na área (2.851,2 m2) de experimentação agrícola.
Manejo do solo Símbolo Descrição
Preparo tradicional PRT Três gradagens utilizando uma grade média, sendo as operações realizadas antes da safra.
Preparo Alternativo PRA Escarificação do solo seguida pela passagem de grade niveladora, realizadas antes da safra.
Sistema plantio direto contínuo PDC Não houve preparo do solo, sendo o único revolvimento na linha de
semeadura.
Sistema plantio direto alternativo PDA
Sistema plantio direto com uma subsolagem a cada quatro anos, sendo essa operação realizada na implantação (2007), outra operação em 2011 e a última em 2015.
Tabela 2. Histórico das sucessões de culturas nos diferentes manejos do solo
Sucessões de culturas Símbolo Histórico
Milho x milho M/MDe 2007 até 2014 foi semeado milho na safra e milho na safrinha. A partir de 2015 foi semeado milho na safra e milho na safrinha em consorcio com a braquiária ruziziensis, a qual era semeada quando o milho apresentava 1 m de altura.
Milho x feijão-Caupi M/F De 2007 até 2014 foi semeado milho na safra e feijão na safrinha. A partir de 2015 foi semeado milho na safra e caupi na safrinha.
Soja x milho S/MDe 2007 até 2014 foi semeada soja na safra e milho na safrinha. A partir de 2015 foi semeada soja na safra e milho na safrinha em consorcio com a braquiária ruziziensis, a qual era semeada quando o milho apresentava 1 m de altura.
Soja x feijão-Caupi S/F De 2007 até 2014 foi semeada soja na safra e feijão na safrinha. A partir de 2015 foi semeada soja na safra e caupi na safrinha.
Amostragem do solo
A amostragem do solo para avaliação do Carbono da Biomassa Microbiana e Carbono Orgânico do Solo foi realizado em fevereiro de 2011 e maio de 2016 com auxílio de um trado holandês, nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm, sendo cada amostra constituída por três subamostras coletadas de forma casualizada em cada área de preparo do solo, totalizando 96 amostras compostas de cada época. O solo coletado foi levado sob refrigeração em caixa de isopor com gelo ao Laboratório de Solos da Fundação Universidade Federal de Rondônia, onde realizaram-se as análises de CBM e COS.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
130 131
Determinação do CBM e COS
No laboratório, seguindo metodologia descrita por De-Polli e Guerra (2008), as amos-tras foram preparadas para análise através da eliminação de fragmentos de raízes e outros resíduos vegetais e animais; em seguida foi peneirada em peneira com abertura de 2 mm.
A quantificação do CBM do solo foi realizado pelo método fumigação-extração, con-forme Vance et al. (1987), com ajustamentos proposto por Silva et al. (2007). O fator de correção utilizado foi de 0,33, descrito por Sparling e West (1988). Para determinação do COS utilizou-se a metodologia oxidação dos compostos orgânicos do solo, por dicromato em meio ácido, descrito em Rodrigues et al. (2016).
Análise estatística
Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F e os tratamentos pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade para comparação das médias, com o uso do programa estatístico ASSISTAT (SILVA e AZEVEDO, 2016).
RESULTADOS
Houve interação significativa (p<0,01) entre manejos do solo e sucessões de culturas para o CBM. Somente a sucessão S/F não apresentou diferença significativa sob os dife-rentes manejos (Tabela 3).
Tabela 3. Carbono da biomassa microbiana (CBM) em Latossolo Vermelho-Amarelo sob diferentes manejos e sucessões de cultura. Rolim de Moura, RO.
SUCESSÕES
MANEJOSCBM (mg. kg–1solo)
S/F S/M M/F M/M
PDC 307,49 aA 380,46 aA 442,63 aA 381,72 aA
PRT 191,92 aA 257,26 bA 169,14 bA 182,40 bA
PDA 268,91 aB 331,15 abA 408,16 aA 332,35 aA
PRA 247,81 aB 286,35 abB 257,65 bB 271,19 abAB
As médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna, e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste deTukey a 5% de probabilidade. PDC: plantio direto contínuo; PRT: Preparo tradicional; PDA: plantio direto alternativo; PRA: preparo alternativo.S: soja; F: feijão; M: milho. CV: 38,68%.
As sucessões M/F nos manejos PRT e PRA apresentaram os menores valores de CBM. De maneira geral, em todas as sucessões de culturas, o manejo PDC apresentou maiores valores de CBM em relação ao PRT (Tabela 3).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
132
Observou-se interação significativa (p<0,01) entre manejos do solo e ano de amos-tragem do solo para os valores de CBM (Tabela 4). O PDC apresentou maiores valores de CBM em ambos os anos (2011 e 2016) em relação ao PRT.
Tabela 4. Carbono da biomassa microbiana em Latossolo Vermelho-Amarelo sob diferentes manejos e ano de amostragem. Rolim de Moura, RO.
Manejos Ano de amostragem 2011 2016
CBM (mg. kg–1solo)
PDC 346,97 aA 342,84 aA
PRT 198,38 cA 201,99 bA
PDA 309,95 abB 379,62 aA
PRA 227,04 bcB 351,51 aA
As médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna, e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste deTukey a 5% de probabilidade. PDC: plantio direto contínuo; PRT: Preparo tradicional; PDA: plantio direto alternativo; PRA: preparo alternativo, épocas 2011 e 2016 CV: 38,68%.
O solo amostrado na profundidade de 10 a 20 cm apresentou maior valor de CBM em relação ao solo coletado na camada superficial do solo (Tabela 5).
Tabela 5. Médias do Carbono da biomassa microbiana em Latossolo Vermelho-Amarelo sob profundidades de solo amostrado. Rolim de Moura, RO.
Profundidade (cm) CBM (mg. kg–1solo)
0-10 277,44 b
10-20 312,13 a
As médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste deTukey a 5% de probabilidade. CV: 38,68%.
Avaliando o ano de coleta, o manjo PDC apresentou maiores valores de COS em relação aos demias manejos do solo para ambos os anos avaliados (Tabela 6). Em contra-partida, os manejos com revolvimento apresentaram uma tendência as menores valores de COS, independente da época avaliada.
Tabela 6. Carbono orgânico do solo em Latossolo Vermelho-Amarelo sob diferentes manejos e ano de amostragem. Rolim de Moura, RO.
Manejos Ano de amostragem 2011 2016
COS (g. kg–1solo)
PDC 16,50 aA 20,59 aA
PRT 12,91 cB 14,88 cA
PDA 14,49 bB 17,42 bA
PRA 13,31 bcB 15,11 cA
As médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna, e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste deTukey a 5% de probabilidade. PDC: plantio direto contínuo; PRT: Preparo tradicional; PDA: plantio direto alternativo; PRA: preparo alternativo, épocas 2011 e 2016 CV: 12,93%.
O ano de 2016 apresentou maiores valores de COS para todas as sucessões de cul-turas (Tabela 7), indicando um aumento de matéria organica com o passar dos anos. O ano de 2011 não houve diferença significativa sob as diferentes sucessões. Já no ano de 2016 a sucessão que apresentou maior COS foi M/M não diferindo do manejo M/F.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
132 133
Tabela 7. Carbono orgânico do solo em Latossolo Vermelho- Amarelo sob diferentes sucessões de culturae ano de amostragem do solo. Rolim de Moura, RO.
SUCESSÕES Ano de amostragem 2011 2016
COS (g. kg–1solo)
S/F 14,26 aB 15,67 cA
S/M 14,74 aB 16,49 bcA
M/F 13,45 aB 17,72 abA
M/M 14,76 aB 18,12 aA
As médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna, e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste deTukey a 5% de probabilidade. S: soja; F: feijão; M: milho. Épocas 2011 e 2016 CV: 12,93%.
DISCUSSÃO
Segundo Gazolla et al. (2015) a soja, como toda leguminosa, apresenta altos teo-res de N em sua biomassa e uma relação C/N baixa, tendo assim uma rápida decompo-sição da palhada.
Para Bayer e Mielniczuk, (1999) os sistemas de cultura com uma baixa adição de resíduos, tende a diminuir acentuadamente com o tempo a matéria orgânica do solo. Esse fator favorece a diminuição da estabilidade estrutural, população microbiana, atividade de microrganismos e a resiliência do solo com o passar do tempo (KAY e MUNKHOLM, 2004). Conforme Bayer et al. (2000) é de elevada importância a adoção de sistemas de rotação que envolvam culturas com elevada relação C/N para ter uma maior adição de fitomassa. Sá et al., (2003) indicam que, se o objetivo for alcançar bom resultado até mesmo em sistema plantio direto, deve-se produzir elevada quantidade de palhada.
Para as sucessões M/F e os manejos PRT e PRA indicaram uma provável condição de estresse para a população microbiana, devido apresentarem menores valores de CBM (Tabela 3). Esse resultado pode ser decorrente principalmente da perturbação do solo cau-sado com revolvimento do mesmo, que causa a diminuição de sua matéria orgânica sendo essa à principal fonte de energia para desenvolvimento da BMS (FILHO, 2003). No experi-mento realizado por Perez et al., (2004) foi observado que o manejo convencional apresen-tou menor valor de CBM em comparação ao manejo conservacionista (Semeadura direta).
Balota et al., (1998), avaliando o CBM sob as sucessões trigo/soja (T/S) e trigo/milho (T/M), submetidos ao preparo do solo convencional (PC) e em plantio direto (PD) em quatro épocas diferentes, observaram que o manejo PD apresentou maior CBM em todas as su-cessões e épocas avaliadas. A justificativa do resultado apresentado nesse trabalho pode ser devida o PD ter a característica de aumentar tanto a matéria orgânica como a biomassa microbiana, e com o não revolvimento do solo há a diminuição dos fatores de impactos am-bientais causado pela temperatura e precipitação (FILHO, 2003).
Os maiores valores de CBM obtivos no PDC em relação ao PRT (Tabela 4) indicam que nos manejos onde há menor revolvimento do solo causam menos danos à microbiota
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
134
do solo. Moreira et al., (2014) diz que a redução no preparo sucessivo do solo associada à semeadura direta e ao acúmulo de resíduos orgânicos na sua superfície podem minimizar ou reverter o seu depauperamento, contribuindo para a sua conservação. Por outro lado, manejos que sofrem intenso revolvimento de solo como no convencional, favorece a mine-ralização da matéria orgânica e causa a redução da mesma no solo (SANTOS et al., 2004). Pois, com o revolvimento do solo ocorre a quebra dos agregados, causando maior contato entre solo e matéria orgânica (DADALTO et al., 2015), estimulando temporariamente, a microbiota a degradar a matéria orgânica do solo, fatores esses que podem ter causado menores valores do CBM no PRT.
Comparando as épocas o ano, em 2016 houve maior CBM, para os manejos PDA e PRA (Tabela 4). Esse resultado corrobora com trabalho realizado por Oliveira et al., (2001). Isso indica que entre os anos 2011 e 2016 ocorreu uma melhora significativa do solo que favoreceu o desenvolvimento da biomassa microbiana. Provavelmente sucedeu uma alta massa volumosa de raízes, aporte de matéria orgânica e à distribuição “uniforme” dos exsu-datos o que estimulam a atividade microbiana do solo (STONE e GUIMARÃES, 2005). Com esses valores percebemos que o tipo de manejo adotado pelo agricultor pode fazer com que ocorra uma melhora na qualidade do solo mesmo em pleno uso do mesmo.
Conforme resultados da tabela 5, Perez et al. (2004) também encontrou maior valor de CBM na profundidade 10-20 cm em manejos em que foram relisados subsolagem e gra-dagem diferindo da semeadura direta. Para Alvarez et al. (1995) o sistema convencional, causa acumulo de MO na parte subsuperficial do solo, em virtude da inversão da camada superficial e da incorporação dos resíduos durante a gradagem (ALVAREZ et al., 1995).
O resultado na tabela 6, corrobora com experimento realizado por Perez et al., (2004) que mostraram os menores teores de COS estão associados a perturbação do solo. Como a matéria orgânica fica entre e no interior dos agregados do solo (ROSCOE e MACHADO, 2002), o manejo convencional causa a quebra dos agregados e consequente a liberação do carbono orgânico (LOSS et al., 2009).
Experimento realizado por Almeida e Camara (2011) avaliando o teor de massa seca, do feijão guandu, feijão de porco, mucuna-preta e do milho, o milho foi o que se destacou nos teores de massa seca. Isso pode ter sido a causa do resultado apresentado nesse experimento. A entrada de matéria orgânica no solo favorece também o aumento do COS devido haver ligações desses dois fatores (BALBINOT, 2003).
Apesar de o milho ter essa característica, de apresentar alta produção de palhada, o uso de sucessão da mesma espécie vai favorecer ocorrência de pragas e doenças, provo-cando queda na produção. Para Amado et al. (2001), os manejos com uso de leguminosas
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
134 135
e gramíneas causam efeitos positivos no acréscimo de matéria orgânica, e proporcionaram a disponibilidade de nitrogênio favorecendo o aumento da produção.
A sucessão composta por duas leguminosas (S/F) apresentou o menor acúmulo de COS, apesar de não diferir de S/M (Tabela 7). O que pode ter causado esse resultado é a acelerada mineralização dessas culturas, devido terem baixa relação C/N, e apresentar uma baixa produção matéria seca. Segundo Moreira e Siqueira, (2006) a matéria orgânica é dependente da cobertura vegetal do solo, tendo ela grande influência nos organismos. Solos que não apresentam cobertura vegetal vão ter baixa matéria orgânica favorecendo uma baixa comunidade biológica e menos diversificada.
CONCLUSÃO
O manejo conservacionista PDC promove maior acúmulo de CBM e COS em relação ao preparo convencional PRT.
As sucessões com a presença da cultura do milho no manejo PDC promovem maior acúmulo de CBM em relação ao preparo convencional PRT.
O Manejo PDC apresentou maior teor de CBM e COS em relação ao PRT para ambos os anos de amostragem.
Maior valor de CBM é obtido na profundidade 10-20 cm.As sucessões proporcionaram aumento nos valores de COS no ano de 2016.
REFERÊNCIAS
1. ALMEIDA, K.; CAMARA, F. L. A. Produtividade de biomassa e acúmulo de nutrientes em adubos verdes de verão, em cultivos solteiros e consorciados. Revista Brasileira de Agroecologia, v. 6, n. 2, p. 55-62, 2011.
2. ALMEIDA, D. O.; Fauna epiedáfica e atributos microbiológicos de solos sob sistemas de manejo no subtrópico brasileiro. 2012. 108. Tese (Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo) – Faculdade de Agronomia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012 Disponível em http://www.ufrgs.br/agronomia/joomla/index.php/ppgsolo-teses- disserta-coes Acesso em: 25 de outubro. 2018.
3. AMADO, T. J. C.; BAYER, C.; ELTZ, F. L. F.; BRUM, A. C. Potencial de culturas de cobertura em acumular carbono e nitrogênio no solo no plantio direto e a melhoria da qualidade ambiental. R. Bras. Ci. Solo, 25: p.189-197, 2001.
4. ALVAREZ, R.; DÍAZ, R.A.; BARBERO, N.; SANTANATOGLIA, O. J. e BLOTTA, L. Soil organic carbon, microbial biomass and CO2-C production from three tillage systems. Soil Till. Res., 33:17-28, 1995.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
136
5. BALBINOT, R.; SCHUMACHER, M. V.; WATZLAWICK, L. F.; SANQUETTA, C. R. Inventário do carbono orgânico em um plantio de Pinus taeda aos 5 anos de idade no Rio Grande do Sul. Revista Ciências Exatas e Naturais, v.5, n.1, 2003.
6. BALOTA, E. L.; COLOZZI-FILHO, A.; ANDRADE, D. S.; HUNGRIA, M. Biomassa microbiana e sua atividade em solos sob diferentes sistemas de preparo e sucessão de culturas. R. Bras. Ci. Solo, n 22, p.641-649. 1998.
7. BAYER, C.; MIELNICZUK, J. Dinâmica e Função da Matéria Orgânica. In: SANTOS, G. A.; CAMARGO, F.A.O. (Eds.) Fundamentos da Matéria Orgânica do solo – Ecossistemas Tro-picais e Subtropicais. Porto Alegre: Genesis, p.9-26, 1999.
8. BAYER, C.; MIELNICZUK, J.; AMADO, T. J. C.; MARTIN-NETO, L.; FERNANDES, S. V. Or-ganic matter storage in a sandy clay loam Acrisol affected by tillage and cropping systems in southern Brazil. Soil and Tillage Research, Amsterdam, v. 54, p.101-109, 2000.
9. DADALTO, J. P.; FERNANDES, H. C.; TEIXEIRA, M. M.; CECON, P. R.; DE MATOS, A. T. Sistema de preparo do solo e sua influência na atividade microbiana. Journal of the Brazilian Association of Agricultural Engineering, v. 35, n.3, p.506-513, 2015.
10. DE-POLLI, H.; GUERRA, J. G. M. Carbono, nitrogênio e fósforo da biomassa microbia-na do solo. In: Santos, G. de A.; Silva, L. S. da.; Canellas, L. P.; Camargo, F. A. O. (Eds.). Fundamentos da matéria orgânica do solo: ecossistemas tropicais & subtropicais. 2ª. Edição revisada e atualizada. . p. 263-276. Metrópole, Porto Alegre, RS, 2008.
11. FERNANDES, L. C.; GUIMARÃES, S. C. P. Atlas geoambietal de Rondônia. Porto Velho. p. 138, 2002.
12. FILHO, S. de P.; Biomassa Microbiana do solo sob sistema de plantio direto na região de campos gerais, Tibagi, PR. Piracicaba, Tese (doutorado), p12, 2003.
13. FREITAS, ISABEL CRISTINA VINHAL. Matéria orgânica, fluxo de CO2 e índice Q10 em dois latossolos com texturas contrastantes sob diferentes usos no Cerrado. Tese (Pro-grama de Pós-graduação em Agronomia) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlância, 91 p. 2013. Disponível em: http://repositorio.ufu.br/handle/123456789/4305 Acesso em: 25 de outubro. 2018.
14. GAZOLLA, P. R. GUARESCHI, R. F.; PERIN, A.; PEREIRA, M. G.; ROSSI, C. Q. Frações da matéria orgânica do solo sob pastagem, sistema plantio direto e integração lavoura- pecuária. Semina: Ciências Agrárias, v 36, n.2 p.693-704, 2015.
15. JOHNSON, C. M.; VIEIRA, I. C. G.; ZARIN, D. J.; FRIZANO, J.; JOHNSON, A. H. Armazena-mento de carbono e nutrientes em florestas primárias e secundárias no leste da Amazônia. Ecologia Florestal e Gestão. v.147, p. 245-252, 2001.
16. LAL, R.; “Enhancing crop yields in the developing countries through restoration of the soil organic carbon pool in agricultural lands.” Land Degradation & Development 17: p.197- 209. 2006.
17. LISBOA, B. B.; VARGAS, L. K.; SILVEIRA, A. O.; MARTINS, A. F.; SELBACH, P. A. Indicadores microbianos de qualidade do solo em diferentes sistemas de manejo. Revista Brasileira de Ciência do Solo. v.36, p.45-55, 2012.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
136 137
18. LOSS, ARCÂNGELO.; PEREIRA, M. G.; SCHULTZ, N.; FERREIRA, E. P.; SILVA, E. M. R.; BEUTLER, S. J. Distribuição dos agregados e carbono orgânico influenciados por manejos agroecológicos. Revista: Acta Scientiarum. Agronomy. Maringá, v.31, n.3 p.523- 528, 2009.
19. MACHADO, P. L. O. A. Carbono do solo e a mitigação da mudança climática global. Química Nova, v.28, n.2, p.329-334, 2005.
20. MOREIRA, A.; FAGERIA, N. K. Atributos químicos do solo no estado do Amazonas, Brasil. Comunicações em Ciência do Solo e Análise de Plantas. v.40, p. 2912-2925, 2009.
21. MOREIRA, A.; MORAES, L. A. C.; ZANINETTI, R. A.; CANIZELLA, B. T. Dinâmica do fósforo na conversão de uma floresta secundária em plantação de seringueira na floresta amazônica. Ciência do Solo. v.178, p.618-625, 2013.
22. MOREIRA, F. R. et al. Intervalo hídrico ótimo em um Latossolo Vermelho cultivado em sistema semeadura direta por 25 anos. R Bras Ci Solo, v.38, p.118-27, 2014.
23. NIERO, L. A. C. et al. Avaliações visuais como índice de qualidade do solo e sua validação por análises físicas e químicas em um Latossolo Vermelho distro-férrico com usos e manejos distintos. Revista Brasi-leira de Ciência do Solo, Viçosa, v.34, n.4, p.1271-1282, 2010.
24. OLIVEIRA, J. R. A.; MENDES, I. C.; VIVALDI, L. Carbono da biomassa microbiana em solos de cerrado sob vegetação nativa e sob cultivo: avaliação dos métodos fumigação- incubação e fumigação-extração. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.25, n.4, p.863- 871, 2001.
25. PEREZ, K. S. S.; RAMOS, M. L. G.; MCMANUS, C. Carbono da biomassa microbiana em solo cultivado com soja sob diferentes sistemas de manejo nos Cerrados. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 39, n.6, p567-573, 2004.
26. RODRIGUES, M. J. M; SILVA, L. M.; MARCHÃO, R. L.; SOUZA, A. M.; WADT, P. G. S.; OLI-VEIRA, L. C. Espectroscopia no infravermelho próximo para a quantificação de carbono em solos da bacia do Acre. Biota Amazônia, Macapá, v.6, n.1, p.119-124, 2016.
27. ROSCOE, R.; MACHADO, P. L. O. Fracionamento físico do solo em estudos da matéria orgânica. Embrapa Agropecuária Oeste/Embrapa Solos, Dourados, MS/ Rio de Janeiro, RJ, p.86 2002.
28. SANTOS, V. B. dos.; et al. Biomassa, atividade microbiana e teores de carbono e nitrogênio totais de um planossolo sob diferentes sistemas de manejo. Revista brasileira Agrociência, v.10, n.3, p.333-338, 2004.
29. SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL (SEDAM) E COORDE-NADORIA DE GEOCIÊNCIAS (COGEO). Boletim Climatológico de Rondônia. Ano 2010. v. 12, 2010 - Porto Velho.2012. Disponível em: http:// www.sedam.ro.gov.br/images/bole-tim2010.pdf >. Acesso em: 05 nov. 2018.
30. SILVA, M. B.; KLIEMAN, H. J.; SILVEIRA, P. M.; LANNA, A. C. Atributos biológicos do solo sob influência da cobertura vegetal e do sistema de manejo. Pesquisa Agropecuária Brasileira. V. 42, p.1755-1761, 2007.
31. SILVA, F. de A. S. e.; AZEVEDO, C. A. V. de. The Assistat Software Version 7.7 and its use in the analysis of experimental data. Afr. J. Agric. Res, v.11, n.39, p.3733-3740, 2016.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
138
32. STONE, L. F. & GUIMARÃES, C. M. Influência de sistemas de rotação de culturas nos atributos físicos do solo. Santo Antônio de Goiás, Embrapa Arroz e Feijão, p. 15, (Embrapa Arroz e Feijão. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 16), 2005.
33. VANCE, E. D.; BROOKES, P. C; JENKINSON, D. S. Na extraction method for measuring soil microbial biomass-C. Soil Biology & Biochemistry. v.19, n.6, p.703-707, 1987.
34. VENTUROSO, L. A. C. Atributos físicos do solo em função do manejo e sucessão de cul-turas em ambiente amazônico. Tese (Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Produção Vegetal) – Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, p.60, 2014.
09Caracterização dos feirantes e percepções dos consumidores sobre a Feira Livre de São Lourenço do Sul - RS
Carmem Rejane Pacheco-PortoFURG
Darwin Aranda ChuquillanquePGDR/UFRGS
10.37885/210303892
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
140
Palavras-chave: Agricultura Familiar, Pluriatividade, Autoconsumo, Comercialização.
RESUMO
As feiras livres são acontecimentos frequentes que ocorrem em espaços públicos (praças e ruas) e caracterizam-se por ser um canal de comercialização dos produtos da agricultura familiar.Com objetivo de caracterizar os feirantes da agricultura familiar e compreender a percepção e o comportamento dos consumidores sobre a feira aplica-se um questionário, com questões objetivas e subjetivas. A análise relaciona o gasto dos consumidores com fatores socioeconômicos e com a satisfação em relação à feira da agricultura familiar que acontece na praça Dedé Serpa, localizada na sede do município de São Lourenço do Sul-RS, Brasil. A pesquisa realiza-se entre junho de 2015 e maio de 2017. Foram convidados e submetidos à pesquisa 14 feirantes e 60 consumidores. De acordo com os feirantes, a vantagem principal de comercializar na feira é a eliminação do atraves-sador, outras vantagens citadas foram: clientes fixos, preço justo, pagamento à vista e possibilidade de interagir com os consumidores. Os consumidores com ensino superior e pós-graduação apresentam maior gasto na feira, o qual não foi influenciado pelo vínculo de trabalho e sim pela renda. Esses consideram que a feira é um local centralizado, de fácil acesso, que oferece produtos orgânicos, é organizada e limpa, com atendimento bom e confiável, espaço de sociabilização e, sobretudo, porque a feira representa uma tradição do município. Os feirantes e consumidores demonstram satisfação com a feira e desejam a sua continuidade.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
140 141
INTRODUÇÃO
Os mercados de produtos agrícolas provenientes de vários sistemas de produção (orgânicos, agroecológicos, ecológicos, biodinâmicos) da agricultura familiar enfrentam controvérsias quanto a seu fortalecimento em comparação com modelos de produção que seguem as premissas da agricultura convencional. Interessante destacar que, esse modelo de agricultura convencional visa uma máxima produção e produtividade, utilizando equipa-mentos tecnológicos, sementes transgênicas, agrotóxicos e fertilizantes cada vez mais solú-veis. Esse tipo de agricultura, pode gerar dependência econômica, principalmente quando se trata de pequenos agricultores. Além disso, essas empresas oferecem pacotes tecnológicos que podem causar danos à saúde e ao meio ambiente, por exemplo, o cultivo de transgê-nicos uma vez que, não existem estudos científicos assegurando que não causaram danos (CAPORAL, 2009b). Além disso, esse modelo de agricultura preconiza a comercialização dos produtos em grandes redes comerciais, favorecendo o surgimento e fortalecimento de atravessadores em detrimento da renda e do protagonismo dos pequenos agricultores. Por sua vez, novas estratégias ganharam importância que parcialmente geraram transformações na agricultura, entre elas a agricultura orgânica e a agroecologia, por meio da organização dos agricultores familiares, do modelo de produção, da distribuição e consumo dos produtos oriundos da agricultura familiar. Acredita-se que a produção, distribuição e consumo podem ser fortalecidos ao incorporar princípios de sustentabilidade, que resultam na; autonomia, responsabilidade social, respeito a diversidade cultural, incremento do consumo de produtos locais, entre outros, princípios que são a base da agroecologia (MEDEIROS e MARQUES 2013, p. 114; CAPORAL, 2009a, p .11).
Ploeg (2008) sustenta que, as famílias agricultoras utilizam a pluriatividade como uma alternativa eficiente para suprir a renda familiar, o mesmo autor argumenta que em alguns casos a pluriatividade é utilizada como uma opção para gerar fundos para futuros inves-timentos (equipamentos agrícolas, sementes, maquinaria, entre outros). Nesse sentido, podemos pensar que a pluriatividade evita a dependência das famílias em relação aos bancos e prestamistas, portanto, o que resulta em mais seguridade e bem-estar às famílias. Schneider (2003), Grisa e Conterato (2011) definem a pluriatividade como um fenômeno social que pode ser aplicado no contexto da agricultura familiar, onde membros das famílias que habitam no espaço rural realizam diferentes atividades não agrícolas, podendo ser fora ou dentro da unidade de produção familiar. Essas atividades não agrícolas ajudam a amor-tizar a falta de renda, proporcionando maior ingresso de receitas econômicas às famílias, a comercialização de parte da produção na feira, como a situação em análise se constitui como mais uma possibilidade de renda para as famílias.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
142
Outra estratégia presente nas unidades de produção familiar, pouco falada e discutida, mas muito utilizada é a produção para autoconsumo, conforme assinala Grisa e Conterato (2011), “essa produção compreende toda a produção realizada pela família e destinada ao seu consumo ou ao dos animais existentes no estabelecimento”. Além disso, contribui na segurança e soberania alimentar das famílias, assim como facilita o acesso direto aos alimentos “lavoura-cozinha”.
A produção dos próprios alimentos garantem às famílias acesso a alimentos produzidos, geralmente, sem agrotóxicos e com adubação orgânica, assim como um acesso mais unifor-me a esses, atenuando a desproteção frente a variação de preços no mercado, além disso, a produção para autoconsumo respeita os hábitos alimentares e valores locais. Em famílias de baixos recursos econômicos a maior parte do orçamento é destinada à alimentação, fica evidente que o objetivo das famílias é garantir a sobrevivência e reprodução social (GRISA e CONTERATO, 2011). É recorrente entre os agricultores que comercializam em circuitos curtos1 a prática de garantir a própria alimentação, mas ao mesmo tempo priorizam os ali-mentos “apresentáveis” visualmente para a comercialização.
Segundo Grisa e Conterato (2011) a produção para autoconsumo confere uma alimen-tação de qualidade e uma geração de renda não-monetária. Para esses autores, esse tipo de produção não interfere ou disputa com cultivos comerciais das famílias, sendo que produtos destinados para a alimentação da própria família são consorciados com produtos comer-ciais, contribuindo assim para uma maior diversidade dos agroecossistemas. Os mesmos autores argumentam que em estudos realizados no Rio Grande do Sul, Brasil a produção para autoconsumo não é exclusiva de estabelecimentos pobres, também é uma estratégia utilizada por propriedades agrícolas mais consolidadas.
Através de organizações governamentais e não governamentais (cooperativas, con-selhos, associações, fóruns, redes, núcleos de pesquisa e extensão, acadêmicos) e demais formas de organização da sociedade civil que lutam por uma agricultura de base ecológica, pelo fortalecimento e conquista de novos mercados, encurtando as cadeias de distribuição e valorizando os circuitos curtos da economia, onde o principal ator é o próprio agricultor, quer dizer, venda direta agricultor-consumidor. Nesse modelo de venda direta podemos citar as feiras livres, que são canais de comercialização que preconizam o fortalecimento da economia local (MEDEIROS e MARQUES, 2013, p.114).
1 "Modos de comercialização de venda direta do produtor para o consumidor ou por venda indireta, com a condição de não haver mais de um intermediário". REDE RURAL. CCA . Circuito curto agroalimentar. Disponível em: <http:// www.rederural.pt/index.php/pt/2013-10-30-12-05-36/o-que-e-um-cca/conceito-decircuito-curto-agroalimentaccA>. Acesso em: 15 mar. 2018.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
142 143
FEIRAS LIVRES AGROPECUÁRIAS
As feiras livres no Brasil remontam o período colonial. São consideradas como um evento social de grande importância tanto para os feirantes como para os consumidores. Reconhecidas como espaços singulares de comercialização de produtos e que historica-mente contribuíram para o desenvolvimento da economia interna do país. As feiras livres são espaços tradicionais onde os trabalhadores da agricultura familiar comercializam seus produtos diretamente de suas lavouras (produtos in-natura) ou quando são processados usam procedimentos básicos que não demandam altos investimentos em equipamentos e infraestrutura (CHUQUILLANQUE et al., 2015. p.2)
As feiras são espaços de comercialização que permitem a eliminação do atravessador, ou pelo menos espaços que reduzem ao máximo o número de atravessadores, ademais as feiras se constituem como modalidade de comercialização que se contrapõe aos mercados hegemônicos, onde a tendência é a artificialização dos alimentos. Elas garantem maior autonomia para os agricultores familiares, que historicamente vêem sua produção sendo destinada para as grandes redes comerciais, onde o trabalho do agricultor é pouco ou não é valorizado (PICOLOTTO; BRANDENDURG, 2014 p.131).
Conforme sustenta Steiner (2006), na “Sociologia Econômica”, os mercados são formas sociais de concentração em que as pessoas criam laços coletivos. Tomando como referên-cia a definição anterior, podemos dizer que as feiras são modelos de mercado que não só buscam a maximização do lucro, mas também se preocupam com as relações e contexto social onde se inserem.
Os espaços de comercialização são relativamente socializados, oportunizando a in-clusão de um número maior de sujeitos nessas atividades. Neste contexto, discute-se o conceito de autogestão, para Singer (2002) a autogestão é entendida como uma prática de administração democrática de formas de organização solidárias. Fundamenta-se no princípio democrático, todas as decisões devem ser tomadas de forma coletiva, porém nem sempre aparece como ferramenta principal das organizações solidárias, nos espaços municipais a institucionalidade (regras,normas, leis) limita processos de autogestão. As decisões de rotina são de responsabilidade de representantes, escolhidos pelos sócios ou por diretoria eleita pelos mesmos (SINGER, 2002, p. 18-9). A partir deste conceito surgem questões que se tornam um desafio para os agricultores e para os órgãos oficiais que comungam dessa mudança de paradigma em relação à produção e comercialização: a falta de merca-do e a falta de produção. Em princípio parece que uma pode resolver a outra. Para muitos agricultores, o desafio é entendido como uma oportunidade de definir-se dentro dos vários sistemas de produção da agricultura familiar (sistema agroecológico, sistema orgânico, sis-tema biodinâmico, entre outros) e buscar, através das associações, formas para diversificar
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
144
a produção e gerar complementaridade entre a produção das unidades de produção rurais (PORTO, 2011). Diante desse desafio, é necessário articular-se em associações – atendendo à exigência do poder público municipal – que tem poder sobre a ampliação dos pontos de comercialização da produção.
Singer (2002) faz referência à necessidade de esforço adicional para manter as or-ganizações solidárias, visto que estas envolvem conflitos, necessidade de tomar partido e participar de encontros (reuniões) que não raras vezes tornam-se cansativos. Ademais, destaca que “o maior inimigo da autogestão é o desinteresse dos sócios”.
Nas feiras livres podemos encontrar não só vendedores e seus produtos, também encontramos os consumidores que tem a mesma importância que os feirantes-vendedores. Porém, é inexpressivo o conhecimento sobre o comportamento ou percepção que eles têm sobre as feiras ao ar livre. Segundo o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor- PROCON, consumidor é “qualquer pessoa que compra um produto ou que contrata um serviço, para satisfazer suas necessidades pessoais ou familiares”. Partindo dessa definição, hoje em dia encontramos a formação de supermercados, lojas por departamento, entre outros conglomerados com a finalidade de oferecer produtos e atenção de qualidade ao consumidor.
Mediante o avanço de novas tecnologias e a formação destas redes de comercialização busca-se captar a maior quantidade de consumidores e suprir plenamente as necessidades destes. Na atualidade, o mercado é dinâmico e complexo, no qual todos competem pela conquista e preferência do consumidor (LIMA, A; LIMA, J; VANZO, 2007, p. 15).
As feiras livres não são alheias a estas mudanças, organizam-se em cooperativas, associações e grupos, com a finalidade de atrair consumidores que cada dia são mais exi-gentes no que concerne a produtos para uma alimentação saudável. Entre as vantagens das feiras destacam-se a diversificação, a qualidade e, em alguns casos, produtos livres de agrotóxicos (feiras agroecológicas ou orgânicas). Por isso, compreender o comportamento e as percepções dos consumidores adquire muita importância para a sobrevivência e con-tinuidade das feiras livres.
De acordo com Lima. A, Lima. J e Vanzo (2007, p. 21) o estudo do comportamento do consumidor tornou-se um campo de estudo do marketing, surgindo em 1968. Entre outros motivos para o estudo do comportamento do consumidor destaca-se “a taxa de desenvol-vimento de novos produtos, o crescimento dos movimentos de defesa do consumidor, as preocupações relativas à ação governamental, as preocupações ambientais e o cresci-mento, tanto do marketing filantrópico quanto do internacional” (SCHIFFMAN, 2000 apud LIMA, A; LIMA, J; VANZO, 2007, p.21). Acrescentam que, caracteriza-se o comportamento do consumidor pelas atividades mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso de produtos/serviços para a satisfação de necessidades e desejos.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
144 145
Para autores como Kinjo e Ikeda (2004, p. 4); Lima. A, Lima. J e Vanzo (2007, p.23), o comportamento dos consumidores está baseado em quatro importantes fatores: cultural, social, pessoal e psicológico. Durante o processo de tomada de decisão, se apresentam alguns comportamentos passíveis de análise, como a avaliação da situação e estimativas, assim como a avaliação da influência dos componentes sociais sobre o comportamento expresso ao final de cada processo decisório.
Sobre a percepção Del Rio (1996, p. 3) nos diz que é um processo mental de interação do indivíduo com o ambiente que se dá através de mecanismos perceptivos, e principalmente cognitivos. Os sujeitos sociais percebem o ambiente de forma diferenciada: o conhecimento, as experiências e as associações definem esses olhares. Ou de forma extremamente depen-dente da informação que esses têm sobre o ambiente percebido. A percepção do ambiente e sobre o que nele está materializado reflete as opiniões, pontos de vista, associados ao conhecimento e à experiência (PORTO, 2011). Por isso, compreender o comportamento, as percepções e a satisfação dos consumidores torna-se importante quando se trata da sobrevivência e continuidade das feiras livres (REZENDE et al. 2011, p. 121).
A presente pesquisa foi realizada com o objetivo de caracterizar os feirantes e com-preender a percepção e comportamento dos consumidores, relacionando o “gasto” destes com fatores socioeconômicos e com a satisfação em relação à Feira da Agricultura Familiar no município de São Lourenço do Sul-RS.
CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E PROCEDIMENTOS METODOLÓ-GICOS PARA A COLETA DE DADOS
A pesquisa foi realizada entre junho 2015- maio 2017 na feira localizada na praça central do município de São Lourenço do Sul-RS (Figura 1), o qual conta com sete distritos mais o distrito sede e, de acordo com o IBGE (2010), possui população de 43.111 habitantes distribuída entre o campo (18.874 habitantes) e a cidade (24.237 habitantes). Foram con-vidados e submetidos à pesquisa 14 feirantes sendo a totalidade deles e 60 consumidores representando 10% do total. Para o acesso às informações foram elaborados dois questio-nários, um para os feirantes e o outro para os consumidores, os quais continham questões objetivas e subjetivas direcionadas aos sujeitos sociais analisados nesta pesquisa. A relação entre valores gastos e as demais variáveis testadas (número de pessoas na família, renda, frequência de compra, sexo e idade foram analisadas por meio de teste de covariância (ANCOVA), enquanto que, a relação entre gastos e categoria de emprego/trabalho foi ana-lisada por teste de variância(ANOVA).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
146
Figura 1. Localização do município de São Lourenço do Sul no estado do Rio Grande do Sul.
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE/2013. Elaboração técnica: TRENTIN,G.
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
A consolidação e diversificação marcante na agricultura familiar na região Sul é resulta-do da distribuição da ocupação das áreas e os propósitos estratégicos da Coroa Portuguesa. Famílias açorianas numa primeira fase, e posteriormente imigrantes alemães, italianos, fran-ceses, entre outros, receberam pequenas frações de terras para ocupar a região e diversificar a produção, preferencialmente com culturas alimentícias (SURITA, 2013, p.21). É oportuno assinalar que, os colonizadores chegaram a ocupar principalmente áreas de mata fechada e áreas íngremes, que eram consideradas improdutivas pelos fazendeiros que ocupavam grandes extensões de terra naquela época. É oportuno mencionar que no território da zona Sul do Rio Grande do Sul, também encontramos áreas de remanescentes quilombolas e indígenas. Essa diversificação de etnias foi responsável pelo fortalecimento e diversificação da agricultura familiar no município de São Lourenço do Sul e no estado (SURITA, 2013, p.8).
A caracterização dos feirantes revela que, as propriedades dos feirantes variam de 0,7 a 78 hectares, com uma média de 18,21 hectares por feirante, essas propriedades podem ser consideradas pequenas propriedades segundo a lei nº. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Esses dados encontrados se aproximam dos dados encontrados por Almeida et al. (2018a, p.3) em pesquisa realizada nas propriedades rurais do município de São Lourenço do Sul, que constatou que o tamanho das propriedades oscilam entre 2 e 186 hectares com uma
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
146 147
média de 35,54 hectares por família. Por sua vez, Surita (2013, p.8) assinala que, os colo-nizadores receberam 24 hectares por família aproximadamente. E destaca que, o histórico de distribuição das terras da região Sul, consolidada pela Coroa Portuguesa, destinou aos militares áreas com aproximadamente 13 mil hectares, dando a essa porção do território características semelhante à distribuição de terras que ocorreu no Brasil, “onde, muitos são donos de áreas pequenas e poucos concentram muitas terras” (SURITA, 2013, p.8). Dois agricultores/feirantes possuem menos de cinco hectares e os demais (12) possuem acima de cinco hectares.
Dos que possuem menos de cinco hectares, um produz em uma área menor que um hectare, comercializa produtos minimamente processados e produtos “medicinais”, o que lhe aproxima em relação à renda obtida quando comparado aos demais feirantes, que possuem estabelecimentos com maior área. Evidenciamos que os feirantes que possuem menor área, tendem a diversificar mais a produção. Para agregar valor aos produtos e assim aumentar a renda, utilizam técnicas artesanais. No geral, os feirantes tendem a diversificar sua produção, assim obtém maior autonomia. Salientamos que a diversificação da produção não somente está relacionada com a feira, mas também está ligada fortemente com o auto-consumo. Os feirantes afirmam que produzem para o consumo familiar e que o consideram fundamental para a sustentabilidade no campo, mesmo que os melhores produtos sejam destinados às bancas da feira, afirmam que produzem prioritariamente para o abastecimento da família, contribuindo na soberania e segurança alimentar das famílias.
Os feirantes apresentam idade média de 55,15 anos. O fato da não identificação de pessoas com idade inferior a 35 anos entre os entrevistados, permite inferir que uma parcela de jovens possivelmente opta por deixar o campo e migrar para a cidade, ou ainda, o que remete a futuras investigações, porque possivelmente esses jovens se dedicam a outras atividades não relacionadas à produção e comercialização de produtos agrícolas. Outro cenário que podemos vislumbrar é que, a família utilize a pluriatividade como estratégia de reprodução social, em que alguns membros das famílias se dediquem a outras atividades não relacionadas com a agricultura, tendo como objetivo compensar a falta de renda, assegu-rando maior emancipação econômica e menos dependência do sistema financeiro. A média de idade dos feirantes se aproxima dos dados encontrados por Almeida et al. (2018b, p.3) onde assinala que, a média de idade dos responsáveis das propriedades rurais no município é 50,4 anos, o mesmo autor em sua pesquisa constatou que, 75% dos entrevistados tem ao menos um filho com média de idade de 21,52 anos que ainda se encontra na propriedade (ALMEIDA et al. 2018b, p.3).
A conformação das famílias dos feirantes tem em média 3,5 integrantes. Quando os feirantes foram consultados sobre a participação dos integrantes da família no trabalho de
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
148
produção e comercialização, as respostas foram quase unânimes em relação à participa-ção dos familiares nas atividades da propriedade rural e da feira, identificamos três famílias nas quais os filhos não participam em tempo integral por estarem envolvidos com os estu-dos. No entanto, em seu tempo livre participam de atividades de produção e comercialização.
Dos 14 feirantes entrevistados, 12 não utilizam mão de obra externa, os outros dois con-tratam trabalhadores externos como diaristas, dependendo da demanda. Conforme sustenta Almeida et al. (2018b, p.3) existe predominância da mão de obra familiar nas propriedades rurais do município, a respeito disso Lima (2006, p.69) aduz que, uma das características da tradição dos imigrantes é que a família deveria alcançar a autonomia econômica, para isso tinham que promover a participação de todos os membros da família na produção, utilizando o mínimo possível mão de obra externa.
Quando perguntados sobre sua produção (convencional ou orgânica), a maior parte dos entrevistados (54%) considera sua produção como convencional; 46% confirmam que sua produção é orgânica. No entanto, 15% dos produtores convencionais alegam que sua produção segue este modelo pelo fato de seus vizinhos usarem agrotóxicos e fertilizantes sintéticos, o que não permitiria o cultivo de produtos orgânicos, segundo o IBD Certificações, faz-se necessário existir uma distância entre sistemas orgânicos e não orgânicos, podendo ser de 10 a 100 metros de distância em zonas de pulverização aérea, essa distância será determinada pela entidade certificadora, isso com intuito de evitar que produtos químicos utilizados em áreas não orgânicas acabem tendo influência na produção orgânica. Esse dis-tanciamento entre sistemas de produção, orgânico e não orgânico, normalmente deve estar coberto por vegetação (gramíneas, arbustivas e arbóreas) para construir uma barreira de vegetação. Segundo Almeida et al. (2018a, p.4) os agricultores do município mostram-se a favor da mudança do sistema de produção convencional para o sistema orgânico, contudo, o autor sustenta que os agricultores são favoráveis à mudança desde que se mantenha a produção e rentabilidade similar ao sistema convencional.
Para Lima (2006, p.110) os agricultores do município de São Lourenço do Sul, estão submetidos a uma subordinação do capital, perdendo os meios de produção. Possivelmente o autor faz referência a produtores de fumo, monocultivos e commodities, no qual as empresas mantenedoras do capital entregam o pacote tecnológico (maquinaria, adubos, sementes,etc.), é comum ver, que nesse sistema quem dita as regras de; como plantar, quando plantar, o que plantar, onde vender, entre outras regras, são as transnacionais ou empresas que monopolizam a cadeia produtiva, o agricultor perde o direito de decisão, a autonomia e a segurança alimentar. Neste sentido, a agroecologia e as feiras livres são reconhecidas como alternativas que se contrapõem aos mercados hegemônicos e garantem maior autonomia para os agricultores familiares.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
148 149
No que diz respeito às dificuldades encontradas, onze (11) feirantes asseguraram não ter dificuldade alguma na etapa de comercialização. Cabe mencionar que eles utilizam parte do espaço da praça central do município, a qual é cedida pela prefeitura para a comercia-lização dos produtos oriundos da agricultura familiar. Um entrevistado mencionou que falta divulgação da feira. No entanto, os relatos dos feirantes e de representantes da prefeitura do município indicam que a feira tem aproximadamente 40 anos de fundação, atuando sempre no mesmo lugar, na praça central. O que nos leva a pensar que possivelmente não se trate de falta de divulgação e sim falta de conscientização dos consumidores quanto ao consumo dos produtos locais, de estação e inclusive produtos livres de agrotóxicos oriundos da agricultura familiar. O “consumo solidário” proposto por Singer (2002) destaca-se como uma estratégia a ser explorada pelo poder público para fortalecimento das feiras. Segundo o mesmo autor, no “consumo solidário” se dá preferência a produtos oriundos de associações ou empreendimentos solidários locais. Para consolidar essa estratégia os consumidores devem ser incentivados a evitar o consumo de produtos pela aparência ou preço e, sim, ter em conta a qualidade e procedência do mesmo, priorizando produtos locais e da estação. Outra dificuldade encontrada é a falta de variedade de produtos para comercialização, atri-buindo-se a isso às mudanças climáticas, à falta de assistência técnica na produção e à falta de estrutura para produção. Fazem referência à necessidade de maior presença dos governos estadual e federal, o que, segundo os feirantes, permitiria políticas públicas mais específicas e mais eficientes para a agricultura familiar.
Para o escoamento e comercialização da produção, nove (9) feirantes utilizam somente a feira para comercializar seus produtos. De acordo com os feirantes, a vantagem principal de comercializar na feira é a eliminação do atravessador, tendo desta maneira uma maior rentabilidade. Outras vantagens citadas foram: clientes fixos, preço justo, pagamento à vis-ta e possibilidade de interagir com os consumidores. Como desvantagens têm-se: falta de infraestrutura do local, falta de organização e falta de divulgação da feira. Pode-se afirmar que, a feira é um canal para obter um desenvolvimento socioeconômico tanto para os pro-dutores como para a região. Cinco feirantes utilizam outros canais de comercialização ou a combinação de diferentes canais: venda na propriedade, venda de porta em porta e venda no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA. O PAA é uma política pública que viabiliza compras institucionais da agricultura familiar. A aquisição dos alimentos pode ser feita em universidades, creches, hospitais públicos, quartéis entre outros (MAURICIO PIERRI 2010, p.35). Os dados da pesquisa mostram que apenas um (1) feirante está utilizando esse canal para comercializar seus produtos. A não utilização desse canal relaciona-se com a falta de informação, critérios rígidos para inserção no programa, a vontade própria de não comercia-lizar nesses mercados, a falta de organização, a insuficiência de produto e outros motivos
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
150
que levam esses agricultores a não utilizarem os mercados institucionais como canal de comercialização. Nesse contexto, destaca-se a importância do fortalecimento dos circuitos curtos agroalimentares (CCA), conceituado pela Rede Rural Nacional de Portugal “como um modo de comercialização de venda direta do produtor para o consumidor ou por venda indireta, com a condição de não haver mais de um intermediário”. Nesses circuitos curtos há uma proximidade geográfica e relacional entre os produtores e consumidores. O CCA consolida as relações entre a produção, comercialização e consumo alimentar, trazendo um conjunto de benefícios de caráter social, cultural e econômico.
Quanto a satisfação em relação a feira como canal de comercialização, os feirantes mostram-se satisfeitos, tanto com o trabalho quanto com a renda obtida. A renda média dos feirantes pode variar de acordo com a quantidade e variedade de produtos oferecidos; outro fator importante que influi é a sazonalidade. Treze (13) dos entrevistados afirmaram que a comercialização na feira: “dá para pagar as dívidas” e ter “bons lucros”.
Assim como os agricultores, os consumidores cumprem um papel importante na trans-formação e fortalecimento da agricultura familiar. Entre os 60 consumidores entrevistados, 21 foram homens e 39 mulheres, a média de idade é de 47,85 anos, sendo a idade mínima 19 e máxima de 76 anos. Podemos inferir que os consumidores da feira, são pessoas, que provavelmente são aposentadas ou estão perto de sua aposentadoria, isso fica mais claro ao corroborar que 53,33% tem idade superior aos 48 anos e menor ou igual a 76 anos. No en-tanto, isso não significa que aquelas pessoas não desenvolvam atividades econômicas, entre as atividades realizadas podemos citar seus próprios negócios, prestação de serviços, aposentadoria ou desempenham atividades remuneradas no setor privado ou público.
Quando perguntados sobre a escolaridade, oito (8) entre os entrevistados cursaram ensino fundamental, vinte um (21) possuem ensino médio e/ou técnico e vinte três (23) cur-saram ensino superior incompleto ou completo e oito (8) possuem pós-graduação, podendo ser especialização, mestrado ou doutorado. Identifica-se que uma parcela significativa dos entrevistados possui educação superior ou está em processo de formação, o que indica que os frequentadores da feira de São Lourenço do Sul, majoritariamente, apresentam nível de escolaridade elevado. Tal fato pode justificar o crescimento da procura por alimentos fres-cos e preferencialmente isentos de agrotóxicos, visando à melhoria da qualidade de vida e a segurança alimentar. Entre os principais motivos de comprar na feira, os entrevistados responderam que buscam produtos: frescos, diversificados, saudáveis, sem agrotóxicos e direto do produtor.
Os resultados obtidos na feira, demonstraram que os consumidores com ensino su-perior e pós-graduação têm gasto mais elevado que os consumidores com escolaridade máxima de ensino médio (completo, incompleto e técnico) (p=0,048), entretanto têm gastos
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
150 151
similares ao dos consumidores cuja escolaridade máxima é fundamental (p=0,408). Essa similaridade pode estar relacionada ao gasto elevado (R$90,00) de um único consumidor, cuja escolaridade é ensino fundamental completo. Esse consumidor teve um gasto distinto, quando relacionado aos demais de sua categoria, cuja média é em torno de R$20,00.
Dos entrevistados, 22% trabalham em entidades públicas. Dos demais, 23% trabalham em empresas privadas, 30% trabalham como autônomos e outros 25% são aposentados, es-tudantes e alguns entrevistados que não especificaram o vínculo empregatício. Ao relacionar o gasto na feira com seu vínculo com o trabalho (público, privado, autônomo e outros), não se encontra relação (P=0,778). O valor gasto pelos consumidores foi influenciado positivamente pela renda (P<0.0001) e pelo número de pessoas na família (P=0,02) e negativamente pela frequência de compras na feira (P=0,048), entretanto, gênero (P=0,203) e idade (P=0,321) não estiveram relacionadas aos gastos dos consumidores.
Os principais produtos adquiridos pelos consumidores são verduras, frutas, doces/chimia (semelhante a geleia de fruta, mais consistente) e ovos, comparando com os produtos mais ofertados (batata, cebola, feijão, batata doce, bolachas e abóbora) pelos agricultores, fica evidente que existe uma maior demanda por produtos que são pouco comercializados na feira. A oferta desses produtos pode estar relacionada a, falta de estrutura (estufas, sistemas de irrigação) ou devido a sazonalidade. Por isso, conhecer os principais produtos comprados pelos consumidores é de suma importância para a tomada de decisões quanto ao aumento, ou diversificação da produção para uma maior oferta de produtos na feira. Mediante o estudo de satisfação dos consumidores temos subsídios para planejar e criar estratégias sobre di-vulgação, realizar campanhas sobre a importância do consumo de alimentos locais e isentos de agrotóxicos ou ainda atividades educativas em relação à segurança alimentar, tudo isso com intuito de manter e atrair novos consumidores que procuram uma alimentação saudável.
Para chegar a feira 50% dos consumidores usa seu próprio carro, 42% a chega a pé e os 8% utilizam outros meios para chegar à feira. Os consumidores consideram que a feira é um local centralizado, de fácil acesso, que oferece produtos orgânicos, é organizada e limpa, com atendimento bom e confiável, na qual encontram diversidade de produtos e, so-bretudo, à valorizam porque a feira representa uma tradição do município. A feira também é considerada um espaço de encontro e sociabilização entre amigos e conhecidos, o que poderia explicar que 42% dos consumidores frequentam a feira a pé. Alguns entrevistados deram sugestões para melhorar a qualidade da feira, como: oferta de maior diversidade de produtos, preferencialmente frutas; identificação dos produtores orgânicos e criação de bancas de sucos naturais. Os entrevistados demonstram satisfação com a feira e desejam a sua continuidade.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
152
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os feirantes mostram-se satisfeitos com o trabalho e a renda obtida na feira. A ren-da média dos feirantes pode variar de acordo com a quantidade e variedade de produtos oferecidos. A feira da agricultura familiar de São Lourenço do Sul-RS é um lugar propício à integração familiar, social, política e cultural. A ausência de atravessador, a interação entre feirante e consumidor são pontos positivos da feira da agricultura familiar de São Lourenço do Sul. Os consumidores da feira procuram alimentos saudáveis, frescos e livres de agro-tóxicos. Consumidores com ensino superior e pós-graduação apresentam maior gasto na feira, o qual não foi influenciado pelo vínculo de trabalho e sim pela renda. Destaca-se nesta pesquisa a unanimidade da satisfação dos consumidores com a feira.
REFERÊNCIAS
1. ALMEIDA, Eric Weller de. et al. Modelos atuais de produção e perspectivas agroecológicas em São Lourenço do Sul/RS/Brasil. VI Congresso Latino-americano de Agroecologia. Brasília/DF - Brasil. 2017. Cadernos de Agroecologia – ISSN 2236-7934 – Anais do VI CLAA, X CBA e V SEMDF – Vol. 13, N° 1, Jul. 2018a.
2. ALMEIDA, Eric Weller de. et al. Juventude e educação na zona rural de São Lourenço do Sul/RS/Brasil. VI Congresso Latino-americano de Agroecologia. Brasília/DF - Brasil. 2017.
3. Cadernos de Agroecologia – ISSN 2236-7934 – Anais do VI CLAA, X CBA e V SEMDF – Vol. 13, N° 1, Jul. 2018b.
4. CAPORAL, Francisco Roberto. Agroecologia: uma nova ciência para apoiar a transição a agriculturas mais sustentáveis. Brasília: 2009a. 30 p.
5. CAPORAL, Francisco Roberto. EXTENSÃO RURAL E AGROECOLOGIA: temas sobre um novo desenvolvimento rural, necessário e possível. . Brasília: 2009b. 408 p.
6. CHUQUILLANQUE, Darwin Aranda. et al. Caracterização da produção agrícola e dos feirantes da agricultura familiar no Município de São Lourenço do Sul-RS. Memorias del V Congreso Latino-americano de Agroecología. Disponível em: http://memoriasocla.agro.unlp.edu.ar/pdf/A3-155.pdf. Acesso em: 15 de jun. 2016.
7. DEL RIO, Vicente; OLIVEIRA, Livia de. (Orgs.). Percepção ambiental: a experiência brasi-leira. São Paulo: Studio Nobel/ Editora UFSCAR, 1996.
8. GRISA, C.; CONTERATO, M. A. A produção para o autoconsumo no brasil: entre a im-portância econômica e o reconhecimento social. 49° Congresso da SOBER. Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural. Belo Horizonte, 24 a 27 de julho de 2011.
9. IBD CERTIFICAÇÕES. Diretrizes para o Padrão de Qualidade IBD. 24a Edição. Novembro 2016 . Disponível em: http://ibd.com.br/Media/arquivo_digital/bd26ae54-c9f9-4284-83e4-7e-1ba7658b1a.pdf. Acesso em: 10 Jul. 2018.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
152 153
10. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE. Censo Demográfico. 2010. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/>. Acesso em: 05 de dez. 2014.
11. KINJO, Tomoko; IKEDA, Ana. Comportamento do Consumidor em Feiras Livres. Faculda-de de Economia Administração e Contabilidade. USP. São Paulo, 2004.Disponível em: http://www.sober.org.br/palestra/2/420.pdf. Acesso em: 3 de jun. 2017.
12. LIMA, Ana Carolina Tenório; LIMA, Jaqueline; VANZO, Flávia Moura. Comportamento do con-sumidor nas feiras livres da cidade de Marília, 2007. 50 f. Trabalho Conclusão de Graduação em Marketing. Fundação de Ensino Eurípides Soares da Rocha, Mantenedora do Centro Universitário Eurípides de Marília - UNIVEM, Marília.
13. LIMA, Maria Imaculada Fonseca. Paisagem, terroire sistemas agrários : um estudo em São Lourenço do Sul. 2006.151 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Rural) - Uni-versidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Ciências Econômicas, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, Porto Alegre.
14. MEDEIROS, Monique; MARQUES, Flávia Charão. Plantando ideias inovadoras, colhendo transformações na agricultura familiar: a produção de base ecológica e a construção social de mercados no sul do Rio Grande do Sul. In: CONTERATO, Marcelo Antonio... [et al.] (Org.). Mercados e agricultura familiar: interfaces, conexões e conflitos. Ed. Via Sapiens, Porto Alegre, 2013. p. 114-132.
15. MAURICIO PIERRI, Maria Clara Queiroz. Um recorte em território artificializado: agricultura familiar na feira dos Goianos-Gama/DF. 2010. 206 f. Dissertação. (Mestrado em Agronegó-cios) - Universidade de Brasília. Brasília.
16. PICOLOTTO, Everton Lazzaretti; BRANDENBURG, Alfio. Sindicalismo da Agricultura Familiar, Modelos de Desenvolvimento e o Tema Ambiental. In: NIEDERLE, André; ALMEIDA, Luciano; VEZZANI, Fabiane Machado. (Org). Agroecologia : práticas, mercados e políticas para uma nova agricultura. Ed. Kairós. Curitiba : 2013. 393 p.
17. PORTO, Carmem Rejane Pacheco. Reinvenção espacial: agroecologia e turismo –sustenta-bilidade ou insustentabilidade?, 2011. 303 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Geociências, Programa de Pós - Graduação em Geografia, Porto Alegre.
18. PLOEG, J. D. van der. Camponeses e impérios alimentares. Lutas por autonomia e sustenta-bilidade na era da globalização. Porto Alegre: editora UFRGS. 1a edição:2008.
19. REZENDE, Marcelo Lacerda. etal.Caracterização dos Consumidores de Frutas em Feiras Li-vres do Sul de Minas Gerais. Revista de Política Agrícola. Ano XX-N° 3-Jul./Ago./ Set.2011.
20. SCHNEIDER, S. Teoria social, agricultura familiar e pluriatividade. Revista brasileira de ciências sociais - vol. 18 nº. 51. 2003.
21. STEINER, P. A Sociologia Econômica. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2006.
22. SINGER, P. Introdução à Economia Solidária. São Paulo: Fundação PerceuAbramo, 2002.
23. SURITA, Rita. Um novo olhar sobre o território Zona Sul / coordenação, – [Pelotas]: Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor, [2013]. 42 p. ; Il. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.abong.org.br/bitstream/handle/11465/334/CAPA_um_novo_olhar_sobre_territorios_zona_sul.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 15 de jun. 2016.
10C a r b o n o o r g â n i c o d o s o l o e componentes de produção do milho sob manejos do solo e sucessão de culturas na Amazônia Ocidental
Caio Bastos Machado
Elaine Cosma Fiorelli
Weverton Peroni Santos
Marcos Gomes De Siqueira
Weliton Peroni Santos
Aline Silva Vieira
Sirlene Pereira de Souza
Alaerto Luiz Marcolan
10.37885/210303682
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
155
Palavras-chave: Qualidade do Solo, Uso do Solo, Produtividade.
RESUMO
O solo representa um importante componente do ecossistema, influenciando a qualidade do ar e da água. Atualmente, é crescente o interesse pelo potencial que o mesmo apre-senta em estocar o carbono e, consequentemente, contribuir para mitigar o efeito estufa, e ainda promover aumento na qualidade da fertilidade do solo. Objetivo: Objetivou-se com a presente pesquisa avaliar o Carbono Orgânico do solo (COS), sob duas profundidades de amostragem, e sistemas de preparo do solo com combinações de culturas, e avaliar os componentes do rendimento de grãos de milho. Métodos: O estudo foi conduzido no campus da Universidade Federal de Rondônia/UNIR em Rolim de Moura/RO. Para avaliação do COS e rendimento do milho, considerou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado em esquema fatorial 4x2x2 e 4x2 respectivamente, com três repetições. O fator 1 foi representado pelos sistemas de manejo: plantio direto contínuo (PDC), preparo tradicional (PRT), plantio direto alternativo (PDA) e preparo alternativo (PRA). No fator 2 estavam as sucessões de culturas: milho/feijão e milho/milho. O fator 3 representou as profundidades de solo amostrado 0-10 e 10-20 cm. Resultados: Houve uma tendência de maiores valores de COS na camada superficial do solo, nos manejos conservacionistas na sucessão milho/milho. Conclusão: O manejo conservacionista PDC promove maior acúmulo de COS. A sucessão S/F e M/M proporcionam maiores teores de carbono orgânico do solo. Maior produtividade é obtida no sistema PDC.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
156
INTRODUÇÃO
O processo de conversão de florestas nativas em áreas agrícolas que não realizam técnicas de manejo e conservação dos solos, proporcionam com o tempo uma perturbação no solo, alterando seu estado de equilíbrio. Tal mudanças são ainda mais intensificadas quando esses processos ocorrem em regiões tropicais que possuem como características climáticas altas temperaturas, alta umidade relativa do ar e altos índices pluviométricos. Tais fatores contribuem de forma efetiva para promover degradação no solo contribuindo com a perda de qualidade do solo (CARTER, 2001).
Um solo de qualidade deve possuir capacidade de balancear o requerimento do solo e das culturas, visando não só maximizar a produção, mas sim em otimizar o uso do recurso e sustentar produtividade por um longo período (LAL e PIERCE 1991).
Assim, há a necessidade da utilização de sistemas com bases conservacionistas, como é o caso do sistema plantio direto (SPD), da rotação de culturas e, mais recentemente, da integração lavoura-pecuária (ILP). O sucesso desses sistemas produtivos nessas regiões deve-se ao fato de que a palhada, acumulada pelas plantas de cobertura ou das pastagens e dos restos culturais de lavouras comerciais, proporciona um ambiente favorável à recupe-ração ou manutenção dos atributos físicos e químicos do solo (MENDONÇA et al., 2013).
Entre as culturas a serem empregadas em um sistema de sucessão, o milho gera grande importância na formação da renda agrícola, sendo o Brasil o terceiro maior produtor com 8,9 % de participação, ficando atrás da China e Estados Unidos (EMBRAPA, 2017). Além do fator econômico a cultura ainda desenvolve papel fundamental nos sistemas de lavoura-pecuária, incrementando alto índices de palhada no sistema. De acordo com Salton et al. (1995) essa palhada é importante pois proporciona grandes benefícios, principalmente a melhoria da fertilidade do solo, a otimização do uso de maquinário e a obtenção de duas safras por ano: carne e grãos.
O preparo do solo é compreendido como o conjunto de práticas que preservam essas características oferecendo condições ideais para a semeadura, germinação e desenvolvi-mento das plantas e ocasiona a descompactação do solo criando um bom ambiente para o crescimento radicular (SOUZA, 1988).
O sucesso de um sistema de cultivo com mínimo revolvimento do solo, está diretamente relacionado, com o não revolvimento do solo, incremento de resíduos vegetais e diferentes sistemas radiculares, oriundos de espécies diferentes de vegetais em rotação de cultura. Portanto, diversificar as espécies de uma propriedade seguindo um programa sequencial devidamente planejado e ordenado é fundamental para o sucesso da implantação desse manejo (SILVA, 2007).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
156 157
Como forma de mensurar as alterações dos processos referentes a perdas e ganhos de qualidade do solo, são existentes os indicadores de qualidade do solo, que devem ser sensíveis as variações de manejo, clima, condições de campo e de fácil mensuração (Doran e Parkin, 1994).
OBJETIVO
Levando-se em consideração a importância do COS (Carbono Orgânico do Solo) e a cultura do milho para os sistemas agrícolas, objetivou-se com a presente pesquisa avaliar o Carbono Orgânico do solo (COS), sob duas profundidades de amostragem, e sistemas de preparo do solo com combinações de culturas, e avaliar os componentes do rendimento de grãos de milho.
MÉTODOS
Características da área experimental
O experimento teve início em dezembro de 2007, onde foi implantado no campo ex-perimental da Fundação Universidade Federal de Rondônia -UNIR Campus de Rolim de Moura. A área experimental está situada no município de Rolim de Moura/RO nas seguintes coordenadas (latitude 11º 48’ 13” W e longitude 61º 48’ 12”, altitude de 290 m). O clima pre-dominante da região com a classificação de Köppen adaptada ao Brasil, é do tipo AM, que representa um clima quente-úmido (temperatura máxima entre 30 e 34 ºC, e mínima entre 17 e 23 ºC, e umidade relativa do ar elevada, oscilando entre 80 e 90%, no verão, e 75% durante o outono e inverno, o índice pluviométrico em média anual é de 2250 mm (SILVA, 2000).
O solo predominante na área experimental é o Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico (Tabela 1), conforme os critérios do Sistema Brasileiro de Classificação de Solo-SIBCS (EMBRAPA, 2018).
Tabela 1. Atributos químicos e físicos de um Latossolo Vermelho-Amarelo nas áreas de experimentação agrícola, coletado na profundidade de 0-20 cm, em Rolim de Moura/RO.
pH(H2O)
MOSg kg–1
Pmg kg–1
K Ca Mg Al H+Al V Areia Silte Argilacmolc kg–1 % g kg–1
5,6 26 0,9 0,18 1,2 0,4 0,1 3,9 31 558 132 311
MOS= matéria orgânica do solo; V= saturação por bases.
Carbono orgânico do solo – COS
Para avaliação do COS considerou-se o delineamento experimental inteiramente casua-lizado em esquema fatorial de parcelas subdivididas 4x4x2 com três repetições, totalizando
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
158
96 unidades experimentais. O fator 1 foi representado pelos sistemas de manejo (Tabela 2). Nas parcelas estavam as sucessões de culturas: milho/feijão, milho/milho, soja/milho, soja/feijão (Tabela 3). As subparcelas representaram as profundidades de solo amostrado 0-10 e 10-20 cm.
Tabela 2. Descrição dos sistemas de manejo do solo utilizados na área (2.851,2 m2) de experimentação agrícola.
Manejo do solo Símbolo Descrição
Preparo tradicional PRT Três gradagens utilizando uma grade média, sendo as operações realizadas antes da safra.
Preparo Alternativo PRA Escarificação do solo seguida pela passagem de grade niveladora, realizadas antes da safra.
Sistema plantio direto contínuo PDC Não houve preparo do solo, sendo o único revolvimento na linha de semeadura.
Sistema plantio direto alternativo PDA Sistema plantio direto com uma subsolagem a cada quatro anos, sendo essa opera-
ção realizada na implantação (2007), outra operação em 2011 e a última em 2015.
Tabela 3. Histórico das sucessões de culturas nos diferentes manejos do solo
Sucessões de culturas Símbolo Histórico
Milho x milho M/MDe 2007 até 2014 foi semeado milho na safra e milho na safrinha. A partir de 2015 foi semeado milho na safra e milho na safrinha em consorcio com a braquiária ruziziensis, a qual era semeada quando o milho apresentava 1 m de altura.
Milho x feijão-Caupi M/C De 2007 até 2014 foi semeado milho na safra e feijão na safrinha. A partir de 2015 foi semeado milho na safra e caupi na safrinha.
Soja x milho S/MDe 2007 até 2014 foi semeada soja na safra e milho na safrinha. A partir de 2015 foi semeada soja na safra e milho na safrinha em consorcio com a braquiária ruziziensis, a qual era semeada quando o milho apresentava 1 m de altura.
Soja x feijão-Caupi S/F De 2007 até 2014 foi semeada soja na safra e feijão na safrinha. A partir de 2015 foi semeada soja na safra e caupi na safrinha.
Determinação do COS
Em outubro de 2016 foi realizado a amostragem do solo nas diferentes áreas (PRT, PRA PDC e PDA) com o auxílio de um trado holandês, coletando-se 3 subamostras para compor uma amostra de solo, totalizando 12 amostras compostas em cada sistema nas profundidades de 0-10 e 10-20 cm, tendo um total de 48 amostras compostas.
Para a determinação do COS, utilizou-se o método da oxidação dos compostos orgâ-nicos do solo, por dicromato em meio ácido, conforme descrito por Rodrigues et al. (2016).
O procedimento inicia-se pela pesagem 0,5 gramas de solo previamente macerado, utilizando como vidraria um Erlenmeyer, logo após foi adicionado 10 ml da solução de dicro-mato de potássio a 0, 166 mol L–1, mais 10 ml de ácido sulfúrico concentrado. Após esfriar a amostra recebeu 3ml de ácido ortofosfórico e 47 ml de água destilada.
Na próxima etapa foi feito a titulação, inserindo na amostra 10 gotas do indicador difeni-lamina a 1%, a titulação é realizada sulfato de ferro amoniacal a 0,5mol L1, até atingir o ponto de virada que é identificada no momento que cor se torna esverdeada. Com intuito de identi-ficar alguma impureza na solução, foram elaboradas três provas em branco e três provas fa-tores, desta forma foi possível estabelecer um valor máximo a ser alcançado pelas amostras.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
158 159
As provas em branco foram feitas utilizando todos os procedimentos descritos acima exceto a adição do solo, já os fatores além do solo não recebem a adição do ácido sulfúrico concentrado. Após de realizado os procedimentos da titulação, os valores adquiridos foram adicionados na seguinte equação:
Equação 1: C (g C kg–1 solo) = (Vb - Va) . 3,9. (10/ Vc)/PsOnde:C – carbono extraído do solo;Vb (mL) – média do volume do sulfato ferroso amoniacal gasto na titulação das
amostras controle;Va (mL) – média do volume de sulfato ferroso amoniacal gasto na titulação da amostra;Vc (mL) – media do volume de sulfato ferroso amoniacal gasto na titulação dos fatores ;3,9 -- fator de correção;Ps (g) -- massa de solo seco.
Componentes de produção do milho
Os componentes de produção do milho foram avaliados durante a safra do ano de 2016/2017. Os tratamentos foram dispostos em parcelas subdivididas 4x4 com três repeti-ções. As parcelas foram caracterizadas pelos preparos do solo (tabela2) e nas subparcelas as sucessões de culturas (tabela 3). Cada parcela media 5,4 x 11, sendo estipulado uma área útil de 1m2, onde foi avaliado em torno de 10 plantas.
Para obtenção dos parâmetros de rendimento da cultura do milho foram avaliados altura de planta, altura de inserção da primeira espiga, número de espigas, número de fileiras de grãos, número de grãos por fileira, peso de 100 grãos e rendimento.
Para determinar a altura de planta utilizou-se uma fita métrica mensurando-se o com-primento da base até a folha bandeira. A altura de inserção da primeira espiga foi medida o comprimento da base até a inserção da espiga. Para aferição do peso de 100 grãos, foi deter-minado o teor de umidade com utilização de uma estufa, onde posteriormente os grãos foram pesados utilizando uma balança de precisão. Para medir o diâmetro da espiga utilizou-se um paquímetro. As variáveis referentes as espigas foram feitas com a utilização de 5 espigas por parcela, escolhidas de forma aleatória. O rendimento de grãos foi estimado em kg. ha–1.
Analise estatística
Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo teste F, sendo os tratamentos comparados pelo teste Tukey a 5% de significância, com auxílio do programa estatístico computacional Assistat (SILVA e AZEVEDO, 2016).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
160
RESULTADOS
Carbono Orgânico do Solo
Analisando o efeito entre os manejos do solo com as sucessões de culturas (Tabela 4), tem-se uma interação significativa (p<0,05). No manejo PDC a sucessão milho/milho (M/M) obteve maior acumulo de COS. Da mesma forma quando analisado o efeito da sucessão M/M com os manejos o maior acúmulo de COS foi encontrado no sistema de manejo PDC.
Tabela 4. Teores de carbono orgânico do solo em Latossolo Vermelho-Amarelo sob diferentes sistemas de manejo do solo e sucessão de culturas, na profundidade de 0-20 cm. Rolim de Moura/RO.
SUCESSÕES
MANEJOS/F S/M M/F M/M Média
COS (g kg–1solo)
PDC 15,98 abB 14,91 aB 15,32 abB 18,49 aA 16,17 a
PRT 15, 53 abA 13, 69 aA 13, 84 bA 15, 22 bA 14, 57 b
PDA 14, 69 bA 14, 81 aA 16, 42 aA 15, 64 bA 15, 39 ab
PRA 17, 14 aA 14, 72 aB 15, 22 abAB 17, 12 abA 16, 05 a
Média 15,83 AB 14,53 C 15,20 BC 16,62 A
Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna, e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. PDC: plantio direto contínuo; PRT: Preparo tradicional; PDA: plantio direto alternativo; PRA: preparo alternativo. S: soja; F: feijão-caupi; M: milho. CV% = 9.91.
Nos manejos PRT e PDA não houve diferença significativa entre as quatro sucessões de culturas. No sistema de manejo PRA os maiores valores de COS foram obtidos nas su-cessões S/F e M/M que não se diferenciaram e foram superiores a S/M. A sucessão M/F não se diferiu das demais, nesse manejo (Tabela 4).
Avaliando os teores de COS dentro de cada sucessão, estas influenciaram de forma significativa no acúmulo de COS nos manejos. A sucessão de duas leguminosas (S/F) ob-teve os menores teores de COS no sistema PDA quando comparado ao PRA, sendo que nos demais manejos não se diferenciaram (Tabela 4).
Na sucessão M/F o valor de COS foi maior no sistema de manejo PDA seguido do PDC e PRA, sendo o PRT o manejo que teve o menor acúmulo. Mostrando que as leguminosas, associadas a forrageiras, disponibilizam maiores acúmulos em manejos onde o revolvimento do solo é menor (Tabela 4).
Analisando as médias gerais do acúmulo de COS considerando as sucessões de culturas de forma isolada, houve um maior estoque na sucessão M/M quando comparado a S/M e M/F (Tabela 4).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
160 161
Comparando o acúmulo de carbono dentro do mesmo manejo e entre as profundidades (Tabela 5), para o PDC, PDA e PRA os maiores acúmulos de COS estão na camada de 0-10 cm. Na média das profundidades (0-10 e 10-20 cm) isoladamente, ocorreu variação significativa no teor de COS, onde na camada superficial de 0-10 cm, o acúmulo de COS foi superior aos encontrados na camada de 10-20 cm.
Tabela 5. Teores de carbono orgânico do solo (COS g kg1solo) em Latossolo Vermelho-Amarelo sob diferentes sistemas de manejo do solo e profundidades (0-10 e 10-20 cm). Rolim de Moura/RO.
MANEJOPROFUNDIDADES
0-10 (cm) 10-20 (cm)
PDC 17, 90 aA 14, 45 aB
PRT 14, 81 cA 14, 33 aA
PDA 16,23 bcA 14,54 aB
PRA 17,15 bcA 14,95 aB
MÉDIA 16,52 A 14,57 B
As médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna, e maiúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey 5% de probabilidade. PRA: preparo alternativo; PDC: Plantio direto contínuo; PRT: Preparo tradicional; PDA: plantio direto alternativo. CV% = 9.91.
Considerando os sistemas de manejo que proporcionam maior revolvimento do solo, observou-se os menores acúmulos de COS na profundidade de 0-10, sendo que na camada de 10-20 cm não houve diferenças significativas no acúmulo de COS (Tabela 5).
Componentes de produção do milho
Analisando o efeito dos manejos do solo sob as variáveis de produção do milho encon-tram-se resultados significativos quando da avaliação do número de grãos por fileira, onde os maiores valores são encontrados no cultivo implantado nos sistemas tidos como conser-vacionistas, PDC e PDA (Tabela 6). Os sistemas de manejo do solo não diferiram significati-vamente entre si nas variáveis de produção número de espigas e número de fileiras de grão.
Tabela 6. Componentes de produção e produtividade do milho LG 6038 PRO RR, influenciados por quatros sistemas de manejo do solo em Rolim de Moura/RO.
Componentes de produção do milho
MANEJOn° espigas n° fileiras n° gr/f
(espigas/m2) (fileiras de espiga) (grãos/fileiras)
PDC 22,33 a 15,80 a 35,70 a
PRT 19,83 a 15,56 a 32,56 b
PDA 21,00 a 15,73 a 33,40 ab
PRA 20,00 b 15,73 a 32,70 b
As médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. PDC: plantio direto contínuo; PRT: Preparo tradicional. CV% = 4.40.
Já analisando o efeito das sucessões nos componentes de rendimentos (Tabela 7), foram encontras respostas significativas para o número de espigas, que foram maiores na sucessão de milho e feijão. Para o número de fileiras e número de grão por fileiras, não ocorrerão diferenças significativas entre as sucessões.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
162
Tabela 7. Componentes de produção do milho LG 6038 PRO RR, influenciados por dois sistemas de secessão de cultura em Rolim de Moura/RO.
Componentes de produção do milho
SUCESSÕESn° espigas n° fileiras n° gr/f
(espigas/m2) (fileiras de grãos/espiga–1) (grãos/fileiras –1)
M/F 21,58 a 15,61 a 33,28 a
M/M 20,00 b 15,80 a 33,28 a
As seguidas de mesma letra, minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade F: feijão-caupi; M: milho. CV% = 4.40.
Entre os sistemas de manejo do solo o PDC obteve-se maior rendimento de grãos por parcela e maior produtividade por hectare (Tabela 8).
Tabela 8. Componentes de produção e produtividade do milho LG 6038 PRO RR, influenciados por dois sistemas de sucessão de cultura em Rolim de Moura/RO.
Componentes de produção do milho
MANEJOPeso grãos (m) Produtividade de grãos
(m) (kg ha–1)
PDC 3314,5 a 4833,3 a
PRT 2636,6 b 3845,7 b
PDA 2781,6 b 3877,8 b
PRA 2570,0 b 3820,4 b
As médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. PDC: plantio direto contínuo; PRT: Preparo tradicional. CV% = 8.95.
Analisando a produtividade de grão de milho em função da sucessão de M/M e M/F (Tabela 9), constatou-se que a cultura antecessora não proporcionou diferença significativa nos componentes de produtividade da cultura do milho.
Tabela 9. Componentes de produção e produtividade do milho LG 6038 PRO RR, sob dois sistemas de secessão de cultura em Rolim de Moura/RO.
Componentes de produção do milho
SUCESSÕESPeso grãos Produtividade de grãos
(m2) (kg ha–1)
M/F 2743,1 a 3997,9 a
M/M 2908,3 a 4190,7 a
As médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. F: feijão-caupi; M: milho. CV% = 8.95.
A altura das plantas e da inserção da primeira espiga foram afetadas pelos sistemas de manejo do solo, onde os sistemas de maior revolvimento do solo PRT e PRA proporcio-naram os maiores valores para essas variáveis. Para o componente comprimento de espiga o sistema de manejo PDC, proporcionou espigas de maiores comprimentos (Tabela 10).
Tabela 10. Componentes de produção e produtividade do milho LG 6038 PRO RR, influenciados por dois sistemas de secessão de cultura em Rolim de Moura/RO.
Componentes de produção do milho
MANEJOSAltura de plantas Altura de inserção Comprimento Diâmetro da espiga
(m) 1ª espiga (m) espiga (cm) (mm)
PDC 2,45 bc 0,92 b 17,91 a 44,66 a
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
162 163
Componentes de produção do milho
MANEJOSAltura de plantas Altura de inserção Comprimento Diâmetro da espiga
(m) 1ª espiga (m) espiga (cm) (mm)
PRT 2,56 ab 1,15 a 15,91 bc 44,13 a
PDA 2,33 c 0,93 b 16,60 b 43,56 a
PRA 2,65 a 1,20 a 15,56 c 43,10 a
As médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. PDC: plantio direto contínuo; PRT: Preparo tradicional. CV% = 4.66.
DISCUSSÃO
Carbono Orgânico do Solo
A sucessão M/M por se tratar de plantas de metabolismo C4 onde a condição climática da região potencializa sua capacidade de produzir grande quantidade de biomassa, há um grande aporte de resíduos vegetais e esse fator associado ao elevado índice de conservação do sistema PDC permite maior estoque de COS.
Para Ceretta et al. (2002), para se obter sucesso no sistema de plantio direto, é ne-cessário implantar culturas capazes de gerar quantidades de matéria seca suficientes para manter o solo coberto durante todo o ano. Durante a seca e nas primeiras semanas, a bio-massa produzida influenciou de forma positiva protegendo o solo contra as variações de temperatura e impactos das gotas de chuvas, diminuindo os ricos de processos erosivos.
Os menores teores de COS em relação a sucessão S/F no sistema PDA quando com-parado ao PRA pode ser devido a interação de fatores cruciais para decomposição acele-rada dos resíduos vegetais, que são esses a desagregação promovida pelo implemento, produção de biomassa menor por se tratar de plantas com metabolismo C3 e baixa relação C/N das leguminosas sendo ainda a decomposição dos resíduos potencializada pelo clima da região que favorece a atividade microbiana.
A sucessão M/M o maior COS ficou no manejo PDC quando comparado ao PRT e ao PDA. Entretanto, todos os fatores citados acima associados geraram baixo acumulo de COS no sistema de manejo PRT. Concordando com essas afirmações Campos et al. (2013), mostram que o processo de estoque de COS ocorre de forma dinâmica sendo influenciado pela composição química (relação C/N) e pela quantidade de resíduos vegetais presentes no solo, e ainda influenciado por aspectos climáticos e, do preparo do solo adotado. Trabalhos realizados por Hill (1993) encontraram diferença significativa entre quantidades de resíduos vegetais presentes na superfície do solo, na cultura do milho, constatando que o sistema de plantio direto apresentou 90,4% de cobertura morta, enquanto que o sistema de cultivo convencional apresentou apenas 3,1 %.
Os maiores índices de carbono orgânico do solo encontrado no PDC também foram verificados
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
164
por Maia et al. (2013) que avaliaram o carbono orgânico do solo em diferentes sistemas de preparo nas áreas de Cerrado de RO e do MT, onde houve maior acúmulo de carbono (C) no sistema de plantio direto em uma camada de 0-30 cm. Tais efeitos ocorrem pelos sistemas conservacionistas serem mais eficiente que outros métodos de preparo, pois man-tém o COS em níveis adequados, além de proporcionar maior qualidade, sustentabilidade e capacidade de produção dos solos agrícolas (BEUTLER et al., 2001).
Para Cambardella e Elliott (1993) os sistemas de manejos convencionais que ocasio-nam maior perturbação do solo, tendem a diminuir a concentração de COS. Esse fato ocorre porque o uso de implementos de preparo de solo promove uma destruição de agregados, expondo a matéria orgânica protegida fisicamente do ataque microbiano, e como conse-quência ocasiona a perda de carbono. Em contrapartida o sistema de semeadura direta, por não revolver o solo, promove maior proteção da matéria orgânica no interior dos agre-gados. O menor fracionamento dos resíduos e a menor área de contato dos resíduos com o solo reduzem a taxa de mineralização da matéria orgânica no solo, resultando em maior estoque de carbono (VARGAS e SHOLLES, 2000).
Comparando o efeito da interação entre as profundidades com os sistemas de prepa-ro do solo, evidenciou-se o maior teor de COS nas camadas superficiais do sistema PDC. Corroborando com esse resultado Campos et al. (2013) relatam maior eficiência no acúmulo COS em profundidade sistemas de manejo conservacionistas.
A perda de COS nos sistemas convencionais com revolvimento (PRT e PRA) (Tabela 2) está relacionada com a incorporação dos resíduos vegetais pelos implementos de preparo de solo, onde proporcionam maior aeração, destruição dos agregados, expondo a matéria orgânica, onde essa associada as condições ambientais de regiões tropicais, favorecem o ataque microbiano, causando perdas de COS (COSTA et al., 2008).
Componentes de produção do milho
Tais variáveis são influenciadas principalmente pelo genótipo e população de planta, sendo esses iguais em todos os tratamentos. Esses resultados corroboram com Santos et al. (2003), que não encontrou diferenças significativas quando avaliado dos componentes de rendimento de grãos de milho (número de espigas/planta–1 e número de grãos/planta–1) não apresentaram diferenças entre médias para sistemas de manejo do solo.
O sistema de plantio direto proporcionou uma produtividade de 20% a mais de milho comparado aos demais sistemas de manejo do solo (Tabela 8), que possibilita ao agricultor além dos benefícios do aumento da qualidade do solo, também um aumento dos retornos econômicos da cultura. Essa superioridade do SPD mostra a eficiência do sistema conser-vacionista em melhorar as condições de fertilidade do solo, elevando principalmente o teor
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
164 165
de material orgânico no solo, que contribui de forma significativa para aumentar os atributos químico do solo entre esses a capacidade de troca catiônica, que possibilita maior adsor-ção de nutrientes e água, melhora ainda os atributos físicos, principalmente em relação a porosidade do solo, e ainda os atributos biológicos, que possibilita maior atividade da meso e microfauna que são fundamentais para buscar o aumento da fertilidade do solo.
Avaliando a produtividade de milho sobre diferentes sistemas de manejo do solo e plantas de cobertura Carvalho (2000), constatou que nos primeiros anos do experimento, houve diferenças significativas entre os sistemas de preparo do solo, sendo que no sistema plantio convencional foi superior ao plantio direto apresentando maiores rendimentos de milho, mas como passar dos anos ocorreu uma evolução dos atributos do solo no sistema plantio direto, onde o mesmo obteve rendimentos superiores ao plantio convencional.
Para os demais sistemas de manejo a produtividade do milho foi menor e não apre-sentaram diferenças significativas (Tabela 8). Santos et al., (2003) também encontraram maior rendimento de grãos de milho cultivado sob plantio direto comparado ao cultivado em preparo convencional. Já Possamai et al., (2001), cultivando milho em diferentes métodos de preparo do solo obtiveram produtividade da ordem de 3300 kg ha–1 para o sistema de plantio direto, o qual foi superior aos tratamentos com revolvimento do solo. Lal (2006) mostra que quando proporcionado no solo o incremento de 1 tonelada de C é possível alcançar aumento de 30 a 300 kg ha–1com o milho.
Piletti, et al., (2013), avaliando a produtividade e principais componentes do rendimento de milho safrinha em três diferentes sistemas de sucessão de culturas e entre esses M/M e M/S não encontraram diferenças significativas paras essas variáveis.
O crescimento aéreo das plantas (Tabela 10) está relacionado com o desenvolvimento radicular, desse modo os sistemas convencionais por possibilitarem uma maior descom-pactação do solo nas fases iniciais do desenvolvimento da planta, proporcionam um melhor desenvolvimento para o milho que possui característica de crescimento rápido, concedendo assim maiores vantagens quando comparado com plantio direto, que geralmente apresenta solos mais densos. É o que afirma Gozubuyuk et al., (2014), há maior compactação do solo na camada superficial para o sistema plantio direto, como consequência do movimento de máquinas na área, sem o posterior revolvimento, e aumento do grau de empacotamento das partículas, reduzindo o volume de vazios e elevando a densidade aparente.
Resultados encontrados por Carvalho et al., (2004), mostram que o sistema de prepa-ro convencional favoreceu o desenvolvimento vegetativo da planta, já que em 1997/1998 proporcionou maior altura de plantas e, em 1998/1999, proporcionou alturas de inserção da espiga superiores à do sistema de plantio direto. Essas variáveis apresentam relação com a produtividade, é o que afirma Possamai et al., (2001), as perdas e a pureza dos grãos na
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
166
colheita mecanizada são influenciadas principalmente pela altura de inserção da espiga, que facilitam a colheita e diminuem as perdas, aumentando a produtividade da cultura.
Resultados reportados por Santos et al., (2002), apontam que a estatura da planta aumenta de acordo com a altura de inserção da espiga. Silva (2013), observou-se que os componentes fitotécnicos altura de planta e altura da inserção da primeira espiga apresen-taram melhores medias para o tratamento que utilizou grade pesada, o autor ainda ressalta que a quebra da estrutura do solo em maior profundidade proporcionando um desenvolvi-mento radícula mais profundo e possibilitando uma melhor nutrição mineral para a cultura do milho. Apesar dos melhores resultados nesse sistema é importante ressaltar que seu uso inadequado pode trazer transtornos na estrutura do solo. Segundo Campos et al., (1995), a degradação da estrutura afeta o desenvolvimento vegetal e predispõe o solo à erosão hídrica acelerada.
O maior comprimento de espiga encontrado no sistema PDC (Tabela 10) é de grande importância, pois influencia diretamente no maior rendimento de grãos, gerando maior pro-dutividade, caso esse confirmado na componente produtividade ha–1 (Tabela 8) que também foi maior no sistema de plantio direto. Ohland et al. (2005), afirmam que o comprimento, o diâmetro de espiga, o número de espigas por área e a densidade dos grãos são caracterís-ticas que aliados ao genótipo determinam o potencial de produtividade.
CONCLUSÃO
A cama superficial do solo (0-10 cm) apresenta maior teor de carbono orgânico do solo.O manejo conservacionista PDC promove maior acúmulo de carbono orgânico do solo
em relação ao sistema com revolvimento do solo PRT.A sucessão S/F e M/M proporcionam maiores teores de carbono orgânico do solo.No sistema PDC obtém-se maior produtividade de milho.
REFERÊNCIAS
1. BEUTLER, A. N.; SILVA, M. L. N.; CURI; N.; FERREIRA, M. M.; PEREIRA FILHO, I.A.; CRUZ, J. C. Agregação de Latossolo Vermelho distrófico típico relacionado com o manejo na região dos cerrados no estado de Minas Gerais. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 25, p. 129-136, 2001.
2. CAMBARDELLA, C. A.; ELLIOTT, E. T. Carbon and nitrogen distribution in aggregates from cultivated and native Grass land soils. Soil Sci. Soc. Am. J. v. 57, p. 1071-1076, 1993.
3. CAMPOS, L. P.; CARVALHO LEITE, L. F.; MACIEL, G. A.; BRASIL, E. L.; IWATA, B. F. Esto-ques e frações de carbono orgânico em Latossolo Amarelo submetido a diferentes sistemas de manejo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 48, n. 3, p. 304-312, 2013.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
166 167
4. CARTER, M. R. Organic matter and sustainability. In: REES, R. M.; BALL, B. C.; CAMPBELL, C. D.; WATSON, C. A. (Ed.). Sustainable management of soil organic matter. New York: CABI, p. 9-22, 2001.
5. CARVALHO, H. W. L. de; CARDOSO, M. J.; LEAL, M. de L. da S.; SANTOS, M. X. dos; TABO-SA, J. N. Adaptabilidade e estabilidade de cultivares de milho no Nordeste brasileiro. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 35, p. 1115-1123, 2000.
6. CARVALHO, M. A. C. de; SORATTO, R. P.; ATHAYDE, M. L. F.; ARF, O.; SÁ, M. E. de. Pro-dutividade do milho em sucessão a adubos verdes no sistema plantio direto e convencional. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 39, p. 47-53, 2004.
7. CERETTA, C. A. et al. Manejo da adubação nitrogenada na sucessão aveia preta/milho, no sistema plantio direto. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 26, p. 163-171, 2002.
8. COSTA, F. S. et al. Estoque de carbono orgânico no solo e emissões de dióxido de carbono influenciadas por sistemas de manejo no sul do Brasil. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 32, p. 323-332, 2008.
9. EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Cultivo do Milho. Disponível em: <http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Milho/CultivodoMilho>. Acesso em: 22 mai. 2017.
10. EMBRAPA SOJA. Tecnologia de produção de soja região central do Brasil 2004: a soja no Brasil. Disponível em:<http://www.cnpso.embrapa.br/producaosoja/SojanoBrasil.htm>. Acesso em: 15 set. 2017.
11. GOZUBUYUK, Z. et al. Tillage effects on certain physical and hydraulic properties of a loamy soil under a crop rotation in a semiarid region with a cool climate. Catena, v. 118, p. 195-205, 2014.
12. HILL, R. L. Til/age and wheel traffic effects on runoff and sediment losses from crop interrows. Soil Seienee Soeiety of Ameriea Journal, v. 57, p. 476-480, 1993.
13. LAL, R.; PIERCE, F. J. The vanishing resource. In: LAL, R.; PIERCE, F. J., eds. Soil mana-gement for sustainability. Ankeny, Soil Water Conservation Society, p.1-5, 1991.
14. MAIA, S. M. F. et al. Contrasting approaches for estimating soil carbon changes in Amazon and Cerrado biomes. Soil and Tillage Research, v.133, p. 75-84, oct. 2013.Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/a rticle/pii/S0167198713001037>. Acesso em: 19 jul. 2018.
15. MENDONÇA V. Z; MELLO L. M. M; ANDREOTTI, M; PEREIRA F. C. B. L; LIMA R. C; VALÉRIO FILHO, W. V; YANO, E. H;. Avaliação dos atributos físicos do solo em consócio de forrageiras, milho em sucessão com soja em região de cerrados. Revista Brasileira de Ciência do Solo. v. 37, p. 251-259, 2013.
16. OHLAND, R. A. A. et al. Culturas de Cobertura do Solo e Adubação Nitrogenada no Milho em Plantio Direto. Ciência agrotecnologia, Lavras, v. 29, n. 3, p. 538-544, 2015.
17. PILETTI, L. M. M. S; SECRETTI, M. L; SOUZA, L. C. F. de; FAGNER FROTA, F; SOARES, N. B; BENTO, L. F; Produtividade e Componentes do Rendimento de Milho Safrinha em Três Sistemas de Sucessão. Dourados-Ms. XII Seminério Nacional Milho Safrinha, 2013.
18. POSSAMAI, J. M.; SOUZA, C. M. de; GALVÃO, J. C. C. Sistemas de preparo do solo para o cultivo do milho safrinha. Bragantia, Campinas, v. 60, n. 2, p. 79-81, 2001.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
168
19. RODRIGUES, M. J. M. et al. Espectroscopia no infravermelho próximo para a quantificação de carbono em solos da bacia do Acre. Biota Amazônia, Macapá, v. 6, n. 1, p. 119-124, 2016.
20. SALTON, J.C.; MIELNICZUK, J. (1995) Relações entre sistemas de preparo, temperatura e umidade de um Podzólico Vermelho-Escuro de Eldorado do Sul (RS). Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 19, n. 2, p. 313-319, 1995.
21. SANTOS, H. P; TOMM. G. O; KOCHHANN, R. A; Rendimento de grãos de milho em função de diferentes sistemas de manejo de solo e de rotação de culturas. Revista Brasileira de Agrociência, v. 9, n. 3, p. 251-256, 2003.
22. SANTOS, P. G.; JULIATTI, F. C.; BUIATTI, A. L.; HAMAWAKI, O. T. Avaliação do desempenho agronômico de híbridos de milho em Uberlândia, MG. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.37, n.5, p.597- 602, 2002.
23. SILVA, F. de A. S.; AZEVEDO, C. A. V. The Assistat Software Version 7.7 and its use in the analysis ofmexperimental data. African Journal of Agricultural Research, v. 11, n. 39, p. 3733-3740, 2016.
24. SILVA, M. A. de A. e. Desenvolvimento radicular das culturas de feijão, soja e milho, sob diferentes manejos de solo, irrigadas por pivô central. 2007. 140 f. Tese (Doutorado em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu, 2007.
25. SILVA, M.J.G.A. Boletim climatológico de Rondônia, ano 1999/2000. V.2. Secretaria do Estado do Desenvolvimento Ambiental, Porto Velho, Rondônia. 20 p.
26. SILVA, R. A; Avaliação da Produção De Milho Em Diferentes Tipos De Preparo Do Solo-nomunicípio de Aparecida De Goiânia. 2013. 25 f. Tese (Doutorado em Agronomia) – Fa-culdade de Agronomia, Uni-Anhanguera Goiânia-GO, 2013.
27. SOUZA, C. M. Efeito do uso contínuo de grade pesada sobre algumas características físicas e químicas de um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, fase cerrado, e sobre o desenvolvimento das plantas e absorção de nutrientes pela cultura de soja. 1988. 105 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG, 1988.
28. VARGAS, L. K.; SCHOLLES, D. Biomassa microbiana e produção de C-CO2 e N mineral de um Podzólico Vermelho-Escuro submetido a diferentes sistemas de manejo. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 24, p. 35-42, 2000.
11Desempenho produtivo de cultivares de amendoim no Município Uruçuí-PI
Marlei Rosa dos SantosUESPI
Rubenalto da Silva AlmeidaUESPI
Romário da Silva MoreiraUESPI
Ronildo Almeida de SousaUESPI
Maria Felix Gomes GuimarãesUESPI
Francisco de Assis Gomes JuniorUESPI
Tamara Santos Ferreira de FariasUFGD
Chesliane de Freitas MoreiraUESPI
Thainara Moura CardosoUESPI
Laércio Gomes CarreiroUESPI
10.37885/210304050
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
170
Palavras-chave: Arachis Hypogaea L, Desenvolvimento Inicial, Seleção de Cultiva-res, Produtividade.
RESUMO
O município de Uruçuí é um grande produtor de grãos (soja, milho), possui grande po-tencial e está em processo de crescimento. A cultura do amendoim é pouco explorada no município, cultivada apenas por pequenos produtores. Além disso, os produtores sofrem com baixa produtividade, isso se deve, principalmente, ao uso de cultivares ina-dequadas. Existem poucos estudos e informações a respeito dessa cultura nessa re-gião. Objetivo: Avaliar o desempenho agronômico de cultivares de amendoim, visando selecionar os mais promissores e indica-los para o cultivo no município de Uruçuí-PI. Métodos: O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualisados com quatro repetições e cinco cultivares: BR 1, BRS 151 L7, BRS Havana, IAC TATU ST e Runner IAC 886. O solo foi preparado utilizando-se um motocultivador e a adubação utilizada foi 266 Kg ha–1 da formulação 3-30-15 e 33,5 Kg ha–1 de cloreto de potássio. O plantio foi realizado dia 20 de janeiro de 2018 em sulcos com 5 cm de profundidade. Nos primei-ros 15 dias foi necessário fazer irrigação e posteriormente a cultura foi conduzida sem irrigação complementar. A colheita foi realizada após 111 dias do plantio e avaliou-se as seguintes variáveis: teor de umidade dos grãos, massa fresca e seca das plantas, número de vagem por planta, produtividade de vagens, produtividade de grãos e o rendimento de grãos. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância. Resultados: Observou-se que não houve diferença entre as cultivares para todas as variáveis. Conclusão: Todas as cultivares obtiveram boa produtividade e são recomendadas para o cultivo na região de Uruçuí-PI. A cultivar IAC TATU ST, obteve desempenho numericamente superior em relação as outras cultivares, chegando a produzir no mínimo 600 Kg ha–1 a mais de vagens comerciais.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
170 171
INTRODUÇÃO
O amendoim (Arachis hypogaea L.) é uma leguminosa, de relevante importância eco-nômica, pelo seu largo consumo alimentar, atendendo os vários segmentos de consumo in natura ou industrializado; tem sua origem na América do Sul, mais precisamente na região do Chaco, sendo a quarta oleaginosa mais cultivada no mundo, superada apenas pela soja, algodão e canola (ARRUDA et al., 2015).
Possui alto valor nutricional, fornece quantidades consideráveis de nutrientes essen-ciais, dentre eles, as proteínas, fibras, carboidratos, vitaminas e minerais. Possui elevado teor de lipídeos, com destaque, principalmente, pela presença dos ácidos graxos insaturados oleico e linoleico e de vitaminas E (LIMA; MORAIS, citado por ARAÚJO et al., 2014a). Além disso, possui agradável sabor, o que o torna muito consumido por adultos e crianças nas mais diversas formas. É utilizado também na alimentação animal, em forma de feno ou de forragem. Existem também, demanda da utilização do amendoim no setor de produção de cosméticos, energético e farmacêutico (FREITAS, 2011; SILVA et al., 2015).
Os maiores produtores mundiais de amendoim encontram-se na Ásia (China e Índia), onde se concentra mais da metade da produção mundial, cerca de 23,3 milhões de tone-lada. A produção brasileira na safra de 2017/2018 foi de 515,4 mil t, sendo que o estado de São Paulo é responsável por 90% da produção nacional, com produção de 486,3 mil t. Na região Nordeste o cultivo é feito por pequenos agricultores, com produção de 4.000 t, o estado de Sergipe é o maior produtor com 1.600 t (CONAB, 2018).
Nos últimos anos, o cultivo do amendoim tem crescido na região Nordeste, devido à ado-ção de cultivares precoces e tolerantes à baixa disponibilidade hídrica. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, por meio da Embrapa Algodão, tem desenvolvido algumas cultivares adaptadas para diferentes estados e regiões do semiárido brasileiro. Com o avanço das novas tecnologias, como, a colheita mecanizada e o crescente melhoramento de cultivares mais produtivas e com ciclo reduzido tem-se aumentado as áreas cultivadas (VASCONCELOS et al., 2015; FACHIN et al., 2014).
É uma cultura de fácil adaptação, no entanto, tem sua produtividade influenciada pelas condições físicas do solo e por fatores ambientais, especialmente temperatura, disponibilidade de água e radiação. Assim, o cultivo dessa leguminosa deve ser feito em solos bem estrutu-rados, sem barreiras físicas, e que proporcionem equilíbrio nutricional durante o ciclo, visando elevar ao máximo sua produtividade (SILVEIRA et al., 2013; NASCIMENTO et al., 2010).
O amendoim possui duas subespécies, sendo essas variedades comerciais e estão disponíveis no mercado, elas são denominadas: hypogaea e fastigiata. As características que as distinguem entre si, são basicamente, quanto ao hábito de crescimento, ciclo, tama-nho da semente e presença de flores na haste principal. A subespécie hypogeae engloba
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
172
as variedades do grupo Virgínia (hábito de crescimento rasteiro ou runner), enquanto que na fastigiata encontram-se as variedades do grupo Valência, hábito de crescimento ere-to (VALLS, 2005).
Segundo o Registro Nacional de Cultivares, existem atualmente trinta e duas cultivares registradas da espécie A. hypogea, que se destinam, prioritariamente, à comercialização de sementes no país. As mais adaptadas a região Nordeste foram desenvolvidas pela Embrapa algodão, são de fácil manejo, ciclo curto e tolerante a seca, denominadas de BR 1, BRS 151 L7 e BRS Havana (BRASIL, 2017; DUARTE, et al., 2013).
O sucesso da agricultura produtiva e sustentável é obtido através de conhecimento do clima, do solo, do manejo e, principalmente de cultivares adaptadas à região onde se pretende fazer o cultivo. Para cada região, a adoção de cultivares adaptadas ao ambiente é imprescindível, para que não ocorra frustações de safra (perdas) e tenha maior produtividade (BARBIERI et al., 2015; DUARTE et al., 2013).
O município de Uruçuí-PI, é uma região de alto potencial produtivo de grãos, onde é produzido em grande escala as culturas de soja e milho. A cultura do amendoim é cultivada apenas por pequenos produtores, no entanto, a produção é insuficiente devido, principalmen-te, à baixa produtividade decorrente do uso de cultivares inadequadas, obtendo assim baixa produção. Além de ser cultivada por pequenos produtores, existem poucas informações de manejo e produção do amendoim nessa região. O maior entrave para seu cultivo em grade escala era a dificuldade na colheita por ser manual. Com o desenvolvimento de tecnologias no setor de maquinas, hoje já se encontram colheitadeiras para o amendoim disponíveis no mercado de maquinas. Podendo assim o amendoim ser plantado em grandes áreas.
OBJETIVO
Avaliar o desempenho agronômico de cultivares de amendoim, visando selecionar os mais promissores e indicá-los para o cultivo no município de Uruçuí.
MÉTODOS
Localização do experimento
O experimento foi realizado no laboratório de sementes e na área experimental da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, Campus de Uruçuí, localizada na região sul do estado do Piauí, latitude -07°13’46’’, longitude -44°33’22’’ e altitude 167 metros. Período de realização do experimento de 20 de janeiro a 12 de maio de 2018.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
172 173
Os dados referente a precipitação, temperatura e umidade relativa do ar no período da condução do experimento em campo estão disponíveis na Figura 1. A Temperatura variou de 24 a 28,5 °C, a Umidade Relativa oscilou entre 60 a 89%. Precipitação, nos primeiros dias após o plantio, ocorreu um pequeno veranico, nesses dias foi realizado irrigação e posteriormente a cultura foi conduzida sem irrigação complementar, pois, as chuvas foram bem regulares, com boa precipitação (Figura 1).
Figura 1. Dados de precipitação, temperatura média, umidade relativa do ar, no período de 20 de janeiro a 20 de maio de 2018, no município de Uruçuí-PI. Fonte: INMET (2018).
Delineamento experimental e cultivares
O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com quatro repe-tições e cinco tratamentos (cultivares). Utilizou-se as cultivares de amendoim: BR 1, BRS 157 L7, BRS Havana, IAC TATU TS e Runner IAC 886.
Plantio e condução do experimento
O experimento foi conduzido em uma área de aproximadamente 100 m2, inicialmente coletou-se amostra do solo de 0 – 20 cm que foram analisadas cujo o resultado encontra-se na Tabela 1. O solo foi classificado granulometricamente como de textura média. Com base no resultado da análise do solo e a exigência da cultura (EMBRAPA, 2014), calculou-se o teor de nutrientes e calcário a serem aplicados no solo para correção e adubação.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
174
Tabela 1. Resultados da análise de solo, textura média, na profundidade de 0-20 cm.
Atributos Resultados Atributos Resultados
pH (H2O) 4,9 V (%) 42,1
Matéria Orgânica (g kg–1) 6,8 m (%) 0,0
P (mg dm–3) 8,7 Ca (%) 20,9
K+ (cmolc dm–3) 0,25 Mg (%) 14,3
Ca+2 (cmolc dm–3) 0,83 K (%) 6,3
Mg+2 (cmolc dm–3) 0,59 S (mg dm–3) 0,62
Al+3 (cmolc dm–3) 0,0 Fe (mg dm–3) 75,99
H+ + Al+3 (cmolc dm–3) 2,30 Mn (mg dm–3) 17,11
SB (cmolc dm–3) 1,67 Cu (mg dm–3) 0,93
CTC (cmolc dm–3) 3,97 Zn (mg dm–3) 1,43
P, K, Cu, Fe, Zn e Mn: Extrator Mehlichl; Al, Ca, Mg: Extrator KCL 1 mol/L; S (Ca(H2PO4) 2 0,01 mol/L; SB=Ca+2+ Mg+2+ K++ Na+; H+ + Al+3: Extrator Acetato de Cálcio 0,5 M, pH 7,0; CTC=SB+ H+ + Al+3; M.O.: Digestão Umida Walkley-Black.
Aos 34 dias antes do plantio foi distribuído 2,5 t ha–1 de calcário. A adubação de funda-ção foi de 266 Kg ha–1 da formulação 3-30-15 e 33,5 Kg ha–1 de cloreto de potássio. O solo foi preparado utilizando-se um motocultivador. Cada parcela foi de 6 m², composta por 4 linhas de três metros de comprimento no espaçamento de 0,5. O plantio foi realizado direta-mente no solo a 5 cm de profundidade, com densidade de semeadura de 12 sementes por metro de sulco. Após quinze dias da semeadura foi feito o replantio da área devido à baixa emergência das plantas. A adubação foliar foi feita duas vezes, sendo a primeira no início da floração, aos 30 dias após a semeadura (DAS), e a segunda 45 DAS, nesse mesmo dia foi realizado a amontoa. O controle das plantas invasoras foi realizado manualmente, sempre que necessário, com 30 e 45 dias, em conjunto com a segunda capina foi realizada a amontoa.
Avaliações
Logo após o plantio avaliou-se o índice de velocidade de emergências de plântulas (IVE). No período de colheita de acordo com o ciclo de cada cultivar foram realizadas as seguintes avaliações: teor de umidade dos grãos, massa fresca e secas das plantas sem as vagens, número de vagem por planta, produtividade de vagens comerciais, produtividade de grãos e taxa de rendimento de grãos. O cálculo do Rendimento de Grãos (RG) foi feito utilizando a seguinte equação (FACHIN et al., 2014):
Em que:RG – Rendimento de grão em porcentagem;
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
174 175
PG – Peso de grãos (g);PV – Peso de vagens (g).
Índice de velocidade de emergência (IVE)
Foi conduzido no campo, anotando-se diariamente a porcentagem de plântu-las emergidas. Ao final do teste calculou-se o IVE, pela fórmula proposta por Maguire (1962), com adaptações:
Onde:IVE = Índice de velocidade de emergência de plântulas;E = % de plântulas emergidas;N = nº de dias após o plantio das sementes.
Teor de umidade dos grãos
O teor de umidade dos grãos foi determinado pelo método de estufa a 105 ± 3 °C por 24 h, conforme as RAS (BRASIL, 2009). Os dados foram expressos em porcentagem de umidade na base do peso úmido, utilizando a fórmula:
Onde:Pi = peso inicial, peso do recipiente e sua tampa mais o peso dos grãos úmidos;Pf = peso final, peso do recipiente e sua tampa mais o peso dos grãos secos;t = tara, peso do recipiente com sua tampa.
Massa fresca e seca das plantas
Após a colheita das plantas e a retirada das vagens, uma amostra de 3 plantas de cada cultivar e repetição foi pesada em balança com precisão de 0,001 g, para determinar a mas-sa fresca por planta (g pl–1). Os resultados foram expressos em gramas por planta (g pl–1).
Após determinar a massa fresca, as plantas foram colocadas em sacos de papel, previamente pesado, os sacos contendo as plantas foram mantidos em estufa a 70 ºC, por 72 h. Após esse período os sacos foram pesados em balança de precisão de 0,001 g do
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
176
valor obtido foi subtraído o peso do saco vazio e o resultado foi dividido pelo número de plantas (g pl–1).
Análise estatística
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as comparações das médias de cultivares foram feitas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o software ASSISTAT 7.7 (SILVA, 2013).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O índice de velocidade de emergência (IVE), umidade dos grãos (UGRÃOS), massa fresca (MFRESCA) e massa seca (MSECA) da parte aérea sem as vagens, não diferiram entre si estatisticamente (Tabela 2). O IVE médio foi 1,43, mostrando que a qualidade fisio-lógica das sementes estava adequada, segundo Ramos et al. (2008), que encontraram IVE de 0,87 para Runner IAC 886 e 1,04 para cultivar IAC TATU ST, relataram que as sementes estavam em ótimas condições fisiológicas.
Para Azeredo et al. (2005), em pesquisa sobre conservação de sementes de amen-doim, encontrou resultado do IVE igual a 9,0 para a cultivar BR 1. Uma possível causa do IVE, neste trabalho, ser bem inferior ao citado acima, é que trabalho de Azeredo e cola-boradores foi realizado em ambiente controlado (casa de vegetação), e além disso, neste presente trabalho, ocorreu a falta de chuvas após a semeadura (Figura 1), e o déficit hídrico dificulta a germinação, pois é sabido que para as sementes germinarem é necessário uma boa umidade no solo.
O teor médio de umidade dos grãos foi de 19,4% (Tabela 2), valor este considerado alto. Segundo o Manual de Segurança e Qualidade para a Cultura do Amendoim (EMBRAPA, 2004), a umidade ideal para armazenamento de grãos de amendoim em casca é 10%, já os grãos sem a casca é em torno de 5 a 7%.
Tabela 2. Índice de velocidade de emergência (IVE), umidade dos grãos (UGRÃOS), massa fresca (MFRESCA) e massa seca (MSECA) por plantas de amendoim de cinco cultivares. Uruçuí-PI, UESPI
Cultivares IVE UGRÃOS(%)
MFRESCA(g pl–1)
MSECA(g pl–1)
BR1 1,47 a 19,36 a 64,30 a 17,67 a
BRS 157 17 1,26 a 19,03 a 92,38 a 23,93 a
BRS Havana 1,55 a 18,81 a 69,68 a 19,38 a
Runner IAC 886 1,20 a 18,85 a 70,32 a 18,29 a
IAC TATU ST 1,67 a 19,18 a 85,66 a 23,23 a
Médias 1,43 19,04 76,47 20,50
CV (%) 27,42 10,71 47,64 49,61
DMS Tukey 0,88 4,60 82,13 22,93
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
176 177
Cultivares IVE UGRÃOS(%)
MFRESCA(g pl–1)
MSECA(g pl–1)
Bloco 0,5870 9,1669 93,5824 7,3144
Cultivar 0,1546 ns 0,2137 ns 569,4257 ns 33,3532 ns
Erro 0,1540 4,1593 1.327,1240 103,4429
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna, não difere entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. ns não significativo pelo teste F a 5% de probabilidade.
Para obtenção de produtos agrícolas saudáveis e de qualidade elevada é preferível que o produto seja colhido previamente quando ainda apresenta elevado teor de água, visando diminuir as perdas causadas no campo pelo ataque de insetos e microrganismos; assim, a secagem, por sua vez, é a técnica mais utilizada para garantir a qualidade e a estabilidade dos grãos considerando-se que a diminuição da quantidade de água do material reduz a atividade biológica e as mudanças químicas e físicas que ocorrem durante o armazenamento (ARAUJO, 2014b).
A massa fresca e seca da parte aérea (ramos + folhas) tiveram resultados em média de 76,47 e 20,50 g pl–1 respectivamente (Tabela 2). Heid et al. (2016), trabalhando com genótipos de amendoim do tipo Virgínia (Marrom e Pintado), encontraram resultado da massa fresca de 6,97 t ha–1 para o Marrom e 12,46 t ha–1 para o Pintado. Observando esses resultados, as cultivares estudadas no presente trabalho, mostraram boa produtividade de ramos e folhas, com valor médio de 17,31 t ha–1 de massa fresca.
Oliveira et al. (2010), comparando a produção de dois cultivares de amendoim decum-bente, IAC-Caiapó e Runner IAC 886, cultivados em diferente espaçamento entre fileira (50 e 90 cm), encontraram diferenças significativas para produtividade de palhada (massa seca da parte aérea) sendo 4,94 t ha–1 para Runner IAC 886 e 5,34 t ha–1 para IAC-Caiapó, ob-tidas no espaçamento de 50 cm. Esse resultado da massa seca da parte aérea da cultivar Runner IAC 886, assemelha-se com o resultado encontrado neste trabalho com o mesmo cultivar e espaçamento, que foi de 4,25 t ha–1 (Tabela 2).
Na Tabela 3, observou-se que não houve diferença entre número de vagem por planta (NVPL), produtividade das vagens comerciais (PRODVC), produtividade dos grãos (PGRÃOS) e taxa de rendimento de grãos (RGRÃOS) entre as cultivares. Com o valor médio de 14,56 vagens por planta (Tabela 3), tal valor é superior ao encontrado por Arruda et al. (2015), cultivando as cultivares IAC TATU ST, BR 1, BRS Havana em ambiente controlado, com tem-peratura de 20,3 °C, irrigação por aspersão, com 600 mm de lamina de água durante o ciclo e obtiveram 8,9; 9,5 e 9,2 vagens por planta, respectivamente. A boa produção de vagens alcançada neste trabalho está relacionada ao clima, temperatura ótima para o desenvolvi-mento das plantas, boa precipitação no período do cultivo (Figura 1) e a nutrição das plantas.
A produtividade média de vagens comerciais (PRODVC) foi de 3,57 t ha–1. Porém a cultivar IAC TATU ST (4,15 t ha–1) produziu no mínimo 600 Kg ha–1 a mais de vagens em relação a BRS Havana que produziu 3,55 t ha–1 (Tabela 3). Silveira et al. (2013) estudando
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
178
a fenologia e produtividade do amendoim em diferentes épocas de semeadura, encontra-ram produtividade de vagens para a cultivar BRS Havana de 1,783 t ha–1, valor bem inferior ao encontrado neste trabalho. Segundo estes autores, a produção de flores é proporcio-nal ao número de vagens por planta e a deficiência hídrica reduz a produção de flores e consequentemente diminui a produção de vagens e a produtividade. Durante a condução do experimento dos referidos autores a média pluviométrica foi de 147,87 mm, valor esse considerado baixo para cultura do amendoim.
Isso pode justificar a maior produtividade de vagens encontrada neste trabalho, pois no período de florescimento que ocorreu a partir de 20 de fevereiro, houve chuvas bem regulares, contribuindo assim para maior produção de flores, como também para o desenvolvimento das vagens, a precipitação durante o ciclo da cultura foi de 455,86 mm (Figura 1). Segundo Ferrari Neto et al. (2012), o ponto crítico no que diz respeito a exigência hídrica do amen-doim, ocorre durante o florescimento e frutificação, devido ao crescimento e penetração do ginóforo no interior do solo em profundidade adequada para a frutificação.
Tabela 3. Número de vagem por planta (NVPL), produtividade de vagens comerciais (PRODVC), produtividade de grãos (PGRÃOS) e taxa de rendimento de grãos (TRGRÃOS) de cinco cultivares de amendoim. Uruçuí-PI, UESPI
Cultivares NVPL PRODVC(t ha–1)
PGRÃOS(t ha–1)
TRGRÃOS(%)
BR1 12,38 a 3,31 a 2,29 a 69,04 a
BRS 157 17 15,75 a 3,41 a 2,29 a 67,10 a
BRS Havana 14,70 a 3,55 a 2,49 a 69,83 a
Runner IAC 886 13,45 a 3,44 a 2,32 a 67,55 a
IAC TATU ST 16,52 a 4,15 a 2,78 a 66,17 a
Médias 14,56 3,57 2,43 67,94
CV (%) 22,34 16,11 19,41 7,17
DMS Tukey 7,33 1,30 1,06 10,99
Bloco 4,0622 0,8200 0,5379 26,5689
Cultivar 11,2411ns 0,4496 ns 0,1730 ns 8,7911 ns
Erro 10,5834 0,3307 0,2226 23,7433
Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna, não difere entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.ns não significativo pelo teste F a 5% de probabilidade.
A produtividade dos grãos sem a casca (PGRÃOS), foi em média 2,43 t ha–1, mesmo sem diferença estatística entre as cultivares, observou-se que a cv. IAC TATU ST apresen-tou-se numericamente maior em relação as demais, com diferença de 290 e 460 Kg ha–1 a mais que as cultivares BRS Havana e Runner IAC 886, respectivamente (Tabela 3).
A cv. IAC TATU ST apresentou as maiores médias nas seguintes variáveis: número de vagem por planta (NVPL), produtividade de vagens comerciais (PRODVC) e produtivi-dade de grãos (PGRÃOS). A cultivar BR 1 apresentou as menores médias nessas mesmas variáveis (Tabela 3).
Arruda et al. (2015) encontraram produtividade para as cultivares IAC TATU ST de 1,945 t ha–1, BRS 1 de 1,637 t ha–1 e BRS Havana de 1,777 t ha–1. Os valores da produtividade
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
178 179
dessas cultivares foram menores que a média deste experimento (2,43 t ha–1), porém a umidade de grãos no trabalho dos referidos autores é de 10%, enquanto neste trabalho a média foi de 19,04% de umidade, o que corresponde a produtividade de 1,27 t ha–1 grãos em 10% de umidade.
A taxa média de rendimento de grãos (TRGRÃOS) foi de 67,94% (Tabela 3). Fachin et al. (2014) em pesquisa com cultivos em sistema convencional e de semeadura direta de seis cultivares de amendoim, encontraram 76% de rendimento de grão cv. Runner IAC 886, portanto superior ao valor encontrado neste trabalho (67,94%). Por outro lado, Silva et al. (2012), obtiveram rendimento de grãos de 69,88% e 64,83% respectivamente para cultivares Runner IAC 886 e IAC TATU ST. Valores semelhantes ao encontrado neste trabalho.
Os resultados encontrados neste trabalho foram bastante satisfatórios, porém, há ne-cessidade de realização de novos trabalhos dessa cultura na região, para confirmação ou novos resultados, afim de aumentar informações e principalmente a produção de amendoim nesse município (Uruçuí-PI).
CONCLUSÃO
Todas as cultivares obtiveram boa produtividade e são recomendadas para o cultivo na região de Uruçuí-PI.
A cultivar IAC TATU ST, apresentou desempenho numericamente superior em relação as outras cultivares, chegando a produzir no mínimo 600 Kg ha–1 a mais de vagens comerciais.
REFERÊNCIAS
1. ARAÚJO, J. M.; ALVES, J. C.; PEIXOTO, T. K. O. N.; MEDIROS, A. F.; MACHADO R. J. A.; SERQUIZ, A. C.; NEVES, R. A. M.; SANTOS, E. A.; UCHOA, A. F.; MORAIS, A. H. Determina-ção da atividade antitriptica em proteínas de produtos do amendoim isoladas por cromatografia de afinidade. Química Nova, v.37, n.10, p.168-1623, 2014a. DOI: https://doi.org/10.5935 / 0100-4042.20140254.
2. ARAUJO, W. D.; GONELI, A. L. D.; SOUZA, C. M. A.; GONÇALVES, A. A.; VILHASANTI, H. C. B. Propriedades físicas dos grãos de amendoim durante a secagem. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola Ambiental, v.18, n.3, p. 279-286, 2014b. DOI: https://doi.org/10.1590/S1415-43662014000300006.
3. ARRUDA, I. M.; MODA-CIRINO, V.; BURATTO, J. S. FERREIRA, J. M. Crescimento e produtivi-dade de cultivares e linhagens de amendoim submetidas a déficit hídrico. Pesquisa Agropecuá-ria Tropical, v.45, n.2, p.146-154, 2015. DOI: https://doi.org/10.1590/1983-40632015v4529652.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
180
4. AZEREDO, G. A.; BRUNO, R. L. A.; LOPES, K. P.; SILVA, A.; DINIZ, D.; LIMA, A. A. Conser-vação de sementes de amendoim (Arachis hypogaea L.) em função do beneficiamento, emba-lagem e ambiente de armazenamento. Pesquisa Agropecuária Tropical, v.35, n.1, p.37-44, 2005. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=253020146007>. Acesso em 22 de setembro de 2018.
5. BARBIERI, J. D.; DALLACORT, R.; SANTI, A.; ROCHA, R. P.; CARVALHO, M. A. Zoneamento agroclimático de amendoinzeiro para a bacia do alto Paraguai (MT). Pesquisa Agropecuária Tropical, v.45, n.2, p.231-240, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/pat/v45n2/1517-6398-pat-45-02-0231.pdf>. Acesso em 21 de setembro de 2018.
6. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Registro nacional de cultivares. 2017. Disponível em: <http://www.agricultura.gov.br/guia-de-servicos/registro-nacional-de-cul-tivares-rnc>. Acesso em 10 de outubro de 2017.
7. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regas para análise de se-mentes. Secretaria de Defesa Agropecuária. Brasília: Mapa/AC, 2009. 399p. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/arquivos-publicacoes--insumos/2946_regras_analise__sementes.pdf>. Acesso em 23 de abril de 2016.
8. CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da safra brasileira de grãos. v.5, n.9. Nono levantamento. Junho de 2018. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos/boletim-da-safra-de-graos/item/download/20861_ fb79e3ca2b3184543c-580cd4a4aa402b>. Acesso em 10 de outubro de 2018.
9. DUARTE, E. A. A.; MELO FILHO, P. A.; SANTOS, R. C. Características agronômicas e índi-ce de colheita de diferentes genótipos de amendoim submetido a estresse hídrico. Revista Brasileira de Engenheira Agrícola e Ambiental, v.17, n.8, p.843-847, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rbeaa/v17n8/07.pdf>. Acesso em 23 de outubro de 2018.
10. EMBRAPA-Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Sistemas de Produção Embrapa. Sistema de produção de amendoim, 2ª edição, 2014. Disponível em <https://www.spo.cnptia.embrapa.br/home>. Acesso em 20 de novembro de 2017.
11. EMBRAPA-Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Manual de Segurança e Qualida-de para Cultura do Amendoim. Brasília: EMBRAPA, 2004. 44p. (Informativo Tecnológico) Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/111848/manual--de-seguraca-e-qualidade-para-a-cultura-do-amendoim>. Acesso em 20 de agosto de 2018.
12. FACHIN, G. M.; DUARTE JUNIOR, J. B. D.; GLIER, C. A. S. MROZINSKI, C. R.; COSTA, A. C. T.; GUIMARÃES, V. F. Características agronômicas de seis cultivares de amendoim culti-vadas em sistemas convencional e de semeadura direta. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.18, n.2, p.165-172, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/rbeaa/v18n2/a06v18n2.pdf>. Acesso em 21 de setembro de 2018.
13. FERRARI NETO, J.; COSTA, C. H. M.; CASTRO, S. A. C. Ecofisiologia do amendoim. Scientia Agrária Paranaensis, v.11, n.4, p.1-13, 2012. DOI: https://doi.org/10.18188/sap.v11i4.6033.
14. FREITAS G. A. Produção e área colhida de amendoim no Nordeste. Informe Rural Etene, v.5, n.3, p.1-8, 2011. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/documents/88765/89729/ire_ano5_n3.pdf/c076ce68-6a9e-4533-b1d5-b177542826d9>. Acesso em 12 de outubro de 2018.
15. HEID, D. M.; ZARETE, N. A. H.; OHLAND, R. A. A.; TORALES, E. P.; MORENO, L. B.; VIEIRA, M. C. Produtividade agronômica de genótipos de amendoim Virginia cultivados com diferentes espaçamento entre fileiras no canteiro. Revista de Ciências Agrárias, v.39, n.1, p.105-113, 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.19084/RCA15058.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
180 181
16. INMET - Instituto Nacional de Meteorologia: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Dados Históricos. Disponível em: <http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/gera_serie_txt_mensal.php?&mRelEstacao=82578&btnProcesso=serie&mRelDtInicio=01/07/2014&mRel-DtFim=01/11/1014&mAtributos=,,,,,,,,,1,,,1,,1,1,>. Acesso em 27 de maio de 2018.
17. MAGUIRE, J. D. Speed of germination-aid in relation evaluation for seedling emergen-ce vigor. Crop Science, v.2, n.2, p.176-177, 1962. DOI: https://doi.org/10.2135/crops-ci1962.0011183X000200020033X.
18. NASCIMENTO, I. S.; MONKS, P. L.; VAHL, L. C.; COELHO, R. W.; SILVA, J. B.; FISCHER, V. Aspectos qualitativos da forragem de amendoim forrageiro cv. Alqueire-1 sob manejo de corte e adubação PK. Revista Brasileira Agrociência, v.16, n.1-4, p.117-123, 2010. Dispo-nível em: <http://www2.ufpel.edu.br/faem/agrociencia/v16n1/artigo16.pdf>. Acesso em 12 de setembro de 2018.
19. OLIVEIRA, T. M. M.; QUEIROGA, R. C. F.; NOGUIRA, F. P.; MOREIRA, J. N.; SANTOS, M. A. Produção de cultivares decumbentes de amendoim submetidas a distintos espaçamento. Revista Caatinga, v.23, n.4, p. 149-154, 2010. Disponível em: <https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/caatinga/article/view/1435/pdf>. Acesso em 15 de outubro de 2018.
20. RAMOS, N. P.; NOVO, M. C. S. S.; LAGO, A. A.; MARIN, G. C. Emergência de plântulas e crescimento inicial de cultivares de amendoim sob resíduos de cana-de-açúcar. Revista Brasileira de Sementes, v.30, n.1, p.190-197, 2008. DOI: https://doi.org/10.1590/S0101-31222008000100024.
21. SILVA, A. C.; COSTA, D. S.; BARBOSA, R. M.; LAZARINI, E. Cobalto e molibdênio via foliar em amendoim: característica agronômicas da produção e potencial fisiológico das sementes. Re-vista Biotemas, v.25, n.2, p.9-15, 2012. DOI: https://doi.org/10.5007/2175-7925.2012v25n2p9.
22. SILVA, J. F. M.; PRADO, G.; MADEIRA, J. E. G. C.; OLIVEIRA, M. S.; FARACO, A. A. G.; MALTA, C. M.; NICOLI, J. R.; PIMENTA, R. S. Utilização de filme de quitosana para o con-trole de aflatoxinas em amendoim. Bragantia, v.74, n.4, p.467-475, 2015. DOI: https://doi.org/10.1590/1678-4499.0120.
23. SILVA, F. A. S. Sistema para Análise Estatística. ASSISTAT beta (2013), Versão 7.7. DEA-G-CTRN-UFCG, Campina Grande, BR – Atualiz. 01/12/2013. Disponível em: <https://assistat.software.informer.com/>. Acesso em 23 de setembro de 2018.
24. SILVEIRA, P. S.; PEIXOTO, C. P.; LEDO, C. A. S.; PASSOS, A. R.; BORGES, V. P.; BLOISI, L. F. M. Fenologia e produtividade do amendoim em diferentes épocas de semeadura no Re-côncavo Sul Baiano. Bioscience Journal, v.29, n.3, p.553-561, 2013. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/09/914539/fenologia-e-produtividade-do-amendoim-em-dife-rentes-epocas-de-s_QcemTZp.pdf>. Acesso em 21 de setembro de 2018.
25. VALLS, J. F. M. Recursos genéticos do gênero Arachis. In: SANTOS, R. C. O Agronegócio do Amendoim no Brasil. Campina Grande: Embrapa Algodão, p.45-69, 2005.
26. VASCONCELOS, F. M. T.; VASCONCELOS, R. A.; LUZ, L. N.; CABRAL, N. T.; OLIVEIRA JÚNIOR, J. O. L.; SANTIAGO, A. D.; SGRILLO, E.; FARIAS, F. J. C.; MELO FILHO, P. A.; SANTOS, R. C. Adaptabilidade e estabilidade de genótipos eretos de amendoim cultivados nas regiões nordeste e centro-oeste. Ciência rural, v.45, n.8, p.1375-1380, 2015. DOI: https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20140414.
12Diagnose foliar de nitrogênio em cultivares de cana-de-açúcar sob irrigação subterrânea: folha +1 e +3
Thayane Leonel AlvesUNESP/FCAV
José de Arruda BarbosaUNESP/FCAV
Alexandre Barcellos DalriUNESP/FCAV
Evandro Freire LemosUEMG
Jonathan dos Santos VianaUNESP/FCAV
Antônio Michael Pereira BertinoUNESP/FCAV
10.37885/210102938
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
183
Palavras-chave: Análise Foliar, Fertirrigação, Saccharum spp.
RESUMO
Objetivou-se avaliar a diferença do estado nutricional de nitrogênio em cultivares de cana de açúcar sob irrigação subterrânea por meio da coleta da folha+1 e folha+3. O experimen-to consistiu em três fatores de manejo de irrigação e cinco cultivares de cana-de-açúcar, sendo eles irrigação suplementar, irrigação deficitária e sequeiro e as cultivares de cana--de-açúcar estudadas foram CTC4, IAC3046, IAC1099, IAC5000 e RB8515. As doses de adubos aplicadas foram 180 kg ha–1 de N, 240 kg ha–1 de K2O, 90 kg ha–1 de P2O5 e 45 kg ha–1 de S. Nos tratamentos irrigados, as aplicações dos fertilizantes foram realizadas via água de irrigação e no sequeiro foram aplicados manualmente. Foram coletadas 102 amostras de folha +3 e 102 amostras da folha+1, sendo que cada amostra foi constituí-da de 6 folhas coletadas aleatoriamente em cada parcela. Para folha +3 a cultivar que respondeu mais a adubação foi a IAC1099 no sequeiro, e para a folha +1, foi a cultivar IAC3046 no sistema de irrigação deficitário. Independentemente de qual folha coletada, +3 ou +1, no geral, o tratamento não irrigado, foi a que respondeu mais a adubação.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
184
INTRODUÇÃO
A cana de açúcar (Saccharum spp.) é uma importante cultura no cenário agrícola mundial, apresentando variados subprodutos, desde gêneros alimentícios a biocombus-tíveis. O Brasil é o maior produtor e exportado do etanol no mundo, apresentando uma produtividade média de 70,2 t ha–1 (FAOSTAT, 2017). Nesse sentido, estudos nutricionais sobre a cultura são de interesse nacional.
O nitrogênio é um dos elementos essenciais ao desenvolvimento da grande maioria das culturas, sendo ele fundamental no metabolismo vegetal, por participar, diretamente, na biossíntese de proteínas e clorofilas (ANDRADE et al., 1998), em função de sua grande importância, esse nutriente tem sido amplamente estudado por pesquisadores, afim de oti-mizar o manejo da adubação nitrogenada.
A maioria dos autores que avaliam nutrientes em cana-de-açúcar tem escolhido a folha +3 para a determinação, observando-se uma tendência de uso dessa folha por ser a mais indicada para diagnóstico nutricional (folha +3).
OBJETIVO
Objetivou-se avaliar a diferença do estado nutricional de nitrogênio em cultivares de cana de açúcar sob irrigação subterrânea por meio da coleta da folha+1 e folha+3.
MÉTODOS
O experimento foi conduzido na Área Experimental de Irrigação da FCAV/UNESP – Câmpus de Jaboticabal, SP. As coordenadas geográficas são 21º14’50’’ de latitude Sul e 48º17’05’’ de longitude Oeste, com altitude média de 570 m. O clima, segundo a classifi-cação climática de Köppen (1948), é do tipo Cwa, temperado úmido com inverno seco e verão chuvoso. Este trabalho estudou-se o quinto ciclo da cana de açúcar, após a colheita do quarto ciclo no dia 03 de julho de 2018.
O local possui elevado teor de argila em todas as camadas analisadas. A Tabela 1 apresenta a análise química do solo da área experimental nos perfis 0 – 20 e 20 – 40, para as parcelas do tratamento não irrigado (sequeiro) e irrigado (deficitária e suplementar).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
184 185
Tabela 1.Atributos químicos da área experimental
AMOSTRA pH MO P K Ca Mg H+Al Al SB CTC V%
Sequeiro 0-20 4,2 24 12 1,8 13 6 58 7 20,8 79 26
Sequeiro 20-40 4,3 24 9 1,5 12 5 52 8 18,5 71 36
Deficitária 0-20 4,4 18 8 1,4 14 5 42 3 20,4 62 33
Deficitária 20-40 5,8 25 52 0,6 40 15 21 0 55,6 77 72
Suplementar 0-20 5,8 24 28 0,8 40 15 22 0 55,8 78 72
Suplementar 20-40 5,9 25 30 0,9 38 15 24 0 53,9 78 69
Fonte: Própria (2019).
O experimento consiste em três fatores: Irrigação Suplementar, Irrigação Deficitária e Sequeiro (não irrigado), com 12 repetições. Esses fatores foram alocados nas parcelas e os cultivares (CTC 4, IACSP93-3046, RB86-7515, IACSP95-5000 e IAC91-1099) foram aloca-dos nas subparcelas. O delineamento experimental é em Blocos Incompletos Parcialmente Balanceados (BIPB).
Adubação da cultura foi definida em função da análise do solo, seguindo as recomen-dações e as doses com base em sistemas de alta produtividade, segundo Vitti e Mazza (2002). Sendo aplicado em cada tratamento o equivalente a 180 kg ha–1 de N, 240 kg ha–1 de K2O, 90 kg ha–1 de P2O5 e 45 kg ha–1 de S. Nos tratamentos irrigados, as aplicações dos fertilizantes foram realizadas via água de irrigação, ou seja, via fertirrigação. Já no tratamento não irrigado a aplicação dos fertilizantes foi realizada manualmente, em duas doses, uma após a colheita e uma de cobertura, 90 dias após a colheita. A fertirrigação foi parcelada em oito vezes, ou seja, foram aplicados 12,5% da recomendação em intervalos mensais, do terceiro ao décimo mês. A primeira fertirrigação ocorreu no mês de setembro de 2018, e a última aplicação ocorreu no mês de maio de 2019.
Aplicou-se na área experimental o equivalente a 1,0 t ha–1 de calcário. Foi realizada também a adubação de manutenção com Zinco e Boro, nas dosagens de 3,0 kg ha–1, na forma de sulfato de zinco, e 1,0 kg ha–1, na forma de ácido bórico. Nos tratamentos irrigados, os micronutrientes foram aplicados via água de irrigação, parcelados em três doses, junta-mente com as aplicações de macronutrientes, e no tratamento não irrigado as aplicações foram realizadas via pulverizador costal.
O manejo da irrigação foi via clima, com dados obtidos diariamente na Estação Agroclimatológica Automatizada da FCAV/UNESP. A evapotranspiração de referência (ETo) é estimada diariamente pela equação de Penman-Monteith (ALLEN et al., 1998). Neste pro-jeto, a irrigação deficitária consiste em suprir o deficit hídrico da cana-de-açúcar de modo parcial (50%), e a irrigação suplementar visa suprir totalmente a deficiência hídrica (100%), complementando a água das chuvas. A irrigação foi realizada sempre que ocorre um déficit hídrico acumulado da cultura de 20 mm, ou seja, a cultura é irrigada sempre que o somatório
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
186
da evapotranspiração da cultura menos a precipitação é maior que 20 mm. Na suplementar há reposição total, com aplicação de uma lâmina de 20 mm, sendo a lâmina líquida aplicada igual a ΣETc, enquanto na deficitária há aplicação de metade da lâmina, aplicando somente 10 mm, ou seja, lâmina líquida da deficitária será de 50% da ΣEtc. A cultura de sequeiro recebe apenas água das precipitações.
Em novembro de 2018, foram coletadas 204 amostras foliares de cana de açúcar de todas as parcelas da posição +3 e +1, cada amostra foi constituída de 6 folhas coletadas aletoriamente em cada parcela. Das folhas amostradas, foram utilizados na análise quími-ca os 20 centímetros medianos, descartando-se a nervura central. Estas amostras foram submetidas à secagem em estufa a 60°C com circulação forçada de ar por 72 h e moídas em moinho tipo Wiley.
A análise de nitrogênio foi realizada pelo método de Kjeldahl segundo a metodologia da Embrapa (2009). Foi utilizado o programa estatístico SAS® versão 9.3 para análise es-tatística do experimento. Foi utilizado o teste t para efeito de comparação de médias.
RESULTADOS
A Figura 1 apresenta os valores médios referente ao teor de nitrogênio da folha +3 de cada tratamento. Observa-se que houve diferença estatística entre os tratamentos. Pode-se verificar que no tratamento sem irrigação para todas as cultivares, propiciou maiores teores de nutriente na folha coletada. Isso se deve ao fato de que, quando as folhas foram coletadas, o tratamento sequeiro já havia recebido toda a dose recomendada. A cultivar que apresentou maior média foi a IAC 1099, sendo 25,9 gr/kg de nitrogênio no sequeiro, e a que apresentou menor média foi a IAC 1099 na suplementar, sendo 19,8 gr/kg de nitrogênio, utilizando-se a folha +3 como parâmetro.
Figura 1. Análise foliar do nutriente Nitrogênio da folha +3.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
186 187
A Figura 2 apresenta os valores médios referente ao teor de nitrogênio da folha +1 de cada tratamento. Observa-se que houve diferença estatística entre os tratamentos. Pode-se verificar que no tratamento sem irrigação para todas as cultivares, menos a IAC 3046, propiciou maiores teores de nutriente na folha coletada. Isso se deve ao fato de que, quando as folhas foram coletadas, o tratamento sequeiro já havia recebido toda a dose recomen-dada. A cultivar que apresentou maior média foi a IAC3046 na deficitária, sendo 22,7 gr/kg de nitrogênio, e a que apresentou menor média foi a RB7515 na deficitária, sendo 19,6 gr/kg de nitrogênio, utilizando-se a folha +1 como parâmetro.
Figura 2. Análise foliar do nutriente nitrogênio da folha +1.
DISCUSSÃO
Os teores de todos os tratamentos, tanto para folha +3 quanto para folha +1, ficaram acima do valor encontrado por Reis Junior e Monnerat (2002), em canaviais de alta pro-dutividade localizados em Campos dos Goytacazes, sendo a folha +3 coletada, com 14,9 g/kg de N. O mesmo ocorreu no trabalho de Prado e Pancelli (2008), eles diferenciaram doses de nitrogênio, mas em todos os tratamentos deles os teores de N ficaram abaixo do trabalho realizado.
CONCLUSÃO
Para folha +3 a cultivar que respondeu mais a adubação foi a IAC1099 no sequeiro, e para a folha +1, foi a cultivar IAC3046 no sistema de irrigação deficitário. Independentemente de qual folha coletada, +3 ou +1, no geral, o tratamento não irrigado, foi a que respondeu mais a adubação.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
188
FINANCIAMENTO
Apoio financeiro: CAPES / Código 001
REFERÊNCIAS
1. Allen, R. G.; Pereira, L. S.; Raes, D.; Smith, M. Crop evapotranspiration - Guidelines for compu-ting crop water requirements. Rome: FAO. 1998. 300 p. (FAO Irrigation and Drainage Paper 56).
2. Andrade, M.J.B.; Diniz, A.R.; Carvalho, J.G. de; Lima, S.F. Resposta da cultura do feijoeiro à aplicação foliar de molibdênio e às adubações nitrogenadas de plantio e cobertura. Ciência e Agrotecnologia, v.22, p.499-508, 1998.
3. EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2009.
4. FAOSTAT, F. 2017. Disponível em: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QD Acesso em: 22 de junho de 2019.
5. Prado, R de M.; Pancelli, M.A. Resposta de soqueiras de cana-de-açúcar à aplicação de nitro-gênio em sistema de colheita sem queima. Bragantia, v.67, n.4, p.951-959, 2008.
6. Reis Junior, R. A.; Monnerat, P. H. Diagnose nutricional da cana-de-açúcar em Campos dos Goytacazes (RJ). Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.26, n.2, p.367-372, 2002.
13Diagnose foliar de potássio em cultivares de cana-de-açúcar sob irrigação subterrânea: folha +1 e +3
Thayane Leonel AlvesUNESP/FCAV
José de Arruda BarbosaUNESP/FCAV
Evandro Freire LemosUEMG
Alexandre Barcellos DalriUNESP/FCAV
Antônio Michael Pereira BertinoUNESP/FCAV
Jonathan dos Santos VianaUNESP/FCAV
10.37885/210102939
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
190
Palavras-chave: Análise Foliar, Fertirrigação, Saccharum spp.
RESUMO
Objetivou-se avaliar a diferença do estado nutricional de potássio em cultivares de cana de açúcar sob irrigação subterrânea por meio da coleta da folha+1 e folha+3. O experimento consistiu em três fatores de manejo de irrigação e cinco cultivares de cana-de-açúcar, sendo eles irrigação suplementar, irrigação deficitária e sequeiro e as cultivares de cana--de-açúcar estudadas foram CTC4, IAC3046, IAC1099, IAC5000 e RB8515. As doses de adubos aplicadas foram 180 kg ha–1 de N, 240 kg ha–1 de K2O, 90 kg ha–1 de P2O5 e 45 kg ha–1 de S. Nos tratamentos irrigados, as aplicações dos fertilizantes foram realizadas via água de irrigação e no sequeiro foram aplicados manualmente. Foram coletadas 102 amostras de folha +3 e 102 amostras da folha+1, sendo que cada amostra foi constituída de 6 folhas coletadas aletoriamente em cada parcela. De um modo geral, pode-se afir-mar que os regimes de irrigação (50% e 100% da Etc) não alteram as concentrações de potássio na folha +3 e +1 e a concentração de potássio da folha +1 e +3 foram maiores no regime de sequeiro.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
190 191
INTRODUÇÃO
A cana de açúcar (Saccharum spp.) é uma importante cultura no cenário agrícola mundial, apresentando variados subprodutos, desde gêneros alimentícios a biocombus-tíveis. O Brasil é o maior produtor e exportado do etanol no mundo, apresentando uma produtividade média de 70,2 t ha-1 (FAOSTAT, 2017). Nesse sentido, estudos nutricionais sobre a cultura são de interesse nacional.
O potássio (K) é essencial em quase todos os processos de crescimento de uma planta durante seu ciclo de vida. Está entre os três macronutrientes primários juntamente com o fósforo e nitrogênio, sendo de grande importância na nutrição das plantas, para algumas culturas é o elemento mais exigido. O K atua na ativação de aproximadamente 50 enzimas, destacando-se as sintetases, oxiredutases, desidrogenases, transferases, quinases e aldo-lases (Mengel & Kirkby, 1978; Malavolta et al., 1997).
Este elemento é também intimamente ligado ao controle osmótico das células, se o suprimento for inadequado pode fazer com que os estômatos não se abram regularmente, podendo ocorrer menor assimilação de CO2 nos cloroplastos, diminuindo consequentemente as taxas fotossintéticas. As plantas bem nutridas em potássio apresentam redução na inci-dência, severidade e danos causados por insetos e fungos, isto se deve ao fato de que altas concentrações de K nos tecidos favorecem a síntese e o acúmulo de compostos fenólicos, os quais atuam como inibidores de insetos e fungos (Huber & Arny, 1985).
A maioria dos autores que avaliam nutrientes em cana-de-açúcar tem escolhido a folha +3 para a determinação, observando-se uma tendência de uso dessa folha por ser a mais indicada para diagnóstico nutricional (folha +3).
OBJETIVO
Objetivou-se avaliar a diferença do estado nutricional de potássio em cultivares de cana de açúcar sob irrigação subterrânea por meio da coleta da folha+1 e folha+3.
MÉTODOS
O experimento foi conduzido na Área Experimental de Irrigação da FCAV/UNESP – Câmpus de Jaboticabal, SP. As coordenadas geográficas são 21º14’50’’ de latitude Sul e 48º17’05’’ de longitude Oeste, com altitude média de 570 m. O clima, segundo a classifi-cação climática de Köppen (1948), é do tipo Cwa, temperado úmido com inverno seco e verão chuvoso. Este trabalho estudou-se o quinto ciclo da cana de açúcar, após a colheita do quarto ciclo no dia 03 de julho de 2018.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
192
O local possui elevado teor de argila em todas as camadas analisadas. A Tabela 1 apresenta a análise química do solo da área experimental nos perfis 0 – 20 e 20 – 40, para as parcelas do tratamento não irrigado (sequeiro) e irrigado (deficitária e suplementar).
Tabela 1.Atributos químicos da área experimental
AMOSTRA pH MO P K Ca Mg H+Al Al SB CTC V%
Sequeiro 0-20 4,2 24 12 1,8 13 6 58 7 20,8 79 26
Sequeiro 20-40 4,3 24 9 1,5 12 5 52 8 18,5 71 36
Deficitária 0-20 4,4 18 8 1,4 14 5 42 3 20,4 62 33
Deficitária 20-40 5,8 25 52 0,6 40 15 21 0 55,6 77 72
Suplementar 0-20 5,8 24 28 0,8 40 15 22 0 55,8 78 72
Suplementar 20-40 5,9 25 30 0,9 38 15 24 0 53,9 78 69
Fonte: Própria (2019).
O experimento consiste em três fatores: Irrigação Suplementar, Irrigação Deficitária e Sequeiro (não irrigado), com 12 repetições. Esses fatores foram alocados nas parcelas e os cultivares (CTC 4, IACSP93-3046, RB86-7515, IACSP95-5000 e IAC91-1099) foram aloca-dos nas subparcelas. O delineamento experimental é em Blocos Incompletos Parcialmente Balanceados (BIPB).
Adubação da cultura foi definida em função da análise do solo, seguindo as recomen-dações e as doses com base em sistemas de alta produtividade, segundo Vitti & Mazza (2002). Sendo aplicado em cada tratamento o equivalente a 180 kg ha–1 de N, 240 kg ha–1 de K2O, 90 kg ha–1 de P2O5 e 45 kg ha–1 de S. Nos tratamentos irrigados, as aplicações dos fertilizantes foram realizadas via água de irrigação, ou seja, via fertirrigação. Já no tratamento não irrigado a aplicação dos fertilizantes foi realizada manualmente, em duas doses, uma após a colheita e uma de cobertura, 90 dias após a colheita. A fertirrigação foi parcelada em oito vezes, ou seja, foram aplicados 12,5% da recomendação em intervalos mensais, do terceiro ao décimo mês. A primeira fertirrigação ocorreu no mês de setembro de 2018, e a última aplicação ocorreu no mês de maio de 2019.
Aplicou-se na área experimental o equivalente a 1,0 t ha–1 de calcário. Foi realizada também a adubação de manutenção com Zinco e Boro, nas dosagens de 3,0 kg ha–1, na forma de sulfato de zinco, e 1,0 kg ha–1, na forma de ácido bórico. Nos tratamentos irrigados, os micronutrientes foram aplicados via água de irrigação, parcelados em três doses, junta-mente com as aplicações de macronutrientes, e no tratamento não irrigado as aplicações foram realizadas via pulverizador costal.
O manejo da irrigação foi via clima, com dados obtidos diariamente na Estação Agroclimatológica Automatizada da FCAV/UNESP. A evapotranspiração de referência (ETo) é estimada diariamente pela equação de Penman-Monteith (Allen et al., 1998). Neste projeto,
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
192 193
a irrigação deficitária consiste em suprir o deficit hídrico da cana-de-açúcar de modo parcial (50%), e a irrigação suplementar visa suprir totalmente a deficiência hídrica (100%), comple-mentando a água das chuvas. A irrigação foi realizada sempre que ocorre um déficit hídrico acumulado da cultura de 20 mm, ou seja, a cultura é irrigada sempre que o somatório da evapotranspiração da cultura menos a precipitação é maior que 20 mm. Na suplementar há reposição total, com aplicação de uma lâmina de 20 mm, sendo a lâmina líquida aplicada igual a ΣETc, enquanto na deficitária há aplicação de metade da lâmina, aplicando somente 10 mm, ou seja, lâmina líquida da deficitária será de 50% da ΣEtc. A cultura de sequeiro recebe apenas água das precipitações.
Em novembro de 2018, foram coletadas 204 amostras foliares de cana de açúcar de todas as parcelas da posição +3 e +1, cada amostra foi constituída de 6 folhas coletadas aleatoriamente em cada parcela. Das folhas amostradas, foram utilizados na análise quí-mica os 20 centímetros medianos, descartando-se a nervura central. Estas amostras foram submetidas à secagem em estufa a 60°C com circulação forçada de ar por 72 h e moídas em moinho tipo Wiley. A análise de potássio foi realizada pelo método de digestão seca segundo a metodologia da Embrapa (2009). Foi utilizado o programa estatístico SAS® versão 9.3 para análise estatística do experimento. Foi utilizado o teste t para efeito de comparação de médias.
RESULTADOS
A Figura 1 apresenta os valores médios referente ao teor de potássio da folha +3 de cada tratamento. Observa-se que houve diferença estatística entre os tratamentos. Pode-se verificar que no tratamento sem irrigação para todas as cultivares, propiciou maiores teores de nutriente na folha coletada. Isso se deve ao fato de que, quando as folhas foram coletadas, o tratamento sequeiro já havia recebido toda a dose recomendada. A cultivar que apresentou maior média foi a IAC 5000, sendo 12,7 gr/kg de potássio no sequeiro, e a que apresentou menores médias foi a CTC4 na deficitária, sendo 8,0 gr/kg de potássio, utilizando-se a folha +3 como parâmetro.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
194
Figura 1. Análise foliar do nutriente Potássio da folha +3.
A Figura 2 apresenta os valores médios referente ao teor de potássio da folha +1 de cada tratamento. Observa-se que houve diferença estatística entre os tratamentos. Pode-se verificar que no tratamento sem irrigação para todas as cultivares, propiciou maiores teores de nutriente na folha coletada, sendo o sequeiro melhor para IAC1099, IAC3046 e IAC5000. Isso se deve ao fato de que, quando as folhas foram coletadas, o tratamento sequeiro já havia recebido toda a dose recomendada. A cultivar que apresentou maiores médias foi a IAC3046, sendo 12,6 gr/kg de potássio na suplementar, 12,3 na deficitária e 13,0 no se-queiro, e a que apresentou menores médias foi a CTC4, sendo 10,1 gr/kg de potássio na suplementar, 10,0 na deficitária e 12,0 no sequeiro, sendo a IAC5000 no sequeiro a cultivar que respondeu mais a adubação, utilizando-se a folha +1 como parâmetro.
Figura 2. Análise foliar do nutriente Potássio da folha +1.
DISCUSSÃO
Os teores de quase todos os tratamentos, tanto para folha +3 quanto para folha +1, ficaram abaixo do valor encontrado por Reis Junior e Monnerat (2002), em canaviais de alta produtividade localizados em Campos dos Goytacazes, sendo a folha +3 coletada, com 12,4
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
194 195
g/kg de K. Apenas a folha +3 da cultivar IACSP955000, no sequeiro e a folha +1 da cultivar IACSP933046, IACSP95500 eRB867515, no sequeiro e da cultivar IACSP933046, na suple-mentar que ficaram com valores superiores ao de Campos dos Goytacazes. Já no trabalho de Prado e Pancelli (2008), eles diferenciaram doses de nitrogênio, os teores de K de todos os tratamentos, tanto para folha +3 quanto para folha +1, ficaram abaixo do valor encontra-do neste trabalho.
CONCLUSÃO
Independentemente de qual folha coletada, +3 ou +1, a IAC5000, no tratamento não irrigado, foi a que respondeu mais a adubação e a cultivar CTC4 na deficitária a que teve menos resposta.
FINANCIAMENTO
Apoio financeiro: CAPES / Código 001
REFERÊNCIAS
1. Allen, R. G.; Pereira, L. S.; Raes, D.; Smith, M. Crop evapotranspiration - Guidelines for compu-ting crop water requirements. Rome: FAO. 1998. 300 p. (FAO Irrigation and Drainage Paper 56).
2. EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2009.
3. FAOSTAT, F. 2017. Disponível em: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QD Acesso em: 22 de junho de 2019.
4. Huber, D.M.; Arny, D.C. Interactions of potassium with plant disease. In: MUNSON, R.D. (Ed.). Potassium in Agriculture, Madison: ASA, CSSA and SSA, 1985. p.467-488.
5. Köppen, W. Climatologia: com um estúdio de los climas de la tierra. México: Fondo de Cultura Economica, 1948. 478 p.
6. Malavolta, E.; Vitti, G.C.; Oliveira, S.A. Avaliação do Estado Nutricional das Plantas: princí-pios e aplicações. 2.ed. Piracicaba: Associação Brasileira para a Pesquisa da Potassa e do Fosfato, 1997. 319p.
7. Mengel, K.; Kirkby, E.A. Principles of Plant Nutrition. Berne: International Potash Institute, 1978. 593p.
8. Prado, R de M.; Pancelli, M.A. Resposta de soqueiras de cana-de-açúcar à aplicação de nitro-gênio em sistema de colheita sem queima. Bragantia, v.67, n.4, p.951-959, 2008.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
196
9. Reis Junior, R. A.; Monnerat, P. H. Diagnose nutricional da cana-de-açúcar em Campos dos Goytacazes (RJ). Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.26, n.2, p.367-372, 2002.
10. Vitti, G. C.; Mazza, J. A. Planejamento, estratégias de manejo e nutrição da cultura de cana--de-açúcar. Informações Agronômicas, n.97, 2002. 16p. (POTAFOS. Encarte Técnico).
14Distribuição geográfica conhecida e potencial de Melipona quadrifasciata
Luana Gaspar do Nascimento Lopes
Vitor Araujo Lima
Ary Gomes da Silva
10.37885/201202481
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
198
Palavras-chave: Modelagem de Distribuição de Espécies, Nicho Ecológico, Maxent.
RESUMO
Este estudo teve como objetivo mapear áreas potenciais para a espécie Melipona qua-drifasciata. A modelagem de distribuição de espécies foi realizada no programa MAXENT (Maxent 3.3.3). Para realizar a modelagem foram utilizados 106 pontos de ocorrência natu-rais de Melipona quadrifasciata obtidos através de registros bibliográficos e em herbários, a partir de buscas no banco de dados da rede Specieslink (2016), GBIF (2016). A simu-lação das áreas potenciais apresentou a AUC média de treinamento para as corridas de 0,850, com desvio padrão de 0,016 e a probabilidade binominal foi de 0.0001 indicando a baixa probabilidade deste modelo ter sido gerado ao acaso. Analisando o resultado apresentado, verifica-se que há algumas áreas de alta adequabilidade ambiental sem registro de ocorrência da espécie por perto, o que poderia indicar áreas potenciais para novas coletas no futuro.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
198 199
INTRODUÇÃO
A conservação das espécies exige tanto o conhecimento detalhado sobre sua história natural e sua biologia quanto informações sobre a sua distribuição geográfica e seu potencial de ocorrência (Papes e Gaubert 2007). Poucos estudos sobre distribuição geográfica da fauna brasileira foram realizados, especialmente nos biomas da Mata Atlântica e do Cerrado, que são considerados hotspots mundiais da biodiversidade (Myers et al. 2000), principalmente sobre polinizadores silvestres (Hickel 2015) que possuem sua conservação incentivada pela legislação vigente (Resolução Conama nº 346/04). As abelhas sem ferrão ou ASF (Apidae, Meliponini) constituem parte da fauna silvestre auxiliam na estabilidade dos ecossistemas e na sustentabilidade da agricultura, elas são insetos eusociais com colônias variando de centenas a milhares de indivíduos (Nogueira-Neto 1997). O Brasil contém aproximadamen-te 244 espécies divididas em 29 gêneros (Pedro 2014). Como a maioria das espécies se alimenta de néctar e de pólen, elas desempenham um papel fundamental na polinização de muitas plantas nativas, assim representam um dos maiores grupos de visitantes a plantas com flores nos trópicos (Cruz et al. 2005). Por esta importância, os estudos de distribuição espacial destas espécies são fundamentais para alicerçar informações ecológicas (e.g. diversidade de espécies, interações de recursos, densidade de ninhos etc.) e auxiliar nas estratégias de manejo e conservação de espécies.
Neste contexto, a Modelagem de Distribuição de Espécies (MDE) propicia um meio com maior precisão para examinar as alterações na distribuição de espécies (Vallecillo et al. 2016), o desenvolvimento de modelos de nicho ecológico são importantes para investigar padrões e processos biogeográficos, possibilitando a previsão da distribuição geográfica de espécies a partir de dados esparsos de ocorrência, assim se tornando um importante componente em planos de conservação (Guisan e Zimmermann 2000, Guisan e Thuiller, 2005). Adicionalmente, este tipo de abordagem permite explorar diversas questões em eco-logia, evolução e conservação, como: (i) definir áreas prioritárias para conservação (Garcia, 2006), (ii) analisar o potencial de invasão de uma espécie exótica (Giovanelli et al. 2008) e (iii) indicar a distribuição geográfica de uma espécie no passado (Hugall et al. 2002) e (iv) realizar previsões sobre a sua distribuição futura (Siqueira e Peterson 2003).
O objetivo deste estudo é modelar a distribuição espacial da espécie Melipona quadri-fasciata, e assim servir de subsídio para direcionamento de trabalho de campo, possibilitando identificar áreas para futuras coletas e iniciativas para a conservação da espécie.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
200
METODOLOGIA DE TRABALHO
Para realizar a modelagem foram utilizados 106 pontos de ocorrência naturais de Melipona quadrifasciata obtidos através de registros bibliográficos e em herbários, a partir de buscas no banco de dados da rede Specieslink (2016), GBIF (2016).
As variáveis ambientais foram obtidas no site AMBDATA (www.dpi,inpe.br/ambdata/index.php), variáveis ambientais para modelagem de distribuição de espécies do Grupo de Modelagem para Estudos de Biodiversidade da Divisão de Processamento de Imagens do INPE. As informações ambientais utilizadas neste experimento são grades projetadas no sistema de coordenadas geodésicas de projeção Latitude/Longitude, Datum WGS-84, com resolução espacial de 30 arc segundos, ou aproximadamente 1 km.
A modelagem foi realizada no programa MAXENT (Maximum Entropy) (Phillips; Anderson e Schapire, 2006). Os parâmetros usados no modelo foram uma convergence threshold de 1.0E-5 com 500 interações e 10.000 pontos de background, assim como as opções de auto features.
O conjunto de dados foi submetido a 10 repetições do modelo, sendo que para cada uma foi realizada uma validação cruzada (tipo bootstrap) com reposição, em que os dados foram divididos em dois conjuntos independentes, 70 e 30% dos dados, utilizados para calibrar e validar o modelo, respectivamente. A avaliação do modelo foi realizada pelos parâmetros Area Under the Curve (AUC), taxa de omissão do conjunto teste e o valor de p (binominal probability). A contribuição de cada variável climática foi analisada por meio dos métodos de jackknifing e curvas de respostas. O modelo final utilizado foi aquele baseado na média das dez repetições pelo programa.
A AUC é interpretada como a probabilidade de o modelo classificar um local de pre-sença escolhido aleatoriamente em relação a um local qualquer da paisagem (Merow et al. 2013). Um modelo aleatório tem uma AUC de 0,5 e quanto mais próximo de 1,0 melhor o seu desempenho (Phillips et al. 2006; Phillips e Dudik 2008).
Para o cálculo da taxa de omissão do modelo é necessário o uso de um limiar ou limite de corte, e a sua escolha deve maximizar a concordância entre a distribuição observada da espécie e a edita, além de atender os propósitos da pesquisa (Liu et al. 2005). A partir de um limiar (valor) é feita a conversão dos mapas contínuos de probabilidade em mapas binários de possível presença (1) ou ausência (0) da espécie.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A simulação das áreas potenciais para M. quadrifasciata, apresentou a AUC média de treinamento para as corridas de 0,850, com desvio padrão de 0,016 e a probabilidade
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
200 201
binominal foi de 0.0001 também indicando a baixa probabilidade deste modelo ter sido gerado ao acaso. O AUC é um método de avaliação independente de limiar (threshold). Os valores de AUC variam de 0 a 1, valores iguais ou menores a 0,5 indicam modelos sem capacidade de predição, sendo equivalentes a um modelo aleatório (Elith et al. 2009). O valor de 0,850 afasta-se consideravelmente do valor da AUC relativo a predições aleatórias (0,5) e também é indicadora da boa capacidade do modelo. Os indicadores avaliados sugerem que o modelo é satisfatório na estimação da distribuição da adequabilidade do habitat de M. quadrifasciata.
Os pontos de ocorrência estão distribuídos pelos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esta pesquisa amplia a sua área de ocorrência conhecida dada por Silveira et. al. (2002), abrangendo também os estados de Alagoas, Goiás e Sergipe.
As áreas modeladas para o Brasil se apresentaram condizentes com os dados conheci-dos da espécie. O modelo gerado apresentou como área potencial de distribuição da espécie a parte norte do Maranhão, parte oeste do Piauí, grande parte dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e parte oeste da Bahia. Na região Sudeste, cobre grande parte do estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, e Minas Gerais. O modelo ainda previu como área potencial de distribuição o litoral do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás. O modelo se mostrou bem amplo, incluindo os estados do Acre, Amazonas, Roraima, Pará, e o Amapá.
Como o intuito de gerar um mapa binário de presença e ausência, optou-se por um limite de corte relativo a máxima sensibilidade do conjunto de treino (0,270). A figura 1 repre-senta o modelo de nicho ecológico para a espécie em estudo, com a probabilidade de sua ocorrência e a figura 2 representa a predição de sua ausência ou presença usando como limite de corte (threshold).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
202
Figura 1. Modelo logístico de nicho ecológico de M. quadrifasciata, com a probabilidade de sua ocorrência.
Figura 02. Modelo de Nicho Ecológico de M. quadrifasciata, que representa a predição de sua ausência ou presença usando como limite de corte a presença máxima de sensibilidade do conjunto de treino
Analisando o resultado apresentado, verifica-se que há algumas áreas de alta adequa-bilidade ambiental sem registro de ocorrência da espécie por perto, o que poderia sugerir áreas potenciais para novas coletas no futuro.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
202 203
Na tabela a seguir são mostradas as estatísticas descritivas referentes às variáveis ambientais utilizadas na modelagem. As variáveis que mais contribuíram para explicar a adequabilidade das áreas de M. quadrifasciata foram a variação diurna média de temperatura e a declividade do terreno (Tabela 1), indicando que a espécie é sensível a essas variáveis.
Tabela 1. Contribuição das variáveis ambientais para a distribuição geográfica potencial de Melipona quadrifasciata, Brasil.
Código Definição Contribuição (%)
Bio2 Variação Diurna Média de Temperatura (Média mensal (Tmax-Tmin) 25
DeclividadeA declividade é a inclinação da superfície do terreno em relação à horizontal, ou seja, a relação entre a diferença de altura entre dois pontos e a distância horizontal entre esses pontos.
11.5
Exposição É a direção da variação de declividade, ou um mapeamento da orientação da ver-tente do terreno. 9.8
Bio15 Sazonalidade da Precipitação (coeficiente de variação) 9.5
Bio3 Isotermalidade ( (bio2/bio7) (* 100)) 8.9
Bio4 Sazonalidade da Temperatura (desvio padrão * 100) 8.2
Bio12 Precipitação Anual 5.5
Bio17 Precipitação do trimestre mais seco 4.8
AltitudeOs dados de altitude foram gerados a partir de dados do SRTM ( Shuttle Radar Topo-graphic Mission), de resolução horizontal (i.e., resolução espacial) de 3 arc-segundos (~90m) e resolução vertical (altura) de 1 m.
4.7
Bio1 Temperatura média anual 4.7
Bio18 Precipitação do trimestre mais frio 3.8
Bio16 Precipitação do trimestre mais chuvoso 3.2
Bio7 Amplitude térmica anual (bio5-bio6) 0.5
CONCLUSÕES
Os resultados apresentados neste estudo reforçam a importância dos modelos prediti-vos no estudo da distribuição de espécies, sugerindo que a modelagem de nicho ecológico pode fornecer importantes contribuições para a análise de padrões biogeográficos relacio-nados à distribuição da espécie. Com o modelo gerado é possível realizar inferências sobre distribuição geográfica da espécie e análises acerca de quais variáveis ambientais estão relacionadas com isto. Também é de grande proveito em campanhas de campo, onde se tem o objetivo de encontrar a espécie na natureza. Desse modo, apesar de corresponderem a modelos simplificados, baseados no nicho fundamental das espécies, os mapas de distri-buição apresentados podem direcionar novas amostragens em áreas com alta probabilidade de ocorrência para as espécies.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
204
REFERÊNCIAS
1. Anderson, R. P.; Martínez-Meyer, E. Modeling species geographic distributions for preliminar conservation assessments: an implementation with the spiny pocket mice (Heteromys) of Ecu-ador. Biological Conservation. p. 167-179, 2004.
2. Araújo MB, RG Pearson, W Thuillers, M Erhard. Validation of species-climate impact models under climate change. Global Change Biology. 11:1504-1513, 2005.
3. Brown, J. H.; Lomolino, M. V. Biogeografia. 2 nd ed. Funpec, Ribeirão Preto. p. 692, 2006.
4. Cruz, D. D. O., Freitas, B. M., Silva, L. A. D., Silva, E. M. S. D., & Bomfim, I. G. A. Pollination efficiency of the stingless bee Melipona subnitida on greenhouse sweet pepper. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 40: 1197-120, 2005.
5. Elith, J.; Leathwick, J. R. Species distribution models: ecological explanation and prediction across space and time. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics, Palo Alto, n. 40. p. 677- 697, 2009.
6. Garcia, A. Using ecological niche modelling to identify diversity hotspots for the herpetofauna of Pacific lowlands and adjacent interior valleys of Mexico. Biological Conservation. 130:25-46, 2006.
7. Global Biodiversity Information Facility: Report of the GBIF Metadata Implementation Framework Task Group (MIFTG).Copenhagen: Global Biodiversity Information Facility, 2016.
8. Guisan, A.; Thuiller, W. Predicting species distribution: offering more than simple habitat mo-dels. Ecology Letters,8:993-1009, 2005.
9. Hannah, L.; Midgley, G.; HugheS, G.; BomharD, B. 2005. The view from the Cape: extinctor risk, protected areas, and climate change. BioScience, Washington, v. 55, n. 3. p. 231 – 242, 2005.
10. Hickel, C. K. Modelagem da distribuição geográfica de espécies de Plebeia (Apidae, Meliponini) frente às mudanças climáticas na região subtropical. 2015.
11. Hijmans, R. J.; Cameron, S. E.; Parra, J. L.; Jone, S. P. G.; Jarvis, A. Very high resolution interpolated climate surfaces for global land areas. International Journal of Climatology, v. 25, n.15.p. 1965- 1978, 2005.
12. Hugall, A.; Moritz, C.; Moussalli, A.; Stanisic, J. Reconciling paleo-distribution models and comparative phylogeography in the Wet Tropics. PNAS, 99:6112–6117, 2002.
13. Hutchinson, G.E. Concluding Remarks. Cold Spring Harbor Symp. Quant. Biol., 22, p. 425-427, 1957.
14. Knudsen, J. T.; Mori, S. A. Floral scents and pollination in neotropical Lecythidaceae. Biotro-pica, v. 28, n. 1. p. 42-60, 1996.
15. Lorenzi, H. 1998.Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. Nova Odessa:Plantarum.p. 340, 1998.
16. Merow, C.; Smith, M.J.; Silander, J.A. A practical guide to MaxEnt for modeling species’ distribu-tions: what it does, and why inputs and settings matter. Ecography, 36(10). p. 1058-1069, 2013.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
204 205
17. MontagninI F.; Fanzeres, A.; Da Vinha, S.G. The potentials of 20 indigenous tree species for soil rehabili-tation in the Atlantic forest region of Bahia, Brazil. Jour-nal of applied ecology, v.32. p. 841-856, 1995.
18. Myers, N.; Mittermeier, R.A.; Mittermeier, C.G.; Fonseca, G.A.B.; Kent,J. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, 403:853-858, 2000.
19. Papeş, M.; Gaubert, P. Modelling ecological niches from low numbers of occurrences: asses-sment of the conservation status of poorly known viverrids (Mammalia, Carnivora) across two continents. Diversity and Distributions, 13:890-902, 2007.
20. Pearson, R. G. Species distribution modeling for conservation educators and practitioners, 2007. Disponível em: <http://ncep.amnh.org > Acesso em: 19 mar. 2016.
21. Phillips, S. J.; Anderson, R. P.; Schapire, R. E. 2006. Maximum entropy modeling of species geographic distributions.Ecological Modelling, Kidlington, v. 190, n. 3-4. p. 231- 59, 2006.
22. Phillips, S.J.; Dudik, M. Modeling of species distributions with Maxent: new extensions and a comprehensive evaluation. Ecography, 31(2). p. 161-175, 2008.
23. Siqueira, M.F.; Peterson, A.T.Consequences of global climate change for geographic distribu-tions of cerrado tree species. Biota Neotropica, 3(2): p. 1-14, 2003.
24. Pedro, S. R.). The stingless bee fauna in Brazil (Hymenoptera: Apidae). Sociobiology, 61: 348-354, 2014.
25. Species Link.). Sistema de informação distribuído para recuperação de dados de acervos de coleções biológicas e de observação em campo,2016.
26. Nogueira-Neto, P. Vida e Criação de Abelhas Indígenas Sem Ferrão. São Paulo: Nogueirapis, p. 445, 1997.
27. Swets J. A. Measuring the accuracy of diagnostic systems. Science,1988.
28. Silveira, F. A.; Melo G. A. R.; Almeida, E. A. B. Abelhas brasileiras: sistemática e identificação: Belo Horizonte,p. 253, 2002.
29. Thuiller, W. Climate change and the ecologist. Nature, London, v. 448, n. 2. p. 550-552, 2007.
15E s t u d o c o m p a r a t i v o e n t r e conhecimento popular e científico de plantas medicinais de espécies da família fabaceae
Mateus Santana RodriguesUFRA
Raquel Giselli Assis do RosárioUFRA
Marcela Vieira da CostaUFRA
Ellem Suane Ferreira AlvesUFRA
Maria Auxiliadora Feio GomesUFRA
10.37885/210404082
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
207
Palavras-chave: Etnobotânica, Plantas Medicinais e Ervas.
RESUMO
A etnobotânica estuda as relações populares que o homem tem sobre o uso das plan-tas. É através dela que se mostra o perfil de uma comunidade e seus usos, pois cada comunidade tem seus costumes e peculiaridades. Dessa forma, objetivou-se levantar espécies de plantas da família fabaceae comercializadas em uma feira popular e compa-rar o conhecimento dos erveiros com o científico através da literatura. Foram coletados dados dos três erveiros da “Feira do IV” por meio de questionários semiestruturados e os dados foram tabulados no software Excel e realizado estatística descritiva. Foram le-vantadas seis espécies de plantas medicinais da família fabaceae de maior potencial de vendas, sendo que as formas de consumo mais utilizadas foram: chás, óleo e garrafadas extraídas das folhas, cascas e sementes.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
208
INTRODUÇÃO
A etnobotânica estuda as relações populares que o homem tem sobre o uso das plan-tas. É através dela que se mostra o perfil de uma comunidade e seus usos, pois cada comu-nidade tem seus costumes e peculiaridades. A importância das informações etnobotânicas para o homem vem a ser o conhecimento de dados populares que podem, até então, estar restritos a determinadas pessoas ou regiões. Já para a saúde pública, estas informações etnobotânicas quando comprovadas cientificamente, podem ser utilizadas pela sociedade podendo ser mais acessível em relação ao custo/benefício (Martins et al., 2005).
A família Fabaceae é relatada em diversos trabalhos como uma das famílias de maior representatividade e maior importância na Amazônia. É a terceira maior família botânica existente com cerca de 19.325 espécies e está dividida em três subfamílias de acordo com suas características: Caesalpinioideae, Faboideae e Mimosoideae (Lima et al., 2016). Dessa forma, torna-se necessário estudos da família botânica destacando espécies medicinais, para se obter conhecimento do potencial medicinal.
O presente estudo teve como objetivos levantar as plantas medicinais da famí-lia Fabaceae comercializadas por raizeiros na “Feira do IV” localizada no município de Ananindeua-PA, verificando suas respectivas indicações terapêuticas, parte utilizada e o seu modo de utilização, além de analisar e comparar as informações obtidas com as indicações descritas pela literatura.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A etnobotânica, além de fazer o resgate das espécies de plantas utilizadas como re-médio, também valoriza o conhecimento popular das comunidades (Amorozo et al., 1996) e, por meio de estudos desta natureza, as plantas medicinais podem ter as ações terapêuticas conhecidas para serem posteriormente comprovadas. (Oliveira e Menini, 2012)
Segundo a Organização Mundial da Saúde (2008 apud LIMA et al., 2016), “as plantas medicinais são todas aquelas que contêm em um ou mais de seus órgãos substâncias que podem ser utilizadas com propósitos terapêuticos ou que sejam precursoras de semissíntese químico-farmacêutica”.
Segundo Veiga Jr. et al. (2005) “A utilização de plantas com fins medicinais, para tra-tamento, cura e prevenção de doenças, é uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade”, e nos dias atuais ainda é muito utilizada, o que torna um grande poten-cial para estudos na comunidade científica, despertando o interesse de pesquisadores em estudos envolvendo áreas multidisciplinares, como a botânica, farmacologia e fitoquímica, que juntas enriquecem os conhecimentos sobre a diversidade da fonte medicinal natural.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
208 209
METODOLOGIA
O trabalho foi realizado na “Feira do IV”, localizada no bairro da Cidade Nova IV no município de Ananindeua-PA. Foram coletados dados dos três erveiros presentes na feira através de questionário semiestruturado (MARTIN, 1995; ALBUQUERQUE et al. 2010) de natureza qualitativa. Os dados obtidos foram tabulados, analisados utilizando o software Excel e foi utilizada estatística descritiva.
A identificação botânica das ervas comercializadas foi feita através de estudos, pesquisas bibliográficas e comparadas com exsicatas presentes no Herbário Felisberto Camargo - FC.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Feira do IV apresenta três erveiros, nos quais são duas pessoas do gênero feminino (de 54 e 18 anos) e uma do gênero masculino (24 anos), que juntos abastecem a comercia-lização do local, oferecendo produtos medicinais naturais secos e embalados.
Foram levantadas seis espécies de plantas medicinais da Família Fabaceae de maior potencial de vendas (Tab.1). As formas de consumo mais utilizadas foram: chás, óleo e garrafadas extraídas das folhas, cascas e sementes como mostrados na tabela 1.
Tabela 1. Espécies medicinais levantadas na Feira do IV em Ananindeua-PA. Fonte: Própria
Nome popular Nome científico Modo de uso Parte utilizada
Barbatimão Stryphnodendron adstringens(Mart.) Coville Chá Folha
Copaíba Copaifera langsdorffii Desf. Chá, óleo egarrafada Casca
Jucá Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.)L.P.Queiroz Chá e garrafada Folhas e sementes
Sene Cassia occidentalis L. Chá Folha
Sucupira-branca Pterodon emarginatus Vogel Chá Semente
Pata-de-vaca Bauhinia forficata Link Chá Folha
Questionados sobre a forma de produção do chá, os erveiros recomendam em forma de fusão, no qual a água é fervida e depositada sobre o recipiente em que contém as partes secas das plantas, deixando-a abafada até esfriar para consumir.
Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville (Barbatimão)
De acordo com os relatos apresentados pelos feirantes o Barbatimão é indicado para pressão alta. Porém, não foi observada nenhuma informação na literatura para pressão alta e sim ser indicado para hemorragias uterinas, pele excessivamente oleosa, diarreia e hemorroidas (Lorenzi, 2008). Já Alves et al., (2016) descrevem ser indicado para resfriado, cicatrizante de úlceras e feridas.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
210
Copaifera langsdorffii Desf. (Copaíba)
Os erveiros relatam a Copaíba como remédio para inflamações, o que está de acordo com Lorenzi (2008), o qual descreve a utilização da Copaíba como antiflamatório, problemas respiratórios e intestino preso.
Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz (Jucá)
Segundo os erveiros o Jucá é utilizado como cicatrizante, para inflamação, tosse e hemorroida. De acordo com Lorenzi (2008) e Silva et al., (2018) relatam o uso de Jucá como cicatrizante, anti-inflamatório e eficiente contra tosses.
Cassia angustifolia Vahl (Sene)
De acordo com os relatos apresentados pelos feirantes o Sene é indicado para ema-grecimento. Segundo Peron et al. (2008), a planta é indicada na prisão de ventre, efeito laxante nos casos de pré e pós-operatórios.
Pterodon emarginatus Vogel (Sucupira-branca)
De acordo com os relatos apresentados pelos feirantes a Sucupira-branca é vendida para infecção de garganta e tosse. Para Lorenzi (2008) e Oliveira et al., (2018) é uma espécie com efeitos cicatrizantes, antioxidante e para diabetes.
Bauhinia forficata Link (Pata-de-vaca)
As indicações de Pata-de-vaca segundo os erveiros são para problemas nos rins, dia-betes, hipertensão, anemia e doenças urinárias. Relatos estes que conferem com os apre-sentados por Lorenzi (2008). Assim como Lino et al. (2004), mostra estudos da ocorrência de atividade antidiabética e Farias et al., (2018), relata o uso com ação calmante e analgésica.
CONCLUSÕES
O conhecimento popular é de grande valia para a pesquisa, porém, há necessidade de mais estudos em relação aos fins fitoterápicos, pois indicações erradas podem trazer con-sequências graves para o paciente levando até ao óbito. Ainda existe pouco conhecimento nessa área principalmente pela falta de conhecimento botânico das espécies.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
210 211
REFERÊNCIAS
1. ALBUQUERQUE, Ulysses Paulino; LUCENA, Reinaldo Farias Paiva; CUNHA, Luiz Vital Fer-nandes Cruz da (orgs.). Métodos e técnicas na pesquisa etnobiológica e etnoecológica. 2ª ed. Recife: COMUNIGRAF. 2010, p. 529-559.
2. ALVES, C.A. B.; SILVA, S. DA ; BELARMINO, N. A. L. DA A. ; SOUZA, R. S. ;SILVA, D. R. DA ; ALVES, P. R. R.;NUNES, G. M. Comercialização de plantas medicinais: um estudo etnobotânico na feira livre do município de Guarabira, Paraíba, nordeste do Brasil. Gaia Scientia,v.10(4): 390-407, 2016.
3. AMOROZO, M.C.M.; REIS, M.S.; FERRI, P.H. A Abordagem etnobotânica na pesquisa de plantas medicinais. In: DI STASI, L.C. (Org.). Plantas medicinais: arte e ciência - um guia de estudo interdisciplinar. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1996. p.47-68.
4. FARIAS, F.L; PIRES, L.L.S; SILVA JÚNIOR, R.I.D; PAVÃO, J.M.D.S.J; ROCHA, T.J.M; SAN-TOS, A.F.D. Avaliação da atividade antibacteriana de extrato etanólico da Bauhinia for-ficata L. Diversitas Journal. Santana do Ipanema/AL, v. 3, n. 2, p.402-411, mai./ago. 2018.
5. LIMA, I.E.O.; NASCIMENTO, L.A.M.; SILVA, M.S. Comercialização de Plantas Medicinais no Município de Arapiraca-AL. Rev. Bras. Pl. Med., Campinas, v.18, n.2, p.462-472, 2016.
6. LINO, C.S; DIÓGENES J.P.L; PEREIRA, B.Z; FARIA, R, A, P; Neto, ANDRADE NETO, A; AL-VES, R.S; QUEIROZ, M.G. R; SOUSA, F.C.F; VIANA, G.S.B. Antidiabetic Activity of Bauhinia forficata Extracts in Alloxan-Diabetic Rats. Biological & pharmaceutical bulletin. 27. 125-7. 10.1248/bpb.27.125. 2004.
7. LORENZI, H. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. 2 ed. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarium, 2008.
8. MARTIN, Gary. J. Ethnobotany: a people and plants conservation manual. Londres: Cha-pman e Hall. 1995.
9. MARTINS, A. G; ROSÁRIO, D. L; BARROS, M. N & JARDIM, M. A. G. Levantamento etno-botânico de plantas medicinais, alimentares e tóxicas da Ilha do Combu, Município de Belém, Estado do Pará, Brasil. Rev. Bras. Farm., 86(1): 21-30, 2005.
10. OLIVEIRA, E.R; MENINI NETO, L. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais utilizadas pelos moradores do povoado de Manejo, Lima Duarte – MG. Rev. Bras. Pl. Med., Botucatu, v.14, n.2, p.311-320, 2012.
11. OLIVEIRA, G. R. DE;LIMA, C. B. DE;RIBEIRO,L. M. C. S.;CAFÉ, M. B.; MOREIRA, J. DA S. ;OLIVEIRA, E. M. DE;RACANICCI, A. M. C. Adição de óleo de copaíba (copaifera langs-dorffii) e sucupira (pterodon emarginatus) na alimentação de poedeiras: qualidade física de ovos armazenados em diferentes temperaturas. Cienc. anim. bras., Goiânia, v.19, 1-12, e-41508, 2018.
12. PERON, A. P., MARCOS, M. C., CARDOSO, S. C., VICENTINI, V. E. P. Avaliação do poten-cial citotóxico dos chás de Camellia sinensis L. e Cassia angustifolia vahl em sistema teste vegetal. Arq. Ciênc. Saúde Unipar, Umuarama, v. 12, n. 1, p. 51-54, jan./abr. 2008.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
212
13. SILVA, A. H. D.A; SANTOS, E. A. V. D; SILVA, K. N. Estudo farmacobotânico de folhas de Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P. Queiroz (Fabaceae-Caesalpinioideae).In: CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA E ENSINO EM CIÊNCIAS, 3, 2018,Campina Grande. Anais 2018. Campina Grande,PB, 2018.
14. VEIGA, V. F; PINTO, C. A. Plantas Medicinais: Cura Segura?. Quim. Nova, Vol. 28, No. 3, 519-528. Rio de Janeiro. 2005.
16Exame andrológico em animais de produção e companhia para comunidade externa
João Victor da Silva TeodoroIF Goiano Campus Urutaí
Geisiana Barbosa GonçalvesIF Goiano Campus Urutaí
Wesley José de SouzaIF Goiano Campus Urutaí
Daniel de Almeida RabelloIF Goiano Campus Urutaí
Daniele Alves Corrêa de AbreuIF Goiano Campus Urutaí
Nathallia Almeida PiresIF Goiano Campus Urutaí
Andressa Silva NascimentoIF Goiano Campus Urutaí
Gustavo Gonçalves RibeiroIF Goiano Campus Urutaí
Yuri Faria CarneiroIF Goiano Campus Urutaí
Luís Fernando Martins MendesIF Goiano Campus Urutaí
10.37885/210303922
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
214
Palavras-chave: Andrologia, Reprodução, Machos.
RESUMO
Objetivo: avaliar a saúde reprodutiva dos machos utilizados nas propriedades, através de exame andrológico e orientar os produtores e tutores de animais de companhia sobre como manejar e aproveitar melhor o potencial desses animais nos acasalamentos, além de ressaltar a importância das características andrológicas do macho na eficiência repro-dutiva da criação. Resultados: em algumas propriedades, foi orientado o descarte de alguns animais que não estavam aptos à reprodução (em bovinos). Em cães, apenas um cão atendido não obteve resultados satisfatórios pois não conseguiu ejacular. Conclusão: com a execução do projeto, foi possível levar aos produtores e tutores informações e conhecimentos acerca da qualidade da saúde reprodutiva dos animais de produção como de companhia respectivamente, orientando sobre a importância dos cuidados a serem executados com todos os animais.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
214 215
INTRODUÇÃO
A fertilidade do macho nos programas de reprodução é muito maior do que a de qualquer fêmea isoladamente, visto que o macho pode se acasalar com número maior de fêmeas, tanto nos sistemas de monta natural como na inseminação artificial. A fim de evitar a ocorrência de problemas de subfertilidade ou infertilidade nos machos, que por sua vez, podem comprometer os índices de fertilidade do rebanho, os exames andrológicos se fazem imprescindíveis na seleção dos reprodutores e acompanhamento de seus desempenhos reprodutivos (BARBOSA et al., 2005).
A andrologia é essencial no estudo das funções reprodutoras do animal macho, abor-dando as características de ereção, capacidade ejaculatória e libido. O exame andrológico auxilia claramente na análise de alterações no estado da saúde reprodutiva e dos requisi-tos de maturidade sexual e reprodutivas dos reprodutores, favorecendo e estabelecendo evolução na criação e prevenindo eventuais problemas. A essência do exame andrológico é caracterizar o potencial reprodutivo dos animais e deve atender ao diagnóstico da saúde sexual, saúde hereditária e saúde reprodutiva tanto no aspecto da capacidade de monta (potentia coeundi) quanto na capacidade fecundante (potentia generandi).
O objetivo do projeto foi avaliar a saúde reprodutiva dos machos utilizados nas pro-priedades, e orientar os produtores e tutores de animais de companhia sobre como manejar e aproveitar melhor o potencial desses animais nos acasalamentos, além de ressaltar a importância das características andrológicas do macho na eficiência reprodutiva da criação.
MÉTODO
O serviço de extensão rural possibilitou aos produtores que tiveram suas propriedades atendidas, uma avaliação geral da saúde reprodutiva de seus reprodutores. Essa avaliação feita pelo responsável técnico permite definir em que situação estavam os parâmetros repro-dutivos dos animais, permitindo o diagnóstico de patologias, ou alterações que prejudicam a saúde reprodutiva.
Ao visitar as propriedades rurais era feito a anamnese dos animais que seriam ava-liados, os dados coletados eram: regime de atividade sexual (monta natural/doador de sê-men); número de fêmeas cobertas pelo reprodutor; tipo de alimentação; situação sanitária e reprodutiva do rebanho. Os animais atendidos foram bovinos. Após essa avaliação inicial, o próximo passo é a avaliação clínica geral, a partir desta etapa é necessário avaliar o animal em tronco de contenção para evitar acidentes com o animal e o profissional da avalição, durante a examinação do animal faz- se a inspeção do sistema nervoso, respiratório, circu-latório, digestivo e locomotor, avaliando as condições de aprumos, cascos e articulações, se
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
216
necessário faz- se a avaliação mais detalhada caso haja alguma alteração. Para avaliação do sistema genital dois fatores são importantes para tal, como inspeção e palpação. Nesta etapa avalia- se dimensões, presença, simetria, mobilidade e consistência dos órgãos en-volvidos no sistema, relacionando com idade e estado do animal. Para avaliação dos órgãos é ideal sempre definir uma sequência para facilitar o manejo durante o exame, dessa forma inicia- se a avaliação do escroto verificando se há presença de carrapatos e feridas, grau de mobilidade, sensibilidade, temperatura, espessura e aderências, se houver alterações anote- as na no laudo. Quanto a avaliação testicular é necessário avaliar a forma (oval/alongada), simétricos quanto tamanho e forma, mobilidade em todas direções, quanto a sensibilidade não apresentar sinais de dor, temperatura inferior à do corpo, posição de acordo com a par-ticularidade de cada espécie e tamanho com base em alterações que houver. Quanto aos epidídimos são avaliados conforme forma, tamanho e posição de cada espécie. Quanto ao prepúcio avalia- se a presença de ferimentos, o pênis deve passar livremente pelo óstio pre-pucial e também verificar se há presença de edemas. Quanto ao pênis avaliar sob repouso e exposição, tamanho, mobilidade, mucosa, secreções e presença de anormalidades. Por fim do exame genital avalia- se as glândulas anexas quanto presença, tamanho e localiza-ção, pode ser utilizado como estratégia de avaliação, aparelho de ultrassonografia por via transretal ou abdominal dependendo da espécie.
É necessário avaliar a libido do animal, como parâmetro geral utilizamos como estratégia de avaliação o interesse pela fêmea, monta, introdução e descida. Para coleta do sêmen em bovinos utiliza- se eletroejaculador, a probe é introduzida no reto e são realizadas descargas elétricas controladas para estimular a ereção e posterior ejaculação para coleta do sêmen e análise. O espermograma, segundo componente do exame especial, deve ser realizado de forma criteriosa e sistemática e consiste na avaliação macroscópica: volume (mL), aspecto (aquoso, soroso, leitoso e cremoso), odor, cor (branco, amarelo), pH; e avaliação micros-cópica: motilidade massal ou turbilhonamento (0-5), motilidade individual progressiva; (%), vigor (0-5), morfologia (defeitos maiores e defeitos totais, %) e concentração espermática (sptz/mm3) (CBRA, 2011). Nas propriedades atendidas a avaliação andrológica eram feitas conforme os critérios citados acima.
Em algumas propriedades também foram avaliados carneiros, os métodos de avaliação foram semelhantes aos de bovinos, diferenciado- se o método de coleta que foi realizada pela utilização de vagina artificial.
Na avaliação de animais de companhia foram feitas análises andrológicas de cães. Os métodos utilizados foram semelhantes aos de bovinos, diferenciando- se o méto-do de coleta que era realizada pela técnica de excitação mecânica onde é coletado apenas o sêmen de animais treinados ou na presença de uma fêmea no cio.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
216 217
Figura 1. avaliação transretal de glândula acessória
Fonte: do autor.
Figura 2. Teste de libido
Fonte: do autor
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
218
Figura 3. estimulação por meio de eletroejaculador
Fonte: do autor
Figura 4. coleta de sêmen bovino
Fonte: do autor
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
218 219
Figura 5. coleta de sêmen de cão
Fonte: do autor
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre os touros da raça Nelore, avaliados no presente estudo, um foi caracterizado como inapto, quando submetido ao exame das características físicas do ejaculado, com auxílio de microscópio num aumento de 200 a 400 vezes, o turbilhonamento foi de 2, moti-lidade espermática 40% e 1 de vigor, além de já ter tido 6% de defeitos maiores e 8% para defeitos menores. Seguindo as medidas do CBRA (1998) onde o turbilhonamento segue escala de 1 a 5, motilidade espermática progressiva retilínea (0 – 100%) e o vigor espermá-tico de 0 a 5. Este animal foi considerado inapto temporariamente, após duas reavaliações, com intervalos de 15 dias, os resultados continuaram insatisfatórios, sendo assim, o animal foi considerado inapto, o descarte foi sugerido ao produtor.
Os defeitos individuais de anormalidades do sêmen não devem ultrapassar de 5% para defeitos maiores e 10% para defeitos menores por touro avaliado (FRENEAU, 2011). Conforme a EMBRAPA (2000) o valor preferencial para a motilidade espermática é que esta seja superior a 50%, com vigor superior a 2, porém efetivamente coerente com a % de espermatozóides normais. Os indivíduos que não estejam dentro destes padrões devem ser reavaliados.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
220
A identificação destes touros deve ser rigorosa, pois o uso racional destes reprodutores possibilita reduzir o número de touros na propriedade, reduzindo os custos e possibilitando manter uma fêmea produtiva adicional, em seu lugar (BUSS CRUZ, 2007).
Houve considerada procura de inseminação em cães, os criadores têm se preocupado mais com os aspectos relacionados à reprodução, principalmente aos de alto valor zootéc-nico. Foi necessário alertar alguns tutores sobre acasalamentos, a fim de evitar a consan-guinidade, pois a reprodução pode ser comprometida em animais com parentescos muito próximos. De acordo com SOUZA (2017), o coeficiente máximo de consanguinidade aceito pela maioria das associações de criadores para registro de ninhadas é de 12,5%.
Alguns cães jovens apresentaram falha na libido, devido ao ambiente que foi realizada a coleta do sêmen, por ser diferente do que estava acostumado, também estranhou a equi-pe. Sendo necessário levar este animal mais vezes ao local até se acostumar e acalmar. Conforme Johnson (2006), os cães sexualmente inexperientes ou submissos podem ser intimidados por cadelas dominantes ou ambientes estranhos.
Os carneiros obtiveram aceitáveis índices reprodutivos, tanto no exame do sêmen quanto no exame clínico, sendo todos aptos a reprodução. Esses machos não apresentaram alterações clínicas ou comportamentais, suas produções espermáticas foram quantitativas e qualitativamente compatíveis com animais de fertilidade comprovada. Conforme MORAES (2019), a avaliação clínica dos carneiros visando obter informações sobre sua fertilidade potencial é o primeiro e o principal componente da avaliação andrológica. Segundo SILVA (2011), a seleção de reprodutores por meio do exame andrológico tem por finalidade a ob-tenção de informações que permitem estimar o potencial reprodutivo.
CONCLUSÃO
A partir da execução do projeto, foi possível levar aos produtores e tutores informações e conhecimentos acerca da qualidade da saúde reprodutiva do reprodutor tanto de animais de produção como de companhia. Orientando sobre a importância dos cuidados a serem executados com todos os animais. Evidenciando os possíveis prejuízos que podem ser ge-rados com a negligência da saúde reprodutiva do macho reprodutor. Outro fator importante com a execução deste foi à assistência de médico veterinário e graduandos as propriedades rurais, que não possuíam condições para arcar com os custos de tal assistência, e com a execução do projeto de extensão, tiveram acesso de forma gratuita. Esses produtores foram também orientados acerca do melhoramento genético do rebanho, informando sobre cru-zamentos, e assim possibilitando aumentar a lucratividade. Quanto aos tutores de cães, o exame andrológico antes do cruzamento foi de extrema importância no sucesso reprodutivo, foram também orientados quanto a saúde reprodutiva.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
220 221
AGRADECIMENTOS E/OU FINANCIAMENTOS
Ao Instituto Federal Goiano – Campus Urutaí pelo apoio financeiro e ao Grupo de Estudos em Reprodução Animal (GERA).
REFERÊNCIAS
1. ALFARO, C. H. Importância da avaliação andrológica na seleção de reprodutores a cam-po. Revista Brasileira de Reprodução Animal, Belo Horizonte, ano 2011, v. 35, ed. 2, p. 152-153. E-book.
2. BARBOSA, R. T.; MACHADO, R.; BERGAMASCHI, M. A. C. M. A importância do exame andrológico em bovinos. São Carlos, SP: Embrapa Pecuária Sudeste, 2005. 13 p. (Embrapa Pecuária Sudeste. Circular técnica, 41).
3. BUSS CRUZ, F. Alternativas para maximizar a capacidade reprodutiva de bovinos. Disser-tação (Mestrado), Pós-Graduação em Ciências 463 Veterinárias (CAV-UDESC), Lajes/SC, 2007.
4. COLÉGIO BRASILEIRO DE REPRODUÇÃO ANIMAL – CBRA. Manual para exame andro-lógico e avaliação de sêmen animal. 2.ed. Belo Horizonte: CBRA, 1998. 49p.
5. EMBRAPA. A predição da fertilidade de touros. Comunicado Técnico, nº 29. Bagé, RS: Embrapa Pecuária Sul. Agosto/2000, p3.
6. FRENEAU G.E. Aspectos da morfologia espermática em touros. Revista 484 Brasileira Reprodução Animal, Belo Horizonte, v.35, n.2, p.160-170, abr./jun. 485 2011.
7. JOHNSON C. Conceitos atuais sobre infertilidade no cão. Waltham Focus. v.16, p.7-12, 2006.
8. MORAES, J. C. F, SOUZA C.J.H. Uma revisão sobre a execução do exame andrológico nos carneiros. Bagé RS: Embrapa Pecuária Sul, 2019. 21p.
9. SOUZA. F.F. Critérios para exame andrológico em cães. Anais da 2ª Reunião da Associação Brasileira de Andrologia Animal (ABRAA). 1.ed. Uberlândia, MG: Embrapa Pantanal Corumbá, MS 2017. 201p.
10. SILVA, A. L. M. Optimização do manejo reprodutivo de uma exploração de bovinos em regime extensivo. 2011. 74 f. Dissertação (Mestrado em medicina veterinária) – Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 2011.
17Extratos de plantas bioativas como alternativa para o controle da mosca branca na cultura do tomateiro
Mateus FinklerFURG
Carlo Juliantro GiehlUFRGS
Ana Silvia RolonFURG
Nathalia de Oliveira Telesca CamargoUFRGS
Eduardo GuatimosimFURG
10.37885/210303468
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
223
Palavras-chave: Agroecologia, Bemisia Tabaci, Cymbopogon Nardus, Extratos Herbais, Plantas Repelentes.
RESUMO
As chamadas plantas bioativas são consideradas aquelas que possuem alguma ação sobre outros seres vivos e cujo efeito pode manifestar-se tanto pela sua presença em um ambiente quanto pelo uso direto das substâncias extraídas, desde que mediante uma intenção ou consciência humana deste efeito. Dentro deste conceito, estão as plantas medicinais, condimentares, aromáticas, inseticidas, repelentes, tóxicas, entre outras. O es-tudo destas plantas tem despertado um grande interesse nos últimos anos, em função, principalmente, de seu aproveitamento na agroecologia e, de uma forma mais recente, da criação da Política Nacional da Plantas Medicinais e Fitoterápicos. As plantas bioativas apresentam-se com potencial para o manejo da Bemisia tabaci, principalmente nos cená-rios de produção agroecológica. Dentre essas plantas, a citronela (Cymbopogon nardus) evidencia-se com elevado potencial devido sua ação repelente, já elucidada. Na busca por mecanismos agroecológicos de manejo da mosca branca em sistema de produção orgânica, este capítulo tem o objetivo de analisar o potencial de repelência do extrato de citronela sobre mosca branca no cultivo de tomateiro em ambiente protegido.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
224
INTRODUÇÃO
A mosca branca que ataca a cultura do tomate, Bemisia tabaci biótipo B, pertence à ordem Hemiptera, família Aleyrodidae e se alimenta do floema das plantas, causando danos diretos e indiretos (Villas Bôas et al., 1997). Tais moscas são vetoras de importantes vírus de plantas, como é o caso dos geminivírus (Schuster et al., 1990). Atualmente, a cultura do tomate é uma das mais afetadas por B. tabaci biótipo B, causando grande impacto so-cioeconômico em todo o mundo (Haji et al., 2005). As perdas de produção podem chegar a 100% dependendo da severidade da infestação. De acordo com Schuster et al., (1996), o complexo Bemisia spp. pode transmitir cerca de 44 viroses, sendo que as perdas resultan-tes das infecções por vírus são mais significativas do que aquelas relacionadas aos danos diretos. Nesse sentido, é essencial o desenvolvimento de pesquisas atuais no Brasil que possam encontrar alternativas menos agressivas ao meio ambiente e a saúde do ser huma-no, priorizando a diminuição do uso excessivo de inseticidas na agricultura, adequando-se com a região e a realidade de produção do país.
DESENVOLVIMENTO
O tomateiro – Aspectos botânicos, cultivares e produção
O tomate (Solanum lycopersicum) é uma planta herbácea e perene, mas em muitos casos é cultivada como planta anual, de hábito de crescimento indeterminado (crescimento contínuo, apresentando os cachos florais de três em três internódios, separados por três folhas) ou crescimento determinado (apresenta menos de três folhas entre os cachos flo-rais e o ponteiro pode terminar em um cacho) (Silva et al., 2000). A inflorescência é uma cimeira simples, bifurcada ou ramificada. As flores do gênero Solanum são hermafroditas e os estiletes ficam normalmente protegidos por um cone de cinco ou seis anteras. A espé-cie Solanum lycoperscicum apresenta seis anteras e as demais apenas cinco (Silva et al., 2000). O fruto possui tamanhos e formatos variáveis. Internamente, os frutos podem ser bi, tri, tetra ou pluriloculares. O fruto maduro pode ser vermelho, rosado ou amarelo. O gênero Solanum possui uma grande variabilidade genética, que possibilita o desenvolvimento de cultivares para atender as mais diversas demandas do mercado de tomate para indústria e/ou para consumo in natura (Silva et al., 2000). Ao todo, o gênero possui 10 espécies capa-zes de se combinar com S. lycopersicum, entre elas: S. hirsutum, S. peruvianum, S. chilen-se, S. pennellii, S. cheesmanii, S. neorickii, S. chmielewskii, S. pimpinellifolium, S. galapa-gense e S. parviflorum. Apesar de não serem exploradas comercialmente, estas espécies são extremamente úteis em programas de melhoramento devido a presença de material
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
224 225
genético capaz de contribuir para o aumento da resistência a doenças provocadas por in-setos, bem como a fatores bióticos e abióticos (Ferreira, 2004).
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografica e Estatística (IBGE), a produção do tomateiro é crescente no Brasil, e o país está entre os dez maiores produtores de tomate no mundo, com uma produção que beira 4 milhões de toneladas. Nesse sentido, seu cultivo ocorre em cerca de 54 mil hectares espalhados por todo o país. Portanto, é a 7º hortaliça com o maior número de estabelecimentos. No país, o chamado “tomate de messa” ocupa mais de 40 mil hectares, distribuídos principalmente nos estados de SP, MG, RJ, BA, PE, SC e ES. O Brasil caracteriza-se pelo alto índice de pequenas e médias propriedades de estrutura familiar responsável por aproximadamente 60% da produção de tomates. Esta adesão da agricultura familiar pela cultura do tomate se dá devido a difícil mecanização do cultivo e a fácil comercialização em mercados locais (Carelli et al., 2003).
A utilização de híbridos já está consolidada no Brasil e vêm atender todos os merca-dos para a produção de tomate, principalmente dos dois grandes grupos, tomate para a indústria e tomate de mesa. A produção na agricultura familiar, caracterizada pela produção de tomate de mesa, é caracterizada pela produção própria das sementes. As cultivares de tomate destinadas ao consumo in natura, podem ser divididas em quatro grandes grupos, sendo eles: Cereja, Salada, Santa Cruz e Italiano (Embrapa, 2018). Todas estas cultivares possuem variedades híbridas que sofreram melhoramento genético e todas elas estão es-palhadas pelas regiões produtoras de tomate do Brasil.
Mosca branca (Bemisia tabaci)
A mosca branca (Bemisia tabaci) foi descrita como Aleurodes tabaci por Gennadius, em 1889, em plantas de tabaco (Nicotiana tabacum), na Grécia. Todavia, devido a variações morfológicas apresentadas pelo pupário, que é o elemento de valor taxonômico, em função da planta hospedeira onde a ninfa se criou (Mound, 1963), esse inseto foi redescrito várias vezes, sendo as sinonímias listadas por Mound & Halsey (1978). Popularmente conhecido como mosca branca, Bemisia tabaci é um inseto picador-sugador que possui ampla gama de hospedeiros. Trata-se de um inseto polífago havendo registro de pelo menos 506 espé-cies de plantas, entre 74 famílias botânicas diferentes como suas hospedeiras (Greathead, 1986). Apresenta reprodução sexuada ou partenogenética. Os adultos são pequenos, me-dindo 1 a 2 milímetros de comprimento, possuem aparelho bucal picador-sugador e dois pares de asas de coloração branca. Quando em repouso, as asas são mantidas levemente separadas, com os lados paralelos e podendo-se visualizar o abdômen, cuja coloração é amarela. Os ovos têm o formato de pera, coloração amarela nos primeiros dias e marrom quando próximos à eclosão. São depositados na face inferior das folhas e presos por um
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
226
pedúnculo curto. As ninfas têm aparelho bucal sugador-picador, são translúcidas e apre-sentam coloração amarela a amarelo-claro. Logo após a eclosão, se locomovem sobre as folhas, procurando um local para se fixarem e iniciarem a sucção da seiva. Quando próximo à emergência dos adultos, através do tegumento das ninfas, podem ser percebidos a forma do adulto e o aparecimento de olhos (ocelos) vermelhos. A emergência do adulto realiza-se por meio de uma abertura em forma de “T” invertido, na região anterior dorsal do pupário (exúvia do último ínstar da ninfa) (Haji et al., 2005).
O potencial reprodutivo da mosca branca depende da fecundidade, duração do ciclo biológico e razão sexual (Hilje-Quirós, 1995). Seu desenvolvimento é influenciado pelo pe-ríodo quente e seco, sendo que a precipitação pluviométrica a campo (em ambientes não protegidos) contribui para a redução de sua população (Haji et al., 2005). Segundo Villas Bôas (2005), o acasalamento começa de 12 horas a 2 dias após a emergência. Copulam várias vezes e o período de pré-oviposição é variável com as diferentes épocas do ano, podendo durar de 8 horas a 5 dias. A fêmea coloca de 100 a 300 ovos durante toda a sua vida, sendo que a taxa de oviposição depende da temperatura e da planta hospedeira. Quando ocorre escassez de alimento, as fêmeas interrompem a postura.
Danos diretos e indiretos causados pela Bemisia tabaci
Os sintomas associados aos danos diretos podem ser manifestados pela liberação de excreções açucaradas que favorecem o desenvolvimento de fumagina nas folhas, re-duzindo o processo fotossintético, afetando a produção e a qualidade dos frutos (Salguero, 1993). No que se refere aos danos indiretos, é sabido que moscas brancas são vetoras de vírus, principalmente aqueles pertencentes ao grupo dos Geminivírus. A ação dos vírus, de um modo geral, apresenta sintomatologia característica. A base dos folíolos adquire inicial-mente, uma clorose entre as nervuras, evoluindo para um mosaico amarelo. Posteriormente, os sintomas se generalizam, as folhas tornam-se coriáceas e com intensa rugosidade, po-dendo ocorrer o dobramento ou enrolamento dos bordos para cima (Lastra, 1993). Nos fru-tos, os sintomas são evidenciados por anomalias ou desordens fito tóxicas, caracterizadas pelo amadurecimento irregular, causado pela injeção de toxinas durante a alimentação do inseto (Lourenção et al., 1994). A desuniformidade na maturação dos frutos dificulta o ponto de colheita, reduz a produção e no caso do tomate para indústria, a qualidade da pasta. Internamente, os frutos apresentam-se esbranquiçados, com aspecto esponjoso ou “isopo-rizados” (Haji et al., 1996). Para a elaboração de estratégias de manejo do vetor na cultura do tomate é importante o conhecimento sobre a biologia da praga (Villas Bôas et al., 1997).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
226 227
Plantas bioativas - Cymbopogon nardus (citronela) – Histórico e benefícios
O Brasil possui uma das biotas mais ricas do mundo e cada vez mais estão sendo pesquisadas fontes alternativas ao uso de inseticidas, principalmente na agricultura fami-liar. As chamadas plantas bioativas são consideradas aquelas que possuem alguma ação sobre outros seres vivos e cujo efeito pode se manifestar tanto pela sua presença em um ambiente, quanto pelo uso direto das substâncias extraídas.
Um exemplo é a planta Azadirachta indica (nim), a qual é utilizada na forma de óleo (óleo de nim), para combate ovicida de B. tabaci (Tavares et al., 2010). Outra planta estudada é Melia azedarach (cinamomo) que é utilizado na forma de extrato (extrato de cinamomo) também para combate ovicida. Além destas, existem ainda muitas outras espécies de plantas com potencial para serem exploradas, como é o caso de Cymbopogon nardus (citronela).
A citronela (utilizada na forma de extrato ou óleo), tem efeito positivo na repelência de insetos indesejados, como é o caso do Gorgulho do milho (Sitophilus zeamais) (Pinto Junior et al., 2006), do mosquito Aedes albopictus (Mosquito Tigre Asiático) e Aedes aegypti (Pernilongo Rajado) ambos vetores do vírus da dengue (Bueno et al., 2010). Na literatura, ainda não foram descritos trabalhos científicos que pesquisaram a ação repelente do extrato de citronela sobre a mosca branca do tomateiro, porém, Tavares et al. (2010), utilizaram extrato de citronela para testar a ação ovicida em mosca branca. Em seu experimento, os autores identificaram que o extrato de citronela obteve 59,17% de controle sobre os ovos de B. tabaci.
As substâncias do princípio ativo da citronela são geraniol, citronelol e citronelal, que são encontradas na composição molecular da espécie vegetal, e é o que proporciona a ação de repelência de determinados insetos à planta, ao seu extrato ou seu óleo. (Ming et al., 1998). Sendo uma planta presente em muitas unidades produtivas agrícolas da região sul do Brasil, a citronela é utilizada como planta medicinal pelas famílias, devido ao seu conhecido poder de repelência, estar plenamente disponível nas propriedades e ser de fácil manuseio, além de adaptar-se bem ao clima tropical e subtropical (Castro et al., 1995), não suportando temperaturas muito baixas, tampouco geada.
Normalmente as plantas de citronela apresentam boa resistência ao ataque de pra-gas, no entanto, a qualquer desequilíbrio, a resistência fica prejudicada. Um fator que pode gerar desequilíbrio é o estado nutricional das plantas (Martins et al., 2000). Portanto, o monitoramento do ambiente onde as plantas são cultivadas e o conhecimento a respeito das exigências nutricionais e dos tratos culturais necessários pela espécie são de extrema importância para a obtenção de plantas com qualidade fitoquímica e sanitárias.
No seu período de crescimento, a planta é exigente em água, porém, na colheita, o excesso de chuvas pode baixar seu teor de óleo essencial (Castro et al., 1995). Na literatura,
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
228
são encontradas disparidades no que diz respeito a nomenclaturas, onde muitos autores acabam utilizando os termos de forma equivocada, como é o caso de ‘extrato’ e ‘óleo essen-cial’. O termo mais utilizado nos trabalhos científicos é óleo essencial (quando referido ao produto derivado da citronela), mesmo em muitos momentos descrevendo ou referindo-se ao extrato da planta. Os dois termos são confundidos, mas referem-se a dois resultados di-ferentes de um preparado vegetal. Extratos vegetais são aqueles que utilizam como solvente de extração a glicerina vegetal ou o álcool (Flora Fiora, 2016). Já os óleos essenciais são extraídos de plantas através da técnica de ‘arraste a vapor’ e pela prensagem do pericarpo de frutos cítricos, e caracterizam-se pela concentração mais pura do princípio ativo da planta (Bizzo et al., 2009).
A citronela do Ceilão (Cymbogopon nardus) é uma planta aromática que ficou conhe-cida por fornecer matéria-prima para a fabricação de repelentes contra mosquitos. O óleo essencial e o extrato de citronela são as formas mais utilizadas contra insetos, pois este preparado contém geraniol, citronelol e citronelal (Ming et al., 1998). Estas substâncias que estão presentes na composição molecular da espécie vegetal são as responsáveis pela repelência de determinados insetos à planta.
O citronelol é um monoterpeno acíclico bastante estável que apresenta ponto de ebu-lição em 225°C, densidade de 0.855 g/cm³ e massa molar de 156.27 g/mol. Possuí aspecto oleoso, é um líquido com odor irritante de coloração levemente amarelada, pouco solúvel em água e sem nenhuma afinidade por agentes oxidantes (Óleos Essenciais, 2017). O ci-tronelal é um monoterpeno biologicamente ativo, solúvel em água. Trata-se de um líquido incolor bastante instável, com ponto de ebulição em torno de 205°C, densidade de 0.855 g/cm³ e massa molar de 154.25 g/mol (Óleos Essenciais, 2017). Por fim, o geraniol é um álcool terpênico insolúvel em água, apresenta uma coloração amarelada, solidifica-se a -15 °C, é evaporado a 230 °C e apresenta um agradável odor, devido a isso é vastamente utilizado pelas indústrias de cosméticos e de perfumaria (Óleos Essenciais, 2017).
Estes três monoterpenos não são passíveis de separação, seja na realização do ex-trato alcoólico, ou mesmo na obtenção do óleo essencial da planta. Este tipo de trabalho só é realizado em laboratórios ou em indústrias do ramo de cosmética e/ou de perfumaria com equipamentos específicos. Desta maneira, após a realização do extrato alcoólico de citronela e respeitado o tempo de maturação deste extrato, o produto elaborado adquire ca-racterísticas repelentes, as quais já são muito exploradas na repelência do mosquito Aedes aegypti, por exemplo (Óleos Essenciais, 2017). Para Patro (2013), além do efeito de repe-lência apresentado através do extrato da planta, a citronela apresenta efeitos alelopáticos positivos, quando cultivada em conjunto com outras plantas, repelindo pragas e protegendo
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
228 229
as plantas companheiras. Pode ser plantada em canteiros ou como bordadura em grandes áreas produtivas.
Sobre a forma de preparo do extrato e a proporção de diluição da calda em água, Freitas et al., (2005); Moreira et al., (2006); Baldin et al, (2007), utilizaram folhas sadias de citronela e as mergulharam em álcool para extração do princípio ativo da planta no extrato, sendo armazenado em local sem iluminação para maturação. Segundo os mesmos autores, a diluição do extrato ainda é cabível de testes, mas foi utilizada a diluição de 10% em apli-cações de prevenção e em casos de pequenos ataques de inseto. Em maiores infestações utilizou-se diluições maiores, alcançando 15 a 20%.
MATERIAIS E MÉTODOS
Estudo de caso
Um experimento teste foi realizado para verificar a prevalência de moscas B. tabaci em tomateiros, no sul do RS, em contato com extrato alcoólico de citronela. Nas estufas dis-postas na área experimental de produção havia, em conjunto, o cultivo de alface, beterraba, cenoura, feijão vagem, morangos, pepino, rabanete, rúcula, salsa e tomate. Este sistema de produção ocorre com rotação de culturas no espaço, ou seja, cada espécie não é cultivada por mais de um ou dois ciclos seguidos no mesmo local.
A estufa era cercada em toda a sua extensão por vegetação espontânea, onde são realizadas roçadas para intervir no ciclo de reprodução das plantas, para que estas não au-mentem sua população, mas se mantenham em equilíbrio. Entre tais plantas espontâneas, muitas são hospedeiras da mosca branca, como Sida rhombifolia (guanxuma), Ipomoea acuminata (corda de viola), Elephanto pusscaber (língua de vaca) e Bidens pilosa (picão preto) (Lourenção et al., 1994). No experimento, plantas de tomate foram cultivadas em toda a extensão da estufa, mas apenas 30 (trinta) metros foram utilizados para aplicação dos produtos avaliados, como mostra a figura 1.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
230
Figura 1. Área experimental no primeiro dia de aplicação do extrato de citronela e da colocação das armadilhas.
Preparação e aplicação do extrato alcoólico de citronela
Para a produção do extrato de citronela foi utilizado como base o estudo de Freitas et al., (2005), o qual auxiliou para estipular as medidas e dosagens da calda aplicada. Foram seguidos os mesmos parâmetros para a elaboração do extrato, sendo também realizado o mesmo procedimento de armazenamento do extrato de citronela produzido em diferentes momentos do experimento. A citronela utilizada para a elaboração do extrato que foi utilizado no experimento foi retirada de uma plantação presente na propriedade experimental. Desta forma, folhas de citronela foram previamente selecionadas a campo e levadas ao labora-tório. Após análise e verificação das porções mais sadias, 200 gramas de folhas frescas foram picadas e submersas em um litro de álcool (98oGl) em recipiente fechado, protegido de luz, durante sete dias. Após o período de extração, o extrato foi filtrado em peneira fina e armazenado na sombra até o momento de aplicação. As aplicações ocorreram duas vezes por semana, até o final do experimento, na seguinte ordem. Ao todo realizaram-se 8 aplica-ções de 400 ml de extrato de citronela para 4L de água, 6 aplicações de 500 ml de extrato para 5 L de água, e duas aplicações de 700 ml de extrato para 7 L de água, sendo todas na diluição de 1:10. O maior volume de calda aplicado durante o experimento foi devido o aumento da área foliar dos tomateiros e devido às infestações da mancha de passalora e da mosca branca.
Avaliação da eficiência do extrato de citronela
A fim de avaliar a eficiência do produto testado durante o presente estudo, foram instaladas armadilhas ao longo da área experimental, com posterior contagem dos insetos capturados. Cada armadilha se constituiu de garrafa plástica do tipo pet de 2 L, pintada com
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
230 231
tinta amarela colante, pendurada a um metro do solo, no interior da estufa, na entrelinha de cada cultivo.
Foram instaladas duas armadilhas na área pulverizada com o extrato de citronela e duas outras na área testemunha. A partir da segunda semana, foi realizada contagem se-manal da quantidade de mosca armazenada em cada armadilha. Para a coleta de dados mais concretos, foi realizada a colocação de novas iscas a cada contabilização de insetos, não reutilizando as armadilhas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a condução do experimento, foram realizadas coletas de dados semanal-mente. Na primeira análise de coleta dos insetos, foram observadas presenças de moscas brancas nas armadilhas, tendo uma pequena variação na quantidade de moscas por área testada, porém, não havendo ainda uma expressiva diferença. Os valores referentes ao con-trole negativo (testemunha) são apresentados na forma de média entre os valores de cada testemunha. Os valores correspondentes à aplicação do extrato de citronela correspondem à média aritmética do total de iscas amostradas.
Ao longo da condução do experimento notou-se um incremento semelhante na popula-ção das moscas amostradas em ambos os tratamentos (testemunha e extrato de citronela) até a quarta amostragem. A partir da quinta amostragem o volume de mosca coletada au-menta em ambos os tratamentos, mas a velocidade de aumento de moscas por armadilha foi diferente, sendo atestada uma maior quantidade de mosca branca nas áreas testemunhas, em relação as áreas de aplicação de extrato de citronela (Tabela 1).
Tabela 1.Número de moscas brancas (B. Tabaci) coletadas em cada parcela dos tratamentos durante as oito semanas de período experimental.
Amostragem(semanas) Volume de calda (L) Nº moscas coletadas
Testemunhas (méd)Nº moscas coletadas
Ext. de Citronela
1º 4 50 56
2º 4 55 51
3º 4 49 53
4º 4 59 72
5º 5 164 120
6º 5 288 223
7º 7 524 493
8º 7 546 325
Durante as quatro primeiras amostragens, foi aplicado o volume de quatro litros de calda, onde não se observou diferença significativa em relação à testemunha. Nas três se-manas seguintes, em virtude do aumento significativo da população de moscas, optou-se por aumentar o volume de calda para cinco litros. Durante a sétima e oitava semana de
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
232
amostragem, devido ao crescimento do tomateiro e consequentemente o aumento de área foliar, optou- se por elevar o volume de calda para sete litros.
É possível perceber o desenvolvimento de Bemisia tabaci já nas primeiras amostragens de cada armadilha. Conforme citado anteriormente, o cultivo da cultura que antecedeu o tomate pode ter influenciado na presença da mosca branca já nas primeiras semanas. Entre a terceira e quarta amostragem, ocorreu um aumento da umidade no campo experimental (em razão de elevada pluviosidade combinado com dias de temperaturas amenas e umi-dade relativa do ar acima de 90%), sendo estes, importantes fatores que favoreceram esse considerável aumento da população de mosca branca.
Um fator que pode ter interferido significativamente na obtenção de dados concretos sobre a eficiência do extrato de citronela sobre a mosca, foi o desequilíbrio da área expe-rimental devido à infestação de Passalora fulva, que se relaciona com a necrose foliar, se-guida de senescência precoce (Itako et al., 2009). Levando em consideração que a mosca branca permanece a maior parte do seu ciclo de vida nas folhas do tomateiro (Villas Bôas, 2009), não é estranho constatar que a diminuição do número de folhas nas plantas acabou por influenciar o comportamento das moscas brancas neste ambiente, devido à falta de local adequado para o seu desenvolvimento e postura de ovos. Ao mesmo tempo, as condições ambientais favoráveis somadas a não abertura da estufa no período de realização do ex-perimento, levando ao desenvolvimento de Passalora fulva, também favoreceram a rápida multiplicação de B. tabaci (Figura 2).
Figura 2. Tomateiros necrosados após infestação da mancha de passalora, causada pelo fungo Passalora fulva.
A ocorrência da doença debilitou a capacidade de resistência dos tomateiros frente às infestações da B. tabaci. Este distúrbio no agro-ecossistema permitiu que a quantidade de B. tabaci amostrada ao longo do experimento aumentasse gradativamente ao longo do tempo. Tal incremento foi observado tanto nas áreas testemunhas quanto nas áreas onde
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
232 233
houve aplicação de extrato de citronela, mas sendo mais expressiva a quantidade de mosca branca amostrada nas áreas testemunhas.
Conforme o aumento da quantidade de extrato aplicado, foi possível constatar que o número de moscas por amostragem decaiu na área aplicada, em relação às áreas testemu-nhas, demonstrando assim o poder de repelência do extrato. Esta diferença apresenta duas possíveis explicações: a primeira se relaciona à eficiência do extrato e a segunda, de cunho mais prático, se relaciona com a quantidade de tecido hospedeiro disponível, uma vez que o progresso da doença levou à intensa senescência foliar, diminuindo assim a quantidade de área foliar disponível para o desenvolvimento das moscas. Após a última análise, o ex-perimento foi interrompido em virtude da colheita do tomate e destruição do cultivo devido à epidemia da mancha de passalora.
Apesar de não haverem sido encontrados trabalhos relacionados ao efeito do extrato alcoólico de citronela sobre a mosca branca do tomateiro, Tavares et al., (2010) realizaram experimento testando o efeito ovicida do extrato aquoso de Cymbopogon nardus sobre ninfas de B. tabaci em espécies de tomateiro. Neste experimento, ao utilizarem a diluição de 3%, os autores obtiveram o controle de 59,17% da eclosão da mosca branca, mostrando assim resultados positivos sobre o controle da eclosão.
Experimentos testando a repelência do extrato da citronela também foram realizados para outros insetos. Da Silva et al., (2015) concluíram que o extrato aquoso de citronela diluído em água a 10%, obteve resultado de 47,4% sobre Ceratitis capitata (mosca da fruta ou mosca do mediterrâneo). Este experimento demonstra que a planta possui ação também sob outros insetos.
CONCLUSÃO
Considerando a agricultura familiar uma importante atividade para o sustento de diversas famílias que vivem na zona rural do Brasil, o presente trabalho demonstrou a importância de novas alternativas para o controle agroecológico da mosca branca (B. tabaci) do toma-teiro, verificando um poder de ação repelente de forma positiva sobre este inseto. Embora o experimento tenha sido afetado pelo ataque fúngico da mancha de passalora, ainda foram obtidos resultados satisfatórios para o extrato alcoólico de citronela.
O estudo de plantas existentes em cada região para controle de infestação de insetos é de suma importância, pois o uso destas plantas pode auxiliar na diminuição dos impactos ambientais, na saúde do produtor e dos consumidores, na diminuição de custos de produção e também no empoderamento do agricultor no que tange as tecnologias de cultivo.
Sendo o extrato de citronela visto como uma forma de intervir no desenvolvimento de Bemisia tabaci, devem ser realizados mais estudos, que visem determinar a concentração
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
234
ideal, as diferenças entre o uso das folhas ou das flores na confecção do extrato, declividade na área de produção, interferência do posicionamento da estufa, bem como influência do microclima regional, para melhor se compreender o potencial do extrato alcóolico de citronela no manejo da mosca branca do tomateiro.
REFERÊNCIAS
1. BALDIN, Edson Luiz Lopes et al. Controle de mosca branca com extratos vegetais, em toma-teiro cultivado em casa-de-vegetação. Horticultura Brasileira, p. 602-606, 2007.
2. BIZZO, Humberto R.; HOVELL, Ana Maria C.; REZENDE, Claudia M. Óleos essenciais no Brasil: aspectos gerais, desenvolvimento e perspectivas. Química Nova, v. 32, n. 3, p. 588- 594, 2009.
3. BUENO, V. S. et al. Avaliação preliminar de óleos essenciais de plantas como repelentes para Aedes albopictus (Skuse, 1894) (Diptera: Culicidae). Revista Brasileira de Plantas Medicinais, 2010.
4. CARELLI, Bernardete Primieri et al. Estimativa de variabilidade genética em acessos crioulos e cultivares comerciais de tomates (Lycopersicon esculentum Mill.) do sul do Brasil e avaliação da presença do Gene Mi. 2003.
5. CASTRO, L. O.; CHEMALE, V. M. Plantas medicinais: condimentares e aromáticas. Guairá: Agropecuária, 194 p., 1995
6. DA SILVA, Herika Dayane et al. Bioatividade dos extratos aquosos de plantas às larvas da mosca-das-frutas, Ceratitis capitata (Wied.). Arq. Inst. Biol., São Paulo, v. 82, p. 1-4, 2015.
7. EMBRAPA Hortaliças: A cultura do tomate, 2018.
8. FERREIRA, Sila Mary Rodrigues. Características de qualidade do tomate de mesa (Lycoper-sicon esculentum Mill.) cultivado nos sistemas convencional e orgânico comercializado na região metropolitana de Curitiba. 2004.
9. FLORA, Fiora. Extratos vegetais. Disponível em: <https://www.florafiora.com.br/cat/ extratos--vegetais/>. 2016.
10. FREITAS G. B et al. Preparo e aplicação de biofertilizantes na agricultura familiar. Trabalhador na agricultura orgânica, 2005.
11. GREATHEAD, A. H. Host plants. Bemisia tabaci: a literature survey on the cotton White fly withan an notate bibliography, p. 17-25, 1986.
12. HAJI, F. N. P.; DE ALENCAR, J. A.; LIMA, M. F. Mosca branca: danos, importância econômica e medidas de controle. Embrapa Semiárido-Documentos (INFOTECA-E), 1996.
13. HAJI, F. N. P. et al. Manejo da mosca branca na cultura do tomate. Embrapa Semiárido- Cir-cular Técnica (INFOTECA-E), 2005.
14. HILJE-QUIRÓS, Luko. Aspectos bioecológicos de Bemisia tabaciem Mesoamérica. Bioecologi calaspects of Bemisia tabaci in Mesoamerica. Manejo Integrado de Plagas., n. 35, p. 46-54, 1995.
15. IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Levantamento sistemático da produção agrícola. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1618#resultado>.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
234 235
16. ITAKO, A. T. et al. Controle de Cladosporium fulvum em tomateiro por extratos de plantas medicinais. Arquivos do Instituto Biológico, v. 76, n. 1, p. 75-83, 2009.
17. LASTRA, R. Los geminivírus: un grupo de fitovirus con características especiales. In: HILJE, L.; ARBOLEDA, O. Las moscas blancas (Homoptera: Aleyrodidae) en America Central y el Caribe. Turrialba: CATIE, p.16-19, 1993.
18. LOURENÇÃO, André Luiz; NAGAI, Hiroshi. Surtos populacionais de Bemisia tabaci no estado de São Paulo Outbreaks of Bemisia tabaci in the São Paulo State, Brazil. Bragantia, v. 53, n. 1, p. 53-59, 1994.
19. MARTINS, E. R. et al. Plantas medicinais. Viçosa: UFV, 220 p., 2000.
20. MING, L. C. et al. Plantas medicinais aromáticas e condimentares: avanços na pesquisa agro-nômica. Botucatu: Unesp, v. 2, 1998.
21. MOREIRA, Márcio Dionízio et al. Uso de inseticidas botânicos no controle de pragas. Controle alternativo de pragas e doenças. Viçosa: EPAMIG/CTZM, p. 89-120, 2006.
22. MOUND, Laurence A. Host correlated variation in Bemisia tabaci (Gennadius) (Homoptera: Aleyrodidae). In: Proceeding sof the Royal Entomological Society of London. Series A, General Entomology. Oxford, UK: Black well Publishing Ltda, p. 171-180, 1963.
23. MOUND, Laurence Alfred & Halsey, S. H. White fly of the world. A systematic catalogue of the Aleyrodidae (Homoptera) with host plantand natural enemy data. John Wiley and Sons., 1978.
24. Óleos Essenciais 2017. Citronelol/ Geraniol/ Citronenal. Disponível em: http://www.oleoses-senciais.org/, 2017.
25. PATRO, R. Citronela – Cymbopogon winterianus, 2013.
26. PINTO JUNIOR, A. R.; CARVALHO, R. I. N.; TAVARES, A. P. M. Estudo sobre a resposta comportamental e efetivo controle de Sitophilus zeamais L. (Coleoptera: Curculionidae) em diferentes concentrações de óleos essenciais. Curitiba: PUCPR, 2006.
27. SALGUERO, Victor. Perspectivas para el manejo del complejo mosca blanca virosis. Las mos-cas blancasen América Central y el Caribe. Catie. Turrialba, Costa Rica, p. 20, 1993.
28. SILVA, JBC da; GIORDANO, L. de B. Produção mundial e nacional. Tomate para processamen-to industrial, Brasília: EMBRAPA Comunicação para Transferência de Tecnologia, EMBRAPA Hortaliças, 168p, 2000.
29. TAVARES, Ana Paula Moreira; DE MORAES SALLES, Roseli Frota; OBRZUT, Vanessa Vani. Efeito ovicida de nim, citronela e sassafrás sobre a mosca branca Bemisia spp. Revista Aca-dêmica: Ciência Animal, v. 8, n. 2, p. 153-159, 2010.
30. SCHUSTER, D. J.; STANSLY, P. A.; POLSTON, J. E. Expressions of plant damage by Be-misia. In: D. GERLING; R. T. MAYER (eds.). Bemisia 1995: Taxonomy, biology, control and management. Andover, p. 153-165, 1996.
31. VILLAS BÔAS, G. L. Manejo integrado de mosca branca. Embrapa Hortaliças- Comunicado Técnico (infoteca-e), 2005.
32. VILLAS BÔAS, G. L. et al. Manejo integrado da mosca branca Bemisia argentifolii. EMBRA-PA-CNPH. Circular Técnica da Embrapa Hortaliças, 1997.
18Geotécnicas aplicadas à auditoria e perícia ambiental
Esther Saraiva Carvalho de SouzaUFMT
Gabriella da Silva FrançaUDESC
Rayza Mariane da Silva FrançaUFMT
10.37885/210102843
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
237
Palavras-chave: Geotecnologia, Geoprocessamento, Perícia Ambiental.
RESUMO
A perícia ambiental é uma vertente das perícias no geral que tem como objetivo de estudo o meio ambiente e seus elementos bióticos, abióticos e socioeconômicos, incluindo a natureza e as atividades humanas. Segundo Saroldi, a Perícia Ambiental necessita ser realizada por um técnico que possua os devidos conhecimentos técnicos e científicos afim de realizar a apuração da veracidade dos fatos. Sendo identificada condutas ina-dequadas, a legislação atual prevê penalidades administrativas que se classificam em penais e cíveis. No âmbito cível, para que seja aceita a denúncia de conduta irregular, é necessário que haja comprovação do ato ilegal, com materialização das provas, que é o instrumento jurídico capaz de identificar, mensurar os danos e posteriormente punir os infratores. Assim, a presente revisão teve por objetivo realizar uma abordagem sobre o uso da Geotecnologia ressaltando o Sensoriamento Remoto e o Geoprocessamento acerca do suporte na realização do processo de Perícia Ambiental. Logo, as geotécnicas como inovações tecnológicas, aplicadas nas auditorias e perícias ambientais, viabilizam esclarecer muitas das questões relacionadas à diversidade do meio ambiente natural, atuando em equilíbrio com a jurisprudência ambiental, ao tempo em que se consolida, junto à administração pública, como ferramentas de manutenção da constância entre o homem e a natureza, aumentando os benefícios dessa parceria. Quando associadas às novas tecnologias, são fortes aliadas na compreensão dos métodos de avaliação e prevenção dos riscos que o perito enfrenta na montagem do laudo técnico, podendo dissertar com propriedade as informações técnicas produzidas, de forma clara e concisa.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
238
INTRODUÇÃO
A perícia é uma atividade que possui diversas finalidades e apresenta também seu viés na área ambiental, onde recebe a denominação de Perícia Ambiental. Nesse ramo, ela atua como um novo instrumento de perícia que se propaga no Brasil e está diretamente relacionada com diversas áreas acadêmicas (TANCREDI et al., 2012).
Assim, a exposição de conceitos, procedimentos na construção de um laudo pericial e as tendências para essa atividade, colocam-na como essencial na gestão do meio ambien-te, permitindo assim, a elucidação de diversos crimes ambientais a partir de um enfoque multidisciplinar. A perícia ambiental tem como objetivo de estudo o meio ambiente e seus elementos bióticos, abióticos, sociais e econômicos, incluindo a natureza e as atividades humanas (TANCREDI et al., 2012).
Com a crescente conscientização sobre a necessidade de repensar nossa relação com o planeta, tem-se observado com mais atenção as mudanças no comportamento e na elaboração de ordenamentos jurídicos cada vez mais complexos, que visam reparar erros passados e prevenir futuros. Nesse sentido, condutas e atividades consideradas le-sivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções administrativas, sem prejuízo das obrigações de reparar o dano e das cominações penais cabíveis (LIMA, 2013).
Segundo Saroldi (2009), assim como nos outros setores, a Perícia Ambiental necessita ser realizada por um técnico comprovadamente idôneo e que possua os devidos conheci-mentos técnicos e científicos afim de realizar a apuração da veracidade dos fatos. Sendo identificada condutas inadequadas e danos sofridos ao meio ambiente, a legislação atual prevê penalidades administrativas que se classificam em penais e cíveis. No âmbito cível, para que seja aceita a denúncia de conduta irregular, é necessário que haja comprovação do ato ilegal, com materialização das provas, que é o instrumento jurídico capaz de identificar, mensurar os danos e posteriormente punir os infratores (BENEDET et al., 2016).
Por conseguinte, com as atuais exigências ambientais, a Perícia Ambiental necessita acompanhar o desenvolvimento tecnológico, utilizando em suas operações novos instru-mentos que permitam proximidade com maior precisão, agilidade, rapidez e eficiência. Logo, a Geotecnologia e suas ramificações como o Geoprocessamento e Georreferenciamento, vêm disponibilizando cada vez mais ferramentas aplicáveis nesses processos e que possuem um custo relativamente baixo quando comparada as tecnologias passadas (TANCREDI et al., 2012).
Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) são ferramentas que permitem espacia-lizar e analisar dados geográficos, sendo uma alternativa para o mapeamento de áreas de difícil acesso e com riscos ambientais, como em áreas com riscos de deslizamento. Bispo
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
238 239
et al. (2011) apontam a importância da utilização do SIG para a identificação de áreas suscep-tíveis a movimentos de massa e destacam a capacidade de integração de diferentes dados, como tipo de solo, vegetação de cobertura, entre outros. Silveira, et al. (2014) indicaram o mapeamento das zonas de risco como uma das soluções para o entendimento e previsão desses eventos, podendo minimizar suas consequências.
Nesse sentido, a presente revisão objetiva realizar uma abordagem sobre o uso da Geotecnologia ressaltando o Sensoriamento Remoto e o Geoprocessamento acerca do suporte na realização do processo de Perícia Ambiental, através de resultados de estudos práticos presentes na literatura, visando deste modo demonstrar a viabilidade do emprego de geotecnologias para o aperfeiçoamento do processo de auditoria e perícia ambiental.
METODOLOGIA
O presente trabalho desenvolveu-se a partir de pesquisa bibliográfica exploratória e documental elaborada a partir de livros, artigos de periódicos, dissertações, teses, docu-mentos institucionais e governamentais. Por intermédio de revisão de trabalhos presentes na literatura, realizou-se a observação das ferramentas de geotecnologia aplicadas na área da Perícia Ambiental. As análises dos estudos referenciados neste trabalho identificaram danos ambientais variados, sendo eles o uso inapropriado e contaminação do solo e da água, desmatamento, inundação por enchentes e prejuízos à fauna e à flora.
Com a temática do meio ambiente cada vez mais presente nos interesses da socieda-de, tem sido comum assuntos relacionados à proteção ambiental na sociedade. A perícia ambiental está presente nos incêndios florestais, nos danos causados à fauna e flora, uso inapropriado de áreas de proteção permanente e de reserva legal. Por possuir características singulares, os crimes ambientais previstos na legislação necessitam de comprovação da sua materialidade, e para isso, requerem a utilização de técnicas e equipamentos específicos, dente eles o sensoriamento remoto, que permite a caracterização da área em menor tempo r com alta precisão (CALDAS, et al. 2009).
Georreferenciamento
O Geoprocessamento consiste em conjunto de ciências, tecnologias e técnicas, a ser utilizado no monitoramento de diversas características/mudanças ambientais. É uma ferra-menta capaz não só de armazenar, quantifica e manipular dados georreferenciados, como também cruzar esses dados e tratá‐los estatisticamente (FUJACO et al., 2010).
De acordo com estudos realizados por Roque et al. (2006) e Couto (2012) o método que tem início com a obtenção de coordenadas de latitude e longitude nos pontos da imagem a
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
240
ser georreferenciada, denominados como pontos de controle, sendo estes os locais físicos que apresentam um perfil de fácil identificação, como interseções de rios e estradas, repre-sas, construções, morros, entre outros.
Segundo Silva (2003), o geoprocessamento é uma ferramenta que ganha cada vez mais espaço no cenário da perícia ambiental e vem sendo utilizada com êxito no controle e monitoramento ambiental, representando várias categorias de processamento de dados. Utiliza de técnicas e conceitos oriundos da cartografia, topografia (altimetria e planimetria), sensoriamento remoto e o Sistema de Informações Geográficas) (VEIGA & SILVA, 2004).
Na Legislação Brasileira existem instrumentos de georreferenciamento que auxiliam nos eventos de perícia, como a Lei Federal 10.267 (BRASIL, 2001), regulamentada pelo Decreto 4.449 (BRASIL, 2002), por sua vez, alterado pelo Decreto 5.570 (BRASIL, 2005), que trata-se do uso obrigatório do georreferenciamento na escritura de imóveis para alteração nas matrículas imobiliárias, sendo elas a mudança de titularidade, loteamento, identificação de área de reserva legal, patrimônio natural, entre outros.
Sensoriamento Remoto
As imagens oriundas do sensoriamento remoto, um dos componentes do geoprocessa-mento, têm uma participação valiosa nos estudos acadêmicos geográficos, pois são criadas por meio do espaço, campo de interesse de profissionais de distintas áreas do conhecimento (Cazetta, 2009). O sensoriamento remoto tem se mostrado um instrumento de grande utili-dade para o monitoramento de grandes áreas, a fim de verificar a observância à legislação ambiental (Mascarenhas et al., 2009).
De acordo com Rocha (2002) o Sensoriamento Remoto é definido também como o uso de dispositivos que permitem a identificação de objetos e fenômenos na superfície terrestre sem que haja o contato físico entre ambos. O processo ocorre através de sensores eficientes e precisos que são acoplados nas aeronaves e satélites e permitem a varredura e obtenção de imagens que serão utilizadas nas diversas áreas como geologia, análises ambientais, estudo de florestais e perímetros urbanos.
Contudo, no método a presteza e economia geradas pelo uso das imagens orbitais na atualização cartográfica junto ao aumento da qualidade da resolução espacial dos sensores multiespectrais, em acordo com os quesitos de precisão planimétricas exigidos para as es-calas do mapeamento sistemático. Sobressai os menores custos para obtenção de imagens se confrontando à execução de novo recobrimento aéreo (ROSA, 2005).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
240 241
RESULTADOS E APLICABILIDADE
Na literatura encontram-se alguns trabalhos que demonstram a aplicação das geotéc-nicas para utilização de soluções ambientais:
De acordo com, Boeira et al. (2014), na pesquisa “Uso de Geoprocessamento como Ferramenta para Perícia Ambiental de uma Área Atingida pela Enchente do Rio Madeira”, sendo a primeira etapa o levantamento da área que foi atingida pela enchente, através do GPS (Sistema de Posicionamento Global), reunindo as informações no arquivo do tipo sha-pefile da área total do imóvel, área indenizada, curva de nível e área inundada prognosticada desde o início da construção da usina, e segunda etapa sendo feita vinculando a imagem satélite do Google Earth no programa do Quantun Gis 2.2 a um sistema de coordenadas conhecido, porém não conseguiram chegar a comprovação, de fato, que os impactos am-bientais e sociais da enchente foram resultantes do aumento da água dos reservatórios da Usina Hidrelétrica Santo Antônio, em Porto Velho - Rondônia.
Boeira et al. (2014) afirmaram na conclusão que a geotecnologia se destaca em razão de sua funcionalidade. Com o intuito de perícia ambiental, o trabalho demonstrou a possi-bilidade e necessidade da aplicação dos instrumentos geo-tecnológicos para a determinar os espaços geográficos ambientais, com uso das informações afim de alcançar a precisão. Utilizando-se do software ArcGis, atingiram as expectativas iniciais do referido artigo, por meio da ferramenta sensoriamento remoto para diagnóstico de impactos ambientais e, através de uma perspectiva panorâmica, avaliaram a real dimensão da utilização exacerbada dos recursos naturais que vem lesionando os ecossistemas. Com a precisa identificação espacial da quantidade e tipo de cobertura vegetal, posicionamento dos corpos hídricos e zonas de tráfego, foi possível a correlata associação com os problemas difusos no local, como: a lixi-viação, o assoreamento dos corpos d’água, a erosão e as deteriorações da flora e da fauna.
Segundo Aragão e Araújo (2014), o trabalho “Sensoriamento Remoto na Perícia Ambiental do Ministério Público do Estado do Piauí: estudo de caso”. Foi realizado na área localizada na zona leste do município de Teresina teve como intuito detectar se em certo local houve edificação em APP e a época em que ocorreu. A vistoria de campo foi feita em 2014 constatou a intervenção, mas não permitiu determinar em que período esta ocorreu. Para os exames de local que necessitam de uma descrição aprofundada dos componentes da cena do crime podem ter como auxilio as imagens com alta resolução espacial.
A utilização em conjunto do programa QGIS e das imagens RapidEye apresentaram como uma solução para projetos referentes à análise ambiental. Sendo possível a realização por meio dos shapefiles das áreas protegidas a obtenção de informação que demostra a situação de degradação das áreas de aplicação da Lei nº 11.428 de 2006, representando o descumprimento da legislação. O acesso a imagens provenientes de sensores com diferentes
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
242
resoluções espaciais e temporais permite que sejam feitas análises adequadas a cada caso, permitindo a averiguação da existência ou não de materialidade no crime em tese cometido (ARAGÃO E ARAÚJO, 2014).
CONCLUSÃO
Sendo assim, as geotécnicas como inovações tecnológicas, aplicadas nas auditorias e perícias ambientais, viabilizam esclarecer muitas das questões relacionadas à diversidade do meio ambiente natural, atuando em equilíbrio com a jurisprudência ambiental, ao tempo em que se consolida, junto à administração pública, como ferramentas de manutenção da constância entre o homem e a natureza, só aumentando os benefícios dessa parceria.
Quando associadas à auditoria e perícia ambiental as novas tecnologias são fortes aliadas na compreensão, ecologicamente correta, dos métodos de avaliação e prevenção dos riscos que o perito lida na montagem do laudo técnico, podendo deste modo dissertar com propriedade as informações técnicas produzidas, de forma clara e concisa, composta de dados e modelos matemáticos confiáveis, testados e conclusivos, com a finalidade de entregar ao julgamento da causa a medida justa da reparação do dano ambiental causado.
REFERÊNCIAS
1. ARAGÃO, F. M.; ARAÚJO, F. A. S. Sensoriamento remoto na perícia ambiental do Ministério Público do Estado do Piauí: estudo de caso. Engineering Sciences, Aquidabã, v.2, n.1, p.17-28, 2014.
2. BENEDET, J. S.; JATAHY, D. C.; LOCH, C.. Perícia Ambiental e Cadastro Técnico Multi-finalitário. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, 12. Anais. Florianópolis: COBRAC, 2016.
3. BISPO, P.C.; ALMEIDA, C.M.de; VALERIANO, M.de M.; MEDEIROS, J.S.de; CREPANI, E. Análise da suscetibilidade aos movimentos de massa em São Sebastião (SP) com o uso de métodos de inferência espacial. Geociências, São Paulo, v. 30, n. 3, p. 467-478, 2011.
4. BOEIRA, A. S. et al. Uso de geoprocessamento como ferramenta para Perícia Ambiental de uma área atingida pela enchente do Rio Madeira. Revista Farociência, v. 1, n. 1, p. 214-219, 2014.
5. BRASIL. Decreto-Lei 4.449, de 30 de outubro de 2002. Norma Técnica para Georreferencia-mento de Imóveis Rurais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 de outubro de 2002.
6. BRASIL. Decreto-Lei 5.570, de 31 de outubro de 2005. Dá nova redação a dispositivos do De-creto no 4.449, de 30 de outubro de 2002, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 01 de novembro de 2005.
7. BRASIL. Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001. Fixa Normas de Direito Agrário. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 de agosto de 2001.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
242 243
8. CALDAS, A. J. F. S., ROTTA, G. V. R., GÓES, E. K., Schamne, J. A., Sensoriamento remoto na perícia ambiental da Polícia Federal. Anais XIV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Natal, Brasil, 25-30 abril, INPE, p. 3621-3628, 2009.
9. CAZETTA, V. O status de realidade das fotografias aéreas verticais no contexto dos estudos geográficos. Pro‐Posições, Campinas, v. 20, n. 3, p. 71‐86, set./dez. 2009.
10. COUTO, R. A. S. O uso de ferramentas de geoprocessamento para o gerenciamento de bens patrimoniais e prediais. Dissertação (Mestrado –Tecnologia da Arquitetura). Universi-dade de São Paulo, 2012.
11. FUJACO, M.A.G; LEITE,M.G.P;MESSIAS,M.C.T.B. Análise multitemporal das mudanças no uso e ocupação do Parque Estadual do Itacolomi (MG) através de técnicas de geoprocessamento. Revista Escola de Minas, Ouro Preto, v.63,n.4,p.695‐701,out./dez.2010.
12. LIMA, C. A. F. Correções Geométricas para a Utilização de Imagens em Perícias Criminais Ambientais. Dissertação (Mestrado em Perícias Criminais Ambientais) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.
13. MASCARENHAS, L. M. A; FERREIRA, M. E; FERREIRA, L. G. Sensoriamento Remoto como instrumento de controle e proteção ambiental: Análise da cobertura vegetal remanescente na bacia do Rio Araguaia. Sociedade & Natureza, Uberlândia, v. 21, n. 1, p. 5‐18, Apr. 2009.
14. ROCHA, C. H. B. Geoprocessamento: tecnologia transdisciplinar. Juiz de Fora: Autor, 2002.
15. ROQUE, C. G.; OLIVEIRA, I. C.; FIGUEIREDO, P. P.; BRUM, E. V. P.; CAMARGO, M. F. Ge-orreferenciamento. Revista de Ciências Agro-Ambientais, Alta Floresta, v.4, n.1, p.87-102, 2006.
16. ROSA, R. Geotecnologias na geografia aplicada. Revista do Departamento de Geografia, v. 16, n. 1, p. 81-90, 2005.
17. SAROLDI, M. J. L. de A. Perícia Ambiental e suas Áreas de Atuação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
18. SILVA, J.SV. Análise multivariada em zoneamento para planejamento ambiental. Estudo de caso: Bacia Hidrográfica do Rio Taquari MS/MT. 307 f. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003.
19. SILVEIRA, H.L.F.da; VETTORAZZI, C.A.; VALENTE, R.A.Avaliação multicriterial no mapea-mento da suscetibilidade de deslizamentos de terra. Revista Árvore, Viçosa, v. 38, n. 6, p. 973-982, 2014.
20. TANCREDI, N. S. H. et al. Uso de geotecnologias em laudos periciais ambientais: estudo de caso no município de jacundá, Pará. Revista Geografar, Curitiba, v. 7, n. 1, p.1-19, jun. 2012.
21. VEIGA, T. C. & SILVA, J. X. da. Geoprocessamento aplicado à identificação de áreas potenciais para atividades turísticas: O caso do Município de Macaé – RJ. In: SILVA, J. X. & ZAIDAN, R. T. (Org.) Geoprocessamento & Análise ambiental. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, p.179-215, 2004.
19Gestão social, pequena produção e desenvolvimento sustentável: pequeno proprietário na produção de bovinos de corte
Argileu Martins da SilvaEMATER-MG
Éverton A. de Paiva FerreiraEMATER-MG
José Alberto de A. PiresEMATER-MG
Tania Guimarães Rabello ConceiçãoEMATER-MG
10.37885/210203394
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
245
Palavras-chave: Gestão Social, Desenvolvimento Sustentável, Pequeno Proprietário, Agricultura Familiar.
RESUMO
Este início de milênio vem permitindo o aumento vertiginoso do fluxo de informações por todo o planeta. Com isso, o acesso das pessoas a conhecimentos tecnológicos e de mercado não só aumentou, como pode ser disponibilizado praticamente em “tempo real”. Contudo, a despeito de toda evolução dos meios informacionais, o mundo vem se tornando cada dia mais excludente. Ao mesmo tempo que a sociedade procura formas mais competitivas de “saber fazer” também existe o desafio de se pensar em “para que “e “para quem”. Talvez por isso, uma parte dos debates do Brasil atual estão centrados em repensar muitos conceitos, fazendo com que muitos debates do meio acadêmico ganhem um espectro mais visível para a vida das pessoas. No setor rural este desafio ganha contornos próprios. Inicialmente tem-se que admitir que o universo rural brasilei-ro é complexo e que muitas tipologias já não conseguem ser abrangentes o suficiente seja para entender o contexto atual e, principalmente, para auxiliarem na formulação e operacionalização de políticas e ações públicas. Neste sentido, temas como agricultura familiar, desenvolvimento sustentável e gestão social são inerentes a qualquer debate em torno do rural brasileiro.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
246
INTRODUÇÃO
Durante boa parte do pós-guerra o modelo de desenvolvimento econômico existente no Brasil foi baseado num tripé - planejamento centralizado estatal, crescimento do setor urbano industrial e substituição de importações - como meios para aumento do PIB e pro-dução de riqueza econômico-financeira. A referência teórica era calcada numa reprodução do modelo de desenvolvimento dos países industrializados, suportados na modernização tecnológica, na introdução e consolidação das relações capitalistas, na formação de um mercado consumidor interno e na construção do Estado como agente promotor, regulador e gestor do crescimento do país. No meio rural, o modelo brasileiro de desenvolvimento teve como vertente a introdução do capitalismo nas relações econômicas e sociais. O papel do meio rural no modelo era bem definido, servindo de oferta de alimentos, mão de obra, matérias-primas e excedentes exportáveis ao setor urbano-industrial. Para tanto a eco-nomia agrícola passou por um intenso processo de modernização. As primeiras “formas” desta modernização recaiu sobre os fatores terra e capital, a partir da chamada “Revolução Verde”. A difusão massiva de novas tecnologias capital intensivas, seja na forma de insu-mos, máquinas, equipamentos e até mesmo métodos de plantio e manejo animal, tinham o objetivo de aumentar o rendimento econômico por área plantada e geração de excedentes comercializáveis. Num segundo momento, esta mesma modernização alcança o fator tra-balho, quando os outrora sitiantes, colonos, meeiros, parceiros e “agregados” são substituí-dos pelas novas tecnologias e métodos, e perdem várias de suas condições de vida dentro das antigas propriedades. A introdução das relações capitalistas de trabalho no meio rural transformou esta população em trabalhadores rurais, cujo rendimento salarial e condições de vida eram (e são) aquém dos trabalhadores urbanos. O Estado brasileiro teve um papel fun-damental na viabilização deste processo com a formatação de políticas públicas – pesquisa agropecuária, serviço de assistência técnica e extensão rural, crédito subsidiado, expansão da fronteira agrícola, legislação trabalhista e previdenciária, entre outros – que instrumenta-lizaram operacional e financeiramente a “modernização”. Mesmo com toda ação do modelo econômico, existia (e existe) uma parcela majoritária de agricultores que, mesmo sem se “modernizarem” como previsto permaneceram produzindo e vivendo no meio rural. Este públi-co, em meados dos anos 70, vai ser denominado de pequenos produtores, ou produtores de baixa renda. Assim, procurava-se delimitar uma parcela de produtores rurais que, ainda, não contava com a escala produtiva e de investimentos dos setores mais modernos. O modelo admitia que estes pequenos produtores eram um "estágio inicial" do capitalismo no meio rural, com duas alternativas de futuro: i) a inserção no mercado capitalista e acumulação gradual de capital, ou seja, tornarem-se grandes produtores à medida que fossem sendo incorporadas tecnologias produtivas modernas para maximização de seus fatores produtivos
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
246 247
(terra, capital e trabalho); ii) a exclusão social e econômica e, consequente migração para o setor urbano-industrial. A partir da segunda metade dos anos 90 ganha corpo o conceito de agricultura familiar em contraponto com a ideia de "pequeno produtor". Inicialmente, tem-se que o conceito de "pequeno produtor" se tornou quase contábil, uma estatística que buscava determinar uma categoria de pessoas a partir da quantidade da terra disponível e de seu porte econômico. No mundo rural brasileiro, da década de 90, a complexidade e diversidade regionais já não permitia que diversos segmentos de agricultores pudessem ser “tipificados” com esse termo. A inserção do conceito de agricultor familiar transcende a mera disposição econômico-produtiva, já que esta é uma categoria construída historicamente, a partir, justamente, das consequências do modelo urbano-industrial. Ao contrário do ideário de "produtor rural de pequena escala" ou "de pequena acumulação de capital", o agricultor familiar é aquele indivíduo que vive do meio rural, a partir de seu trabalho e da sua família. Como conceito social, este possui características e aptidões próprias e, pela própria estru-tura da sociedade, serão poucos que se “modernizarão” na ótica do modelo. Assim, esta categoria possui interesses, demandas e potencialidades próprias, por vezes convergentes ou não com os setores produtores de commodities para exportação. A que pese todo o his-tórico de marginalização das políticas de desenvolvimento para com a agricultura familiar, ainda hoje, esta categoria continua importante para o abastecimento interno de alimentos e geração de empregos.
Pelos dados do Censo Agropecuário – IBGE 2017, a agricultura familiar abrange 3,9 milhões de estabelecimentos agropecuários (77% do total), com área de 80,9 milhões de ha (23% do total). Em termos econômicos, a agricultura familiar apresentou um Valor Bruto da Produção de R$ 107 bilhões (2017), equivalendo a 23% do total da agropecuária, sendo um segmento caracterizado por proprietários (79,56%). Destaca-se, ainda, que a agricultura familiar é responsável por 69% da produção de mandioca; 42% da produção de feijão preto; 48% da produção de banana; 35% da produção de café; 64% da produção de leite; 34% da produção de carne suína; e 36% da carne de frango. A agricultura familiar emprega 67% do pessoal ocupado no setor agropecuário do Brasil (IBGE, 2017). Ou seja, com menor área, a agricultura familiar emprega mais pessoas e gera receitas proporcionalmente maiores do que o segmento não familiar.
OBJETIVO
Elucidar e debater acerca dos cenários atuais da agricultura familiar, desenvolvimento sustentável e gestão social.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
248
MÉTODOS
Foi realizado um estudo de caso utilizando dados do censo agropecuário do IBGE em Minas Gerais. Foram usados dados do norte de Minas e da região do Vale do Jequitinhonha.
RESULTADOS
OS CRIADORES (PRODUTORES DE BEZERROS DE CORTE)
No caso da exploração de bovinos de corte, a estrutura básica da cadeia produtiva, onde tudo começa a se desenvolver, é o chamado ciclo biológico de produção, caracteri-zado pelas chamadas atividade de cria, de recria e de engorda (Pires, 2001). Os criadores, aqueles pecuaristas que se dedicam à produção do bezerro de corte para venda logo após a desmama, tem uma influência marcante na eficiência produtiva de todo o ciclo biológico da cadeia produtiva da carne bovina. É o caso, por exemplo das regiões fisiográficas do Norte de Minas e Jequitinhonha onde, segundo dados do Censo Agropecuário 2017, existia cerca de 87.170 pecuaristas (23% de um total de 385.488) desenvolvendo as atividades de cria ou cria mais recria na exploração de bovinos de corte. Com um rebanho de cerca de 2,7 milhões de cabeças (14% do rebanho total de 19,5 milhões), estes pecuaristas possuíam 2,7 milhão matrizes bovinas – 25,7 % do total de 8,3 milhões, entre vacas e novilhas em idade de reprodução. Isto representa, na duas regiões, uma média de 16,9 cabeças por criador na “Agricultores Familiares”.
Tabela 1. Número de estabelecimentos agropecuários com bovinos, número de cabeças de bovinos nos estabelecimentos e média de cabeças/estabelecimento por tipo de agricultor – Brasil, MG e regiões selecionadas.
Brasil, MG e Regiões
Número de estabelecimentos agropecuá-rios com bovinos
Números de cabeças de bovinos nos estabele-cimentos agropecuários (cabeças) Média cabeças/estabelecimento
Total Agricultura não familiar
Agricultura Familiar Total Agricultura
não familiarAgricultura
Familiar Total Agricultura não familiar
Agricultura Familiar
Brasil 2.554.415 610.127 1.944.288 172.719.164 119.111.570 53.607.594 67,62 195,22 27,57
Minas Gerais 385.488 108.008 277.480 19.575.839 12.426.006 7.149.833 50,78 115,05 25,77
Norte de Minas (MG) 61.643 13.901 47.742 1.909.095 1.153.645 755.450 30,97 82,99 15,82
Jequitinhonha (MG) 25.527 5.921 19.606 838.102 482.660 355.442 32,83 81,52 18,13
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 2017
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
248 249
Tabela 2. Número de estabelecimentos agropecuários com bovinos com mais de 50 cabeças com venda para cria, recria ou engorda, número de cabeças bovinas vendidas para cria, recria ou engorda, e média de cabeças bovinas por
estabelecimento, por tipo de agricultor – Brasil, MG e regiões selecionadas.
Brasil, MG e Regiões
Número de estabelecimentos agropecuá-rios com mais 50 cabeças de bovinos que
venderam bovinos para cria, recria ou engorda (Unidades)
Recria ou engorda vendidas nos estabeleci-mentos agropecuários com mais de 50 cabeças
(cabeças)Média cabeças/estabelecimento
Total Agricultura não familiar
Agricultura Familiar Total Agricultura
não familiarAgricultura
Familiar Total Agricultura não familiar
Agricultura Familiar
Brasil 216.909 98.635 118.274 14.703.382 11.222.541 3.480.841 67,79 113,78 29,43
Minas Gerais 29.131 17.055 12.076 1.619.350 1.287,906 331.444 55,59 75,51 27,45
Norte de Minas (MG) 2.472 1.512 960 144.493 122.393 22.100 58,45 80,95 23,02
Jequitinhonha (MG) 1,182 735 447 48.823 38.965 9.858 41,31 53,01 22,05
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 2017
Os dados do IBGE mostram ainda que a cria, a recria e a engorda são quase sempre executadas por diferentes tipos de pecuaristas. No ponto de partida está o criador, o pe-cuarista que faz, exclusivamente, a produção/criação do bezerro de corte para venda logo após a desmama. Chamada de cria, esta fase é a base de sustentação de todo o sistema biológico de produção pois, da qualidade do bezerro de corte por ela produzido, depende-rá o sucesso final da engorda/terminação do animal. Na sequência, estão o recriador e o invernista (ou terminador), tipos de pecuaristas que realizam as fases de recria e engorda (terminação), associadas ou não, e que, exatamente por não realizarem a cria, uma vez que normalmente não possuem vacas no seu rebanho, dependem fundamentalmente da produção de bezerros de corte realizada pelos criadores. Diversos fatores determinam está “histórica especialização” de atividade: tamanho da propriedade, aptidão da região (qualidade da terra, clima), e até mesmo a própria “afinidade” dos produtores. A compreensão dessa especialização histórica é fundamental para formulação de políticas públicas, abordagem do serviço de assistência técnica e extensão rural, definição de credito rural, implementação de programas de melhoramento genético dentre outros; fundamental também para estratégias de aumento de produtividade e de renda para esse público e desenvolvimento regional.
O DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL
Nos anos 90 os debates envolvendo o desenvolvimento agropecuário e seus efeitos ganham novos ingredientes com a consolidação da chamada globalização. A globalização dos mercados vem trazendo consigo um reforço no poder de mercado dos Complexos Agroindustriais (CAIs) e na concentração dos segmentos à jusante da produção, numa sis-temática que acelera a exclusão para grande parte dos agricultores familiares. O Professor José Graziano (SOBER 2000) atesta que a globalização acelerou a dinâmica de exclusão
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
250
social, à medida que agricultores familiares brasileiros concorrem em condições de mer-cado com produtores rurais de países desenvolvidos, que gozam de políticas de subsídios e compensações a cargo de seus governos nacionais. Assim, a importância da agricultura familiar, sobretudo na geração de alimentos básicos, foi fundamental para que se pudesse aprofundar as primeiras ideias de um modelo diferenciado de desenvolvimento. Como a base da agricultura familiar são as unidades de vida e trabalho - onde o produtor e sua família tra-balham, produzem e vivem - a essência do desenvolvimento para este público não pode estar centrada no simples crescimento econômico. Ao se tornar uma alternativa para a agricultura familiar, o Desenvolvimento Local Sustentável, passa a ser uma proposta de solução para toda sociedade, a começar dos pequenos e médios municípios e regiões. O desenvolvimento local sustentável é fruto de um novo cenário social que coaduna três aspectos: i) a fixidez e flexibilidade requeridas por um novo paradigma técnico-econômico; ii) diversificação sócio espacial dos mercados e fatores de produção, caminhando para convergência de setores e atividades em “redes” de competências; iii) descentralização do processo de gestão como fruto do próprio processo de concentração. O processo de desenvolvimento local susten-tável busca um modelo de desenvolvimento endógeno construído a partir dos desejos e necessidades das pessoas que vivem e trabalham num lugar, seja este uma comunidade rural, um município, uma região ou um país. Além disso, como esfera sustentável, exige-se que este seja, ao mesmo tempo, promotor do crescimento econômico, a equidade social, a participação política e o uso racional dos recursos naturais. Em suma, um desenvolvimento voltado para as pessoas. Como visto, o desenvolvimento local sustentável é um conceito teoricamente elaborado e sua operacionalização é ainda mais complexa. Em muitas ocasiões práticas, o “pensar global e agir local” e a busca pela sustentabilidade se confundem com descentralização política e administrativa de ações estatais. No Brasil, a descentralização das ações públicas data do final da década de 80, com a municipalização e a transferência de responsabilidades, receitas e atributos aos municípios como oriundos da Constituição de 1988. A descentralização tem duas possibilidades diferentes e complementares, sendo uma no sentido estatal com a transferência de funções e responsabilidades de gestão interna ao setor público, e outra vertente, no sentido do Estado para sociedade, onde a democratização da gestão e a transferência para sociedade de parte do poder de decisão e execução de serviços e investimentos públicos. Os instrumentos de descentralização das ações públicas se confundiram com a municipalização até a primeira metade dos anos 90, com debilidade quanto ao acompanhamento, avaliação e gestão dos recursos repassados pelo Governo Federal, principalmente no que tange à participação da população no processo. Será apenas na 2ª metade dos anos 90 que as diretrizes de repasses de recursos federais começaram a ser operacionalizados com a formação de Conselhos Municipais de formação paritária
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
250 251
e com objetivo na gestão social dos recursos públicos. No segmento rural, as primeiras iniciativas neste sentido datam de 1997, com a formação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural e formulação de Planos Municipais de Desenvolvimento Rural, no âmbito do PRONAF. O Professor Sérgio Buarque diz que a descentralização gera um efeito contraditório sobre a democracia e a participação. Se, por um lado, transfere autoridade e responsabilidade para o poder municipal também estimula o envolvimento e interesse das comunidades e de atores sociais, promovendo a consciência da sociedade e a reeducação política local. Portanto a alteração das forças políticas dentro da sociedade local irá reforçar o capital social e promover o empoderamento de pessoas e organizações da sociedade civil ao tomarem para si a responsabilidade de decisões e gestão de iniciativas públicas. Neste sentido, Ladislau Dowbor, num texto de 1995, atribui que a maioria dos municípios brasileiros são imensos espaços de articulação cidade-campo que permite iniciativas que permitem reconstruir o campo a partir das cidades, ao contrário de tratá-los como mundo distintos. No livro do Prof. Buarque, de 1999, está dito que “enquanto instrumentos de pla-nejamento e gestão, o desenvolvimento local sustentável recupera parte dos instrumentais do planejamento governamental, contudo numa amplitude que signifique: visão de longo prazo, abordagem sistêmica, tratamento multidisciplinar, negociação política e participação social. Ainda neste contexto, o planejamento do desenvolvimento local é um processo téc-nico e político. Técnico ao estabelecer instrumentos ordenados e sistemáticos que fluem a partir da organização, sistematização e hierarquização da realidade e das variáveis do processo. Político, porque sua face participativa, exige que toda a decisão e definição passe por interesses e negociações entre diferentes atores sociais, inclusive de desejos antagô-nicos que alteram as estruturas do poder estabelecido. E por fim, os Professores Graziano e Campanhola atestam que as políticas públicas geralmente elaboradas ao meio rural pos-suem um forte viés setorial contribuindo para o avanço de alguns setores e a estagnação de outros. Avançando-se no conceito de sustentabilidade, tem-se que o desenvolvimento local busca harmonizar meios e fins de acordo com as condições ecológicas, econômicas, sociais e culturais. Os autores também percorrem o papel das instituições públicas neste processo, sobretudo identificando 4 orientações: i) desenvolvimento da capacidade de ação conjunta ao nível local; ii) ampliação da capacidade de coordenação das propostas, ações e avaliações entre os diferentes níveis de governo (federal, estadual e municipal) por meio do aprimoramento dos instrumentos de planejamento e seus ingredientes, como orçamento, investimentos, sistema creditício, monitoramento e fixação de metas; iii) fortalecimento das instâncias de coordenação das instituições; e, iv) adoção de instrumentos descentralizados, flexíveis e participativos que garantam a participação das comunidades locais em todos os itens citados.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
252
No início da terceira década do Sec. XXI a agricultura familiar continua sendo um seg-mento estratégico para o país, para o Estado de Minas Gerais e para os municípios. Para o país, em especial, no controle da inflação dos preços dos alimentos, que em 2020 bateu a casa dos 11%. A produção local estruturada em circuitos curtos de comercialização é funda-mental para manter o poder aquisitivo das populações mais pobres na aquisição de alimen-tos. Para o Estado, dentre outras coisas, com os seus 58.652.829ha, sendo 38.168.688ha ocupados pelos mais de 607mil estabelecimentos agropecuários, 57,8 % desses e 73 % das terras tem a pecuária com atividade predominante, com um rebanho bovino de 19.575.839 cabeças. A pecuária bovina está presente em mais de 60% dos estabelecimentos agrope-cuários mineiros. Na agricultura familiar do estado 48,19% da área dos estabelecimentos está ocupada com pastagens.
O DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL E AS CADEIAS PRODUTIVAS
Em teoria, o desenvolvimento local sustentável busca promover os chamados “capitais” da sociedade, sendo resumidos no capital humano, capital social, capital natural e capital empresarial. Sobre este último, este novo "modelo" prevê a conquista de competitividade sistêmica por parte dos agricultores familiares como forma destes se manterem viáveis eco-nomicamente e competitivos dentro do mercado globalizado. Ao buscar sua viabilização, a agricultura familiar tem condições de irradiar dinamismo econômico para os demais setores produtivos e criar condições propícias para reativação da economia de localidades, municípios e regiões inteiras. Dentro da lógica de globalização, o grande desafio na bovinocultura de corte é a construção “de redes” para desenvolvimento dentro e fora das unidades produtivas rurais, tanto nas atividades à jusante como à montante da produção. Para tanto, existem três pré-condições: desenvolver a confiança e a cooperação entre pessoas e instituições; criar coalizões políticas locais, sobretudo para a implementação de políticas locais de promoção de competitividade; criar cooperação inter-regionais, ou seja, avançar no sentido de ampliar o escopo de ação dos agricultores locais. Assim, o conceito de competição entre indivíduos ganha novos contornos. Ao contrário do pensamento vigente, onde o produtor rural acredita que seus concorrentes são aqueles que produzem e vendem o mesmo produto que ele na sua região, a nova realidade é de que os verdadeiros concorrentes estão em diversas partes do mundo, produzindo os mesmos produtos ou mesmo substitutos que tomam seu mercado. Este raciocínio é válido para todas as cadeias produtivas do setor agropecuário e mesmo para as novas atividades rurais não agrícolas. No caso do Brasil, a necessidade de tornar a exploração de bovinos de corte mais competitiva dentro do mercado de carnes (frango, suíno e bovino), está trazendo grandes mudanças “dentro da porteira” naquilo que se con-vencionou chamar de produção de novilho precoce (PIRES, 2001) ou atualmente de forma
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
252 253
mais pragmática: redução da idade ao abate. E ao lado destas inovações “dentro da portei-ra”, estão também surgindo as inovações “fora da porteira” e que definem a parceria entre pecuaristas criadores (agricultura familiar/pequenos produtores), Recriadores /Invernistas/Confinadores, Frigoríficos e Varejo Final (Supermercados, Açougues e Casas de Carnes) voltadas para a produção e comercialização de carne bovina de qualidade (carne de novilho precoce). Vale ressaltar a importância de uma perfeita integração entre o criador do bezerro de corte e o terminador deste animal. Isto porque para se chegar a um “novilho precoce”, definido como um "bovino jovem" de dois a dois e meio anos de idade – até quatro dentes in-cisivos permanentes (as pinças), peso mínimo de quinze arrobas líquidas (225 kg de carcaça quente) e acabamento de carcaça com no mínimo 1mm e no máximo de 10 mm de gordura, precisa-se partir de um bezerro de qualidade. E ao se admitir a histórica especialização dos pecuaristas ou para a cria ou para a engorda, pode-se afirmar com segurança que o sucesso da produção de novilho precoce passa, obrigatoriamente, por um apoio ao criador que, antes de mais nada precisa saber (também) o que é “novilho precoce” e quais as vantagens que para ele/criador, traz a produção de um bezerro de qualidade, tendo como padrão/referência um animal que por ocasião da desmama/apartação dos 7 a 8 meses de idade, atinja peso vivo superior a 180 kg (6 arrobas). Outro fato importante é a existência de um mercado em franco crescimento para compra de bezerro de qualidade. O próprio “desafio” da produção de “novilho precoce”, com redução da idade de abate de 4 a 5 anos do “tradicional boi de corte”, para 2,0 a 2,5 anos do “novilho precoce”, está dobrando a pressão de compra de bezerro de corte feita pelos tradicionais invernistas ou confinadores. Há muito a realização dos leilões de bovinos (gado de corte) demonstra claramente uma valorização do bezerro de corte de qualidade, que atinge cotações de preços por arroba de bezerro, de 20 a 30% superiores ao preço da arroba do boi gordo. Assim para os atuais preços médios anuais da arroba do boi gordo de R$ 250,00 (ano de 2020), um bezerro de corte de qualidade, de apartação (7-8 meses de idade), com peso vivo de 180 kg (6 arrobas) alcança no mercado preço de R$ 2.000,00 a R$ 2.500,00 por cabeça, ou seja, R$ 330,00 a R$ 417,00 por arroba de bezerro. Produzir bezerros de qualidade se tornou um dos mais atrativos investimentos para a bovinocultura de corte.
DISCUSSÃO
É necessário que se discuta com os produtores sobre os desafios e a rentabilidade desse sistema de produção. Os técnicos da extensão rural buscam ações planejadas para formulação de políticas de competitividade sistêmica para os produtos locais, não apenas formulando programas, mas também criando ambientes locais para discussões e análises. Esses ambientes, que podem ser câmaras técnicas, envolvendo agricultores familiares,
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
254
técnicos de instituições e órgãos, representantes do poder público e outros interessados - como representantes de agroindústrias, comerciantes e distribuidores de insumos e imple-mentos agrícolas, prestadores de serviços, etc - dedicam-se a analisar o contexto de uma cadeia rural específica, verificar a realidade local desta atividade, os problemas e potenciais existentes e a planejar, em comum, saídas possíveis no próprio local ou mesmo recorrendo a estâncias regionais, estaduais ou nacionais, este espaço deverá ser utilizado para este debate, com o objetivo de atuar em toda a cadeia, ampliando a visão de negócio para o produtor e consequentemente aumentando a sua renda.
CONCLUSÃO / CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho de promover a agricultura familiar, como claramente expresso nas definições institucionais da EMATER-MG, será convergente com a busca pelo desenvolvimento local sustentável, tendo como foco o aumento da renda dos pecuaristas familiares. Para tanto, a Empresa trilha o caminho da participação, do diálogo e da visão sistêmica em todos os seus programas de trabalho. A assessoria aos municípios para formação e apoio de câmaras setoriais e elaboração/gestão de Planos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável devem ser uma diretriz da Empresa e uma prioridade para a atual gestão. Neste caminho, a EMATER-MG busca avançar na gestão social das políticas públicas no Brasil, inclusive se colocando à serviço para organização e promoção do desenvolvimento sustentável dentro das comunidades, grupos, municípios e regiões em que atua. Não esquecendo a esfera eco-nômica, a ação extensionista está moldada na assistência aos agricultores familiares para disponibilização de tecnologias, práticas e oportunidades que visem aumento da competiti-vidade sistêmica destes dentro de suas cadeias produtivas. Neste sentido a intervenção dos técnicos da Empresa se pautam num trabalho sistêmico, focado nas etapas dos negócios agropecuários e visando a atividade global da família. Por fim cabe dizer que a tecnologia agropecuária é um dos pontos fundamentais do trabalho da Empresa, mas esta deve ser sempre um meio para a promoção humana, e nunca uma geradora de excluídos sociais e passivos para as gerações futuras.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
254 255
REFERÊNCIAS
1. BUARQUE, Sérgio C. Metodologia de planejamento do desenvolvimento local e municipal sustentável. IICA – Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, 1999.
2. DOWBOR, Ladislau. A Intervenção dos governos locais no processo de desenvolvimento. Instituto Pólis, maio 1995.
3. FRANCO, Augusto de. Porque precisamos de desenvolvimento local integrado e sustentável? Revista Século XXI, No 3, Brasília: Millenium- Instituto de Política, março 2000.
4. GRAZIANO DA SILVA, José. Local sustainable development: a new challenge for under-developedcountries?. XXXVIII Congresso SOBER e X Congresso IRSA, Rio de Janeiro, Agosto 2000.
5. GRAZIANO DA SILVA, José e CAMPANHOLA, Clayton. Diretrizes de políticas públicas para o novo rural brasileiro: incorporando a noção de desenvolvimento local. Estudo PRONEX-FINEP e FAPESP. 1997.
6. PIRES, J.A.A. A cadeia produtiva de carne bovina no Brasil: mercado internacional e nacional. II Simpósio de Produção de Gado de Corte/SIMCORTE, Anais, Viçosa, UFV, DZO, 2001.
7. IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Agropecuário: Número de estabelecimentos agropecuários com bovinos, efetivos e venda, por tipologia, con-dição do produtor em relação às terras, grupos de cabeças de bovinos e grupo de atividade econômica. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. Disponível em: sidra.ibge.gov.br/tabela/6910. Acesso em: 10 mar. 2021.
20Identificação de patógenos causadores de podridão mole em batata
Wallace Veríssimo NascimentoIF Goiano
Helena Beatriz da Silva MotaIF Goiano
Nadson de Carvalho PonteIF Goiano
Miriam Fumiko FujinawaIF Goiano
Jaqueline Kiyomi YamadaIF Goiano
Clarice Aparecida MegguerIF Goiano
10.37885/210303872
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
257
Palavras-chave: Solanum Tuberosum, PCR, DNA, Pectobacterium.
RESUMO
As bactérias do gênero Pectobacterium causam o sintoma de podridão mole em tu-bérculos, tecidos ou na haste da planta provocando grandes perdas. Objetivou-se com este trabalho identificar a fonte do inóculo causador da doença e se haviam diferenças genômicas entre esses ao decorrer do ciclo da batata. Amostras foram coletas no mo-mento do plantio (batata semente), na amontoa e em pós-colheita. O material amostrado foi acondicionado em embalagens com alta umidade e armazenado em câmara BOD, à 25ºC. Após o aparecimento dos sintomas de podridão mole foi realizado o isolamento e em seguida a extração de DNA genômico. Foi realizada a reação de PCR e em seguida analisado por eletroforese em gel de agarose e visualizado com brometo de etídeo por iluminação UV. Foi possível identificar o polimorfismo entre os isolados obtidos nas dife-rentes áreas e em diferentes estádios da cultura da batata. Logo percebe-se que a fonte do inóculo e o patógeno não são os mesmos ao decorrer do ciclo da cultura.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
258
INTRODUÇÃO
A podridão-mole é uma doença provocada por bactérias do gênero Pectobacterium spp. e Dickeya spp. A Pectobacterium é a principal causa de podridão mole em todo o mundo, porém uma espécie de Dickeya, se difundiu por toda a Europa e de lá para vários outros países, sendo possível ocorrer seu aumento nas próximas décadas (DEGEFU et al., 2013; TOTH et al., 2011).
A principal característica das bactérias causadoras da podridão mole é uma grande produção de enzimas pectolíticas, que degradam a pectina presente na parede celular, ocasionando assim, a acelerada deterioração dos tubérculos ou tecidos da haste da plan-ta. As perdas especificamente devido a esta doença são estimadas entre 10 e 40 % nos cam-pos de produção, podendo ser de até 100% durante o armazenamento (TUMELEIRO, 2003).
A presença de bactérias pectolíticas é comum em plantas daninhas, no solo e nas águas superficiais utilizadas para a produção de batata. Assim que as batatas sementes são plantadas no campo, a incidência de Pectobacterium em tubérculos aumenta. Apenas uma pequena quantidade de células de Pectobacterium na batata de semente é suficiente para causar a doenças na batata (TOTH et al., 2003).
O início da doença se dá por meio da entrada do patógeno através de ferimentos me-cânicos ou naturais nos tubérculos. Uma vez então, que o patógeno está presente, inicia-se uma série de reações que desencadeiam a produção e atividade de enzimas pectolíticas, que atuam principalmente na degradação da parede celular (EMBRAPA, 2001).
Dessa forma objetivou-se identificar a a origem do inóculo causador dessa doença, ao visto que após identificado ser possível viabilizar o controle ou o manejo ideal para e esse microrganismo.
MATERIAL E MÉTODOS
As amostras de tubérculos foram coletadas em duas unidades produtoras no município de Perdizes – MG e em uma unidade de produção em Cristalina – GO. Foram coletadas amostras em três diferentes estádios da cultura: batatas de semente no momento do plantio; identificação de plantas com sintomas da doença após o processo da amontoa; batatas após a colheita, quando seriam destinadas ao mercado consumidor.
Após a coleta as amostras dos tubérculos foram acondicionadas num ambiente que associa alta umidade e temperatura em torno de 25ºC, condições essas que propiciam am-biente ideal de replicação dessas bactérias. Os tubérculos que apresentaram sintomas de podridão-mole foram levados a uma câmara de fluxo continuo para isolamento pelo método de iscas biológicas conforme descrito por ROMEIRO, 2001.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
258 259
Após o isolamento, realizou-se extração de DNA genômico conforme MAHUKU, 2004, e realizado a reação de PCR utilizado os iniciadores BOX-PCR (LOUWS, 1994).
O produto de PCR foi analisado por eletroforese em gel de agarose a 1% e visualizado com brometo de etídeo por iluminação UV.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Todos os isolados apresentavam as características de podridão-mole acentuada e assim ressalta a importância de conhecer a principal fonte do inóculo. (Pérombelon et. al, 1980). As bactérias sobrevivem na forma latente nos tecidos vasculares de tubérculos que aparentemente estão livres do patógeno. Ao encontrarem as condições que favorecem a multiplicação, esse patógeno inicia a produção de enzimas pectolíticas, o tubérculo apodrece e a bactéria se dissemina (Elphinstone, 1993).
Com base no polimorfismo gerado a partir do primer BOX-PCR (Figura 1-A), é possível verificar diferenças genéticas entre isolados de diferentes áreas, e entre isolados de uma mesma área coletados e momentos distintos (Figura 1-B).
Tal fato leva a crer que o inóculo presente nas batatas sementes não é responsável pela ocorrência da doença nas plantas e nos tubérculos de batata comercializados.
Figura 1. Comparação dos isolados encontrados nos diferentes estádios de desenvolvimento da cultura da batata.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
260
CONCLUSÃO
Mediante dos resultados obtidos fruto da PCR dos isolados, nota-se que há diversidade genética de isolados de diferentes campos e de isolados coletados em diferentes momentos ao decorrer da cultura, dessa forma o controle do patógeno deve ser feito em várias outras etapas do processo além da batata semente.
AGRADECIMENTOS
A equipe de alunos e professores dos laboratórios de Fitopatologia e de Fisiologia Vegetal do IF Goiano – Campus Morrinhos.
FINANCIADORES
Agradecimento ao IF Goiano e ao CNPq, pela bolsa PIBIT concedida.
REFERÊNCIAS
1. DEGEFU, Y.; POTRYKUS, M.; GOLANOWSKA, M.; VIRTANEN, E.; LOJKOWSKA, E. A new clade of Dickeya spp. plays a major role in potato blackleg outbreaks in North Finland. Annals of Applied Biology. v. 162, p.231–241. 2013.
2. ELPHINSTONE, J.G. Ecologia de espécies pectolíticas de Erwinia causantes de pudricion blanda y pierna negra de la papa. In: Lopes, C.A. & Espinoza R.N. (Eds). Taller sobre enfer-medades bacterianas de la papa. Brasília. EMBRAPA/CNPH. 1993. pp.59-66.
3. EMBRAPA. Batata Show: Podridão-mole e canela-preta da batata. v.3, Ano 1, Setembro. 2001.
4. LOUWS, F. J.; FULLBRIGHT, D. W.; STEPHENS, C. T.; DE BRUIJN, F. J. Specifc genomic fn-gerprints of phytopathogenic Xanthomonas and Pseudomonas pathovars and strains generated with repetitive sequences and PCR. Applied and Environmental Microbiology, Washington, DC, v. 60, n. 7, p. 2286- 2295, 1994.
5. MAHUKU, G.S. Plant Molecular Biology Reporter 22: 71–81, 2004.
6. PÉROMBELON, M. & KELMAN, A. Ecology of the soft rot Erwinia. Annual Review of Phyto-pathology 12:361-387. 1980
7. ROMEIRO, R. S; Métodos em bacteriologia de plantas – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, 2001.
8. TOTH, I. K.; SULLIVAN, L.; BRIERLEY, J. L.; AVROVA, A. O.; HYMAN, L.J.; HOLEVA, M.; BROADFOOT, L.; PÉROMBELON, M. C. M.; MCNICOL, J. Relationship between potato seed tuber contamination by Erwinia carotovora ssp. atroseptica, blackleg disease development and progeny tuber contamination. Plant Pathology. v. 52, p.119–126. 2003.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
260 261
9. TOTH, I. K.; VAN DER WOLF, J. M.; SADDLER, G.; LOJKOWSKA, E.; HELIAS, V.; PIRHONEN, M.; LAHKIM, T. L.; ELPHINSTONE, J. G. Dickeya species: an emerging problem for potato production in Europe. Plant Pathology. v. 60, p.385–399. 2011.
10. TUMELEIRO, A. I. IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE Pectobacterium sp. EM TUBÉR-CULO-SEMENTE DE CULTIVARES DE BATATA. 2003. 85 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Agronomia, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2003.
21Mejoramiento genético participativo: herramientas para una producción sustentable de maíz criollo (Zea mays L.) en Yucatán
Jacques Fils Pierre
10.37885/210303595
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
263
Palavras-chave: Zea Mays L, Fitomejoramiento Genético, Peninsula de Yucatán, Investigación Participativa.
RESUMEN
En Yucatán, México, hasta el momento, la selección de variedades de maíz no se ha tenido muy en cuenta el interés de los milperos en participar en el proceso de mejora-miento genético del maíz. Sin embargo, los agricultores milperos de la península de Yucatán tienen la capacidad de seleccionar variedades de cultivos que se adapten a sus entornos, priorizando sus gustos y a la misma vez, preservando las variedades que representan un valor cultural para ellos. El maíz se constituye como uno de los cultivos fundamentales del sistema de la milpa maya en el estado de Yucatán, sin embargo, las variedades criollas cultivadas no presentan características de interés para los produc-tores locales tales como aumento en rendimiento en grano, mayor resistencia a plagas y enfermedades y finalmente plantas que presentan mayor tolerancia a estrés hídrico. Todo eso conlleva al abandono de esta actividad por parte de los jóvenes, lo que pone en peligro sostenibilidad y la existencia del sistema milpero y la seguridad alimentaria de las familias rurales del estado de Yucatán. Basado en la importancia de este cultivo para las los agricultores en el proceso de selección, este documento propone el uso de la metodología de investigación participativa, usando el fitomejoramiento participativo como una alternativa, capaz de contribuir a la autosostenibilidad de la producción de semilla mejorada y en la obtención de variedades de maíz mejor adaptadas al sistema de la milpa maya del estado de Yucatán. Esta revisión contribuirá a la necesidad de implementar estos tipos de investigaciones con un enfoque participativa, en el cual los agricultores milperos en asociación con los investigadores científicos tendrán la oportu-nidad de seleccionar variedades locales con características de mayor preferencia de los productores locales. Por lo tanto, es de suma importancia incluir a los agricultores en un proceso de selección de variedades.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
264
INTRODUCCIÓN
El maíz es uno de los elementos más importante en la dieta humana, y constituye la base de la seguridad alimentaria a nivel mundial, su demanda tanto para el consumo hu-mano y animal va en aumento, se prevé que la demanda mundial a más de 800 millones de toneladas más que la cosecha récord global de 2014 (FAO,2016).
En México, el cultivo maíz es uno de los cultivos con más relevancia para la agricultura de México, por su gran importancia en alimentación de la población mexicana, también, por su importancia en el fornecimiento de materia prima para la industria, ya sea como insumo directo o los subproductos de este (SIAP, 2007).
El sistema milpa juega un papel fundamental en la producción del maíz para la dieta básica de los mexicanos como “la tortilla”, es un sistema policultivo caracterizado por pocas tecnologías, es sumamente importante para el mantenimiento de agroecosistemas sosteni-bles. (HERNÁNDEZ, 2001).
Sin embargo, la sostenibilidad de este sistema se ve amenazado por muchos factores tales como la erosión genética de las variedades de semillas nativas, la pérdida de interés de los jóvenes en mantener el sistema, y lo más importante, el efecto directo del cambio climático en la producción agrícola en la milpa. Según la FAO (2016) el cambio climático podría tener efectos catastróficos en el rendimiento del trigo y reducir en un 20 % el rendi-miento del maíz en África.
Una de las alternativas viable para garantizar la autosostenibilidad de este sistema milpa, y aumentar el rendimiento de los principales cultivos básicos para la alimentación humana es la introducción del mejoramiento genético participativo, que puede ser una forma de mantener la variabilidad genética y la obtención de variedades de maíz mejoradas y mejor adaptadas en ambientes marginales donde viven los pequeños agricultores.
Entender los problemas enfrentados por los agricultores locales con respecto a los factores bióticos y abióticos en sus diferentes sistemas agrícolas, es la primera etapa en definir estrategias que pueden resolver estos problemas. El fitomejoramiento participativo se fundamenta en la estrecha relación que existe entre el agricultor y el investigador, con el objetivo de desarrollar nuevas variedades de semillas adaptables para los entornos margi-nales en los cuales se encuentren los productores. Esta relación permite el empoderamiento de las comunidades locales mediante la promoción de nuevas variedades de semillas que atienden las necesidades básicas los agricultores locales (MARTIN Y SHERINGTON, 1997).
Dentro de los diferentes problemas enfrentados por los pequeños agricultores, es impor-tante destacar el impacto del cambio climático sobre los diferentes sistemas agrícolas. En las últimas décadas, el cambio climático ha tenido un impacto muy profundo en el aumento de temperatura y con una variabilidad en la de precipitación disponible tanto en cantidad como
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
264 265
en tiempo, todo eso ha traído consecuencias nefastas para el sistema agrícola con respecto a problemas de plagas y enfermedades enfrentados en la agricultura (Lobell et al., 2008, citado en Syampungani et al., 2010).
El impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria está ocurriendo ahora (IPCC,2014) y ese impacto compromete la producción agrícola debido a la pérdida de los suelos, cambio en las temporadas de cultivo más cortas, donde hay una mayor incertidumbre sobre qué y cuándo plantar (CMNUCC, 2007).
A pesar de los avances tecnológicos en fitomejoramiento, fertilizantes y sistemas de riego, el clima sigue siendo un factor clave en la producción agrícola. En gran parte de las comunidades rurales pobres de México, los agricultores se encuentran en ambientes que pue-den experimentar fenómenos naturales, y el maíz como el principal cultivo alimenticio básico de estas comunidades, se ve afectado por el efecto del cambio climático (Bellon et al. 2005).
En este contexto, este presente ensayo visa resaltar la importancia del mejoramien-to genético participativo como una herramienta para enfrentar los impactos negativos del cambio climático en la agricultura y como alternativa para mantener la autosostenibilidad de los diferentes pequeños sistemas agropecuarios, forneciendo mejores variedades de maíz criollo adaptables y tolerantes para los ambientes marginales, y el mejoramiento genético.
¿En qué consiste el Fitomejoramiento Participativo?
EL fitomejoramiento participativo se utilizó por primera vez en forma impresa en una con-ferencia en 1995 (IDRC, 1996) donde, en una definición comúnmente utilizada de Witcombe et al. (1996), los agricultores desde el inicio de las etapas del programa participan en la selección de las primeras generaciones y en la selección participativa de variedades (PVS) (Witcombe et al., 1996) donde prueban las variedades de semillas mejoradas por programas formales de mejoramiento.
Este concepto surge en los años ochenta como parte de una metodología de inves-tigación (WETZIEN Y CHRISTINCK, 2009) donde existe una estrecha colaboración entre el productor y el investigador (MARTIN Y SHERINGTON, 1997). En este sistema, tanto fitomejoradores, agricultores, técnicos y otros deben ser parte del proceso de la selección, multiplicación, conservación y diseminación de las variedades criollas de importancia para los productores (RÍOS, 2000).
Por el contrario, el fitomejoramiento convencional, es un proceso secuencial centralizado en el cual los mejoradores recolectan germoplasma, lo evalúan en estaciones experimentales controladas y hacen cruces utilizando los materiales de mejor calidad, sin la participación activa de los agricultores, lo que puede conducir a la pérdida de recursos genéticos y biodi-versidad (Ceccarelli, 1996; Thuillet et al., 2002).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
266
Existe varios tipos de fitomejoramiento participativo, todo depende del nível de partici-pación del agricultor en el proceso de fitomejoramiento.
Según Biggs y Farrington (1991) y Lilja and Ashby (1999), existen diferentes conceptos relacionado al termino de mejoramiento:
En el Fitomejoramiento Convencional, los científicos o investigadores toman las deci-siones solos sin la participación y sin una comunicación organizada con los “agricultores”.
En el Fitomejoramiento Consultivo, los científicos toman las decisiones solos, pero con comunicación organizada con los agricultores. Los científicos conocen las opiniones, preferencias y prioridades de los agricultores a través de una comunicación unidireccional sistemática con ellos. Pero les tocan a los investigadores la decisión de incluir o no las in-formaciones dadas por los agricultores en el proceso de fitomejoramiento.
El Fitomejoramiento puede ser Colaborativo, en la toma de decisiones, tanto los agricul-tores y los investigadores comparten la misma autoridad, ellos trabajan juntos y se comunican de una forma bien organizada en grupos. Los científicos y los agricultores conocen las ideas, las hipótesis y las prioridades de los demás para la investigación a través de la comunicación organizada de dos vías. Las decisiones de fitomejoramiento se toman conjuntamente, ni los científicos ni los agricultores las toman por su cuenta. Ninguna de las partes tiene derecho a revocar o anular la decisión conjunta.
El Fitomejoramiento puede ser por Colegiada, en este caso, los agricultores toman decisiones de fitomejoramiento colectivamente, ya sea en un proceso grupal o mediante de grupos agricultores individuales que están en comunicación organizada con los científicos. Los agricultores conocen las prioridades de los investigadores y las Hipótesis de investigación a través de la comunicación organizada en el camino. Los agricultores no se ven obligado a dejar las opiniones de los investigadores influyan en su toma de decisiones en el proceso de mejoramiento.
Y finalmente, existe el tipo de Fitomejoramiento agricultor investigador, donde en este caso, solamente participa los agricultores sin la intervención de los investigadores. Ellos toman las decisiones en grupo o individualmente sobre cómo experimentar e introducir las nuevas variedades de semillas mejoradas, sin la necesidad de los investigadores.
Fundamentos del de mejoramiento genético participativo
El fitomejoramiento participativo se fundamenta en el uso de la genética en la selección de plantas con el objetivo de desarrollar mejores variedades con características deseables por los agricultores locales. Unos de sus principales fundamentos, es que el productor debe ser parte o uno de los actores fundamentales en colaboración con el investigador en el proceso
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
266 267
de la selección y de mejoramiento de las variedades locales que tienen las características deseables por los productores (HAVERKORT et al., 1988; WITCOMBE; JOSHI, 1996).
En un programa de fitomejoramiento participativo, se toma en cuenta los aspectos deseables por los agricultores y la especificidad de sus entornos locales para apuntar a un círculo más amplio de usuarios potenciales (Witcombe et al., 2003). De esta manera, es necesario tomar en cuenta la opinión de los agricultores locales, el ambiente en el cual se encuentran, considerando los aspectos socioeconómicos de los productores locales, los cuales pueden garantizar la sostenibilidad agrícola de estos lugares, lo que carecen los programas de fitomejoramiento convencionales (BONNEUIL Y THOMAS, 2004).
El fitomejoramiento participativo generalmente se refiere a dos tipos de planteamien-tos: el planteamiento funcional y procesal. El primero término se refiere a la obtención de variedades de cultivos mejor adaptadas, que se adapten más a las necesidades de los agricultores o las de una cadena de suministro, mientras que, el planteamiento procesal se refiere al empoderamiento a los agricultores mediante el desarrollo de sus habilidades como fitomejoradores (THRO Y SPILLANE, 2000).
Estrategias y procedimientos del Mejoramiento Genético Participativo
En cualquier programa de fitomejoramiento, es importante definir estrategias que ga-ranticen su éxito a largo de la implementación de esta metodología. Para KUNZ Y KARUTZ (1991), estas cinco etapas son fundamentales para la implementación de cualquier programa de mejoramiento genético participativo: establecer objetivos de fitomejoramiento, generar variabilidad genética (de colecciones o campos de agricultores y / o cruce), selección de mate-riales variables, evaluando variedades experimentales, y multiplicando y diseminando semillas
Por el otro lado, FAO (2012), define 12 pasos que se pueden dividirse en 4 fases para garantizar el éxito de cualquier proyecto de mejoramiento genético participativo:
1. Obtener informaciones básicas antes de cualquier intervención tales como enten-der el contexto socioeconómico y ambiental del área en cuestión, implementar un diagnostico general de forma participativo incluyendo la comunidad y los produc-tores, donde es crucial definir meta del grupo objetivo y finalmente definir los ob-jetivos generales del programa de mejoramiento genético participativo para esta determinada región.
2. Delimitar el área a ser intervenido para facilitar alcanzar los objetivos definidos an-teriormente donde determinaremos los principales actores, cuáles son los sistemas de cultivos existentes en esta región, tiempo que vamos a demorar para desarrollar las variedades mejoradas etc.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
268
3. Hacer la intervención después de saber todas esas informaciones de la fase ante-rior por medio de un plan estratégico de acción.
4. Y finalmente hacer una retroalimentación de todo el proceso, junto a los principales actores para la gestión del conocimiento adquirido durante todo el proceso.
Debemos hacer énfasis en la participación del agricultor junto al investigador o fito-mejorador desde la fase temprana del programa de fitomejoramiento participativo. Al tomar en cuenta la participación de los agricultores en la fase inicial del proyecto, esto agregaría información complementaria de mucha importancia por los resultados obtenidos en las pri-meras etapas del programa (TOOMEY, 1999).
Ventajas del Mejoramiento Genético Participativo
En diversos países del mundo, el mejoramiento genético participativo ha encontrado una forma efectiva para que los pequeños productores agrícolas aprovechen el potencial de la productividad de sus variedades y aumenten la diversidad genética de los cultivos locales. Esta metodología de investigación permite a los agricultores involucrarse a cierto nível, en la toma de decisiones en las diferentes etapas del proceso de investigación, y mediante su estrecha colaboración con el investigador, se desarrolla variedades de semillas locales, que responden a la realidad local en cual viven y que cumplen con las características del ideotipo de sus cultivares.
Mejoramiento de cultivos en ambientes marginales caracterizados que son principalmente de interés local.
Esta tecnología permite a los pequeños agricultores identificar a nuevas variedades de semillas de mayor preferencia y todo eso concluye a un mayor grado de aceptación y adop-ción entre ellos quienes son los usuarios directos de estas variedades mejoradas. Como se mencionaron en el párrafo anterior, la estrecha colaboración entre el agricultor y el investiga-dor, hace que estas variedades cumplen con la realidad local, lo que lleva a crear una mayor autonomía en semillas mejoradas, sin tener que depender de las compañías multinacionales de semillas. La necesidad de crear bancos de germoplasmas locales es de vital importancia para las comunidades donde viven los pequeños agricultores, y el mejoramiento genético participativo es un medio que garantice semillas de buenas calidades, sin tener que tener un costo elevado tales como son las semillas certificadas que se venden por diferentes nichos de mercado relacionado a empresas de semillas multinacionales.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
268 269
Empoderamiento de los pequeños agricultores y creación de recursos humanos locales
Al momento de incluir a los principales beneficiarios de esta herramienta en la investi-gación de forma participativa, se están desarrollando recursos humanos más capacitados, individuales empoderados para poder resolver sus propios problemas enfrentados en sus propriedades agrícolas. Este proceso ayuda empoderar los agricultores locales, donde ellos aprenden nuevos conocimientos relacionados al proceso de mejoramiento genético, y tam-bién, eso les proporciona nuevas formas de organizarse socialmente a fin de crear autonomía para los sistemas agrícolas locales.
Conservación de los recursos fitogenéticos para ambientes caracterizados por la agricultura de subsistencia.
Una de las grandes amenazas que sufren las pequeñas propriedades agrícolas a nível mundial es pérdida de las variedades de semillas nativas y su variabilidad. De este modo, esta metodología de investigación surgió como una alternativa para la conservación de los recursos fitogenéticos locales. Al desarrollar nuevas variedades mejoradas, se están ga-rantizando el mantenimiento de la variabilidad de las semillas criollas, mediante un mayor rango de germoplasma que son tolerantes y adaptables a las condiciones climáticas locales en los cuales se encuentran los productores. Los pequeños agricultores generalmente viven en lugares dominados por suelos de baja fertilidad, suelos marginales, estos suelos requie-ren investimentos costosos para poder mejorar sus estructuras y poder cultivar sin ningún inconveniente sus cultivos. La implementación de esta tecnología es la forma más segura de generar materiales locales que se pueden usar para la conservación de los recursos fitogenéticos en los bancos comunitarios de semillas a nível local.
Inclusión de diferentes grupos sociales en la toma de decisión de cualquier programa de mejoramiento genético en las comunidades.
La participación de las organizaciones sociales sin fines de lucro, los comerciantes y las mujeres en específico, es una ventaja que fornece el mejoramiento genético participati-vo. En este caso, este última ofrece oportunidades para dar sus opiniones en la selección de las variedades de semillas que responden a sus características de interés comerciales, sensoriales y agronómicos etc.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
270
Algunos factores limitantes del Mejoramiento Genético Participativo en diferentes regiones del mundo
Por el otro lado, el mejoramiento genético participativo tiene sus limitaciones, aunque esta tecnología social ha traído muchos beneficios para los pequeños agricultores, muchos factores limitantes y desafíos tienen que ser parte del enfoque de las futuras investigaciones.
Por ejemplo, en muchas partes del mundo, donde han implementado esta metodología, la plena integración de los agricultores en el proceso de investigación representa un gran desafío por el hecho de que, por diversos tales como la falta de suficientes recursos finan-cieros, los investigadores no han podido realizar las todas las diferentes etapas del proyecto de fitomejoramiento participativo.
La existencia de forma general de un costo elevado para la implementación de los programas de mejoramiento.
Otro factor limitante importante es la falta del pleno acceso a las nuevas semillas me-joradas por los agricultores locales, después de haberlas desarrolladas, generalmente no existe una estrategia para multiplicarles y divulgarlas para los agricultores de bajos recursos puedan cultivarlas. Estrategias tales como bancos comunitarios de semillas, bajo del mandato de asociaciones u cooperativas locales deberían ser responsables para garantizar de que la mayoría de las comunidades tengan acceso a los nuevos materiales lanzados.
No existe suficientes estudios científicos sobre el nivel de adopción y aceptación de las semillas producidas mediante este proceso de mejoramiento.
Otros desafíos se relacionan con estudios insuficientes para esclarecer de forma cien-tífica los efectos del mejoramiento genético participativo sobre el nível de aceptación y adopción de estas nuevas variedades de semillas por los agricultores a nível mundial y también, necesita más estudios para saber si el aporte o la pérdida de los nuevos alelos en la reserva de genes locales tienen un impacto positivo o negativo para el mantenimiento de la variabilidad genética de los recursos fitogenéticos locales.
Se necesita capacitación adicional para los científicos
En muchas ocasiones, se necesita realizar más capacitaciones para los científicos y también para muchos agricultores cooperantes en este tipo de proyecto de mejoramiento genético participativo. En este de tipo de mejoramiento, tener conocimientos adiciones en el área de antropología y sociología a veces son importantes para poder garantizar el éxito de un tal programa. Todo eso, a veces trae como consecuencia, una falta en recursos financieros
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
270 271
que son necesarios para poder realizar capacitaciones adicionales para las personas invo-lucradas en el programa de mejoramiento participativo.
Diferentes casos de programa de fitomejoramiento participativo a nivel mundial
Desde la década noventa, el mejoramiento genético participativo surgió como una alter-nativa de investigación frente al modelo convencional de investigación. Por el hecho de que el fitomejoramiento convencional no ha conseguido desarrollar variedades de semillas que responden a la realidad en el cual viven los agricultores locales, muchos científicos sociales tales como Witcombe, Ceccarelli, Weltzien y Sperling etc. empezaron a experimentar esta nueva metodología de investigación, la cual se fundamenta en una estrecha colaboración entre el agricultor y el investigador en el proceso de investigación.
De esta forma, después de muchos años de debate en el mundo académico, mu-chos científicos comenzaron a adoptar esta metodología en sus prácticas de investigación a nivel mundial.
En el mundo entero, se han implementado muchos proyectos de mejoramiento gené-tico participativo en diferentes cultivos de importancia económica para la alimentación bási-ca. En diferentes partes del mundo, tales como Asia, un grupo llamado “CASZ-NR group” lo ha implementado en el cultivo arroz, en América Latina, en países como Cuba, Honduras, México, Guatemala y Nicaragua etc. lo han implementado en cultivos de gran importancia para esas culturas tales como Maíz, Frijol, entre otros. En la región mediterránea, hay ex-periencias reportadas con cultivo como la Cebada y finalmente en África hay experiencias reportadas con el cultivo sorgo, frijol etc.
En el continente africano, esta metodología de investigación ha sido una importante herramienta para muchos científicos sociales. Esta tecnología surgió por primera vez en Ruanda (Sperling et al. 1993) y en 2001 ya se había practicado en más de 22 países afri-canos en diferentes formas (CGIAR-PRGA 2004).
En América Latina, lo han utilizado como una estrategia de combatir la inseguridad alimentaria, se aprovechó de la agrobiodiversidad de las variedades criollas, el conocimiento local y la cultura del maíz (Fuentes, 2002, 2007).
En la mayoría de los lugares donde se han implementado esta tecnología, se pueden observar su relevancia en generar beneficios para las comunidades que viven en ambientes marginales y eso genera soluciones de acuerdo con la necesitad de los agricultores locales.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
272
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
El maíz es uno de los cultivos de mayor importancia económica a nivel mundial, sin embargo, su producción se ve amenazado por los impactos del cambio climático en los diferentes lugares donde se encuentran los pequeños agricultores. Se han implementado en todo el mundo, el fitomejoramiento genético como una alternativa de generar varie-dades de semillas, capaces de adaptarse a estos cambios enfrentados por los sistemas agrícolas. El mejoramiento genético clásico ha sido una gran herramienta encontrada por el ser humano para satisfacer sus necesidades básicas. A través de la selección plantas, el hombre ha conseguido revolucionar la producción de alimentos, generando semillas mejo-radas con mayor rendimiento en grano, resistencia a plagas y enfermedades y tolerancia a estrés hídrico entre otros. Sin embargo, al pasar de los tiempos, estas semillas mejoradas no se han conseguido dar respuestas significativas en los ambientes marginales donde se encuentran la mayoría de los pequeños agricultores, en este sentido, muchos científicos han comenzado a proponer el mejoramiento genético participativo, como una nueva me-todología de investigación, donde se involucra el agricultor en algunas etapas del proceso de mejoramiento genético participativo. Esta nueva metodología, por su gran relevancia, ha permitido que las investigaciones científicas proporcionen mayores impactos a nivel local en la vida de los agricultores más necesitados. En esta metodología, las opiniones de los agricultores son tomadas en consideración, las cuales fortalecen todo el proceso de inves-tigación. en este contexto, considerar esta tecnología como principal enfoque en las futuras investigaciones científicas, es algo a ser considerado. Desde hace varias décadas, muchos científicos sociales, organizaciones sociales sin fines de lucro, y gobiernos han tomado la iniciativa de financiar proyectos de fitomejoramiento genético participativo, con el objetivo de desarrollar nuevas variedades de semillas mejoradas para los pequeños agricultores de bajos recursos. Desde el continente africano, europeo, asiático y americano etc., por me-dio de esta tecnología, se han conseguido mostrar resultados significativos para generar variedades de semillas con un mayor impacto a la realidad en la cual se encuentran los agricultores. El secreto que garantice el éxito del fitomejoramiento participativo, el hecho de permitir a los pequeños agricultores usa su propia voz y sus opiniones en la toma de decisiones sobre el ideotipo de los cultivares deseables por ellos. El mejoramiento genético participativo es una metodología que promueve la diversidad genética y la variabilidad en las variedades de semillas locales, también, es una excelente herramienta que permitir empo-derar las comunidades rurales mediante la capacitación de los diferentes productores sobre técnica de fitomejoramiento en plantas, sus diferentes formas de organizarse socialmente para intercambiar semillas y comercializar sus productos agrícolas. Uno de los principales factores limitantes del mejoramiento genético participativo es el alto costo comparado con
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
272 273
otros programas de fitomejoramiento clásico. Es necesario realizar diferentes visitas en las comunidades donde proceso de investigación se está llevando a cabo, y a veces se requiere que los agricultores visiten otros campos experimentales donde los investigadores se con-centran parte de las etapas del proceso de mejoramiento. Además de todo eso, de forma general, se necesitan realizar más estudios científicos para determinar el nível de aceptación y adopción de estos nuevos materiales mejorados por los agricultores, y otros estudios que expliquen como el aporte o la pérdida de los nuevos alelos en la reserva de genes locales afectan la variabilidad genética de los recursos filogenéticos locales. En fin, esta tecnología puede ser una alternativa al mejoramiento genético clásico, por el hecho de que mediante la estrecha colaboración que existe entre el agricultor y el investigador. Además de eso, es importante destacar el rol fundamental que esta herramienta puede jugar en la promoción de semillas mejoradas, capaces de generar sistemas agrícolas sostenibles para enfrentar los impactos del cambio climático en las zonas marginales donde se encuentran los pe-queños agricultores en el mundo entero. Sin embargo, sin la participación de los gobiernos y el acompañamiento de la sociedad civil, los programas de fitomejoramiento participativo no alcanzaran todo su potencial. En ese sentido, mediante de políticas públicas, los gobier-nos pueden incentivar las instituciones de investigaciones públicas y privadas a incluir este tipo de investigación como una estrategia hacer que las investigaciones tienen un mayor impacto en la vida de los agricultores de bajos recursos. Dentro de estas políticas públicas, es imprescindible definir leyes que protegen las variedades desarrolladas en este tipo de programas, y también, dar acceso a crédito a los agricultores con el fin de poder multiplicar e intercambiar sus semillas mejoradas deben ser parte de las estrategias para fortalecer estos tipos de programas. En conclusión, el mejoramiento genético participativo debe ser fortalecido para preservar la diversidad genético y usar como una estrategia para combatir la inseguridad alimentaria a nível mundial.
REFERÊNCIAS
1. Martin A., Sherington J. 1997. Participatory research methods— Implementation, effectiveness and institutional context. Agricultural Systems 55 (2): 195–216.
2. Witcombe, J. R., Joshi, A., Joshi K. D. and Sthapit, B. R. (1996). Farmer participatory crop improvement. I. Varietal selection and breeding methods and their impact on biodiversity. Ex-perimental Agriculture 32:445–460.
3. Wetzien E., Christinck A. 2009. Methodologies for priority setting In: Plant breeding and farmer participation. S. Ceecarelli, E.P. Guimaraes, E. Weltzien (Eds). FAO, Rome.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
274
4. Ríos H., Ortiz R., Ponce M., Verde G., Martín L. 2000. Farmers participation and Access to agricultural biodiversity: response to plant breeding limitations in Cuba. In: Conservation and Sustainable Use of Agriculural Biodiversity: A Sourcebook. International Potato Center Users Perspectives with Agricultural Research and Development. Los Baños, Laguna Phillipines. 382-288.
5. Ceccarelli S, Grando S, Tutwiler R, Baha J, Martini AM, Salahieh H, Goodchild A, Michael M 2000. A Methodological Study on Participatory Barley Breeding. I. Selection Phase. Euphytica 111: 91-104.
6. Schnell FW 1982. A synoptic study of the methods and categories of plant breeding. Z. Pflan-zenzüchtung 89: 1-18.
7. Kunz, P. and Karutz, C. (1991) Pflanzenzuchtung Dynamisch. Die zuchtung standortangepasster Weizen und Dinkelsorten. Research Report. Goetheanum, Dornach.
8. Toomey, G. (1999) Farmers as Researchers: The Rise of Participatory Plant Breeding. IDRC Project, number 950019. On WWW at http://www.idrc.ca/ en/ev-5559-201-1-DO_TOPIC.html.
9. Jingsong Li, Edith T. Lammerts van Bueren, Kaijian Huang, Lanqiu Qin & Yiching Song (2013) The potential of participatory hybrid breeding, International Journal of Agricultural Sustainability, 11:3, 234-251, DOI: 10.1080/14735903.2012.728050
10. Y. P. Singh, A. K. Nayak , D. K. Sharma , R. K. Gautam , R. K. Singh , Ranbir Singh , V. K. Mishra , T. Paris & A. M. Ismail (2014) Farmers’ Participatory Varietal Selection: A Sustainable Crop Improvement Approach for the 21st Century, Agroecology and Sustainable Food Systems, 38:4, 427-444, DOI: 10.1080/21683565.2013.870101.
11. Haverkort, B., W. Hiemstra, C. Reijntjes y S. Essers. 1988. Strengthening Farmers’ Capacity for Tech nology Development. Boletín Informativo ILEIA. Tema en Tecnología de Desarrollo Participativo, 4, 3: 37.
12. FAO, 2012. MANUAL TÉCNICO DE FITOMEJORAMIENTO PARTICIPATIVO DE MAÍZ EN ÁREAS DEL ALTIPLANO Y DE SEQUÍA EN GUATEMALA.7 P.
13. CGIAR-PRGA. 2004. Participatory Plant Breeding and Participatory Plant Genetic Resource Enhancement: An Africa-wide Exchange of Experiences. Cali: CGIAR-PRGA.
14. Sperling, L., M. Loevinshn, and B. Ntambomvura. 1993. ‘‘Rethinking the Farmer’s Role in Plant Breeding: Local Bean Experts and On-Station Selection in Rwanda.’’ Experimental Agriculture 29 (4): 509-519.
15. Fuentes López, M. 2002. Informe técnico de avance del FP en la Sierra de Los Cuchumatanes, Huehuete nango. Guatemala. Proyecto FP-Guatemala. 25 p.
16. Fuentes López, M. 2007. Alternativas para el manejo de la agrobiodiversidad del maíz en la Sierra de los Cuchumatanes, Huehuetenango, Guatemala. Proyecto de Fitomejoramiento Participativo de la Sierra de Los Cuchumatanes, Huehuetenango. Guatemala. 12 p.
17. Lobell, D.B., Burke, M.B., Tebaldi, C., Mastrandrea, M.D., Falcon, W.P. & Naylor, R.L. 2008. Prioritizing climate change adaptation needs for food security in 2030. Science, 319: 607–610.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
274 275
18. IPCC, 2014: Cambio climático 2014: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo principal de redacción, R.K. Pachauri y L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 157 págs.
19. Bellon, M. R., D. Hodson, D. Bergvinson, D. Beck, E. Martinez-Romero, and Y. Montoya. 2005. Targeting agricultural research to benefit poor farmers: Relating poverty mapping to maize en-vironments in Mexico. Food Policy 30(5–6): 476–492. [Crossref], [Web of Science ®], [Google Scholar].
20. Ceccarelli, S. (1996) Positive interpretation of GxE interactions in relation to sustainability and biodiversity. In M. Cooper and G.L. Hammers (eds) Plant Adaptation and Crop Improvement (pp. 467–486). Wallingford: CABI.
21. Thuillet, A.C., Bru, D. and David, J. (2002). Direct estimation of mutation rate for 10 microsa-tellite loci in durum wheat, Tirticum turgidum (L) Thell. Ssp durum desf. Molecular Biology and Evolution 19, 122–125.
22. Biggs S D, Farrington J 1991. Agricultural research and the rural poor: a review of social science analysis International Development Research Centre. (IDRC); Ottawa, Canada, 139 pp.
23. Lilja N, Ashby J 1999. Types of participatory research based on locus of decision making Con-sultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), Participatory Research and Gender Analysis (PRGA). PRGA working document no. 6.
24. Witcombe, J.R., Joshi, A. and Goyal, S.N. (2003) Participatory plant breeding in maize: A case study from Gujurat, India. Euphytica 130, 413–422.
25. Bonneuil, C. and Thomas, F. (2004) Du maı¨s hybride aux OGM : un demi-sie`cle de ge´ne´tique et d’ame´lioration des plantes a` l’INRA. In P. Boistard, C. Sabbagh et I. Savini (dir.) Actes du colloque : l’ame´lioration des plantes, continuite`s et ruptures, 17–18 Oct. 2002, Paris, INRA Editions, 42–53.
26. Thro, A.M. and Spillane, C. (2000) BiotechnologyAssisted Participatory Plant Breeding: Com-plement or Contradiction? Working Document 4, CGIAR.
22Parâmetros f i s io lóg icos e de crescimento da cana-de-açúcar sob irrigação parcial e plena, submetida a diferentes níveis de salinidade
Francisco de Assis Gomes JuniorUESPI
Lilia Gomes WilladinoUFRPE
Clarice Souza MouraUFRB
Bruno Laercio da Silva PereiraEmbrapa
Marlei Rosa dos SantosUESPI
10.37885/210303829
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
277
Palavras-chave: Estresse Combinado, Saccharum Officinarum l., PRD.
RESUMO
Água de qualidade e em quantidade suficiente é um bem cada vez mais escasso. O se-miárido Brasileiro apresenta limitações ambientais em seu território como altas tempera-turas, salinização do solo, da água, baixa pluviosidade associada a uma grande demanda evaporativa. Métodos e técnicas de manejo do uso e eficiência da água na agricultura é de grande importância para manutenção de alta produtividade e proteção dos recursos naturais. Nesse contexto o objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos da irrigação plena e parcial do sistema radicular na eficiência do uso da água, e paralelamente compreender os mecanismos bioquímicos de aclimatação ao estresse combinado (hídrico e salino) em cana-de-açúcar. Mudas de cana-de-açúcar procedentes do cultivo in vitro foram acli-matizadas durante 15 dias e em seguida submetidas a três níveis de irrigação: plantas mantidas com 100% da capacidade de pote sob molhamento fixo (T1-100CP-MF); plantas mantidas com 50% da capacidade de pote sob molhamento fixo (T2-50%-MF); e plantas submetidas a 50% da capacidade de pote com molhamento alternado entre os dois la-dos do pote (T3-50%-MA). A alternância do lado irrigado foi de quatro dias. Foi utilizado quatro níveis de condutividade elétrica da água de irrigação: 0,3 ds m–1 (B1), 3,3 ds m–1 (B2), 6,3, ds m–1 (B3), 9,3 ds m–1 (B4). A produção de fitomassa da cana-de-açúcar teve redução superior a 45% no estresse moderado, quando comparado à irrigação plena. Sob condição de estresse salino as principais variáveis fisiológicas afetadas negativa-mente foram o teor relativo de água e potencial hídrico. No entanto plantas sob irrigação alternada demonstraram maior capacidade de ativação de mecanismos de defesa para manutenção do potencial hídrico foliar adequado em condições de salinidade elevada.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
278
INTRODUÇÃO
No Brasil, estimativas da Embrapa, demonstram que o aumento das temperaturas e do déficit hídrico, em decorrência do aquecimento global, pode alterar profundamente a geografia da produção agrícola no Brasil (EMBRAPA, 2008). As simulações do impacto da mudança do clima nas nove culturas mais representativas no Brasil em termos de área plan-tada apontam expansão apenas para as culturas da mandioca e cana-de-açúcar. Mudanças climáticas podem ser definidas como conjunto de alterações no estado do clima, podendo ser identificadas por mudanças nas médias das variáveis climáticas quanto na variabilidade das propriedades do clima, que perduram por longos períodos de tempo (GONDIM et al., 2017). Ao contrário do que deve acontecer com as outras culturas avaliadas pela Embrapa, a elevação da temperatura prevista para as próximas décadas pode ser, no geral, bem tolerada pela cana-de-açúcar. A planta tolera bem o calor, está no Brasil há 500 anos e se adaptou bem aos diferentes solos de quase todo o país. A cana-de-açúcar pode se espalhar pelo país a ponto de dobrar a área de ocorrência (EMBRAPA, 2008).
A água, recurso natural e essencial à vida no planeta está cada vez mais escasso, esse processo está acontecendo devido principalmente ao crescimento desordenado da população e poluição dos corpos de água. Mesmo tendo uma distribuição irregular no seu território, o Brasil é um país privilegiado em termos de recursos hídricos. No entanto a região nordeste, principalmente o semiárido apresenta condições hídricas desfavoráveis, principalmente de-vido altas taxas de evapotranspiração e salinização (LIRA et al., 2015). Na região semiárida brasileira os cultivos são submetidos constantemente a estresses múltiplos que repercutem diretamente na fisiologia das plantas e consequentemente em sua produtividade.
Como estratégia de convivência com o semiárido, destacam-se atualmente os sistemas produtivos que promovem o uso múltiplo das águas. A região semiárida do Nordeste poten-cialmente irrigável com água de superfície constitui-se numa fronteira agrícola de elevada importância que se torna viável com o uso da irrigação, embora a área irrigável não ultrapasse 3% de toda região semiárida. Apesar da escassez de águas superficiais têm-se nessa região importantes reservas subterrâneas disponíveis de águas salobras que exigem o desenvol-vimento de manejo e tecnologia adequados para viabilizar sua utilização. No Brasil, 61% da água superficial é consumida na agricultura irrigada, consideradas as áreas nobres para a produção. No Brasil, assim como no mundo o setor que mais utiliza e que mais desperdiça água doce é a agropecuária. Responsável pelo consumo de aproximadamente 70% de toda água utilizada no país, com taxas de desperdício que chegam a 50%. Tais resultados está diretamente ligado a sistemas de irrigação mal projetado e falta de controle do agricultor irrigante. (FAO, 2007; ANA, 2019).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
278 279
No semiárido brasileiro a escassez dos recursos hídricos afeta a população local de forma substancial, causando diversos problemas econômicos e sociais. Esses problemas estão diretamente relacionados ao desemprego e consequente empobrecimento da popu-lação e com isso fomentando o êxodo rural. Surge então nesse contexto o uso da irrigação, que por sua vez quando desenvolvida de forma adequada é inequivocamente uma das principais vias de desenvolvimento da agricultura. Contudo quando realizada sem a observa-ção dos preceitos básicos, se torna uma das principais causadoras de impactos ambientais (ALVES et al., 2011).
A cana-de-açúcar é uma planta glicófita e tem sua produção afetada pelo uso inade-quado de água salina na irrigação (MUNIR; AFTAB, 2009).
O secamento parcial do sistema radicular (partial rootzone drying-PRD), consiste na irrigação da metade do sistema radicular em intervalos pré determinados que depende da cultura, do tipo de solo e do estádio fenológico (KRIEDMANN, 2003). Esta técnica permite economia significativa de água e aumenta a eficiência do uso da água (WUE) sem, contu-do, provocar impacto significativo na produção de biomassa das culturas (KANG; ZHANG, 2004; LI et al., 2010; YANG et al., 2012). Nos estudos envolvendo irrigação convencional, déficit hídrico e irrigação alternada do sistema radicular (PRD), são utilizadas variáveis como eficiência no uso da água e produção. No entanto respostas fisiológicas a respeito do comportamento das diferentes culturas cultivadas sob PRD ainda são escassas na literatu-ra. Esses resultados se favem necessário para melhor compreensão e aprimoramento do manejo hídrico dessas culturas. Essas respostas fisiológicas podem ser avaliadas mediante indicadores fisiológicos, que auxiliarão à tomada de decisões (SAMPAIO et al., 2014).
A técnica do PRD foi desenvolvida com intuito de reduzir o consumo de água pela planta, reduzindo sensivelmente a transpiração, sem, contudo, favorecer perdas significativas na produtividade (MARTINELI et al., 2017).
A salinidade altera a absorção de água, nutrientes e a permeabilidade de membra-nas. O aumento da salinidade nas fases iniciais de desenvolvimento da cana-de-açúcar pode reduzir sua evapotranspiração em até 20% (SANTANA et al., 2007). Tais alterações promovem prejuízo nutricional, provocando mudanças no metabolismo, no balanço hormonal e na produção de enzimas do complexo antioxidativo (PRISCO et al., 2010).
OBJETIVO
Avaliar os efeitos da irrigação plena e parcial do sistema radicular na eficiência do uso da água, e paralelamente compreender os mecanismos fisiológicos de aclimatação ao es-tresse combinado (hídrico e salino) da cana-de-açúcar variedade RB931011 lançada pela Ridesa no início de 2010.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
280
MÉTODOS
O experimento foi desenvolvido na Universidade Federal Rural de Pernambuco-UFRPE-SEDE no município de Recife (Latitude 08°03’14”S, Longitude 34°52’52” W, Altitude 4m), em casa de vegetação. O clima da região é classificado como tropical, do tipo AMs’ segundo a classificação climática de Köppen (KOPPEN; GEIGER, 1928).
As mudas da variedade RB 931011 foram cultivadas em vasos (25 cm x 25 cm x 30 cm de profundidade). O interior de cada vaso foi dividido em dois compartimentos, separados e selados uniformemente com folhas de madeira recoberto com plástico, impedindo a troca de água entre os compartimentos, segundo metodologia descrita por Li et al. (2010). O solo utilizado foi proveniente da Estação Experimental de Itapirema do Instituto agronômico de Pernambuco- IPA, localizado no município de Goiana. O solo foi retirado da profundidade 0-30 cm, volume 0,015 m3 de terra fina seca ao ar (TFSA). Nos vasos foi aplicada a adu-bação de fundação com NPK dois dias antes do plantio com base na análise de solo. Vinte dias após plantio foi realizada a adubação de cobertura com N e K. A adubação foi feita conforme necessidades da cultura baseada no Manual de Adubação para o Estado de Pernambuco (IPA, 2008).
As mudas de cana-de-açúcar, procedentes de cultivo in vitro, foram aclimatizadas du-rante 15 dias e em seguida submetidas a três lâminas de irrigação: plantas mantidas com 100% da capacidade de pote (T1-100CP-MF); plantas mantidas com 50% da capacidade de pote, (T2-50CP-MF); e plantas submetidas a 50% da capacidade de pote com molha-mento alternado entre os dois lados do vaso (T3-50CP-MA), (LI et al., 2011). A alternância de molhamento do sistema radicular das plantas sob PRD (T3-50CP-MA) foi de quatro dias. A água utilizada foi preparada em função da água de poço do município de Ibimirim-PE na comunidade de Poço do Boi, ajustada para quatro níveis de condutividade elétrica: 0,3 dS m–1 (B1), 3,3 dS m–1 (B2), 6,3, dS m–1 (B3) 9,3 dS m–1 (B4). Composição química e pH, da água de irrigação, Tabela 1 e 2 respectivamente.
Tabela 1. Composição química da água utilizada na irrigação com maior concentração.
mg/L
pH Ca++ Mg++ K+ Na+ Cl– CO3– HCO3– SO4–
7,2 502,32 399,15 18 984,66 1948,18 294,32 2011,02 744,65
Tabela 2. pH da solução do solo em função dos tratamentos hídricos e condutividade elétrica da água de irrigação.
Tratamentos
CE água de irrigação(dS–1)
0,3 3,3 6,3 9,3
T1-100 CP-MF 6,4 6,99 6,69 7,23
T2-50 CP-MF 6,59 6,32 7,14 7,2
T3-50 CP-MF 6,51 6,69 6,43 7,15
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
280 281
As informações meteorológicas registradas durante o período experimental são apre-sentadas na Figura 1. A umidade relativa do ar média aos 18 dias após tratamento (DAT), foi próxima a 90%, e mínima cerca de 29% aos 45 DAT. Pode ser observado que a tempe-ratura variou entre 30 a 35°C, somente ultrapassando os 40°C em duas ocasiões, aos 7 e 45 DAT (Figura 1).
Figura 1. Dados de temperatura e umidade relativa do ar no período de desenvolvimento do experimento.
O regime de água aplicada durante o período experimental foi controlado baseado na umidade gravimétrica, segundo EMBRAPA, (1997), conforme a Equação 1. O turno de rega foi de quatro dias.
Umidade gravimétrica %=
Onde:a= massa de solo úmido (g)b= massa de solo seco (g)Foi adotado o delineamento experimental inteiramente casualizado com 12 tratamen-
tos e seis repetições em esquema fatorial 3x4 (três lâminas de irrigação e quatro níveis de condutividade elétrica da água de irrigação), totalizando 72 plantas.
Foram avaliadas as seguintes variáveis: número de folhas, comprimento e largura da folha +1; área foliar, altura da planta, diâmetro do colmo e massa fresca no momento da colheita. Posteriormente o material vegetal foi colocado em estufa para secar a 60ºC por 72 horas para determinação da massa seca.
A altura foi medida com o auxilio de uma trena desde o nível do solo até a folha +1(pri-meira folha totalmente expandida e com lígula aparente), segundo numeração proposta por
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
282
Kuijper (1952). O diâmetro do caule foi determinado pela média de duas medidas em posições diferentes do caule a uma altura de 5 cm do nível do solo, com auxilio de um paquímetro.
A área foliar foi estimada através das medidas de comprimento (c) e maior largura (l) da folha + 1. As folhas tiveram suas dimensões aplicadas na equação abaixo, proposta por Hermann e Câmara (1999), e o somatório compôs a área foliar total da planta (AFC).
AFC = C * L * 0,75 * (N + 2)Onde:C= comprimento (cm)L= maior largura (cm)N= número de folhas verdes abertas0,75= fator de correçãoA condutividade elétrica do solo foi determinada conforme metodologia descrita
por Embrapa (1997).Na colheita foi realizado as medidas de potencial hídrico foliar (Ψw). Antes do nascer
do sol determinaram-se os potenciais hídricos, utilizando para as medições a câmara de pressão tipo Scholander (PMS Instrument Co, model 1000). Após as retiradas das folhas das plantas, previamente marcadas, foram colocadas na câmara de pressão, medindo a pressão aplicada até ocorrer à exsudação de seiva pela secção transversal do pecíolo da folha (TURNER, 1981).
Para determinação do teor relativo de água (TRA) pesaram-se seis discos foliares de 5,0 mm de diâmetro sem nervura central, para determinação da massa fresca. Posteriormente esses discos foram acondicionados em placas de Petri com água destilada, para obtenção da massa túrgida. Em seguida esse material foi levado a estufa de ventilação forçada a 60 ºC por 72 horas, para determinação da massa seca.
O TRA foi obtido a partir da fórmula: (BARRS; WEATHERLEY, 1962).Onde:MF= Massa frescaMT= Massa túrgidaMS= Massa secaOs dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) utilizando o soft-
ware Sisvar 5.0. Quando houve interação significativa entre lâminas de irrigação e níveis de condutividade elétrica da água de irrigação, foi realizado o desdobramento das variáveis dentro de cada fator, caso contrário, considerou-se o efeito independente dos fatores para as variáveis estudadas.
Para comparação entre os níveis de condutividade elétrica foram avaliados modelos de regressão de primeiro e segundo grau quando significativos (p<0,05). O Teste de Tukey
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
282 283
(p<0,05), foi adotado para a comparação entre as lâminas de irrigação e os casos de re-gressões não significativas (p<0,05).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As plantas mantidas sob tratamento (100-CP-MF) foram as mais altas com média de 68,2 cm (Tabela 4). A redução da altura das plantas sob estresse já foi registrada por diversos autores entre os quais Silva (2010) que ao avaliar a altura de diferentes genótipos de cana-de-açúcar submetida a estresse hídrico moderado observou reduções médias em torno de 27%. No que se refere ao diâmetro, que variou entre 1,32 e 1,51cm e número de perfilhos 2,91 a 3,25 não houve diferença significativa entre os tratamentos hídricos. Seis genótipos de cana-de-açúcar submetidos a estresse hídrico severo 0 a 20% da disponibili-dade hídrica apresentaram diferenças nas variáveis diâmetro e número de perfilhos (SILVA, 2010). Vale destacar que no presente trabalho aplicou estresse moderado (0-50%) da água disponível. Para utilização eficiente do déficit controlado, uma análise mais aprofundada da lâmina de irrigação é necessária. Para tal é de suma importância considerar característi-cas biométricas das plantas avaliadas, bem como seu rendimento e qualidade tecnológica (SIMOES et al., 2018).
O número de folhas foi influenciado pelas lâminas de irrigação (Tabela 4). Plantas submetidas ao tratamento (100-CP-MF) emitiram em média 6,45 folhas, resultado que cor-robora os encontrados por Pincelli (2010), ao trabalhar com deficiência hídrica em cana--de-açúcar no estado de São Paulo. Essa variável biométrica é de suma importância para a manutenção da eficiência fotossintética e seu decréscimo pode acarretar sérios prejuízos ao vegetal. Comprimento, largura e área foliar total seguiram o mesmo padrão com o trata-mento (100-CP-MF) diferindo dos demais tratamentos. Mudanças na posição de inserção da folha pode gerar diferenças significativas entre as mesmas. Características relacionadas ao estreitamento e diminuição do comprimento foliar é uma mudança muito importante a longo prazo que atua diretamente na adequação da planta a um ambiente de pouca disponibilidade hídrica (TAIZ; ZEIGER, 2009).
Tabela 4. Comparação entre lâminas de irrigação em relação às variáveis de crescimento: altura (ALT), número de folhas (NF), comprimento (COMP), largura da folha +1 (LARG), e área foliar total (AFT) de plantas de cana-de-açúcar cultivada
sob duas lâminas de irrigação e PRD.
Lâmina ALT(cm) NF
Folha +1 (cm) AF(cm²)Comp. Larg.
100-CP-MF 68,20 a 6,45 a 129,31 a 3,12 a 2555,95 a
50-CP-MF 49,67 b 5,70 b 118,29 b 2,54 b 1678,40 b
50-CP-MA 50,96 b 6,00 b 121,06 ab 2,70 b 1816,18 b
Letras iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
284
A condutividade elétrica da água de irrigação influenciou de forma negativa a altura e a área foliar total apenas nas plantas submetidas à 100-CP-MF. Tal comportamento foi representado por equações de primeiro grau (Figura 2).
Figura 2. Altura de plantas (A) e área foliar (B), de plantas de cana-de-açúcar irrigada com água de diferentes condutividades elétricas com 100% CP.
As plantas cultivadas com 100% CP, apresentaram maior produção de massa fres-ca, (186,45g) (Tabela 5), com redução média em torno de 43% de massa fresca total nos tratamentos submetidos a deficiência hídrica. A massa seca seguiu o mesmo padrão da massa fresca e observou-se maior produção nas plantas do tratamento 100-CP-MF. Nos demais tratamentos as plantas apresentaram redução média superior a 45%. A produção de fitomassa é um parâmetro muito importante para o produtor, sendo observado decréscimo acentuado na cultura quando submetidas aos estresses hídrico, salino ou múltiplos. Em di-versos trabalhos similares foram observadas reduções na produção (GONÇALVES, 2008; PINCELLI, 2010; SILVA, 2010).
Tabela 5. Comparação entre lâminas de irrigação em relação às variáveis: Massa fresca (MF); Massa seca (MS); Potencial hídrico (Ψw); Condutividade elétrica do solo (CEe).
LâminaMassa fresca Massa seca Ψw CEe do solo
(g) (g) (Kpa) (ds m–1)
100% 186,45 a 57,37 a -1066,73 c 3,0111 a
50% 97,34 b 27,13 b -1245,79 a 2,8569 ab
50% PRD 106,45 b 28,79 b -1155,43 b 2,6258 b
Letras iguais na mesma coluna não diferem entre si pelo teste de TUKEY (p<0,05)
O potencial hídrico foliar (Ψw) foi maior nas plantas cultivadas com 100-CP-MF. O teor relativo de água (TRA) não diferiu nas plantas submetidas às diferentes lâminas de irriga-ção, que variou de 81,81 a 82,67% indicando ocorrência do processo de osmorregulação. Esse resultado corrobora os encontrados por Santos (2013), que ao trabalhar com varieda-des de cana-de-açúcar submetidas à deficiência hídrica também não encontrou diferenças
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
284 285
significativas no teor relativo de água foliar, sugerindo assim, que os mecanismos fisiológicos de aclimatação ao estresse estavam atuando de forma eficiente no controle a queda no teor de água da folha. Os resultados de potencial hídrico foliar corroboram os de Medeiros et al. (2010), que ao estudar as limitações fisiológicas de duas variedades de cana-de-açúcar sob supressão de água também encontraram valores decrescentes de potencial hídrico foliar em função do estresse hídrico aplicado.
No tratamento com a maior lâmina de água (100% - CP-MF) observou-se a maior condutividade elétrica do solo (3,01 dS m–1). Este tratamento recebeu e armazenou maior quantidade de sais, uma vez que recebeu o dobro de volume de água de irrigação com água salina. Considerando que a irrigação plena foi dimensionada de forma que o solo não ultrapassasse a capacidade de campo, não ocorreu a drenagem nem lixiviação dos sais.
A interação entre as lâminas de água e a condutividade elétrica da água de irrigação foi significativa para a produção de fitomassa apenas na lâmina 100% CP (Figura 3). Nesse tratamento foi aplicado maior quantidade de água de irrigação, portanto, foi o que mais acumulou sais, o que resultou numa menor produção de fitomassa nos maiores níveis de condutividade elétrica da água de irrigação. A salinidade altera a absorção de água, e nu-trientes, taxa fotossintética entre outros. Todas essas alterações metabólicas resultam na diminuição da divisão e expansão celular e consequentemente diminuição do crescimento vegetativo e produção de biomassa (PRISCO et al., 2010).
Figura 3. Massa fresca (A) e Massa seca (B) de plantas de cana-de-açúcar irrigadas com água de diferentes condutividades elétricas com 100% CP.
O aumento da condutividade elétrica da água de irrigação provocou decréscimo no teor relativo de água nas plantas submetidas a todos os tratamentos estudados (Figura 4).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
286
Figura 4. Teor relativo de água de plantas de cana-de-açúcar irrigada com água de diferentes condutividades elétricas (A) e condutividade elétrica do solo cultivado com cana-de-açúcar irrigada com água de diferentes condutividades elétricas
com 100% CP (B).
A interação entre as lâminas de água e a condutividade elétrica da água de irrigação foi significativa apenas para a lâmina 100%, como esperado, a condutividade elétrica do solo aumenta em função dos níveis de condutividade elétrica da água de irrigação (Figura 4).
O potencial hídrico foliar Ψw foi altamente influenciado pela condutividade elétrica da água de irrigação e da lâmina de irrigação aplicada (Figuras 5 e 6). Os vegetais absorvem água do solo quando as forças de embebição das células do sistema radicular são maiores do que as forças com que a água é retida no solo. Quanto maior o teor de sais na solução do solo maiores as forças de retenção da água, por seu efeito osmótico e, portanto, maior o problema de escassez de água na planta (PRISCO, 2010).
Figura 5. Potencial hídrico de plantas de cana-de-açúcar irrigada com água de diferentes condutividades elétricas (A) sob irrigação plena e (B) 50% CP.
O potencial hídrico foliar Ψw decresce de maneira linear em função do aumento da con-dutividade elétrica da água de irrigação nas lâminas de irrigação de 100% e 50% CP (Figura 5). Nas plantas submetidas a lâmina 50% PRD, observou-se os menores valores do poten-cial hídrico na condutividade elétrica da água de irrigação de 3,3 e 6,3, dS m-1. No entanto
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
286 287
quando o estresse salino atinge o nível máximo (9,3 dS m-1), o potencial hídrico foliar au-menta, evidenciando que mecanismos de proteção foram ativados para manter as atividades metabólicas em condições normais (Figura 6).
Figura 6. Potencial hídrico de plantas de cana-de-açúcar irrigada com água de diferentes condutividades elétricas sob irrigação com 50% PRD.
CONCLUSÃO
Plantas sob irrigação alternada apresentaram maior capacidade de ativação de me-canismos de defesa para manter o potencial hídrico foliar adequado em condições de sa-linidade elevada.
Mesmo em condições de suprimento hídrico adequado a salinidade afetou negativa-mente o crescimento vegetal.
Variáveis fisiológicas como o teor relativo de água (TRA) não foram afetadas negati-vamente pelos tratamentos aplicados, indicando que a cultura apresenta característica de ativação do processo de osmorregulação para manter sua capacidade de turgescência.
REFERÊNCIAS
1. ALVES, M.S; SOARES, T.M; SILVA, L.T; FERNANDES, J.P; OLIVEIRA, M.L.A; PAZ, V.P.S. Estratégias de uso de água salobra na produção de alface em hidroponia NFT. Revista Bra-sileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.15, n.5, p.491-498, 2011.DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662011000500009.
2. ANA. Agência nacional de águas. 2019. Disponível em:< https://www.ana.gov.br/noticias-an-tigas/quase-metade-da-a-gua-usada-na-agricultura>. Acesso em: 24 de out.2020.
3. BARRS, H.D.; WEATHERLEY, P.E. A re-examination of the relative turgidity technique for estimating water deficits in leaves. Australian Journal of Biological Science, V.15, p. 413-428, 1962.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
288
4. EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Aquecimento Global e Cenários Futuros da Agricultura. São Paulo, 2008. 84p.
5. EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Manual de métodos de análise de solo.2.rev.ed. Rio de Janeiro, 1997. 212 p.
6. FAO. Food production and security. 2007. Disponível em: <http://www.fao.org/ag/AGL/agll/spush/topic1.htm#brazil>. Acesso em: 01 de fev.2014.
7. GONÇALVES, E.R.; FERREIRA, V.M.; SILVA, J.V. ENDRES, L.; BARBOSA, T.P.; DUARTE, W.G. Trocas gasosas e fluorescência da clorofila a em variedades de cana-de-açúcar subme-tidas à deficiência hídrica. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.14, p.378–386, 2010. DOI: https://doi.org/10.1590/S1415-43662010000400006.
8. GONDIM, R.S.; FIGUEIREDO, M.C.B; MAIA, A.H.N; BEZERRA, M.A; CARVALHO, C.A.C. Mudanças climáticas e agricultura. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/165085/1/CLV17010.pdf>. Acesso em: 24 de out. 2020.
9. HERMANN, E.R; CÂMARA, G.M.S. Um método simples para estimar a área foliar da cana-de--açúcar. STAB, v.17, p.32-34,1999.
10. IPA. EMPRESA PERNAMBUCANA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Recomendações de adubação para o estado de Pernambuco. 2 ed. Recife, 2008. 198p.
11. KANG, S., ZHANG, J. Controlled alternate partial rootzone irrigation: its physiological consequen-ces and impact on water use efficiency. J. Exp. Bot. v.55, p.2437–2446, 2004. DOI:10.1093/jxb/erh249.
12. KOPPEN, W.; GEIGER, R. Klimate der erder, Gotha:Verlag Justus perthes.1928.Wall-map 150 cm x 200 cm.
13. KRIEDEMANN, P. E.; GOODWIN, I. Regulated Deficit Irrigation and Partial. Rootzone Drying. Land & Water Australia, Canberra, 2003.
14. LI, Q.M.; LIU, B.B. Comparison of three methods for determination of root hydraulic conductivity of maize (Zea mays L.) root system. Agricultural Sciences in China. p.1438–1447, 2010. DOI: https://doi.org/10.1016/S1671-2927(09)60235-2
15. LIRA, R.M; SANTOS, A.N; SILVA, J.S; BARNABÉ, J.M.C; BARROS, M.S; SOARES, H.R. A utilização de águas de qualidade inferior na agricultura irrigada. Revista Geama Enviromen-tal Sciences, v.1, n.3, 2015. Disponível em: <http://www.journals.ufrpe.br/index.php/geama/article/view/514>. Acesso em: 21 de nov. 2020.
16. MARTINELI, M; SILVA, J.F; FONSECA, M.P; CASTRCINI, A; OLIVEIRA, P.M; MARANHÃO, C.M.A; ROCHA, L.A; COELHO, E.F. Mamão ‘Tainung 1’ produzido sob secamento parcial do sistema radicular. Revista Ciências Agrárias, v.9, n.3, p.32-37, 2017. Disponível em: < https://periodicos.ufmg.br/index.php/ccaufmg/article/view/3003>. Acesso em: 23 de set. 2019.
17. MEDEIROS, D.B; SILVA, E.C; NOGUEIRA, R.J.M.C; TEIXEIRA, M.M; BUCKERIDJE, M.S. Limitações fisiológicas em duas variedades de cana-de-açúcar sob supressão de água e re-cuperação. Theoretical and Experimental Plant Physiology, p.213-226, 2010.
18. MUNIR, N.; AFTAB, F. The role of polyethylene glycol (PEG) preteatment in improving sugar-cane salt (Nacl) tolerance. Turkish journal of botany, v.33, p. 407-415, 2009. DOI: https://doi.org/10.3906 / bot-0806-6.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
288 289
19. PINCELLI, R.P. Tolerância à deficiência hídrica em cultivares de cana-de-açucar avaliada por meio de variáveis morfofisiológicas. [water stress tolerance in varieties of cane sugar evalua-ted by means of variable]. 2010. 78p. Dissertação (Mestrado em Agronomia) -Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2010.
20. PRISCO, J.T.; GOMES FILHO, E. Fisiologia e bioquímica do estresse salino em plantas. Manejo da salinidade na agricultura irrigada: Estudos básicos e aplicados, Ceará, 2010. Disponível em: <http://200.7.175.130/agroumsa/sites/default/files/repositorio/cap_10_Fisiolo-gia%20e%20bioqu%C3%83%C2%ADmica%20do%20estresse.pdf>. Acesso em:02 de fev.2014.
21. SAMPAIO, A.H.R; COELHO FILHO, M.A; COELHO, E.F; DANIEL, R. Indicadores fisiológicos da lima ácida ‘TAHITI’ submetida à irrigação deficitária com secamento parcial de raiz. Revista Irriga, v.19, n.2, p.292-301, 2014. DOI: https://doi.org/10.15809/irriga.2014v19n2p292.
22. SANTANA, M.J; CARAVALHO, J.A; SOUZA, K.J; SOUZAA, M.J; VASCONCELOS, C.L; AN-DRADE, L.A.B. Efeitos da salinidade da água de irrigação na brotação e desenvolvimento inicial da cana-de-açúcar (Saccharum spp) em solos com diferentes níveis texturais. Ciênc. Agrotec., v.31, p.1470-1476, 2007. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-70542007000500030.
23. SANTOS, C.M. Mecanismos fisiológicos e bioquímicos da cana-de-açúcar sob estresses induzidos por deficiência hídrica e paraquat. [Physiological and biochemical mechanisms of cane sugar under stress induced by water stress and paraquat]. 2013.108p. Tese (Doutorado em Agronomia) - Faculdade de ciências agronômicas da UNESP, São Paulo, 2013.
24. SILVA, P.B. Aspectos fisiológicos de seis genótipos de cana-de-açúcar submetidos a estresse hídrico. [Physiological aspects of six genotypes cane sugar subject to water stress].2010.98 f.Dissertação (Mestrado em produção vegetal e proteção de plantas) -Univer-sidade Federal de Alagoas, Alagoas, 2010.
25. SIMÕES, W.L; CALGARO, M; GUIMARÃES, M.JM; OLIVEIRA, A.R; PINHEIRO, M.P.M. Sugar-cane crops with controlled water déficit in the sub-middle São Francisco valley, Brazil. Revista Caatinga, v.31, n.4, p.963-971, 2018. DOI: https://doi.org/10.1590/1983-21252018v31n419rc
26. TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal: Crescimento e desenvolvimento. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 819p.
27. TURNER, N.C. Techniques and experimental approaches for the measurement of plant water status. Plant and Soil, v.58, p.339-366, 1981.
28. YANG, L.; QUA, H.; LI, F. Effects of partial root-zone irrigation on physiology, fruit yeld and water use efficiency of tomato under different calcium levels. Agricultural Water Management, v.104, p.89–94, 2012. DOI: https://doi.org/10.1016/j.agwat.2011.12.001.
23Potencial de comercialização de pimentas in natura na central de abastecimento do Estado do Pará
André Gustavo Campinas PereiraUFRA
Letícia Cunha da HungriaUFRA
Raimara Reis do RosárioUFRA
Érica Coutinho DavidUFRA
João Victor da Silva Pinheiro de NazaréUFRA
Lourivan Carneiro de Souza
Mário Sergio de Lima SousaITERPA
Márcia Nazaré Rodrigues BarrosPPGCA/UFRA
Josiene Amanda dos Santos VianaUFRA
Danielle do Socorro Nunes CampinasSEMAS
10.37885/210303631
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
291
Palavras-chave: Mercado Atacadista, Hortaliças Fruto, Capsicum.
RESUMO
As pimentas são espécies de hortaliças fruto amplamente cultivadas no mundo e utiliza-das como matéria-prima na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética. No Brasil, a produção anual é de aproximadamente 160 mil toneladas (t), distribuídas em uma área de 6 mil hectares. O cultivo dessas espécies constitui uma atividade significativa para o setor agrícola brasileiro, sendo os frutos disponibilizados in natura ou processados no mercado nacional, com a primeira opção ofertada e distribuída principalmente via centrais de abastecimento (Ceasas). Embora a cultura tenha importância socioeconô-mica reconhecida e documentada, informações sobre o comportamento do comércio de pimentas, especialmente in natura, são escassas e quando disponibilizadas pouco refletem o real cenário econômico da hortaliça, considerando a informalidade dos locais de negociação, o que dificulta a sistematização de dados. Neste contexto, o objetivo do estudo foi verificar a dinâmica de comercialização de variedades de pimentas in natura via central de abastecimento do estado do Pará, no período entre 2012 e 2017. Para isso, foram utilizados dados secundários registrados pela diretoria técnica da Ceasa Pará sobre o volume (em t) total comercializado e a procedência de sete variedades de pimenta. No intervalo avaliado, foram comercializadas mais de 7 mil t de pimentas, sendo o correspondente a cerca de 98,5% atribuída a variedade “pimentinha verde”. Por outro lado, as pimentas “americana”, “Cambuci” e “dedo-de-moça” têm pouca expressão no comércio paraense via Ceasa, representando somente 0,47% do volume negociado de pimentas, no mesmo período. No estado do Pará há um evidente consumo preferencial por pimentas das variedades “pimenta-de-cheiro e “pimentinha-verde”, que juntas movi-mentam 99,8% do mercado da espécie via Ceasa.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
292
INTRODUÇÃO
As pimentas são todas as espécies e variedades do gênero Capsicum, pertencente à família das Solanáceas e que são consideradas hortaliças de hábito consolidado para uso na culinária mundial. A maioria das pimentas é conhecida internacionalmente pelo sabor pungente, embora existam pimentas menos picantes ou adocicadas. A intensidade da ar-dência do fruto é induzida pela concentração da capsaicina, composto fenólico e principal componente ativo que provoca a sensação de ardor e queimadura quando em contato com os receptores das mucosas e da pele (REIFSCHNAIDER, 2000; ZANCANARO, 2008).
A pungência é uma das características determinantes para a avaliação de qualidade comercial de pimentas frescas e seus produtos processados (DOMENICO et al., 2012). Tais compostos que geram as características pungentes são produzidos em glândulas localiza-das na placenta dos frutos. As sementes das pimentas não são fontes de pungência, no entanto, em virtude da sua proximidade à placenta, ocasionalmente as sementes absorvem a capsaicina (RIBEIRO et al., 2008).
A capsaicina possui propriedades medicinais comprovadas que aliada a outras subs-tâncias presentes nas pimentas como vitaminas, carotenóides e antioxidantes naturais são muito utilizadas na alimentação, com a finalidade de promover benefícios à saúde humana (RIBEIRO et al., 2008; COSTA et al., 2010). Os níveis de capsaicina variam conforme a variedade e dentre as variedades conhecidas a Cumari-do-Pará e malagueta possuem os maiores níveis de concentração de metabolitos promotores de sabor pungente ou picante (COSTA et al., 2010).
As pimentas, categorizadas como hortaliças frutos, são amplamente cultivadas no mundo e utilizadas como matéria-prima na indústria alimentícia, farmacêutica e cos-mética (BENTO et al., 2007). No Brasil, concentra-se um dos maiores bancos de va-riabilidade genética de pimentas do mundo e o país é considerado centro de dispersão secundário de espécies domesticadas como: C. chinense Jacq., C. frutences L., C. bacca-tum L. e C. annuum L. (REIFSCHNAIDER, 2000; MORAIS, 2018). Particularmente, o país encontra no cultivo dessas hortaliças uma atividade significativa para o setor agrícola, em que são produzidas aproximadamente 160 mil toneladas por ano, em uma área de 6 mil hectares de norte a sul do país (ABCSEM, 2020), distribuído nas cinco regiões brasileiras, com destaque de produção para as regiões Sudeste e Centro-Oeste (COSTA et al., 2010).
Entre os estados brasileiros de maior produção de pimentas estão Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Ceará e Rio Grande do Sul. Nas áreas de cultivo dos estados líderes em produ-ção no Brasil, as variedades da “pimenta-malagueta”, “dedo-de-moça”, “jalapeño” e “pimenta de cheiro” (ou “Cumari do Pará”) são as produzidas em maiores quantidades (EIT, 2011).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
292 293
Quando se trata do consumo de pimenta, observa-se que a escolha por determinada variedade é influenciada fortemente pela preferência de alimentação da população, variando entre as diferentes regiões, o que influencia no predomínio e a forma de consumo dessa variedade no mercado local (NASCIMENTO FILHO; BARBOSA; LUZ, 2007; HENZ; RIBEIRO, 2008). Na região norte do Brasil, por exemplo, a “pimenta de cheiro” é uma das variedades mais consumidas, em virtude de compor diversos pratos regionais como saladas, vinagre, peixes e arroz (CHAVES; FURTADO, 2017), além do preparo do tucupi, molho feito à base de mandioca, alfavaca, chicória-do-Pará e pimentas (RIBEIRO et al., 2008). Por outro lado, no Nordeste, políticas governamentais de incentivo ao desenvolvimento da agricultura fa-miliar promoveram a difusão de tecnologias de cultivo para culturas propícias às condições edafoclimáticas desta região, com isso, variedades como a “pimenta de cheiro”, “malagueta” e “tabasco”, são amplamente produzidas e consumidas (ARAÚJO, 2018).
No mercado brasileiro, portanto, pode ser encontrada uma grande variedade de pimen-tas, com diferentes colorações, formatos e pungências, disponíveis in natura ou na forma de especiarias desidratadas (MOREIRA et al., 2006; RÊGO et al., 2011). O destaque para o comércio de pimentas, entretanto, é no setor industrial, que abriga a produção oriunda de um grande número de produtores familiares ou de pequeno porte que processam as pimentas em garrafas de vidro e comercializam em feiras, mercados ou pequenos estabelecimentos comerciais (ZANCANARO, 2008). Os empreendimentos de médio ou grande porte atuam na produção de geleias, conservas, pápricas, pimenta calabresa desidratada, pasta de tabasco ou conservas ornamentais (HENZ; RIBEIRO, 2008; ZANCANARO, 2008). O comércio das pimentas in natura ocorre em proporções menores tanto no varejo quanto no atacado em todo território nacional (HENZ; RIBEIRO, 2008).
No atacado, a comercialização in natura ocorre principalmente através das centrais de abastecimento (Ceasas) que realizam o agrupamento, a oferta e distribuição desses produtos e são responsáveis pela maior parcela da negociação de produtos hortifrutigran-jeiros no país. Em 2017, conforme o sistema do Programa de Modernização do Mercado Hortifrutigranjeiro (PROHORT) da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), somente as Ceasas comercializaram cerca de 17 milhões de toneladas de produtos hortifrutigranjeiros no país, sendo a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP), maior canal de comercialização do país, a maior atuante no recebimento e distribuição des-ses produtos para os demais estados brasileiros.
No Estado do Pará, existe uma única central de abastecimento, a Ceasa Pará, situada na capital do estado e que agrupa e redistribui grande parcela das frutas, hortaliças e di-versos outros produtos para os estabelecimentos de venda no varejo. No Pará, o mercado
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
294
in natura das pimentas tem forte expressão, diferentemente do que é observado em outros estados e isto é atribuído aos hábitos alimentares dos paraenses.
Muito embora a cultura da pimenta tenha importância socioeconômica reconhecida e documentada em todo o Brasil, informações sobre a comercialização de pimentas in natura, especialmente no estado do Pará, são escassas e quando disponibilizados pouco refletem o real cenário econômico da hortaliça, uma vez que a negociação do fruto ocorre, em sua maioria, a nível de comércio local e bastante informal, dificultando a sistematização de dados sobre este mercado (HENZ; RIBEIRO, 2008; DOMENICO et al., 2012).
Neste contexto, o objetivo foi verificar a dinâmica de comercialização de varieda-des de pimentas in natura via central de abastecimento do estado do Pará, no período entre 2012 a 2017.
METODOLOGIA
Obtenção de dados
O estudo foi conduzido a partir de dados secundários sobre a comercialização de pi-mentas nas Ceasas a nível nacional e no estado do Pará, adquiridos em banco de dados disponibilizados em sistema de informação do Programa de Modernização do Mercado Hortifrutigranjeiro (PROHORT) da Conab e registros diários realizados pela diretoria técnica (Ditec) da Central de Abastecimento do Estado do Pará (CEASA-PA), respectivamente.
O Programa de Modernização do Mercado Hortifrutigranjeiro (PROHORT) foi instituído pelo governo federal em 2005, por meio da Portaria nº 171, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (CONAB, 2021). Dentre as ferramentas do programa, o sistema de informação registra e oferece, de forma interativa, dados históricos e mensais sobre preços, análises de mercado, identificação de regiões produtoras, entre outras.
A Ceasa Pará está localizada em Belém (01º 27’ 21” S; 48º 30’ 16” W), capital do es-tado. Esta central recebe produtos hortifrutigranjeiros oriundos de 18 estados brasileiros e produtos importados de nove países (Argentina, Espanha, Chile, China, Estados Unidos, Holanda Noruega, Portugal e Turquia) via CEAGESP.
Os produtos comercializados na Ceasa Pará são categorizados nos seguintes sub-grupos: frutas, hortaliças do tipo folha, flor e haste; hortaliça fruto, hortaliça tubérculo, raiz e rizoma; e outros gêneros alimentícios. Na categoria de hortaliças fruto, compreendem-se 31 vegetais cujas partes aproveitáveis para o consumo são os frutos, incluindo as pimentas.
Dentre as informações diárias registradas por gestores pela Ditec da Ceasa Pará, foram consideradas neste estudo as informações referentes à procedência, as variedades e volume (em toneladas) de pimentas comercializadas na central.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
294 295
Das 17 espécies conhecidas do gênero, foram identificadas e selecionadas sete va-riedades com histórico de distribuição e comercialização na Ceasa Pará. Na Tabela 1 são descritas características como coloração, formato e pungência, assim como as principais formas de consumo de cada variedade.
Tabela 1. Descrição de características de variedades de pimenta comercializadas na Ceasa Pará.
Nome popular Nome científico Características
“Pimenta de cheiro” ou “pimentinha--verde”, “pimenta-de-bico”, “pimenta-
-de-bode” ou “cumari-do Pará”Capsicum chinense Jacquin
Possui coloração vermelha quando maduros e o for-mato dos frutos é do tipo triangular pontiagudo, como um “biquinho”. São encontrados frutos doces a muito picantes, com coloração variando do verde, amarelo, vermelho ao marrom-escuro. A comercia-lização dos frutos é feita in natura ou em conservas.
“Pimenta Malagueta” ou “pimenta--tabasco” Capsicum frutescens
Estas pimentas são extremamente picantes, pos-suem frutos pequenos de formato alongado e de coloração vermelha quando maduros.
“Pimenta Americana” ou “pimenta--doce”, “pimenta-jalapeño”, “pimen-
ta-cayena”
Capsicum annuum L. var. annuum
Englobam pimentas doces e representantes com di-ferentes níveis de pungência dos frutos. As flores en-tre diferentes espécies, são uniformes, enquanto os frutos são distintos quanto a sua forma e coloração.
“Pimenta Cambuci” ou “pimenta alongada-vermelha”
Capsicum baccatum L. var. pendulum (Willd.)
Eshbaugh
Possui fácil identificação, pois, seus frutos apre-sentam formato de campana, medindo aproxima-damente 4,0 cm de comprimento por 7,0 cm de largura. Devido à falta de pungência é considerada uma pimenta doce.
“Pimenta dedo de moça” ou “chi-fre-de-veado”, “pimenta-vermelha”,
“pimenta-calabresa”
Capsicum baccatum L. var. pendulum (Willd.)
Eshbaugh
Apresenta frutos alongados, quando maduros, pos-suem coloração vermelha com aproximadamente 7,5 cm de comprimento por 1,0 a 1,5 cm de largura. Espécie com sabor pungente de intensidade suave à mediana.
Fonte: BOSLAND; VOTAVA (1999); AMARO (2010); CARVALHO et al. (2006); MOREIRA et al. (2006); FILGUEIRA (2007); LOPES et al. (2007). Elaborada pelos autores.
Tratamento dos dados
Após a coleta sistemática dos dados, estes foram organizados em planilhas do progra-ma Microsoft Excel® 2010 e, posteriormente calculadas frequências percentuais (%) para cada variável de interesse. Além disso, para avaliação entre os anos, taxas de crescimento anual (%) foram calculadas, conforme metodologia empregada por Viana et al. (2020), uti-lizando-se a seguinte fórmula:
Em que:Txc = taxa de crescimento;Canoα = comercialização do ano analisado; eCanoβ = comercialização do ano referência.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
296
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As pimentas estão entre os 60 produtos mais comercializados no maior estabeleci-mento atacadista do Brasil, a CEAGESP. No Pará, entre os anos de 2012 e 2017, foram comercializadas 282 mil t de hortaliças fruto, através da Ceasa do estado, em que 7.830 t, isto é, 2,8% do total corresponderam ao volume de pimentas (Tabela 2).
Tabela 2. Volume (em t) de variedades de pimenta in natura comercializadas na Ceasa Pará, no período 2012 a 2017.
VariedadeAno
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Média Total
“Pimenta ardida” 0,56 1,5 1,33 3,57 1,02 2,23 1,70 10,21
“Pimenta-de-cheiro” 19,10 20,23 19,10 12,70 20,66 14,62 17,73 106,42
“Pimenta-malagueta” 0,22 0,06 0,15 0,59 0,58 0,17 0,29 1,77
“Pimentinha-verde” 1.232 1.320 1.317 1.331 1.369 1.140 1.284 7.709
“Pimenta-americana” 0 0,01 0,01 0,03 0,03 0,21 0,04 0,29
“Pimenta-cambuci” 0 0,08 0,01 0 0 0 0,01 0,09
“Pimenta dedo-de-moça” 0 0 0,07 0,02 0 0 0,01 0,09
Total 1.252 1.342 1.338 1.348 1.391 1.157 1.304 7.830
Fonte: Ditec/Ceasa Pará (2017). Elaborada pelos autores.
Neste intervalo, os resultados anuais demonstram média de 1.304 t ofertadas, com a maior taxa de crescimento anual atingindo 7,1%, registrada entre 2012 e 2013, e a maior redução ocorreu entre 2016 e 2017, quando foi registrada queda considerável da negociação de pimentas, alcançando diminuição de até 16,8% da oferta dos produtos. Da série, no ano 2016 foi observado o maior volume comercializado de pimentas, sendo negociadas 1.391 t, enquanto as menores quantidades foram negociadas no ano seguinte.
A comercialização das pimentas depende diretamente do mercado de destino, que, por sua vez, determina a forma de apresentação, quantidade e preço do produto. O consumo de pimentas in natura é firmemente enraizado na alimentação das populações amazôni-cas (NASCIMENTO FILHO; BARBOSA; LUZ et al., 2007), justificando, sobretudo, o bom desempenho do fruto nestes mercados. A preferência dos indivíduos, dessa região, pelo fruto “quente” é vinculada comumente a questões culturais. No entanto, estudos de Törnwall et al. (2012) apontam ainda a questão genética como um fator decisório, respondendo por 18-58% da variação na agradabilidade de pungência oral com relação a alimentos picantes e sensações pungentes.
Embora bem aceito, o mercado de pimentas no Brasil já foi considerado pouco ex-pressivo se comparado a outras hortaliças. A exploração de novas variedades de pimenta combinado a popularização e desenvolvimento de produtos com valor agregado fortale-ceram e modificaram rapidamente o cenário da cultura no comércio ao longo dos anos (AMARO et al., 2021).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
296 297
Quando avaliada a comercialização por variedade, percebe-se maior potencial, durante os seis anos analisados neste estudo, da “pimentinha verde” que, majoritariamente, foi o produto com maior volume de comercialização, atingindo 7.709 t, o equivalente a 98,4% das quantidades totais entre as variedades negociadas (Tabela 2). A “pimenta de cheiro” ocupou o segundo maior montante negociado, com oferta de 106,4 t (1,3% do total) e média anual de 19,1 t.
Em contraste, as pimentas “malagueta”, “americana”, “Cambuci” e “dedo de moça” corresponderam às variedades com menores quantidades comercializadas e juntas repre-sentaram menos de 3% (2,2 t) do mercado nos seis anos. Ressalta-se ainda que as pimentas “americana” e “Cambuci” não foram ofertadas no ano de 2012, enquanto a pimenta “dedo de moça” somente foi introduzida para comercialização em 2014. É importante ressaltar tam-bém que a pimenta “ardida”, apesar de pouco expressiva no mercado paraense via Ceasa, representando apenas 0,13% de tudo que foi ofertado em seis anos, foi a variedade com maior taxa de crescimento (298%) entre o primeiro ano da série até 2017.
Como citado, em outras regiões do país, estas mesmas variedades são absorvidas de formas distintas (AMARO et al., 2021). Portanto, a investigação particular do potencial de absorção de cada variedade no mercado auxilia de forma preventiva na construção do plane-jamento local de cultivo da espécie por diversos produtores, através da avaliação da atuação histórica do produto no comércio, que permite estimar o comportamento de determinada variedade nos anos seguintes. Além disso, o mercado brasileiro de pimentas, de forma geral, é marcado pela informalidade e carência de estatísticas regulares sobre as variedades mais comercializadas, principalmente quando se trata de análises a nível estadual (NASCIMENTO FILHO et al., 2007), tornando-se de extrema importância estudos dessa natureza.
Outro fator que evidencia a importância de se ter conhecimento do comportamento comercial das variedades é o potencial dos produtores locais em ofertar e manter a quan-tidade ofertada que o mercado exige. Isto significa que, quanto maior a contribuição dos produtores do próprio estado em ofertar o produto, menor a dependência deste estado em importar produtos de outros estados brasileiros ou de outros países.
Neste estudo, foi observado que a procedência das pimentas comercializadas na Ceasa Pará, durante o período, foi totalmente de estados brasileiros. A origem, no entanto, variou conforme o tipo de pimenta, sendo o estado do Pará, na maioria das vezes, o responsável pelo abastecimento. As variedades “pimenta de cheiro” e “pimenta malagueta” foram abas-tecidas 100% por produtores paraenses em todos os anos (Tabela 3).
Para a “pimentinha verde” houve oscilação na origem da oferta, sendo a partir de 2014 observada a introdução de pequenas quantidades importadas de outros estados, com participações de 0,06%, 1,04%, 0,4% e 14,7%, nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017,
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
298
respectivamente (Tabela 3). Por outro lado, as variedades “pimenta ardida”, “pimenta ameri-cana”, “pimenta cambuci” e “pimenta dedo de moça” é ofertada totalmente por outros estados.
Tabela 3. Procedência das variedades de pimentas ofertadas, nos anos de 2012 a 2017, na Ceasa Pará.
Variedade
Procedência
Estado do Pará Outros estados
T % T %
2012
“Pimenta ardida” 0 0 0,56 100
“Pimenta de cheiro” 19,2 100 0 0
“Pimenta malagueta” 0,22 100 0 0
“Pimentinha verde” 1.232 100 0 0
2013
“Pimenta ardida” 0 0 1,5 100
“Pimenta de cheiro” 20,23 100 0 0
“Pimenta malagueta” 0,06 100 0 0
“Pimentinha verde” 1.320 100 0 0
“Pimenta americana” 0 0 0,01 100
“Pimenta cambuci” 0 0 0,08 100
2014
“Pimenta ardida” 0 0 1,33 100
“Pimenta de cheiro” 19,1 100 0 0
“Pimenta malagueta” 0,14 100 0 0
“Pimentinha verde” 1.317 99,94 0,82 0,06
“Pimenta americana” 0 0 0,01 100
“Pimenta cambuci” 0 0 0,01 100
“Pimenta dedo de moça” 0 0 0,07 100
2015
“Pimenta ardida” 0 0 3,57 100
“Pimenta de cheiro” 12,7 100 0 0
“Pimenta malagueta” 0,59 100 0 0
“Pimentinha verde” 1.317,50 98,96 13,8 1,04
“Pimenta americana” 0 0 0,03 100
“Pimenta dedo de moça” 0 0 0,02 100
2016
“Pimenta ardida” 0 0 0,1 100
“Pimenta de cheiro” 0,67 100 0 0
“Pimenta malagueta” 0,04 100 0 0
“Pimentinha verde” 103,97 99,6 0,41 0,4
2017
“Pimenta ardida” 0 0 2,23 100
“Pimenta de cheiro” 14,62 100 0 0
“Pimenta malagueta” 0,17 100 0 0
“Pimentinha verde” 972,29 85,3 167,37 14,7
“Pimenta americana” 0 0 0,2 100
Fonte: Ditec/CEASA-PA (2017). Elaborada pelos autores.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
298 299
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No estado do Pará há um evidente consumo preferencial por pimentas das variedades “pimenta-de-cheiro e “pimentinha-verde”, que juntas movimentam 99,8% do mercado da espécie via Ceasa. Tais variedades são amplamente ofertadas por produtores paraenses, sugerindo a autossuficiência do estado em abastecer o mercado local, quando se trata dessas variedades, sem a necessidade de realizar importações significativas de outros estados brasileiros.
REFERÊNCIAS
1. AMARO, G. B. (2010). Capsicum chinense. Disponível em: <https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/pimenta/arvore/CONT000gn0frh1202wx5ok0liq1mqt5bf5ht.html> Acesso em: 25 fev. 2021.
2. AMARO, G. B.; REIFSCHNEIDER, F. J. B.; HENZ, G. P.; RIBEIRO, C. S. C. Mercado da Pi-menta. Agência Embrapa de Informação Tecnológica. Disponível em:< https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/pimenta/arvore/CONT000gn05zz5y02wx5ok0liq1mq6ank2j1.html>. Acesso em: 04 mar. 2021.
3. BOSLAND, P. W.; VOTAVA, E. J. Peppers: vegetable and spice Capsicum spp. New York: CABI Publishing, p. 66-83. 1999.
4. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. PROHORT. Disponível em: < https://www.conab.gov.br/info-agro/hortigranjeiros-prohort>. Acesso: 03 mar. 2021.
5. COSTA, L. M. da; MOURA, N. F. de; MARANGONI, C.; MENDES, C. E.; TEIXEIRA, A. O. Ati-vidade antioxidante de pimentas do gênero Capsicum. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 30, n. 1, p. 1-9, 2010.
6. DOMENICO, C. I.; COUTINHO, J. P.; GODOY, H. T.; MELO, A. M. T. Caracterização agronômi-ca e pungência em pimenta de cheiro. Horticultura Brasileira, v. 30, n. 3, p. 466 – 472, 2012.
7. EIT - EMBRAPA INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS. 2011. As novas variedades de pimenta da Embrapa e o mercado pimenteiro: oportunidade de renda para agricultores. Disponível em: <https://www.agrolink.com.br/noticias/cultivares-de-pimenta-mais-resistentes-e-produti-vas_134355.html>. Acesso em: 08 mar. 2021.
8. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Pimenta Capsicum spp. Disponível em: <https://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pimenta/Pimenta_capsicum_spp/cultivares.html>. Acesso em: 06 mar. 2021.
9. HENZ, G. P.; RIBEIRO, C. S. C. In: RIBEIRO, C. S. C; LOPES, C. A.; CARVALHO, S. I. C. de; HENZ, G. P.; REIFSCHNEIDER, F. J. B (Ed’s). Pimentas Capsicum. Brasília: Embrapa Hortaliças, 2008. p. 15-24.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
300
10. LOPES, C. A.; RIBEIRO, C. S. C.; CRUZ, D. M. R.; FRANÇA, F. H.; REIFSCHNEIDER, F. B.; HENZ, G. P.; SILVA, H. R.; PESSOA, H. S.; BIANCHETTI, L. B.; JUNQUEIRA, N. V.; MAKISHI-MA, N.; FONTES, R. R.; CARVALHO, S. I.; MAROUELLI, W. A.; PEREIRA, W. Pimenta (Cap-sicum spp.). Embrapa Hortaliças Sistemas de Produção, 2 ISSN 1678-880x Versão Eletrônica.
11. MOREIRA, G. R.; CALIMAN, F. R. B.; SILVA, D. J. H.; RIBEIRO, C. S. C. Espécies e varie-dades de pimenta. Informe Agropecuário, v. 27, n. 1, p. 16-29, 2006.
12. NASCIMENTO FILHO, H. R. do; BARBOSA, R. I.; LUZ, F. J. F. Pimentas do gênero Capsicum cultivadas em Roraima, Amazônia brasileira. II. Hábitos e formas de uso. Acta Amazônica, v. 37, n. 4, p. 561-568, 2007.
13. RÊGO, E. R.; FINGER, F. L.; BOLSISTA, N. F. N. ARAÚJO, E. R.; SAPUCAY, M. J. L. DA C. Genética e melhoramento de pimenteira Capsicum spp. In: RÊGO, E. M.; FINGER, F. L.; RÊGO, M. M. (Org’s) Produção, Genética e melhoramento de Pimentas (Capsicum spp). 1 ed. Minas Gerais: Produção independente, 2011. 223 p.
14. REIFSCHNAIDER, F. J. B. Capsicum: pimentas e pimentões no Brasil. Brasília: Embrapa Hortaliças, 2000. 113 p.
15. RIBEIRO, C. S. C.; LOPES, C. A.; CARVALHO, S. I. C.; HENZ, G. P.; REIFSCHNEIDER, F. J. B. Pimentas Capsicum. Brasília: Embrapa Hortaliças, 2008. 200 p.
16. SOUZA, L. C. S. Resistência de genótipos de pimenta-de-cheiro (capsicum chinense jacq.) à antracnose (Colletotrichum brevisporum). 2018. 88 f. Dissertação (Mestrado em Agricultura no Trópico Úmido) - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus. 2018.
17. TORNWALL, O.; SILVENTOINEN, K.; KAPRIO, J.; TOURILA, H. Why do some like it hot? Genetic and environmental contributions to the pleasantness of oral pungency. Physiology & Behayour, v. 107, n. 3, p. 381-389. 2012.
18. VIANA, J. A. S.; HUNGRIA, L. C.; PEREIRA, A. G. C.; DAVID, É. C.; SILVA, M. V. S. O.; CAM-PINAS, D. S. N.; NETO, O. M. C.; SILVA, P. C. N.; ROSÁRIO, R. R.; DUARTE, L S. Dinâmica de produção e comercialização de abacaxi (Ananas comosus L. Merr) no estado do Pará. In: OLIVEIRA, R. J. de. (Org.). Extensão rural em foco: apoio à agricultura familiar, empreen-dedorismo e inovação. Volume 1. Guarujá, SP: Editora Científica Digital. 2020. p. 240-246
19. ZANCANARO, R. D. Pimentas: tipos, utilização na culinária e funções no organismo. 2008. 43 f. Monografia (Especialização em Gastronomia e Saúde) – Universidade de Brasília, Brasília, 2008.
24Produção hidropônica de mudas de hortaliças/frutíferas e florestais
João Batista Medeiros SilvaUEMS
10.37885/210303573
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
302
Palavras-chave: Produção de Mudas, Variedades, Sistema Hidropônico.
RESUMO
A hidroponia é uma técnica que atua a partir de soluções nutritivas (artificiais) adaptadas para o fornecimento de todos os minerais, como água e nutrientes que a planta precisa para se desenvolver completamente. O período de circulação da solução nutritiva é um fator significativo na hidroponia, e é controlado por temporizador, permitindo assim que o sistema funcione de acordo com uma programação programada. O espaço de tempo varia amplamente entre sistemas, bancos, regiões, tipos de cobertura, variedade cultivada, época do ano, umidade relativa e temperatura do ar, entre outras condições (FURLANI et al.,2009). O objetivo deste trabalho foi examina periódicos dos últimos vinte anos com conceito A1, A2 e B1 da CAPES, sobre a produção de mudas de espécies de hortaliças folhosas e de frutos, além de espécies frutíferas e florestais pelo sistema de produção hidropônico.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
302 303
INTRODUÇÃO
Para compreendemos o processo de cultivos por hidroponia, é necessário, sabermos que para uma planta se desenvolve necessita de um meio composto por água, nutrientes, calor (sol ou iluminação artificial) além de minerais. É justamente para substituir a ausência de um destes fatores, que a hidroponia foi criada e adaptada para diferentes ambientes, no Brasil, a técnica da hidropronia ainda não é muito difundida, pelo custo.
A hidroponia é uma técnica difundida no mundo inteiro, seu uso não está estritamente ligado apenas a produção vegetal, principalmente de hortaliças sob cultivo protegido, mas como também para resolver problemas relacionados ao uso racional de água e redução da contaminação do solo. A hidroponia é uma técnica de cultivo que utiliza solução nutritiva em substituição ao solo, está solução contém elementos minerais essências ao desenvol-vimento da planta. Esse tipo de cultivo possibilita além do bom desenvolvimento da planta, alta produtividade, qualidade, precocidade e bom controle fitossanitário (SILVA & MELO, 2016; FURLANI et al., 2016).
O alto custo do sistema hidropônico tem estimulado a condução de novas pesquisas, especialmente a fim de reduzir os custos variáveis do sistema. Gastos com energia elétrica e solução nutritiva podem chegar a 42% do total dos custos variáveis (CARRASCO et al., 1999). AITA & LONDERO (2000). Sendo assim, a escolha das frequências de irrigações no sistema hidropônico depende das características ambientais, especialmente da intensidade luminosa e da temperatura do ar, do meio de cultivo e da fisiologia da planta (ANDRIOLO, 1999).
Portanto, o objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão bibliográfica sobre a for-ma de produção de mudas pelo sistema hidropônico, como as hortaliças folhosas e de fruto além de espécies frutífera e florestais.
DESENVOLVIMENTO
De acordo com alguns atores analisados, o cultivo em hidroponia, em ambiente pro-tegido, proporciona a produção de diferentes culturas, anualmente, além produzir de maior produção também possibilita a redução da ocorrência de fito patógenos e o aumento da qualidade dos produtos e seu rendimento por área. Entre os sistemas hidropônicos, o NFT (Nutrient Film Technique) é uma técnica de produção adequada às exigências de alta qua-lidade e produtividade com o mínimo desperdício de água e nutrientes.
Neste contexto, os cultivos hidropônicos representam uma alternativa à cultura con-vencional, por possibilitarem a obtenção de produtos de qualidade superior, mais uniformes, com maior produtividade, menor custo de mão-de-obra, menor gasto de água e de insumos agrícolas e preservação do meio ambiente. No Brasil, os cultivos hidropônicos são recentes,
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
304
mas já podem ser encontrados nos cinturões verdes de algumas capitais, e também em algumas cidades do interior.
Cultivo de mudas de hortaliças folhosas e de frutos
A alface é a hortaliça folhosa mais comercializada no Brasil, sendo boa fonte de vita-minas e sais minerais, destacando-se seu elevado teor de vitamina A. É adaptada a clima ameno, sendo própria para cultivo no inverno quando atinge as maiores produções. Em cultivo hidropônico sob ambiente protegido, a alface não está exposta a fatores adversos do meio ambiente, fica protegida de geadas, chuvas intensas, granizo e ventos fortes, com ganho na produtividade e qualidade, fatores que contribuem para o fornecimento constante aos pontos de venda, trazendo satisfação ao consumidor. (RESENDE, 1991, LOPES 2003).
Ela é uma hortaliça exigente em água, sendo que a quantidade e qualidade da mes-ma influem na produtividade da planta (DANTAS, 1997). Quando submetida a condições de déficit hídrico, ocorre aumento na temperatura das folhas e fechamento dos estômatos, diminuindo assim a fotossíntese. Como consequência, a cultura ajusta a superfície foliar à disponibilidade hídrica, o que provoca diminuição no rendimento (TAIZ & ZEIGER, 1998).
Um exemplo de hortaliça de fruto tem o tomateiro (Lycopersicon esculentum), é uma das espécies hortícolas de maior importância no mundo, sendo utilizada tanto para consumo fresco como para a indústria. No Brasil, o tomateiro constitui uma das hortaliças de fruto mais importantes comercialmente, com uma produção anual de 3,2 milhões de toneladas, numa área plantada em torno de 63.000 ha e produtividade média de 54 Mg ha-1 (Agrianual, 2008).
Outro exemplo e o pimentão que está entre as principais hortaliças cultivadas no Brasil, seus frutos apresentam grande diversidade de formas e sabores, podendo ser consumidos verdes ou maduros. O cultivo do pimentão se estende por todo o território brasileiro, sendo São Paulo e Minas Gerais, localizados na região Sudeste, os principais produtores, graças à proximidade dos grandes centros consumidores (ECHER et al., 2002. SANTOS et al.,2017).
A produtividade de uma hortaliça de fruto é determinada pela combinação de dois componentes: número e peso médio de frutos colhidos por planta, cuja associação resulta na produção por planta. O número de frutos produzido é uma consequência direta do índice de pigmento de frutos na planta. O rendimento de frutos do tomateiro é determinado pelo balanço entre crescimento vegetativo e reprodutivo para um determinado fornecimento de assimilados (ROCHA,2010). A alocação dos assimilados para os frutos e, consequente-mente, o rendimento da planta do tomateiro, dependem principalmente do número de frutos existentes na planta (ROCHA, 2010).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
304 305
Mudas de plantas frutíferas e florestais em com sistema hidropônico
A cultura do morangueiro é a principal cultura no grupo das pequenas frutas e vem apresentando considerável crescimento no brasil. Apesar da expansão da cultura, ainda apresenta produtividade abaixo do seu potencial, a qual gira em torno de 24 t ha-1, sendo que podem ser alcançados valores de cerca de 60 t ha-1 (ANDRIOLO et al., 2008). Nos sistemas de cultivo sem solo (cultivo em substrato e hidroponia) surgem como alternativas para suprir as dificuldades pelo uso indevido de pequenas áreas, os quais ocasionam pro-blemas de contaminação do solo. Nesses sistemas de cultivo, o fornecimento de água e nutrientes pode ser mais bem ajustado às necessidades da planta, reduzindo as perdas por excessos. No entanto, talvez a principal característica benéfica do cultivo sem solo para a cultura do morangueiro seja o fato de se elevar a cultura do solo, facilitando o trabalho do agricultor e possibilitando o maior adensamento da população de plantas. Este maior nú-mero de plantas por unidade de área, por si só, já é um fator que promoveria um aumento da produtividade. (PORTELA,2012)
No cultivo de mudas de plantas frutíferas temos o exemplo das cítricas que são produ-zidas em ambiente protegido favorece a produção de plantas de elevada qualidade genética e sanitária. O cultivo necessita ser feito em recipientes, onde as mudas produzidas alteram seu desenvolvimento em função do meio de cultivo, quando comparado com o processo a campo, com a limitação do espaço para o crescimento das raízes (FOCHESATO et al., 2007, SOUZA et al., 2013). Uma boa alternativa pode estar na otimização dos métodos de propagação em hidroponia, os quais têm como objetivos a redução do tempo para obtenção, e o maior controle das condições nutricionais e fitossanitárias.
Na parte das florestais temos o exemplo da árvore conhecida, popularmente, como pau-brasil, (Caesalpinia echinata Lam). Ocupa o estrato médio de florestas tropicais nos estados Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo (CARVALHO, 2003, VALERI, 2013). É considerada árvore nacional pela Lei n. 6607, de 7/12/1978, e desde 1992 está na lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção elaborada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (BRASIL, 1978, 2007).
Que tem como principal produto a produção de madeira do pau-brasil consistia na obtenção do pigmento brasileína empregado pelos europeus no tingimento de sedas, linhos e algodões (CARVALHO, 2003, VALERI, 2013). Contudo, em meados do século XVIII, a espécie teve seu produto muito desvalorizado com a síntese dos primeiros corantes artificiais que proporcionavam a mesma cor da brasileína (REZENDE et al., 2004).
Outra importante espécie muito conhecida e o jatobá que se apresente como espécie promissora para programas de reflorestamento e, ou, recuperação de áreas degradadas, o
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
306
conhecimento sobre as respostas fisiológicas dessa árvore ante a salinidade ainda é inci-piente. Portanto a produção por hidroponia vem sendo difundida atualmente e tem grande potencial para o futuro por diversos fatores.
Irrigação, e diferentes tipos de água
Por causa da baixa disponibilidade de água de boa qualidade para a agricultura, vários estudos e tecnologias estão sendo produzidas para lidar com essas limitações. Uma das alternativas é o uso de água salobra na agricultura e o uso da hidroponia (SILVA et al., 2018). Esta técnica consiste em cultivar sem solo, onde as raízes das plantas estão submersas em um meio aquático e receber uma solução nutritiva composta de água e nutrientes essenciais para o desenvolvimento (SOARES et al., 2015). O sistema mais utilizado no Brasil é o NFT (técnica de filme de nutrientes), neste sistema hidropônico as plantas tendem a ser mais tolerantes aos sais devido à insignificância do potencial da matriz (SILVA et al.,2015).
Uma opção para se dispor do rejeito salino de outros tipos de aguas como a salobra, é a sua utilização na solução nutritiva em cultivos hidropônicos de hortaliças, uma vez que a tolerância das plantas à salinidade em sistemas hidropônicos é maior em relação ao sistema convencional, pois a inexistência do potencial métrico, superando o potencial total da água, reduzirá a dificuldade de absorção de água pelas plantas (SOARES et al., 2007);
No entanto, a própria estrutura hidropônica funciona como sistema de drenagem e os sais acumulados ao final do cultivo podem ser facilmente descartados para fora do sistema; desta forma, os sistemas hidropônicos permitem o uso das águas de rejeito das dessaliniza-ções, viabilizando uma atividade produtiva geradora de renda para as comunidades rurais, com maior segurança ambiental. (SOARES et al., 2007);
Já que a escassez de águas superficiais no Semiárido e em outras regiões é um reco-nhecido fator limitante ao desenvolvimento da região. Uma alternativa que poderia reduzir esta carência são as águas subterrâneas, que podem ser menos onerosas e ter melhor qualidade sanitária. (ANDRADE JUNIOR et al., 2006; MEDEIROS et al.,2003),
Diante disso, o uso e aproveitamento do rejeito salino, salobro gerado pela dessalini-zação por osmose reversa para o preparo de soluções nutritivas para cultivos hidropônicos de hortaliças e demais culturas, surge como uma forma interessante para destinar tais re-síduos, como aparecem nos resultados de pesquisas de diversos autores (SOARES et al., 2007; DIAS et al., 2010; SANTOS et al., 2010a; 2010b).
Nos últimos anos, algumas pesquisas têm procurado avaliara viabilidade de aprovei-tamento de águas salobras em cultivos hidropônicos. A hipótese básica na maioria desses estudos é que, na produção hidropônica, a resposta das plantas em condições salinas é melhor que no cultivo convencional baseado no solo, visto que na hidroponia pode não existir
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
306 307
o potencial mátrico, que é uma das causas da diminuição da energia livre da água no solo (SOARES et al., 2007).
Ambientes protegidos
A produção de mudas em ambientes protegidos com sistema hidropônico, de modo geral, utilizando-se pó de coco como substrato orgânico a produtividade de pimentão é muito expressiva (CHARLO et al., 2009, SANTOS et al 2017). Entretanto, por ser uma técnica de cultivo recente, são escassos na literatura trabalhos apresentando dados de produtividade, precocidade e características de frutos, bem como a indicação de híbridos de pimentão mais produtivos, quando estes são cultivados em substratos, acondicionados em vasos, em sistema hidropônico. A avaliação de diferentes genótipos como linhagens, híbridos simples e triplos, aliados ao emprego de técnicas de cultivo, como sistemas de poda para condução com diferentes números de hastes, possibilitam o desenvolvimento de informações mais precisas, quanto à produção resultante da interação entre os genótipos com o ambiente. Tem-se relatos de muitos estudos em híbridos triplos de milho devido a vantagens, como maior produtividade (SANTOS et al 2017).
Porém, em outras culturas, estudos consistentes são restritos, possivelmente em função do incremento no custo de produção e da maior desuniformidade nos híbridos triplos em relação aos híbridos simples e às linhagens. Essas desvantagens poderiam ser superadas com a alta heterose apresentada em alguns híbridos triplos bem como pela incorporação de resistência a doenças, precocidade, qualidade dos frutos, além do menor custo das semen-tes no mercado em função da maior produção desse insumo, se comparado a dos híbridos simples (BLAT et al., 2007, SANTOS 2017).
Recipientes e substratos
Alguns fatores como aeração e capacidade de retenção de água do substrato podem variar de acordo com o recipiente utilizado e tem grande efeito sobre a germinação e emer-gência de plântulas. Assim, é importante o estudo de diferentes substratos para que se obtenha maior eficiência na produção de mudas. O tipo de substrato afeta a germinação, a emergência de plântulas e o desenvolvimento das mudas, por fornecer a água, os nutrientes e garantir adequada aeração (CARNEIRO, 1995). Entretanto, com relação a espécies nati-vas, pouco se conhece sobre a necessidade de cada espécie, e quais são as características que o substrato deve apresentar para a produção de mudas de alta qualidade. Da mesma maneira, a escolha do recipiente mais adequado está sujeita a diversos fatores, como seu tamanho e formato (BRASIL, 2009), sendo dependentes das condições do local e da espécie que será utilizada (AGUIAR; MELLO, 1974, BOA, F et al 2014).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
308
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando todos os fatores avaliados sobre a produção de mudas de diferentes espécies pelo sistema hidropônico. Podemos perceber que a técnica de produção ainda e baixa, mas por outro lado, se mostra muito promissora e eficaz para o futuro, já que diante das futuras dificultadas, por diversos motivos tais, como a escassez de água, aumento da temperatura, além do crescimento populacional. Desse modo, ela vem para supri as novas formas de cultiva novas culturas e assim desenvolver a economia de pequenos e grandes produtores no país.
AGRADECIMENTOS
Ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia – Cassilândia MS (PGAC), e a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS).
FINANCIAMENTO
Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, (PIBAP/CAPES).
REFERÊNCIAS
1. AGRIANUAL. 2008. FNP. Consultoria e comércio. Anuário da agricultura brasileira. São Paulo, 502p. 2008
2. AGUIAR, I. B.; MELLO, H. A. Influência do Recipiente na produção de mudas e no envolvimen-to inicial após o plantio no campo, deEucalyptus grandis Hill ex Maiden e Eucalyptus saligna Smith. IPEF, n.8, 1974.
3. ANDRIOLO, J.l.; OLIVEIRA, C.S.; CoCo, C.; ERPEN, l.; SCHMITT, O.J. Qualidade de mudas de morangueiro produzidas com diferentes doses de n em cultivo sem solo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICUlTURA, ed. 48.Maringá-PR. Anais... Brasília: AbH, 2008. p. 6.004-6.007. 2008.
4. BLAT, SF; BRAZ, LT; ARRUDA, Avaliação de híbridos duplos de pimentão. Horticultura Brasileira 25: 350-354.2007.
5. BRASIL. IBAMA. Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Portaria 37-N, de 03 de abril de 1992. Lista oficial de espécies da flora brasileira ameaça-das de extinção. Disponível em: <http://www.ibama.gov. Br> Acesso em: 20 out. De 2020.
6. BRASIL. Lei 6.607 de 07 de dezembro de 1978. Declara pau-brasil árvore nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, dez. 1978.
7. BRASIL. Ministério da Agricultura e Reforma Agrária. Regras para análise de sementes. Brasília: SNDA/DNDV/CLAV, 2009.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
308 309
8. CARNEIRO, J. G. A. Produção e controle de qualidade de mudas florestais. Curitiba: UFPR/FUPEF, Campos: UENF, 451p. 1995.
9. CARVALHO, P. E. Espécies arbóreas brasileiras. Brasília: Embrapa Informações Tecnoló-gicas, p. 719-725.2003.
10. CHARLO, HCO; CASTOLDI, R; FERNANDES, C; VARGAS, PF; BRAZ, LT. Cultivo de híbridos de pimentão amarelo em fibra da casca de coco. Horticultura Brasileira 27: 155-159.2009
11. FOCHESATO, M. L. et al. Crescimento vegetativo de porta enxertos de citros produzidos em substratos comerciais. Ciência Rural, v. 37, n. 4, p. 970-975, 2007.
12. FURLANI, P. R. et al. Cultivo hidropônico de plantas: Parte 1. Conjunto hidráulico. 2009. Artigo em Hypertexto. Disponível em: http://www.infobibos.com/Artigos/2009_1/hidroponiap1/ index.htm. Acesso em: 20 out. 2020.
13. FURLANI, P. R., SILVEIRA, L. C. P.; BOLONHEZI, D.; FAQUIM, V. Cultivo hidropônico de plantas. Disponível em: <http://www.infobibos.com/Artigos/2009_1/Hidroponiap1/Index.htm>. Acesso em: 20 out. 2020.
14. LOPES, M.C.; FREIER, M.; MATTE, J.C.; GÄRTNER, M.; FRANZENER, G.; NOGAROLLI, E.L.; SEVIGNANI, A. Acúmulo de nutrientes por cultivares de alface em cultivo hidropônico no inverno. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 21, n. 2, p. 211-215,2003.
15. PORTELA et al. I. P. Rev. Bras. Frutic. Jaboticabal - SP, v. 34, n. 3, p. 792-798, Setembro 2012
16. REZENDE, C. M. et al. Constituintes químicos voláteis das flores e folhas do pau-brasil (Cae-salpinia echinata, Lam). Química Nova, São Paulo, v. 27, n. 3, p. 414-416, 2004.
17. ROCHA MQ; PEIL RMN; COGO CM. Rendimento do tomate cereja em função do cacho floral e da concentração de nutrientes em hidroponia. Horticultura Brasileira 28: 466-471. 2010
18. SANTOS, PR; MELO, RA; CARVALHO FILHO, JLS; FERREIRA, IVS; SILVA, FS; LIMA FILHO, FP; MENEZES, D. 2017. Desempenho de linhagens e híbridos de pimentão em dois siste-mas de poda no cultivo hidropônico. Horticultura Brasileira 35: 129-134. DOI - http://dx.doi.org/10.1590/S0102- 05362017012
19. SILVA, A. P. P.; MELO, B. Hidroponia. Disponível em: < http://www.fruticultura.iciag.ufu.br/hidropo.htm>. Acesso em: 20 abr. 2020.
20. SILVA, J. S. et al. Production of lettuce with brackish waterin NFT hydroponic system. Semina: Ciências Agrárias, v. 39, n. 3, p. 947-962, 2018.
21. SILVA, M. G. et al. Produção de coentro em hidroponia com o uso de águas salobras para reposição do consumo evapotranspirado.Revista Brasileira de Agricultura Irrigada, v. 9, n. 4, p. 246-258, 2015.
22. SILVA, M. G. et al. Produção de coentro em hidroponia com o uso de águas salobras para reposição do consumo evapotranspirado. Revista Brasileira de Agricultura Irrigada, v. 9, n. 4, p. 246-258, 2015.
23. SOARES, H. R. et al. Lettuce growth and water consumptionin NFT hydroponic system using brackish water. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 19, n. 7, p. 636-642, 2015.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
310
24. SOARES, T. M.; Silva, E. F. F.; Duarte, S. N.; Mélo, R. F.; Jorge, C.A; Bonfim-Silva, E. M. Produção de alface utilizando águas salinas em sistema hidropônico. Irriga, v.12, n.2, p.235-248, 2007.
25. VALERI, S. V. et al. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 22, n. 2, p. 241-250, abr.-jun., 2012.
25Qualidade fisiológica de sementes e desempenho agronômico de cultivares de alface do Grupo Crespa
Marlei Rosa dos SantosUESPI
Wilson Ribeiro dos Santos NetoUESPI
Ana Paula da Silva SantosIFPI
Ewerton Gasparetto da SilvaIFPI
Evandreyce Ferreira AndradeUESPI
Francisco de Assis Gomes JuniorUESPI
Tamara Santos Ferreira de FariaUFGD
10.37885/210303949
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
312
Palavras-chave: Lactuca Sativa, Germinação, Produção de Mudas, Adaptabilidade.
RESUMO
A alface é a hortaliça folhosa mais importante no mundo, sendo consumida principalmente in natura na forma de saladas. As maiores exigências ao clima são principalmente quan-to a temperatura e luminosidade, embora seja reconhecida como planta típica de clima temperado, no entanto possui cultivares melhoradas geneticamente com maior tolerância a temperaturas elevadas, o que possibilita seu cultivo em diferentes regiões. Objetivo: Avaliar a qualidade fisiológica das sementes e o desempenho agronômico de cultivares de alface do grupo crespa nas condições edafoclimáticas do município de Uruçuí-PI. Métodos: foram conduzidos três experimentos: Experimento I – avaliação fisiológica das sementes de alface; Experimento II – produção de mudas de alface crespa, esses dois experimentos foram realizados com sementes de dez cultivares de alface. O experimento III – foi realizado com seis cultivares (Hanson, Grands Raptds TBR, Crespa Grand Raptds TBR, Elba, Crespa Repolhuda e Monica SF 31), que produziram mudas suficientes para serem transplantadas no campo. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com quatro repetições. Resultados: No experimento I, as sementes das cultivares Grand Raptds TBR, Crespa Grand Raptds TBR, Crespa Repolhuda e Monica SF 31 mostraram qualidade fisiológica superiores e as três últimas apresentaram maior vigor pelo índice de velocidade de emergência de plântulas (Experimento II). As cultivares Hanson, Grand Raptds, Crespa Grand Raptds TBR, Elba, Crespa Repolhuda e Monica SF 31, foram as que apresentaram maior porcentagem de plantas normais (mudas). No cultivo em campo não houve diferença entre as cultivares para os parâmetros número de folhas e massa fresca da parte aérea. Conclusão: As cultivares Grand Raptds e Crespa Grand Rapts TBR, mostraram menos adaptadas para as condições de cultivo no município de Uruçuí-PI, no período entre março e julho de 2016.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
312 313
INTRODUÇÃO
Originária da região do mediterrâneo, a alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa mais importante no mundo, sendo consumida principalmente in natura na forma de sala-das (FILGUEIRA, 2008). Existem evidências de que sua domesticação se deu a partir da espécie selvagem Lactuca serriola L. (JAGGER et al., 1941). A sua introdução na Europa ocidental ocorreu no início do século XV, na América a introdução ocorreu em 1494 (RYDER, 2002, citado por SALA, 2011), enquanto no Brasil a alface foi introduzido pelos portugueses por volta de 1650.
A busca crescente por hábitos alimentares mais saudáveis junto à população brasileira, diante da onda de obesidade que põe em alerta os órgãos de saúde pública, aponta para a tendência de incremento na demanda nacional de hortaliças. O movimento deve favorecer especialmente as folhosas, como alface, repolho, rúcula, couve e agrião, entre mais de 50 variedades de verduras (REETZ et al., 2014).
As diferentes cultivares de alface são agrupadas em vários tipos distintos com base nas características das folhas e na formação ou não de “cabeça”: lisa (solta, repolhuda manteiga); crespa (solta, repolhuda); americana; mimosa e romana (SANTOS et al., 2011; SEDIYAMA et al., 2019).
A alface é bastante sensível a condições adversas de temperatura, sendo tradicional-mente mais adaptada às temperaturas amenas, produzindo melhor nas épocas mais frias do ano (LOPES et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2004; SEDIYAMA et al., 2019). Os fatores climáticos podem interferir na produção de alface (SANTOS et al, 2010), como destaque para a temperatura, que é um dos fatores que estimula o florescimento precoce e é intensificado à medida que a temperatura se eleva (LUZ et al., 2009). Outros fatores como fotoperíodo e precipitação podem influenciar diretamente no crescimento, desenvolvimento e produtividade da cultura, assim como a elevada radiação solar (FU; LI; WU, 2012).
As cultivares de alface podem diferir quanto à duração do período vegetativo e flores-cimento, número de folhas e peso da planta (LÊDO, 1998), sendo estes influenciados pelo fotoperíodo e principalmente pela temperatura, que induzem ao pendoamento precoce, que provoca o alongamento do caule, reduz o número de folhas e estimula a produção de látex, o que torna o sabor da folha amargo, resultando em plantas pequenas, com menor peso e número de folhas e de má qualidade. Essas são características indesejáveis para a alface, já que inviabilizam a sua comercialização (SALA; COSTA, 2005).
Entretanto, o uso de variedades resistentes ao pendoamento precoce é uma das alterna-tivas para se viabilizar o cultivo ao longo do ano em todas as regiões do país, principalmente na região Nordeste que apresenta condições adversas em boa parte do ano. No merca-do, estão disponíveis cultivares de diversas empresas, visando resistências não somente
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
314
ao pendoamento, como também a outros fatores, como doenças, vem permitindo o culti-vo em diferentes condições climáticas, contribuindo para a sustentabilidade da alfacicul-tura (SALA, 2011).
Apesar da cultura da alface ser explorada em todo o território nacional, na região nordes-te, a produção é baixa, se comparada com as demais regiões de clima ameno (QUEIROGA, 2001). Porém, diversos são os fatores ambientais que afetam o crescimento e o desenvol-vimento das plantas. Dentre eles estão à temperatura e a altitude do local de plantio, o que torna necessária a realização de testes de cultivares visando a adaptabilidade ao local de cultivo (BLAT et al., 2010). Sendo assim, foram conduzidos diversos estudos, para avaliar o desempenho de cultivares nas diferentes regiões do Brasil (BLAT et al., 2011; GUIMARÃES et al., 2011; SANTANA et al., 2012; AZEVEDO et al., 2013).
O clima do Estado do Piauí se define pelos estudos da EMBRAPA, pelo encontro das massas de ar dos dois hemisférios (Norte e Sul) e, principalmente, pelos ventos alísios do Nordeste e do Sudeste. Dessa forma o Estado do Piauí apresenta duas classificações cli-máticas distintas. A tropical, caracterizada pela estação chuvosa concentrada do verão ao outono, com variação pluviométrica de 900 a 1.800 mm, cuja temperatura máxima anual é de 30 ºC e a mínima de 18 ºC. E o semiárido, cuja temperatura oscila a máxima de 30 a 40 ºC e a mínima de 16 a 19 ºC, derivada do baixo índice de umidade relativa, que varia entre 40 a 50% nos meses sem chuva (EMBRAPA, 2011, citado por CARVALHO, 2011).
Nos últimos anos o consumo de alface no município de Uruçuí-PI tem aumentado ex-ponencialmente e os consumidores tem demandado produtos mais diversificados, porém os produtores ainda não se adequaram as exigências do mercado, devido alguns fatores que interferem na produção. Em Uruçuí, as variedades de alface mais conhecidas e consumidas são dois tipos crespa e americana, melhoradas para o cultivo de verão ou adaptadas para regiões tropicais com temperatura e pluviosidade elevada.
A busca por material genético que apresentem boa germinação e desenvolvimento nas condições climáticas do município de Uruçuí-PI é um requisito obrigatório visando maximizar a produtividade, uma vez que as empresas produtoras de sementes têm recomendado cul-tivares que nem sempre adaptam a uma ampla faixa de ambientes. Portanto, a seleção de cultivares de alface que melhor se adaptam às condições ambientais nas diferentes estações do ano é de suma importância para os produtores, no sentido de maximizar a produção, reduzir custos e melhorar a qualidade do produto (AQUINO et al., 2017).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
314 315
OBJETIVO
Avaliar a qualidade fisiológica das sementes, desenvolvimento inicial das mudas e o desempenho agronômico de cultivares de alface do grupo crespa nas condições edafocli-máticas do município de Uruçuí-PI.
MÉTODOS
Para avaliar a qualidade fisiológica das sementes e o desempenho agronômico em campo foram desenvolvidos três experimentos.
Experimento I - Avaliação fisiológica de sementes de alface do grupo crespa
Localização do experimento e delineamento experimentalO experimento foi conduzido no Laboratório de análise de sementes da Universidade
Estadual do Piauí-UESPI no mês de maio de 2016.O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com dez tratamentos
(cultivares) e quadro repetições.Cultivares avaliadasForam utilizadas sementes de dez cultivares de alface do grupo crespa, cujas carac-
terísticas disponíveis nas embalagens estão dispostas na Tabela 1.Parâmetros avaliados:GerminaçãoUtilizou-se quatro repetições de 50 sementes, semeadas em caixas plásticas do tipo
gerbox, sobre duas folhas de papel germitest® umedecidas com água destilada na proporção de 2,5 vezes o peso do papel seco e coberto por mais uma folha. As sementes foram man-tidas à temperatura constante de 20 ºC. As contagens foram realizadas aos quatro e sete dias, conforme as Regras de Análise de Sementes - RAS (BRASIL, 2009), considerando-se como germinadas as plântulas normais de cada repetição, obtendo-se, assim a média das repetições, com os dados expressos em porcentagem de plântulas normais na primeira con-tagem (4 dias) e germinação final (somatório de 4 e 7 dias) e plântulas anormais após 7 dias.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
316
Tabela 1. Cultivares de alface do grupo crespa utilizadas no trabalho. Uruçuí-PI, UESPI, 2016
Cultivares Lote Safra Germinação (%) Pureza (%) Análise Validade
Hanson (Repolhuda) 40220-S2 10/2015 85 99,7 10/2017
Hanson Crespa Repolhuda 425803 2011/2011 94 99,5 05/2014 05/2016
Grands Raptds TBR 465082 2015/2015 96 98,0 01/2018
Cinderela 463834 2014/2014 94 99,7 09/2015 09/2017
Crespa Grand Raptds TBR 38255-S2 02/2016 88 99,9 02/2018
Elba 037938 10/2014 85 99,0 10/2016
Crespa para Verão 036432 07/2014 85 99,0 07/2016
Crespa Repolhuda 041475 07/2015 85 99,0 07/2017
Monica SF 31 460333 2014/2014 92 100 08/2015 08/2017
Crespa para Inverno 036672 07/2014 85 99,0 07/2016
Envelhecimento aceleradoEste teste foi realizado de acordo com a metodologia da AOSA (1983), complementada
por Marcos Filho (1987). Para tanto uma única camada de sementes foi colocada sobre tela metálica acoplada em caixa gerbox contendo, ao fundo, 40 ml de água destilada. As caixas foram tampadas e mantidas em câmaras tipo BOD, a temperatura 41 ºC e 100% UR por 72 h. Após esse período, quatro repetições de 50 sementes foram colocadas para germinar segundo metodologia do teste de germinação, computando-se a porcentagem de plântulas normais obtidas aos quatro dias após a semeadura.
Teor de umidade das sementes após o envelhecimentoApós o envelhecimento das sementes determinou-se o teor de umidade das mesmas,
utilizando-se quatro repetições de 50 sementes, pelo método de estufa a 105 ±3 °C, durante 24 horas, segundo as RAS (BRASIL, 2009). A porcentagem de umidade foi calculada na base do peso úmido das sementes, aplicando-se a seguinte fórmula:
Onde:
Pi = Peso inicial, peso do recipiente e sua tampa, mais o peso da semente úmida;Pf = Peso final, peso do recipiente e sua tampa, mais o peso da semente seca;t = Tara, peso do recipiente com sua tampa.Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as comparações das
médias de cultivares foram feitas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o software ASSISTAT (SILVA, 2013).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
316 317
Experimento II – Avaliação do desenvolvimento inicial das mudas de alface do grupo crespa
Localização do experimento e delineamento experimentalEste experimento foi conduzido na casa de propagação de plantas da UESPI, Campus
de Uruçuí-PI, durante os meses de maio a junho de 2016.O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com dez tratamentos
(Cultivares) e quadro repetições.Produção de mudasNo dia 20 de maio de 2016, as sementes foram semeadas em bandeja de polietileno
expandida de 128 células, preenchidas com substrato comercial Basaplant®. Para cada re-petição e cultivar foram utilizadas 80 sementes, semeadas duas por cada célula, a 0,5 cm de profundidade, totalizando 40 células por parcelas. A irrigação foi feita diariamente com uso de regador manual para manter o substrato úmido. Após 14 dias da semeadura foi realizado o desbaste das plantas deixando apenas uma planta por célula. Em seguida realizou uma aplicação foliar com Torped® na concentração de 10 mL por 10 litros de água.
Parâmetros avaliadosÍndice de velocidade de emergência de plântulas (IVE)Diariamente avaliou-se a porcentagem de plântulas emergida até estabilizar aos 14
dias após a semeadura. O IVE foi calculado utilizando a fórmula apresentada por Maguire (1962), com adaptações:
Onde:
IVE – Índice de velocidade de emergência de plântulas;E= % de plântulas emergidas;N= nº de dias após o plantio das sementes.Porcentagem de plântulas normaisAos 20 dias após a semeadura avaliou-se a porcentagem de plântulas normais.Avaliação do número de folhas e altura das mudasO número de folhas e altura das mudas foi realizado nas oito mudas normais centrais
de cada parcela e calculou-se a média do número de folhas por planta e a altura das 8 mudas avaliadas por parcelas (repetições). A altura das mudas foi medida utilizando uma régua graduada. Mediu-se a altura da superfície do solo ao ápice da folha e os dados foram expressos em cm.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
318
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as comparações das médias de cultivares foram feitas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o software ASSISTAT (SILVA, 2013).
Experimento III - Avaliação do desempenho agronômico de cultivares de alface do grupo crespa
Localização do experimentoNeste experimento foi utilizado as seis cultivares de alface crespa que produziram mu-
das suficiente para serem transplantadas no campo. O experimento foi conduzido na proprie-dade do senhor Joveraldo Ribeiro dos Santos, situado nas coordenadas em 7° 13’51.85” S e 44° 33’01.46” W e altitude de 169 metros, na área urbana da cidade de Uruçuí-PI. O dados climatológicos durante o período de condução dos experimentos na estufa e no campo estão dispostos na Figura 1.
Delineamento experimental e tratamentosO delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com seis trata-
mentos (cultivares) e quatro repetições. Foram utilizadas as mudas das cultivares: Hanson (Repolhuda); Grads Raptds TBR; Crespa Grands Raptds TBR; Elba; Crespa Repolhuda e Monica SF 31, estas foram as que sobressaíram em termos de quantidade de mudas nor-mais no final do experimento II.
Condução do experimentoPreviamente ao preparo do terreno e plantio foi realizada amostragem do solo e envia-
da para análise no laboratório de análise de solo e água do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sousa-PB, cujos resultados estão na Tabela 2.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
318 319
Figura 1. Dados climáticos de 01 de maio a 12 de julho de 2016, da região de Uruçuí-PI. Uruçuí – PI, 2016. Fonte INMET.
Tabela 2. Resultados da análise de solo na profundidade de 0-20 cm.
Atributos Resultados Atributos Resultados
pH (H2O) 6,9 Al+3 (cmolc dm–3) 0,0
Matéria Orgânica (g kg–1) 9,44 H+ + Al+3 (cmolc dm–3) 0,66
P (mg dm–3) 47,0 SB (cmolc dm–3) 3,3
K+ (cmolc dm–3) 0,18 CTC (cmolc dm–3) 4,0
Na+ (cmolc dm–3) 0,26 V % 83,0
Ca+2 (cmolc dm–3) 1,80 PST % 7,0
Mg+2 (cmolc dm–3) 1,1
P, K, Na: Extrator Mehlichl; Al, Ca, Mg: Extrator KCL 1M; SB=Ca+2+ Mg+2+ K++ Na+; H+ + Al+3: Extrator Acetato de Cálcio 0,5 M, pH 7,0; CTC=SB+ H+ + Al+3; M.O.: Digestão Umida Walkley-Black; PST+ Percentagem de Sódio Trocável.
Foram preparados quatro canteiros com 1 m de largura por 6,25 m de comprimento para o transplante das mudas. Quinze dias antes do transplante das mudas foram incorporado 33,3 t ha–1 de esterco de caprino, que corresponde a 4,16 Kg por parcela 1,25 m2.
O transplante foi realizado 20 dias após da semeadura, quando as mudas estavam com aproximadamente 4 folhas, utilizou-se o espaçamento de 0,25 x 0,25 m, sendo cada parcela de 1,25 m2 com 20 plantas (Figura 2). Após 4 dias do transplante foi feita uma adubação foliar com Torped® (10 mL em 10 litros de água) e a partir desta foi feita uma foliar a cada 7 dias. A irrigação foi realizada por micro aspersores de acordo com a necessidade da cultura.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
320
Figura 2. Experimento de campo A) mudas de alface; B) disposição das mudas na parcela; C) transplante das mudas e D) irrigação por micro aspersor. Uruçuí, 2016.
A B
C D
Parâmetros avaliadosApós 45 dias do transplante das mudas colheu-se as seis plantas centrais de cada
unidade experimental. Foram avaliadas as seguintes características: (Figura 3).Massa fresca da cabeça (g)As cabeças foram pesadas individualmente em balança de precisão de 0,1 g, para o
cálculo do peso médio de cabeça por cultivar e repetição.Número de folhasContou-se o número total de folhas de cada cabeça.Comprimento (cm)O comprimento do caule foi medido com o auxílio de uma régua graduada.Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e as comparações das
médias de cultivares foram feitas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o software ASSISTAT (SILVA, 2013).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
320 321
Figura 3. Colheita do campo A) colheita das plantas; B) peso da cabeça; C) Contagem do número de folhas e D) Avaliação do comprimento do caule de plantas de alface com a régua. Uruçuí-PI, 2016.
A B
C D
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Experimento I – Avaliação da fisiológica de sementes de alface do grupo crespa
Primeira contagem da germinação, germinação final e plântulas anormaisOs resultados da análise de variância dos dados de porcentagem de plântulas normais
na primeira contagem da germinação (PC), germinação total e plântulas anormais, mostraram que houve efeito significativo entre as dez cultivares de alface (Tabela 3).
As cultivares Grands Raptds TBR, Crespa Grand Raptds TBR e Crespa Repolhuda foram mais vigorosa com 73,0; 71,50 e 71,0% de plântulas normais na primeira contagem da germinação, realizada aos 4 dias após a instalação do experimento, porém não diferindo da cv. Monica SF 31 (56,50%), mostrando que estas cultivares apresentaram sementes mais vigorosas (Tabela 3). Já as cultivares Cinderela, Crespa para Verão e Crespa para Inverno apresentaram menos vigorosas com 0,0% de plântulas normais na PC. Estes resultados diferem dos observados por Villela et al. (2010), avaliando a qualidade de sementes de oito
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
322
cultivares de alface produzidas no inverno no município de Lavras-MG, no qual observaram 100% de plântulas normais na PC. Por outro lado, as porcentagens de plântulas normais observados neste trabalho, para as cultivares Grands Raptds TBR, Crespa Grand Raptds TBR, Crespa Repolhuda e Monica SF 31, valores estes dentro dos observados por Villela et al. (2010) para as sementes produzidas no verão 52 a 100%.
Tabela 3. Primeira contagem da germinação (PC), germinação total e plântulas anormais, oriundas de sementes de dez cultivares de alface do grupo crespa. Uruçuí-PI, UESPI, 2016.
Cultivares PC(%) Germinação (%) Plântulas anormais
(%)
Hanson (Repolhuda) 24,00 cd 51,00 c 36,00 cd
Hanson Crespa Repolhuda 39,50 bc 63,00 bc 12,50 de
Grands Raptds TBR 73,00 a 89,00 a 3,50 e
Cinderela 0,00 d 3,50 d 79,50 a
Crespa Grand Raptds TBR 71,50 a 82,00 ab 7,50 e
Elba 17,00 cd 46,50 c 50,50 bc
Crespa para Verão 0,00 d 12,50 d 76,50 ab
Crespa Repolhuda 71,50 a 87,50 a 6,50 e
Monica SF 31 56,50 ab 87,50 a 10,00 de
Crespa para Inverno 0,00 d 0,50 d 62,00 abc
Médias 35,30 52,30 34,45
Blocos 45,2000 13,4667 58,5000
Cultivares 3.872,1556** 5.113,60** 3.716,3222**
Resíduo 142,6815 75,1704 118,1296
CV (%) 33,84 16,58 31,55
Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. ** significativo a 1% de probabilidade pelo teste F.
A qualidade das sementes de uma mesma espécie pode variar de acordo com o local e as condições ambientais no período de formação das mesmas. Segundo Botezelli et al. (2000) sementes provenientes de diferentes ambientes podem apresentar respostas dife-renciadas na germinação, relacionadas tanto às condições ambientais locais (temperatura, luz, solo etc.), fisiologia das espécies e genéticas entre as populações. As sementes aqui utilizadas foram adquiridas em casa de comércio de Uruçuí-PI, Teresina-PI, Capitólio-MG e Piumhi-MG portanto não sabemos a procedência das mesmas em relação ao local e período de formação das sementes, nas embalagens consta apenas a safra, não sendo possível saber os meses exatos, disponíveis na Tabela 1.
Resultados semelhantes foram observados na germinação total das sementes com as quatro cultivares Grands Raptds TBR, Crespa Grand Raptds TBR, Crespa Repolhuda e Monica SF 31, se destacando com porcentagem de germinação acima de 80,0%, valores superiores ao mínimo exigido para a comercialização (Tabela 3), segundo Villela et al. (2010) o padrão estabelecido para comercialização de sementes de alface é 80% de germinação sob a temperatura 20 ºC. No entanto, os resultados desse teste não garantem desempenho posterior similar, mesmo quando a germinação é elevada, pois o desempenho das sementes
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
322 323
depende de seu potencial fisiológico e das condições de ambiente. Portanto o padrão esta-belecido para a comercialização é na temperatura de 20 °C (VILLELA et al., 2010).
A porcentagem de germinação variou-se de 0,50 a 89,0%, sendo estes valores cor-respondentes as sementes das cultivares Crespa para Inverno e Grands Raptds RBR, res-pectivamente. As sementes das cultivares Cinderela, Crespa para Verão e Crespa para Inverno foram as que apresentaram menor porcentagem de germinação 3,50; 12,50 e 0,50% (Tabela 3), resultados estes não esperados uma vez que o teste foi realizado em laboratório no germinador com temperatura de 20 oC seguindo a metodologia das Regras de Análise de Sementes (BRASIL, 2009), e nas embalagens destas sementes os valores de germinação são de 94, 85 e 85%, respectivamente (Tabela1). Provavelmente as condições de armaze-namento destas sementes até o momento da aquisição não foram adequadas.
Observou-se variação de 3,50 a 79,50% na porcentagem de plântulas anormais, sendo os maiores valores verificados nas sementes das cultivares Cinderela, Crespa para Verão e Crespa para Inverno com 79,50, 76,50 e 62,00%, respectivamente (Tabela 3). As plântulas das cultivares citada mostram que a qualidade das sementes são inferiores aos demais materiais testados neste trabalho.
Envelhecimento acelerado (EA) e umidade das sementes após o EANo teste de envelhecimento acelerado (Tabela 4), observou-se diferença significativa
entres os tratamentos. Entretanto, para a umidade das sementes após o envelhecimento não se observou diferença estatística entre os tratamentos. No teste de envelhecimento acelerado (EA) as sementes da cv Hanson (Repolhuda) apresentaram a maior porcentagem de plântulas normais, porém diferiu-se apenas das sementes das cultivares Hanson Crespa Repolhuda, Ciderela e Crespa para Inverno que apresentaram 0,0% de plântulas normais (Tabela 4) mostrando que estas três variedades apresentam menor vigor pelo EA. O desta-que das sementes da cultivar Hanson (Repolhuda) foi surpreendente uma vez que no teste de germinação a 20 oC ela apresentou baixo vigor e germinação com apenas 24,0 e 51,0% de plântulas normais na PC e na germinação total (Tabela 3).
Após o envelhecimento acelerado as sementes das dez cultivares apresentaram valor médio de 26,95% de umidade (Tabela 4). Este fato é importante para a execução dos testes, porque a uniformização do teor de água das sementes é imprescindível para a padronização das avaliações e obtenção de resultados comparáveis. De acordo com Marcos Filho et al. (1987) o envelhecimento acelerado e a desuniformidade do teor de água nas sementes de alface gera variação acentuada em sua intensidade de deterioração, afetando diretamente no vigor das sementes. Neste trabalho não houve diferença no teor de umidade das sementes das dez cultivares de alface estudadas.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
324
Tabela 4. Plantas normais no envelhecimento acelerado (EA) e umidade das sementes após o EA, de dez cultivares de alface do grupo crespa. Uruçuí-PI, UESPI, 2016.
Cultivares EA(%)
Umidade(%)
Hanson (Repolhuda) 5,47 a 25,47
Hanson Crespa Repolhuda 0,00 b 37,71
Grands Raptds TBR 3,27 ab 27,75
Cinderela 0,00 b 23,73
Crespa Grand Raptds TBR 2,12 ab 25,99
Elba 2,14 ab 31,72
Crespa para Verão 0,85 ab 27,45
Crespa Repolhuda 3,08 ab 25,95
Monica SF 31 4,59 ab 22,16
Crespa para Inverno 0,00 b 21,58
Médias 2,15 26,95
Blocos 2,4625 112,4187
Cultivares 15,4119** 91,4318ns
Resíduo 4,1677 69,7783
CV (%) 94,83 30,99
Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. ** significativo a 1% de probabilidade pelo teste F e ns não significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F. # dados transformado Y= √x
Experimento II – Avaliação do desenvolvimento inicial das mudas de alface grupo crespa
Índice de velocidade de emergência de plântulas normaisHouve efeito significativo dos tratamentos para os dados de índice de velocidade de
emergência (IVE), mudas normais, número de folhas e altura das mudas (Tabela 5). As se-mentes das cultivares Grands Raptds TBR (15,81) e Monica SF 31 (16,56) foram as que apresentaram maior vigor pelo IVE, porém não houve diferença para a cv. Crespa Repolhuda (13,86). Estes valores estão dentro dos observados por Villela et al. (2010) 10,25 a 31,75 para sementes de oito cultivares produzidas no verão e são inferiores aos encontrados pe-los mesmos autores e as mesmas oito cultivares com 19,25 a 44,75 de IVE para sementes produzidas no inverno. Segundo Franzin et al. (2005) observaram IVE de 7,0 e 5,0 para a cv Regina e consideraram que as sementes com IVE 7,0 são de alto vigor.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
324 325
Tabela 5. Índice de velocidade de emergência (IVE), porcentagem de mudas normais, número de folhas e a altura das mudas, oriundo de sementes de dez cultivares de alface do grupo crespa. Uruçuí-PI, UESPI, 2016
Cultivares IVE Mudas normais (%) Número de folhas Altura das mudas
Hanson (Repolhuda) 7,31 c 77,50 a 3,06 a 3,07 a
Hanson Crespa Repolhuda 1,89 d 15,63 bc 3,13 a 2,50 a
Grands Raptds TBR 15,81 a 98,13 a 3,53 a 3,02 a
Cinderela 2,36 d 0,00 c 0,00 b 0,00 b
Crespa Grand Raptds TBR 9,18 bc 91,88 a 3,38 a 3,94 a
Elba 10,51 bc 83,75 a 3,31 a 3,58 a
Crespa para Verão 7,62 c 30,00 b 3,19 a 2,61 a
Crespa Repolhuda 13,86 ab 98,13 a 3,38 a 3,64 a
Monica SF 31 16,56 a 95,63 a 2,84 a 3,50 a
Crespa para Inverno 0,52 d 0,00 c 0,00 b 0,00 b
Médias 8,56 59,06 2,58 2,59
Blocos 7,0135 120,5729 0,0870 0,1479
Cultivares 132,9670** 7165,7118** 7,5540** 8,2597**
Resíduo 4,0447 125,2026 0,1033 0,4253
CV (%) 23,49 18,95 12,44 25,22
Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. ** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F.
Enquanto as cultivares Crespa para Inverno, Hanson Crespa Repolhuda e Cinderela foram as que apresentaram menor vigor com IVE de 0,52; 1,89 e 2,36, respectivamente (Tabela 5). Estudos realizados com outras espécies de alface (FRANZIN et al., 2004), indi-cou que a emergência de plântulas pode ser usada na avaliação do potencial fisiológico de sementes, como pimentão (TORRES; MINAMI, 2000) e cenoura (TESSARIOLI NETO, 2001).
Porcentagem de mudas normaisAs sementes das cultivares Grands Raptds TBR, Crespa Repolhuda, Monica SF 31,
Crespa Grand Raptds TBR, Elba e Hanson (Repolhuda) foram as que apresentaram as maiores porcentagem de mudas normais com 98,13; 98,13; 95,63; 91,88; 83,75 e 77,50% respectivamente (Tabela 5). Este valores estão de acordo com os encontrados por (VILLELA et al., 2010) com valores variando de 70,0 a 98,0% para sementes de oito cultivares de alface produzida no verão. As sementes das cultivares Cinderela e Crespa para inverso apresen-taram 0,0% de mudas. Confirmando o baixo vigor das sementes encontrados na primeira contagem de germinação no teste de germinação a temperatura controlada de 20 oC (Tabela 3). A baixa porcentagem de mudas normais dessas cultivares já era esperado, pois elas também apresentaram IVE muito baixa 0,52 e 2,36 para Crespa para Inverno e Cinderela, respectivamente (Tabela 5) e as poucas plântulas emergidas apresentaram anormalidades e não conseguiram desenvolverem satisfatoriamente as condições adversas do ambiente e consequentemente não apresentaram folhas. As demais cultivares não apresentaram diferença significativa quanto ao número de folhas com valores entre 2,84 e 3,38 folhas por plantas (Tabela 5).
Número de folhas
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
326
O número de folhas encontrados nas mudas das dez cultivares aqui estudadas com exceção das cultivares Crespa para Inverno e Cinderela que apresentaram 0,0% de mudas normais apresentaram folhas variando de 2,8 a 3,53 (Tabela 5) valores estes superiores ao encontrado por (TRANI et al., 2004), que obteve 2,3 folhas por planta cv Vera.
Altura das mudasCom relação à variável altura de planta todas as cultivares foram estatisticamente
iguais com valores entre 2,61 e 3,94, com exceção das cv Cinderela e Crespa para Inverno, que apresentaram 0% de mudas normais não sendo possível avaliar esta variável (Tabela 5). Valores de altura de mudas de alface (plantas) semelhantes aos encontrados no pre-sente trabalho foram observados por (MEDEIROS et al., 2008) na cv Babá de Verão com 3,37 cm de altura.
Experimento III – Avaliação do desempenho agronômico de cultivares de alface do grupo crespa
Na Tabela 6 estão apresentados os resultados obtidos para o número de folhas totais por planta, massa fresca da cabeça e comprimento do caule. A análise de variância mostrou diferença significativa (P<0,001) apenas para o comprimento do caule.
Tabela 6. Número de folhas por planta (NFT), comprimento do caule e massa fresca da parte aérea (MFPA) de plantas de seis cultivares de alface cultivada em sistema de produção a campo aberto. Uruçuí (PI), 2016.
Cultivares NFT Comp. do caule (cm) MFPA (g. pl–1)
Hanson (Repolhuda) 15,25 15,21 b 129,60
Grands Raptds TBR 14,50 28,04 a 119,29
Crespa Grand Raptds TBR 13,25 20,55 ab 107,22
Elba 14,25 9,12 b 140,41
Crespa Repolhuda 13,75 13,92 b 173,44
Monica SF 31 13,75 10,29 b 138,87
Médias 14,13 16,19 134,80
Blocos 14,3750 36,1390 2.730,2011
Cultivares 1,9750ns 200,2167** 2.055,5813 ns
Resíduo 6,2417 17,8560 1.386,8787
CV (%) 17,69 32,61 27,63
Médias seguidas de mesma letra, na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. ** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. ns não significativo a 5% de probabilidade, pelo teste F.
A cultivar Grand Raptds TBR foi a que apresentou maior comprimento do caule 28,04 cm, porém não diferindo estatisticamente da Crespa Grand Raptds TBR 20,55 cm, que por sua vez foi semelhante estatisticamente as demais cultivares. O caule muito comprido acar-reta menor crescimento da cabeça e dificulta o beneficiamento da alface, afetando a quali-dade final do produto (YURI et al., 2002). O comprimento do caule das plantas de alface é um importante indicador da maior ou menor resistência da cultivar ao florescimento precoce,
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
326 327
apresentando elevada correlação genotípica com a matéria fresca de folhas (SANTOS et al., 2009; LUZ et al., 2009).
Nesse trabalho, as cvs. Grands Raptds TBR e Crespa Grand Raptds TBR, apresentaram maior comprimento do caule. As condições climáticas de elevada temperatura e luminosidade, pode ter interferido na menor adaptabilidade dessas cultivares para o cultivo em Uruçuí. Pois dentre os fatores ambientais, a temperatura e luminosidade elevadas favorecem o rápido crescimento e desenvolvimento da cultura. Desta forma, a planta completa rapidamente o seu ciclo vegetativo, ocorre o pendoamento precoce e a colheita tem que ser antecipada, sem que as cultivares tenham expressado todo o seu potencial genético (SANTANA et al., 2005). Os resultados de comprimento do caule, traz uma característica importante quanto à adaptabilidade da cultivar ao pendoamento precoce. Os dados obtidos neste estudo cor-roboram com Blat et al. (2011), que estudaram o desempenho de dez cultivares de alface e verificaram que as cultivares que apresentaram maior comprimento do caule foram as que apresentaram pendoamento precoce.
O número de folhas variou de 13,25 a 15,25 folhas por planta. Neste experimento a cv. crespa repolhuda apresentou 13,75 folhas por planta. Silva et al. (2006) obtiveram re-sultado superiores na avaliação de cultivares de alface na região de Gurupi – TO, onde a cultivar Crespa Repolhuda obteve 16,5 folhas por planta. Ramos et al. (2002), analisando o desempenho de cultivares de alface do grupo Crespa, encontraram número médio de folhas de 21,33 folhas por planta, também superior ao encontrado nesse experimento que foi de 14,13 folhas por planta1. O número de folhas por planta é uma variável de grande importância para o produtor, pois é o produto destinado à comercialização, além de indicar a adaptação do material genético ao ambiente (HOTTA, 2008). Geralmente o número de folhas por planta é variável em função do genótipo e do ambiente. O ambiente juntamente com o componente genético são os grandes responsáveis pelas mudanças fisiológicas e morfológicas das plantas, como crescimento, floração e senescência (CASSETARI, 2015).
Para a massa fresca da parte aérea (MFPA) não houve diferença entre as seis culti-vares estudadas com peso médio de cabeça de 134, 80 g (Tabela 6).
CONCLUSÃO
As sementes das cultivares Grand Raptds TBR, Crespa Grand Raptds TBR, Crespa Repolhuda e Monica SF 31 mostraram qualidade fisiológica superior as demais culti-vares analisadas.
As cultivares Crespa Grand Raptds TBR, crespa repolhuda e Monica SF 31, apre-sentaram maior vigor pelo índice de velocidade de emergência de plântulas na fase de produção de mudas.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
328
As cultivares Hanson, Grand Raptds, Crespa Grand Raptds TBR, Elba, Crespa Repolhuda e Monica SF 31, apresentaram a maior porcentagem de plantas normais (mudas).
No cultivo em campo não houve diferença entre as cultivares para os parâmetros nú-mero de folhas e massa fresca da parte aérea.
Para o parâmetro comprimento do caule, as cultivares Grand Raptds e Crespa Grand Rapts TBR, mostraram menos adaptadas para as condições de cultivo no município de Uruçuí-PI, no período entre março e julho de 2016.
REFERÊNCIAS
1. AQUINO, C. F.; SILVA, H. P.; NEVES, J. M. G.; COSTA, C. A.; AQUINO, F. F.; COSTA, C.P. M. Desempenho de cultivares de alface sob cultivo hidropônico nas condições do norte de Minas Gerais. Revista Brasileira de Agricultura Irrigada, v.11, n.3, p. 1382-1388, 2017. DOI: https://doi.org/10.7127/rbai.v11n300604.
2. AZEVEDO, A. M.; ANDRADE JR, V. C.; OLIVEIRA, C. M.; FERNANDES, J. S. C.; PEDROSA, C. E.; DORNAS, M. F. S.; CASTRO, B. M. C. Seleção de genótipos de alface para cultivo protegido: divergência genética e importância de caracteres. Horticultura Brasileira, v.31, p. 260-265, 2013. DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-05362013000200014.
3. BLAT, S. F.; BRANCO, R. B. F.; MARQUES, J. A.; SOUZA, J. C.; TRANI, P. E. Desempenho de cultivares de alface em Ribeirão Preto (SP) no cultivo de primavera. Horticultura Brasileira, v.28, n.2, p.S2236-S2242, 2010. Disponível em: <http://www.abhorticultura.com.br/EventosX/Trabalhos/EV_4/A3057_T4819_Comp.pdf>. Acesso 25 de julho de 2016.
4. BLAT, S. F.; SANCHEZ, S. V.; ARAÚJO, J. A. C.; BOLONHEZI, D. Desempenho de cultivares de alface crespa em dois ambientes de cultivo em sistema hidropônico. Horticultura Brasi-leira, v.29, n.1, p.135-138, 2011. DOI: https://doi.org/ 10.1590/S0102-05362011000100024.
5. BOTEZELLI, L.; DAVIDE, A. C.; MALAVASI, M. M. Características dos frutos e sementes de quatro procedências de Dipteryxalata Vogel (Bauru). Cerne, v.6, n.1, p.9-18, 2000. Disponível em: < https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74460102>. Acesso em 20 de janeiro de 2020.
6. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regas para análise de se-mentes. Secretaria de Defesa Agropecuária. Brasília: Mapa/AC, 2009. 395p. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/arquivos-publicacoes--insumos/2946_regras_analise__sementes.pdf>. Acesso em 23 de abril de 2016.
7. CARVALHO, D. C. M. Agricultura familiar em Uruçuí: multifuncionalidade e impactos ambientais. Teresina-PI: UFIPI, 2011. 111p. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) Universidade Federal do Piauí. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/54614/1/AGRICULTURA-FAMILIAR-EM-URUCUI-CARVALHO-D-C-M-C.pdf>. Acesso em 17 de junho de 2016.
8. CASSETARI, L.S. Pendoamento precoce exige variedades resistentes. Campo & Négocios, 2015. Disponível em: https://revistacampoenegocios.com.br/pendoamento-precoce-exige-va-riedades-resistentes/. Acesso 27 de julho de 20016.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
328 329
9. FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na produção e comercialização de hortaliças. 3. ed. Viçosa: UFV, 2008. 421p.
10. FRANZIN, S. M.; MENEZES, N. L.; GARCIA, D. C.; SANTOS, O. S. Efeito da qualidade das sementes sobre a formação de mudas de alface. Horticultura Brasileira, v.23, n.2, p.193-197, 2005. DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-05362005000200006.
11. FRANZIN, S. M.; MENEZES, N. L.; GARCIA, D. C.; WRASSE, C. F. Métodos para avaliação do potencial fisiológico de sementes de alface. Revista Brasileira de Sementes, v.26, n.2, p.63-69, 2004. DOI: https://doi.org/10.1590/S0101-31222004000200009.
12. FU, W.; LI, P.; WU, Y. Effects of different light intensities on chlorophyll fluorescence cha-racteristics and yield in lettuce. Scientia Horticulturae, v.135, p.45-51, 2012. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2011.12.004.
13. GUIMARÃES, M. A.; MANDELLI, M. S.; SILVA, D. J.H. Seleção degenótipos de Lactuca sativa L. para a produção com adubação orgânica. Revista Ceres, v.58, n.2, p.202-207, 2011. DOI: https://doi.org/10.1590/S0034-737X2011000200011.
14. HOTTA, L. F. K. Interação de progênies de alface do grupo americano por épocas e cultivo. Bo-tucatu: UNESP, 2008. 87p. (Dissertação mestrado). - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agronômicas de Botucatu. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/93486>. Acesso em 24 de março de 2021.
15. INMET - Instituto Nacional de Meteorologia: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Dados Históricos. Disponível em: <http://www.inmet.gov.br/projetos/rede/pesquisa/gera_serie_txt_mensal.php?&mRelEstacao=82578&btnProcesso=serie&mRelDtInicio=01/07/2014&mRel-DtFim=01/11/1014&mAtributos=,,,,,,,,,1,,,1,,1,1,>. Acesso em 23 de julho de 2016.
16. JAGGER, I. C.; WHITAKER, T. W.; USELMAN, J. J.; OWEN, W. M. L. The Imperial strains of lettuce. United States Department of Agriculture, Washington, 1941, 15p. (Circular, 596).
17. LÊDO, F. J. S. Diversidade genética e análise dialélica da eficiência nutricional para nitrogênio em alface (Lactuca sativa L.). Viçosa: UFV, 1998. 87p. (Tese doutorado) – Uni-versidade Federal de Viçosa.
18. LOPES, M. C.; FREIER, M.; MATTE, J. D.; GÄRTNER, M.; FRANZENER, G.; CASIMIRO, E. L. N.; SEVIGNANI, A. Absorção de nutrientes por diferentes cultivares de alface em cultivo hidropônico no período de inverno. Horticultura Brasileira, v.20, p.4, 2002. (Suplemento 2, CD ROM).
19. LUZ, A. O.; SEABRA JR, S.; SOUZA, S. B. S.; NASCIMENTO, A. S. Resistência ao pendo-amento de genótipos de alface em ambientes de cultivo. Agrarian, v.2, n.6, p.71-82, 2009. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/agrarian/article/viewFile/932/567>. Acesso em 21 de julho de 2016.
20. MAGUIRE, J. D. Speed of germination-aid in relation evaluation for seedling emergen-ce vigor. Crop Science, v.2, n.2, p.176-177, 1962. DOI: https://doi.org/10.2135/crops-ci1962.0011183X000200020033X.
21. MARCOS FILHO, J.; CICERO, S. M.; SILVA, W. R. Avaliação da qualidade das sementes. Piracicaba: FEALQ, 1987. 230p.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
330
22. MEDEIROS, D. C.; FREITAS, K. C. S.; VERAS, F. S.; ANJOS, R. S. B.; BORGES, R. D.; CA-VALCANTE NETO, J. G.; NUNES, G. H. S.; FERREIRA, H. A. Qualidade de mudas de alface em função de substratos com e sem biofertilizante. Horticultura Brasileira, v.26, n.2, p.186-189, 2008. DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-05362008000200011.
23. OLIVEIRA, A. C. B.; SEDIYAMA, M. A. N.; PEDROSA, M. W.; GARCIA, N. C.; GARCIA, S. L. R. Divergência genética e descarte de variáveis em alface cultivada sob sistema hidropô-nico. Acta Scientiarum Agronomy, v.26, n.2, p.211-217, 2004. DOI: https://doi.org/10.4025/actasciagron.v26i2.1894.
24. QUEIROGA, R. C. F.; BEZERRA NETO, F.; NEGREIROS, M. Z.; OLIVEIRA, A. P.; AZEVEDO, C. M. S. B. Produção de alface em função de cultivares e tipos de tela de sombreamento nas condições de Mossoró. Horticultura Brasileira, v. 19, n. 3, p. 324-328, 2001. DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-05362001000300006.
25. RAMOS, P. A. S.; CARVALHO, F. M.; VIANA, A. E. S.; MATSUMOTO, S. N.; MOREIRA, M. A.; NETO, H.B; FERRAZ, R. C. N. Comportamento de cultivares de alface tipo crespa em solo e em hidroponia. 2002. Disponível em: <http://www.abhorticultura.com.br/biblioteca/arquivos/wnload/Biblioteca/oi1001C.pdf>. Acesso em 19 de novembro de 2016.
26. REETZ, E. R.; KIST, B. B.; SANTOS, C. E.; CARVALHO, C.; DRUM, M. Anuário Brasileiro de Hortaliças. Santa Cruz do Sul: Gazeta Santa Cruz, 2014. 88p. Disponível em: <http://www.grupogaz.com.br/tratadas/eo_edicao/6/2014/05/20140528_997424315/pdf/4393_horta-licas_2014.pdf>. Acesso em 23 de maio de 2016.
27. SALA, F. C. Melhoramento genético de alface. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICUL-TURA, 51. Horticultura Brasileira, Viçosa: ABH, S5813-S5827, 2011. Disponível em: <http://www.abhorticultura.com.br/eventosx/trabalhos/ev_5/Fernando_sala_Melhoramento_Alface.pdf>. Acesso em 21 de abril de 2016.
28. SALA, F. C.; COSTA, C. P. ‘PiraRoxa’: Cultivar de alface crespa de cor vermelha intensa. Horticultura Brasileira, v.23, n.1, p. 158-159, 2005. DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-05362005000100033.
29. SANTANA, C. T. C.; SANTI, A.; DALLACORT, R.; SANTOS, M. L.; MENEZES, C. B. Desem-penho de cultivares de alface americana em respostas a diferente.es doses de torta de filtro. Revista Ciência Agronômica, v.43, n.1, p. 22-29, 2012. Disponível em:< https://www.resear-chgate.net/publication/279508873_Desempenho_de_cultivares_de_alface_americana_em_res-posta_a_diferentes_doses_de_torta_de_filtro. Acesso em 01 de julho de 2016.
30. SANTANA, C. V. S.; ALMEIDA, A. C.; FRANÇA, F. S.; TURCO, S. H. N.; DANTAS, B. F.; ARA-GÃO, C. A. Influência do sombreamento na produção de alface nas condições climáticas do semiárido nordestino. In: Congresso Brasileiro de Olericultura, 45, 2005, Fortaleza. Resumos... Fortaleza: SOB, 2005. CD – ROM. Disponível em: <http://www.abhorticultura.com.br/biblioteca/arquivos/Download/Biblioteca/45_0028.pdf>. Acesso em 03 de julho de 2016.
31. SANTOS, C. L. dos; SEABRA JUNIOR, S.; LALLA, J. G. de; THEODORO, V. C. de A.; NESPO-LI, A. Desempenho de cultivares de alface tipo crespa sob altas temperaturas em Cáceres-MT. Agrarian, v.2, n.3, p.87-98, 2009. Disponível em: <https://ojs.ufgd.edu.br/index.php/agrarian/article/view/421/312>. Acesso em 21 de julho de 2016.
32. SANTOS, D.; MENDONÇA, R. M. N.; SILVA, S. M.; ESPÍNOLA, J. E. F.; SOUZA, A. P. Pro-dução comercial de cultivares de alface em Bananeiras. Horticultura Brasileira, v.29, n.4, p.609-612, 2011. DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-05362011000400028.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
330 331
33. SANTOS, L. L.; SEABRA JUNIOR, S.; NUNES, M. C. M. Luminosidade, temperatura do ar e do solo em ambientes de cultivo protegido. Revista de Ciências Agro-Ambientais, v.8, n.1, p.83- 93, 2010. Disponível em: <http://www.unemat.br/revistas/rcaa/docs/vol8/8_artigo_v8.pdf>. Acesso em 19 de março de 2020.
34. SEDIYAMA, M. A. N.; RIBEIRO, J. M. O.; PEDROSA, M. W. PEREZ, A. L. Alface (Lactuca sativa L.). In: PAULA JÚNIOR, T.J.; VENZON, M. 101 culturas: manual de tecnologias agrí-colas. 2ed. Belo Horizonte: EPAMIG, p.58-66, 2019.
35. SILVA, F. A. S. Sistema para Análise Estatística. ASSISTAT beta (2013), Versão 7.7. DEA-G-CTRN-UFCG, Campina Grande, BR – Atualiz. 01/12/2013. Disponível em: https://assistat.software.informer.com/. Acesso em 23 de setembro de 2017.
36. SILVA, V. V.; BARRETO, H. G.; MOMENTÉ, V. G.; SOUZA, J. P. N.; PINTO, L. C.; SILVEI-RA, M. A; SANTANA, W. R.; ANDRÉ, C. M. G. Avaliação de cultivares de alface na região de Gurupi-TO. 2006. Disponível em: <http://www.abhorticultura.com.br/biblioteca/arquivos/Download/Biblioteca/46_0397.pdf>. Acesso em 18 de março de 2016.
37. TESSARIOLI NETO, J. Qualidade fisiológica e tamanho de sementes de cenoura. Scientia Agrí-cola, v.58, n.1, p.201-204, 2001. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/268300942.pdf>. Acesso em 10 de maio de 2016.
38. TORRES, S.B.; MINAMI, K. Qualidade fisiológica das sementes de pimentão. Scientia Agrí-cola, v.57, n.1, p.109-112, 2000. DOI: https://doi.org/10.1590/S0103-90162000000100018.
39. TRANI, P.E.; NOVO, M.C.S.S.; CAVALLARO JÚNIOR, M.L.; TELLES, L.M.G. Produção de mudas de alface em bandejas e substratos comerciais. Horticultura Brasileira, v.22, n.2, p.290-294, 2004. DOI: https://doi.org/10.1590/S0102-05362004000200025.
40. VILLELA, R.P.; SOUZA, R.J. de; GUIMARÃES, R.M.; NASCIMENTO, W.M.; GOMES, A.A.; CARVALHO, B.O.; BUENO, A.C.R. Produção e desempenho de sementes de cultivares de alface em duas época de plantio. Revista Brasileira de Sementes, v.41, n.4, p.646-653, 2010. DOI: https://doi.org/10.1590/S0101-31222010000100018.
41. YURI, J. E.; SOUZA, R. J.; FREITAS, S. A. C.; RODRIGUES JÚNIOR, J. C. Comportamento de cultivares de alface tipo americana em Boa Esperança. Horticultura Brasileira, v.20, p.229-232, 2002. Disponível em:<https://www.scielo.br/pdf/hb/v20n2/14454.pdf>. Acesso em 21 de agosto de 2016.
26Uso de resíduos têxteis como alternativa sustentável para a irrigação subterrânea por capilaridade no Semiárido Brasileiro
Nicéa Ribeiro do Nascimento
Francisco Fechine Borges
Luísa Rita Brites Sanches Salvado
10.37885/210303962
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
333
Palavras-chave: Sustentabilidade, Fonte de Água, Semiárido.
RESUMO
A irrigação subterrânea é promissora para uso em regiões com escassez de água, uma vez que a água pode ser transportada diretamente para as raízes das plantas, com pouca perda por evaporação superficial. Este trabalho apresenta como alternativa a utilização de resíduos têxteis para aplicação na agricultura propor uma solução sustentável para a destinação dos resíduos da indústria da moda que costumam ser jogados no lixo, gerando problemas ambientais. O desenvolvimento da tecnologia simples de irrigação subterrâ-nea baseada em resíduos têxteis, aqui apresentada, levou ao uso racional da água em canteiros experimentais construídos, sem aparentes prejuízos ao desenvolvimento das lavouras, o que pode fortalecer a agricultura familiar e ter impacto significativo sobre a crescimento econômico da região, se a tecnologia for aplicada em escala. De maneira geral, todos os resultados experimentais de campo demonstraram que os dispositivos desenvolvidos com pedaços de resíduos têxteis sintéticos foram capazes de transportar água para áreas distantes do solo, mantendo-a úmida na raiz e contribuindo para um melhor crescimento das plantas testadas. Ou seja, todos os dispositivos construídos para viabilizar a irrigação subterrânea de tecidos por capilaridade funcionaram adequadamente, em uma análise qualitativa. Os dispositivos idealizados e testados têm em comum o fato de serem tecnologias de base, de baixo custo, fáceis de construir, implementar e man-ter; simplicidade; possibilidade de domínio da tecnologia pelos próprios beneficiários; e geradores de conhecimento compartilhado entre proponentes e beneficiários. Em suma, potenciais geradores de impacto social para essa população que tanto precisa de so-luções inclusivas.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
334
INTRODUÇÃO
O grande problema da escassez de água em diversos países tem sido objeto de gran-des discussões na sociedade e entre governos. A água é um recurso fundamental para a sobrevivência dos seres vivos e está cada vez mais escassa, com projeções nos próximos anos de que uma em cada quatro pessoas na Terra pode estar sofrendo de extrema escas-sez de água até o ano de 2025.1
Neste cenário de escassez, a irrigação é responsável por cerca de 70% do consumo de água subterrânea e dos rios, três vezes mais do que 50 anos atrás. Há estimativas de que, em 2050, a demanda global de água para a agricultura aumentará mais 19%. Cerca de 40% dos alimentos produzidos no mundo são atualmente cultivados em áreas com irrigação artificial. Assim, a agricultura é uma grande competidora do uso da água com as pessoas e com as necessidades do meio ambiente, ameaçando extinguir as fontes nos ecossistemas.2
Em países com escassez de água, o controle e a adequada gestão do uso da água para irrigação frequentemente apresenta-se como uma tarefa complexa. Nestes cenários, de déficit de água de boa qualidade para a irrigação, o uso de recursos hídricos não conven-cionais (por exemplo, águas residuais, salobra e subterrânea foi adotado em muitos casos como parte de medidas de mitigação das mudanças climáticas para lidar com a questão da falta de água. Por outro lado, sistemas de cultivo protegidos com estufas ou telas e controle automático apresentam-se como opções sustentáveis para um melhor aproveitamento da água e podem ajudar a reduzir a escassez de água nesses países.1
Dados das Nações Unidas mostram que cerca de 844 milhões de pessoas em todo o mundo ainda não têm acesso a um abastecimento de água adequado para suas necessida-des básicas, o que é um grave problema de saúde pública, com consequências negativas para o desenvolvimento social e econômico dos países.3
A irrigação é a aplicação artificial de água no solo com o objetivo de manter a umida-de adequada para o crescimento de uma determinada cultura. Entre os diversos tipos de irrigação, a subterrânea é promissora para utilização em regiões com escassez de água, uma vez que a água pode ser transportada diretamente para as raízes das plantas, com poucas perdas devido à evaporação superficial, como acontece em outros tipos de irrigação, como a aspersão.
Assim, devido a esta crescente escassez hídrica e uso excessivo de água pela agricul-tura e, considerando a importância da irrigação para a promoção da segurança alimentar e nutricional das populações, este trabalho apresenta como alternativa o aproveitamento de resíduos têxteis para uma aplicação na agricultura, propondo uma solução sustentável para a destinação dos resíduos da indústria da moda que, normalmente, são despejados no lixo, gerando problemas ambientais.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
334 335
Algumas experiências neste sentido já foram relatadas, como o desenvolvimento de um emissor subterrâneo de água composto de um tubo plástico em forma de anel, com furos para a saída da água e coberto com um material têxtil poroso que distribui melhor a água ao longo do anel, além de reduzir as chances de entupimento dos furos. Este anel foi enterrado em torno da zona da raiz da planta, o que permitiu reduzir as perdas de água por evaporação.4
Em outro estudo na Indonésia um emissor muito semelhante foi desenvolvido, em forma de anel de mangueira de borracha, também furada a intervalos regulares e coberta com tecido permeável. Os autores relataram que é uma tecnologia de irrigação de baixo custo e que pode gerar benefícios para os pequenos agricultores que têm recursos hídricos escassos.5
Portanto, a irrigação subterrânea por capilaridade têxtil pode tornar-se uma boa alterna-tiva para a irrigação de culturas em terras secas e com escassez de água, como as encon-tradas na maior parte do semiárido brasileiro. Os resíduos têxteis das confecções da região poderão ser utilizados para o desenvolvimento de dispositivos simples que promovam este tipo de irrigação, principalmente para as pequenas propriedades rurais da agricultura familiar.
Embora a técnica de irrigação por gotejamento subterrâneo já seja utilizada em locais com escassez de água, como África, Israel e partes da Europa6, no Brasil ainda é uma tecnologia pouco conhecida, principalmente pelo fato de existirem poucos dispositivos de baixo custo acessíveis aos pequenos produtores. Assim, o uso de resíduos têxteis locais para o desenvolvimento de dispositivos que possibilitem a irrigação subterrânea por capila-ridade representa uma alternativa sustentável àquela feita com equipamentos e dispositivos industriais sofisticados, o que contribui para a geração de renda das comunidades e, conse-quentemente contribui para melhoras os padrões nutricionais desta população, garantindo segurança alimentar para os pequenos produtores, agricultores e suas famílias.
Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo desenvolver dispositivos simples para irrigação subterrânea têxtil por capilaridade e avaliar seus desempenhos em culturas típicas da agricultura familiar no semiárido brasileiro.
Testes e metodologias experimentais para o estudo da capilaridade em têxteis
Existem diversos métodos de avaliação de capilaridade em tecidos, como pode ser identificado na Figura 1.7 São descritos os métodos: (a) capilaridade vertical - tira; (b) capi-laridade horizontal - prato (b); (c) teste de ponto – gota a gota; e (d) teste do sifão.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
336
Figura 1. Diversos métodos de avaliação de capilaridade em tecidos.7
A penetração capilar de um líquido em um meio poroso pode ocorrer de um reservatório considerado infinito ou de um finito, limitado. No primeiro caso, as diferentes formas de testar a capilaridade são através de imersão, do transporte transplanar e do transporte longitudinal.8
Estes métodos estão descritos a seguir.
Imersão
O transporte de líquidos durante a imersão ocorre quando o tecido ou estrutura fibrosa é completamente imerso em um líquido, que entra no tecido por todas as direções. O mo-vimento de um líquido num fio ou tecido imersos desloca a maior parte do ar da estrutura fibrosa e faz com que este afunde.8
Transporte transplantar
A permeabilidade transplanar ou transversal é o termo utilizado quando o transporte de um líquido se dá através da espessura do tecido, que é perpendicular ao plano do tecido. Diversas técnicas têm sido desenvolvidas para medir o transporte líquido transplanar em tecidos. Por exemplo, placas de teste medem a absorção de água em tecidos, especial-mente toalhas. Alguns dispositivos foram descritos na literatura, embora não exista norma específica para este tipo de teste.8,9,10
Transporte longitudinal
O transporte longitudinal de líquido desde um reservatório considerado infinito ocorre quando o tecido é parcialmente imerso em um grande volume de líquido que pode molhar o tecido. Se o líquido não molha a superfície, não irá penetrar por capilaridade na estrutura
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
336 337
fibrosa. Muitos investigadores têm tentado utilizar estes tipos de testes para investigar a penetração capilar de um líquido num tecido. Diversos testes de transporte longitudinal são considerados para tentar definir a capacidade de um tecido transportar humildade e incluem a capilaridade vertical (ascendente), a capilaridade horizontal e a capilaridade descendente.8
Testes de capilaridade vertical
O método de teste padrão para este tipo de capilaridade é o BS 3424-18:198611, que inclui cortar o espécime de teste nas dimensões de 150 mm x 50 mm e desenhar uma li-nha indelével em toda a superfície do tecido a 50 mm da extremidade. O espécime é então pendurado numa haste de vidro, que está ligada horizontalmente a um suporte em anel, e baixada verticalmente para um reservatório. O tecido entra em contato com o fluido do reservatório, que então é permitido subir pelo tecido durante vinte e quatro horas, após as quais o comprimento do percurso do fluido é medido milimetricamente, tendo como referência a linha indelével marcada. Esta distância que o líquido percorre é o que é designado como extensão da capilaridade.8
Utilizando a teoria de capilaridade e teste de capilaridade vertical, seria expectável que a humidade escoasse mais rápido num meio com poros de maior dimensão. Entretanto, o autor Miller12 mostra que este nem sempre é o caso. Por outro lado, a Figura 2 ilustra o equi-pamento usado para avaliar a capilaridade vertical em provetes retangulares, que funciona da seguinte forma: o provete é preso num suporte e imerso em uma cuba com água destilada, com um clip na outra extremidade, de modo a se obter uma imersão o mais vertical possível.13
Figura 2. Aparato para testes de capilaridade vertical em malhas.13
Testes de capilaridade horizontal
No método de teste de capilaridade no plano horizontal, a pressão capilar é muito maior do que a força gravitacional. A Figura 3 mostra o aparato utilizado para avaliar a capilaridade
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
338
horizontal, onde a amostra, de 200 mm x 200 mm, foi colocada horizontalmente e uma pe-quena gota de água foi colocada sobre a malha.13
Figura 3. Aparato para testes de capilaridade horizontal em malhas.13
A água é fornecida continuamente a partir de um reservatório e um sifão. O reserva-tório fica sobre uma balança electrónica que permite o registo da massa de água absorvida pela malha. Uma vez que a massa absorvida pela amostra está relacionada com sua es-pessura, a absorção de água por unidade de espessura é utilizada para avaliar a capilari-dade horizontal.13
Uma outra técnica, por meio de processamento de imagens, foi utilizada por Memariyan & Ekhtiyari14 para avaliação da capilaridade horizontal de tecidos, com o aparato da Figura 4, onde uma câmara conectada a um computador capturou imagens do tecido durante o espalhamento do líquido.
Figura 4. Aparato para captura de imagens de capilaridade horizontal. (a) aparato para cálculo por processamento de imagens; (b) imagem original; (c) imagem segmentada.14
Uma técnica semelhante, também com processamento de imagens, foi utilizada por Morent et al.15 para avaliação da capilaridade horizontal de tecidos, com o aparato da Figura 5. Neste ensaio, uma câmara capturou imagens do tecido durante o espalhamento do líquido a partir de uma seringa posicionada no centro do tecido.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
338 339
Figura 5. Técnica de processamento de imagens utilizada por Morent et al.15
A Figura 6 apresenta um outro instrumento de espalhamento do líquido para avaliação da capilaridade horizontal Na imagem 6(b) é possível ver o espalhamento do líquido após a queda de uma gota; na imagem 6(c) observa-se a marcação e transferência da área de espalhamento, com um lápis; e na imagem 6(d) observa-se a linha do gráfico transferido para o papel milimétrico. O cálculo da área é mostrado em 6(e).16
Figura 6. Técnica utilizada para avaliação de capilaridade em tecidos.16
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
340
ANÁLISE DOS RESÍDUOS TÊXTEIS
Para caracterizar os materiais têxteis a serem utilizados no desenvolvimento deste trabalho, foi necessário identificar os tipos de resíduos que poderiam ser coletados nas empresas do setor. Foram realizadas visitas a empresas do setor têxtil na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, Brasil, coletando resíduos que foram caracterizados.
Para atender melhor às necessidades da irrigação subterránea por capilaridade, é desejável que as fibras dos resíduos têxteis sejam capazes de transportar a água no solo tanto horizontalmente quanto verticalmente, distribuindo uniformemente e de forma eficaz a pouca água disponível. Normalmente, os resíduos de fibras finas com capilares mais estreitos levam a uma maior capilaridade e mais longa distância de transporte de líquidos. Por razões ecológicas, também se testaram fibras de algodão, biodegradáveis, que são hidrófilas e de maior molhabilidade.
Caracterização dos resíduos têxteis
Foram selecionadas sete amostras dos materiais têxteis coletados para realizar a caracterização das propriedades físicas e estruturais, com o objetivo da sua utilização nos dispositivos têxteis para irrigação subterrânea por capilaridade. Apresenta-se, na Tabela 1, a respectiva caracterização das amostras selecionadas. As caracterizações foram realizadas em condições ambientais controladas, à temperatura de 25 oC ± 2 oC e humidade relativa do ar de 65% ± 2%, nos laboratórios do Departamento de Ciência e Tecnologias Têxteis da Universidade da Beira Interior, Portugal. Em todos, foram testados 5 provetes de cada uma das amostras.
Tabela 1. Descrição dos materiais caracterizados.
Amostra Descrição Tipologia Composição Fornecedor
1 Listra marinho Tecido Microfibra 100% poliéster Vila Romana
2 Listra preta Tecido Microfibra 100% poliéster Vila Romana
3 Liso preta Tecido Microfibra 100% poliéster Vila Romana
4 Pérola Malha circular 100% algodão naturalmente colorido Natural Cotton Color
5 Rubi Malha circular Algodão naturalmente colorido e algodão branco Natural Cotton Color
6 Lycra™ preta Malha circular 90% Poliamida 10% Elastano Companhia do Corpo
7 Lycra™ preta Malha circular 76% Poliamida 24% Elastano Companhia do Corpo
Os testes laboratoriais realizados foram a caracterização das amostras de resíduos têxteis e testes de capilaridade, por meio do Teste de COBB, Teste da Gota de Água e Teste
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
340 341
de Klemm (capilaridade vertical). A Tabela 2 apresenta os resultados da primeira etapa, a caracterização dos resíduos têxteis.
Resultados da caracterização das propriedades físicas e estruturais do material têxtil
A Tabela 2 apresenta os resultados de caracterização das amostras de resíduos têxteis. Verifica-se que há variação na massa por unidade de superfície de 155.2 g/m2 (amostra 1) a 327.5 g/m2 (amostra 6), representando uma diferença de 111.02 %. A espessura média variou 94.92 % entre os valores de maior e menor espessura, 315.2 µm (amostra 2) e 614.4 µm (amostra 6), respectivamente. Por último, a porosidade dos materiais variou 45.10 %, entre as amostras de menor e maior valor, respectivamente as amostras 5 e 7.
Tabela 2. Resultados dos testes de caracterização das amostras de tecidos [n=5].
Amostra Composição Massa por unidade de superfície (g/m2) Espessura (µm) Massa volúmi-
ca (kg/m3) Porosidade
1 Microfibra100% poliéster
m 1 = 155.3
= 155.2 ± 0.080
h 1 = 321
= 318.2 ± 1.6487.7 0.65
m 2 = 155.3 h 2 = 317
m 3 = 155.1 h 3 = 317
m 4 = 155.3 h 4 = 317
m 5 = 155.2 h 5 = 319
2 Microfibra100% poliéster
m 1 = 158.7
= 158.4 ± 0.185
h 1 = 313
= 315.2 ± 1.5502.5 0.64
m 2 = 158.4 h 2 = 317
m 3 = 158.3 h 3 = 316
m 4 = 158.2 h 4 = 316
m 5 = 158.2 h 5 = 314
3 Microfibra100% poliéster
m 1 = 191.2
= 191.3 ± 0.063
h 1 = 364
= 364.4 ± 1.0524.9 0.62
m 2 = 191.3 h 2 = 363
m 3 =191.4 h 3 = 364
m 4 = 191.3 h 4 = 366
m 5 =191.3 h 5 = 365
4100% algodão naturalmente
colorido - pérola
m 1 = 158.9
= 158.7 ± 0.160
h 1 = 363
= 367.8 ± 2.6431.4 0.71
m 2 = 158.5 h 2 = 369
m 3 = 158.6 h 3 = 368
m 4 = 158.7 h 4 = 371
m 5 = 158.9 h 5 = 368
5Algodão natural-mente colorido e algodão branco
m 1 = 160.3
= 160.4 ± 0.075
h 1 = 418
= 417.2 ± 5.7384.4 0.74
m 2 = 160.4 h 2 = 417
m 3 = 160.5 h 3 = 426
m 4 = 160.3 h 4 = 417
m 5 = 160.4 h 5 = 408
6 90% poliamida 10% elastano
m 1 = 327.4
= 327.5 ± 0.089
h 1 = 610
= 614.4 ± 3.4533 0.55
m 2 = 327.6 h 2 = 618
m 3 = 327.6 h 3 = 615
m 4 = 327.5 h 4 = 618
m 5 = 327.4 h 5 = 611
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
342
Amostra Composição Massa por unidade de superfície (g/m2) Espessura (µm) Massa volúmi-
ca (kg/m3) Porosidade
7 76% poliamida 24% elastano
m 1 = 256.9
= 256.9 ± 0.162
h 1 = 447
= 448.2 ± 1.5573.1 0.51
m 2 = 257.1 h 2 = 448
m 3 = 256.6 h 3 = 447
m 4 = 256.8 h 4 = 448
m 5 = 256.9 h 5 = 451
Caracterização laboratorial da capilaridade do material têxtil
Todos os testes laboratoriais de capilaridade também foram realizados em condições ambientais controladas, à temperatura de 25 oC ± 2 oC e humidade relativa do ar de 65% ± 2%.
Teste de Cobb
O Teste de Cobb é um teste padrão da indústria papeleira para determinar a quanti-dade de líquido absorvido pelo papel, papel-cartão e papel-cartão canelado17 em um de-terminado período e condições padronizadas18. Assim como o papel, o têxtil também é um material fibroso, por isso o Teste de Cobb pode facilmente ser aplicado na caracterização de tecidos e malhas.
Figura 7. Aparelho utilizado para medição de absorção de líquidos para o Teste de Cobb.
Para uma melhor análise dos resultados, os valores de água absorvida pela amostra são expressos seguindo a equação 119:
(1)
onde: mm e ms são as massas molhada e seca das amostras testadas, respectivamente.
A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos nos testes de Cobb.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
342 343
Tabela 3. Resultados do Teste de Cobb.
AmostraMassa (g)
∆cobb (%)ms mm
1 163.2 259.1 58.76
2 167.3 246.9 47.58
3 191.8 306.1 59.59
4 163.2 193.9 18.81
5 165.3 173.4 4.90
6 351.0 467.3 33.13
7 261.2 420.4 60.95
Apesar da amostra 5 ser composta por fibras hidrófilas (algodão), foi a que menos absorveu água (4.90 %), caracterizada com a menor massa volumétrica (384.4 g/m3) e a maior porosidade (0.74). Deve-se observar que as amostras de algodão não foram lavadas antes do teste e que o algodão naturalmente colorido possui mais impurezas que o algodão normal, o que pode levar a amostra a criar características hidrófobas.
Este comportamento do algodão naturalmente colorido também foi analisado por Gu20, onde relata que possui 14.19 % de gordura quando comparado com o algodão branco con-vencional, que possui apenas 1.8 %. Este algodão naturalmente colorido apresentou um regain de 3.87 % enquanto que o algodão branco apresentou um regain de 8.6 %. No tra-balho de Gu20, após algumas lavagens e tratamento com uma solução de NaOH, o regain do naturalmente colorido aumentou para 8.69 %.
Por outro lado, a amostra 7 foi a que apresentou o melhor índice de absorção (60.95 %). Conforme a Tabela 2, a amostra 7 possui a menor porosidade (0.51) e a maior massa volumétrica (573.1 kg/m3). O fato desta amostra ser mais densa poderá significar poros mais estreitos, o que causará maiores distâncias de transporte de líquido por capilaridade e, portanto, maior índice de absorção Cobb.
Já as amostras 1, 2 e 3, que são todas compostas por microfibras de poliéster, apre-sentam apenas uma pequena variação nos índices de absorção. Os valores de porosidade e de massa volumétrica destas amostras também são similares.
Teste da gota de água
Este teste consiste em depositar uma gota de água destilada sobre a amostra têxtil a ser analisada, aguardar que a gota seja completamente absorvida pelo material, cronometrando o tempo. Foram testados cinco provetes de cada uma das sete amostras, com dimensões de 10 cm x 4 cm. Para estabilizar mecanicamente a amostra, foi utilizado um bastidor. Nesta
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
344
investigação, o teste da gota de água foi realizado adotando a norma NP EN ISO 105-E07 (AATCC 104:2004), de Solidez à Gota de água. A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos.
Tabela 4. Resultado do teste da gota de água [n=5].
Tempo de absorção (minutos)
Amostra Provete 1 Provete 2 Provete 3 Provete 4 Provete 5 Média [n=5]
1 0.20 0.13 0.27 0.67 0.83 0.42
2 9 7 5 7 9 7
3 0.42 0.33 0.33 0.33 0.33 0.35
4 20* 20* 20* 20* 20* 20*
5 20* 20* 20* 20* 20* 20*
6 4 5 4 4 4 4.2
7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Após 20 minutos, não manifestou qualquer molhagem.
Com base nos resultados apresentados na Tabela 4, verificou-se que as amostras 4 e 5 não apresentaram qualquer tipo de molhagem após 20 minutos. A amostra 7 absorveu a gota de água mais rápido, sendo também a amostra menos porosa. Em seguida, surgem as amostras 1 e 3, compostas por microfibras de poliéster.
Teste de Klemm (capilaridade vertical)
O teste de Klemm caracteriza a capilaridade vertical dos materiais têxteis através da ascensão capilar, seguindo a Norma ISO 8787:198621. Esta normativa avalia a absorção de água por capilaridade em papel e papel-cartão de elevadas capacidades de absorção. Neste caso, as amostras foram medidas várias vezes entre 2 e 45 minutos. Foram testados 4 provetes de cada amostra, com dimensões de 25 x 2 cm.
Os melhores resultados foram os das amostra 3 e amostra 7, apresentados nas Tabelas 5 e 6 e nos gráficos demonstrados nas Figura 8 e 9.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
344 345
Tabela 5. Resultados do teste de capilaridade vertical da amostra 3 [n=4].
Altura (cm)
AMOSTRA 3 Tempo (min) Provete 1 Provete 2 Provete 3 Provete 4
1 2 2 3 3 3
2 5 4 5 5 5
3 10 7 8 9 9
4 15 10 10 11 11
5 20 12 12 12 12
6 30 12 12 12 12
7 45 12 12 12 12
Figura 8. Gráfico dos resultados do teste de capilaridade vertical da amostra 3 [n=4].
Tabela 6. Resultados do teste de capilaridade vertical da amostra 7 [n=4].
Altura (cm)
AMO
STRA
7
Tempo (min) Provete 1 Provete 2 Provete 3 Provete 4
2 5 1 1 1
5 6 3 7 6
10 10 11 13 9
15 12 13 19 13
20 13 15 19 15
30 13 15 19 15
45 13 15 19 15
Figura 9. Gráfico dos resultados do teste de capilaridade vertical da amostra 7 [n=4].
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
346
Na Tabela 6 demonstram-se os dados referente ao desempenho da ascensão capilar de cada uma das amostras analisadas.
Tabela 6. Resumo das alturas obtidas nos testes de capilaridade vertical [n=4].
Amostra ComposiçãoAltura média a 45
minutos(cm) [n=4]
Porosidade Espessura (µm) Massa por unid. de super-fície (g/m2)
1 Microfibra 100% poliéster 11.75 0.65 318.2 155.2
2 Microfibra 100% poliéster 9.25 0.64 315.2 158.4
3 Microfibra 100% poliéster 12.00 0.62 364.4 191.3
4 100% algodão nat. col. pérola 2.75 0.71 367.8 158.7
5 Algodão naturalmente colorido rubi e algodão branco 1.75 0.74 417.2 160.4
6 90% poliamida 10% elastano 8.00 0.55 614.4 327.5
7 76% poliamida 24% elastano 15.50 0.51 448.2 256.9
Como resultado deste teste de capilaridade vertical, pode-se concluir que a amostra 3, cuja composição é de microfibra 100% poliéster, atingiu uma altura média de 12.0 cm, demonstrando um resultado satisfatório com relação a ascensão capilar. Por outro lado, a amostra 7, cuja composição é de 76% poliamida e 24% elastano, apresentou a maior altura média, de 15.50 cm.
LABORATÓRIO EXPERIMENTAL PARA DESENVOLVIMENTO E TESTES DOS DISPOSITIVOS TÊXTEIS CAPILARES
Para o desenvolvimento e testes de dispositivos baseados em resíduos têxteis para a irrigação subterrânea por capilaridade de culturas típicas do semiárido, foi construído um laboratório experimental localizado no município de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, Brasil, onde foi possível comparar algumas técnicas, como microaspersão, com a irrigação subterrânea por capilaridade têxtil.
Foram construídos diversos canteiros com a finalidade de analisar em ambiente real o desempenho de diferentes dispositivos e técnicas de irrigação subterrânea por capilarida-de. Dois canteiros de controlo receberam irrigação por microaspersão e por gotejamento. Para colocação nos canteiros, abaixo do nível do solo, foram construídas mantas e fitas de resíduos têxteis, como mostradas na Figura 10 e Tabela 7, que também mostra resultados de testes de capilaridade horizontal realizadas neste local.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
346 347
Figura 10. Dispositivos capilares (mantas e fitas) construídos e testes de capilaridade horizontal no campo.
Tabela 7. Dispositivos testados no teste de capilaridade horizontal.
Constituição por camadasTempo (min)
Comprimentodo transporte de líqui-
do (mm)Dispositivo Camada 1(externa)
Camada 2(interna)
Camada 3(externa)
Man
tas I Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 60 1200
II Amostra 1 Amostra 6 Amostra 2 60 1500
III Amostra 3 Amostra 4 Amostra 7 60 1300
Fita
s
IV Amostra 7 Amostra 7 Amostra 7 60 2500
V Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 60 2350
VI Amostra 6 Amostra 3 Amostra 6 60 2450
VII Amostra 3 Amostra 5 Amostra 7 60 2000
Os critérios da utilização dos resíduos têxteis nestes dispositivos foram:
• Como primeiro critério, tentou-se colocar na camada interna das fitas e mantas as amostras que tiveram bons desempenhos nos testes de capilaridade horizontal, por exemplo, as amostras 6 e 7, como elementos ativos no transporte de humidade, como pode ser observado nos dispositivos II e IV (ver Tabela 7);
• Em seguida, foram separadas amostras das quais se dispunha de maior quan-tidade, uma vez que seriam necessários muitos resíduos para a construção dos diversos dispositivos;
• Finalmente, foram feitos outros dispositivos com os resíduos restantes, sempre variando as camadas, com excepção dos dispositivos IV, que foi construído com 3 camadas da amostra 7, pois esta estava disponível em maior quantidade e apre-sentou-se como uma das mais promissoras no que diz respeito à capilaridade ho-rizontal.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
348
A Figura 11 demonstra o layout do laboratório experimental e a Tabela 8 resume os tipos de canteiros, os resíduos têxteis e as suas respectivas técnicas de irrigação, que serão descritas detalhadamente nos pontos a seguir.
Figura 11. Representação gráfica do laboratório experimental localizado no Piauí.
Canteiros de controlo (1 e 2)
O canteiro 1 foi irrigado por microaspersão, utilizando-se uma mangueira de polietileno comercial. Esta mangueira possui orifícios perfurados a laser a cada 15 cm, para garantir a uniformidade da irrigação. Já o canteiro 2 foi irrigado por gotejamento, utilizando também uma mangueira de polietileno e com gotejadores colocados a cada 30 cm.
Em ambos os canteiros, as mangueiras foram colocadas no meio, conforme represen-tação gráfica da Figura 12 e detalhe da construção na Figura 13.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
348 349
Tabela 8. Visão geral dos canteiros do laboratório experimental no Piauí.
Canteiro Tipo de can-teiro Tipo de irrigação Dispositivo utilizado para irrigação Plantio
Cant
eiro
s de
cont
rolo
1 Canteiro de terra
(sem alvena-ria)
Microaspersão Mangueira microperfurada, marca Santeno™, tipo PRO.
Coentro, alface, salsa, rúcula e couve-flor
2 Gotejamento Mangueira de gotejamento, com espaçamento de 30cm
Coentro, alface, salsa, rúcula e couve-flor
Cant
eiro
s com
irrig
ação
por
cap
ilarid
ade
têxti
l
3Canteiro de
alvenariaSubterrânea por
capilaridade têxtil
A DispositivosIV, V, VI e VII
Coentro, alface, salsa, rúcula e couve-flor
B Mangueira de exsudação + dispositivo II Tomate e alface
C Mangueira perfurada e reves-tida com amostra 3
Coentro, alface, salsa, rúcula e couve-flor
D Brita + dispositivo III Coentro, alface, salsa, rúcula e couve-flor
4 Dispositivo III Mandioca
5Canteiro de lona plástica dupla-face
Subterrânea por capilaridade Têxtil
Pedaços das diferentes amostras 1, 2 e 3, 6 e 7 Palma
6 Canteiro de terra SISCAFI
Garrafa PET + fitas compostas das amostras1, 2 e 3
Mandioca
7 Baldecap 1 Rega manual com manutenção da humidade por
capilaridade têxtil
Estrutura do baldecapAmostras 1, 2 e 3 Palma
8 Baciacap Estrutura do baciacapAmostra 7 Mandioca
Figura 12. Representação gráfica e dimensões dos canteiros 1 e 2.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
350
Figura 13. Canteiros de controlo 1 e 2.
Canteiros 3 (3A, 3B, 3C e 3D)
Foram idealizados canteiros econômicos (impermeabilizados) construído de alvenaria e irrigados pelos novos métodos propostos, de forma subterránea e por capilaridade, como apresentados em seguida (Figura 14). Fotos da construção deste canteiro são mostra-das na Figura 15.
Figura 14. Representação gráfica dos canteiros 3 (A, B, C e D).
Canteiro 3A
O canteiro 3A utiliza quatro canos de PVC dispostos em um intervalo de 2 metros de distância entre cada um, os quais foram abastecidos por uma canalização ligada à caixa de água. Na lateral de cada um dos canos foram realizadas aberturas para que ocorresse a passagem de ramificações de pavios de resíduos têxteis de um lado para o outro.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
350 351
Canteiro 3B
Este canteiro combina técnicas de irrigação industrial e artesanal. O cano de abaste-cimento de água deste canteiro possui 25 mm de diâmetro e quatro saídas, com distâncias de 25 cm, as quais estão conectadas a uma mangueira de exsudação com 2.10 m de com-primento. A mangueira de exsudação utilizada foi a Poritex, comercialmente disponível, e utilizada na irrigação do semiárido da África, Israel e parte da Europa28.
Canteiro 3C
De modo semelhante ao canteiro 3B, o canteiro 3C também combina técnicas de irrigação industrial e artesanal. O cano de abastecimento de água deste canteiro possui 25 mm de diâmetro e cinco saídas, com distâncias aproximadas de 20 cm, as quais estão conectadas a mangueiras de gotejamento com 4.50 m de comprimento
Canteiro 3D
O canteiro 3D foi abastecido por um tubo de PVC com 25 mm de diâmetro, que conec-tava um cano da caixa de água com o dispositivo III (foi escolhido porque estava disponível em maior quantidade), que ocupava toda a área do canteiro. Este dispositivo têxtil foi o único responsável pela irrigação uniforme do canteiro.
Figura 15. Construção dos canteiros 3 (A, B, C e D) e prontos para plantio.
Canteiro 4
O canteiro 4 também foi construído com alvenaria e foi composto das seguintes ca-madas: uma camada de 10 cm de brita e solo arenoso; em seguida, o dispositivo III, tota-lizando 33 m2 de resíduos têxteis; e, finalmente, uma camada de 10 cm de solo arenoso misturado com esterco.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
352
Canteiro 5
O canteiro 5 foi construído por meio de um buraco cavado no solo e revestido com uma lona dupla-face e com uma conexão com o reservatório de água por meio de um cano de 25 mm. Nesse canteiro, foram dispostas 6 camadas dos respectivos materiais: lona plástica dupla-face; uma camada de 5 cm de brita; uma camada de mistura de resíduos grandes de tecidos de microfibra 100% poliéster (amostras 1, 2 e 3); uma camada de mistura de resíduos de malha (amostras 6 e 7) dispostas aleatoriamente; uma camada de 10 cm de solo arenoso; e, finalmente, uma camada de 10 cm de solo arenoso misturado com esterco (Figura 16).
Figura 16. Processo de construção do canteiro 5.
Canteiro 6 – SISCAFI
Também foi criado o SISCAFI, que é um sistema de irrigação composto por garrafas PET reutilizadas, enterradas em posição vertical invertida (ponta-cabeça), interconectadas por mangueira de irrigação com tiras de tecido colocadas entre a parte interna da garrafa e o solo a ser irrigado, formando pavios (Figura 17).
Figura 17. Construção do SISCAFI.
(a) pronto a ser instalado; (b) sendo colocado no solo.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
352 353
Canteiro 7 – Baldecap
Neste canteiro foram enterrados baldes construídos com a técnica do ferrocimento, com a diferença da superfície interna do balde ser revestida com resíduos têxteis, tornando-o capilar (Figura 18).
Figura 18. Construção do canteiro 7.
Canteiro 8 – Baciacap
A Baciacap é um dispositivo que utiliza técnica idêntica ao Baldecap, onde os resíduos têxteis foram colocados para permitir a manutenção da humidade no solo colocado dentro deles, por capilaridade (Figura 19).
Figura 19. Construção do canteiro 8, com a Baciacap.
Resultados obtidos no laboratório experimental
Consumo de água
Para a comparação do consumo de água entre os canteiros 1, 2 e 3, foram realizadas medições diárias do consumo entre os dias 15 a 30 de setembro de 2015. Considerando o clima semiárido da região onde foram construídos os canteiros experimentais, a temperatura habitual em setembro varia entre mínima de 20 oC (noite) e máxima de 35 oC (dia).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
354
O consumo de água dos canteiros 1 e 2 foi controlado por um hidrómetro, já os consu-mos dos canteiros 3 (A, B, C e D) foram calculados em relação à altura da água dentro do depósito de abastecimento. Os valores apresentados na Tabela 8 referem-se ao consumo diário de cada canteiro, calculados com base em valores inicias e finais que foram registados às 5:30 h e às 17 h, respectivamente.
Importa ressaltar que todos os canteiros tiveram uma rega superficial inicial antes de começar o registo dos consumos de água. A Tabela 9 apresenta os resultados comparativos para o consumo de água dos canteiros 1, 2 e 3, durante o período de 15 dias.
Observando a Tabela 9, é notório que os canteiros de controlo (1 e 2) consumiram bem mais água que os outros, uma média de 14.8 l/m2, para o período de 15 dias. Este maior consumo deveu-se a dois principais fatores: a evaporação, devido às altas temperaturas durante o dia; e ao fato de não serem impermeabilizados, o que causou infiltração da água no solo, causando perdas e a impossibilidade de utilização desta água pelas raízes das plantas.
Tabela 9. Consumo de água dos canteiros 1, 2 e 3 durante 15 dias.
Dias
Consumo (litros)
Canteiro 1(C1)
Canteiro 2(C2)
Média(C1 e C2)
Canteiro 3
A B C D Média
1 12.5 6.0 9.3 0.40 0.11 0.12 0.11 0.19
2 11.0 15.0 13.0 0.16 0.11 0.08 0.09 0.11
3 9.0 9.0 9.0 0.10 0.05 0.10 0.07 0.08
4 10.0 9.0 9.5 0.26 0.11 0.07 0.07 0.13
5 13.0 18.0 15.5 0.15 0.06 0.11 0.09 0.10
6 8.5 9.5 9.0 0.22 0.07 0.05 0.07 0.10
7 7.5 7.5 7.5 0.34 0.07 0.10 0.10 0.15
8 9.5 5.0 7.3 0.35 0.06 0.07 0.07 0.14
9 6.5 5.5 6.0 0.33 0.00 0.09 0.08 0.13
10 9.0 6.5 7.8 0.27 0.00 0.08 0.08 0.11
11 8.5 9.0 8.8 0.00 0.00 0.07 0.08 0.04
12 15.0 9.0 12.0 0.00 0.00 0.07 0.08 0.04
13 9.0 5.0 7.0 0.00 0.00 0.07 0.05 0.03
14 18.0 17.0 17.5 0.00 0.00 0.06 0.10 0.04
15 9.5 8.0 8.8 0.00 0.00 0.07 0.06 0.03
Volume total de águaem 15 dias (l) 156.5 139.0 147.8 2.58 0.64 1.21 1.20 1.41
Área de terra plantada (m2) 10.00 10.00 - 7.50 2.50 5.0 5.0 -
Consumo final (l/m2) 15.65 13.9 14.8 0.34 0.26 0.24 0.24 0.27
Quantidade de resíduos têx-teis (todas as camadas) (m2) - - - 9.0 7.5 2.5 15 15
Relação área de resíduos por área do canteiro - - - 1.2 3.0 0.5 3.0 3.0
Por outro lado, observa-se que os canteiros 3 (A, B, C e D) tiveram uma média de somente 0,27 l/m2, para os mesmos 15 dias.
O consumo médio de água destes quatro canteiros (1,41 litros) foi o equivalente a 0,95% da média dos canteiros de controlo, o que é muito significativo em uma área tão
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
354 355
afetada pela falta de água como o semiárido brasileiro. Este consumo muito baixo deu-se, provavelmente, por duas razões: a impermeabilização de alvenaria, e os resíduos têxteis capilares que foram colocados no solo, ao nível das raízes, mantendo-o húmido pelo fenó-meno da capilaridade, o suficiente para uma adequada absorção de água pelas raízes das plantas sem a necessidade de regas periódicas.
O canteiro 3C obteve o melhor desempenho, uma vez que teve consumo de água similar aos outros (0,24 l/m2), mesmo com uma quantidade inferior de resíduos têxteis, com 2,5 m2 de resíduos para um canteiro de 5,0 m2 de área. Ou seja, foram colocados resíduos têxteis na proporção de metade da área do canteiro. Nos outros canteiros, esta relação foi bem maior, chegando a 3,0 nos canteiros 3B e 3D. Estes resultados confirmam que não é necessária uma quantidade avultada de resíduos têxteis para garantir a humidade, com o estudo indicando uma relação de área de resíduos têxteis correspondente a metade da área do canteiro, como colocado no canteiro 3C.
A impermeabilização dos canteiros, que evitou a infiltração da água para o subsolo, e a manutenção da humidade ao nível das raízes, pelo efeito da capilaridade dos resíduos têxteis - aconteceram de forma combinada, o que resultou neste excelente desempenho dos canteiros 3 (A, B, C e D) no que diz respeito ao consumo de água.
Plantios de culturas nos canteiros
Foram realizados nove experimentos de plantio, cujos resultados foram obtidos entre 30 e 35 dias após o plantio das hortaliças. Deve-se considerar que a agricultura desen-volvida neste campo de experimentação é familiar e orgânica. Portanto, a renda obtida com a comercialização das hortaliças é destinada ao sustento de famílias que vivem no semiárido nordestino.
No canteiro A foram plantados coentro, couve-flor, alface, rúcula e salsa, exibindo re-sultados qualitativos satisfatórios. No canteiro B foram plantadas culturas de alface, coentro, tomate cereja, que também se adaptaram de forma satisfatória à forma de cultivo. No can-teiro C houve o cultivo de alface e, no canteiro D ,foi plantada a salsa (Figura 20).
Figura 20. Visão geral do plantio dos canteiros 3 (A, B, C e D).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
356
No canteiro 4 (Figura 21) foram plantadas seis mudas (entre viveiro e cul-tura) de mandioca.
Figura 21. Resultados do plantio da mandioca no canteiro 4.
No canteiro 5 foi plantado o cactus mais comum no semiárido, a palma forrageira (Opuntia sp), que se desenvolveu com muito vigor, conforme apresentado na Figura 22.
Figura 22. Resultado do plantio de palma no canteiro 5.
O plantio de mandioca foi realizado no canteiro 6 – SISCAFI (Figura 23).
Figura 23. Resultado do plantio de mandioca, no canteiro 6.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
356 357
Nos canteiros 7 e 8 (Baldecap e a Baciacap, respectivamente), foram cultivados palma e mandioca (Figura 24).
Figura 24. Resultados do plantio no canteiro 8: (a) palma; (b) mandioca.
Aspectos construtivos
Considerando-se os aspectos construtivos (facilidade de construção e de manutenção), o canteiro 3C novamente destaca-se, pelo fato de ser muito fácil de construir. Nele, os dis-positivos capilares foram construídos com mangueiras plásticas comerciais que possuem microfuros espaçados a intervalos regulares. Estas mangueiras foram revestidas com resí-duos têxteis, que tiveram dupla função: impedir a entrada de terra nos microfuros, evitando entupimentos e, consequente, interrupção da irrigação; e proporcionar um aumento e melhor distribuição da humildade do solo, por meio da capilaridade.
Custos
Com relação aos custos, como mostrado na Tabela 10, o canteiro 3C tem um custo estimado de € 1.19 por m2, o segundo mais baixo. Os canteiros 3A e 3B foram mais caros, por utilizarem mangueiras especiais e tubos e conexões em PVC.
Resultados do canteiro 4
Este canteiro é semelhante ao 3D, com a diferença de que foi testada a mandioca. Assim, pode-se considerar que esta cultura poderia ser plantada no canteiro 3C, que obteve os melhores resultados.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
358
Tabela 10. Custos de canteiros 3A a 3D, para uma área padrão de 10 m2.
Item Descrição Unid. Quant. Valor unit. (R$) Valor total (R$) Valor total (€)**
Canteiro 3A (área corrigida para 10 m2)
1 Tubo PVC, 100 mm m 3.2 6.50 20.80 3.23
2 Tubo PVC. 32 mm m 7.0 3.80 26.60 4.14
3 Conexão PVC “T”, 32 mm ud. 3.0 2.00 6.00 0.93
4 Conexão PVC “Joelho”, 32 mm ud. 1.0 1.10 1.10 0.17
5 Lona plástica* (200 micras) m2 11.0 4.00 44.00 6.84
TOTAL (para um canteiro de 10 m2) 15.31
Custo por m2 1.53
Canteiro 3B (área corrigida para 10 m2)
1 Mangueira porosa 1/2” m 38.0 4.00 152.00 23.63
2 Conexão PVC “T”, 20 mm ud. 3.0 1.00 3.00 0.47
3 Conexão PVC “Joelho”, 20 mm ud. 2.0 0.50 1.00 0.16
4 Tubo PVC, 20 mm m 1.0 2.50 2.50 0.39
5 Lona plástica* (200 micras) m2 11.0 4.00 44.00 6.84
TOTAL (para um canteiro de 10 m2) 31.49
Custo por m2 3.15
Canteiro 3C (área corrigida para 10 m2)
1 Mangueira plástica, 16 mm m 50.0 0.50 25.00 3.89
2 Conexão PVC “T”, 20 mm ud. 4.0 1.00 4.00 0.62
3 Conexão PVC “Joelho”, 20 mm ud. 2.0 0.50 1.00 0.16
4 Tubo PVC, 20 mm m 1.0 2.50 2.50 0.39
5 Lona plástica* (200 micras) m2 11.0 4.00 44.00 6.84
TOTAL (para um canteiro de 10 m2) 11.90
Custo por m2 1.19
Canteiro 3D (área corrigida para 10 m2)
1 Lona plástica* (200 micras) m2 11.0 4.00 44.00 6.84
TOTAL (para um canteiro de 10 m2) 6.84
Custo por m2 0.68
(*) Opção mais barata para impermeabilização; (**) Cotação base 17.08.2020: 1 € = R$ 6,43.
Resultados dos canteirosalternativos 5 a 8
Estes canteiros foram construídos para que se pudesse testar outras alternativas aos canteiros de alvenaria. Nestes, os consumos de água não foram monitorados, obtendo-se resultados qualitativos significativos, como o crescimento e vigor das culturas. Embora os dispositivos desenvolvidos e utilizados nestes canteiros também comprovaram o bom de-sempenho da irrigação têxtil por capilaridade, mostraram-se um pouco mais difíceis de serem construídos, funcionando melhor como alternativas para culturas em muito pequena escala, para consumo pela própria família.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
358 359
Proposta de novo canteiro capilar
Considerando-se de forma global, os aspectos construtivos, de impermeabilização e de uso de resíduos têxteis, os resultados do presente estudo permitem recomendar, como uma de suas contribuições a construção de um novo canteiro, denominado canteiro eco-nómico capilar, como mostrado na Figura 25, inspirado no canteiro 3C testado no labora-tório experimental.
Este canteiro também é baseado na irrigação subterránea têxtil por capilaridade, mas com possui impermeabilização semelhante à do canteiro económico da Embrapa.22 A dife-rença é que este novo canteiro utiliza resíduos têxteis para distribuir a humidade em toda a área, ao invés de tubo PVC e telhas de proteção do tubo da versão da Embrapa. Esta solução também oferece melhor proteção às mangueiras subterrâneas, reduzindo o ris-co de entupimento.
Figura 25. Canteiro económico capilar.
Para promover a irrigação têxtil por capilaridade, deve-se utilizar mangueiras ou tubos de irrigação simples, de plástico reciclado, com furos a cada 30 cm, recobertas com aproxi-madamente 30 cm de resíduos têxteis sintéticos costurados sobre a mangueira, formando de fita de 15 cm de largura que irá distribuir melhor a humildade em toda a área do canteiro e proteger os furos de entupimento.
Sugere-se, também, utilizar resíduos têxteis sintéticos semelhantes às amostras 1, 2, 3, 6 e 7, ou seja, tecido microfibra 100% poliéster (amostras 1 a 3) ou malhas de poliamida e elastano (amostras 6 e 7).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
360
CONCLUSÃO
O desenvolvimento das tecnologias simples de irrigação subterránea baseada em re-síduos têxteis, aqui apresentada, levou ao uso racional da água em canteiros experimentais construídos, sem prejuízo aparente para o desenvolvimento das lavouras, o que pode vir a fortalecer a agricultura familiar e ter impacto significativo no crescimento econômico da região, caso a tecnologia seja aplicada em escala.
A agregação de valor ao processo produtivo é evidenciada por aproveitamento de re-síduos têxteis que contribuem para uma maior rentabilidade da agricultura familiar ao longo do tempo. O material utilizado pode ser reaporveitado de resíduos de confeções da própria região onde será utilizado. Embora os resíduos têxteis não sejam biodegradáveis, eles es-tão bem localizados nos canteiros impermeáveis e podem ser removidos caso o agricultor deseje encerrar a produção, não poluindo o ambiente.
Durante todo a vida útil do canteiro, os resíduos têxteis mantém o solo irrigado e via-bilizam a produção com baixo consumo de água no semiárido brasileiro.
É importante disponibilizar novas tecnologias simples que auxiliem no crescimento da rentabilidade das famílias por meio do uso de resíduos que podem ser considerados inves-timento a custo zero, considerando que, somente no Brasil, há produção de toneladas de resíduos têxteis por dia, ou seja, somente este fator torna viável a experiência da irrigação subterránea têxtil por capilaridade apresentada neste trabalho.
O uso de resíduos têxteis aqui apresentado pode ser uma alternativa sustentável para o aproveitamento de tecidos que seriam descartados, uma vez que o grande número de microempresas que utilizam têxteis no semiárido brasileiro geram um grande volume de resí-duos têxteis. Embora a indústria de artesanato do semiárido absorva parte desse resíduo, a maior parte do que é produzido pela indústria têxtil ainda é despejado de forma inadequada no meio ambiente. Além disso, as fábricas que reciclam têxteis estão concentradas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, o que é um problema para a região Nordeste, principalmente para o semiárido, devido aos altos custos de uma eventual operação de transporte de resíduos para o Sul ou Sudeste, inviabilizando esta possibilidade.
Em linhas gerais, todos os resultados experimentais de campo demonstraram que os dispositivos desenvolvidos com pedaços de resíduos têxteis sintéticos foram capazes de transportar água para zonas distantes do solo, mantendo-o húmido ao nível das raízes e contribuindo para um melhor crescimento das plantas testadas. Ou seja, todos os dispositivos construídos de modo a possibilitar irrigação subterrânea têxtil por capilaridade, funcionaram adequadamente, em uma análise qualitativa.
Os dispositivos idealizados e testados possuem em comum o fato de serem tecno-logias sociais, de baixo custo, fácil construção, implantação e manutenção; simplicidade;
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
360 361
possibilidade de domínio da tecnologia pelos próprios beneficiários; e geradores de conhe-cimento compartilhado entre os proponentes e os beneficiários. Em resumo, potenciais ge-radores de impacto social para esta população que tanto necessita de soluções inclusivas.
O uso dessas tecnologias simples pode trazer inúmeros benefícios ao desenvolvimento das lavouras e da agricultura familiar da região, principalmente por se tratar de um dispo-sitivo de irrigação de pequena escala, embora seja tão eficaz quanto outros dispositivos sofisticados e custosos, utilizados em projetos agrícolas de grande porte. Além disso, por ser um sistema simples, cuja manutenção é acessível aos agricultores, mesmo àqueles com pouca educação formal, é uma tecnologia moderna que dispensa treinamento complexo ou profissionais capacitados para supervisionar e/ou consertar os aparelhos.
REFERÊNCIAS
1. Nikolaou G, Neocleous D, Christou A, et al. Implementing Sustainable Irrigation in Water-Scarce Regions under the Impact of Climate Change. Agronomy 2020; 10(8): 1120.
2. Globalagriculture.org. Water - Agriculture at a Crossroads - Business as Usual is Not an Option!, https://www.globalagriculture.org/report-topic/s/water.html. (2020, accessed 07 Nov 2020).
3. Unwater.org. SDG 6 Synthesis Report 2018 on Water and Sanitation, http://www.unwater.org/publication.categories/sdg-6-synthesis--report-2018--on-water-and-sanitation/ (2008, accessed 07 Nov 2020).
4. Sumarsono J, Setiawan BI, Subrata IDM, et al. Ring-typed emitter subsurface irrigation perfor-mances in dryland farmings. International Journal of Civil Engineering and Technology 2018; 9(1): 797–806.
5. Saefuddin R, Saito H and Šimůnek J. Experimental and numerical evaluation of a ring-shaped emitter for subsurface irrigation. Agricultural Water Management 2019; 211: 111-122.
6. Megersa G and Abdulahi J. Irrigation system in Israel: A review. International Journal of Water Resources and Environmental Engineering 2015; 7(3): 29-37.
7. Harnett PR. and Mehta PNA. A Survey and Comparison of Laboratory Test Methods for Mea-suring Wicking. Text. Res. J. 1984; 54(7): 471-478.
8. Simile CB. Critical Evaluation Of Wicking In Performance Fabrics. Master Thesis, Georgia Ins-titute of Technology, USA, 2004.
9. Sarkar M, Fan J and Qian X. Transplanar water transport tester for fabrics, Meas. Sci. Technol. 2007; 18: 1465-1471, 2007.
10. Tang, KPM, Wu YS, Chau KH, et al. Characterizing the transplanar and in-plane water transport of textiles with gravimetric and image analysis technique: Spontaneous Uptake Water Transport Tester. Nature Sci. Rep. 2015; 5: 9689.
11. BS 3424-18:1986 - Testing Coated Fabrics - Part 18: Methods for 21A and 21B: Methods for Determination of Resistance to Wicking and Lateral Leakage to Air, British Standards Institution.
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
362
12. Miller B. Critical Evaluation of Upward Wicking Tests, Int. Nonwovens J. 2000; 9: 35-40.
13. Fangueiro R, Filgueiras A, Soutinho F, et al. Wicking Behavior and Drying Capability of Func-tional Knitted Fabrics. Text. Res. J. 2010; 80(15): 1522–1530.
14. Memariyan F and Ekhtiyari E. Study on wicking measurement in thin layer textiles by processing digital images. IJE Trans. A: Basics 2010; 23: 101-108.
15. Morent R, De Geyter N, Leys C, et al. Measuring the wicking behavior of textiles by the com-bination of a horizontal wicking experiment and image processing. Rev. Sci. Instrum. 2006; 77(9)-093502: 1-6.
16. Raja D, Ramakrishnan G, Babu VR, et. al. Comparison of different methods to measure the transverse wicking behaviour of fabrics. J. Ind. Text. 2012; 43(3): 366-382.
17. TAPPI 441om-90. Water absoptiveness of sized (non-bibulous) paper and paperboard (Cobb test). Technical Association of the Pulp and Paper Industry, 1960.
18. ISO 535:1976. Paper and board — Determination of water absorption — Cobb method.
19. Morton WE and Hearle JWS. Physical properties of textile fibers. 4th ed. Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 2008.
20. Gu H. Research on the improvement of the moisture absorbency of naturally self-coloured cotton. J. Text. Inst. 2005; 96(4): 247-250.
21. ISO 8787:1986. Paper and board - Determination of capillary rise - Klemm method.
22. Utopia. Técnicas de Captação e Uso da Água do Semiárido Brasileiro, v. II - Canteiros Eco-nômicos em Água. In: 6o Simpósio Brasileiro de Captação e Manejo de Água de Chuva, Belo Horizonte, Brazil, 09-12 Jun 2007, https://bit.ly//320hhPt. (2007, accessed 07 Jun 2020).
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
363
Prof. Dr. Robson José de OliveiraPossui graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa (2002), mestrado em Ciência Florestal pela Universidade Federal de Viçosa (2004) e doutorado em Ciência Florestal pela Universidade Federal de Viçosa (2008). Atualmente é professor associado I da Universidade Federal do Piauí/CTT em Teresina -PI. Tem experiência na área de Recursos Florestais e Engenharia Florestal, com ênfase em Legislação Florestal, Colheita, Estradas e Transportes Florestais, atuando principalmente nos seguintes temas: estradas, transportes, estabilização, pavimentação, redes neurais artificiais, ferramentas computacionais aplicadas ao setor florestal, logística, politica e legislação ambiental, avaliação de impactos ambientais, pericia ambiental, educação ambiental, colheita florestal, ergonomia, qualidade, gestão de projetos, ética e deontologia.
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2371730431088108
SOBRE O ORGANIZADOR
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
364
A
Adaptabilidade: 167, 181, 312
Agricultura: 65, 67, 69, 79, 81, 82, 88, 89, 91, 98, 99, 103, 106, 112, 113, 127, 140, 145, 153, 180, 181, 245, 248, 249, 255, 288, 294, 300, 308, 309, 328, 329
Agricultura Familiar: 79, 81, 140, 245, 328
Agroecologia: 135, 152, 153, 223
Agronegócio: 43, 181
Análise Foliar: 183, 186, 187, 190, 194
Análise Regressiva: 114
Andrologia: 214, 221
Autoconsumo: 68, 80, 140
B
Biomassa: 65, 126, 127, 130, 136, 137, 168
C
Capim: 116, 119
Carbono: 127, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 154, 155, 157, 160, 163
Comercialização: 77, 89, 140, 211
Covid: 81, 92
D
Desenvolvimento: 43, 44, 79, 83, 93, 103, 109, 113, 114, 138, 153, 168, 170, 245, 250, 251, 254, 328
E
Educação: 5, 6, 7
Ensino: 7
Etnobotânica: 207
F
Fertirrigação: 183, 190
Fitomejoramiento: 263, 265, 266, 274
G
Geoprocessamento: 237, 238, 239, 241, 243
Geotecnologia: 237, 238, 239
Germinação: 312, 315, 316, 322
Gestão Social: 244, 245
H
Hortaliças: 234, 235, 300, 330
M
Mercado: 293, 294, 299
Modelagem: 199, 200, 204
Movimentos Sociais: 114
P
Plantas Medicinais: 207, 211, 234, 235
Pluriatividade: 68, 140
Políticas Públicas: 80
Produção de Mudas: 302, 312, 317, 331
Produtividade: 135, 155, 162, 167, 170, 180
Q
Qualidade do Solo: 155
R
Reprodução: 221
S
Saccharum: 183, 184, 190, 191, 277, 289
ÍNDICE REMISSIVO
Extensão Rural: práticas e pesquisas para o fortalecimento da agricultura familiar - Volume 2
364 365
Seleção: 170, 328, 329
Semiárido: 234, 306, 332, 333, 362
Sustentabilidade: 113, 114
U
Uso do Solo: 155
V
Vulnerabilidade Social: 85, 105, 107, 108, 109, 112