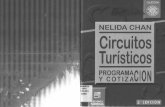Circuitos Turísticos. Programación y cotización. Nélida Chan
O ORDENAMENTO TERRITORIAL DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processos de...
Transcript of O ORDENAMENTO TERRITORIAL DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processos de...
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA CURSO DE MESTRADO EM GEOGRAFIA
AGUINALDO CESAR FRATUCCI
O ORDENAMENTO TERRITORIAL DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Processos de inserção dos lugares turísticos nas redes do turismo
Niterói 2000
AGUINALDO CESAR FRATUCCI
O ORDENAMENTO TERRITORIAL DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: processos de inserção dos lugares turísticos nas
redes do turismo
Dissertação apresentada no Curso de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção do Grau de Mestre. Área de Concentração: Ordenamento Territorial.
Orientador: Prof. Dr. ROGÉRIO HAESBAERT
Niterói 2000
F844 Fratucci, Aguinaldo César
O ordenamento territorial da atividade turística no Estado do Rio de Janeiro: processos de inserção dos lugares turísticos nas redes do turismo/ Aguinaldo César Fratucci. – Niterói: 2000
177 p., 30 cm. Dissertação ( Mestrado em Geografia )–Universidade Federal
Fluminense, 2000. Bibliografia: p. 161-166
1. Geografia – Estado do Rio de Janeiro. 2. Turismo – ordenamento territorial . I. Título.
CDD 910.9
AGUINALDO CESAR FRATUCCI
O ORDENAMENTO TERRITORIAL DA ATIVIDADE TURÍSTICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: processos de inserção dos lugares turísticos nas
redes do turismo
Dissertação apresentada no Curso de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para obtenção do Grau de Mestre. Área de Concentração: Ordenamento Territorial.
Aprovada em dezembro de 2000
BANCA EXAMINADORA
_______________________________________________________________ Prof. Dr. Rogério Haesbaert - Orientador
Universidade Federal Fluminense
_______________________________________________________________ Prof. Drª Adyr Balastreri Rodrigues
Universidade de São Paulo
_______________________________________________________________ Prof. Dr. Márcio de Oliveira
Universidade Federal Fluminense
Niterói 2000
Aos meus pais, Antônio (in memorian) e Dozolina, pelo dom da vida e por terem me ensinado a viver
sempre buscando novos horizontes.
AGRADECIMENTOS Aos amigos de Armação dos Búzios e de Arraial do Cabo, em especial Marcos Simas, Dulcilia Benetti e Célia Cristina Lapagesse, pela acolhida sempre hospitaleira, disponibilidade e ajuda na coleta de informações e nas discussões sobre o desenvolvimento da atividade turística local. Ao professor Rogério Haesbaert, por ter aceito o convite para ser meu orientador, e pelo seu jeito calmo, seguro e otimista de conduzir o processo de elaboração da minha pesquisa, enriquecendo, sobremaneira, meus questionamentos sobre o fenômeno turístico, ao me permitir agregar a eles, as categorias e os métodos da Geografia. À todos os professores do Curso de Mestrado em Geografia da UFF, por terem me recebido de braços abertos e me guiado pelos caminhos do conhecimento geográfico, até então, pouco conhecido por mim. De maneira especial, agradeço a atenção e os cuidados, a mim dedicados, pelos professores Hélio de Araújo Evangelista, Jorge Luiz Barbosa e Márcio de Oliveira. Aos meus colegas de turma do Curso de Mestrado, pelo apoio nos momentos de incertezas e de dificuldades. Ao amigo Cariojado, pela força e por sua presença fiel nos meus momentos de introspecção e reflexão. Às amigas Célia Arruda e Valéria Lima, pela paciência em me escutar nos momentos de desânimo e de dificuldades pessoais. Aos meus colegas de magistério e alunos do Curso de Turismo do Centro Universitário Plínio Leite, pela compreensão, apoio e carinho, e pelo incentivo para novas investigações sobre o fenômeno turístico. À Profª. Carmem Lúcia de Castro Sampaio, pela paciente revisão do texto final. Ao Álvaro, pelo seu companheirismo e por saber compreender a importância desse meu momento acadêmico e profissional. À diretoria da TurisRio, em especial ao diretor presidente, Sérgio Ricardo Martins de Almeida, meu reconhecimento pela oportunidade, pelo apoio e pelo incentivo oferecidos para o desenvolvimento desse meu trabalho.
A tendência atual é a que os lugares se unam verticalmente e tudo é feito para isso, em toda parte. [...] Mas os lugares também se podem unir horizontalmente, reconstruindo aquela base de vida comum, susceptível de criar normas locais, normas regionais ... que acabam por afetar as normas nacionais e globais. [...] Por enquanto, o Lugar – não importa sua dimensão – é, espontaneamente, a sede da resistência, às vezes involuntária, da sociedade civil, mas é possível pensar em elevar esse movimento a desígnios mais amplos e escalas mais altas. (Milton Santos, 1996)
SSUUMMÁÁRRIIOO
PPáággiinnaa 11 IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO 1144
22 FFEENNÔÔMMEENNOO TTUURRÍÍSSTTIICCOO,, MMÉÉTTOODDOOSS EE CCAATTEEGGOORRIIAASS DDEE AANNÁÁLLIISSEE 2222
22..11 TTuurriissmmoo:: ffeennôômmeennoo ssoocciiooeessppaacciiaall ccoommpplleexxoo 2233
22..11..11 AAssppeeccttooss ccoonncceeiittuuaaiiss ddoo ttuurriissmmoo 2244
22..11..22 OOss pprriimmóórrddiiooss ddoo ffeennôômmeennoo ttuurrííssttiiccoo 2277
22..11..33 OO ttuurriissmmoo nnaa eerraa iinndduussttrriiaall ccaappiittaalliissttaa 3300
22..22 PPaarraaddiiggmmaass aattuuaaiiss ppaarraa eenntteennddeerr oo ffeennôômmeennoo ttuurrííssttiiccoo 3344
22..22..11 OO ppaarraaddiiggmmaa ddaa ccoommpplleexxiiddaaddee ee oo ttuurriissmmoo 3388
22..33 CCaatteeggoorriiaass ddee aannáálliissee:: rreeddee,, tteerrrriittóórriioo--rreeddee,, lluuggaarr ee lluuggaarr ttuurrííssttiiccoo 4466
22..33..11 OOrrggaanniizzaaççããoo eessppaacciiaall ddoo ttuurriissmmoo 4466
22..33..22 RReeddeess ee tteerrrriittóórriiooss--rreeddee ddoo ttuurriissmmoo 5511
22..33..33 LLuuggaarr ee lluuggaarr ttuurrííssttiiccoo 5533
22..44 MMééttooddoo ddee iinnvveessttiiggaaççããoo:: aallgguummaass ccoonnssiiddeerraaççõõeess 6666
33.. CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO TTEERRRRIITTOORRIIAALL DDOO TTUURRIISSMMOO NNOO EESSTTAADDOO DDOO RRIIOO
DDEE JJAANNEEIIRROO:: 7711
33..11 EEvvoolluuççããoo ddoo ffeennôômmeennoo ttuurrííssttiiccoo nnoo EEssttaaddoo ddoo RRiioo ddee JJaanneeiirroo 7722
33..22 TTeennttaattiivvaass ddee aaççõõeess ddee oorrddeennaammeennttoo tteerrrriittoorriiaall ddoo ttuurriissmmoo nnoo
EEssttaaddoo ((11997733--11999999)) 7755
33..33 RReeggiioonnaalliizzaaççããoo ttuurrííssttiiccaa ddoo tteerrrriittóórriioo eessttaadduuaall 8866
33..44 NNoovvooss aarrrraannjjooss tteerrrriittoorriiaaiiss ddooss lluuggaarreess ttuurrííssttiiccooss:: tteennddêênncciiaass aattuuaaiiss 8899
33..55 DDiissttrriibbuuiiççããoo ddooss fflluuxxooss ttuurrííssttiiccooss ppeelloo tteerrrriittóórriioo eessttaadduuaall 9944
33..55..11 DDiiffeerreenntteess ttiippooss ddee ccoonnssuummiiddoorreess ddoo pprroodduuttoo ttuurrííssttiiccoo 9955
33..55..22 DDiissttrriibbuuiiççããoo ddooss fflluuxxooss ddee ttuurriissttaass 9966
33..55..33 DDiissttrriibbuuiiççããoo ddooss fflluuxxooss ddee vveerraanniissttaass 110011
33..55..44 DDiissttrriibbuuiiççããoo ddooss fflluuxxooss ddee eexxccuurrssiioonniissttaass 110044
44.. OORRDDEENNAAMMEENNTTOO DDOO TTEERRRRIITTOORRIIOO DDOO TTUURRIISSMMOO NNOO EESSTTAADDOO DDOO
RRIIOO DDEE JJAANNEEIIRROO EE IINNSSEERRÇÇÃÃOO DDOOSS LLUUGGAARREESS TTUURRÍÍSSTTIICCOOSS 110088
44..11 As redes do turismo no território do turismo no Estado 110
44..22 Lugares turísticos e ordenamento territorial do turismo
estadual: os casos de Armação dos Búzios e AArrrraaiiaall ddoo CCaabboo 111199
44..22..11 AArr
44..22..22 mmaaççããoo ddooss BBúúzziiooss ee AArrrraaiiaall ddoo CCaabboo:: lluuggaarreess ttuurrííssttiiccooss
iigguuaaiiss ee ddiiffeerreenntteess 112200
44..22..33 AArrmmaaççããoo ddooss BBúúzziiooss ee AArrrraaiiaall ddoo CCaabboo:: dduuaass ffoorrmmaass
ddiissttiinnttaass ddee iinnsseerrççããoo ddee lluuggaarreess ttuurrííssttiiccooss nnaass rreeddeess ddoo
ttuurriissmmoo eessttaadduuaall 113322
55.. PPRROOCCEESSSSOOSS DDEE IINNSSEERRÇÇÃÃOO DDOOSS LLUUGGAARREESS TTUURRÍÍSSTTIICCOOSS NNAASS
RREEDDEESS DDOO TTUURRIISSMMOO CCOONNTTEEMMPPOORRÂÂNNEEOO:: AALLGGUUMMAASS
CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS 114488
RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAASS 116622
AANNEEXXOOSS 116688
AAnneexxoo AA:: OOffeerrttaa ddee lleeiittooss ee ddee uunniiddaaddeess hhaabbiittaacciioonnaaiiss ((UUhhss)) nnooss
mmuunniiccííppiiooss ddoo eessttaaddoo –– jjuunnhhoo//11999977
AAnneexxoo BB:: EEssttiimmaattiivvaa ddoo fflluuxxoo ddee vveerraanniissttaass nnooss mmuunniiccííppiiooss ee rreeggiiõõeess
ttuurrííssttiiccaass ddoo eessttaaddoo
AAnneexxoo CC:: RRootteeiirrooss ddaass ppeessqquuiissaass rreeaalliizzaaddaass
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
FIGURA 1 Mapa: regiões turísticas do Estado 88
FIGURA 2 Mapa: regionalização turística espontânea 90
TABELA 1 Cidades brasileiras mais visitadas por turistas
Internacionais 97
TABELA 2 Principais portões de entrada de turistas internacionais
no Brasil 97
FIGURA 3 Mapa: áreas de concentração dos fluxos de turistas no
Estado 98
TABELA 3 Principais centros emissores de turistas internacionais para
o Rio de Janeiro 99
TABELA 4 Oferta de leitos e de unidades habitacionais (Uhs) nas
regiões turísticas do Estado do Rio de Janeiro – junho/1997 101
FIGURA 4 Mapa: áreas de concentração dos fluxos de veranistas no
Estado 103
FIGURA 5 Mapa: áreas de concentração dos fluxos de excursionistas
no Estado 107
FIGURA 6 Mapa: território-rede do turismo no Estado do Rio de Janeiro 113
LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS
ABAV Associação Brasileira de Agentes de Viagens
ABIH Associação Brasileira da Indústria Hoteleira
AD-RIO Agência de Desenvolvimento do Estado do Rio de
Janeiro
AREMAC Associação da Reserva Extrativista Marinha de
Arraial do Cabo
BITO Brazilian International Tourism Operation
CIDE Fundação Centro de Informações e Dados do Rio de
Janeiro
EMBRATUR Instituto Brasileiro de Turismo
FUNDREM Fundação de Desenvolvimento da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro
IBAMA Instituto Brasileiro do Meio ambiente
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas
OEA Organização dos Estados Americanos
OMT Organização Mundial de Turismo
ONG Organizações não governamentais
PNMT Programa Nacional de Municipalização do Turismo
SECPLAN Secretaria de Estado de Planejamento
TMGCA Taxa média geométrica de crescimento anual
TURISRIO Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro
UH Unidade habitacional
RESUMO
O presente trabalho centra-se na busca da compreensão do ordenamento territorial da atividade turística no Estado do Rio de Janeiro e do processo de inserção dos lugares turísticos no território-rede do turismo estadual. A partir da compreensão do turismo enquanto fenômeno socioespacial complexo, característico da sociedade pós-industrial contemporânea, utiliza-se como referenciais teórico-metodológicos o paradigma da complexidade desenvolvido por Edgar Morin, os estudos sobre o sistema turístico de Mário Carlos Beni e as propostas de Milton Santos para os estudos do espaço geográfico. O estudo contempla uma revisão teórica sobre o fenômeno turístico, seguida por uma recuperação do processo de formação do território do turismo no Estado do Rio de Janeiro, dentro de um recorte temporal de trinta anos (1970-1999). A partir do mapeamento da distribuição dos fluxos de turistas, veranistas e excursionistas, chega-se às diversas redes sincrônicas que a atividade turística estabelece, e que, juntas, compõem o território-rede do turismo estadual. Nesse território-rede, cada nó é analisado enquanto um lugar turístico inserido em uma ou mais redes do turismo, de acordo com as suas características diferenciais e com a complexidade do sistema turístico local. Essa inserção diferenciada dos lugares turísticos é demonstrada pela análise dos atuais estágios do desenvolvimento do turismo nos municípios de Armação dos Búzios e de Arraial do Cabo. Apesar das semelhanças entre suas potencialidades turísticas, diferentes condições político-econômicas levam Armação dos Búzios a se inserir no nível mais abrangente das redes do turismo, enquanto Arraial do Cabo apresenta um sistema turístico local ainda não plenamente estruturado. Finaliza-se, concluindo que, por ser o turismo um fenômeno sociocultural e espacial complexo, baseado no movimento e no intercâmbio de pessoas, o lugar torna-se o seu território real, pois é nos lugares que ele acontece, solidária e repetitivamente, resultado da diversidade e das incertezas das relações que ocorrem, entre a população local residente e os turistas.
Turismo; Estado do Rio de Janeiro; rede; território-rede; lugar; lugar turístico;
ABSTRACT
The present work focuses the search for the understanding of the territorial arrangement of the tourist activity in the State of Rio de Janeiro and the process of insertion of tourist places in the network-territories of the state tourism. From the understanding of tourism as a sociospacial complex phenomenon, typical of the contemporary post-industrial society, it makes the use of the paradigm of complexity developed by Edgar Morin, the studies of Mario Carlos Beni about the tourist system and the proposals by Milton Santos as theoretic-methodological references to the study of the geographical space. This work presents a theoretical review on the tourist phenomenon, followed by a rescue of the process of formation of the tourist territory in the State of Rio de Janeiro, within a time cut of thirty years (1970-1999). From the mapping of the distribution of the tourists, summer holidaymakers and day-trippers flows, it gets to the several synchronic networks established by the tourist activity and that together, they form the state tourist netwok-territory. Each knot in this netspace is analysed as tourist place inserted in one or more tourist networks, according to its differential characteristics and with the complexity of the local tourist system. This differential insertion from the tourist places is shown through the analysis of the current development stages of the tourism in the towns of Armação dos Búzios and Arraial do Cabo. In spite of the similiarities among their touristic potentialities, different economic and politic conditions have brought Armação dos Búzios to be inserted in higher levels of the touristic networks meanwhile Arraial do Cabo shows a local touristic system not completly structured. It concludes that being tourism a sociocultural and complex space phenomenon, based on the people movement and interchange, the place becomes itself the actual territory because it is where it happens, supportive and repetitively , the result of diversity and uncertainties of the relations that occur among the resident local people and the tourists.
Tourism; State of Rio de Janeiro; network; network-territory; place; tourist place
1 INTRODUÇÃO
Grande parte dos estudiosos do turismo concorda com o pressuposto
de o ato de viajar ou de se deslocar pelo território ser característico do homem
enquanto ser racional, consciente de si, dos seus territórios e dos seus limites. Na
atualidade, a necessidade de viajar está intrinsecamente relacionada às
condições socioculturais da nossa sociedade:
as pessoas viajam porque não se sentem mais à vontade onde se encontram, seja nos locais de trabalho ou seja onde morem. Sentem necessidade urgente de se desfazer temporariamente do fardo das condições normais de trabalho, de moradia e de lazer, a fim de estar em condições de retomá-lo quanto regressem (Krippendorf, 1989, p.17).
Com a revolução industrial, a divisão internacional do trabalho e a
introdução do trabalho assalariado, vimos surgir uma classe proletariada que,
mesmo oprimida pelo capital, lentamente foi se organizando e adquirindo algumas
vantagens sociais, como a diminuição da jornada diária de trabalho e a inclusão
das férias e fins de semana remunerados: “Las primeras vacaciones pagadas a
finales de este siglo [XIX] inauguran el derecho de todos al ocio turistico ...” (Vera
et al: 1997, p.7)1. É o momento do tempo livre se expandir e das atividades de
recreação e lazer se multiplicarem.
No entanto, o tempo livre conquistado pelo trabalhador foi rapidamente
apropriado pela sociedade capitalista e transformado em tempo de consumo.
Seguindo instruções da ética protestante de Max Weber, o ócio gerado pelo
1 As primeiras férias remuneradas no final do século XIX inauguraram o direito de todos ao ócio turístico (tradução livre)
15
tempo livre foi transformado em tempo de lazer. O homem é levado a não “perder
seu tempo” e a utilizá-lo em alguma atividade. Inventa-se a necessidade de
evasão para compensar o stress urbano e do trabalho, e o ócio termina, sendo
incorporado pelo capital no processo de reprodução do capitalismo.
Enquanto fenômeno típico da sociedade capitalista e industrial
moderna, o turismo moderno2 apresenta imbricações espaciais e territoriais
diversificadas e passíveis de análises várias, conforme a escala de observação
proposta. Na sua essência, ele produz e consome espaços. Sendo fruto de
atividades e práticas sociais diretamente ligadas ao movimento de pessoas
(Moesch, 1998, p.83) e de informações produz, como conseqüência,
territorialidades e territórios.
Dessa maneira, o turismo se concretiza através de diversas formas,
modalidades e escalas dentro de um mesmo território. Está subordinado tanto às
ações da iniciativa privada, quanto do Estado e, até mesmo, das pequenas
comunidades organizadas; todo esse movimento ocorrendo de forma sincrônica
num mesmo Estado, Região ou País. Sua velocidade de reprodução está acima
da maioria das atividades humanas, alimentando-se, quase sem escrúpulos, dos
mais variados setores do conhecimento humano, especialmente daqueles ligados
aos avanços tecnológicos e informacionais.
Para o geógrafo francês REMI KNAFOU (1996), os turistas estão na
origem do fenômeno e são eles que definem, escolhem os lugares turísticos.
Pelas suas proposições, não devemos perder de vista que o sujeito (ator) do
fenômeno, responsável pela sua existência, é o homem, na forma do turista.
Pessoalmente, a partir de nosso dia-a-dia profissional e como resultado dessa
nossa pesquisa, acreditamos que precisamos avançar nesse conceito,
incorporando, também, como atores do fenômeno turístico, a população
permanente do lugar turístico, a qual também deve ser vista como elemento
decisivo dentro da organização e do funcionamento do sistema turístico.
2 Ao nos referirmos ao termo “turismo moderno”, estaremos nos baseando na classificação utilizada pelos teóricos do fenômeno (Acerenza, Nicolas, Trigo), que entendem como tal o turismo desenvolvido após a revolução industrial.
16
Dentro dessa perspectiva, a problemática da nossa pesquisa está
centrada na busca da compreensão do ordenamento territorial da atividade
turística no Estado do Rio de Janeiro, de maneira que nos seja possível estudar
os processos através dos quais os lugares turísticos são produzidos e inseridos
nas diversas redes em que se manifesta o turismo estadual.
Além disso, buscamos respostas para outras questões, vinculadas às
relações espaciais e territoriais da atividade turística. A primeira delas, analisada
a partir de uma escala mais ampliada, está relacionada à existência de possíveis
redes de lugares estruturadas no território do Estado do Rio de Janeiro e aos
níveis de articulação, relação e interação (horizontais e verticais) estabelecidos
entre os lugares turísticos e os centros emissores de fluxos de turistas, buscando
identificar a complexidade do processo dinâmico existente entre eles.
Num segundo momento, buscamos uma aproximação à compreensão
dos mecanismos e dos processos de inserção desses lugares turísticos nos
diversos níveis das redes de consumo do turismo atual. Para tal, alteramos nossa
escala de estudo, buscando compreender porque dois lugares turísticos, a
princípio, com potencialidades semelhantes, como Armação dos Búzios e Arraial
do Cabo, inserem-se de forma distinta nas redes do sistema turístico estadual.
Dada a sua grande incidência sobre o território, o turismo vem
despertando um crescente interesse por parte dos geógrafos que buscam
entendê-lo a partir de suas imbricações espaciais, principalmente a partir da
década de sessenta. RODRIGUES (1997a) nos esclarece que, “ na sua
esmagadora maioria os trabalhos podem ser rotulados como pertencentes à
Geografia tradicional, avançando, no máximo, até a fase neopositivista. Dentre
estes, destacamos os estudos de Jean Miossec (1977) [...] e o de Douglas Pearce
(1981)” (p.42). Ainda segundo aquela autora, “na chamada Geografia crítica há
que se destacar as pesquisas de Remi Knafou aplicadas aos Alpes franceses
(1979 e 1988) e Juan-Eugeni Sanches (1985), que apresenta uma proposta
metodológica para o estudo do turismo do litoral fundamentada nos princípios
marxistas” (ibidem, p.42).
17
Pessoalmente, não vemos a possibilidade de circunscrever os estudos
do fenômeno turístico ao campo de uma disciplina específica, seja ela qual for.
Somos partidários de uma postura transdisciplinar que transponha os limites
estabelecidos entre as disciplinas. Isso nos leva a entender o turismo não apenas
pelas suas variáveis econômicas, como tem sido a predominância nos últimos
anos. Ao contrário, propomos entendê-lo enquanto fenômeno social
multifacetado, do qual a dimensão econômica é apenas uma dessas faces; talvez
a mais visível e, por isso, mais fácil de ser analisada. Os indicadores econômicos
do turismo, no nosso entender, servem apenas para demonstrar a sua vitalidade
enquanto acontecimento social típico da era moderna de nossa civilização. Ou
seja, estamos propondo trilhar o caminho do entendimento do turismo enquanto
fenômeno social complexo, que:
tem sua origem na industrialização progressiva, nas aglomerações urbanas e na psicologia do viver cotidiano [...] o turismo não é uma simples forma de distração, senão que se converteu em um direito adquirido pela sociedade, para seu crescimento físico, moral e intelectual (Acerenza, 1991.v.1, p.84).
Essa tendência vem sendo defendida por diversos autores estudiosos
do fenômeno turístico como RODRIGUES (1997), PADILLA (1997) e VERA et al
(1996,1997), apenas para citar alguns.
O Rio de Janeiro sempre foi, e continua sendo, o Estado brasileiro
onde a atividade turística apresenta dimensões mais marcantes, tanto para a sua
economia, como para sua estrutura sociocultural. Ancorado a um dos principais
portões de entrada de turistas estrangeiros do país, o Estado, em sua quase
totalidade territorial, tem no turismo um dos suportes de desenvolvimento mais
importante, apresentando sobreposto ao seu território uma rede bastante ampla
de nós/lugares turísticos, interligadas por uma extensa malha de rodovias,
hidrovias, ligações aéreas (a malha ferroviária existente não é utilizada pelo
sistema turístico) e de uma complexa rede de comunicações.
Trabalhando na área de planejamento do órgão estadual de turismo
(TurisRio) desde 1979, vimos estudando e refletindo sobre os impactos (positivos
ou negativos) que a atividade turística gera, como estes vêm sendo absorvidos
18
nos diferentes momentos, e sobre as suas conseqüências na organização e no
ordenamento territorial do Estado. Essa reflexão tornou-se mais aguda a partir de
1994, quando nos engajamos como multiplicador e facilitador estadual do
Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT, fato que nos
aproximou sobremaneira da realidade do turismo nos municípios do Estado, além
de estar nos possibilitando trocas constantes de informações e experiências com
multiplicadores de outros Estados do país, seja durante as oficinas e eventos do
programa em Brasília, seja através de contatos pessoais informais.
Também para a nossa atuação como docente na disciplina de
Planejamento e Organização do Turismo, no curso de Graduação em Turismo, a
temática em torno da questão do ordenamento do território, na busca de um
modelo de desenvolvimento turístico, mostra-se extremamente relevante e
pertinente, tornando-se uma excelente oportunidade de exercitar e testar uma
série de conhecimentos, métodos e indicadores, desenvolvidos a partir da
experiência profissional prática e ainda sem uma formatação teórico-científica
estruturada.
O desenvolvimento desse estudo sobre o ordenamento territorial do
turismo no Estado permitiu, também, melhor apreensão das possibilidades da
atividade turística serem um vetor de desenvolvimento para os seus municípios,
desde que respeitando suas características socioespaciais, otimizando os
benefícios gerados e minimizando os impactos negativos provocados.
Entendemos ser no território que o turismo sempre se manifesta e que
sem o seu ordenamento, é impossível garantir que o crescimento do setor seja
fator gerador de um processo de desenvolvimento socioespacial3 para as
comunidades locais. Esse processo de desenvolvimento deve ser sustentável,
equilibrado, justo e objetivar mudanças em três direções: do crescimento
econômico, do bem-estar social e do exercício da cidadania, permitindo que as
comunidades tenham autonomia sobre os seus territórios e lugares e,
conseqüentemente sobre suas vidas.
3 Aqui entendido como o processo de desenvolvimento que possibilita às comunidades locais a superação dos seus problemas e o avanço no sentido de obter melhores condições que lhes propiciem a obtenção de maior grau de felicidade individual e coletiva.
19
Partindo das propostas metodológicas de Edgar Morin, buscamos
desenvolver nossas pesquisas, utilizando, principalmente o seu macro-conceito
de “sistema – organização – interações” (Morin, 1999, p.164), o qual nos permitiu
evitar numa análise reducionista, estruturalista e/ou funcionalista, como aquela
ditada pela teoria geral dos sistemas, e aplicada por BENI (1988) para a
identificação, análise e compreensão do sistema turístico nacional.
Podemos dizer que o sistema do turismo seja constituído “não só de
‘partes’ ou ‘constituintes’, mas de ações entre unidades complexas, constituídas,
por sua vez, de interações.” (Morin, 1999, p.264). Além disso, dando “coerência
construtiva, regra, regulação, estrutura etc. às interações” (ibidem, p.265), temos
a organização do sistema, entendendo-a como algo mais amplo que o conceito
de estrutura.
Por outro lado, visualizamos a dimensão espacial e territorial do
sistema do turismo, através dos três elementos organizadores propostos por
RODRIGUES (1997a): os pólos compostos pelas áreas emissoras de turistas, os
pólos definidos pelas áreas receptoras e as linhas de ligação desses pólos, por
onde circulam os turistas e as informações. É nesses três elementos que o
sistema do turismo se organiza territorialmente e sobrepõem todos os seus
componentes fixos e fluídos.
Por ser antes de tudo um fenômeno socioespacial, o estudo do turismo
não deve ser simplificado a um recorte espacial e escalar único. Para uma
compreensão do turismo e da sua lógica espacial, precisamos nos afastar das
abordagens limitadas a apenas uma escala e nos lançar ao uso de diversos
recortes espaciais e escalares que nos permitam “considerar as interações
socioespaciais horizontais e as articulações ‘verticais’ entre os fatores” (Souza,
1997, p. 49) que o fenômeno estabelece em diferentes níveis de escala.
Para este nosso estudo, priorizamos duas escalas distintas de
pesquisas: uma mais ampla, abrangendo todo o território estadual, e outra mais
reduzida, que nos permitiu observar, de maneira mais detalhada, o sistema
turístico em toda a sua complexidade. Nesse segundo nível, a fim de permitir
algumas comparações, escolhemos como objetos empíricos de pesquisa os
20
municípios de Arraial do Cabo e Armação dos Búzios. Essa escolha foi baseada
na nossa vivência profissional e em algumas coincidências existentes entre eles:
ambos foram emancipados político-administrativamente recentemente (Arraial do
Cabo em 1986 e Armação dos Búzios em 1995), a partir de desmembramentos
feitos no território do município de Cabo Frio; ambos apresentam características
geomorfológicas e socioculturais semelhantes; ambos têm no turismo uma
atividade importante, apesar de cada um estar inserido em níveis distintos do
mercado turístico.
Na escala estadual foi possível visualizarmos os nós das redes de
lugares turísticos e, pelo estabelecimento das relações e interações entre eles,
compreendermos o seu ordenamento territorial. Por outro lado, na escala local de
Armação dos Búzios e de Arraial do Cabo, identificamos as relações e interações
entre as partes constituintes dos sistema turístico local e, através delas,
estudamos os distintos mecanismos e processos utilizados para as suas
inserções no mercado turístico.
Dado que, como já dito anteriormente, nosso trabalho não se enquadra
no campo específico da Geografia, optamos por apresentar, no capítulo dois, uma
revisão teórica sobre a complexidade sociocultural do fenômeno turístico e dos
paradigmas científicos atuais, que nos possibilitaram o seu estudo e
entendimento.
Ainda nesse mesmo capítulo, apresentamos as categorias geográficas
de análise que nortearam nossas pesquisas. Após uma breve abordagem sobre a
organização espacial do turismo, onde apresentamos nosso entendimento do
sistema e do produto turístico, avançamos na análise das categorias de rede,
territórios-rede, lugar e lugar turístico. Esta última categoria, lugar turístico, ainda
não está plenamente discutida e estruturada nos trabalhos acadêmicos, o que nos
levou a elaborar uma aproximação teórica própria, ainda incipiente, mas
necessária para os objetivos deste trabalho.
No capítulo três, reconstituímos o processo de construção territorial do
turismo no Estado do Rio de Janeiro, partindo da sua evolução histórica,
passando pelas diversas tentativas de ações institucionais que objetivavam seu
21
ordenamento nos últimos trinta anos e pela distribuição dos fluxos de visitantes no
seu território, o que nos permitiu estabelecer uma primeira visualização da atual
organização territorial da atividade turística estadual.
Tendo sempre dois meta-pontos de observação, um de escala mais
ampliada, cobrindo todo o territorial estadual e outro, numa escala mais reduzida,
focalizando os municípios de Armação dos Búzios e de Arraial do Cabo,
apresentamos, nos capítulos quatro e cinco, os resultados de nossas
observações e pesquisas de campo, apontando para a estruturação e o
funcionamento das diversas redes do turismo, e para os processos diferenciados
de inserção e de articulação dos lugares turísticos dentro dessas mesmas redes.
2 FENÔMENO TURÍSTICO, MÉTODOS E CATEGORIAS DE ANÁLISE O fenômeno turístico é visto por muitos estudiosos como um dos
vetores mais significativos para o entendimento dos movimentos sociais
contemporâneos e do fenômeno da globalização pela qual o planeta passa na
atualidade. Para VERA et al (1997), o turismo é parte importante nos processos
de “globalização econômica e de mundialização territorial” (p.11), devendo ser
entendido também como fator responsável pela construção de novos espaços
regionais e locais, gerando impactos nas sociedades e nos territórios do final do
século XX. Sendo um fenômeno essencialmente socioespacial, que nasce do
movimento de pessoas e dos seus momentos de parada em determinados
lugares – os lugares turísticos - o turismo produz um tipo de ordenamento
diferenciado nesses lugares, com uma lógica estruturada a partir de um complexo
sistema estrutural que o compõe.
Para buscar o entendimento da complexidade do ordenamento
territorial do turismo no Estado do Rio de Janeiro, sentimos a necessidade de
estruturar as linhas teóricas metodológicas que irão servir de base para a nossa
discussão, tarefa que objetivamos desenvolver no presente capítulo.
Decidimos iniciar essa aproximação teórica por uma revisão nos
referenciais teóricos existentes sobre o turismo, tarefa não muito simples dado os
estudos acadêmicos sobre tal fenômeno serem relativamente recentes e pouco
sistematizados, quando comparados com outros temas. Iniciamos pela análise
das diversas linhas de conceituações do fenômeno turístico, seguida de uma
breve evolução histórica, as quais irão servir de base para o entendimento do
turismo pós revolução industrial.
23
Num segundo momento, realizamos uma revisão dos diversos
paradigmas científicos vigentes, que nos orientaram no desenvolvimento no
presente trabalho, com especial atenção para o paradigma da complexidade,
proposto por MORIN (1999).
Finalmente, a partir da organização espacial do turismo,
desenvolvemos um estudo sobre as categorias de análise que utilizaremos no
decorrer do presente trabalho: redes, territórios-rede, lugar e lugar turístico, sendo
esta última uma primeira tentativa nossa de estabelecer uma categoria de análise
geográfica para o fenômeno turístico, ainda embrionária e que pretendemos
aprofundar em estudos futuros.
2.1 Turismo: fenômeno socioespacial complexo
Para o homem em estado de carência , a nossa sociedade oferece o turismo, as férias, longe do universo cotidiano, sob as formas mais diversas, e os paramentam com todas as qualidades: permitem a evasão, resolvem os problemas, distribuem força e energia, embelezam a existência e trazem a felicidade[...]Em uma sociedade completamente orientada para as viagens, ficar em casa pode parecer difícil de justificar sem que haja uma perda do prestígio social (Krippendorf, 1989, p.41-2).
Para estabelecermos o marco conceitual para o presente estudo,
julgamos necessário uma recuperação do referencial teórico existente sobre o
fenômeno do turismo. Dado nosso objetivo estar centrado na busca do
entendimento do ordenamento territorial do turismo, não iremos aqui, nos
aprofundar em questões epistemológicas e ontológicas do tema.
Em linhas gerais, buscamos a evolução conceitual e histórica do
turismo, até chegarmos ao turismo moderno1, pós-revolução industrial, buscando
comprovar tratar-se de um fenômeno social complexo e multifacetado,
característico da sociedade moderna capitalista.
1 Cf. nota n.º 2, p.15
24
Ao considerarmos o turismo como um fenômeno complexo, propomos
entendê-lo como uma teia de ações, interações e retroações que formam um
sistema aberto, o qual, de acordo com MORIN (1999), deve ser visto com um
“conceito não totalitário e não hierárquico do todo, mas, ao contrário, [n]um
conceito complexo das unitas multiplex, aberto às politotalidades” (p.264).
2.1.1 Aspectos conceituais do turismo O fenômeno turístico vem sendo estudado de maneira sistemática e
cientifica, desde o início do presente século. Segundo ACERENZA (1991) e
PADILLA (1997), um dos primeiros autores a se preocupar com o estudo do
turismo foi Schullern zu Schrattenhofen que, em 1911, publicou sua obra Turismo
e Economia Nacional. Tratava-se de uma obra que apresentava uma abordagem
econômica para o assunto, em que o autor propunha o turismo como sendo “o
conceito que compreende todos os processos, especialmente econômicos, que se
manifestam na afluência, permanência e regresso do turista, para dentro e para
fora de um determinado município, país ou estado“ (apud Acerenza, 1991,v.1,
p.37).
Entretanto, o mesmo ACERENZA (1991), em seu trabalho para
recuperar as diversas tentativas de definição para o turismo, cita aquela de E.
GUYER que já em 1905, escrevia:
Turismo, no sentido moderno da palavra, é um fenômeno dos tempos atuais, baseado na crescente necessidade de recuperação e mudança de ambiente, o conhecimento e apreciação de beleza cênica, o gozo do contato com a natureza e é, em particular, produto da crescente fusão das nações e países da sociedade humana, como resultado do desenvolvimento do comércio, da indústria e dos mercados e o aperfeiçoamento dos meios de transportes (ibidem, p.28).
Essas primeiras investidas no estudo do turismo foram motivadas por
interesses econômicos e empresariais e tiveram na Alemanha seu local principal
de ocorrência. Segundo ANDRADE (1992), “em 1929, na fase moderna dos
estudos sobre o turismo, nasceu na Faculdade de Economia da Universidade de
Berlim o Centro de Pesquisas Turísticas, cuja produção teórica passou a ser
25
denominada como corpo de doutrina da Escola de Berlim” (p.34). Entre os autores
daquela Escola podemos destacar Robert Glücksmann, Wille Benscheidt,
Schrwink, Bormann, dentre outros.
Apesar de seus conceitos limitados aos aspectos econômicos do
fenômeno turístico, a Escola de Berlim pode ser considerada um ponto de
referência para os estudos que contribuíram para a formatação do referencial que
hoje estrutura a teoria do turismo (Andrade,1992).
Ainda na primeira metade do século XX outros autores, não ligados à
Escola de Berlim, também buscaram o entendimento teórico do turismo, como é o
caso do polonês Stanislas Lesczyck que, em 1937, escreveu que o “movimento
turístico é aquele em que participam pessoas que, durante certo tempo, residem
em determinado local como estrangeiro e forasteiro, e sem caráter lucrativo,
profissional e militar” (apud Andrade, op.cit., p. 35).
Já em 1942, os suíços Walter Hunziker e Kurt Krapf apresentaram a
seguinte conceituação de turismo, adotada pela Association Internationale
d’Experts Scientifiques du Tourisme –AIEST, até os dias de hoje:
Turismo é o conjunto das relações e fenômenos produzidos pelo deslocamento e permanência das pessoas fora de seu lugar de domicílio, desde que esses deslocamentos e permanências não tenham sido motivados por uma atividade lucrativa, permanente ou temporária (Hunziker e Krapf, apud Acerenza, op.cit.,p.28, Andrade, op.cit., p.37 e Padilha:1997, p.15)).
Esses pesquisadores “da área das ciências econômicas e financeiras
criaram o Institut für Fremdenverkehr (Instituto de Turismo), na Universidade de
Berna, o Seminar für Fremdenverkehr und Verkehrspolitik (Seminário de Turismo
e Política), na Escola Superior de Comércio em Saint-Gallen, e o Institut für
Fremdenverkehrsforschung (Instituto de Pesquisas Turísticas), na Escola de
Comércio Internacional de Viena” (Rejowsky, 1996, p.16), e tornaram-se
referências para a estruturação do conhecimento científico do turismo moderno.
Atualmente, a maioria dos estudiosos entende o turismo como um
fenômeno amplo, que exige um conhecimento transdisciplinar. RODRIGUES
26
(1997a) nos coloca que, “em face da sua complexidade o turismo deve ser
abordado em âmbito multidisciplinar, particularmente pelo conjunto das ciências
sociais” (p.41). Na mesma obra, aquela autora complementa sua proposta para
um método científico para a pesquisa turística, colocando-nos que “a tendência
cada vez mais assumida é a queda dos limites rígidos entre as disciplinas das
chamadas ciências sociais, mesmo porque, rumo à transdisciplinaridade, parece
não ser mais pertinente nem a distinção entre as ciências sociais e naturais”
(p.76).
Dentre as inúmeras definições e conceituações sobre turismo,
produzidas nos últimos anos, destacamos algumas, as quais irão nos servir de
referencial para compormos nossa proposição conceitual:
O turismo é o movimento temporário de pessoas para destinos distintos de seus lugares normais de trabalho e residência, de maneira que implica tanto as atividades empreendidas durante sua estada nesses destinos, como as facilidades criadas para satisfazer suas necessidades (Mathieson & Wall, 1990,p.9).
O turismo, na atualidade, é o resultado de processos sociais e culturais, não completamente quantificáveis (Molina, 1991, p.11).
O turismo é um fenômeno social de caráter complexo, [...] um conjunto de relações e fenômenos produzidos pelo deslocamento e permanência de pessoas, fora de seu lugar de residência permanente, motivados principalmente por uma atividade não lucrativa (Acerenza, 1991,v.1, p.49).
O turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em lugares distintos ao de sua residência habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a um ano com fins de ócio, por negócios ou outros motivos (OMT, 1994, p.5)
O turismo é um fenômeno multidimensional, e qualquer intervenção no sentido de analisá-lo ou de incrementá-lo deverá ocorrer de maneira globalizante. Dizendo de outra maneira, o turismo abrange componentes sociais, culturais, políticos, ecológicos, psicológicos, tecnológicos, econômicos, pressupondo um tratamento não parcial (Paiva, 1995, p.32).
Turismo é o estudo do homem longe de seu local de residência, da indústria que satisfaz suas necessidades, e dos impactos que ambos, ele e a indústria, geram sobre os ambientes físicos, econômicos e sociocultural da área receptora (Jafari apud Beni,1998, p.38)
El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, descanso, cultura o
27
salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interrelaciones de importancia social, econômica y cultural Padilla,1997, p.16).
Etimologicamente o termo turismo tem sua origem no termo tour, da
lingua inglesa, “provavelmente como um galicismo, do termo francês tour”
(Acerenza, op.cit., p.27). Entretanto, para ANDRADE (1992), “a matriz do radical
tour é o latim, através do substantivo tornus, do verbo tornare, cujo significado é
giro, volta, viagem ou movimento de sair e retornar ao local de partida” (p.30).
O mesmo autor vai mais longe e nos informa que, muito anterior ao
“termo latino tornus é a palavra tour, não da língua francesa, mas do hebraico
antigo, em seu sentido puro e literal, como expressão designativa de viagem de
exploração de descoberta, de reconhecimento, usado como indicativo de viagem
turística no Livro dos Números” (ibidem, p.31).
PADILLA (1997) também aponta essa origem hebraica do termo,
“porquanto figura na Bíblia (Cap. XII, vers.17), onde se menciona que Moisés
envia uns representantes ao país de Cannaã para que o visitem, e
posteriormente, informem sobre suas características” (p.13).
ANDRADE (1992) nos coloca que a palavra chegou à lingua
portuguesa através da transposição do vocábulo inglês tour, que teria sido usado
pela primeira vez na Inglaterra, em 1760, conforme registro da edição de 1950 do
The shortes Oxford english dictionary (p.30).
2.1.2 Os primórdios do fenômeno turístico Não iremos aqui discorrer sobre a história do turismo, mas apenas
elencar alguns dos seus pontos mais significativos, que nos permitam estabelecer
o surgimento do turismo moderno2, como um elemento da sociedade capitalista
industrial, no qual iremos concentrar nossos estudos sobre a lógica espacial
desse fenômeno.
2 Cf. nota n.º 2, p.15
28
Grande parte dos teóricos do turismo concorda que o ato de viajar ou
de se deslocar pelo território é característico do homem enquanto ser racional.
Para ANDRADE (1992) o homem, "desde que concluiu que gostava ou carecia de
ampliar seu campo de ação, através de deslocamentos em busca de víveres, de
aumento de território tribal ou reduto familiar, ou mesmo para saciar sua
curiosidade a respeito do que o pudesse impertigar por causa da possibilidade de
alguma nova existência além do horizonte conhecido, aprendeu a viajar” (p.14).
Em um processo de aprendizado lento, o homem foi levado a se
preocupar com o planejamento dos seus deslocamentos, procurando prever o
tempo da duração, o roteiro mais seguro e as maneiras como suprir suas
necessidades básicas durante a viagem.
Nessa linha de raciocínio, ACERENZA (1991) e PADILLA (1997)
enumeram uma série de evidências quanto à existência de viagens, já na
Antigüidade. Para aqueles autores a Odisséia, escrita por Homero, mostra
claramente que os gregos viajavam entre suas cidades, por ocasião dos jogos
olímpicos, assim como Heródoto, em diversas obras, descreve diversas viagens
realizadas.
Os romanos, além de realizarem extensas viagens pelo seu império,
desenvolveram o hábito dos banhos termais e da construção de “villas” em
localidades próximas ao litoral. Ainda segundo ACERENZA (1991), os romanos já
mostravam preocupação com alguns elementos básicos para o turismo: estradas
calçadas, sistema de comunicação e “a existência de tempo livre para alguns
súditos do império” (v.1, p.54).
Com o fim do Império Romano, a insegurança provocada pelas
invasões bárbaras no continente europeu, leva a uma retração nas viagens, que
só foram retomadas pelos peregrinos séculos mais tarde, nos seus
deslocamentos em grupos, na busca dos locais sagrados como Canterbouring,
São Tiago de Compostela e Jerusalém. O movimento das Cruzadas fizeram
ressurgir “as viagens e contribuíram para revitalizar o comércio, como
conseqüência do movimento de soldados, peregrinos e mercadores que
transitavam ao longo dos caminhos da Europa Medieval” (ibidem, v.1, p.54).
29
No ano de 1282 surge, na cidade de Florença, a primeira associação
de estalajadeiros, com o objetivo de tornar o serviço de hospedagem uma
atividade comercial institucionalizada. No ano de 1290, a cidade já contava com
oitenta e seis pousadas licenciadas (Acerenza,1991). Seguindo o exemplo de
Florença, Roma e Veneza também regulamentaram o negócio de hospedagem na
mesma época.
Somente no século XV podemos perceber o surgimento de viagens
com motivação diferente daquela dos peregrinos. Para ACERENZA (1991), “no
período que se inicia no século XVI e que vai até quase meados do século XIX, se
estabelecem as bases do turismo moderno” (v.1,p.56). Foi nessa fase da história
humana que surgiu o hábito do grand tour:
Os ingleses, importantes e ricos, consideravam detentores de cultura apenas quem tivesse sua educação ou formação profissional coroada por um grand tour através da Europa, programa que se iniciava na Holanda, passando, depois, à Bélgica e Paris, de onde os turistas passavam ao sudoeste francês e daí a Sevilha, via Madri e Lisboa. A etapa seguinte se caracterizava pelos deslocamentos por pontos importantes da França não contemplados na etapa anterior, pela Suíça, pela Itália, até chegar à velha Grécia (Andrade, 1992, p.9).
Com as descobertas de novas terras, os mais abastados passaram a
incluir nos seus grand tours, as viagens às Américas, às Índias Orientais, ao
Extremo Oriente, ao Brasil, mais especificamente ao Rio de Janeiro, e ao sul da
África (ibidem, p.10).
No século XVIII há um renascimento do hábito curativo e social dos
banhos termais, já conhecidos e bastantes difundidos na Grécia Antiga e no
Império Romano. URRY (1996) nos aponta o fato de nesse século, terem
aparecidos diversos “balneários” com objetivos medicinais. Segundo aquele autor,
o mais antigo foi o de Scarborough, na Grã-Bretanha, cujas origens remontam a
1626, “quando uma certa senhora Farrouw notou uma fonte na praia” (p.34). Já
ACERENZA nos mostra que “na primeira metade do século XVIII, Bath e muitos
outros centros termais contavam com uma boa atividade social e atraíam as
pessoas mais importantes da época.[...] Em meados do século XVIII foram
30
publicados algumas teses sobre o uso da água do mar e isso generalizou uma
nova moda nas viagens” ( op.cit., p.53).
As transformações econômicas e sociais provocadas pela Revolução
Industrial e o conseqüente aparecimento de uma classe média próspera “com
novos gostos e necessidades, especialmente no que se referia às férias, e
favorecidas pelos rápidos progressos ocorridos nos transportes, geraram um
aumento considerável no número de pessoas que viajavam por prazer” (ibidem,
p.59). Em 1824, funda-se nos Estados Unidos a cidade de Atlantic City, primeiro
centro turístico de férias e praia, situada próxima de Nova York e ponto terminal
da Companhia Camden and Atlantic Railroad.
O ano de 1841 é considerado o marco inicial do turismo moderno.
Nesse ano Thomas Cook funda, na Inglaterra, a primeira agência de viagens do
mundo, a Thomas Cook and Sons, enquanto Henry Wells cria a American
Express Company, nos Estados Unidos. Nessa mesma época, surge na cidade
do Porto (Portugal), a agência de viagens Abreu. Essas três instituições, dentre
outras, continuam operando até os dias de hoje, tendo sido responsáveis pela
implantação de muitos dos aspectos operacionais da atividade turística (vouchers,
reservas antecipadas, etc.).
2.1.3 O turismo na era industrial capitalista
O Turismo traduz a idéia básica de movimento. Um movimento que pode ser direcionado para fora e para longe, ao mesmo tempo em que pode voltar-se para dentro e para perto. O importante é que o Turismo estimula a pessoa a sair de si, levantar âncoras, abrir asas, soltar-se e deixar-se planar, espantado-se com a própria leveza (Moesch, 1998, p.83).
O turismo classificado como moderno pelos teóricos do fenômeno, tem
suas raízes diretamente ligadas a dois importantes fatos da modernidade
histórica: o surgimento da sociedade capitalista industrial e a aceleração do
processo de urbanização. Alguns chegam, como dito anteriormente, a precisar a
data de 1841 como marco de início do turismo moderno, fazendo alusão,
31
principalmente, ao início de operações da agência de viagens de Thomas Coock,
na Inglaterra.
Atualmente a necessidade de viajar está intrinsecamente ligada às
condições sociais da nossa sociedade. Levadas pelo ritmo rápido e estressante
das suas rotinas diárias, as pessoas buscam romper esse ciclo vicioso viajando,
temporariamente, para fora do seu lugar cotidiano. Segundo URRY (1996), “tais
práticas envolvem o conceito de ‘afastamento’, de uma ruptura limitada com
rotinas e práticas bem estabelecidas da vida de todos os dias, permitindo que
nossos sentidos se abram para um conjunto de estímulos que contrastam com o
cotidiano e o mundano” (p.17).
As transformações econômicas e espaciais provocadas pela revolução
industrial no século XIX, deram origem a uma classe proletariada que, por meio
de lutas sociais, foi se organizando e adquirindo algumas vantagens e alguns
direitos sociais, tais como: diminuição da jornada diária de trabalho, férias e fins
de semana remunerados, etc. É o momento do tempo livre se expandir e das
atividades de recreação se multiplicarem. Para RODRIGUES (1997a), “as razões
dessa expansão são complexas e derivam de fatores que atuam não de forma
linear, mas de maneira interativa no processo global, situando-se nos campos
econômico, social, psicológico, político, cultural, ideológico, além de outros”
(p.38).
O aumento do tempo livre, aliado aos grandes avanços tecnológicos
dos sistemas de comunicação e de transportes, deu origem ao que chamamos de
turismo de massa, expressão mais marcante do turismo moderno. A viagem deixa
de ser privilégio da classe mais abastada e sinal de status, para tornar-se mais
acessível a um número crescente de pessoas.
Quase que simultaneamente a isso, no seu eterno movimento de
reprodução, o capital se apropria do tempo livre conquistado pelos trabalhadores,
e o transforma em tempo de consumo. A recreação, o lazer e a viagem passam a
ser vistos como necessidades essenciais do homem para “a auto-preservação e
para o reconhecimento e admiração do grupo social no qual esta inserido [...] Há
32
quem diga que ao Homo sapiens sucede o Homo turisticus, um produto da
sociedade de consumo” (Rodrigues, op.cit., p.39).
Para KRIPPENDORF (1989), as características do cotidiano da
sociedade moderna – trabalho cada vez mais mecanizado, fragmentado e
determinado fora da esfera da vontade do indivíduo – criam uma sensação de
monotonia, de repressão dos sentimentos, de isolamento e, “geram o stress, o
esgotamento físico e psíquico, o vazio interior e o tédio [...]. Para encontrarmos
uma compensação a tudo que nos falta no cotidiano [...] viajamos [...]. Com efeito,
viajamos para viver, para sobreviver. Assim, o grande êxodo das massas que
caracteriza nossa época é conseqüência das condições geradas pelo
desenvolvimento da nossa sociedade industrial” (p.17).
Dessa maneira, a lógica capitalista se reproduz mais uma vez: o turista
viaja para recuperar energias para poder retornar ao seu cotidiano, e continuar
vendendo sua força de trabalho. E mais, enquanto viaja consome os elementos
criados para satisfazê-lo: a paisagem, o clima, a cultura, etc. Tão logo retorna ao
seu dia-a-dia, vê ressurgir o desejo de viajar. Estabelece-se o ciclo vicioso
característico da sociedade moderna: trabalho-viagem-trabalho-viagem.
Trabalhamos sobretudo para poder sair em férias, e temos necessidade das férias
para podermos retomar nosso trabalho. Temos então o “turismo como terapia da
sociedade, como válvula que faz manter o funcionamento do mundo de todos os
dias” (Krippendorf, op.cit., p.18).
Aqui iniciamos o esboço do nosso referencial teórico, necessário para
entendermos a lógica espacial do turismo, dentro do sistema capitalista
hegemônico vigente. O fenômeno do turismo não existe solto, desarticulado, com
leis próprias. Ele é resultado e elemento constitutivo do sistema social que
caracteriza nossa civilização.
KRIPPENDORF (1989), nos seus estudos sociológicos sobre o turismo
do nosso século, aponta-o como um dos “fenômenos mais formidáveis e mais
singulares da nossa época” (p.24) e para entendê-lo, propõe que partamos pela
descoberta da sua natureza, o que exige buscar a compreensão do modo como
os seus elementos se ligam, quais são suas causas e seus efeitos.
33
Numa primeira aproximação, enumeramos alguns pontos teóricos
norteadores para a nossa compreensão do fenômeno turístico:
a) o turismo é um fenômeno que envolve os deslocamentos
espaciais, voluntários e temporários, de pessoas ou de grupos
de pessoas, para fora dos seus lugares de moradia habitual;
b) trata-se de um fenômeno característico da modernidade,
diretamente vinculado ao capitalismo industrial e ao processo de
urbanização;
c) a massificação da vontade de viajar é produto da sociedade
capitalista moderna que, ao criar a necessidade do homem
“recarregar as baterias” para recompor-se, apropria-se do tempo
livre do trabalhador e o transforma em tempo de consumo;
d) o tempo livre do trabalhador, transformado em tempo de
consumo, aliado à homogeneização capitalista que valoriza o
exótico e o diferente, faz surgir o consumo das paisagens por
parte do turista, gerando o processo de turistificação3 de
determinados lugares;
e) esses “lugares turísticos” não sobrevivem isolados, e das
articulações que estabelecem entre si e com as áreas emissoras
de turistas, surge uma série de redes funcionais, em diversos
níveis escalares, responsáveis pela estruturação e pelo
funcionamento de um sistema complexo;
f) esse sistema, seguindo a linha de pensamento proposta por
MORIN (1999a), é composto por diversas partes que têm
“identidades próprias”, as quais não se desfazem para compor a
unidade do sistema. A unidade total do sistema sendo entendida
como uma “unitas multiplex” (p.260).
3 Neologismo utilizado por alguns autores como VERA et al (1997), KNAFOO (1996) e NICOLAS (1996), para indicar a apropriação dos lugares pela atividade turística.
34
2.2 Paradigmas atuais para entender o fenômeno turístico Tomando LEFÈBVRE (1978) como referencial, entendemos estar
vivendo uma época onde as preocupações intelectuais para o desenvolvimento
do conhecimento humano, apresentam-se repletas de dificuldades e contradições.
Para aquele autor, “o problema não é mais apenas o de dominar a natureza, mas
o de dominar racionalmente e de organizar os produtos da atividade humana: a
vida econômica e social, a própria natureza do homem” (p.77). O problema atual
que se apresenta é extremamente multifacetado e multiforme, exigindo maior
aperfeiçoamento e flexibilização dos métodos de estudo e pesquisa.
A fragmentação do conhecimento, proposto pelo positivismo, levou a
uma divisão da ciência em disciplinas, sem, no entanto, estabelecer um campo de
encontro, onde fosse possível um processo de tradução entre elas, que levasse a
uma totalidade do conhecimento. Essa separação, apesar de ter permitido
avanços consideráveis em todas as disciplinas, acabou criando um novo e quase
insolúvel problema. Para LEFÈBVRE (1978), “o positivismo de Comte, portanto,
simplifica exageradamente a história complexa, acidentada, multiforme, do
conhecimento” (p.74).
Para SOUZA SANTOS (1987), no paradigma moderno, “a matemática
fornece à ciência moderna, não só o instrumento privilegiado de análise, como
também a lógica da investigação [...] Em primeiro lugar, conhecer significa
quantificar [...] O que não é quantificável é cientificamente irrelevante. Em
segundo lugar, o método científico se assenta na redução da complexidade. O
mundo é complicado e a mente humana não pode compreender completamente.
Conhecer significa dividir e classificar para depois poder determinar relações
sistemáticas entre o que se separou” (p.14-15).
Pelo paradigma dominante da ciência moderna, para se obter o
conhecimento deve-se dividir, quantificar, classificar, segundo as causas e os
efeitos, num processo contínuo de purificação e mediação, em busca de
princípios e leis. Essa característica fundamental desse paradigma leva-nos a um
total distanciamento entre sujeito e objeto, entre ser e ente. O que é privilegiado é
35
“o como funciona das coisas em detrimento de qual o agente ou qual o fim das
coisas” (Souza Santos, op.cit., p.16), levando as leis e princípios gerais,
desconectados do contexto do fato, a serem aplicáveis a qualquer lugar e em
qualquer tempo, sem levar em consideração a incerteza e a desordem.
Contrapondo-se a essa lógica formal, LEFÈBVRE propõe outra lógica,
a lógica dialética. Para ele sujeito e objeto estão em permanente movimento de
interação entre si, “essa interação será expressa por nós com uma palavra que
designa a relação entre dois elementos opostos e, não obstante, partes de um
todo, como uma discussão ou num diálogo; diremos por definição, que se trata de
uma interação dialética” (Lefèbvre, op.cit., p.49).
Essa colocação de LEFÈBVRE aponta para a impossibilidade de
separar-se sujeito e objeto, sob o risco de não chegarmos a nenhum fato, a
nenhum conhecimento. Para o autor, necessitamos encontrar um método de
superação desses conhecimentos dispersos, fragmentados: “trata-se [...] de reunir
racionalmente, lucidamente, a prática e a teoria, o objeto e o sujeito [...] Uma tal
unificação... reclama métodos novos, uma lógica ao mesmo tempo rigorosa e
flexível, que se mantenha ao nível do trabalho do pensamento científico”
(ibidem,p.78-79).
Partindo-se do pressuposto de que as ciências sociais têm sempre um
forte componente subjetivo, entendemos que os métodos de investigação mais
coerentes para atingir o conhecimento dos fenômenos sociais devam ser mais
qualitativos, de modo a possibilitar a obtenção de um conhecimento intersubjetivo,
e compreensivo, em vez de um conhecimento objetivo, explicativo e meramente
descritivo.
Na sua proposta para um paradigma “pós-moderno”, SOUZA SANTOS
(1987) coloca que “ o conhecimento do paradigma emergente tende, assim, a ser
um conhecimento não dualista, um conhecimento que se funda na superação das
distinções tão familiares e óbvias que até há pouco considerávamos
insubstituíveis, tais como, natureza/cultura, natural/artificial, vivo/inanimado,
mente/matéria, observador/observado, subjetivo/objetivo, coletivo/individual,
animal/pessoa” (p.39-40). Para o autor, a separação entre ciências naturais e
36
ciências sociais tende a ser superado por esse novo paradigma: “à medida que as
ciências naturais se aproximam das ciências sociais estas aproximam-se das
humanidades. O sujeito, que a ciência moderna lançara na diáspora do
conhecimento irracional, regressa investido da tarefa de fazer erguer sobre si uma
nova ordem científica” (p.43).
Esse paradigma emergente, “pós-moderno”, propõe o conhecimento
como sendo total e local. Ainda segundo o mesmo autor, “a fragmentação pós-
moderna não é disciplinar e sim temática. Os temas são galerias por onde os
conhecimentos progridem ao encontro uns dos outros. Ao contrário do que
sucede no paradigma atual, o conhecimento avança à medida que o seu sujeito
se amplia” (ibidem,p.47). Esse conhecimento pós-moderno não é descritivo nem
determinístico. “é um conhecimento sobre as condições de possibilidades”
(ibidem,p.48) e, em função disso exige uma diversidade metodológica para ser
obtido.
O turismo vem gerando, nas últimas três décadas, um crescente
número de trabalhos científicos na busca de maior conhecimento da sua lógica e
estrutura. Segundo REJOWSKI (1996), “analisando a literatura técnico-científica
em Turismo, percebe-se que houve um grande crescimento nas duas últimas
décadas (1970 e 1980), prenunciando uma ‘explosão’ bibliográfica nos anos 90.
Apesar desse crescimento, tal literatura é dispersa e fragmentada [...].Isso
obviamente reflete a relativa maturidade e natureza da pesquisa turística,
configurando um verdadeiro desafio a pesquisadores e estudiosos, especialmente
àqueles dos países em desenvolvimento, em que a organização e sistematização
da documentação dessa literatura é incipiente” (p.37-38).
As pesquisas sobre a atividade turística vêm sendo desenvolvidas
dentro dos limites das mais variadas disciplinas das ciências sociais: economia,
sociologia, psicologia, geografia, etc. Levada pelo interesse do capital e do
mercado, a maioria dos trabalhos giram em torno dos aspectos econômicos do
fenômeno, num processo de purificação extremado, que não permite captar toda
a sua complexidade e extensão.
37
Entretanto, dada a sua grande incidência sobre o território, o turismo
vem despertando um crescente interesse por parte dos geógrafos que buscam
entendê-lo a partir de suas imbricações espaciais, principalmente a partir da
década de sessenta4. Enquanto RODRIGUES (1997a) aponta para o fato de a
grande maioria dos estudos geográficos sobre o fenômeno turístico estar limitada
aos conceitos da geografia tradicional, com poucos autores avançando nas linhas
do neopositivismo e da geografia crítica, VERA et al (1997), partindo da posição
de o turismo ser um fenômeno eminentemente socioespacial, argumentam que a
geografia “permite avançar na busca do conhecimento integral do turismo, tendo
em vista que no espaço turístico convergem as vertentes sociais e ecológicas de
outras aproximações científicas, exigindo do geógrafo uma visão integradora a
partir do conhecimento integral da dinâmica turística” (p.7).
No tocante ao desenvolvimento de uma metodologia de pesquisa
científica, os trabalhos envolvendo o turismo como tema de estudo apresentam-se
fragmentados e sem uma tendência bem definida. No seu trabalho Turismo e
Pesquisa Científica, REJOWSKI (1996), informa três tendências de abordagem
metodológica do turismo:
a) visão reducionista: analisa minuciosamente o todo dentro do qual estão inseridos objetos particulares, substancialmente fechados, unidos, mas isolados; o foco de estudo é sobre os elementos, não sobre as inter-relações; exemplos dessa abordagem são a maioria dos estudos na área de economia;
b) visão holística: em sua forma radical, o holismo representa o contrário: considera todas as partes como inseparáveis e, portanto, não-analisáveis isoladamente; exemplos são os estudos do turismo como um todo, considerando suas inter-relações;
c) visão sistêmica: emerge em função das limitações das aproximações reducionista e holística; segundo esta visão, a análise do turismo como um sistema permite observar peculiaridades do todo e, ao mesmo tempo, propriedades específicas das partes que compõem esse todo (op.cit., p.45).
As grandes dificuldades nos estudos do turismo ficam mais visíveis
quando o mesmo passa a ser compreendido como uma atividade humana
4 Esse interesse dos geógrafos pelo fenômeno turístico gerou a inclusão de uma disciplina de Geografia do Turismo na grade curricular de alguns Cursos de Graduação em Geografia do país, incluindo o da Universidade de São Paulo.
38
complexa, indo além da simples visão econômica. Para RODRIGUES (1997a),
“os elementos complicadores ampliam-se ao abordar-se o turismo, não só como
atividade econômica, mas sobretudo como fenômeno complexo, de natureza
econômica, social, política e cultural, traduzindo-se em expressões territoriais e
espaciais variadas e de naturezas distintas” (p.127).
Em razão dessa complexidade, recentemente, o turismo tem sido
objeto de diversos estudos por parte de cientistas brasileiros. Entre eles destaca-
se o de BENI (1998), no qual o autor procura “situar o Turismo, em toda sua
abrangência, complexidade e multicausalidade, em um esquema sintetizador
dinâmico que demonstre as combinações de forças e energias, sempre em
movimento, de modo a produzir um modelo referencial” (p.43). Trata-se de
trabalho extenso onde o autor, baseado na teoria geral dos sistemas, propõe uma
análise estrutural do turismo através da identificação e compreensão do seu
sistema e dos seus elementos, subsistemas e ambiente.
Essa linha metodológica, que privilegia a análise sistêmica, entende o
turismo como um sistema aberto, que deve merecer uma abordagem
multidimensional capaz de captar as influências do meio ambiente sobre ele, e
dele sobre o meio ambiente.
2.2.1 O paradigma da complexidade e o turismo Avançando na busca de um conhecimento mais amplo, capaz de dar
conta de todas as variáveis complexas que envolvem os fenômenos, MORIN vem
desenvolvendo uma proposta própria de um novo paradigma para a ciência, por
ele denominado de “paradigma da complexidade”5, o qual, segundo aquele autor:
Não ‘produz’ nem ‘determina’ a inteligibilidade. Pode somente incitar a estratégia/inteligência do sujeito pesquisador a considerar a complexidade da questão estudada. Incita a distinguir e fazer comunicar em vez de isolar e de separar, a reconhecer os traços singulares, originais, históricos do fenômeno em vez de ligá-los pura
5 MORIN (1999), propõe-nos o seguinte princípio explicativo complexo: “não se deve reduzir o fenomenal ao generativo, a ‘supraestrutura’ à ‘infraestrutura’, mas a explicação deve procurar compreender o processo cujos produtos ou efeitos finais geraram seu próprio recomeço” (p.262).
39
e simplesmente a determinações ou leis gerais, a conceber a unidade/multiplicidade de toda entidade em vez de a heterogeneizar em categorias separadas ou de a homogeneizar em indistinta totalidade. Incita a dar conta dos caracteres multidimensionais de toda realidade estudada (Morin, 1999, p.334).
Na busca de novos métodos e formas que nos permitam uma
compreensão mais ampla e mais próxima do conhecimento, MORIN (1996),
desenvolve um método de investigação baseado em três instrumentos (para ele,
operadores) do conhecimento. Segundo o autor, não se tratam de instrumentos
novos, inventados, e sim de instrumentos já existentes, apenas desenvolvidos e
reagrupados por ele, com o intuito de passar a incluir a subjetividade, a incerteza
e a imprevisibilidade nos estudos dos fenômenos.
O primeiro operador é a noção de sistema: “Um sistema é o conjunto
de partes diferentes, unidas e organizadas” (Morin, 1996, p.17), e “não só uma
constituição de unidade a partir da diversidade, mas também uma constituição da
diversidade (interna) a partir da unidade” (idem:1999, p.26) Aprofundando sua
proposição, o autor identifica três idéias centrais para esse conceito de sistema:
a) todo sistema tem uma organização dos seus elementos e, “o
todo organizado produz qualidades e propriedades que não
existem nas partes tomadas isoladamente” (ibidem, p.17);
b) todo sistema apresenta circularidade (retroação), em que os
efeitos produzidos passam a ser as causas num ciclo seguinte;
c) todo sistema tem uma circularidade autoprodutiva: “o produto é
ele próprio produtor. O efeito é ao mesmo tempo uma causa.”
(ibidem, p.18).
O segundo operador proposto por MORIN é o hologramático que
estabelece que “a parte está dentro do todo [...] o todo está no interior das partes”
(ibidem, p.18). A divisão de uma parte do sistema acaba produzindo duas partes
completas e não duas metades da parte inicial. Entretanto, o próprio autor alerta
para o fato de “o todo é mais do que a soma das partes, [...] é menos do que a
soma das partes [...] e mais do que o todo” (idem, 1999, p.261).
40
Por último, o autor propõe o operador dialógico, o qual estabelece que
“para compreendermos alguns fenômenos complexos, é necessário que juntemos
duas noções que a princípio são antagônicas, e que são, ao mesmo tempo,
complementares” (idem:1996, p.19). O universo seria fruto de uma dialógica entre
ordem e desordem, essa última funcionando, também, como um fator produtor da
organização do sistema.
MORIN (1996), também expressa a necessidade de, nos estudos das
ciências sociais e humanas, aproximarmos o conhecedor do conhecimento, de
modo a “rejuntar aquele que conhece ao seu conhecimento, ou seja, o observador
à sua observação” (p.20). O cientista deve entender que ele faz parte do seu
objeto de trabalho, ao mesmo tempo que este está dentro dele. Assim, ele precisa
saber que “não é proprietário de um verdadeiro conhecimento já de início, mas
que esse conhecimento é relativo” (ibidem, p.20).
O autor critica o paradigma atual por estar baseado na disjunção e na
separação do sujeito do conhecimento do objeto do conhecimento. Para ele, “o
paradigma da simplificação [...] conduz a um funcionamento neototalitário [...] à
manipulação das unidades em nome do todo. Pelo contrário, a lógica do
paradigma da complexidade não só vai no sentido de um conhecimento mais
‘verdadeiro’, mas também incita a procura de uma prática e de uma política
complexas” (idem, 1999, p.264).
A complexidade não admite um ponto de vista onisciente, aquele que
permitiria uma contemplação total do universo. “Não há um lugar possível de
onisciência. Mas o que se pode fazer para evitar o relativismo ou o etnocentrismo
total, é edificar metapontos de vistas” (Morin apud Schnitman, p.281). É através
desses metapontos de vistas que iremos estabelecer um conhecimento complexo,
que sempre incluirá uma autocrítica do observador-conceituador.
O turismo, além da tão falada importância econômica que o situa como
a terceira força em nível mundial, responsável por um movimento anual de
US$455,5 bilhões e de 656,9 milhões de pessoas que viajam para fora de seus
países de residência permanente (OMT, 1999), é uma atividade característica da
sociedade contemporânea, imbricado com o processo de globalização-
41
fragmentação, que deve ser entendido como um fenômeno amplo e complexo,
exigindo investigações científicas que extrapolem os campos isolados das
disciplinas.
Diante dessa complexidade do turismo, acreditamos que para atingir a
sua totalidade precisamos lançar mão de métodos de pesquisas menos rígidos e
mais flexíveis. Métodos científicos que possibilitem o alcance de todas as
relações e inter-relações da dinâmica espacial do turismo e dos seus reflexos na
lógica de ordenamento do território onde se inscreve.
Concordamos com SANTOS (1985) quando diz que “através de um
ponto de vista holístico é que se pode compreender a totalidade. Enquanto a
compreensão de um aspecto é necessária à apreensão do todo, é inadmissível
negligenciar qualquer uma das partes contribuintes [...] nenhum aspecto existe no
vácuo, razão pela qual só se pode compreendê-lo pela consideração de todas as
forças que atuam sobre ele e sobre seu papel no interior das relações
independentes” (p.52).
Seguindo essa tendência, para RODRIGUES (1997a) “caminha-se
então para uma postura transdisciplinar, uma vez que o conhecimento é total.
Transpõem-se os limites rígidos entre as disciplinas uma vez que a
disciplinarização do setor empobrece a apreensão da totalidade [...] O
conhecimento será buscado em eixos temáticos” (p.15).
O turismo se concretiza através de diversas formas, modalidades e
escalas dentro de um mesmo território. Está subordinado tanto às ações da
iniciativa privada quanto do Estado e, até mesmo, das pequenas comunidades
organizadas; todo esse movimento ocorrendo de forma sincrônica num mesmo
estado, região ou país. Sua velocidade de expansão está acima da maioria das
atividades humanas, não respeita fronteiras ou limites territoriais6 e alimenta-
se,
6 Essa característica do fenômeno pode ser observada no território do Estado do Rio de Janeiro, através das diversas articulações intermunicipais, que ora ocorrem, visando ordenar o seu desenvolvimento. Enquanto as fronteiras político-administrativas foram estabelecidas pelo processo histórico ou por critérios geográficos, os fluxo turísticos circulam sem respeitar ou se
42
quase sem escrúpulos, dos mais variados setores do conhecimento humano,
especialmente daqueles ligados aos avanços tecnológicos e informacionais.
Na base dessa atividade frenética está o homem, sujeito de todo o
fenômeno, com sua vontade inerente de se deslocar pelo território em busca do
desconhecido.
No nosso século, com as conquistas sociais obtidas pelas classes
trabalhadoras (descanso semanal, férias remuneradas e diminuição da jornada de
trabalho) tivemos a valorização do tempo livre, fato que propiciou o início daquilo
que a grande parte dos teóricos do fenômeno classificam como turismo moderno,
e que aqui estamos denominando de turismo da era industrial capitalista.
Entretanto, o tempo livre conseguido pela classe trabalhadora logo foi
apropriado pelo capital e transformado em tempo de consumo. A massificação do
turismo leva a uma “industrialização dos serviços turísticos, à sua incorporação ao
aparato produtivo convencional e à chegada de capitais de outros setores
econômicos num negócio com expectativas: o do ócio” (Vera et al: 1997, p.9).
O turismo estrutura-se a partir de três elementos básicos que têm
imediata imbricação com o território:
a) as áreas emissoras de fluxos de turistas, localizadas em pontos
privilegiados do território onde a população local possui as três
premissas básicas para se tornar turistas potenciais: tempo livre,
vontade de viajar e capital para comprar o produto turístico que o
satisfaça. É o locus de produção e venda do turismo, e seus
agentes principais são os operadores turísticos e a mídia;
b) os corredores de circulação, que interligam as áreas emissoras
às áreas receptoras, e se materializam no território através dos
sistemas de transportes; seus agentes básicos são as empresas
de transportes (aéreos, terrestres e hidroviários);
c) as áreas receptoras, lugar de consumo do produto turístico, onde
estão territorializados os elementos objetivos básicos do turismo:
importar com elas; a subjetividade com que o turista apreende e valoriza os lugares turísticos nem sempre permite o seu enquadramento naqueles limites político-adminstrativos vigentes.
43
os atrativos turísticos, os equipamentos e serviços turísticos e a
infra-estrutura de apoio. Pelas peculiaridades do turismo, em
alguns momentos tornam-se também local de produção de
algumas partes do produto turístico.
Para FALCÃO (1996), “o turismo, qualificado como uma nova
modalidade de consumo de massa, desenvolve-se no âmbito da emergente
economia das trocas invisíveis em escala nacional e internacional. Esta
modalidade se expande com a produção de bens (infra-estrutura, construções,
alimentos e produtos diversos) e serviços (transportes, hospedagem, alimentação,
etc.) que se integram para o consumo final. Esse conjunto de bens e serviços
oferece ao mercado de consumo as ‘condições de acessibilidade’ a determinado
lugar. O espaço, na dimensão do lugar, assume caráter de objeto de consumo e,
como tal, é (re)produzido e comercializado” (p.65). No nosso entender, é o
território, na escala do lugar, acrescido de um certo valor (simbólico) que se
transforma em produto e, como tal, é vendido e consumido.
Partindo do pressuposto de ser o turismo um sistema aberto,
complexo, composto por elementos, estruturas e subsistemas organizados e
interagentes, entre si e com o meio ambiente no qual está circunscrito,
procuramos compreender como se dá o processo de produção e consumo do
território por essa atividade humana, tão característica do nosso século.
Para tal, buscamos o entendimento da lógica territorial do turismo,
através da observação e análise do funcionamento do seu todo, identificado seus
elementos e suas interelações, seu processo de retroalimentação e seus reflexos
no ordenamento territorial nas áreas receptoras do Estado do Rio de Janeiro.
Dado entendermos que a concretização do turismo ocorre na escala
local dos lugares turísticos, optamos por trabalhar com duas escalas distintas de
pesquisas: uma mais ampla, abrangendo todo o território estadual, e outra mais
reduzida, que permitiu observar, de maneira mais detalhada, o sistema turístico
em toda a sua complexidade. A fim de permitir algumas comparações,
escolhemos para tal fim, os territórios dos municípios de Arraial do Cabo e
Armação dos Búzios. Essa escolha foi baseada na nossa vivência profissional e
44
em algumas coincidências existentes entre eles: ambos foram emancipados
política-administrativamente recentemente, a partir de desmembramentos do
território do município de Cabo Frio; ambos apresentam características físicas e
culturais semelhantes; ambos têm no turismo uma atividade importante, apesar
de cada um estar inserido em nichos distintos do mercado turístico.
Nossa base conceitual para entender o turismo como um sistema
aberto tem como referencial teórico inicial, o trabalho de dois autores recentes,
um da disciplina da Geografia, Milton Santos, e outro da área dos estudos
turísticos específicos, Mário Carlos Beni, aos quais agregamos os conceitos do
paradigma da complexidade de Edgar Morin, por sentirmos a necessidade de
uma ampliação dos horizontes conceituais propostos por aqueles autores, na
análise do nosso objeto de pesquisa.
Para SANTOS (1985) “um sistema pode ser definido como uma
sucessão de situações de uma população em um estado de interação
permanente, cada situação sendo uma função das situações precedentes” (p.33).
Já BENI (1998), em seu trabalho de construção do “Sistema de Turismo (Sistur),
a fim de conhecer a estrutura dessa atividade” (p.20), com base na Teoria Geral
de Sistemas desenvolvida a partir dos estudos do biólogo alemão Ludwig von
Bertalanffy, define sistema “como um conjunto de partes que interagem de modo
a atingir um determinado fim, de acordo com um plano ou princípio; ou conjunto
de procedimentos, doutrinas, idéias ou princípios, logicamente ordenados e
coesos com intenção de descrever, explicar ou dirigir o funcionamento de um
todo” (ibidem, p.25).
Nosso objetivo foi decodificar o ordenamento territorial do turismo no
Estado do Rio de Janeiro, buscando compreender o processo dinâmico de
seleção e produção dos lugares turísticos, e a inserção desses mesmos lugares
nas diversas redes de consumo.
Buscamos, ainda, identificar alguns dos critérios de valoração dos
lugares turísticos que determinam em qual escala da rede de consumo ele será
inserido. Ou seja, determinar porque um lugar turístico “A” é consumido numa
escala regional, enquanto outro lugar turístico “B”, aparentemente semelhante a
45
“A”, se insere numa rede de consumo mais ampla, de nível internacional. Para
essa tarefa, elegemos como base referencial empírica os municípios de Armação
dos Búzios e de Arraial do Cabo, por neles visualizarmos dois processos de
inserção naquelas redes bastante diferenciados.
Nossos pressupostos iniciais para a problemática proposta ficam assim
delineados:
a) o turismo tem no lugar o seu locus natural de produção,
reprodução e consumo. Esse processo é realizado através da
conjugação de uma série de elementos que, através de uma
rede de relações e interações, possibilitam a inserção e o
consumo do lugar turístico no mercado;
b) a seletividade dos lugares pelo turismo é estabelecida por
diferentes fatores, objetivos e subjetivos, simultâneos e não
excludentes, que fazem parte da estrutura e do processo de
relações e interações do sistema turístico;
c) o sistema turístico atua em diferentes níveis, do local ao global,
gerando lugares que têm sua valoração estabelecida a partir da
diferenciação subjetiva das suas características (físicas, sociais
e culturais) locais, as quais compõem a sua força identidária;
d) o Estado do Rio de Janeiro possui no seu território uma rede de
lugares turísticos, de diversos níveis, que funcionam, ora
independentemente, ora complementarmente uns aos outros.
Alguns desses lugares se inserem sincronicamente em várias
escalas das rede de consumo, produzindo lugares diferenciados
no mesmo território.
O turismo, visto como uma atividade marcante e importante desse fim
de século, apresenta uma aderência territorial bastante acentuada e complexa,
produzindo uma totalidade bastante abrangente. Concordado com MORIN (1996)
quando ele nos coloca que “devemos aprender a viver com a incerteza e não,
como nos quiseram ensinar há milênios, a fazer qualquer coisa para evitar a
incerteza” (p.285), pretendemos avançar nas nossas proposições, buscando
compreender o ordenamento do turismo na produção e no consumo dos seus
46
territórios como um processo dialógico de ordem e desordem, acrescido de um
grau considerável de incerteza e/ou de imprevisibilidade.
2.3 Categorias de análise: rede, território-rede, lugar e lugar turístico
Nos estudos do turismo só se logra um avanço em relação aos trabalhos meramente técnicos e operacionais quando a análise espacial capta a complexa engrenagem que expressa todos os elementos da oferta e todos os elementos da demanda e da população residente, em ação e interação recíproca (Rodrigues, op.cit., p.74).
Na nossa busca do entendimento do ordenamento territorial do turismo,
como em qualquer outro trabalho acadêmico, precisamos estabelecer as
categorias de análise necessárias para tal empreitada. Dessa forma, fomos
buscar dentre as categorias geográficas, aquelas que mais se adequam ao
estudo do turismo, enquanto fenômeno complexo da sociedade atual.
As categorias geográficas escolhidas foram a de rede, território-rede e
lugar, às quais estamos propondo agregar uma quarta categoria, lugar turístico,
com a qual entendemos ser possível atingir os objetivos de nossa pesquisa.
Entretanto, antes de entramos no detalhamento dessas categorias, optamos por
apresentar uma revisão nos estudos disponíveis sobre a organização espacial do
turismo, por entendermos que isso nos permite ampliar a discussão sobre aquelas
categorias propostas para nosso estudo.
2.3.1 Organização espacial do turismo
O turismo moderno, fenômeno típico da sociedade capitalista moderna,
apresenta imbricações espaciais e territoriais diversificadas e passíveis de
análises várias, conforme a escala de observação proposta. Sendo fruto de
atividades e práticas sociais diretamente ligadas ao movimento de pessoas e de
informações (Moesch,1998; Nicolas,1996), na sua essência o turismo produz e
consome espaços (Rodrigues,1997a; Nicolas,1996; Luchiari,1998), produzindo,
em conseqüência, territorialidades e territórios.
47
RODRIGUES (1997a), propõe duas leituras possíveis para a
compreensão do espaço geográfico do turismo. A primeira opção nos leva a
adotar a categoria da paisagem, para observar e entender a organização espacial
do fenômeno turístico. A segunda maneira para essa empreitada seria aquela
centrada na “abordagem dos processos sociais que [o] engendram” o turismo
(Rodrigues:1997a, p.48). Nesse último caso, a autora sugere que precisamos
buscar o apoio das categorias de análise do espaço geográfico propostas por
Milton Santos:
Para estudar o espaço, cumpre apreender sua relação com a sociedade, pois é esta que dita a compreensão dos efeitos do processo (tempo e mudança) e especifica as noções de forma, função e estrutura, elementos fundamentais para a nossa compreensão da produção do espaço. (Santos, 1997, p.49)
De acordo com RODRIGUES (1997a), essas quatro categorias –
forma, função, estrutura e processo – permitem abordar a organização espacial
do turismo, através de um processo de “decompor e recompor a totalidade nas
perspectivas sincrônica e diacrônica” (p.48), levando-nos a uma compreensão
mais ampla das suas formas de produção e consumo do espaço, além da sua
lógica de apropriação territorial.
Para ela, a categoria da forma é revelada pelo estudo da paisagem,
aspecto mais visível e concreto do turismo. Aqui acreditamos que precisamos ir
além do proposto por aquela autora, entendendo o conceito de paisagem não só
pela dimensão concreta e visível, mas também como uma subjetividade
construída. Recordando Augustin BERQUE , a paisagem “existe, em primeiro
lugar, na sua relação com um sujeito coletivo: a sociedade que a produziu, que a
reproduz e a transforma em função de uma certa lógica.[...] A paisagem é uma
marca, pois expressa uma civilização, mas é também uma matriz porque participa
dos esquemas de percepção, de concepção e de ação – ou seja, da cultura – que
canalizam, em um certo sentido, a relação de uma sociedade com o espaço e
com a natureza” (Berque, 1998, p.84-5).
O estudo da função, ainda de acordo com o proposto por Rodrigues
(1997), permite-nos a compreensão dos componentes, num período de tempo
48
determinado, do sistema turístico funcional: oferta turística, demanda turística,
gestão, promoção e distribuição do produto turístico (Beni,1998).
A categoria estrutura nos dá informações para elaborar, num processo
sincrônico, uma análise da dinâmica espacial do turismo e da sua rede de
relações. Finalmente a categoria processo irá nos dar “conta das ações e
interações de todos os elementos, contemplando as categorias forma, função e
estrutura, num movimento diacrônico” (Rodrigues,1997a,p.74).
Desenvolvendo as proposições de BOULLÓN (1991), BENI (1988) e
dos diversos instrumentos metodológicos estabelecidos por diversos organismos
e instituições voltadas para o turismo (OMT, Embratur, etc.), podemos estabelecer
que o produto turístico é composto de três elementos básicos: atrativos turísticos,
equipamentos e serviços turísticos e pela infra-estrutura de apoio.
Dentro de uma visão economicista, BENI (1998) propõe que o “produto
turístico é constituído de um conjunto de subprodutos, tais como transportes,
hotelaria, restaurantes, filmes, livros, diversões, souveniers, seguro, roupa para
férias, etc.” (p.154).
Nessa mesma linha, LAGE & MILONE (1991) definem o produto
turístico como “o conjunto de bens e serviços relacionados a toda e qualquer
atividade de turismo [...] um amálgama formado pelos componentes: transporte,
alimentação, acomodação e entretenimentos” (p.31-2). Já BAPTISTA (1997)
entende que o produto turístico “é uma mistura de tudo quanto uma pessoa pode
consumir, utilizar-se, experimentar, observar e apreciar durante uma viagem ou
uma estada “ (p.53).
No entender de LEMOS (1999), o produto turístico é “o conjunto de
bens e serviços que envolvem a informação do turista acerca do local a ser
visitado, seu deslocamento, sua estada naquela localidade, as mercadorias por
ele adquiridas, os locais de visitação, os fatores socioculturais, climáticas e
geográficos e os elementos das infra-estruturas geral e específica a eles
ofertados e por ele consumidos nas localidades-destino” (p.95).
49
Tendo como base os autores e fontes citadas acima, podemos compor
os seguintes conceitos para os três componentes objetivos do produto turístico:
a) Atrativo turístico: todo lugar, objeto, manifestação ou
acontecimento que, por suas características intrínsecas
peculiares ou pela subjetividade construída pelos turistas ou por
outros agentes do sistema turístico, seja capaz de motivar o
deslocamento de grupos humanos para conhecê-lo, observá-lo
e/ou desenvolver atividades ligadas ao lazer;
b) Equipamentos e Serviços Turísticos: edificações, instalações e
serviços necessários para a concretização da atividade turística,
possibilitando ao turista o usufruto dos atrativos turísticos;
c) Infra-estrutura de Apoio: conjunto de instalações e serviços que
compõem a estrutura física de base dos lugares turísticos e
permitem o desenvolvimento da atividade turística: rede de
transportes, comunicação, serviços urbanos, segurança, saúde e
educação.
Como já dissemos anteriormente, podemos visualizar a dimensão
territorial do sistema do turismo, calcada nos três elementos estruturantes
propostos por RODRIGUES (1997a): os pólos compostos pelas áreas emissoras
de turistas, os pólos definidos pelas áreas receptoras e as linhas de ligação
desses pólos, por onde circulam os turistas e as informações. É nesses três
elementos que o sistema do turismo se organiza e sobrepõe todos os seus
componentes fixos e fluídos.
Nas áreas emissoras identificamos os seguintes componentes do
turismo: os turistas, os operadores turísticos (agentes de viagens), as
transportadoras turísticas e a infra-estrutura de transportes (aeroportos, portos,
rodoviárias, etc.). É o locus da promoção e da venda dos produtos turísticos.
Nas áreas receptoras identificamos o lugar turístico por excelência,
composto pelos atrativos (recursos) turísticos, pelos equipamentos e serviços
turísticos ( meios de hospedagem, serviços de alimentação, agentes receptivos,
guias de turismo, locais e instalações de entretenimentos, etc.) e pela infra-
50
estrutura de apoio (serviços de comunicação, transportes segurança etc.). É o
locus da produção e do consumo do produto turístico.
Interligando as áreas emissoras e as áreas receptoras temos as redes
de transportes (rodovias, ferrovias, linhas aéreas, etc.) e as redes de
telecomunicações responsáveis pelo deslocamento contínuo das informações.
Finalmente, controlando as relações e a interações dos diversos
componentes, temos uma supra-estrutura composta pelas entidades públicas e
privadas e pela mídia, que controlam o funcionamento dessa rede complexa.
A compreensão da lógica espacial e territorial dessa rede complexa
que o turismo institui, leva-nos a buscar apoio no macro-conceito proposto por
MORIN (1999). Para não cairmos numa análise funcionalista, precisamos ter em
mente que o sistema do turismo apresenta uma problemática que vai além das
relações entre os seus componentes e o todo.
O sistema do turismo é constituído “não só de ‘partes’ ou ‘constituintes’,
mas de ações entre unidades complexas, constituídas, por sua vez, de
interações” (Morin:1999,p.264). Além disso, dando “coerência construtiva, regra,
regulação, estrutura etc. às interações” (idem,p.265), temos a organização do
sistema, entendendo-a como algo mais amplo que o conceito de estrutura.
Em síntese, podemos considerar que o sistema do turismo apresenta
três ângulos de visão e análise:
a) o sistema em si, composto pelos atrativos turísticos, os
equipamentos e serviços turísticos, a infra-estrutura de apoio (os
primeiros sempre localizados nos lugares turísticos e os dois
últimos tanto nesses quanto nos centros emissores) e todo o
complexo de relações entre esses elementos e o todo;
b) o conjunto das interações composto pelas relações, ações e
retroações estabelecidas e realizadas no âmbito do sistema;
c) a organização que estabelece a linha central do sistema, dando-
lhe forma, estrutura, normas, regras e proteção para suas
interações.
51
2.3.2 Redes e territórios-rede do turismo Lembrando que o turismo está intimamente relacionado às idéias de
movimento e de deslocamentos espaciais de indivíduos ou de grupos de
indivíduos, podemos afirmar que ele se constituiu numa prática socio-espacial.
En primer lugar, la prática turística implica um desplazamiento en el espaço que la hace [...] una de las prácticas sociales más genuinamente territoriales, comparativamente com otras (Nicolas, 1996, p.40)7.
Enquanto prática espacial, o turismo apropria-se de determinados
espaços, transforma-os e, a partir de seus componentes, produz territórios e
territorialidades descontínuos e flexíveis (Souza, 1995). Essa flexibilidade do
território turístico é causada pela sazonalidade das demandas de turistas, o que
leva alguns lugares a serem turísticos apenas em determinados meses do anos
(alta estação) ou nos finais de semanas e feriados prolongados.
Para RAFFESTIN (1980), “toda prática espacial, mesmo embrionária,
induzida por um sistema de ações ou de comportamento se traduz por uma
produção territorial que faz intervir tessitura, nó e rede” (1993, p.150). Os
deslocamentos dos turistas estabelecem um sistema de interações entre lugares,
firmas, instituições e indivíduos, o qual pode ser representado pelo que Raffestin
(1980) classifica como um “sistema de malhas, nós e redes”, ou pelo que Souza
(1995) propõe como território descontínuo ou território-rede.
Sob a ótica do seu processo e da sua organização, o turismo
estabelece uma rede de lugares (nós), localizados em pontos diferentes do
espaço, mas que por suas características funcionais mantêm entre si uma certa
ligação de comando. Ou seja, existe uma supra-estrutura (organização) que
mantém um nível de gerenciamento (por extensão, de poder) sobre esses
7 Em primeiro lugar, a prática turística implica um deslocamento no espaço que a torna [...] uma das práticas sociais mais genuinamente territoriais, se comparadas com outras (tradução livre)
52
lugares, interligando-os através de objetivos comuns. O lugar (nó) emissor precisa
do lugar (nó) receptor para satisfazer as demandas dos turistas, e para informá-
los e transportá-los precisa das linhas que unam esses lugares (nós), formando
uma rede complexa.
Fazendo um paralelo com os territórios-rede proposto por SOUZA
(1995) para a análise da territorialidade do tráfico de drogas no Rio de Janeiro,
podemos propor que os lugares do turismo acabam por produzir “uma rede
complexa, unindo nós irmanados pelo pertencimento a um mesmo comando”
(p.92). Entretanto, assim como no caso do tráfico de drogas, nos vazios
existentes entre os lugares turísticos, ou mesmo superpostos a eles, existem
outras redes e outras territorialidades, com objetivos distintos.
Por outro lado, se fizermos o caminho oposto nos níveis escalares de
análise, iremos perceber que, dentro do conceito mais tradicional de território, o
lugar turístico apresenta-se como o território concreto do turismo. SOUZA (1995)
nos propõe que “cada nó de um território descontinuo é [...] ele mesmo um
território” (p.93), e que “cada território descontínuo é, na realidade, uma rede a
articular dois ou mais territórios contínuos” (p.94).
Temos aqui, no nosso entender, a referência teórica de apoio para
nossa proposta de um território-rede do turismo. Os centros emissores e
receptores, numa escala analítica abrangente, se interligam e se interrelacionam,
formando diversas redes que se superpõem e interagem entre si, criando
interações horizontais e verticais entre lugares cultural e economicamente
privilegiados (centros emissores) e os lugares turísticos (centros receptores), fato
que gera os territórios descontínuos e flexíveis da atividade turística.
Por sua vez, é importante frisar que a produção e o consumo do
produto turístico pelo turista sempre se dá na escala local. É nos “núcleos
receptores que se dá, de maneira mais explícita, o consumo do espaço”
(Rodrigues: 1997a, 62). O lugar turístico, enquanto espaço vivido, apresenta-se
como o território real do fenômeno turístico, que aí se manifesta em toda a sua
totalidade.
53
2.3.3 Lugar e lugar turístico Sem perder de vista o fato de que o território-rede do turismo se
estabelece em diversos níveis escalares, através de relações e interações
verticais e horizontais, vemos os lugares turísticos como a expressão concreta do
território do turismo. Podemos, também, afirmar que numa escala ampliada, os
nós desse território-rede do turismo, os lugares turísticos transformam-se em
territórios contínuos, com estruturas espaciais definidas e delimitadas.
Os lugares turísticos tornam-se o locus real da atividade turística, onde
o seu sistema, suas interações e sua organização ganham materialidade e, por
conseguinte, visibilidade. É nos lugares turísticos que o fenômeno se materializa e
sobrepõe suas formas fixas: atrativos turísticos, equipamentos e serviços
turísticos (meios de hospedagem, serviços de alimentação, agentes receptivos,
guias de turismo, locais e instalações para entretenimentos, etc.) e infra-estrutura
de apoio (serviços de comunicações, transportes, segurança, etc.). É sobretudo aí
que se realiza a produção e o consumo, quase sempre simultâneo, do produto
turístico.
A categoria do lugar, assim como outras categorias utilizadas
freqüentemente pela Geografia, apresenta diversas interpretações (Santos,1996),
o que gera dificuldades no seu uso. Muitas vezes vemos o lugar ganhando o
sentido de local, noutras de localidade.
Dentre os diversos estudos da geografia humana Yi-Fu Tuan é um dos
autores que busca a compreensão da territorialidade humana e sua ligação com o
lugar de maneira mais ampla. Para ele, o geógrafo humano deve cuidar da tarefa
de explicar como um “mero espaço se torna um lugar intensamente humano”
(1985, p.149). Para tal empreitada, deve lançar mão de fatores como a “natureza
da experiência, a qualidade da ligação emocional aos objetos físicos, as funções
dos conceitos e símbolos na criação da identidade do lugar” (idem, p.150).
54
TUAN entende que cada pausa ou parada nos movimentos humanos
termina definindo uma localização, um lugar. Para ele, esses lugares podem ter
grandes variações de tamanho, indo desde o pequeno lugar que pode ser
conhecido pela experiência direta, até o estado-nação, que “pode ser
transformada em lugar – uma localização de lealdade apaixonada – através do
meio simbólico da arte, da educação e da política”. (idem, p.149).
Anthony GIDDENS no seu trabalho As Conseqüências da Modernidade
(1991), fala-nos do deslocamento do espaço do lugar provocado pela
modernidade. Reportando-se a textos seus anteriores, o autor reafirma seu
conceito de lugar enquanto “cenário físico da atividade social” (p.26-7), mas vai
além disso, acrescentando a separação do espaço do tempo, fator que irá
estimular o surgimento de relações “entre outros ausentes, localmente distantes
de qualquer situação dada ou interação face a face” (p.27), tornando o lugar cada
vez mais fantasmagórico. As relações sociais são retiradas dos contextos locais e
reordenadas a partir de grandes distâncias tempo-espaciais, através do que
Giddens chama de “mecanismos de desencaixe” (p.29 e 59).
SOJA (1993), analisando as propostas de Giddens em The Constitution
of Society (1984), observa que aquele autor utiliza, algumas vezes, o termo local
para falar do lugar. Para ele, o local é visto como “uma região limitada que
concentra a ação e reúne, na vida social, tanto o singular e particular quanto o
geral e nomotético” (Soja, 1993, p.181). É no local que ocorrem as interações
sociais entre os atores; interações essas que vão especificar as suas
contextualidades.
Para SOJA, entretanto, Giddens não reconhece que o fato do local
concentrar as interações sociais, gera um contexto mais abrangente, o qual ele
descreve como “a nodalidade da vida social, o acúmulo ou aglomeração de
atividades em torno de centros ou nós geográficos identificáveis” (idem, p.182), o
que permite pressupor a ocorrência de relações sociais e de poder entre centros e
periferias.
No seu trabalho mais recente – A Sociedade em Rede – CASTELLS
(1999) argumenta que mesmo diante de uma tendência para uma hegemonia dos
55
espaços de fluxos, o lugar continua sendo uma categoria importante para a
compreensão espacial das sociedades atuais, já que “a grande maioria das
pessoas [...] vive em lugares e, portanto, percebe seu espaço com base no lugar”
(p.447). O autor concebe o lugar como sendo “um local cuja forma, função e
significado são independentes dentro das fronteiras da contiguidade física”
(ibidem, p.447), cujas características marcam a vida dos seus habitantes e,
podem ou não, contribuir para a formação de uma comunidade.
Merece ressaltar a posição de CASTELLS quanto ao lugar não ser
obrigatoriamente uma comunidade. Os habitantes do lugar podem, de acordo com
o autor, não se amarem ou se relacionarem, mas têm suas vidas marcadas pelas
características do lugar. Para ele o lugar não necessariamente exprime e revela
interações sociais e riqueza espacial. “É exatamente porque suas qualidades
físicas/simbólicas os tornam diferentes que eles são lugares” (1999, p.449).
Ainda na sua análise dialética entre os espaços de fluxos e os espaços
de lugares, CASTELLS prevê uma tendência para a hegemonia dos “espaços de
fluxos aistóricos em rede” (ibidem, p.452) que objetivam impor aos lugares a sua
lógica, tornando-os segmentados e espalhados e “menos capazes de
compartilhar códigos culturais” (ibidem, p.452). Para o autor, o poder na
sociedade atual está situado nos espaços de fluxos, o que altera
fundamentalmente a dinâmica dos lugares e torna a experiência vivida pela
pessoas destacada do poder e o significado separado do conhecimento, gerando
“uma esquizofrenia estrutural entre duas lógicas espaciais” (ibidem, p.451) – dos
fluxos e dos lugares – que pode vir a romper os canais de comunicação dessa
mesma sociedade.
CARLOS (1996a) visualiza um processo de redefinição do lugar
enquanto dimensão prático-sensível dentro do momento histórico atual de
globalização. Para a autora a globalização “materializa-se concretamente no lugar
[...] no lugar se vive, se realiza o cotidiano, e é aí que ganha expressão o
mundial.” (p.15). O global e o local coexistem e o primeiro redefine o segundo
sem anular suas particularidades. O lugar teria em si a possibilidade de permitir o
entendimento do processo atual de produção, consumo e apropriação do espaço,
56
através “da perspectiva de se pensar seu processo de mundialização” (ibidem,
p.15).
Por sua vez, Milton SANTOS conclui seu A Natureza do Espaço
afirmando o lugar como o espaço irredutível, banal, por reunir logicamente o
homem, as empresas, as instituições, as formas sociais e jurídicas e as formas
geográficas, que unidos formam o cotidiano imediato. Para o autor, enquanto o
global “desterritorializa”, o local “reterritorializa” , por ser composto por um
conjunto de objetos contíguos e interagentes. (Santos, 1996, p.272-3).
Para aquele autor, nosso momento histórico atual traz a categoria do
lugar para o centro das discussões. Entretanto, ela precisa ser revista e
atualizada para, a partir de novos significados, dar conta da complexidade do
mundo globalizado atual. Segundo ele, uma das possibilidades possíveis é
entender o lugar a partir do cotidiano, visto este como uma categoria da existência
passível de um tratamento geográfico, que permita apreender o lugar enquanto
expressão do local e do global: O lugar é o quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens precisas de ações condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da espontaneidade e da criatividade (Santos, 1996, p.258).
No interior das redes globais, o lugar se mostra como um dos níveis de
análise que permitem apreender os seus movimentos contraditórios. É nele que
“fragmentos da rede ganham uma dimensão única e socialmente concreta, graças
à ocorrência, na contiguidade, de fenômenos sociais agregados, baseados num
acontecer solidário, que é fruto da diversidade e num acontecer repetitivo, que
não exclui a surpresa” (idem, p.215).
Os lugares podem, ainda segundo SANTOS (1996), ser definidos a
partir de suas densidades técnica, informacional e comunicacional, as quais, num
jogo de circularidade construtiva, caracterizam-nos e os tornam especializados
dentro de um contexto global. Numa luta constante, cada lugar busca sua
competitividade na diversidade e nas suas individualidades, realçando “suas
57
virtudes por meio de seus símbolos herdados ou recentemente elaborados, de
modo a utilizar a imagem do lugar como imã” (p.214).
O autor aponta também, o lugar como locus de uma possível
resistência à atual globalização e ao processo de verticalização dos lugares. Isso
será possível, segundo ele, através do fortalecimento das horizontalidades entre
os lugares e a reconstrução de “uma base de vida que amplie a coesão da
sociedade civil, a serviço do interesse coletivo” (Santos, 1996, p.228). O autor
propõe o desenvolvimento de uma solidariedade ativa, geradora de ações
políticas locais que se anteponham às tendências meramente verticalizantes
(ibidem, p. 228-9)
Diante dessa possibilidade de entendermos melhor o processo atual de
mundialização a partir do lugar, e reconhecendo no turismo um dos principais
vetores desse processo, podemos então, avançar e analisar o lugar turístico.
O lugar turístico faz coincidir o espaço e o território. Enquanto prática
socio-espacial, o turismo vai se apropriando de determinados espaços,
transformando-os e, a partir disso, produzindo territórios e territorialidades
flexíveis e descontínuas, e “turistificando os lugares” (Nicolas,1996; Knafou,1996).
No dizer de Nicolas:
El turismo crea, transforma (sic), e inclusive (sic) valoriza diferencialmente espacios que podian (sic) no tener ‘valor’ en el contexto de la lógica de producción: de repente la tierra de pastizal se puede transformar en parque de acampar, o la casa semi-derruida del abuelo fallecido en casa de hospedes (Nicolas, 1996, p.49)8
KNAFOU (1996), em suas análises sobre as relações entre turismo e
território, também nos lembra que os turistas estão na origem do fenômeno, e que
são eles que definem, escolhem os lugares turísticos. Sua proposta é que não
devemos perder de vista que o sujeito do fenômeno, responsável pela sua
existência, é o homem, na forma do turista. Como já dissemos anteriormente,
8 O turismo cria, transforma, e inclusive, valoriza diferentemente espaços que poderiam não ter ‘valor’ no contexto da lógica da produção: de repente as pastagens pode se transformar em camping, ou a casa semi-destruída do avô falecido em hospedaria. (tradução livre)
58
entendemos ser necessário ampliarmos o conceito, incluindo também, a
população dos lugares turísticos como sujeito, sob pena de, caso não o façamos,
perdermos a compreensão da complexidade do fenômeno turístico.
Aquele autor nos sugere a possibilidade de três tipos de relações entre
turismo e território: a) pode existir território sem turismo; b) pode existir também
um turismo sem território; c) podem, enfim, existir territórios turísticos, esses
últimos entendidos como “territórios inventados e produzidos pelos turistas, mais
ou menos retomados pelos operadores turísticos e pelos planejadores”
(Knafou:1996; p.72-3). Neles é que presenciamos conflitos de territorialidades
entre os turistas – nômades, e os anfitriões – sedentários.
É nos lugares que as pessoas vivem e, é neles que o turista concretiza
o consumo do seu tempo de ócio. KNAFOU (1996) nos lembra, entretanto, que
nos lugares turísticos temos um constante jogo dialético entre duas
territorialidades distintas:
Há diferentes tipos de territorialidades que se confrontam nos lugares turísticos: a territorialidade sedentária dos que aí vivem freqüentemente, e a territorialidade nômade dos que só passam, mas que não tem menos necessidade de se apropriar, mesmo fugidiamente, dos territórios que freqüentam” (Knafou, 1996, p.64).
São poucos os trabalhos científicos desenvolvidos no sentido de
buscar-se o conhecimento da lógica do ordenamento territorial das áreas
receptoras. Em sua grande maioria, são abordagens teórico-críticas que buscam
destacar os aspectos negativos dos impactos da atividade turística, colocando o
fenômeno como elemento destruidor das identidades dos lugares.
CARLOS (1996a; 1996b), desenvolve um estudo em que propõe ver o
turismo apenas como um elemento produtor de não-lugares. No seu trabalho O
Lugar no/do Mundo (1996a), no capítulo onde aborda a questão da produção do
não-lugar, apresenta a “indústria do turismo” como grande responsável por essa
produção:
A indústria do turismo transforma tudo o que toca em artificial, cria um mundo fictício e mistificado de lazer, ilusório onde o espaço se
59
transforma em cenário, ‘espetáculo’ para uma multidão amorfa [...]. Aqui o sujeito se entrega às manifestações desfrutando a própria alienação. Esses dois processos apontam para o fato de que ao vender-se o espaço, produz-se a não-identidade e, com isso, o não-lugar (Carlos, 1996a, p.109)
Indo além, a autora nos coloca que o “espaço produzido pela indústria
do turismo perde o sentido, é o presente sem espessura, quer dizer, sem história,
sem identidade, neste sentido é o espaço do vazio. Ausência. Não-lugares.”
(ibidem, p.116).
RODRIGUES (1997) também aborda a questão do lugar e do não-lugar
produzido pelo turismo . Para essa autora, “o lugar, como categoria filosófica, não
trata de uma construção objetiva, mas de algo que existe do ponto de vista do
sujeito que o experiência [...] é o referencial da experiência vivida, pleno de
significado” (p.32). Seguindo essa linha de pensamento, para ela os resorts9 são
a melhor expressão de não-lugares, uma vez tratarem-se de empreendimentos
implantados em áreas exóticas, de tal forma a dar ao turista total segurança, sem
valorização das características socioculturais locais, chegando, em alguns casos
extremos, a negar essas características.
Por sua vez, LUCHIARI (1998), no seu trabalho Urbanização Turística:
Um novo nexo entre o lugar e o mundo, propõe uma análise mais complexa da
atividade turística, de modo a vê-la como “um dos vetores mais importantes para
associar o mundo ao lugar, o global ao local” (p.16). Para a autora, as discussões
sobre a questão global-local ou local-global avançaram e já não se coloca com
tanta certeza que a globalização implica o fim do local, a destruição das
diferenças e peculiaridades locais: “Tanto as peculiaridades locais, os localismos,
os regionalismos emergiram deste global, quanto a própria globalização
econômica passou a valorizar as diferenciações dos lugares, fazendo dessa
diferenciação um atrativo para o capital” (ibidem, p.16).
9 Rodrigues nos cita como exemplo desses não-lugares, o resort Hyatt Regency Waikaloa, localizado no Havaí, projetado pelo arquiteto Christopher Hommeter, “o mago dos sofisticados resorts da atualidade” (1997, p.31) e os empreendimentos das megacadeias hoteleiras mundiais, que são detalhadamente iguais, em qualquer local do mundo.
60
Focando seus estudos na questão da urbanização das cidades
turísticas, LUCHIARI apresenta alguns elementos que, no nosso modo de ver,
são bastantes pertinentes para a compreensão da lógica territorial dos lugares
turísticos. Logo de início, ela nos propõe entender o lugar (para ela o mesmo que
local) como “o resultado de um feixe de relações que soma as particularidades
(políticas, econômicas, sociais, culturais, ambientais...) às demandas do global
que o atravessa” (idem; p.16). Para ela, o espaço enquanto abstração se realiza e
se concretiza através das práticas sociais que “constróem a identidade vivida
cotidianamente nos lugares” (idem, p.16).
A seguir a autora nos leva a ver o lugar como um elemento dinâmico,
onde podemos presenciar o movimento dialético constante existente entre o lugar
e o mundo, resultante dos processos contemporâneos da sociedade atual. Nesse
movimento as cidade turísticas se organizam não para a produção, mas para o
consumo de bens, serviços e paisagens. O que para alguns autores é tido como
impacto negativo do turismo (a destruição dos lugares), a autora prefere entender
como um processo de construção de “novas formas contemporâneas de
espacialização social, por meio das quais estamos construindo novas formas de
sociabilidade, mais híbridas e mais flexíveis” (idem, p.17): Estabelece-se uma relação entre antigas paisagens e velhos usos e novas formas e funções, impulsionando a relação do lugar com o mundo, que o atravessa com novos costumes, hábitos, maneiras de falar, mercadorias, modo de agir [...] Assim também, a identidade do lugar é constantemente recriada, produzindo um espaço social híbrido, onde o velho e o novo fundem-se dando lugar a uma nova organização socio-espacial (idem, p.17).
Nessa linha de raciocínio LUCHIARI nos leva a rever os modelos de
evolução dos lugares turísticos, difundidos nos anos 8010, onde esses seriam
descobertos pelo turismo mais elitizado, a seguir saturados e destruídos pelo
turismo de massa e, finalmente, abandonados e substituídos por outros lugares
recém-descobertos.
10 Principalmente o conceito de ciclo de vida de destinações turísticas, desenvolvido por R.W. Butler (1980) e, posteriormente, adaptado por Ruchmann (1987)
61
NICOLAS (1996) por sua vez nos lembra que o uso do espaço pelo
turismo não segue as mesmas leis das atividades de produção e reprodução dos
setores econômicos tradicionais: El espacio-consumido pero no forzosamente destruído, implica que la producción turística no obedece a las leyes de la producción económica tradicional; el espacio turístico se crea y recrea como valor de uso (y también de cambio) sin que su destrucción sea obligada, aunque a veces ocurra (p.44) 11
Também KNAFOU (1996) nos leva a rever essa linha ideológica que
encara o turismo como vetor destruidor, quase que antropófago, devorador
daquilo que seria o seu próprio recurso, a paisagem (p.67). Para aquele autor a
paisagem transforma-se e não se destrói e, “o que desagrada a um turista pode
muito bem convir a outro, sobretudo se ele descobre o sítio em seu estado atual,
sem tê-lo conhecido pouco ou não transformado, o que lhe impede de ter uma
percepção nostálgica” (ibidem, p.67).
Retomando LUCHIARI (1998), podemos perceber que, também para
ela, a paisagem é uma construção social e, como tal, está em constante
transformação “Se admitimos que a paisagem é uma representação [a partir do
olhar do observador] e não um dado da natureza, não podemos concordar que ela
seja um recurso não renovável” (p.23). Ou seja, o turismo para acontecer,
apropria-se dos lugares, consome suas paisagens, promove relações e
interações, temporárias e permanentes, estabelecendo articulações
lugar↔mundo, através da inserção dos lugares turísticos numa rede ampla e
complexa.
Por outro lado, avançando na discussão do lugar turístico se
apresentar como o território do fenômeno turístico, entendemos que, mesmo no
caso onde as linhas de comando (= poder) da supra-estrutura turística não
estejam localizadas no lugar turístico, ainda assim este se caracteriza como um
11 O espaço consumido mas não necessariamente destruído, implica que a produção turística não obedece às leis da produção econômica tradicional, o espaço turístico se cria e recria como valor de uso (e também de troca), sem que sua destruição seja necessária, ainda que às vezes ela ocorra. (tradução livre)
62
território, por ser um espaço apropriado pelo turista e um espaço apropriado e/ou
dominado pelas firmas e instituições que compõem o sistema turístico.
Como CASTELLS (1999) afirma, nas nossas sociedades
contemporâneas “a função e o poder [...] estão organizados no espaço dos fluxos”
(p.450), gerando uma nova forma de domínio dos lugares. A experiência vivida
nos lugares termina por ficar “abstraída do poder” (ibidem, p.450). Entretanto,
esse deslocamento do centro irradiador do poder para fora dos limites físicos dos
lugares turísticos não nos impede de classificá-los como territórios do turismo.
A organização territorial dos lugares turísticos não responde somente à lógica do lugar, do meio, e da população local, ela é a reprodução de atributos valorizados nos centros urbanos emissores, sintetizando na materialidade das cidades que se expandem, as novas representações sociais imprimidas ao uso do território. Por isso os lugares não permanecerão ‘provincianos’ ou ‘ selvagens’, porque estes atributos não representam mais a sociedade (Luchiari, 1998, p.23).
Se ampliarmos a discussão sobre os lugares turísticos iremos nos
defrontar com outra questão importante para a compreensão da sua organização
territorial: os efeitos da globalização. O turismo vem sendo, cada vez mais,
caracterizado como um dos mais importantes vetores da globalização. Para
diversos autores (Rodrigues,1997; Luchiari,1998; Knafou,1996; Nícolas,1996;
Vera et al,1997), a atividade turística é um dos setores responsáveis pelo
associação dialética do local-global.
Para LUCHIARI (1998) a questão da globalização teve seu foco de
análise deslocado nos últimos anos. Num primeiro momento dizia-se que ela
acabaria por gerar uma homogeneização do mundo, através da eliminação das
diferenças. Hoje, já não se tem tanta certeza disso. “Tanto as peculiaridades
locais, os localismos, os regionalismos emergiram deste global, quanto a própria
globalização econômica passou a valorizar as diferenciações dos lugares,
fazendo desta diferenciação um atrativo para o capital” (p.16).
No turismo moderno essa mudança de tendência é bastante visível.
Até a década de 80, o mercado turístico internacional investiu maciçamente na
criação de centros turísticos artificiais, dos quais Las Vegas (EUA), Cancún
63
(México) e os grandes resorts espalhados por todo o planeta, são os exemplos
mais visíveis. São o que RODRIGUES (1997a) classifica como “não-lugares”,
“modelos de alojamentos produzidos pelo turismo global, em que as pessoas
desfrutam de ambientes familiares, onde até, e sobretudo, a alimentação é
estandardizada [...]. Produz-se no espaço global um lugar, que nega o local,
sendo portanto um não-lugar” (p.31-2).
KNAFOU (1996), referindo-se a essa mesma tendência, fala-nos do
“turismo sem território, isto é, do turismo que se contenta com sítios e lugares
equipados, o turismo ‘fora do solo’, quase completamente indiferente à região que
o acolhe e onde a extensão planejada nada mais é do que um espaço-
espetáculo” (p.72).
A partir do final da década de 80, observa-se um movimento de
segmentação e de especialização dos fluxos turísticos, o quais passam a exigir
produtos diferenciados. Na onda da “volta á natureza” e de valorização dos
ambientes naturais, (re)surgem o turismo ecológico, o turismo cultural, de
aventuras, que vão criando nichos especializados, fora daquele do turismo de
massa, com exigências diferenciadas, as quais irão levar os lugares turísticos a
reverem as suas estratégias de inserção dos seus produtos no mercado.
O turismo atual, segundo as estatísticas da Organização Mundial de
Turismo - OMT - e de outros organismos internacionais e diversos estudos
recentes, passa por um processo de reestruturação, gerado por uma nova forma
de vida que a sociedade atual vem buscando, o que vem fazendo surgir o
chamado turismo alternativo (Nicolas, 1996). Trata-se de um modelo que propõe
viagens mais curtas, mais individualizadas (pequenos grupos), voltados para o
contato com a natureza (turismo ecológico) e com as comunidades locais (turismo
rural e cultural).
O turismo de massa continua respondendo, quantitativamente, pela
maioria dos fluxos de demanda, mas assiste-se a uma tendência crescente de
segmentação dessa demanda, com o surgimento de um turista mais consciente,
mais exigente, menos passivo e mais preocupado com a qualidade das suas
experiências durante a viagem. Ainda segundo a OMT, enquanto o turismo de
64
massa cresce a uma taxa anual média de 5%, o turismo segmentado (alternativo)
vem mantendo uma taxa anual de crescimento acima de 10% nos últimos anos.
Esse novo perfil da demanda turística está exigindo dos operadores
turísticos e dos gestores das áreas receptoras, a criação de produtos
especializados que permitam ao turista uma vivência no lugar visitado mais ativa,
onde sejam possíveis contatos diretos, sem barreiras, com os habitantes locais e
o estabelecimento de relações pessoais entre eles. O turista deixa de ser o
invasor, o intruso, o estranho (Knafou, 1996) e passa a ser o outro para o
habitante do lugar, enquanto esse passa a ser o outro para o turista, ambos com
formações e informações culturais distintas e interessados na troca mútua de
experiências.
É o revigoramento do conceito do turismo enquanto momento de
encontro de alteridades, onde é possível a troca de experiências socioculturais e
do enriquecimento pessoal, tanto do turista como do anfitrião. Ou seja, o turismo
acontecendo enquanto fenômeno sociocultural e não apenas como atividade
econômica. Nesse caso, o turismo não produz um não-lugar, como coloca
CARLOS (1996), mas permite a construção de um lugar onde a marca principal
está na troca de experiências pessoais entre o seu habitante e o turista.
O lugar turístico é precisamente o lugar do encontro do anfitrião com o
turista, lugar onde seres humanos diferentes podem manter uma relação face-a-
face e estabelecer uma troca de conhecimento, de sensações e de desejos.
Não estamos aqui negando a existência dos não-lugares, produzidos
pelo turismo, apontados por RODRIGUES (1997a) e CARLOS (1996). Pelo
contrário, acordamos com a sua existência e com o fato deles ainda serem
hegemônicos no mercado turístico mundial, além de se constituírem numa das
formas mais ativas de reprodução do capital financeiro mundial.
Diariamente vemos surgir novos “centros turísticos” artificiais, voltados
a atender essa demanda de turistas passivos, interessados em uma experiência
de evasão (ou seria de alienação?) dos seus cotidianos, mas sem correr riscos ou
ameaças. Turistas que não buscam o contato com o outro, mas que, ao contrário,
65
querem se passar por anônimos, comprar souveniers, assistir a espetáculos
culturais artificiais, tirar fotos, filmar as paisagens com suas câmaras modernas e
retornar para seus lugares, satisfeitos por terem consumido tudo o que lhe foi
oferecido.
Entretanto, existe um outro tipo de turista que já não se satisfaz com o
que KNAFOU (1996) classifica de turismo fora do solo. Turistas que já não
aceitam ficar dentro de um ônibus hermeticamente fechado, climatizado, apenas
observando e fotografando a paisagem pela janela.
É esse turista mais consciente e ávido pelo contato face-a-face com o
habitante do lugar visitado, que possibilita falarmos da produção do lugar turístico.
Entretanto, esse lugar turístico só é passível de existência a partir do momento
que entendamos o turismo enquanto um fenômeno sociocultural complexo, no
qual seus agentes e componentes existem num jogo constante de interações,
onde cada um é ao mesmo tempo causa e efeito no círculo do processo, aliados a
um certo grau de incerteza e de imprevisibilidade.
Assim, não apenas o turista é sujeito (ator) do fenômeno. No momento
do encontro com o habitante do lugar, ambos são sujeitos no processo de
interação consciente com o outro. Não há aqui a relação positivista reducionista
sujeito→objeto; pelo contrário, a relação é dialógica e apresenta uma
circularidade construtiva (Morin:1999), carregada de uma grande dose de ordem-
desordem e de incertezas.
O lugar turístico que aqui conceitualmente propomos é o território onde
o turismo se realiza, e onde há a ocorrência de interações e interelações
temporárias entre o anfitrião e o turista, aos quais irão permitir um contato direto,
sem barreiras (físicas ou simbólicas) entre eles e o reconhecimento da existência
do outro, recíproca e simultaneamente.
Para o turista, essa experiência irá trazer um crescimento pessoal e a
satisfação das suas expectativas, sonhos e ansiedades que o levaram a
estabelecer sua viagem. A viagem torna-se um momento de aprendizado, de
crescimento.
66
Para o habitante, o anfitrião, a experiência irá propiciar, além do seu
crescimento pessoal interior, a consolidação da sua identidade com o seu lugar e
a consciência de todas as possibilidades do seu cotidiano. A interação com o
turista, nômade, torna-se um fator de fortalecimento e de recriação da sua noção
de pertencimento ao seu lugar.
Para o turista o lugar turístico é o espaço e o momento efêmero de
uma experiência, real e direta, de descoberta de si e do outro. Não há aqui a idéia
do espaço de lazer dissociado do espaço de vida, como proposto por CARLOS
(1996a). Ao contrário, no lugar turístico, ambos, o espaço de lazer e de vida
ocorrem simultaneamente para o turista.
Para o habitante é o lugar permanente onde estão suas experiências
vividas; é a sua dimensão de vida, definida a partir da suas relações interativas
com o outro – o turista. Desse modo, o lugar turístico passa a existir enquanto um
espaço relacional turista↔habitante, sendo efêmero para o primeiro e
permanente para o segundo.
2.4 Método de investigação: algumas considerações Para atingirmos os objetivos da nossa pesquisa, lançamos mão de
alguns recursos instrumentais para elaborar o conjunto de dados e informações,
que nos permitisse a análise do ordenamento territorial do turismo no Estado do
Rio de Janeiro e os processo de inserção dos municípios de Armação dos Búzios
e de Arraial do Cabo nas redes do turismo estadual.
Não foi nossa intenção elaborar uma extensa amostragem de dados
quantitativos sobre o turismo estadual, dado não ser esse o objetivo final da
nossa pesquisa. Lembrando que buscamos a compreensão do ordenamento do
fenômeno turístico no território estadual, entendendo-o enquanto um sistema
extremamente multifacetado e complexo, procuramos nos fixar nas suas relações
e interações horizontais e verticais. Optamos por esse recorte analítico, por
entendermos serem essas relações e interações do sistema turístico
responsáveis pelo estabelecimento da estrutura e da organização das diversas
67
redes do turismo sobrepostas no território, as quais compõem territórios-rede
densos, complexos e bastante instáveis, na medida em que se encontra em
permanente movimento, determinado pela dinâmica dos diversos componentes
do sistema turístico.
O ponto de partida e um dos instrumentos básicos de suporte ao
desenvolvimento da pesquisa foi nossa experiência profissional como Técnico da
Diretoria de Planejamento e Projetos do Órgão Oficial de Turismo do Governo
Estadual, no período de 1979 até os dias de hoje. Durante todo esse período
estivemos, direta ou indiretamente, envolvidos com todas as ações de
ordenamento territorial (exceto do Projeto Turis) desenvolvidas pelo governo
estadual, o que nos possibilitou conhecer pessoalmente todos os municípios do
Estado, vivenciar a evolução do turismo estadual e estabelecer diversos
questionamentos, os quais nos levaram a buscar respostas em diferentes fontes
teóricas, principalmente naquelas centradas nos estudos espaciais do fenômeno
turístico.
Esses questionamentos foram aguçados a partir de 1994, quando
fomos convidados a nos engajar no Programa Nacional de Municipalização do
Turismo – PNMT, como multiplicadores e facilitadores do mesmo no Estado do
Rio de Janeiro. Esse programa, criado e coordenado pela Embratur, tem como
objetivo central a municipalização da gestão da atividade turística, através do
repasse de “know-how” e da capacitação dos gestores municipais, dentro dos
princípios básicos de “descentralização, sustentabilidade, parcerias, mobilização e
capacitação” (Embratur, 1999, p.11).
Baseado nos instrumentos operacionais elaborados pela OMT e na
metodologia do enfoque participativo que orientam as oficinas realizadas nos
municípios, o programa parte do pressuposto de que o conhecimento deve ser
construído a partir da experiência do grupo e nunca trazido pronto, fechado.
É interessante ressaltar que, graças às técnicas de condução das
oficinas do PNMT (método ZOOP, Metaplan e enfoque participativo), todos os
participantes (sempre no máximo de vinte e cinco por oficina) são levados a se
expressar, participando de todas as discussões. Esse fato faz com que a troca de
68
experiências individuais e locais seja intensa, permitindo ao multiplicador estadual
um acúmulo de informações extremamente ricas e atualizadas das realidades
municipais.
Nossa participação em mais de uma dezena de oficinas no interior do
Estado, permitiu-nos absorver um número bastante expressivo de demandas e
tomar contato direto com a realidade do turismo atual, em cinqüenta e seis
municípios, onde continuamos participando do processo. Atualmente, estamos
colaborando na formação e consolidação dos seus conselhos municipais de
turismo, que devem ser sempre paritários em sua composição, assumindo a
tarefa de desenvolver as estratégias para o turismo municipal.
Não é nossa intenção aqui fazer uma análise crítica do PNMT, mas
apenas elencá-lo como um importante instrumento de pesquisa, por nós utilizado
na busca da formatação do nosso referencial empírico sobre a organização
territorial do turismo no Estado do Rio de Janeiro.
Outro ponto no qual nossa experiência profissional foi fundamental, foi
na decisão da escolha dos municípios que nos serviriam de objeto empírico de
pesquisa na escala local. Ao optarmos pelos municípios de Armação dos Búzios e
de Arraial do Cabo, fizemo-lo a partir de um conhecimento próprio que nos
permitiu identificá-los, a priori, como dois lugares turísticos com diversas
características socioculturais, históricas, fisiográficas, político-administrativas e
turísticas semelhantes, mas em estágios bastante diferenciados no processo de
inserção nas redes do turismo estadual.
A decisão pelo uso de dois níveis de escalas no desenvolvimento da
nossa pesquisa foi resultado da nossa compreensão da complexidade do
fenômeno turístico e das suas imbricações espaciais. O funcionamento do
sistema turístico manifesta-se mais claramente quando o enfocamos na escala
local, visto ser no lugar em que ele ocorre mais intensamente (Rodrigues, 1997a).
É no lugar turístico que podemos identificar as relações e as interações entre os
diversos componentes do sistema turístico (turista, agente de viagens, atrativos,
população residente, guias, etc.), fato que nos permite defini-lo como território do
turismo.
69
Entretanto, a organização do ordenamento territorial do turismo no
Estado só pode ser plenamente compreendida a partir de uma escala que abranja
todo o seu território, dados os lugares turísticos estarem distribuídos por toda a
sua extensão, interligados pelas vias de comunicações e transporte. Na escala
estadual podemos visualizar mais claramente as diversas redes que se
estabelecem a partir das relações e interações, permanentes ou temporárias,
entre os lugares turísticos e os centros emissores de turistas.
Buscando comprovar algumas informações ainda não documentadas e
sistematizadas e algumas hipóteses, realizamos, também, durante o mês de
março de 2000, uma série de entrevistas com empresários, políticos e moradores
de Armação dos Búzios e de Arraial do Cabo. Como dito anteriormente, essas
entrevistas não tiveram o intuito de estabelecer uma amostragem, mas apenas
permitir uma sondagem mais direta sobre os processos de inserção dos dois
municípios nas redes do turismo. Importante ressaltar que, além das entrevistas
diretas com representantes dos principais setores do turismo de cada um dos
municípios, realizamos um número expressivo de entrevistas informais com
moradores locais, algumas sequer registradas em meio magnético, dado terem
ocorrido em situações que não nos permitiam tais cuidados.
Para tal, as entrevistas foram estruturadas em cinco blocos de
perguntas abertas (Anexo C). O bloco A centrou-se no papel do turismo dentro da
realidade econômica atual dos dois municípios e a maneira como isso é
apreendido pelos entrevistados. O bloco B visou identificar os principais mercados
emissores de turistas para os dois municípios, e as diversas formas de divulgação
e promoção adotadas por eles. No bloco C, centramos nossa atenção no nível de
organização institucional do setor turístico local, tanto público quanto privado. O
bloco D buscou permitir um mapeamento da atual estrutura operacional, pública e
privada, do turismo nos dois municípios e identificar a origem e o nível de
capacitação da mão-de-obra empregada pelo setor turístico. Por fim, o bloco E
objetivou sondar a percepção que os entrevistados tinham dos seus municípios
enquanto lugares turísticos, e das diferenças entre eles, em termos de turismo.
70
Outra fonte de informações diretas para nossas pesquisas, foram as
oficinas do Plano Diretor de Turismo Estadual, realizadas com todo os municípios
do Estado, agrupados em quatorze micro-regiões, onde foi apresentado o
diagnóstico preliminar do plano diretor e discutidas as proposições locais para o
estabelecimento de uma política estadual de turismo. Essas oficinas foram
realizadas no período de dezembro de 1999 a junho de 2000, tendo entre seus
participantes representantes dos poderes municipais (legislativo e executivo) e
dos diversos segmentos da sociedade civil organizada, interessados no processo
de desenvolvimento turístico local (hoteleiros, guias de turismo, ONGs,
associações de moradores, unidades de conservação ambiental, associações
comerciais, cooperativas rurais, etc.).
Em todas elas, também graças à técnica do enfoque participativo, foi
expressiva a participação local, fato que nos permitiu estabelecer um rico mosaico
de proposições para o desenvolvimento turístico do Estado, a partir da visão e da
percepção dos lugares.
A conjugação desses diversos instrumentos de pesquisa, tornou
possível a reflexão, aqui apresentada, sobre a complexidade do ordenamento
territorial da atividade turística no Estado do Rio de Janeiro, comprovada pela
existência de um denso conjunto de redes sobrepostas no seu território,
interligadas horizontalmente e verticalmente entre si e com outros pontos do país
e de outros países. Além disso, foi-nos possível perceber as diferentes formas e
processos pelos quais os lugares turísticos inserem-se em uma ou mais dessas
redes do turismo estadual.
3 CONSTRUÇÃO TERRITORIAL DO TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nesse capítulo objetivamos recuperar as maneiras como o turismo
construiu seu território no Estado do Rio de Janeiro, para que possamos, primeiro
na escala estadual e depois, no capítulo seguinte, na escala local de Armação
dos Búzios e Arraial do Cabo, estruturar nosso entendimento do ordenamento
atual dessa atividade no Estado.
Para isso, iniciamos com uma breve recuperação da evolução histórica
do fenômeno no Estado, seguida de uma análise das diversas tentativas de
ordenamento propostas pelo poder público estadual, através do seu órgão
executivo (TurisRio), nas últimas três décadas e da regionalização turística do
território estadual vigente , a qual orienta essas ações de planejamento e de
marketing. Logo em seguida, desenvolvemos uma análise de diversos
movimentos localizados que estão surgindo no interior do Estado, objetivando
estabelecer novos arranjos regionais entre os municípios, dado que aquela
regionalização acima citada, já não mais responde pela atual realidade turística.
Por fim, objetivando estabelecer uma primeira visão do ordenamento
territorial do turismo, elaboramos uma análise da atual distribuição dos fluxos de
visitantes pelo território estadual, procurando já estabelecer um primeiro mapa do
território-rede do turismo, através da identificação dos seus nós.
72
3. 1 Evolução do fenômeno turístico no Estado do Rio de Janeiro
O desenvolvimento da atividade turística em território brasileiro teve
origem na cidade do Rio de Janeiro, a partir da transferência para a cidade, da
Corte Portuguesa, na segunda metade do século XIX. Tal fato gerou toda uma
reestruturação sociocultural e econômica no país e, de maneira mais decisiva, da
capital, que viu sua malha urbana espontânea ser reordenada por diversas ações
de planejamento, todas com intuito de torná-la mais agradável e mais adequada à
nobreza que aí se instalou.
O processo histórico do país do final do século XIX e início do século
XX insere a cidade do Rio de Janeiro num mercado ainda incipiente do turismo
mundial, fato que vai desencadear as primeiras chegadas de levas de turistas, as
quais irão propiciar o início do processo de estruturação do sistema turístico local
(Lage e Milone, 1991; Trigo, 2000).
Se comparado com outros países e regiões, no Brasil, em especial no
Estado do Rio de Janeiro, a evolução do setor turístico vem ocorrendo de uma
forma mais lenta e menos sistemática. A distância entre nosso país e os grandes
centros emissores de demanda – Europa e América do Norte – deixa o produto
turístico nacional pouco competitivo em relação a produtos similares, oferecidos
por outros países como México, Aruba e as demais ilhas do Caribe, por exemplo.
Além disso, o longo período de instabilidade política e econômica, ocorrido na
história recente do país (décadas de 70 e 80), ajudou a criar uma imagem pouco
favorável para o nosso produto turístico, dificultando sua consolidação no
mercado internacional.
A cidade do Rio de Janeiro foi o palco “do início da atividade turística,
nos moldes do século presente” (Lage & Milone, 1991, p.21) no país. Com os
eventos desenvolvidos para a comemoração do cinqüentenário da independência
brasileira, durante o ano de 1922 surgiram “os primeiros hotéis no Rio de Janeiro
e foi criada a Sociedade Brasileira de Turismo, posteriormente chamada de
Touring Club do Brasil” (ibidem, p.21).
73
Antes disso, porém, ainda no século XIX, diversos viajantes europeus
narravam, em seus relatos, a impressionante beleza natural da cidade: Receio muito que todos os meus esforços para descrever não dêem ao leitor senão idéia bem abaixo da majestade e da beleza destes lugares, essa perspectiva, a mais magnífica das que a natureza pode oferecer, fere aos olhos maravilhados (John Barrow apud Taunay, 1943, p.110).
Com base nos modelos das cidades européias, especialmente Paris e
Viena, na virada do presente século (XX) inicia-se um período de modernização
da cidade, marcado pelas obras do prefeito Pereira Passos (1902-1906) e,
principalmente, pelo Plano Agache (1920) implantado pelo prefeito Prado Júnior,
que desenvolveu as primeiras propostas e ações voltadas para a captação de
fluxos turísticos internacionais para o Rio de Janeiro.
É nessa época que surge a expressão Cidade Maravilhosa, “criada em
1908 por Coelho Neto e, posteriormente popularizada por André Filho (1934),
através da marcha do mesmo nome” (TurisRio, 1999, p.127).
Inicia-se então, o processo de inserção da cidade do Rio de Janeiro no
mercado turístico internacional, com a instalação das premissas básicas para a
sua consolidação como centro turístico: liberação do jogo, construção de hotéis
de luxo, como, o Copacabana Palace, o Hotel Glória e o Hotel Palace, e “a
divulgação da imagem de um carioca alegre, descontraído e de espírito
universalista, sempre aberto a novas idéias e modas” (ibidem, p.128).
Essas características do carioca terminaram por ser institucionalizadas
por Gilberto Souto, Aloísio de Oliveira e Walt Disney no personagem “Zé Carioca”,
o qual tornou-se o estereótipo internacional do habitante da cidade do Rio de
Janeiro. Por seu intermédio, o turista era levado a vir para cá com a idéia
preconcebida de um lugar paradisíaco, cheio de mulheres atraentes, praias
ensolaradas, onde era possível dançar ao som de uma música diferente e exótica,
o samba.
A imagem do produto turístico da cidade do Rio de Janeiro foi cunhada
nesse período e, apesar de diversas tentativas posteriores de alterá-la, ainda hoje
74
ela está presente no inconsciente coletivo da maioria dos operadores turísticos e
dos turistas, nacionais e estrangeiros, que aqui aportam anualmente.
Com relação ao interior do Estado, correspondente ao território do
antigo Estado do Rio de Janeiro, o desenvolvimento turístico é bem mais recente
e muito pouco pesquisado, oferecendo escassas fontes de informações: “afora as
citações feitas a Petrópolis, cidade de veraneio da família imperial e,
posteriormente, da sociedade carioca, apenas são encontradas vagas referências
ao Parque Nacional de Itatiaia, a Cabo Frio e Búzios (depois do advento de
Brigitte Bardot) e ao Pico Dedo de Deus em Teresópolis.” (TurisRio, op. cit.,
p.128).
Por sua vez, a cidade de Niterói, por sua condição de capital do antigo
Estado e pela existência do Hotel-Cassino Icaraí (atual prédio da Reitoria da
UFF), apresentava desde a década de 40, alguma atividade turística incipiente,
composta basicamente de fluxos regionais.
A preocupação com a atividade turística em termos institucionais,
surgiu no ano de 1960 com a criação, pelo governo do antigo Estado do Rio de
Janeiro, da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro – Flumitur (Lei
n.º 4.221 de 12 de abril de 1960), com sede na capital Niterói , e da Riotur S/A
pelo governo do antigo Estado da Guanabara (abril de 1960). Em nível nacional a
Empresa Brasileira de Turismo – Embratur, é criada pelo decreto-lei n.º 55 de 18
de novembro de 1966, com sede na cidade do Rio de Janeiro, apesar de a capital
federal, àquela época, já estar transferida para Brasília.
O processo de interiorização mais sistemático da atividade turística
iniciou-se com a fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, no ano de
1974 (Lei Complementar n.º 20 de 01/07/1974). A Companhia de Turismo do
Estado do Rio de Janeiro – Flumitur1 é transferida de Niterói para o Rio de
Janeiro e passa a desenvolver ações voltadas, principalmente, para o interior do
Estado. Ao longo do tempo, fica visível que o seu “território de ação” é o interior,
enquanto o turismo no município do Rio de Janeiro é deixado a cargo da Riotur
1 Em 1988 a marca fantasia Flumitur foi alterada para TurisRio, como parte da estratégia de marketing proposta pela campanha “Cidades Maravilhosas do Estado do Rio de Janeiro”.
75
S/A, empresa com maior fôlego financeiro, ligada à estrutura administrativa
municipal a partir da fusão.
Essa cisão ajuda a criar um vácuo entre o produto turístico da cidade
do Rio de Janeiro e os produtos turísticos dos demais municípios do Estado,
dificultando a interiorização dos fluxos que já aportavam na capital. Somente após
a inauguração da Rodovia Rio-Santos e da Ponte Rio-Niterói (ambas na primeira
metade da década de 70), a população carioca passou a buscar mais os locais
litorâneos das regiões turísticas atualmente conhecidas como Costa Verde e
Costa do Sol, respectivamente.
A partir da década de 70 assiste-se, ainda que de forma tímida, à
inserção de diversos municípios e localidades no cenário turístico do Estado. Na
região do litoral sul (Costa Verde) despontam Itacuruçá, com suas “Ilhas
Tropicais” e a ilha Grande. Na conhecida região dos Lagos (Costa do Sol),
inserem-se Saquarema, Ponta Negra (Maricá) e Rio das Ostras. Nas regiões
serranas, o turismo inicia a sua estruturação em Conservatória, Penedo, Paty do
Alferes, Vassouras, Itaipava, Corrêas, Lumiar, dentre outras localidades.
Esse processo quase que espontâneo, acabou sendo apropriado, às
vezes de forma equivocada, pelas ações do poder público estadual, nas suas
diversas tentativas de ordenar o desenvolvimento turístico no território estadual,
como veremos no item seguinte.
3.2 Tentativas de ações de ordenamento territorial do turismo no Estado (1973-1999)
Historicamente, a nível mundial, o processo de planejamento de
territórios para uso pela atividade turística está assinalado pelo desenvolvimento
do Plano Diretor para a região de Languedoc-Roussillón, localizada no litoral
Mediterrâneo do sul da França, no ano de 1961 (Acerenza, 1987, v.2, p.40). A
partir dessa experiência francesa, a prática de elaboração de planos diretores de
turismo espalhou-se pelo mundo e chegou ao Brasil, ainda na década de 60.
76
No caso do Estado do Rio de Janeiro, essa prática de ordenamento do
território está marcada por experiências pontuais e assistemáticas, o que dificulta
uma análise mais profunda dos seus resultados, principalmente pela não
continuidade nos processos de implantação e pela quase inexistência de dados e
documentação escrita.
Dentro do corte temporal estabelecido para essa nossa análise,
identificamos diversas dessas tentativas de planejamento do território turístico do
Estado, a maioria delas realizadas sob o comando ou com o apoio da Companhia
de Turismo do Estado – TurisRio, algumas contemplando todo o território
estadual, outras apenas partes dele. Mesmo que algumas dessas tentativas não
tenham sido implantadas ou concluídas, entendemos ser importante a sua
análise, dado que todas, direta ou indiretamente, terminaram por reordenar a
atividade turística, promovendo novos arranjos e (re)estruturando as diversas
redes do turismo no Estado.
Por uma questão de ordem, optamos por apresentar essas ações em
ordem cronológica: projeto Turis (1973-75), identificação do espaço turístico
estadual (1979-81), identificação das áreas especiais de interesse turístico do
Estado (1983-85), plano indutor de investimentos turísticos na região dos Lagos
(1988-1989), campanha “Cidades maravilhosas do Estado do Rio de Janeiro”
(1988-90), Plano Diretor de desenvolvimento de pólos de turismo náutico (1988-
90) e Plano Diretor de Turismo do Estado (1987-1999).
Projeto Turis : desenvolvimento turístico do litoral Rio-Santos (1973-1975)
Com a elaboração do projeto de abertura da rodovia BR-101 no trecho
entre as cidades do Rio de Janeiro e Santos (SP), uma parte quase inacessível
do litoral brasileiro foi colocada à mostra, revelando forte potencial para o
desenvolvimento turístico, principalmente pelo fato de estar localizada entre as
duas maiores concentrações urbanas do país.
Preocupado com a preservação desse potencial, o Conselho Nacional
de Turismo, com base no decreto n.º 71.791/73, editou a resolução CNTur n.º 413
de 13 de fevereiro de 1973, declarando como Zona Prioritária de Interesse
77
Turístico, “a faixa litorânea compreendida entre o mar e uma linha imaginária,
medida horizontalmente, para a parte da terra, até 1 (hum) km após o eixo da
rodovia BR-101, no trecho situado entre as localidades de Mangaratiba (RJ) e
Bertioga (SP)” (artigo 1º da resolução CNTur 413/73). Estrategicamente foram
excluídas a ilha de Guaíba (RJ), as praias de Itaorna e Jacuacanga (RJ) e os
perímetros urbanos das sedes municipais daquela área. As exclusões das três
primeiras áreas deveu-se ao fato de as mesmas já estarem comprometidas com
outros empreendimentos econômicos: terminal portuário de minérios, usina
nuclear e terminal portuário de petróleo, respectivamente.
Com a criação da Embratur, em 1966, o Brasil inicia seus processos de
gestão do turismo, sendo que um dos primeiros projetos de ordenamento
territorial desenvolvidos por aquele órgão foi o Projeto Turis2. Esse projeto
objetivava não só ordenar o território do litoral Rio-Santos, mas também capacitar
os técnicos brasileiros nas metodologias mais modernas de planejamento
turístico. Com ele, “a Embratur logrou nivelar sua tecnologia à dos centros mais
especializados na matéria, ao permitir à sua equipe a adaptação de sistemas à
realidade brasileira, ao capacitá-la à elaboração de futuros planos de
aproveitamento turístico” (Embratur, 1975a, p.2).
Ao definir como base três modelos de desenvolvimento turístico
desenvolvidos na Europa (Côte d’Azur, Languedoc-Roussillón e Côte d’Aquitaine),
o Projeto Turis propôs para a região a adoção do turismo “sol e praia”, tendo
como ponto de referência o estudo da “densificação ocupacional das localidades
consideradas de interesse turístico, sempre dentro dos padrões ditados pela
Natureza e pela Realidade Nacional” (EBT, 1975b, p.1), e o “fato de ser a PRAIA
o mais importante elemento catalisador das duas molas mestras: as FÉRIAS e a
conseqüente demanda de LAZER” (Embratur, 1975a, p.1).
É interessante notar que aquele projeto já apresentava certa
preocupação com uma questão bem atual, quer seja aquela relacionada à
capacidade de absorção dos locais e áreas turísticas:
2 Reproduzindo a tradição da época, foi contratada no exterior a empresa de consultoria italiana SCET – Internacional, para desenvolver o Plano Diretor do litoral Rio-Santos.
78
Ocupar adequadamente uma região não significa instalar, em suma, o contigente, máximo de pessoas que ela comporta. Significa, sim, equilibrar número de residentes e número de visitantes, de modo que o total dessa justaposição não venha nunca comprometer em definitivo as condições naturais e ecológicas da região (Embratur, 1975b, p.1).
No entanto, a metodologia proposta via no território apenas o suporte
físico para a ocupação humana, devendo por isso ser “corrigido” na medida das
necessidades básicas de salubridade e conforto. Essa posição fica clara nas
referências às planícies litorâneas de manguezais, erroneamente classificadas
como pantanais. Essas áreas, bastante comuns em toda a região, eram vistas
como empecilhos à atividade turística, exigindo por isso “saneamento geral da
parte plana e [...] correção dos cursos fluviais, para contornar os riscos de
inundação e de poluição das praias” (Embratur, 1975a, p.4).
O projeto elencou duzentos e cinqüenta locais no continente e
sessenta nas ilhas maiores, os quais foram minuciosamente estudados e
classificados, a partir de suas capacidades turísticas teóricas, posteriormente
agrupados em vinte e três zonas homogêneas. O conceito de local adotado é
completamente empírico, estando relacionado a um “conjunto geográfico limitado,
formado por uma face marítima e por uma linha de crista ali inscrita” (Embratur,
1975a, p.8).
A partir dessa categorização foram estabelecidas as normas para
ocupação do território, muito próximas às legislações de uso do solo, às quais
previam a modulação da “área do terreno, o terreno mínimo, o coeficiente de
construção, o coeficiente de ocupação do solo, a altura dos edifícios, a
implantação e o estacionamento para automóveis” (Embratur, 1975b, p.2).
Como resultado, o projeto chegou à conclusão de que “as
possibilidades reais, em níveis ótimos, do litoral Rio-Santos, se estabelecem em
torno de 775.000 leitos, dos quais 42% devem corresponder aos lazeres e ao
turismo econômico, 42% a um turismo de tipo médio e, finalmente, 16% a um
turismo de qualidade” (Embratur, 1975a, p.28). a previsão era que esses números
fossem atingidos no ano de 1995. Não podemos afirmar se esses números foram
alcançados pela indisponibilidade dos dados referentes ao trecho paulista do
79
projeto, mas na sua parte fluminense certamente não o foram, dado que
continuidade de implantação não foi obedecida pelos governantes e dirigentes
seguintes.
Identificação do espaço turístico estadual (1979-1981)
Ação estabelecida pela EMBRATUR, a partir de 1979, com o objetivo
de orientar a programação dos governos federal e estaduais, “visando evitar
problemas futuros gerados pela ocupação desordenada do espaço”, através da
seleção de “espaços turísticos imprescindíveis a uma política de descentralização,
estabelecendo-se novos núcleos de apoio à expansão turística, bem como
disciplinar a ocupação territorial visando à preservação e valorização do
Patrimônio Turístico Nacional” (Embratur,1979, p.3).
A metodologia do projeto também baseava-se em outras experiências
internacionais, principalmente naquelas desenvolvidas pelo grupo de especialistas
em planejamento turístico reunidos no Centro de Capacitação Turística –
CICATUR ligado à Organização dos Estados Americanos - OEA, sediado na
cidade do México. Em linhas gerais, propunha um zoneamento turístico do
território nacional, estabelecendo zonas e centros com vocação turística, os quais,
numa segunda etapa, seriam hierarquizados de modo a permitir uma tipologia de
tratamento e a definição do grau de prioridade de cada um .
No Estado do Rio de Janeiro os trabalhos foram desenvolvidos pelos
técnicos da Flumitur (atual TurisRio), no segundo semestre de 1980 e primeiro
semestre de 1981. Obedecendo à orientação da Embratur, o espaço turístico
estadual incluiu, além dos municípios turísticos de interesse nacional, “aqueles
cujos atrativos motivem essencialmente fluxos intra-regionais.” (Embratur, 1979,
p.4).
O espaço turístico estadual definido pelo projeto ficou composto de seis
zonas turísticas efetivas: a) Rio de Janeiro e Niterói; b) Mangaratiba, Parati e
Angra dos Reis; c) Resende, Barra Mansa, Valença, Vassouras, Paraíba do Sul e
Miguel Pereira; d) Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo; e) Macaé, Casimiro de
Abreu, Campos e Itaperuna; f) Saquarema, Araruama, São Pedro da Aldeia e
80
Cabo Frio, e três zonas turísticas potenciais: a) São João da Barra; b)Santa
Maria Madalena, São Fidélis, Itaocara e Santo Antônio de Pádua; c) Maricá.
Os municípios identificados como centros turísticos nacionais pela
Embratur, no Estado do Rio de Janeiro foram: Rio de Janeiro, Petrópolis, Angra
dos Reis e Cabo Frio (incluindo ainda os distritos de Arraial do Cabo e Armação
dos Búzios, àquela época ainda não emancipados).
Esse zoneamento serviu de base técnica para alguns projetos, mas
caiu em desuso e no esquecimento, em virtude das alterações na orientação
político-administrativa tanto no governo federal como no estadual. Entretanto, a
partir da nossa experiência como técnico da TurisRio, podemos afirmar que por
ter sido a primeira tentativa de ordenamento de todo o território do Estado do Rio
de Janeiro sob a ótica do turismo, tornou-se uma importante referência técnica
para compreensão da evolução da atividade turística no Estado.
Identificação das áreas especiais de interesse turístico do Estado (1983-1985)
Com base na Lei Federal 6.766/79, que estabelece que todo o
parcelamento de solo em áreas determinadas como de interesse especial,
deverão merecer a anuência prévia dos governos estaduais, o governo do estado
do Rio de Janeiro, determinou que a Secretaria de Planejamento - SECPLAN e a
Fundação de Desenvolvimento Metropolitano da Cidade do Rio de Janeiro –
FUNFREM (órgão extinto em 1991), realizassem a definição daquelas áreas no
Estado. Para isso, foram formados grupos de trabalho setoriais, cabendo à
Flumitur (atual TurisRio) a definição das áreas especiais de interesse turístico.
Para esse trabalho, estabeleceu-se que “consideram-se áreas de
interesse turístico as superfícies territoriais do continente e de todas as ilhas
marítimas, lacustres e fluviais que concentrem recursos turísticos que possam ser
explorados turisticamente e cuja proteção é de fundamental importância para a
conservação das suas qualidades ecológicas como para a perpetuação de
atividades de recreação e lazer decorrentes do turismo” (Flumitur, 1985).
81
Gerado pela divisão de responsabilidades sobre a gestão do território
estadual entre a SECPLAN e a FUNDREM, os trabalhos foram desenvolvidos de
formas distintas e em ritmos diferentes nos dois recortes territoriais. Disso
resultou que o território, sob responsabilidade da SECPLAN, teve seus estudos
concluídos e devidamente regulamentados pela lei estadual n.º 1.130/87,
enquanto o território da região metropolitana do Rio de Janeiro viu o seu processo
de regulamentação interrompido e não concluído.
Assim como as outras tentativas de ordenamento do território turístico
estadual, esse trabalho também não foi implementado, apesar de a lei 1.130/87
ter sido regulamentada por decreto e continuar em vigor até os dias de hoje.
Plano indutor de investimentos turísticos na região dos Lagos (1988-1989)
Também denominado Plano Indutor de Desenvolvimento Turístico para
a Região dos Lagos, foi desenvolvido pela Agência de Desenvolvimento
Econômico do Estado do Rio de Janeiro - AD-Rio, com apoio da TurisRio. Em
janeiro de 1989 foi assinado um convênio de cooperação técnica entre os
governos do Estado do Rio de Janeiro e da Catalunha – Espanha, “para
desenvolvimento de um trabalho conjunto de planejamento, visando transferir o
qualificado know-how turístico adquirido pela Catalunha para o Rio de Janeiro”
(AD-Rio, 1989, p.1).
Por esse convênio, o Consórcio de Promoção Turística da Catalunha
desenvolveu o projeto na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, não só para
estabelecer “indicações preciosas para o investidor privado como também
fornecer diretrizes para a atuação correta das administrações municipais e
estaduais na execução de obras de infra-estrutura e de projetos turísticos para a
região” (AD-Rio, 1989, p.1).
A justificativa para a elaboração desse plano estava calcada em um
diagnóstico do turismo brasileiro da época, que sinalava para o fato de, apesar da
forte demanda potencial (nacional e internacional) existente, o Rio de Janeiro não
oferecer um produto turístico coerente e compatível com as exigências do
mercado. Segundo relatórios da época, esse desajuste era causado pela
82
ausência de uma política de turismo específica para um segmento de mercado, o
que demonstrava a ausência de um produto turístico altamente qualificado e
competitivo internacionalmente.
A escolha da Região dos Lagos do Rio de Janeiro baseou-se em
alguns pontos: a) a proximidade com a cidade do Rio de Janeiro e com o
Aeroporto Internacional (média de 60km); b) as características fisiográficas locais:
grande extensão do litoral, clima tropical, baixo índice pluviométrico e inverno com
temperaturas médias em torno de 20º C; c) topografia ideal para implantação de
campos de golfe; d) características culturais dos centros urbanos.
O plano indutor pretendia o desenvolvimento da região, tendo o turismo
como atividade econômica central, sempre orientado por ações de reordenamento
do uso do solo, preservação do meio ambiente, recuperação da paisagem
regional e melhoria dos sistemas de infra-estrutura, premissas básicas para todo
o processo. Na realidade, compunha-se de uma importação do modelo de
ordenamento territorial desenvolvido na região da Catalunha – Espanha:
Este modelo propõe uma oferta turística concentrada em 35 novos centros turísticos com diferentes capacidades de ocupação em locais cuidadosamente selecionados e associados aos recursos naturais e aquáticos. Esses centros se intercomunicarão através de uma rede básica de circulação e de eixos de lazer planejados, tais como, corredores náuticos, marinas e zonas verdes equipadas. Todos os centros serão auto-suficientes com infra-estruturas básicas dentro dos padrões preestabelecidos (AD-Rio, 1989, p.4).
Todos os centros turísticos propostos previam em suas áreas meios de
hospedagem e residências, campos de golfe, marinas, portos desportivos ou
ancoradouros, equipamentos de lazer, comércio, além dos serviços públicos de
saúde, educação e cultura. Se implantados, representariam um acréscimo
populacional de quase 300.000 habitantes para a região.
A previsão do plano era de um investimento total de US$ 1,8 bilhões,
com a geração de 8.100 empregos permanentes e 26.000 empregos no período
de implantação, previsto para 20 anos.
83
O grande elemento motriz desse plano era a criação de um novo
acesso rodoviário, moderno e rápido, entre a cidade do Rio de Janeiro e toda a
região. Essa auto-estrada teria seu traçado paralelo ao litoral, o mais interior
possível, visando a aumentar a área de desenvolvimento do projeto. Também
previa a construção de um aeroporto para vôos charters na região, a implantação
de um sistema de abastecimento de água através da potabilização da água do
mar por osmose reversa, e o tratamento integral dos resíduos sólidos em
estações de tratamento.
As dificuldades políticas encontradas junto aos municípios abrangidos,
a não disponibilização dos recursos financeiros necessários e a eleição de um
novo governo para o Estado, acabaram por inviabilizar o plano, que não teve
nenhuma das suas propostas sequer iniciadas.
Campanha “Cidades Maravilhosas do Estado do Rio de Janeiro” (1988-1990)
Apesar de se tratar de uma campanha de marketing, baseada na idéia-
força de agregar-se à marca Cidade Maravilhosa, o produto de outras cidades
próximas ao Rio de Janeiro, já preparadas para exercerem a função de centros
turísticos receptivos, essa ação provocou, a médio prazo, certo reordenamento no
território turístico do Estado do Rio de Janeiro.
A partir de dados empíricos e da experiência pessoal de alguns
diretores da empresa, foram selecionadas as localidades do Estado com
condições de funcionarem como centros receptivos de fluxos de demanda
interestaduais e internacionais, de forma complementar à cidade do Rio de
Janeiro: Angra dos Reis, Paraty, Visconde de Mauá, Itacuruçá, Itatiaia, Armação
dos Búzios, Nova Friburgo e Petrópolis.
De forma indireta, a campanha acabou alterando o ordenamento do
território turístico do Estado. Primeiro por ter induzido os fluxos turísticos para as
áreas escolhidas como cidades maravilhosas, em detrimento das demais áreas
do estado. Segundo, por ter despertado nos municípios deixados fora do
processo um desejo de se tornarem também uma cidade maravilhosa. Entre
críticas e reclamações, alguns municípios souberam aproveitar-se do momento e
84
passaram a trabalhar o desenvolvimento turístico local de maneira mais
sistemática de como vinha sendo feito até então. Municípios como Paty do
Alferes, Macaé e Vassouras, dentre outros, são testemunhos desse processo; foi
graças ao movimento gerado por essa campanha que eles, e outros aqui não
citados, se inseriram de forma mais marcante no produto turístico estadual.
Plano diretor de desenvolvimento de pólos de turismo náutico (1988-1990)
Já com base em alguns resultados da campanha de marketing descrito
no item anterior, e acompanhando as tendências de segmentação do mercado
turístico mundial iniciada em meados da década de 80, a TurisRio, em 1988,
contratou a empresa Tecnosan Engenharia S/A para a elaboração de um plano
diretor, com o propósito básico de reciclar e/ou otimizar os equipamentos
náuticos já existentes no litoral do Estado, e estimular a implantação de novos
empreendimentos para atender a esse segmento do mercado turístico.
Segundo o documento que consolida os resultados do trabalho, “o
plano encerra propostas que propiciam o incremento de atividades econômicas
decorrentes do turismo náutico, e oferece, ao mesmo tempo, subsídios para a
elaboração de um zoneamento turístico” (TurisRio, 1990, v.1, p.1.3).
Com base em argumentos empíricos sobre a importância do turismo
para a economia de países em desenvolvimento como o Brasil, e elencando um
rol extenso de atributos e potencialidades existentes no litoral fluminense, o plano
identifica e hierarquiza todos os pontos desse litoral, de acordo com as
possibilidades de cada um para a implantação de atividades náuticas.
É nesse sentido que o Plano estima a dimensão ideal para cada pólo, em função do turismo náutico [...] e seus reflexos na estrutura de renda e emprego. Desse modo propicia uma avaliação de impactos que permite a adoção de medidas preventivas para a redução e/ou absorção daqueles que se mostram danosos às estruturas físicas e de ocupação preexistentes e, ao mesmo tempo, potencializa os fatores que se mostram valiosos para o desenvolvimento harmônico de toda a zona costeira do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio, 1990, v.3, p.1.4).
85
Após a sua conclusão, o plano mostrou-se de difícil implantação,
principalmente por não ter contemplado um estudo mais criterioso sobre a
legislação de preservação do meio ambiente, além de praticamente ter ignorado o
plano de zoneamento costeiro do litoral brasileiro, em elaboração naquela época
pelos órgãos de meio ambiente federal e estadual.
Plano diretor de turismo do Estado do Rio de Janeiro (1997-1999)
Artigo 227: O Estado promoverá e incentivará o turismo, como fator de desenvolvimento econômico e social bem como de divulgação, valorização e preservação do patrimônio cultural e natural, cuidando para que sejam respeitadas as peculiaridades locais, não permitindo efeitos desagregadores sobre a vida das comunidades envolvidas, assegurando sempre o respeito ao meio ambiente e à cultura das localidades onde vier a ser explorado. § 1º O Estado definirá a política estadual de turismo buscando proporcionar as condições necessárias para o pleno desenvolvimento dessa atividade. § 2º O instrumento básico de intervenção do Estado no setor será o plano diretor de turismo, que deverá estabelecer, com base no inventário do potencial turístico das diferentes regiões, e com a participação dos Municípios envolvidos, as ações de planejamento, promoção e execução da política de que trata este artigo (Constituição do Estado do Rio de Janeiro, 1989).
Apesar desse dispositivo constitucional ter sido estabelecido em 1989,
somente a partir de 1997, a TurisRio em conjunto com a então Secretaria de
Estado de Planejamento – SECPLAN, iniciou a elaboração do Plano Diretor de
Turismo do Estado. Com a posse do atual governo estadual, em janeiro de 1999,
foram realizadas algumas articulações com o BID – Banco Interamericano de
Desenvolvimento, que liberou recursos financeiros para a contratação de uma
empresa de consultoria internacional para a elaboração de uma plano estratégico
de desenvolvimento do turismo do Estado do Rio de Janeiro. A empresa
contratada foi a DHVMC – Management Consultants Ltd. de Portugal, que passou
a articular-se com a equipe local para a conclusão dos trabalhos.
Esse plano está sendo elaborado como “pressuposto fundamental e
dispositivo privilegiado ao pleno desenvolvimento da atividade turística no
território estadual.” (TurisRio, 1999, p.2)). Seus objetivos básicos, além daquele
relacionado ao cumprimento do preceito constitucional são:
86
a. resgatar e sistematizar as informações e dados sobre a atividade turística no Estado, em bases consolidadas, no sentido de oferecer aos investidores e consumidores, alternativas e possibilidades de desenvolvimento e aproveitamento do setor;
b. consolidar o turismo com um dos principais segmentos econômicos do Estado, gerando novos empregos, incrementando a captação de receitas e valorizando as comunidades locais, através da elevação do seu nível de qualidade de vida (TurisRio, 1999, p.3).
O desenvolvimento do plano encontra-se no estágio de consolidação
do diagnóstico atual da atividade turística no Estado. Os diagnósticos regionais
preliminares foram objetos de discussão em oficinas regionais, com a participação
dos diversos segmentos públicos e privados de todos os municípios, envolvidos
com o setor. Dessas oficinas estão sendo extraídos subsídios para o diagnóstico
final e para as proposições, que serão materializadas em programas e projetos,
os quais deverão nortear a política estadual para o desenvolvimento turístico.
Com a conclusão do Plano Diretor de Turismo do Estado, prevista para
o início do ano 2001, pela primeira vez o Estado do Rio de Janeiro deverá contar
com uma política estadual de desenvolvimento turístico estabelecida por lei, a
qual irá balizar as ações, tanto institucionais quanto privadas, para o setor
turístico.
Vale a pena ressaltar que, mesmo que todas as ações ocorridas nas
últimas três décadas tenham sido aleatórias e descontínuas, elas contribuíram
sobremaneira para o cenário atual do ordenamento territorial do turismo no
Estado. Daí a sua importância para a compreensão do ordenamento territorial da
atividade turística , objetivo final deste trabalho.
3.3 Regionalização turística do território estadual
Com a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, a partir
da edição da Lei complementar n.º 20 de 01/07/1974, inicia-se um processo
tentativa de diminuir o desequilíbrio socioeconômico existente entre aqueles dois
87
territórios. Na caso específico do turismo, a busca é por uma mais efetiva e
sistemática interiorização dos fluxos turísticos, através da incorporação da oferta
turística potencial existente nos municípios do interior ao produto turístico da
cidade do Rio de Janeiro
Nesse sentido, o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social
proposto pelo Governo Estadual para o período de 1980-1983 (governo de
Chagas Freitas), objetivando facilitar os estudos micro-regionais e o planejamento
da atividade turística, definiu uma divisão do território estadual em seis regiões
turísticas: Metropolitana, Costa Verde, Costa do Sol, Norte, Serramar e Serrana,
sendo esta última subdividida em Serrana A e Serrana B ( Figura 1).
Essa divisão, resultado de estudos feitos em 1980, visando a orientar e
a organizar as ações institucionais para o fomento do turismo, baseava-se na
homogeneidade e complementaridade da oferta de recursos turísticos existentes,
nas características geomorfológicas e culturais e nos limites político-
administrativos dos municípios. Interessante notarmos a tentativa de criar nomes
que fossem vinculados às características turísticas de algumas das regiões.
Assim, a região do litoral sul do Estado passa a ser chamada de Costa Verde,
dada a coloração esverdeada do seu mar e, a região das baixadas litorâneas
ganha o nome de Costa do Sol, graças ao alto índice de insolação que toda a
região apresenta.
Apesar de ainda vigente, essa regionalização não corresponde à atual
conjunção socioeconômica estadual, principalmente em virtude do processo de
emancipação, quase sem controle, de vinte e oito novos municípios, ocorrido no
período de 1985-1999, que gerou uma nova configuração político-administrativa.
Além disso, nos últimos vinte anos ocorreu um processo de expansão e de re-
arranjos nas articulações dos núcleos urbanos do Estado, frutos da nova
realidade dos sistemas de comunicação e de transportes, que estabeleceram
novas redes diferenciadas entre os municípios.
89
3.4 Novos arranjos territoriais dos lugares turísticos: tendências atuais.
Como já dito no item anterior, a regionalização do território estadual
ainda utilizada para fins de planejamento pelos órgãos da administração estadual,
encontra-se fora da atual realidade da atividade turística. Esse fato, já detectado
no diagnóstico do Plano Diretor de Turismo em desenvolvimento pela TurisRio,
sinaliza a necessidade de sua redefinição: Atualmente, o território estadual apresenta uma conjunção diferente daquela levada em consideração quando da definição da regionalização turística em vigor [...] Verifica-se ainda a expansão dos núcleos urbanos e sua articulação e integração, resultantes da evolução dos meios de comunicação e da expansão do sistema viário, responsáveis pelo encurtamento das distâncias e pela modificação nas relações intermunicipais” (TurisRio, 1999, p.29).
Entretanto, com a implantação do processo de municipalização da
gestão do turismo, através do Programa Nacional de Municipalização do Turismo
– PNMT, coordenado a nível nacional pela Embratur, e pela TurisRio no nível do
Estado, observamos diversos movimentos, mais ou menos espontâneos,
envolvendo diversos grupos de municípios circunvizinhos, no sentido de se
estabelecerem unidades regionais com características turísticas homogêneas,
objetivando a otimização do desenvolvimento turístico em seus territórios (Figura
2).
É interessante observarmos que esses movimentos regionais não
estavam previstos nas diretrizes do PNMT. Segundo os documentos que
formatam o programa “a municipalização é um processo de desenvolvimento
turístico por meio da conscientização da população beneficiária das ações
realizadas no próprio Município”, sendo seu objetivo geral “fomentar o
desenvolvimento turístico sustentável nos Municípios, com base na
sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultural e política” (Embratur, 1999,
p.8 e9) (grifos nossos).
91
Entretanto, dado ser o PNMT um programa voltado especificamente
para a capacitação das pessoas envolvidas com o turismo nos municípios, não
estando previsto, em nenhum dos seus momentos, repasse de recursos
financeiros, o processo terminou por extrapolar os limites municipais, na medida
em que a atividade turística não está limitada a eles. Pelas próprias
características de composição do seu produto, a atividade turística nem sempre
pode ser circunscrita nos limites políticos administrativos dos municípios. Sendo a
matéria prima desse produto basicamente composta pela paisagem natural e
construída dos lugares, na maioria das vezes, termina por abarcar territórios de
vários municípios, estados e, até mesmo, países3.
Á medida que os agentes locais (secretários e técnicos municipais,
empresários, presidentes de associações, etc.) tomam contato com um
conhecimento mais técnico sobre o fenômeno turístico, através das oficinas de
capacitação do PNMT, automaticamente vão compreendendo que, salvo raras
exceções, só conseguirão implantar ou estimular o processo de desenvolvimento
dessa atividade, se o fizerem a partir de uma visão mais ampla, uma visão
regional.
O exemplo mais concreto desse fato no Estado do Rio de Janeiro é a
formação do CONRETUR – Conselho Regional de Turismo da Região das
Agulhas Negras, composto pelos municípios de Itatiaia, Resende, Quatis e Porto
Real, aí representados tanto pelos seus órgãos públicos de turismo, como pelos
diversos setores da sociedade civil organizada ligados à atividade turística
(hoteleiros, guias de turismo, etc.). A partir de um processo de planejamento
participativo4, os seus integrantes perceberam que os quatro municípios
apresentam uma identidade turística em comum, definida pelas presenças
decisivas do maciço das Agulhas Negras e do Parque Nacional de Itatiaia. A partir
dessa constatação, passaram a trabalhar a gestão do turismo de forma regional e
3 É o caso das Cataratas de Iguaçu, produto turístico inserido na rede mundial de turismo e que se compõe de atrativos pertencentes aos territórios brasileiro e argentino. O mesmo ocorre com o circuito das fazendas de café do vale do rio Preto, que ora estão localizadas em território fluminense, ora em território mineiro. 4 Metodologia básica do processo de municipalização desenvolvido pelo PNMT, onde o conhecimento é estruturado a partir do conhecimento do grupo e não imposto pelos técnicos vindos de fora da comunidade.
92
não mais isolada. Todas as suas ações, do planejamento ao marketing, desde
então vêm sendo trabalhadas em conjunto, sem prejuízo da individualidade
político-administrativa de cada município componente do conselho regional.
O mesmo processo está ocorrendo com os municípios localizados na
região do médio vale do Paraíba (Piraí, Valença, Vassouras, Barra do Piraí,
Miguel Pereira, Rio das Flores, Mendes, Paty do Alferes, Engenheiro Paulo de
Frontin e Paracambi.), onde está sendo estruturado o CONCICLO – Conselho
Regional de Turismo do Ciclo do Café, onde a identidade turística está sendo
construída a partir da presença de um grande número de fazendas do ciclo
cafeeiro (séculos XVIII e XIX), as quais estão sendo preparadas para tornarem-se
produtos turísticos, especializados em agroturismo e turismo cultural. Esse
processo foi iniciado pela sociedade civil da região, através de uma ONG
denominada PRESERVALE, a partir da qual se expandiu, incorporando outros
segmentos do setor turístico regional, inclusive a TurisRio.
Outro movimento importante vem se desenvolvendo na região turística
da Costa do Sol, onde há alguns anos, antes mesmo do início da implantação do
PNMT no Estado, os municípios daquela parte do território estadual detectaram o
fato de estarem interligados por uma identidade turística única, baseada nos seus
elementos naturais (sol, lagoas e praias), a partir do que passaram a trabalhar a
sua divulgação e promoção de forma conjunta.
O processo de união desses municípios foi provocado pela elaboração
do plano indutor de investimentos turísticos na região dos Lagos, por um empresa
de consultoria da Espanha, contratada pelo Governo Estadual. Apesar da não
implantação daquele plano, seu processo envolveu e despertou os municípios
para o fato de possuírem um produto turístico homogêneo, que poderia e deveria
ser trabalhado em conjunto por todos e não de maneira individualizada, como
vinha ocorrendo até aquele momento.
Inicialmente, os secretários municipais de turismo de Maricá,
Saquarema, Araruama, , Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, São
Pedro da Aldeia e Rio das Ostras (na ocasião os atuais municípios de Armação
dos Búzios e Iguaba Grande ainda não tinham se emancipado), formaram a
93
“TurisLagos”, entidade intermunicipal voltada para a divulgação do produto
turístico regional. Aquela entidade, por motivos político-partidários, na prática não
conseguiu atingir seus objetivos plenamente, apesar de ter desenvolvido diversas
ações com relativo sucesso, antes de ser “esvaziada” politicamente.
Atualmente, encontra-se estruturado e em atividade, o Fórum de
Secretários Municipais de Turismo da Região da Costa do Sol, em que buscam
organizar o desenvolvimento turístico regional, discutindo questões que vão
desde a qualidade dos seus serviços até a divergência do nome da região,
chamadas por alguns de região dos Lagos e de Costa do Sol por outros. Esse
fórum oficializou o nome da região como sendo Costa do Sol, por entendê-lo mais
coerente com as características turísticas regionais.
Outra decisão importante do fórum foi a incorporação dos municípios
de Macaé, Quissamã e Carapebus na composição da região, estendendo os
limites regionais até o litoral norte do Estado.
Também através de discussões regionais, outra parcela do território do
Estado vem se reunindo e tentando se articular enquanto região turística, tendo
como diferencial o slogan “do outro lado da serra”, originado pelo fato estarem
localizados na vertente norte da Serra do Mar. Nesse grupo estão os municípios
de Sumidouro, Duas Barras, Carmo, Cantagalo, Bom Jardim, Cordeiro, Macuco,
Trajano de Moraes, Santa Maria madalena e São Sebastião do Alto. A princípio, a
identidade dessa região espontânea esta concentrada na possibilidade do
desenvolvimento do segmento do turismo rural.
Do mesmo modo, ainda que de maneira tímida, os municípios da
região noroeste do Estado, desde março de 1999, vêm se reunindo e procurando
articular um fórum regional de desenvolvimento turístico, envolvendo os
municípios de Natividade, Varre-Sai, Porciúncula, Itaperuna, Bom Jesus do
Itabapoana, Aperibé, Santo Antônio de Pádua, São José do Ubá, Cambuci,
Itaocara e São Fidélis. Nesse caso específico, essa articulação fica prejudicada
pela ausência clara de uma identidade turística regional e pela falta de infra-
estrutura básica em toda a região, reconhecidamente a mais carente de todo o
território estadual.
94
Partindo do fato de ser o território do turismo definido pela existência
de recursos naturais e culturais, capazes de motivar correntes de demanda de
visitantes oriundos de outros locais (Boullón, 1990), podemos perceber que esses
novas unidades regionais dão ao Estado do Rio de Janeiro, uma outra
configuração territorial para a atividade turística, na qual existem vazios,
representados por aquelas áreas que não possuem características e
potencialidades para o desenvolvimento da atividade turística.
Esses movimentos espontâneos, mesmo que induzidos indiretamente
pelo processo de municipalização do turismo, proposto pelo PNMT e por outras
ações da TurisRio, estão gerando um re-arranjo na organização territorial do
turismo no estado, o qual não poderá ser ignorado pelos órgãos públicos
estaduais e federais, uma vez que os municípios têm autonomia para se
organizarem e se agruparem de acordo com os seus interesses e afinidades
regionais. Além disso, como veremos a seguir, a distribuição dos fluxos de
visitantes pelo território estadual, fruto do desejo dos próprios turistas ou pelas
ações da mídia, também interfere nesse ordenamento territorial, podendo ser
facilmente percebidos, mesmo que empiricamente.
3.5. Distribuição dos fluxos turísticos pelo território estadual
A organização e o ordenamento territorial da atividade turística pode e
deve ser também visualizada a partir da distribuição dos fluxos de turistas pelo
território, que é fruto e reflexo da complexidade das formas de produção e de
consumo dos produtos turísticos. Os turistas decidem pelos lugares turísticos a
partir das informações e das suas imagens, inventadas e divulgadas pela mídia, e
são essas decisões que vão estabelecer como será a sua circulação pelo
território, dado que, na maioria das vezes, seus deslocamentos envolvem mais de
um lugar turístico durante uma mesma viagem.
O produto turístico, ao contrário de outros produtos, compõe-se de uma
cadeia de produtos e serviços, mais ou menos autônomos, produzidos e
oferecidos por diversos produtores independentes. Para RUSCHMANN (1991), o
95
produto turístico, do ponto de vista do seu consumidor – o turista – “engloba a
experiência completa, desde o momento que sai de casa para viajar, até o
retorno” (p.27). Trata-se de um bem de consumo abstrato, que só pode ser
consumido no lugar e, na maioria das vezes, no momento da sua produção, o que
impossibilita um conhecimento prévio do turista e dificulta o controle da sua
qualidade.
Essa “coincidência espacial e temporal da venda e da prestação do
serviço turístico com o seu consumo” (ibidem, p.30), exige dos lugares turísticos
que se organizem, inclusive territorialmente, segundo as características e as
expectativas dos seus consumidores. Daí podermos perceber no Estado os
movimentos espontâneos de agrupamentos de alguns municípios, apontados no
item anterior, todos frutos da percepção dos gestores locais da importância do
desenvolvimento do trabalho conjunto, uma vez que os seus produtos turísticos
são complementares e não concorrentes.
3.5.1 Os diferentes tipos de consumidores do produto turístico
De acordo com a OMT(1994), os consumidores do produto turístico –
os visitantes – classificam-se em duas categorias: turistas e visitantes de um dia.
Considera-se visitante “toda pessoa que se desloca a um lugar distinto do seu
entorno habitual, por um período inferior a doze meses, e cuja finalidade principal
da viagem não é a de exercer uma atividade remunerada no lugar visitado” (OMT,
1994, p.7). O turista é o visitante que permanece pelo menos uma noite no lugar
visitado, utilizando os serviços de hospedagem local, enquanto o visitante de um
dia, mais conhecido como excursionista, é aquele visitante que não pernoita no
lugar visitado, aí permanecendo apenas algumas horas.
Para fins de controle estatísticos dos fluxos de visitantes, segundo as
recomendações da OMT, essa divisão em duas categorias – turista e
excursionista – parece ser suficiente. No entanto, para o nosso objetivo de buscar
a compreensão da lógica do ordenamento territorial do turismo, entendemos ser
96
necessária a inclusão de uma terceira categoria composta pelos veranistas5,
entendidos enquanto aqueles visitantes que pernoitam nos lugares visitados, mas
que não se utilizam dos meios de hospedagem locais, optando pelo alojamento
em residências, próprias ou alugadas de terceiros.
Para cada uma dessas três categorias de consumidores do produto
turístico, encontramos lógicas diferenciadas de apropriação e de consumo dos
lugares, as quais, na maioria das vezes, ocorrem sincronicamente no mesmo
lugar.
Cabe ainda lembrar que, no caso da categoria dos turistas, também é
importante desagregá-la em pelo menos dois subgrupos: turistas internacionais e
turistas nacionais. O primeiro subgrupo é composto pelos visitantes residentes no
exterior do país e o segundo, pelos visitantes residentes no Brasil,
independentemente das suas nacionalidades.
No Estado do Rio de Janeiro podemos identificar a presença das três
categorias de visitantes, praticamente por todo o seu território, ora de maneira
mais nítida e concentrada, ora de forma mais esparsa. A distribuição dos fluxos
turísticos, a partir do mapeamento da distribuição espacial dessas três categorias
propostas, permite-nos a visualização de uma série de redes de lugares turísticos,
superpostas e articuladas sobre o território estadual, interligadas pelos sistemas
de transportes e de comunicação e pelas diversas relações e interrelações
existentes entre os seus sistemas turísticos locais.
3.5.2 Distribuição dos fluxos de turistas
Os fluxos de turistas – nacionais e internacionais – se distribuem de
forma bastante irregular pelo território estadual (Figura 3), concentrando-se de
forma bastante visível na faixa litorânea do território estadual, principalmente na
cidade do Rio de Janeiro, maior e mais importante centro turístico do país.
5 Esse procedimento técnico foi adotado no desenvolvimento do Plano Diretor de Turismo do Estado, em fase final de elaboração na TurisRio, após ser amplamente discutidos pela equipe técnica, a partir das características dos fluxos de visitantes existentes atualmente.
97
Fluxos de turistas internacionais
O Rio de Janeiro, segundo as pesquisas anuais da Embratur, continua
sendo a cidade mais procurada pelos turistas internacionais que visitam o Brasil
(tabela 1). Apesar de não ser mais o principal portão de entrada desses turistas
(tabela 2), em virtude da descentralização das rotas aéreas e da abertura de
novos portões ao longo da fronteira terrestre, a cidade mantém-se como um dos
mais importantes pontos de recepção de turistas internacionais, principalmente
aqueles vindo do continente europeu.
Tabela 1- Cidades brasileiras mais visitadas por turistas internacionais Cidade 1997 % 1998 % 1999(*) %
1 Rio de Janeiro 1.065.806 37,4 1.455.061 30,2 1.690.000 32,5 2 Florianópolis 396.115 13,9 674.532 14,0 920.400 17,7 3 São Paulo 669.691 23,5 886.527 18,4 712.400 13,7 4 Salvador 347.669 12,2 525.171 10,9 660.400 12,7 5 Foz do Iguaçu 336.270 11,8 428.809 8,9 618.800 11,9 8 Búzios 79.793 2,8 260.176 5,4 244.400 4,7 Brasil 2.849.750 100,0 4.818.084 100,0 5.200.000 100,0
Fonte: Anuário Estatístico 1999 – Embratur. (*) estimativa
Tabela 2- Principais portões de entrada de turistas internacionais no Brasil
Estados 1996 1997 1998 São Paulo 988.903 1.007.456 1.251.456
Rio Grande do Sul 512.648 516.635 952.236 Rio de Janeiro 518.046 557.188 734.026
Paraná 185.532 225.187 544.198 Brasil 2.665.508 2.849.750 4.818.084
Fonte: Anuário Estatístico 1999 – Embratur
De acordo com as mesmas pesquisas da Embratur, o Rio de Janeiro
recebeu em 1998, 1.455.061 turistas internacionais, que aqui permaneceram em
média dez dias e, em sua grande maioria (84,5%), hospedaram-se em meios de
hospedagem. Desse total, a sua maioria são provenientes dos Estados Unidos
(19,25%) e da Argentina (17,21%), conforme mostrado na tabela 3:
Entretanto, desse contingente de turistas internacionais que aportam
na cidade do Rio de Janeiro, poucos são aqueles que se deslocam pelos lugares
turísticos do interior do estado. Segundo pesquisas realizadas pela TurisRio, em
1997, com base nas informações das fichas nacionais de registros de hóspedes
99
(FNRH) fornecidas pelos meios de hospedagem, “enquanto a participação dos
turistas estrangeiros na capital é de 36,1% , nos hotéis do interior do Estado esta
participação cai para 9,9%” (TurisRio, 1999, p.78).
Tabela 3 - Principais centros emissores de turistas internacionais
para o Rio de Janeiro
Centro emissor
1996
1997
1998 Variação % (96-98)
EUA 88.573 106.455 141.314 59,5 Argentina 108.667 105.557 126.344 16,2 Alemanha 40.777 45.019 71.967 76,5
Itália 36.047 39.272 49.452 37,2 Chile 13.169 17.260 33.656 55,6
França 26.813 25.070 30.052 12,1 Inglaterra 21.588 23.873 29.902 38,5 Espanha 21.811 23.459 28.656 31,4 Portugal 20.461 23.046 28.101 37,3
Suíça 11.851 12.299 16.155 36,7 Uruguai 10.093 10.634 13.973 38,4 Holanda 12.268 10.585 13.926 13,5
Fonte: Anuário Estatístico 1999 – Embratur
Segundo a mesma pesquisa, os municípios do interior do Estado onde
a participação de turistas internacionais no total de turistas recebidos é
significativa, são Macaé (31,26%), Paraty (23,3%) Armação dos Búzios (18,35%),
Mangaratiba (16,26%) e Angra dos Reis (11,71%). Cabe ressaltar que a elevada
participação de turistas internacionais na cidade de Macaé está ligada à presença
das plataformas de extração de petróleo na área, responsáveis pela presença de
um grande número de profissionais6 de outros países.
Também é interessante notar que, apesar da utilização de
metodologias diferenciadas, os dados das pesquisas da TurisRio não confirmam
aqueles indicados pela pesquisas da Embratur (tabela 1), onde apenas Armação
dos Búzios aparece entre as cidades brasileiras mais visitadas por turistas
estrangeiros.
6 Conforme orientação da OMT, esse tipo de visitante devem ser computados como turistas, dentro da categoria de turismo de negócio.
100
Fluxos de turistas nacionais
A ausência de pesquisas sistemáticas acerca dos fluxos de visitantes
no interior do Estado dificultam, sobremaneira, os estudos e a elaboração de
séries históricas que permitam a mensuração desses fluxos. Entretanto, com base
em alguns dados esparsos existentes e na nossa experiência de vinte anos como
técnico da TurisRio, é possível mapearmos a distribuição dos fluxos de turistas
nacionais pelo território estadual.
Segundo o documento Plano Diretor de Turismo – diagnóstico
preliminar, elaborado pela TurisRio em setembro de 1999, o Estado do Rio de
Janeiro recebeu, em 1995, 2.928.841 turistas nacionais, o que representou
22,11% do total de visitantes recebidos pelo Estado naquele ano (TurisRio, 1999,
p.90).
Desse total, 33,56% eram oriundos do Estado de São Paulo, 33,74%
do próprio Estado do Rio de Janeiro, 10,87% de Minas Gerais e 21,83% dos
demais estados do país. O principal motivo da viagem para o Estado do Rio de
Janeiro, declarado pelos turistas nacionais foi o lazer (42,51%), seguido pelo
negócios (36,59%) e pela participação em congressos e convenções (9,04%)
(ibidem, p.90).
Com relação ao tempo de permanência média no Estado, 43,8%
declararam ter permanecido apenas um dia, 23,4% dois dias, 14,7% entre 4 e 7
dias e 3,9% três dias. No geral, a permanência média do turista nacional no
Estado foi de 2,75 dias (ibidem, p.91).
Diante da falta de dados consistentes e sistemáticos, um dos critérios,
através do qual podemos obter uma visualização da distribuição dos fluxos de
turistas nacionais pelo território estadual, é a distribuição da oferta de leitos e de
unidades habitacionais em meios de hospedagem pelas regiões turísticas do
estado (tabela 4). Esse critério, reforçado pelos dados da TurisRio, que apontam
para o fato de apenas 9,9% dos hóspedes registrados em meios de hospedagem
do interior do Estado serem oriundos de fora do país (TurisRio, 1999, p.78),
101
permite-nos deduzir que a grande maioria da oferta de leitos em meios de
hospedagem do Estado são ocupados por turistas nacionais.
Tabela 4 - Oferta de leitos e de unidades habitacionais (UHs) nas regiões turísticas do Estado – junho/1997
Região turística Uhs Leitos % do Total Metropolitana 16.497 38.031 41,1 Costa do Sol 6.009 17.156 18,5
Serrana A 4.309 11.505 12,4 Serrana B 4.118 11.189 12,1
Costa Verde 3.189 8.553 9,2 Norte 1.689 3.859 4,2
Serramar 1.128 2.301 2,5 Estado 36.939 92.594 100,0
Fonte: adaptado de TurisRio, 1999. p.87
Por esse critério, podemos ver que a distribuição da oferta de leitos no
território estadual é bastante concentrada nos municípios litorâneos (Anexo A),
que juntos, respondem por cerca de 68,8% da oferta total, confirmando a
tendência do turismo de “sol e praia” como o preferido pelo turismo nacional.
Da mesma forma, nos municípios do interior, vimos confirmar a
concentração de oferta de leitos (Anexo A), conseqüentemente, de turistas
nacionais, naqueles municípios já consolidados como lugares turísticos
tradicionais: Nova Friburgo, Resende (leia-se Engenheiro Passos e Visconde de
Mauá), Itatiaia (incluindo Maromba e Penedo), Teresópolis e Petrópolis.
3.5.3 Distribuição dos fluxos de veranistas
Desde a época do império, a cidade do Rio de Janeiro caracterizou-se
pelo fato de ser um centro emissor de veranistas para as áreas próximas. Esses
visitantes buscavam a tranqüilidade das áreas rurais para usufruírem dos seus
finais de semana ou a amenidade do clima serrano nos meses do forte verão
tropical, característico da região sudeste do país. As cidades de Petrópolis e
Teresópolis são exemplos dessa tendência, tendo ambas surgido pela influência
dos deslocamentos constantes da família imperial para os seus territórios, na
estação de verão.
102
Atualmente essa tendência pode ser comprovada pelos dados do
Censo Estatístico do IBGE, onde são apontados os domicílios residenciais de uso
ocasional de cada município do Estado. Segundo a TurisRio (1999), a partir
desses dados do IBGE é possível estimar em cerca de 9.548.652 o total de
veranistas que circulam pelo Estado anualmente (Anexo B). Essa estimativa, feita
através de uma extrapolação dos dados do IBGE, nos permitem visualizar os
principais lugares de concentração de veranistas (Figura 4)), e as principais
articulações e relações que seus deslocamentos estabelecem no território
estadual.
A partir desses dados, dentro os vinte municípios com maiores
concentrações de domicílios de uso ocasional, temos dezessete localizados no
raio de influência da cidade do Rio de Janeiro e três na área de influência da
cidade de Campos dos Goytacazes, maior centro urbano da região norte do
Estado. Isso corrobora a proposta de a cidade do Rio de Janeiro continuar sendo
a grande emissora de veranistas para o interior do Estado, gerando em torno de si
um grande cinturão de até 150km, onde o número de residências de veraneio são
mais comuns.
Ainda entre os vinte maiores receptores de veranistas, podemos
identificar oito dos dez municípios que compõem a região turística da Costa do
Sol e dois da região Costa Verde, confirmando a tendência de concentração dos
fluxos de veranistas nos municípios litorâneos, localizados no entorno do
município do Rio de Janeiro e o papel desempenhado pela abertura da rodovia
Rio-Santos e pela inauguração da ponte Rio-Niterói, na distribuição dos fluxos de
veranistas pelo território estadual.
Merece ser destacada também a participação expressiva dos três
municípios da região Serrana B, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo,
tradicionais locais de veraneio das classes alta e média alta da capital do Estado.
104
3.5.4 Distribuição dos fluxos de excursionistas
A característica básica de não pernoitar nos locais visitados faz com
que os fluxos de excursionistas tenha um deslocamento físico limitado (distância-
tempo de viagem). Tratam-se, principalmente, de deslocamentos de massa da
classe média baixa, concentrados majoritariamente nos finais de semana e
feriados prolongados, essencialmente nas regiões circundantes aos grandes e
médios centros urbanos.
Alguns autores, dentre eles BOULLÓN (1990) nos apontam para um
limite aproximado de duas horas de distância-tempo entre o local de residência
permanente e o lugar visitado, para essas viagens de ida e volta no mesmo dia: A fin de permitir un viaje de ida y regresso en el día, el radio de influencia se ha estimado en dos horas de distancia-tempo. Esta relación es una medida que establece la longitud de camino que en esa unidad de tiempo puede recorrer un autobús de transporte turístico (Boullón, 1990, p.70)7
Partindo do princípio de que a grande maioria dos excursionistas se
utiliza de ônibus turísticos para o seu deslocamento, podemos estabelecer uma
distribuição do fluxo pelo território estadual, a partir dos principais centros
emissores, tanto do estado como dos Estados circunvizinhos (São Paulo, Minas
Gerais e Espírito Santo). Também levando em consideração o fato do estado do
Rio de Janeiro não possuir muitas auto-estradas que permitam deslocamentos a
grandes velocidades, podemos estabelecer que a velocidade média possível fica
em torno de 70km/hora, o que nos dá um limite de deslocamento para as viagens
de um dia de cerca de 140km.
Com esses parâmetros definidos, podemos possível estabelecer os
principais pólos de concentração de fluxos de excursionistas no Estado. Em sua
grande maioria, esses fluxos se dirigem a lugares que oferecem opções de lazer,
relacionadas com recursos hídricos (praias, rios e cachoeiras) circundados por
7 Com o objetivo de permitir uma viagem de ida e volta no mesmo dia, o raio de influência é calculado em duas horas distância-tempo. Esta relação é a medida que estabelece qual a distância possível a ser percorrida por um ônibus de turismo, na unidade de tempo estabelecida. (tradução livre).
105
áreas naturais preservadas. Em poucos casos podemos identificar deslocamentos
motivados por aspectos religiosos (Natividade e Porto das Caixas).
O maior centro emissor de excursionistas do Estado é a região
metropolitana, segunda maior concentração populacional do país. Em posição
de menor destaque como centros emissores podemos destacar as cidades de
Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Volta Redonda, Barra Mansa, Macaé,
Resende, Petrópolis e Itaperuna. De fora do Estado, podemos listar como centro
emissores de excursionistas as cidades de médio porte do vale do Paraíba
paulista, da Zona da Mata de Minas Gerais e do sul do Espírito Santo. De uma
maneira geral, podemos visualizar os lugares receptores dos fluxos de
excursionistas mais importantes do Estado no mapa mostrado na Figura 5.
Como já dito, esses lugares de concentração dos fluxos de
excursionistas estão diretamente ligados à oferta de atrativos relacionados com
os recursos hídricos naturais (cachoeiras, rios, praias, lagoas, etc.). Entretanto,
em alguns municípios periféricos da região metropolitana do Rio de Janeiro,
verifica-se um novo fator de atração desses fluxos, representados pelos “sítios de
aluguel”, pequenas propriedades localizadas na franja periférica da malha urbana,
que podem ser alugados por dia, oferecendo ao excursionista alguns
equipamentos básicos de lazer: piscina, campo de futebol, playground, etc. As
maiores concentrações desses sítios estão nos municípios de Itaguaí, Itaboraí,
Guapimirim e Magé.
Vale salientar, também, que os fluxos de excursionistas estão
diretamente ligados ao verão, época do ano em que a maioria dos fluxos ocorrem,
o que tem levado alguns municípios a imporem algumas normas de controle
sobre a entrada dos ônibus de excursão em seus territórios.
Alguns municípios, como, Araruama, Cabo Frio, Angra dos Reis, Niterói
e Armação dos Búzios, editaram decretos municipais, impondo taxas para cada
veículo coletivo, como forma de restringir o seu número diário. A alegação desses
municípios está no fato de esse tipo de visitante (excursionista) não trazer
entrada de receitas para o lugar visitado, além de provocar danos aos atrativos
106
turísticos (lixo, depredação, etc.), gerando, portanto, prejuízos à população
residente.
O mapeamento simultâneo da distribuição dos três tipos de fluxos
turísticos (turistas, veranistas e excursionistas) verificados no território estadual,
permite-nos constatar a existência de diversas redes do turismo, superpostas
sincronicamente, gerando o que estamos aqui propondo classificar como
território-rede do turismo estadual.
No próximo capítulo, iremos detalhar as características de cada uma
dessas redes e o papel dos seus nós – os lugares turísticos – no ordenamento
territorial do turismo no Estado do Rio de Janeiro.
4. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO TURISMO NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO E INSERÇÃO DOS LUGARES TURÍSTICOS
Com as informações e dados obtidos sobre o processo de construção
do território do turismo no Estado do Rio de Janeiro, expostos no capítulo anterior,
podemos avançar nos objetivos da nossa pesquisa, quais sejam o de
compreender o ordenamento daquele território turístico, tanto na sua escala maior
(estadual), como na escala local dos lugares turísticos.
O Estado do Rio de Janeiro, tradicionalmente considerado como o mais
importante centro turístico nacional e um dos principais portões de entrada para
os fluxos de turistas estrangeiros de todo o continente sul-americano, apresenta
sobreposto ao seu território, um conjunto de redes bastante amplo de nós/lugares
turísticos, interligados por uma densa malha de rodovias, hidrovias, ligações
aéreas1 e por uma intrincada rede de comunicações. Nessa rede, a cidade do Rio
de Janeiro, por suas características histórico-culturais, políticas e demográficas,
assume o papel de lugar turístico central, catalisando para si a maioria dos fluxos
turísticos, assumindo através da supra-estrutura aí instalada, o comando do
funcionamento do território-rede turístico estadual.
Esse território-rede está superposto sincronicamente a outros como
aqueles ligados à produção agrícola, de petróleo, etc. apresentando interstícios
(vazios) que lhe conferem certa descontinuidade física, sem que isso impeça uma
1 A malha ferroviária existente no Estado não é utilizada para os deslocamentos dos fluxos de turistas, devido à precariedade e falta de linhas regulares para transportes de passageiros.
109
caracterização territorial. Essa descontinuidade existe em razão da atividade
turística ocorrer no território a partir de elementos objetivos (atrativos,
equipamentos turísticos, etc.) e de elementos subjetivos (o olhar do turista
proposto por URRY,1996) que juntos determinam a atratividade turística ou não
do território.
Entretanto, por ser antes de tudo um fenômeno socioespacial, o estudo
do turismo não pode ser simplificado a um recorte espacial e escalar único, sob
pena de cometermos aquilo que SOUZA (1997) classifica como “um vício
epistemológico muito comum” (p.49). De acordo com LACOSTE (1997), não
podemos nos limitar a um único nível de análise que pré-julgamos como
privilegiado, sob o risco de omitirmos fatos importantes do fenômeno em
observação, ou então, deformarmos esse mesmo fenômeno. Certas
características só podem ser percebidas e observadas se trabalharmos num nível
de análise extenso, enquanto outras só podem ser observadas na escala reduzida
do local. “È por isso indispensável que nos coloquemos em outros níveis de
análise, levando em consideração outros espaços. Em seguida, é necessário,
realizar a articulação dessas representações tão diferentes” (Lacoste, 1997, p.81),
de modo a obtermos uma compreensão das diversas variáveis e fatores que
compõem um fenômeno complexo como o turismo.
A articulação dos diferentes níveis de análise, portanto, interseções de conjuntos espaciais de muitas diversas categorias científicas é, na realidade, um raciocínio do tipo estratégico [...]. Ele é eficaz, indispensável mesmo, [...] para todos os tipos de reflexões e empreendimentos, desde que precisem considerar o espaço, o que acontece com a maioria das ações humanas. (Lacoste, op.cit., p.91)
Esse raciocínio nos leva a admitir que, para uma compreensão do
turismo e da lógica da sua organização espacial no Estado do Rio de Janeiro,
precisamos nos afastar das abordagens limitadas a apenas uma escala e nos
lançarmos ao uso de diversos recortes espaciais e escalares, que nos permitam
“considerar as interações socioespaciais horizontais e as articulações ‘verticais’
entre os fatores” (Souza, op.cit.,p.49) que o fenômeno estabelece em diversos
níveis de análise.
110
Conscientes dessa complexidade de escalas, estabelecemos para a
nossa análise o uso de dois meta-pontos de observação: o primeiro baseado na
escala ampliada, que inclui todo o território estadual e o segundo, direcionado à
escala local dos lugares turísticos.
4. 1 As redes do turismo no território do Estado do Rio de Janeiro
Iniciando pela análise do ordenamento das atividades turísticas a partir
da escala estadual podemos identificar uma sobreposição de diversas redes do
turismo no território estadual. Assim, a cidade do Rio de Janeiro, que na rede da
escala analítica do Estado é o centro catalisador e de comando, adquire outra
hierarquia e/ou função, se mudarmos nosso nível de análise para uma escala
nacional.
A identificação e a análise dessas diversas redes, objetivando captar o
máximo da sua complexidade, exigem o estabelecimento de um critério
metodológico baseado em um só ponto de análise. Partindo da própria natureza
do fenômeno turístico – deslocamento espacial e temporário de pessoas
(Beni,1988; Veras et al,1996; Rodrigues,1997a), entendemos que um dos
caminhos possíveis para mapearmos o jogo de interações e inter-relações dessas
redes é a relação distância-tempo entre os centros emissores e os lugares
turísticos (centros receptores), que pode nos permitir estabelecer o jogo básico de
escalas, para definirmos as diversas redes do turismo que ocorrem no território do
Estado do Rio de Janeiro.
A relação distância-tempo é o fator principal no estabelecimento da
duração e do custo das viagens turísticas, a partir do que é possível
identificarmos o perfil dos visitantes e, conseqüentemente, as variáveis que
devem nortear o ordenamento territorial dos lugares turísticos.
Para fins desse trabalho, com base nos estudos do arquiteto Roberto
BOULLÓN (1990), entendemos as relações distância-tempo a partir dos seguintes
parâmetros: a) deslocamentos de curta duração: até duas horas de viagens; b)
111
deslocamentos de média duração: de 2 a 6 horas de viagens; c) deslocamentos
de longa duração: acima de 6 horas de viagens
Sem perder de vista o fato de o sistema turístico ser extremamente
dinâmico e complexo em sua composição, nas suas relações e na sua
organização podemos, a partir do meta-ponto de observação da escala estadual,
observar as diversas redes de turismo que se superpõem horizontalmente no
território estadual e que se interrelacionam verticalmente, a partir de conexões
existentes entre alguns nós/lugares privilegiados dessas redes.
Com base nas relações distância-tempo existentes entre os centros
emissores e os centros receptores de fluxos turísticos, identificamos os seguintes
níveis de escala, para a compreensão das diversas redes do turismo ocorrentes
no território do estado do Rio de Janeiro:
a) escala mundial (intercontinental): relacionada aos fluxos de grandes
distâncias, compreendendo os deslocamentos de turistas entre
continentes, sendo portanto, na maioria das vezes de longa duração;
b) escala internacional (intracontinental): relacionada aos fluxos
gerados entre países do mesmo bloco continental, não
necessariamente limítrofes, os quais geram deslocamentos de longa
ou média duração;
c) escala nacional: relacionada aos fluxos turísticos ocorrentes dentro
do território de um país, responsáveis por deslocamentos de longa
duração;
d) escala regional: relacionada aos fluxos turísticos ocorrentes entre
estados circunvizinhos e/ou limítrofes, os quais implicam em
deslocamentos de média duração;
e) escala intra-estadual: relacionada aos fluxos existentes dentro do
próprio território estadual, geradores de deslocamentos de média
duração;
f) escala local: relacionada aos fluxos de excursionistas entre lugares
próximos, geradores de deslocamentos de curta duração.
112
Vale a pena ressaltarmos que esse jogo de escala está estabelecido
para a análise da atividade turística no território do Estado do Rio de Janeiro. Se
mudarmos nosso objeto de estudo, obrigatoriamente deveremos fazer uma
revisão nesses critérios, adaptando-os ao nosso novo meta-ponto de observação.
Um bom exemplo para tal fato seria o caso de estarmos buscando a
compreensão do ordenamento territorial do turismo no Estado do Paraná, que
possui fronteiras com outros países do continente sul-americano. Nesse caso, a
relação distância-tempo não seria plenamente suficiente para a análise, dada a
ocorrência de fluxos internacionais de curta e média duração, o que altera
completamente as relações e a organização do sistema turístico daquele Estado.
Utilizando os critérios acima estabelecidos, identificamos as seguintes
redes do turismo no território do Estado do Rio de Janeiro (Figura 6):
Redes do turismo a nível da escala mundial (intercontinental)
Nessa escala de maior amplitude, são poucos os lugares turísticos do
Brasil que já podem ser considerados como plenamente inseridos nas redes do
turismo. No caso específico do Estado do Rio de Janeiro, apenas a capital do
Estado consegue articular-se nessa rede mundial, conseguindo captar fluxos
turísticos de outros continentes, sem depender de nenhuma intermediação e/ou
articulação com outros lugares turísticos.
Redes do turismo a nível internacional (intracontinental)
Compreendendo nesse nível escalar os fluxos turísticos existentes
entre os diversos países do continente americano, podemos identificar as cidades
do Rio de Janeiro e de Armação dos Búzios como nós dessa rede do turismo.
Ambas conseguem manter-se inseridas nesse nível através de relações bastantes
estáveis com diversos centros emissores localizados nos países da região do
Mercosul (Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai), nos Estados Unidos e no
Canadá.
Outros lugares do Estado, como Angra dos Reis, Paraty , Itacuruçá e
Petrópolis já conseguem estabelecer algumas relações frágeis com esses centros
114
emissores do continente americano, mas quase sempre necessitam da
intermediação da cidade do Rio de Janeiro para conseguirem atrair parcelas
desses fluxos turísticos. Ou seja, os seus produtos turísticos são vendidos como
complementos do produto turístico da cidade do Rio de Janeiro.
Redes do turismo a nível da escala nacional
Nesse nível, as redes do turismo ocorrentes no Estado do Rio de
Janeiro adquirem um complexidade média, com alguns lugares turísticos já
completamente inseridos e articulados na rede nacional.
Entretanto, a complexidade dessas articulações podem nos levar a
uma super-valorização de alguns lugares, os quais podem se fazer parecer
inseridos nesse nível escalar, mas quando submetidos a uma análise mais
detalhada, revelam-se dependentes de outros lugares turísticos mais
estruturados, sem os quais não conseguem manter-se inseridos nesse nível das
redes do turismo.
Como exemplo disso, podemos destacar os casos de Niterói,
Petrópolis e Itacuruçá que, apesar de já receberem fluxos consideráveis de
turistas nacionais, só os captam a partir da cidade do Rio de Janeiro. Dificilmente
o conseguiriam fazer diretamente dos seus centros emissores. Esse fato vem
reforçar o papel da capital do Estado enquanto centro catalisador, de comando e
de distribuição para os diversos níveis das redes do turismo estadual.
Os lugares turísticos do Estado que já se articulam na rede nacional do
turismo, além das cidades do Rio de Janeiro e de Armação dos Búzios, são Angra
dos Reis, Mangaratiba, Itatiaia e Paraty, tendo em vista já captarem fluxos de
demandas diretamente dos centros emissores nacionais, sem necessidade da
intermediação de outros lugares turísticos.
Redes do turismo a nível da escala regional
Mudando do nível nacional para o nível regional, onde encontramos os
deslocamentos de média duração, encontramos uma rede do turismo bem mais
115
complexa que as anteriores. O número de lugares turísticos do Estado que
conseguem se articular nesse nível é bastante amplo, mas assim como na rede
nacional, é preciso cuidarmos para não super-valorizarmos alguns deles,
considerando-os inseridos nesse nível, quando na realidade não o são, dado
terem seus produtos dependentes de outros lugares turísticos mais estruturados.
É o caso dos lugares turísticos da região da Costa do sol. Enquanto
alguns dos seus lugares podem ser claramente visualizados na rede regional do
turismo – Armação dos Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo – outros como Rio
das Ostras, Saquarema e Araruama podem nos confundir, levando-nos a incluí-
los nesse nível, quando na realidade não é o que ocorre. Seus produtos não
conseguem se articular diretamente dentro da rede regional, só conseguindo ser
vendidos quando “casados” com os produtos turísticos de outros lugares, como,
Armação dos Búzios, Cabo Frio ou Rio de Janeiro.
Dessa maneira, a rede estadual do turismo a nível regional estaria
composta dos seguintes lugares turísticos: Rio de Janeiro, Armação dos Búzios,
Angra dos Reis, Mangaratiba, Paraty, Itatiaia, Cabo Frio, Arraial do Cabo,
Penedo, Engenheiro Passos, Visconde Mauá, Petrópolis, Nova Friburgo,
Teresópolis, Ilha Grande, Raposo, Campos dos Goytacazes, Atafona, Guaxindiba,
Santa Clara e Gargaú.
Redes do turismo a nível da escala intra-estadual
No nível da rede do turismo intra-estadual, vamos encontrar maior
densidade e complexidade onde os fluxos dos veranistas tornam-se fundamentais
para a sua compreensão. Não que os fluxos intra-estaduais de turistas não sejam
dignos de consideração, mas o volume e a densidade dos fluxos de veranistas
determinam grande parte das articulações e das interações da rede turística
estadual nesse nível de análise.
Dessa forma, praticamente todos os lugares turísticos do Estado estão
inseridos nessa rede, tornando-a bastante complexa e densa. Podemos dizer que
todo o litoral, sem exceção, mais os lugares serranos do estado articulam-se
nessa rede, estabelecendo relações e interelações bastantes densas e estáveis.
116
Isso ocorre, em razão de a maioria dos lugares turísticos do Estado não
possuírem características diferenciais que os tornem passíveis de inserção nos
níveis superiores das redes do turismo, ou então, por ainda não apresentarem
suas potencialidades devidamente formatadas como produtos turísticos. No
primeiro caso podemos destacas Ponta Negra, Jaconé, São Pedro da Aldeia e
Araruama, enquanto Barra de São João, Niterói, Sana, Quissamã se
enquadrariam na segunda condição.
Redes do turismo a nível da escala local
Basicamente é a rede estabelecida pelos fluxos de excursionistas,
onde os deslocamentos entre os centros emissores e os lugares turísticos são de
curta duração, não gerando pernoites no lugar visitado. Essa característica faz
surgir uma rede estadual bastante rarefeita e desarticulada, com bastantes
interstícios entre as áreas de concentração dos lugares turísticos.
Dessa forma, identificamos uma concentração maior dessa rede em
torno da cidade do Rio de Janeiro, a qual se estende sem interrupção para a
região da Costa do Sol, para a região serrana de Petrópolis, Guapimirim e
Teresópolis e para o município de Mangaratiba, aí incluindo Itacuruçá. No
restante do território estadual, vamos perceber a presença desse nível da rede do
turismo nas áreas localizadas próximas aos centros urbanos de médio porte,
como é o caso de Campos dos Goytacazes, que funciona como centro emissor
para lugares turísticos do litoral norte do Estado (Atafona, Grussaí, Santa Clara,
Buena, Gargaú, Imbé e Farol de São Tomé) e de Volta Redonda e Barra Mansa,
emissores de fluxos para os lugares turísticos da região do médio vale do Rio
Paraíba (Rio Claro, Lídice, Pirai, Penedo, Vassouras, Conservatória, etc.).
A partir dessa ótica de observação da organização territorial do turismo
no Estado do Rio de Janeiro, podemos afirmar a existência aí, de seis níveis
básicos horizontais de redes do turismo, superpostos, entre os quais se
estabelecem relações e interações permanentes ou temporárias, conforme a
densidade e a sazonalidade dos fluxos de visitantes.
117
O lugar turístico que, por estar inserido nos seis níveis propostos,
mantém o comando de toda a complexidade do sistema turístico estadual, é a
cidade do Rio de Janeiro. É a partir dela e graças às características do seu
produto turístico e da supra-estrutura aí instalada, que a atividade turística se
desenvolve no território estadual.
Mesmo no caso dos lugares turísticos que já se articulam de forma
independente em alguns dos níveis superiores das redes do turismo, o comando
do sistema cabe à capital do Estado, dado a sua configuração político-
administrativa e ao seu papel de maior centro econômico do estado. Ou seja,
mesmo no caso de Armação dos Búzios que já se insere e mantém relações
estáveis no nível da rede intracontinental do turismo, o sistema turístico local
ainda depende de algumas decisões e de ações que só a cidade do Rio de
Janeiro tem autonomia para executar. Exemplo disso são as normas e as
regulamentações que regem as atividades das empresas turísticas determinadas
e controladas pelo CADE – Centro de Atividades Delegadas da Embratur, sediado
na capital do Estado.
O que podemos perceber é que o jogo de relações e interações do
sistema turístico estadual é extremamente denso, tanto horizontal quanto
verticalmente. Além disso, as articulações entre os diversos lugares turísticos do
Estado apresentam um dinamismo que dificilmente poderá ser captado na sua
íntegra, dado que muitas delas são temporárias e muitas vezes, esporádicas.
Cada lugar turístico procura (ou intenta) estabelecer o seu próprio
produto turístico, completo e autônomo, visando sua inserção em alguns dos
níveis das redes do turismo. Entretanto, a complexidade da estrutura funcional do
sistema turístico quase sempre extrapola os limites do lugar, fazendo surgir
produtos compostos de vários lugares turísticos, o que tira a autonomia individual
de cada um para agir e articular-se dentro das redes do turismo.
Isso é corroborado pelos movimentos que atualmente vêm se
desenvolvendo no Estado2, onde grupos de municípios estão procurando
2 Identificados por nós no item 3.4 deste trabalho.
118
estabelecer unidades regionais para estruturarem um produto turístico comum a
todos. É claro que a intenção de cada um é manter a sua individualidade e
autonomia, apesar de estarem cônscios de que, isoladamente, não conseguirão
estabelecer as articulações mínimas necessárias para sua inserção nas redes do
turismo. É importante ressaltarmos que esses movimentos não são originados
apenas de ações oriundas de iniciativas do setor público local, sendo bastante
destacadas aquelas geradas a partir da sociedade organizada (ONGs,
empresários, associações de classe, etc.).
Essa interdependência e complementaridade de produtos de alguns
lugares turísticos acaba por fazer surgir um fluxo de interações horizontais entre
eles, potencializadas pelos sistemas de transportes e comunicações existentes no
território estadual, que tornam possíveis as suas inserções, de forma indireta, em
níveis superiores das redes do turismo.
Como já apontamos anteriormente, é o caso da região da Costa do Sol
onde, graças à inserção de Armação dos Búzios na rede intracontinental, lugares
turísticos como Barra de São João, São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo são
beneficiados com a vinda de fluxos de turistas internacionais. Atraídos
inicialmente pelo produto turístico de Armação dos Búzios, esses turistas, já
estando na região, são levados a se deslocarem para outros lugares turísticos
próximos, estabelecendo uma rede turística de nível local, polarizada e
comandada a partir daquele lugar turístico mais articulado.
Esse tipo de rede de turismo local, onde outros lugares turísticos mais
articulados assumem o papel de captação e distribuição de fluxos de visitantes,
além daquela já citada polarizada por Armação dos Búzios, pode ser facilmente
visualizada na região do Parque Nacional de Itatiaia, onde Penedo, Itatiaia,
Engenheiro Passos, Visconde de Mauá, Maromba, Maringá (MG) e Serrinha
mantêm entre si um nível de articulação horizontal extremamente denso,
estabelecendo uma rede turística local bastante complexa, centrada no poder de
atração do parque nacional mais antigo do país.
Voltando nossas atenções para os lugares turísticos escolhidos como
nossos objetos empíricos na escala local – Armação dos Búzios e Arraial do
119
Cabo, iremos perceber que seus níveis de inserção são bastantes diferenciados.
Enquanto o primeiro se insere plenamente na rede intracontinental, e já começa
esboçar algumas ações para se lançar na rede intercontinental, Arraial do Cabo
limita-se ao nível regional das redes do turismo, encontrando bastantes
dificuldades para se manter nesse nível, dependendo inclusive, do apoio de
Armação dos Búzios para consegui-lo.
4.2 Lugares turísticos e ordenamento territorial do turismo estadual: os casos de Armação de Búzios e Arraial do Cabo
Dando continuidade na nossa busca de uma compreensão mais
profunda do ordenamento dos diversos níveis das redes do turismo no estado do
Rio de Janeiro, estabelecemos um segundo meta-ponto de observação de escala
local, centralizado em dois lugares turísticos - Armação dos Búzios e Arraial do
Cabo – do Estado possuidores de uma série de semelhanças e congruências,
mas que se inserem de forma bastante diferenciada nas redes do sistema
turístico estadual.
Recordando, a escolha desse novo meta-ponto de observação,
focando nossos esforços sobre os lugares turísticos de Arraial do Cabo e de
Armação dos Búzios esteve baseada na nossa atividade profissional dos últimos
vinte anos como técnico da área de planejamento do órgão estadual de turismo,
fato que nos levou a indagar por que lugares turísticos, aparentemente tão
semelhantes em suas características e potencialidades, comportam-se de formas
tão diferenciadas quando do desenvolvimento das articulações que irão definir
suas inserções nos diversos níveis das redes de turismo.
O que buscamos é o entendimento das causas e dos efeitos dessa
inserção dos lugares turísticos, por vermos aí um dos pontos-chave para a
compreensão do ordenamento territorial do turismo na escala estadual, visto,
como já assinalamos, enquanto um fenômeno sociocultural complexo,
característico das sociedades pós-industriais modernas que, cada vez mais, se
120
manifesta de forma tão visível e marcante no Estado do Rio de Janeiro e em
outras áreas do país e do mundo.
Para atingirmos nosso intento, inicialmente desenvolvemos uma
análise da situação atual da atividade turística nos dois lugares por nós
selecionados, procurando identificar os pontos de congruências e de
incongruências entre eles, de maneira a irmos estabelecendo parâmetros
comparativos entre ambos. A seguir, voltamos nossa análise para esses pontos
identificados, buscando encontrar explicações para os processos de inserção de
cada um dos dois lugares nas redes de turismo estadual.
4.2.1 Armação dos Búzios e Arraial do Cabo: lugares turísticos iguais e
diferentes
Para aqueles acostumados a circular pelos eventos turísticos
profissionais regularmente realizados no país (Congresso e Feira da ABAV,
BRITE, Congresso Nacional da ABIH, Festival de Turismo de Gramado-RS,
Encontros Comerciais “O Rio é de Vocês”, só para citar os mais importantes), ou
que lêem as numerosas publicações periódicas sobre o turismo (praticamente
todos os jornais diários do país possuem um caderno semanal de turismo), não é
difícil lembrar-se de um ou outro motivo/atrativo para visitar Armação dos Búzios.
A pequena aldeia de pescadores dos anos sessenta tornou-se, segundo as
pesquisas anuais da Embratur3, o oitavo lugar turístico do país mais visitado por
turistas internacionais. Sua fama e suas peculiaridades estão constantemente
expostas na mídia nacional e, regularmente, na de alguns países como Argentina,
Chile, Uruguai e França, reforçando a sua identidade como lugar turístico.
Por que o mesmo não acorre com Arraial do Cabo? Quais as razões
que não permitem que esse lugar turístico, possuidor de características e
potencialidades turísticas tão semelhantes às de Armação dos Búzios também se
articule e se insira nas mesmas redes do mercado turístico nacional e
internacional?
3 Cf Tabela 1, página
121
Apenas a título de curiosidade, fizemos uma busca na Internet,
pesquisando as palavras Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e Búzios4. O
resultado foi extremamente interessante: encontramos 51 dicas para acessar
páginas com algum tipo de informação sobre Arraial do Cabo, enquanto para
Armação dos Búzios esse número foi de 123, em sua grande maioria voltadas
para atender às demandas de informações turísticas (meios de hospedagem,
acesso, passeios, etc.).
Para respondermos essas e outras questões, optamos por iniciar por
uma breve revisão nas características históricas, geográficas e turísticas dos dois
municípios. Não iremos aqui fazer um extenso inventário dessas características,
mas apenas elencar aquelas que nos possibilitem entender os processo
diferenciados de formatação e de inserção dos dois lugares turísticos
selecionados nas redes do sistema turístico estadual, para o que é importante
considerarmos o contexto histórico-cultural e econômico atual dos lugares em
análise.
Armação dos Búzios: de Brigitte Bardot à rua das Pedras
Histórias de piratas, histórias de novelas, histórias policiais, histórias de amor, histórias de pescadores. Qual é o segredo de Búzios? Que estranho magnetismo existe nessa península que atrai as pessoas de todo o mundo para as suas 26 praias, seus famosos restaurantes, suas alegres noites repletas de atrações o ano inteiro ? (texto de introdução do folheto promocional das Pousada Unidas de Búzios; 2000)
Localizada na região turística da Costa do sol, em uma península
bastante recortada com 73,3 km² de área e 15.500 habitantes (IBGE, 1996), o
município de Armação dos Búzios foi criado pela lei estadual número 2.498 de 28
de dezembro de 1995, a partir do desmembramento do terceiro distrito do
município de Cabo Frio (CIDE, 1997).
A ocupação e colonização do território do município têm origens no
início do século XVI, quando os primeiros portugueses fizeram contatos com seus
habitantes nativos, os índios Tamoios. Em 1740, o comerciante Brás de Pina 4 Utilizamos para isso os buscadores da UOL, CADÊ, Altavista, dentre outros.
122
instalou-se na região com um estabelecimento para pesca e fabrico de óleo de
baleia. A região era local de procriação das baleias que, regularmente nos meses
de julho, para ali imigravam, vindas do sul do continente. Do comércio da carne e
do óleo de baleia surgiu o nome de uma das mais famosas praias locais. Na praia
dos Ossos, as baleias pescadas eram desossadas para a retirada da banha, e
seus restos eram enterrados na praia, fato que deu origem ao seu nome.
Com a decadência dessa atividade econômica, Armação dos Búzios
acabou por se reduzir a uma pequena aldeia de pescadores, praticamente isolada
das localidades e vilas vizinhas. Durante mais de dois séculos a localidade
sobreviveu da atividade pesqueira e da agricultura de subsistência, convivendo
com constantes lutas entre os jesuítas, pescadores e índios com os piratas que ali
buscavam o pau brasil, para ser contrabandeado para a Europa.
Segundo informações de Antônio Câmara Filho5, chefe da divisão de
atividades culturais da secretaria de educação do município, a região sobreviveu
até a última década de cinqüenta da monocultura da banana. No início dessa
década, algumas pessoas das classes mais abastadas da cidade do Rio de
Janeiro, freqüentadoras de Cabo Frio, naquela época um dos mais importantes
balneários do país, descobriram as praias locais e iniciaram sua ocupação,
comprando as terras dos pescadores nativos e iniciando a construção de casas
de veraneio.
O acesso mais utilizado era o marítimo e os habitantes nativos locais,
impressionados com a possibilidade de ganhos financeiros imediatos, foram
vendendo suas terras junto ao mar, impróprias para a agricultura, para os
primeiros veranistas construírem suas mansões. A mais antiga delas, segundo
Câmara Filho, foi aquela construída por Arnold Reis, proprietário da Companhia
Odeon, por volta de 1952, na praia da Azedinha.
5 A entrevista realizada com Câmara Filho, a princípio não prevista, foi muito reveladora e importante para a nossa compreensão da história da formação do município de Armação dos Búzios, uma vez ele ser profundo conhecedor de todo o seu processo. Infelizmente todo o seu conhecimento ainda não foi devidamente colhido e tratado, ficando restrito à sua memória pessoal e de algumas poucas pessoas do seu convívio diário.
123
A partir disso, cada vez mais as praias isoladas da península foram
sendo procuradas por aqueles segmentos de maior poder aquisitivo da sociedade
brasileira, que já não se satisfaziam com Cabo Frio e desejavam veranear em
lugares mais privativos e isolados. Enquanto Cabo Frio vai se popularizando, as
praias de Armação dos Búzios vão se tornando o refúgio dos mais ricos.6
Em dezembro de 1961, a atriz francesa Brigitte Bardot trocou sua
viagem habitual para as Bahamas, por outra até a Armação dos Búzios onde, de
acordo com Câmara Filho, ficou hospedada em uma residência particular na praia
de Manguinhos. Sua estada na pequena aldeia de pescadores e seu hábito de
praticar o nudismo tornaram-se notícias de destaque na imprensa, em especial na
revista Vogue e no jornal Le Monde, ambos da França, fato que, segundo o atual
secretário municipal de turismo, Isaac Tillinger, contribuiu para a construção da
imagem favorável que a localidade tem até os dias de hoje.
Ainda segundo Câmara Filho, o hotel mais antigo do município foi o
Enseada Azul, construído por volta de 1956, na praia Rasa, próximo ao local
conhecido como “Canto do Pai Vitorio”. Em 1958, o então vereador do município
de Cabo Frio, Jorge Paulo Silva, construiu o Hotel Lagostim que, por
inexperiência do seu proprietário nesse tipo de empreendimento, logo foi
transformado em residência particular.
A partir de 1964, com a segunda visita da atriz Brigitte Bardot, Armação
dos Búzios começou a assistir ao desenvolvimento da atividade turística mais
sistemática e constante. Durante essa estada, a atriz hospedou-se na casa do
então secretário do Consulado da Argentina no Brasil, Ramón Avelañeda,
posteriormente transformada na Pousada do Sol, localizada na praia dos Ossos,
em funcionamento até os dias de hoje.
No início da década de setenta, os fluxos de turistas internacionais,
especialmente de franceses e de argentinos, tornaram-se mais constantes e a
beleza e as características socio-ambientais do lugar, levaram alguns turistas a
6 Essa imagem de que Búzios é um lugar destinados às pessoas de maior poder aquisitivo pode ser confirmada por uma das marcas da campanha promocional “Cidades maravilhosas do estado do Rio de Janeiro” desenvolvida pela TurisRio: “Búzios, onde os ricos e famosos se encontram.”
124
fixarem residência, abrindo pequenas pousadas e restaurantes e constituindo
família.
Atualmente, segundo informações de vários entrevistados, Armação
dos Búzios abriga uma população permanente composta de cerca de sessenta
nacionalidades diferentes, tornando-a uma verdadeira “babel brasileira”.
Conforme matéria publicada no Jornal do Brasil do dia 28 de novembro de 1999,
atualmente Armação dos Búzios tem uma população de estrangeiros residentes
estimada em quatro mil pessoas, das quais mil e quinhentos são argentinos
(Jornal do Brasil, Caderno Cidade, p.16, 28/11/99), o que corresponde a cerca de
25% da população total do município.
De acordo com os dados do Censo Estatístico do IBGE-1991, o
município de Armação dos Búzios apresentava um total de 2.216 domicílios
residenciais, dos quais 53% eram servidos por serviço de coleta de lixo, 59%
eram abastecidos por rede de água potável e, apenas 11% estavam ligados à
rede de coleta e tratamento de esgoto sanitário7.
Em nossas entrevistas, realizadas durante o mês de março de 2000, o
tratamento do esgoto sanitário, revelou-se o ponto crítico negativo mais
enfatizado como fator negativo para a atividade turística local, uma vez que já
podem ser observadas algumas praias com índices de coliformes fecais bem
acima do permitido pelos órgãos ambientais. É o caso da praia do Canto, uma
das mais conhecidas, onde o banho de mar já não é mais possível, sendo visível
no local, a olho nu, um vazamento “in natura”, conhecido popularmente como
“língua negra”.
Cabe lembrar que a população do município, nos períodos de alta
estação turística (meses de dezembro, janeiro e fevereiro), chega a ser
multiplicada por dez, acarretando uma sobrecarga muito superior aos limites da
infra-estrutura urbana local instalada, responsável pelos constantes problemas de
7 Sem nos fixarmos em dados estatísticos oficiais, podemos afirmar que o problema de abastecimento de água potável e de coleta e tratamento de esgotos em toda a região turística da Costa do Sol é bastante crítico, sendo notícia constante na mídia estadual, principalmente nos meses de verão, quando torna-se mais visível para todos.
125
abastecimento de água potável, denunciados constantemente na mídia local e
estadual.
Atualmente o município apresenta uma infra-estrutura urbana voltada,
praticamente na sua totalidade, para o turismo e para a satisfação das
necessidades e demandas dos turistas e veranistas. É interessante notar que, em
relação aos indicadores demográficos, o município de Armação dos Búzios
apresenta uma das maiores taxas média geométrica de crescimento anual
(TMGCA) do Estado. No período de 1991-96, a TMGCA do município foi de
10,74% contra uma taxa de 0,78% do Estado (CIDE, 1996), fato que indica para a
ocorrência de migrações internas para aquele município, ocasionadas pela oferta
de empregos gerados pelo sistema turístico local.
No que se refere à oferta turística propriamente dita, segundo os dados
do Censo Turístico da TurisRio – 2000, o município apresenta os seguintes
números:
a) Atrativos turísticos: 26 praias oceânicas, 5 ilhas e 9 áreas de pesca e mergulho.
b) Equipamentos e serviços turísticos: 156 meios de hospedagem, com 3.057 unidades habitacionais e 7.397 leitos; 7 agências de turismo; 4 locadoras de veículos; 15 auditórios/espaços para reuniões; 2 postos de informações turísticas; 1 hipódromo; 1 marina; 1 campo de golfe, 2 atracadouros, 1 cinema/teatro; 13 locadoras de imóveis; 4 centros comerciais.
Vale ressaltar que, conforme observações dos nossos entrevistados, a
cidade de Armação dos Búzios procura manter um padrão arquitetônico próprio,
chamado por alguns de “estilo buziano”, o qual teve sua origem nos projetos do
arquiteto Otávio Raja Gabaglia, atualmente adotado por outros profissionais, entre
os quais se destaca o arquiteto Hélio Pelegrino Filho. Trata-se de um estilo de
construção, criado a partir da observação das construções feitas pelos
pescadores nativos, caracterizando-se pelo uso de materiais como vidro, madeira,
cerâmicas coloridas, tijolos e telhas na cor da terra, numa combinação bastante
característica do lugar, que estabelece uma “marca” na paisagem urbana
construída do município.
126
Outro ponto muito enfatizado, tanto pelos entrevistados como pelas
diversas matérias promocionais disponíveis, é o da ocorrência de uma certa
sofisticação nos serviços turísticos oferecidos pelos empreendimentos locais.
Essa “sofisticação” já foi motivo de algumas campanhas promocionais, como a
promovida pela TurisRio, “Cidades maravilhosas do Estado do Rio de Janeiro”, na
década de oitenta.
Por trás desse discurso podemos identificar uma certa tendência do
sistema turístico local de selecionar os fluxos turísticos para o município, numa
tentativa clara de evitar os fluxos de turistas menos providos financeiramente, em
favor de fluxos de turistas com maior poder aquisitivo. Entretanto, tal fato não é
compactuado pelos maiores operadores de turismo receptivo internacional do
país, para quem Armação do Búzios ainda oferece um produto turístico bastante
amador e pouco preparado para receber grandes fluxos internacionais.
O que podemos perceber aqui é um jogo de interesses diferenciado, de
acordo com a ótica de cada um dos atores do sistema turístico estadual. Para os
agentes de Armação dos Búzios, em sua maioria pequenos e médios
empresários, não interessam grandes fluxos de turistas, enquanto para os
grandes operadores de receptivo internacional, o ideal é trabalhar com grandes
empreendimentos capazes de receber grupos maiores e dotados de
equipamentos e serviços mais ou menos estandardizados, conforme padrões
internacionais8.
Nesse sentido, a colocação de um pórtico de linhas arquitetônicas
bastante arrojadas na entrada do município, no bairro de Cem Braças, seguido de
um posto da polícia militar, parece atender a vertente defendida pelos
empresários locais, uma vez que todos os ônibus de excursão são parados e
indagados sobre seu destino e sobre os serviços turísticos já contratados no
município. Caso não ocorra uma resposta positiva quanto à contratação efetiva de
serviços locais, os visitantes são orientados a deixar o ônibus estacionado no
8 Segundo informação de dirigente da BITO, os operadores brasileiros de turismo receptivo internacional demandam por empreendimentos do tipo resorts, onde a oferta de uhs e equipamentos e serviços de lazer (campo de golfe, marinas, etc.) é grande, diversificada e com padrão de serviços considerados ideais para o mercado americano e europeu.
127
posto policial e a seguir a pé, ou então, contratar pelo menos um guia local para
acompanhá-los durante sua estada no município.
Segundo o secretário municipal de turismo, Isaac Tillinger, “o ideal é
que nos momentos de pico do turismo a população não ultrapasse os 60 mil
habitantes [...] a idéia não é encher Búzios de turistas, mas oferecer um serviço
de qualidade para que todos (sic) possam curtir a cidade” (Guia de Búzios, 2000,
p.5).
Quanto ao perfil dos visitantes que atualmente procuram o município,
de acordo com as informações colhidas diretamente nas nossas entrevistas com
representantes do trade turístico local, há uma predominância de turistas
brasileiros durante o verão (paulistas e cariocas, em sua maioria) e de turistas
estrangeiros no restante do ano9. Dentre os estrangeiros, há um predomínio dos
argentinos e uma tendência bastante forte de crescimento para os fluxos oriundos
do continente europeu. Conforme informações do secretário municipal de turismo,
publicadas no Jornal do Brasil de 28 de novembro de 1999, “o turista argentino
representa cerca 60% dos turistas que visitam a cidade e gastam em média US$
140 por dia” (Jornal do Brasil, p.16).
Ainda em relação ao perfil dos fluxos de visitantes do município, cabe
destacar a inclusão da cidade, após a promulgação da nova lei nacional de
cabotagem, no roteiro de paradas dos navios transatlânticos de médio porte; no
verão de 1998-99 foram trinta e seis navios desse tipo que atracaram ao largo e
desceram os seus passageiros até a cidade. No último verão, 1999-00, o número
de navios ficou em trinta e dois, confirmando a tendência de ocorrência desse
segmento no município, em detrimento de outros pontos privilegiados da região,
como é o caso de Arraial do Cabo, onde a parada dos navios seria beneficiada
pela presença de um porto já estruturado.
9 Cabe aqui ressaltar que os fluxos de turistas brasileiros, principalmente aqueles oriundos da cidade do Rio de Janeiro, não se utilizam dos serviços de meios de hospedagem, preferindo o aluguel de casas de veraneio, o que os coloca na qualidade de veranistas..
128
Arraial do Cabo: capital nacional do mergulho
Cidade que reúne beleza e história. O mar é seu melhor cartão de visitas. Suas praias de água límpida e cristalina agradam às famílias e aos esportistas em geral, especialmente aos mergulhadores (texto de folheto promocional de uma pousada de Arraial do Cabo)
A cidade de Arraial do Cabo está localizada na ponta extrema sul da
planície de Cabo Frio, em uma península de contorno bastante recortado, o que
propicia a existência de enseadas tranqüilas, excelentes portos naturais. Tal fato
parece ter sido um dos fatores que motivaram Américo Vespúcio, no ano de 1503,
a ali atracar e fundar a primeira feitoria em terras brasileiras, no bairro da Rama,
hoje conhecido como praia dos Anjos. Como testemunho desse fato, temos a
Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, construída nesse local, no ano de 1516,
sendo um dos templos religiosos ainda preservados, mais antigos do Brasil. Seus
habitantes nativos eram os índios Tamoios, os quais tiveram suas terras
invadidas, inicialmente pelos colonizadores portugueses, depois pelos piratas
franceses que ali estabeleceram um entreposto para contrabandear o pau brasil
para a Europa.
O município de Arraial do Cabo foi criado pela lei estadual n.º 839 de
13 de maio de 1985, a partir do desmembramento do seu território do município
de Cabo Frio. Atualmente sua população residente é de 21.527 habitantes (IBGE,
1996), distribuída numa área total de 158,1 km², tendo apresentado uma TMCGA
de 1,62% no período entre 1991-96, bastante superior à taxa estadual de 0,78%,
registrada no mesmo período (CIDE, 1996).
Após a extinção do pau-brasil na região, já no século XVIII, a região
torna-se ponto de pesca de arrasto. Graças ao fenômeno natural conhecido como
“ressurgência”, o seu litoral é um dos mais ricos em flora e fauna marítima, fato
que levou o governo federal a criar, no ano de 1997, a Reserva Extrativista
Marinha de Arraial do Cabo (Lei federal n.º 221/97). Essa reserva extratitivista,
segunda implantada no país10, compõem-se de um cinturão pesqueiro que abarca
uma faixa marinha de três milhas náuticas da costa territorial do município,
10 A mais antiga é a reserva Extrativista Marinha de Pirajubaé, localizada na ilha de Santa Catarina, criada em 1992.
129
reservado exclusivamente aos pescadores locais, vinculados à associação que
administra a reserva (AREMAC).
Segundo informações do Censo Turístico da TurisRio (2000), a
ressurgência é o nome dado ao fenômeno provocado por uma corrente de águas
frias, oriundas das ilhas Malvinas, que se desloca em um nível profundo e aflora
na região de Arraial do Cabo. Essa corrente, rica em nutrientes e
microorganismos, faz a cadeia alimentar da região ser extremamente diversificada
e abundante. Segundo os especialistas, esse fenômeno só ocorre em quatro
locais do planeta, sendo que na América Latina acontece apenas em Arraial do
Cabo e no litoral do Peru.
A existência do segundo maior número de galeões, caravelas e
fragatas portuguesas, francesas, holandesas, inglesas e brasileiras naufragados
na costa brasileira, só inferior à baía de Todos os Santos, aliados ao já citado
fenômeno natural da ressurgência, responsável pelo aumento da visibilidade
dentro da água, fez do município de Arraial do Cabo um dos três pontos mais
procurados para a prática do mergulho de toda a costa brasileira. Segundo as
operadoras de mergulho local, somente os arquipélagos de Fernando de Noronha
e de Abrolhos possuem águas com maior índice de visibilidade para mergulho.
Essa conjunção de fatores levou o Instituto Brasileiro de Turismo –
Embratur, a implantar no município um pólo de pesca esportiva, visando a
incrementar os fluxos de turistas adeptos desse esporte que, segundo a OMT, é
responsável por um dos segmentos mais representativos da demanda turística
mundial. Atualmente, Arraial do Cabo é município do estado com o maior número
de empresas operadores especializadas em mergulho marítimo, fato que
verificamos pessoalmente, durante nossas visitas ao local.
O desenvolvimento econômico do município ficou atrelado à atividade
pesqueira e à extração do sal, até a implantação da Companhia Nacional de
Álcalis, produtora de barrilha e outros derivados químicos, a partir do calcário
encontrado nos imensos depósitos de conchas da Lagoa de Araruama. Desde a
sua implantação, na década de quarenta (1943), a empresa vem sendo um dos
maiores empregadores de mão-de-obra do município, tendo sido, na sua fase de
130
implantação, responsável por uma grande migração de pessoas de outros pontos
do Estado (especialmente no norte fluminense) e do nordeste do país para o
município. Com o seu processo de privatização no início dos anos noventa, a
empresa diminuiu muito o seu quadro funcional, gerando atualmente cerca de
setecentos empregos diretos. Apesar disso, continua sendo um dos maiores
provedores de empregos diretos no município.
Apesar de todo o seu patrimônio histórico natural e da sua proximidade
com Cabo Frio, tradicional centro turístico do Estado, o município de Arraial do
Cabo não foi palco de um desenvolvimento da atividade turística em um ritmo tão
acelerado como acontecido em Armação dos Búzios. As presenças de um porto
salineiro e de uma grande indústria estatal (Álcalis) parecem ter inibido os fluxos
de visitantes, que só foram ficando mais marcantes na última década.
Segundo informações obtidas na secretaria de turismo do município, o
meio de hospedagem mais antigo é o Hotel Praia Grande, ainda em operação. No
início da década de noventa existiam no município apenas seis meios de
hospedagem, todos de pequeno porte e pertencentes a empresas familiares. O
crescimento do setor ocorreu a partir de 1995, quando o número de meios de
hospedagem se multiplicou acentuadamente.
De acordo com os dados do censo demográfico do IBGE de 1991, o
município possuía 5.138 domicílios residenciais, dos quais 93% eram servidos
pelo serviço de coleta de lixo, 85% possuía abastecimento de água potável
através de rede pública e 79% estava ligado à rede de coleta e tratamento de
esgoto sanitário. Segundo esses dados, o município é o mais bem servido nos
três itens, dentre todos os municípios da região da Costa do Sol, apresentando
índices superiores à media estadual.11
Quanto à composição da oferta turística, o município apresenta os
seguintes indicadores, de acordo com o Censo Turístico da TurisRio – 2000:
11 Apesar desses números, cabe relembrar o comentário da nota 7, p.124: assim como toda a região turística da Costa do Sol, o município de Arraial do Cabo sofre sérios problemas de abastecimento de água potável, principalmente nos meses de verão.
131
a) Atrativos turísticos: 1 rochedo, 9 praias oceânicas, 1 praia lacustre, 1 restinga, 1 cabo, 3 ilhas, 1 lagoa, 2 grutas, 4 áreas de pesca e mergulho, 1 monumento arquitetônico, 1 ruína, 1 escultura, 3 instituições culturais (museus e institutos de pesquisas) e 6 manifestações populares e folclóricas (festas, artesanato, etc)
b) Equipamentos e serviços turísticos: 36 meios de hospedagem, com 517 unidades habitacionais e 1.589 leitos; 2 agências de turismo; 8 operadoras de mergulho submarino; 1 posto de informações turísticas; 1 estádio esportivo; 1 marina; 1 atracadouro; 1 centro cultural; 7 locadoras de imóveis; 1 auditório/espaço para reuniões; 1 centro comercial.
Atualmente a paisagem construída da área urbana do município não
oferece ao visitante uma experiência diferenciada daquela de tantos outros
centros urbanos do Estado. O crescimento acelerado e a migração de mão de
obra para ocupar os postos de empregos na Álcalis nas décadas anteriores,
provocaram uma ocupação desordenada dos morros existentes na península,
gerando sérios problemas urbanos. Ao contrário do que ocorre em Armação dos
Búzios, onde houve um trabalho para a criação de um estilo arquitetônico que
identifica a paisagem construída local atualmente, em Arraial do Cabo isso não
aconteceu, fato facilmente percebido na observação da sua área urbana, bastante
precária e monótona.
O próprio sistema de esgotamento sanitário implantado, atualmente
encontra-se desativado, por apresentar problemas técnicos na elevatória do
costão do morro do Atalaia, tornando os índices apontados pelo censo do IBGE
ilusórios. Junto à lagoa localizada na Prainha, conhecida como “Lagoinha”, as
lagoas de decantação do esgoto tornaram-se um sério problema ambiental para
os moradores locais e, em especial, para os diversos meios de hospedagem e
restaurantes ali instalados. Em dias de temperatura alta, o odor exalado torna
impossível a permanência ao seu redor, dificultando o trabalhos dos hoteleiros e
dos donos de restaurantes ali existentes.
Assim como diversos municípios do Estado, Arraial do Cabo também
construiu o seu pórtico de entrada, visando a prestar informações aos visitantes
que ali chegam. Entretanto, o projeto do pórtico, recentemente inaugurado,
apresenta alguns equívocos que merecem ser observados.
132
O primeiro dele e, talvez o mais grave, está relacionado com a sua
localização. O município apresenta apenas dois acessos rodoviários possíveis. O
primeiro, utilizado por praticamente todos os visitantes é a RJ 140, que liga o
município à rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) através do município de Cabo Frio; o
segundo é a estrada não pavimentada (RJ-102) que corta a restinga de
Massambaba, ligando o município à localidade de Praia Seca, em Araruama,
passando pelos distritos de Figueira e Monte alto. O referido pórtico está
localizado na RJ-140, poucos depois do acesso aos distritos de Figueira e Monte
Alto, deixando os visitantes que se dirigem a essas duas localidades
impossibilitados de terem acesso aos serviços de informações turísticas do
pórtico, a menos que saiam do seu percurso natural.
O outro equívoco do pórtico do município está no estilo arquitetônico
escolhido12, totalmente diferenciado em relação à paisagem construída da região
da Costa do Sol, onde se encontra o município de Arraial do Cabo. Esse equívoco
fica mais evidente em razão de o mesmo estar construído numa extensa planície,
onde as referências mais importantes são as dunas da praia do Foguete e as
salinas da lagoa de Araruama, que acabam por realçar suas dimensões e seu
perfil antagônico com a paisagem local.
4.2.2 Armação dos Búzios e Arraial do Cabo: duas formas distintas de inserção
nas redes do turismo estadual
O que leva dois lugares turísticos, aparentemente detentores de
potenciais turísticos tão semelhantes, a apresentarem processos de
desenvolvimento turístico e de inserção nas redes do turismo tão diferenciados?
Essa questão há muito vem nos seduzindo e nos levando a examinar os fatos que
acabaram por gerar tal situação entre Armação dos Búzios e Arraial do Cabo.
Apesar de sabedores da existência de outras variáveis socioculturais
que podem ter interferido nesse processo, respeitando os objetivos da nossa
12 Segundo informações dos nossos entrevistados, a Prefeitura Municipal contratou um arquiteto local, de origem mediterrânea, que desenvolveu um projeto baseado na arquitetura daquela parte da Europa
133
pesquisa, limitamo-nos a buscar respostas para essa questão nas relações e
inter-relações dos sistemas turísticos de cada um dos dois lugares turísticos
selecionados, cônscios de tal escolha nos proporcionar uma visão da
complexidade do problema, limitada aos sistemas a que estamos nos referindo.
A partir da vivência e observação pessoal sistemática e dos resultados
das diversas entrevistas que realizamos, alguns pontos foram se sobressaindo na
busca do entendimento dos processos de inserção daqueles lugares turísticos
nas redes do turismo. Diante do fato de termos optado apenas por uma pesquisa
qualitativa, não foi possível avaliar os pontos identificados de acordo com os seus
graus de interferência nos citados processos de inserção. Portanto, a ordem de
apresentação dos mesmos não deve induzir a nenhum grau de hierarquização
dos mesmos, tendo sido propositadamente feita de maneira aleatória.
Uma das variáveis que buscamos para entender os processos de
inserção de Armação dos Búzios e de Arraial do Cabo nas redes do turismo foi a
representatividade econômica do setor turístico para as duas economias
municipais. Como já dissemos, não procuramos dados estatísticos para
comprovar tais fatos, mas sim o dia a dia de cada município, visto através dos
olhos dos nossos entrevistados.
É evidente para a totalidade dos nossos entrevistados a dependência,
quase que visceral, de Armação dos Búzios em relação às atividades do sistema
turístico local. Essa dependência, segundo alguns, chega a ser superior a noventa
por cento do total arrecadado em impostos e do total de empregos gerados no
município atualmente. Pela nossa observação pessoal, no município, excetuando-
se as empresas ligadas direta (meios de hospedagem, agências de viagens,
operadoras de turismo náutico, etc.) ou indiretamente ao setor do turismo
(restaurantes, comércio em geral, postos de combustível, etc.), restam muito
poucas opções tanto em termos de empresas, como em possibilidades de
empregos. Além disso, é conveniente lembrar o grande número de empregos
informais que a atividade turística oferece à população local, tais como,
ambulantes, guias não cadastrados, empregados domésticos nas casas de
134
veraneio, etc., os quais respondem por um percentual expressivo no conjunto da
oferta total de empregos.
Um fato que corrobora com a dependência de Armação dos Búzios em
relação aos fluxos de turistas é o horário comercial do município, totalmente
diferenciado dos demais municípios da região e mesmo do Estado: o comércio
local, em sua grande parte, funciona a partir do meio dia, ficando aberto até por
volta da meia noite, visando adaptar-se ao ritmo diário dos turistas .
Com relação à mesma variável, o município de Arraial do Cabo oferece
um processo de formação econômica mais diversificado e menos dependente da
atividade turística. Historicamente, o município sempre apresentou uma atividade
pesqueira mais forte e mais organizada que aquela verificada em Armação dos
Búzios. As características do mar do município, extremamente beneficiado pelo
fenômeno da ressurgência, o qual lhe dá fartura e diversidade de pescado bem
superior aos demais municípios da região, influenciaram na própria estrutura
sociocultural do município. Apesar de Armação dos Búzios apresentar o histórico
de ter sido descoberta por Brigitte Bardot como uma aldeia de pescadores, o
isolamento físico do município não lhe conferiu a característica de uma colônia de
pesca de grande produtividade, ao contrário de Arraial do Cabo, onde a pesca
sempre teve grande importância para a economia local, fato passível de
verificação empírica na organização dos pescadores locais em uma Associação
bem estruturada e representativa (AREMAC). Além disso, o município de Arraial
do Cabo também sempre se caracterizou com grande produtor de sal, desde que
essa atividade foi liberada no país, pela Corte Portuguesa no final do século
XVIII.13
Outro fator de real importância para a formação econômica do
município de Arraial do Cabo foi a instalação da Companhia Nacional de Alcális
na década de quarenta que, no seu período de maior produção, chegou a gerar
cerca de dois mil empregos diretos. Essa indústria, inicialmente estatal, produtora
de barrilha, sal refinado e outros derivados químicos a partir dos depósitos de
13 A existência do sal nessa região foi verificada desde o início da colonização do país, mas sua extração e produção foi proibida em 1665 pela Coroa Portuguesa, só sendo liberada no final do século XVIII, com o crescimento da população e da pecuária na colônia.
135
conchas da lagoa de Araruama, mesmo após a sua privatização, em 1992,
continua sendo responsável por um número elevado de empregos para o
município, tanto diretos (cerca de 700), como indiretos, uma vez que o próprio
funcionamento do Porto do Sal, localizado na praia do Forno, é quase que
totalmente voltado para atender as demandas daquela empresa.
Segundo um dos monitores do PNMT no município, a economia do
município atualmente está estruturada em quatro grandes provedores de
empregos para a população local: Álcalis, pesca, Prefeitura Municipal e turismo.
Esse cenário vem sofrendo uma lenta transformação na última década, graças a
dois fatores básicos: o crescimento da atividade turística, principalmente em
função da “descoberta” do município como um dos melhores pontos de mergulho
do litoral brasileiro, responsável pela criação da imagem de Arraial do Cabo como
“a capital do mergulho”, e a criação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do
Cabo, em 1997.
Esses dois fatores vêm reforçando a tradição pesqueira do município,
dando um novo fôlego para à atividade turística no Município. A implantação do
programa nacional de pesca esportiva, pela Embratur, e o trabalho de divulgação
do município como “a capital do mergulho” vêm estimulando o desenvolvimento
do setor que, segundo um dos representantes do segmento hoteleiro local, viu o
número de pousadas e de leitos multiplicar-se de forma considerável nos últimos
dez anos. Comparada com a oferta de leitos de Armação dos Búzios (7.397leitos),
a oferta de Arraial do Cabo (1.589 leitos) é ainda tímida, mas se observarmos o
seu crescimento, principalmente nos últimos cinco anos, veremos que há uma
tendência evidente de alta. No início dos anos noventa existiam no município seis
meios de hospedagem; atualmente esse número se eleva para trinta e seis,
acusando um crescimento de seiscentos por cento no total dos meios de
hospedagem do Município, no período de dez anos.
Um segundo ponto por nós observado, indicador de alguns indícios
para entender os processos diferenciados de Armação dos Búzios e de Arraial do
Cabo nas redes do turismo, é aquele relacionado ao processo de ocupação do
solo, ocorrido nos últimos cinqüenta anos nas duas penínsulas. Enquanto Arraial
136
do Cabo assistiu, na década de cinqüenta, à instalação de uma grande empresa
estatal de produção de barrilha (Álcalis), o que provocou correntes migratórias
para o município, oriundas do próprio Estado (norte fluminense) e de alguns
pontos do nordeste brasileiro, Armação dos Búzios presenciou, no mesmo
período, um outro tipo de migração, bastante diferenciado, composto basicamente
de estrangeiros que para lá se mudaram, na busca de um possível “paraíso
terrestre”, tão decantado pela mídia depois das visitas de Brigitte Bardot, no início
da década de sessenta, a então colônia de pescadores.
Atualmente o município de Armação dos Búzios apresenta um elevado
percentual de residentes não brasileiros (cerca de 30%), em sua grande maioria
empresários, que se mudaram para o balneário e ali investiram em meios de
hospedagem e restaurantes, contribuindo para a atual composição do sistema
turístico local. Segundo o Prefeito municipal, Delmires de Oliveira Braga,
atualmente a população de estrangeiros no município chega a 4.000 residentes
permanentes, dos quais 1.500 são argentinos (Jornal do Brasil, 28/11/99, p.16).
Não é de admirar que diversos entrevistados tenham se referido à cidade como
uma “torre de babel”, apontando para a existência de mais de sessenta
nacionalidades diferentes no Município.
Esse fato estimulou a divulgação do produto turístico de Armação dos
Búzios em diversos centros emissores internacionais, dado que os emigrantes
estrangeiros não rompem totalmente suas ligações com suas regiões e países de
origem. Pelo contrário, após instalados no município, passam a trabalhar a
capitação de fluxos turísticos no mercado dos seus locais de origem, contando
com o fato de dominarem (ainda que precariamente) o idioma local.
Essa diferença na formação da atual estrutura populacional dos dois
municípios parece ser um indicador de importância para explicar o motivo de
ambos terem vivenciado processos diferentes de inserção nas redes do turismo.
Enquanto para Arraial do Cabo convergiram correntes de migrantes brasileiros, a
princípio desempregados, em busca de um emprego estável na Álcalis, para
Armação dos Búzios vieram estrangeiros com capital e interesse em se fixar e
137
investir na atividade turística, incentivados pela mídia da época que não deixava
de enaltecer as características naturais do lugar recém descoberto.
Como que resultado e mescla dos dois pontos acima descritos, um
terceiro nos chamou a atenção: para grande parte dos nossos entrevistados o que
diferencia o processo turístico nos dois municípios é o caráter empreendedor dos
empresários do setor turístico de cada um dos municípios. Enquanto os
estrangeiros que se fixaram em Armação dos Búzios trouxeram consigo capital,
vontade e interesse de investir seriamente na atividade turística, em Arraial do
Cabo o turismo foi ocorrendo de forma mais ou menos amadora e espontânea.
Um de nossos entrevistados, empresário e nativo de Arraial do Cabo, disse-nos
que é comum entre eles o comentário: “Búzios tem hoteleiros enquanto Arraial e
Cabo Frio têm dono de hotel”. Partindo de um nativo local, com formação em
turismo (turismólogo) e sócio de uma agência de turismo, esse comentário nos
fornece um dado bastante enriquecedor para entendermos o funcionamento dos
dois sistemas turísticos locais.
Nossa opinião é de que o capital privado que se instalou em Armação
dos Búzios veio decidido a estabelecer-se de forma definitiva e a transformar a
pequena aldeia de pescadores dos anos sessenta num grande centro turístico.
Para isso, não mediram esforços nem ficaram esperando o apoio do órgão
público municipal (na época, a Prefeitura de Cabo Frio), partindo para um trabalho
independente e diferenciado de tudo que até então havia sido feito na região e no
próprio Estado. Apesar de um ou outro entrevistado local ter sinalizado para uma
aparência enganosa da união dos empresários locais, o que presenciamos
pessoalmente nesses últimos quinze anos é um trabalho sistemático e
profissional da AHB – Associação de Hotéis de Búzios na divulgação do potencial
turístico local, tanto nas suas participações nos principais eventos técnico e
profissional, nacionais e internacionais, sempre de maneira extremamente
competente e objetiva, como na produção de material de divulgação (folders,
vídeos, etc.).
Em Arraial do Cabo, o trabalho de parceria da iniciativa privada parece
não conseguir encontrar um ponto de sustentação, fato comprovado pelas quatro
138
tentativas frustradas de formação de um associação local de turismo nos últimos
anos. As associações são fundadas e logo depois são esvaziadas e deixam de
existir; por não haver consenso entre seus associados sobre os seus objetivos e
suas funções, os interesses particulares acabam por suplantar os coletivos,
levando ao desmonte da entidade.
A atual Associação de Turismo de Arraial do Cabo - ATAC - está
passando por esse mesmo ciclo. Pessoalmente presenciamos o início de uma
crise entre seus associados no último mês de março, ocasionada por uma matéria
da revista “Troféu e Pesca”, publicada na edição do mês de março último14.
Partindo do pressuposto da ATAC, enquanto representante de uma parte
considerável do trade turístico local, ter dado apoio à produção da matéria, criou-
se um clima tenso entre todos os associados, com alguns deles dizendo estar
renunciando ao cargo que ocupavam e outros se afastando da associação.
Para aqueles que, como nós, trabalham no dia a dia da promoção e do
fomento da atividade turística no estado do Rio de Janeiro, fato que exige
contatos quase que permanentes com as diversas representações, públicas e
privadas, do setor turístico nos municípios, é evidente a diferença entre o
comportamento da iniciativa privada de Armação dos Búzios e de Arraial do
Cabo. Mesmo sabendo que em Armação dos Búzios existem divergências
bastante fortes entre seus componentes, o que observamos é um trabalho sério e
sistemático nos principais mercados emissores de fluxos de turistas, enquanto em
Arraial quase nunca acontece tal procedimento.
Quanto ao desempenho das administrações públicas municipais,
também observamos condutas bastante diferenciadas. Enquanto o atual Prefeito
de Armação dos Búzios (primeiro na história do município emancipado em 1995),
mesmo não tendo priorizado o setor turístico, preocupou-se em escolher um
14 A matéria de doze páginas apresentou o potencial turístico do município, com um trabalho jornalístico e fotográfico de elevada qualidade, voltado para um segmento de mercado bastante diferenciado (mergulhadores e pescadores) que vem se revelando um dos principais para o município, o que deveria ter atendido às expectativas de todos no município. Entretanto, na última página da matéria são apresentadas algumas informações e indicações sobre os equipamentos e serviços turísticos do município onde, coincidentemente, só são citados os meios de hospedagem e os restaurantes de propriedade de alguns dos Diretores da Associação, em detrimento de todos os demais.
139
secretário municipal de turismo que fosse articulado com os empresários locais,
nos últimos anos o cargo de secretário municipal de turismo de Arraial do Cabo
ficou vago, só tendo sido preenchido no final do ano de 1999.
O atual Secretário de Turismo de Armação dos Búzios é um ex-
hoteleiro do município, com grande participação nas ações conjuntas da iniciativa
privada local e, aparentemente, bastante respeitado pelo trade turístico15 local.
Mesmo não contando com uma verba orçamentária à altura das reais
necessidades de um município tão dependente da atividade turística, como
Armação dos Búzios, a Secretaria Municipal vem desempenhando um papel
bastante importante no fomento da atividade turística local. Nos últimos anos
foram executadas obras importantes, como, a construção do pórtico de entrada
do município, de linhas arquitetônicas arrojadas, coerentes com o “estilo buziano”,
e da orla Bardot na praia dos Ossos. O pórtico oferece um importante serviço de
atendimento aos turistas e visitantes, além de controlar, de forma indireta, a
entrada de fluxos de ônibus de excursões no município, evitando a massificação
do turismo local, conforme desejo do trade turístico local.
Mesmo com os empresários locais acusando o atual prefeito de não
priorizar as obras e serviços para as áreas turísticas do Município, em favor dos
investimentos nas áreas de educação e saneamento e calçamento das ruas dos
bairros ditos populares, todos disseram apoiar sua administração. A única estação
de tratamento de esgoto do Município, recentemente inaugurada, atende
exclusivamente ao bairro Cem Braças, área afastada daquelas mais freqüentadas
pelos turistas e de concentração da maioria dos empreendimentos turísticos,
enquanto são visíveis os sérios efeitos da não existência de um sistema de
esgoto na área próxima às praias do Canto e dos Ossos, principalmente na
famosa rua das Pedras, ponto de maior concentração de turistas no município.
Por sua vez, a atual Secretária de Turismo de Arraial do Cabo,
nomeada no final de 1999, apesar de sua formação técnica e atuação na área de
turismo (turismóloga e professora de curso superior de turismo), não vem
15 Termo utilizado, de maneira bastante rotineira entre os profissionais do setor , para designar os agentes componentes do sistema turístico.
140
encontrando no atual prefeito municipal apoio e consciência para a importância de
um trabalho planejado e sistemático de fomento e divulgação do turismo local.
Esse fato é apontado por todos os entrevistados ouvidos no município, que
disseram não perceber nos atos do executivo municipal nenhuma intenção de
desenvolvimento da atividade turística, além de optar por investir os poucos
recursos públicos existentes na realização de um série de shows musicais,
totalmente incoerentes com o perfil dos turistas que já freqüentam o município16.
Esse incidente comprova o distanciamento existente entre os
empresários de turismo e o poder público municipal de Arraial do Cabo. Cabe
aqui salientar que o trade turístico de Armação dos Búzios, de comum acordo e
com apoio do administração pública municipal, optou por promover shows de jazz
durante o período do carnaval. Segundo os nossos entrevistados, a opção foi
tomada por ser mais coerente com o perfil dos fluxos de turistas que freqüentam o
município e para desestimular os fluxos de turismo de massa.
Podemos perceber que esses itens assinalados revelam um ponto
importante para nossa busca do entendimento do ordenamento territorial do
turismo no estado do Rio de Janeiro: a articulação entre o poder público municipal
e os representantes do trade turístico dos lugares turísticos. No caso de Armação
dos Búzios, mesmo que alguns dos membros do trade turístico questionem o
desempenho do poder público municipal, é possível percebermos que, de uma
maneira geral, existe um entendimento implícito, não institucionalizado na rotina
do funcionamento da atividade turístico local. Em Arraial do Cabo, entretanto,
16 Prova disso foi o fato ocorrido no carnaval desse ano, quando o município patrocinou (leia-se pagou) shows de funk e trios elétricos que atraíram mais de duzentos mil pessoas para a cidade, segundo a matéria de primeira página do Jornal de Sábado, de 11de março de 2000. De acordo com o presidente da ATAC, Luiz Sérgio Gravina, o carnaval desse ano foi “lamentável, [...] a falta de planejamento deixou a cidade desprotegida e aconteceram cenas de violências” (Jornal de Sábado, 11/03/2000,p.1). O Prefeito, por sua vez, enalteceu o fato de o município nunca ter recebido tantos visitantes antes e rechaçou as críticas do trade turístico local: “foi o melhor carnaval de todos os tempos. A cidade superlotou e tudo funcionou muito bem [...] Carnaval é isso mesmo: bagunça, folia, carnaval de rua [...] Quem quiser tranqüilidade não deve vir para cá, deve ir para outro lugar, para a serra por exemplo” (ibidem, p.1).
141
podemos afirmar que esse entendimento não ocorre, nem de forma implícita. O
que existe é um total afastamento do poder público municipal e os empresários
do trade turístico local.
Os resultados das recentes eleições para o poder executivo municipal,
ocorridas no último mês de outubro de 2000 em todos os municípios brasileiros,
de certa forma confirmam nossas observações. Enquanto o atual prefeito de
Armação dos Búzios foi reeleito com uma ampla vantagem no total dos votos, em
Arraial do Cabo o candidato da oposição venceu as eleições de forma incisiva.
Cabe recordar que, em ambos os municípios, o atual Governador do Estado
apoiou, de forma bastante visível, os atuais prefeitos, independentes dos seus
partidos políticos.
A paisagem construída dos dois municípios pode também indicar um
outro ponto motivador de processos diferenciados de inserção nos mercados
turísticos. As paisagens naturais de Armação dos Búzios e de Arraial do Cabo
apresentam diversos pontos de similaridade: ambos estão localizados em
penínsulas de litoral bastante recortado, com ilhas, praias e enseadas em número
bastante elevado, interligados por uma extensa planície costeira. Atualmente, os
dois municípios ainda apresentam partes consideráveis dos seus territórios como
áreas preservadas, o que lhes conferem um diferencial em relação aos demais
municípios da região, onde a ocupação urbana desenfreada ocasionado pelo
crescimento acelerado dos loteamentos de residência de veraneio após a
inauguração da ponte Rio-Niterói, na década de setenta, provocou uma paisagem
construída de caraterísticas arquitetônicas sofríveis e geradora de sérios
problemas ambientais e urbanísticos.
Entretanto, a ocupação do solo dos dois municípios nos últimos
cinqüenta anos apresenta processos bastante diferenciados, os quais
contribuíram para a construção de paisagens bastante distintas. Enquanto o
município de Arraial do Cabo, após a instalação da empresa Álcalis, viu seu
território ser dividido e ocupado por correntes migratórias oriundas do próprio
Estado (especialmente da região norte do Estado) e da região nordeste do país,
Armação dos Búzios, já na década de sessenta presenciou uma primeira onda de
142
especulação imobiliária provocada pela chegada de pessoas com alto poder
aquisitivo que, à custa de pouco investimento, foram adquirindo as terras
próximas ao mar dos pescadores, obrigando-os a se deslocarem para áreas mais
afastadas.
O resultado desses processos de ocupação do solo pode ser
visualmente confirmado na paisagem construída dos dois municípios. A
ocupação, de certa forma descontrolada de Arraial do Cabo, levou à construção
de uma paisagem urbana sem cuidados, marcada pela ausência de um estilo
arquitetônico característico, sem nenhum referencial identidário. O que vemos, ao
entrar na área urbana do Município hoje é uma ocupação desordenada, sem
critérios e estilo, dando à cidade um aspecto muito parecido ao de todas as
cidades de porte médio do Estado, marcadas pela ocupação das encostas dos
morros, por construções de baixa qualidade estética e estrutural. Essa realidade
também repete-se nos distritos de Figueira e Monte alto, onde as construções não
apresentam nenhum cuidado estético e os loteamentos parcelam o solo na menor
unidade permitida por lei, estimulando o adensamento populacional, em sua
grande parte voltado para residências de veraneio de baixa qualidade.
Já no caso de Armação dos Búzios, a ocupação urbana, mesmo sem a
gerência de um poder municipal presente até 1995, ocorreu de forma menos
agressiva e marcada pela criação de um estilo arquitetônico próprio, atualmente
conhecido como “estilo buziano”. Essa característica arquitetônica teve origem no
início dos anos oitenta, com os trabalhos do arquiteto Otávio Raja Gabaglia que, a
partir do estudo e da observação da arquitetura das construções dos pescadores,
começou a desenvolver projetos de residências com características construtivas
específicas, com largo emprego de madeira, cerâmica e telhas de barro. A partir
do sucesso dos seus primeiros projetos, o seu estilo foi sendo naturalmente
incorporado pelos construtores locais, gerando uma maneira de construir, própria
do local.
O resultado desse trabalho pode ser facilmente identificado na
paisagem construída de Armação dos Búzios onde, independente de uma análise
crítica da qualidade arquitetônica das construções, somos obrigados a reconhecer
143
a existência de uma coerência e uma maneira distinta de tudo aquilo que é visto
na região, dando ao município uma identidade visual importante para a
consolidação da sua imagem enquanto produto turístico.
Atualmente o município de Armação dos Búzios ainda apresenta
grandes áreas não construídas, algumas já preservadas por instrumentos legais,
enquanto Arraial do Cabo sofre sérios problemas de invasões e construções
irregulares, principalmente nas encostas da área urbana do Primeiro Distrito e nas
áreas de restinga dos distritos de Figueira e de Monte Alto, onde a mancha
urbana vem crescendo sem nenhum cuidado e nenhum respeito às fragilidades
dos ecossistemas da restingas, com desmonte de suas dunas e destruição da
vegetação típica.
Segundo informações dos órgãos ambientais locais e dos nossos
entrevistados, a região daqueles dois distritos está tendo seu solo dividido em
lotes urbanos de dimensões reduzidas, os quais são comercializados por preços
bastante atraentes, principalmente, para a população dos municípios da Baixada
Fluminense, que ali constróem suas residências de veraneio. Os loteamentos são
bastantes densos e sem maiores cuidados paisagísticos e urbanísticos.
O ambiente formado pela presença do oceano e pelo litoral é outro
elemento comum aos dois municípios, objetos de nossa pesquisa. Com seus
litorais recortados, ambos apresentam um vocação natural voltada para o uso dos
recursos do mar, o que resulta num forte potencial para o desenvolvimento do
segmento de turismo náutico. Entretanto, enquanto em Armação dos Búzios essa
tendência vem sendo desenvolvida naturalmente nos últimos vinte ou trinta anos,
em Arraial do Cabo, somente nos últimos cinco anos os recursos marítimos
parecem ter sido descobertos. Historicamente o mar de Arraial do Cabo sempre
apresentou uma potencialidade de utilização pelos grupos humanos mais
promissora, graças às características do seu litoral mais protegido e da ocorrência
da “ressurgência” em suas águas territoriais, fato que lhe dá um grande potencial,
tanto para pesca esportiva como para o mergulho. Informações dos operadores
de mergulho da região indicam que devido às características das correntes
marinhas e dos ventos, enquanto no município de Armação dos Búzios podemos
144
encontrar uns três pontos com boas condições de mergulho, em Arraial do Cabo
encontramos mais de vinte pontos de mergulho, distribuídos de tal forma que,
independente das condições climáticas, em todos os dias do ano é possível a
prática de mergulho.
Na prática, vemos esse potencial de Arraial do Cabo ainda ser pouco
explorado, principalmente para o mergulho, tanto pela falta de investimentos
privados como pela falta de entrosamento entre os operadores de mergulho do
município e a Associação da Reserva Extrativista de Arraial do Cabo – AREMAC.
Atualmente existe uma disputa judicial para a liberação do mergulho noturno nas
águas territoriais do Município, a princípio proibido, pelo IBAMA, acatando um
pedido da Associação, para quem a pesca de cerco é prejudicada pelas luzes
utilizadas pelos pescadores.
De acordo com os nossos entrevistados em Arraial do Cabo, o impasse
em relação à liberação do mergulho noturno está ocorrendo mais pela falta de
entendimento entre os envolvidos do que por razões técnicas. Conversando
isoladamente com os interessados, percebemos que o mergulho não prejudica a
pesca artesanal característica da reserva. O que falta é o estabelecimento de um
zoneamento da área da reserva, definindo o tipo de atividade que pode ser
praticada, com regras, horários e capacidade bem claras. Mais uma vez
detectamos a dificuldade de articulação e negociação entre os diferentes setores
da comunidade de Arraial do Cabo. O próprio presidente da AREMAC, pescador
nativo local, declarou ser possível um acordo entre os pescadores e os
mergulhadores, com relação à prática do mergulho noturno. Parece-nos faltar a
vontade, de ambas as partes, de estabelecer o diálogo necessário17.
Essa desarticulação está criando dificuldades aos operadores de
mergulho sediados no município (atualmente são dez operadores), levando-os a
buscar outros locais alternativos para realizarem os mergulhos (Armação dos
Búzios, Cabo Frio, Angra dos Reis, Guarapari, etc.). Segundo alguns operadores
17 De acordo com informações mais recentes, posteriores às nossas pesquisas de campo, houve um acordo provisório entre as partes e o mergulho noturno foi novamente liberado, sob certas condições.
145
locais, a situação já está sendo motivos de chacotas e brincadeiras em sites de
bate papo da internet, onde é comum verificarem-se comentários do tipo “Arraial
do Cabo, a capital do mergulho restrito”, colocando em risco todo o trabalho
desenvolvido nos últimos anos para consolidação do Município como um dos
melhores pontos para mergulho do país, tanto pelas característica do seu mar,
como pelo fato de estar próximo aos maiores centros emissores de demanda para
esse tipo de turismo.
Por fim, um último ponto de nossas observações para a busca do
entendimento dos processos diferenciados de inserção nas redes do turismo dos
municípios de Arraial do Cabo e Armação dos Búzios está relacionado ao papel
da mídia, impressa e televisiva. Quase que de maneira unânime, ouvimos dos
nossos entrevistados que as duas visitas de Brigitte Bardot à Armação dos
Búzios, na década de sessenta, foram decisivas para determinar o processo de
desenvolvimento turístico local e de sua inserção no mercado mundial do turismo,
sendo, portanto, o grande fator de diferenciação entre o município e Arraial do
Cabo.
Recuperando algumas informações do ocorrido na época, através de
Antônio Câmara Júnior e da jornalista Elizabeth Jansen, constatamos que a atriz
francesa Brigitte Bardot esteve em Armação dos Búzios, primeiro no verão de
1961 e depois no final de 1963, levada por alguns amigos comuns que já
conheciam a região. Ali, totalmente afastada do assédio dos curiosos, a atriz
praticou o top-less , chamando a atenção dos pescadores locais e da imprensa
em geral. Logo suas fotos na praia dos Ossos foram publicadas nos jornais e
revistas da França (Le Monde, Vogue, etc.), despertando a curiosidade de
diversas pessoas sobre o local onde se encontrava.
Uma das pessoas motivadas pelas fotos foi o então embaixador da
Argentina na França, que veio conhecer Armação dos Búzios e acabou ficando.
Tal fato gerou grande movimento na imprensa argentina, provocando os primeiros
fluxos de argentinos para o balneário, ainda nos anos sessenta.
Assim como o embaixador argentino, outros estrangeiros foram
levados pela mídia a conhecer Armação dos Búzios e alguns deles foram fixando
146
residência, acompanhados por pessoas da alta sociedade do Rio de Janeiro e de
São Paulo. Esse fato, mais as constantes visitas de artistas e de pessoas com
poder de formação de opinião, foram colocando o balneário nas colunas sociais,
fazendo surgir um certo modismo e fortalecendo a imagem da cidade como um
balneário sofisticado e caro. O mesmo não ocorreu em relação à Arraial do Cabo
que apesar da proximidade com Cabo Frio e mesmo com Armação dos Búzios,
não teve a mesma “sorte de ser descoberta pelas pessoas certas no momento
certo “, conforme expressado por alguns dos nossos entrevistados..
O que podemos deduzir, a partir dos diversos pontos abordados até
agora, é que os processos de inserção de Armação dos Búzios e de Arraial do
Cabo nas redes do turismo estão ligados ao papel desempenhado pela mídia e à
ocorrência de fatos casuais que podem se tornar notícias, colaborando para a
construção de uma imagem capaz de estimular a curiosidade e os desejos dos
fluxos potenciais de turistas. O exemplo do papel desempenhado pela presença
da atriz Brigitte Bardot em Armação dos Búzios, quando era apenas um pequena
aldeia de pescadores, corrobora essa posição.
Ouvimos de vários entrevistados que, se caso a atriz francesa tivesse
ido para Arraial do Cabo e não para Armação dos Búzios, hoje a situação desses
dois lugares turísticos seriam exatamente opostas. Ou então, se outras pessoas,
famosas e multiplicadores de opinião, tivessem se voltado para Arraial do Cabo,
certamente hoje esse Município também estaria inserido de forma distinta nas
redes do turismo estadual. Certamente devemos não valorizar demais essa
afirmação, mas também não podemos desprezá-la totalmente.
Porém, cremos que o perfil dos empresários do setor turístico dos dois
municípios também tem uma participação decisiva no desempenho dos mesmos
na captação de fluxos de demanda turística. O trade turístico de Arraial do Cabo
não encara sua atividade de forma empreendedora, salvo algumas exceções,
dificultando o desenvolvimento de ações articuladas e planejadas. Por seu lado, o
trade de Armação dos Búzios mostra-se mais empreendedor e investe de forma
bastante profissional nos projetos de captação de novos mercados emissores e
de consolidação dos mercados já existentes.
147
É possível assinalar que o capital está mais estruturado no município
de Armação dos Búzios, ancorado em aportes financeiros, mesmo que de forma
difusa, assincrônicas, oriundos de outros países, enquanto em Arraial do Cabo
nota-se o predomínio de empresas familiares, sem aportes de capital externo de
maior expressão.
Também a ação dos órgãos municipais de turismo nos parecem
fundamentais para o estabelecimento de processos mais efetivos de inserção nos
mercados turísticos. Não que defendamos a tese de que o poder público
municipal deva assumir um papel mais ativo nesse processo. O turismo é uma
atividade eminentemente do capital privado e como tal, deve ser gerenciado. Mas
é importante a articulação entre as ações do poder público local e do trade
turístico, no sentido de se estabelecer uma estratégia comum para o setor que
otimize os recursos e evite desperdícios tão comuns na maioria dos municípios
turísticos do Estado.
O turismo, enquanto fenômeno típico da sociedade contemporânea,
está diretamente ligado ao jogo de relações e interrelações que se estabelecem,
ou que devem se estabelecer, entre os diversos elementos componentes do seu
sistema funcional. Quando essas relações e interrelações são prejudicadas pela
inércia, parcial ou total, de algum dos elementos ou pela falta de articulação entre
eles, todo o sistema passa a operar aquém da sua melhor performance.
5. PROCESSOS DE INSERÇÃO DOS LUGARES TURÍSTICOS NAS REDES DO TURISMO CONTEMPORÂNEO: ALGUMAS CONCLUSÕES
Compreender o ordenamento territorial do fenômeno turístico no
Estado do Rio de Janeiro, através do mapeamento do seu território-rede atual e
as relações e interrelações existentes entre os lugares turísticos, que compõem
os nós das suas diversas redes, foi a problemática por nós estabelecida para este
trabalho.
O uso de duas escalas de análise permitiu-nos perceber, confirmando
nossas expectativas iniciais, que a compreensão do ordenamento territorial da
atividade turística deve ser buscada a partir da análise dos sistemas funcionais
dos lugares turísticos, dado ser neles que o fenômeno se manifesta
concretamente (Rodrigues, 1997a), revelando todas as suas relações e inter-
relações, horizontais e verticais, com os outros nós das redes do turismo e com
os diversos mercados emissores de demanda.
É a partir da identificação e do estudo dessas articulações entre os
diversos nós do território-rede do turismo que podemos perceber a maneira como
ele se ordena e se reordena constantemente, uma vez que estamos trabalhando
com um fenômeno extremamente complexo e dinâmico.
A observação e a análise do processo de estruturação de Armação dos
Búzios e Arraial do Cabo, enquanto lugares turísticos, permitiram-nos avançar
em algumas primeiras conclusões quanto às formas diferenciadas com que os
lugares se inserem nas redes do turismo atual, e como essas redes ordenam o
território-rede do turismo no Estado do Rio de Janeiro. Não pretendemos aqui
149
esgotar nenhumas das questões, principalmente aquela relacionada ao conceito
de lugar turístico, a qual entendemos deva merecer outras incursões teóricas
mais aprofundadas num futuro próximo.
Nossa aproximação com os objetos empíricos de pesquisa escolhidos,
iniciada há pelo vinte anos, levou-nos, num primeiro momento, a buscar um
entendimento do fenômeno turístico enquanto um dos fatores mais significativos
no ordenamento do território estadual, responsável pela construção de uma
paisagem bastante característica e diferenciada daquela a que estávamos
habituados a ver no interior do Estado de São Paulo, durante nossa infância e
adolescência. Até hoje, parece-nos estranho a ocorrência de extensas áreas
rurais no Estado do Rio de Janeiro não produtivas, ocupadas por uma pecuária
extensiva quase que amadora, ou totalmente abandonadas, sem nenhuma função
produtiva. A atividade turística, em especial aquela relacionada ao segmento
voltado para atender às demandas dos veranistas, fez multiplicar em todo o
território estadual, loteamentos e condomínios de residências de uso ocasional,
reordenando a sua ocupação e alterando a estrutura socioeconômica da sua
população.
Conforme nos indica o Anuário Estatístico do IBGE (1996), o
percentual de residências de uso ocasional em diversos municípios do Estado
ultrapassa a marca dos cinqüenta por cento do total de residências existentes1,
fato que torna alguns deles verdadeiras “cidades fantasmas” durante os períodos
de baixa estação do turismo2. Isso exige dos gestores locais verdadeiros
“malabarismos” administrativos, para tentar atender às demandas básicas de
infra-estrutura urbana e de serviços essenciais de saúde e educação, na maioria
das vezes, sem contar com as receitas previstas pela arrecadação do IPTU –
imposto predial e territorial urbano, dado esse ser sonegado pela grande maioria
dos proprietários de residências de veraneio.
1 Segundo o IBGE (1991), nos municípios de Armação dos Búzios e de Arraial do Cabo, os percentuais de residências de uso ocasional eram 44,5% e 32,35% respectivamente. Em toda a região da Costa do Sol esses índices são próximos, ou superiores à marca de cinqüenta por cento. 2 No caso específico do Estado do Rio de Janeiro, o período de baixa estação do turismo abrange cerca de oito meses do ano, uma vez, que habitualmente, são considerados de alta estação apenas os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e julho.
150
Por sua vez, a população residente desses municípios, também se vê
obrigada a viver e a ordenar o seu lugar, a partir da sazonalidade da atividade
turística, dado esta acabar determinando a rotina do seu dia-a-dia, atingindo
desde as questões relacionadas às ofertas de empregos àquelas do custo de vida
local, passando pela segurança pública.
Atualmente, é o turismo o setor que determina e que mais interfere no
ordenamento de grande parcela do território estadual. O abandono das atividades
tradicionais (agricultura, pecuária, pesca e mineração) por parte de alguns
municípios e a sua substituição pela implantação de empreendimentos e de
serviços turísticos foi, e continua sendo, encarada por muitos como a solução de
todos os problemas socioeconômicos locais, caminho certo na direção do
desenvolvimento sustentável ou socioespacial, como querem alguns. Por trás
dessa tendência, percebemos a grande participação do setor imobiliário,
interessado em lotear o máximo de solo, preocupado apenas com a reprodução
do capital e o aumento dos lucros financeiros, sem levar em consideração as
conseqüências que essa opção provoca nas comunidades locais.
Entretanto, o turismo visto por esse prisma míope, onde só se
considera a sua variável econômica, logo se revela incompetente para atender às
expectativas como forma mais rápida e fácil de aumentar a qualidade de vida das
populações locais, como vem sendo pretendido e apresentado em diversos
discursos de autoridades e de empresários do trade turístico.
Logo a decepção ocorre e o turismo, mostrando-se com toda a sua
complexidade de relações (objetivas e subjetivas), passa a exigir mais do que
oferecer à localidade onde se instalou. São muitos os exemplos de lugares
“descobertos” pelo mercado turístico que, num período curto de tempo, acabam
sendo abandonados ou substituídos por outros lugares, onde uma nova imagem
mais atrativa é inventada e divulgada na mídia.
O que percebemos nesse ponto, é o desconhecimento, por parte da
maioria dos residentes locais, incluindo aí seus gestores, da real complexidade da
organização e do funcionamento do sistema turístico, fato que os leva a acreditar
nas promessas dos agentes do capital, a quem só interessa mostrar as relações e
151
interações objetivas do sistema, dado elas serem mais facilmente demonstráveis
e quantificáveis. Toda a complexidade intrínseca da atividade turística é omitida e
mascarada, através de peças de propaganda de grande apelo visual, em que se
promete ao turista um “paraíso”, o mesmo que a população residente é levada a
acreditar existir, por sorte e bênção dos céus, no seu lugar. Ou seja, o capital
inventa uma imagem para o lugar, de acordo com as suas necessidades, quase
sempre sem respeitar as características socioculturais locais3.
Entretanto, o turismo tal como é praticado e desenvolvido na
atualidade, é um fenômeno onde as relações e inter-relações entre os seus
diversos componentes são fatores preponderantes, originando incertezas e
acasos que dão ao seu sistema um grau de instabilidade e de dependência
elevados, interna e externa, que dificultam o seu entendimento e o seu controle
objetivo.
Essas relações e inter-relações do fenômeno turístico interferem
indiretamente na definição do grau de atratividade que um lugar pode ter para um
determinado segmento da demanda turística. É através delas que podemos
explicar o poder de atração que Armação dos Búzios exerce sobre os turistas e
que insere aquele lugar nas redes do turismo mundial. Um bom exemplo disso é
aquele oferecido pelo espetáculo que ocorre na rua das Pedras, onde diariamente
os visitantes se encontram, para se exibirem e serem vistos, tendo como cenário
os bares e os restaurantes temáticos e as lojas de grifes famosas, especialmente
construídos e mantidos pelos empresários do sistema turístico local. Como bem
colocado por um dos nossos entrevistados, a rua das Pedras é um cenário
globalizado, onde pessoas de diversas nacionalidades, residentes e visitantes,
encontram-se, buscando a realização dos seus anseios e expectativas, como se
estivessem numa grande metrópole cosmopolita.
3 Esses lugares inventados, tanto pelo capital como pela mídia, normalmente têm um ciclo de vida curto; como exemplo podemos citar o caso de Mangue Seco (BA-SE) que só se manteve inserido nos mercados turísticos enquanto a telenovela ali filmada pela Rede Globo, estava sendo exibida no horário nobre da televisão. Com o final da telenovela, aquele lugar logo caiu no esquecimento, sendo substituído imediatamente por outro.
152
A atratividade do lugar turístico passa então a ser definida, não só por
fatores objetivos como os seus recursos naturais (praias, grau de insolação, ilhas,
rios, etc.) ou culturais (monumentos arquitetônicos, museus, artesanato, folclore,
etc.), mas principalmente pela imagem construída (ou inventada) do lugar, a partir
da mídia ou do próprio imaginário coletivo.
Como tão bem nos coloca ALMEIDA (1998), o lugar turístico se torna o
lugar das representações e das imagens para o turista. É o olhar do turista que
estabelece o valor da paisagem que lhe aparece à frente, independente daqueles
que ela possa ter para outras pessoas, principalmente para a população residente
local. Ou seja, o olhar do turista estabelece novos valores para os lugares, valores
esses baseados na busca do exótico, do diferente , na sensação (imaginária) de
liberdade que esses lugares lhe oferecem ou podem lhe oferecer, os quais logo
são incorporados pelos agentes do capital, que neles visualizam e percebem a
possibilidade de lucro e de reprodução do capital.
O exemplo da história recente da consolidação de Armação dos Búzios
como lugar turístico inserido nas redes mais amplas do turismo estadual, e da não
consolidação, nos mesmos níveis, de Arraial do Cabo, corroboram as posições
acima colocadas.
Até meados da década de cinqüenta, tanto Arraial do Cabo como
Armação dos Búzios existiam de formas bastante semelhantes: ambas eram
distritos afastados de Cabo Frio, tendo na pesca seu ponto de sustento
econômico e de estruturação sociocultural. Pela sua localização e maior facilidade
de acesso, Arraial do Cabo estava mais integrada à vida política do município, o
que lhe valeu a instalação de uma fábrica de óleo de baleia em 19584, e da
Companhia Nacional de Álcalis, esta última tornando-se uma das grandes
responsáveis pela reestruturação social e econômica local, quer pela geração de
novos tipos de ocupações, quer pelas correntes migratórias que acabaram
provocando fatores, que conjugados, terminaram por dar à cidade uma
característica mais operária.
4 Segundo Câmara Filho, essa fábrica originalmente deveria ter sido instalada em Armação dos Búzios, mas articulações políticas a levaram para Arraial do Cabo
153
Armação dos Búzios por sua vez, dado o seu maior isolamento (o
acesso marítimo era o único viável) e pela singularidade do seu aspecto de aldeia
de pescadores, começou a atrair a atenção de alguns visitantes que, estando em
Cabo Frio5, partiam em seus barcos até aquela península, em busca de locais
mais isolados e desertos que lhes permitissem maior privacidade. Esses primeiros
visitantes eram, em sua maioria, cariocas de alto poder aquisitivo que,
encantados com as características privilegiadas da natureza local, iniciaram o
processo de turistificação do lugar e de construção de uma imagem de lugar
destinado ao lazer e ao ócio.
Conforme informações de Câmara Filho, em 1952, foi construída, por
Arnold Reis, proprietário da Companhia Odeon, a primeira residência de veraneio
local, na praia da Azedinha. Em 1955, já eram constantes os fluxos de visitantes
nos finais de semana para a então pequena aldeia de pescadores.
A visita da atriz francesa Brigitte Bardot, no final de 1961 para o local,
contribuiu para a construção de uma imagem de Armação dos Búzios como lugar
paradisíaco, onde era possível estar-se em estado de liberdade quase total.
Graças a essa imagem de lugar simples, quase singelo, onde não havia
impedimentos para a prática do nudismo, Armação dos Búzios ganhou uma
imagem com atratividade própria, especial, responsável pelo início dos fluxos de
turistas estrangeiros, que vieram se juntar aos de brasileiros que já freqüentavam
o local.
Logo o capital, através dos seus agentes sempre atentos às novas
possibilidades de lucros, começou a se instalar naquela península. Primeiro,
através da especulação imobiliária: os visitantes começaram a adquirir, por
módicas quantias, as terras dos pescadores localizadas junto ao mar, iniciando a
construção das suas casas de veraneio. A seguir o capital, especialmente o
capital estrangeiro recém-chegado, voltou seus investimentos para a implantação
de equipamentos e serviços turísticos (pousadas e restaurantes a princípio), já
motivados pelo crescente número de visitantes.
5 Naquela época, Cabo Frio era um dos lugares turísticos mais conhecidos e procurados pelos turistas brasileiros de alto poder aquisitivo.
154
A “invenção” do lugar turístico Armação dos Búzios estava então
consolidada. A imagem construída e reforçada pelo mito da visita de Brigitte
Bardot foi sendo multiplicada e complementada por outros fatos e outras pessoas
famosas, que garantiam, e ainda garantem, constantes espaços na mídia, ora nas
colunas sociais, ora nas páginas policiais6.
Ouvimos de vários entrevistados que, se Brigitte Bardot tivesse ido
para Arraial do Cabo e não para Armação dos Búzios, a história desses dois
lugares turísticos teria sido diferente. Entretanto, sem menosprezar o peso e a
importância das visitas daquela famosa atriz na construção da imagem turística
de Armação dos Búzios, o contexto socioeconômico e político das décadas de 50
e 60, também contribuiu para a sua “descoberta” pela classe mais abastada do
Rio de Janeiro. A cidade de Cabo Frio, àquela época era, juntamente com Santos
e Guarujá (SP), um dos balneários mais requisitados por aquele segmento da
população brasileira, e dali os visitantes partiam em suas embarcações para a
península de Búzios, em busca de locais e praias desertas. A própria Brigitte
Bardot foi levada para lá por um grande empresário brasileiro, que já era
proprietário de uma casa de veraneio na praia de Manguinhos, onde a atriz ficou
hospedada na sua primeira visita.
O que percebemos, a partir da realidade de Armação dos Búzios e de
Arraial do Cabo, é que uma combinação de fatores subjetivos acaba construindo
e definindo um lugar enquanto lugar turístico. Aliado a fatores concretos e mais
objetivos, como a existência de uma paisagem natural privilegiada e de elementos
culturais singulares, os lugares dependem da subjetividade do olhar do turista
(Urry, 1996), para se tornarem conhecidos e a partir daí, inserirem-se nas redes
do turismo. Esse olhar, segundo aquele autor está diretamente relacionado às
necessidades psicológicas e individuais dos diversos grupos sociais, construídas
a partir de suas experiências e vivências enquanto integrantes de uma
determinada população, inserida num determinado contexto histórico, social e
econômico.
6 O assassinato da socialite Angela Diniz pelo playboy Doca Street, na década de oitenta, gerou intensas notícias na imprensa carioca, mineira e paulista, atraindo muitos visitantes e curiosos, interessados em conhecer o local do crime.
155
A partir do momento em que o turista olha para determinado lugar e ali
identifica a possibilidade de tornar realidade suas fantasias, desejos e sonhos, o
processo de construção do lugar turístico torna-se possível, seguido pela chegada
do capital que se instala e deflagra a estruturação e organização do sistema
turístico local. Lenta ou rapidamente, esse sistema vai-se expandindo em
tamanho e na diferenciação dos seus elementos, estabelecendo relações e
interações internas e externas, inserindo o lugar turístico nos diversos níveis das
redes do turismo, porém, sempre preso à subjetividade do olhar dos turistas e das
relações por eles demandadas.
Com relação aos processos de inserção dos lugares turísticos nos
diferentes níveis das redes do turismo, propriamente dito, nossas pesquisas nos
levaram a enumerar uma séries de pontos que nos permitem uma aproximação
gradual do seu entendimento.
O primeiro desses pontos nos indica que, para os lugares turísticos se
inserirem nas redes do turismo, eles necessitam estabelecer relações do tipo
vertical com os centros emissores de fluxos de demanda turística. Essas relações
serão mais ou menos estáveis e intensas, conforme a organização e a
estabilidade do sistema turístico local. Conforme apresentado no capítulo dois, o
sistema turístico compõe-se de um extenso número de sub-sistemas e de
elementos que, apesar de uma aparente independência, dependem uns dos
outros, formando uma longa cadeia de serviços a ser oferecida e, posteriormente,
consumida pelo turista. Se um dos elos dessa cadeia não trabalhar na direção do
objetivo comum do sistema, este não irá atingir a sua produção e funcionamento
ótimos.
Dessa maneira, ao estabelecer as relações verticais que deverão
garantir sua inserção nas redes do turismo, os lugares turísticos dependem de
todos os seus componentes e do nível das suas interações e relações internas.
Quanto maior a abrangência das redes em que ele pretenda se inserir, mais será
exigido do funcionamento do seu sistema, aumentando a sua complexidade
interna. A necessidade de construir uma imagem diferente, exótica ou peculiar,
tonar-se condição ímpar nesse processo. Os fluxos de turistas, incentivados
156
pelas ações de marketing dos agentes do capital, optam sempre pelos lugares
turísticos diferentes, onde julgam ter a possibilidade de viver, mesmo que
temporariamente, experiências únicas e inéditas.
Isso aumenta o grau de incerteza e de acaso, nas relações internas e
externas do sistema turístico do lugar, à medida que aumenta a complexidade das
suas relações verticais. A sua inserção e manutenção dentro das redes está
sujeita às ações subjetivas do seu consumidor, o turista, que lhe pode atribuir
valores simbólicos num momento, e depois alterá-los no momento seguinte, a
partir das suas expectativas pessoais, gerando toda a desestabilização no
funcionamento do sistema turístico local.
Sincronicamente a essas relações verticais, os lugares turísticos
necessitam estabelecer relações horizontais com outros lugares turísticos que,
por sua proximidade geográfica ou pela oferta de produtos diferenciados ou
complementares, possam fortalecer o seu produto turístico, a sua imagem,
aumentando a sua singularidade, dando-lhe mais flexibilidade e estabilidade para
manter as relações verticais, diminuindo o seu grau de incerteza.
Exemplo disso, Armação dos Búzios, enquanto lugar turístico inserido
na rede de turismo mundial, vem percebendo, conforme detectado nas nossas
pesquisas, a necessidade de estabelecer relações com Arraial do Cabo, Barra de
São João, Cabo Frio e Rio das Ostras, visando a atender as novas exigências de
demandas dos seus consumidores. Essa necessidade é imposta pelo próprio
turista que, mesmo conhecedor da qualidade do produto turístico que lhe é
oferecido em Armação dos Búzios, sempre demanda por novidades, as quais o
sistema turístico local nem sempre consegue atender sem estender suas relações
para outros lugares turísticos próximos.
É o caso da articulação cada vez mais constante entre os operadores
turísticos locais e os operadores de mergulho submarino de Arraial do Cabo.
Graças às características singulares do mar daquele Município, ali se instalaram
um maior número de operadores mais especializados, que oferecem a
possibilidade de uma experiência diferenciada para o turista que deseja conhecer
um dos melhores pontos de mergulho do país. Tal fato obriga os empresários do
157
trade turístico de Armação dos Búzios, a se articularem para oferecer ao seu
consumidor a oportunidade de mergulho em Arraial do Cabo, sem que, no
entanto, deixem de estar em Armação dos Búzios, objeto principal dos seus
desejos.
KNAFOU (1996) coloca que o processo de turistificação dos lugares
pode ocorrer a partir da ação de três atores distintos: a) a partir da prática dos
próprios turistas, que descobrem os lugares por conta própria; b) a partir do
mercado que, através dos movimentos do capital, criam novos produtos e novos
lugares turísticos; c) a partir de ações de planejamento territorial dos próprios
lugares que almejam se transformar em lugares turísticos.
Visto pela ótica que estabelecemos para nosso trabalho, essa proposta
de KNAFOU corrobora com nosso pensamento de que os processos de inserção
dos lugares turísticos nas redes do turismo são dependentes tanto das estratégias
e das ações objetivas do sistema turístico local, onde se incluem os agentes do
capital e os gestores locais, como também das ações e decisões do próprio
turista, que inserem um grau de incerteza nas relações e no próprio
funcionamento daquele sistema.
De acordo com o turista, o grau de atratividade de um lugar turístico
pode se alterar para mais ou menos, ou até mesmo deixar de existir. E, voltando a
recorrer ao texto de KNAFOU (1996), para existir um lugar turístico é condição
fundamental a existência do turista. Se os turistas se desinteressam por um
determinado lugar e o trocam por outro, aquele primeiro terá de buscar outros
turistas ou deixará de ser um lugar turístico.
Seguindo nessa linha de pensamento, entendemos que, se o poder de
atratividade dos lugares turísticos depende diretamente da decisão quase
individual dos fluxos turísticos, a sua manutenção em um determinado nível das
redes do turismo também é dependente daquela subjetividade, assim como o é
das características objetivas do seu produto e da estruturação do seu sistema
turístico.
158
Recentemente, foi-nos possível observar a interferência dessa
dependência no processo de inserção de Arraial do Cabo nas redes do turismo.
Há pouco mais de cinco anos, alguns agentes e gestores locais, amparados nas
características singulares do seu mar, construíram e passaram a divulgar a
imagem de Arraial do Cabo como “a capital do mergulho”. Como já colocamos
anteriormente, segundo os especialistas, atualmente os melhores pontos de
mergulho existentes no Brasil estão localizados nos arquipélagos de Fernando de
Noronha e de Abrolhos e no município de Arraial do Cabo, todos com condições
de competir com os pontos de mergulho localizados no mar do Caribe,
considerados os melhores do mundo.
Graças a essa nova imagem, Arraial do Cabo viu sua atratividade
aumentar, à medida que despertou a atenção de um segmento específico do
mercado turístico, composto pelos praticantes do mergulho e da pesca esportiva.
De maneira bastante rápida, a cidade viu-se “invadida” por novos fluxos de
demanda, que passaram a buscar outros tipos de serviços turísticos, obrigando o
sistema turístico local a se diversificar para atendê-los.
Segundo alguns operadores de mergulho locais, já estavam sendo
captados alguns fluxos turísticos diretamente na Argentina, o que, se consolidado,
permitiria a Arraial do Cabo inserir-se no nível internacional (intracontinental) das
redes do turismo. Essa captação de turistas argentinos em princípio, foi feita a
partir das relações com os operadores turísticos de Armação dos Búzios, mas
graças ao trabalho de divulgação na mídia, já estava sendo feita diretamente no
mercado de Buenos Aires, com relativo sucesso.
Entretanto, a proibição do mergulho noturno pelo IBAMA7 gerou uma
grande frustração e insatisfação nos turistas que vinham até lá para mergulhar,
inclusive à noite. Foi o bastante para provocar uma instabilidade nas relações do
sistema turístico local, levando ao rompimento do processo de inserção de Arraial
do Cabo no nível da rede do turismo anteriormente indicado. Sem a possibilidade
7 Atendendo a uma solicitação dos pescadores , através da AREMAC, aquele órgão determinou a proibição de qualquer tipo de mergulho noturno, por entender que as luzes utilizadas pelos mergulhadores afastavam os cardumes de peixes e prejudicavam a pesca de cerco, praticada em toda a área da reserva extrativista, que abrange todo o litoral do município.
159
de ver suas expectativas de mergulho plenamente atendidas, os turistas voltaram-
se para outros lugares onde isso é possível, promovendo uma “desvalorização”
na atratividade turística de Arraial do Cabo, acentuada pela propaganda negativa
gerada, inclusive na internet, onde a cidade passou a ser pejorativamente,
chamada de “a capital do mergulho restrito”.
São essas relações e interações instáveis e flexíveis, existentes entre
os lugares turísticos e os centros emissores de fluxos, entre os próprios lugares
turísticos e no interior dos sistemas turísticos locais, que produzem o que
denominamos de território-rede do turismo estadual. De acordo com o nível de
inserção de cada lugar turístico nas redes do turismo mundial, a densidade e a
complexidade desse território-rede aumenta ou diminui, tornando o seu
ordenamento um processo permanente, porém flexível.
O ordenamento do território-rede do turismo estadual está diretamente
ligado ao funcionamento do sistema turístico estadual, o qual, por sua vez,
depende diretamente do funcionamento dos sistemas turísticos locais, vistos
como subsistemas daquele sistema maior. No caso do Estado do Rio de Janeiro,
esse sistema estadual tem o seu centro de ação e comando na sua capital, já
inserida historicamente em todos os níveis das redes do turismo mundial, tendo
inclusive a sua imagem turística confundida com a própria imagem turística do
país8, com suas relações dentro do território estadual bastante densas e
relativamente estáveis, permitindo-nos configurar um território-rede do turismo
bastante amplo em quantidade de nós, e denso no tocante às relações verticais e
horizontais entre os diversos níveis das redes que o compõem.
Os resultados de nossa pesquisa, limitados aos recortes por nós
estabelecidos, indicam-nos a necessidade de avanço em algumas questões
relacionadas às imbricações espaciais do fenômeno turístico, especialmente
àquelas que buscam o entendimento dos processos pelos quais os lugares
8 Nas feiras e eventos internacionais de turismo, os espaços de exposição do Brasil, sempre capitaneados pela Embratur, obrigatoriamente devem ter informações e exibir fotos do Cristo Redentor, da praia de Copacabana e do Carnaval Carioca, pois são essas as imagens turísticas que o público estrangeiro, inclusive os agentes de viagens identificam o produto turístico do país.
160
turísticos se inserem nas redes do turismo e que definem o seu ordenamento
territorial .
Nesse sentido, partindo do nosso pressuposto de ser o turismo um
fenômeno sociocultural complexo, percebemos a necessidade de maiores
estudos relacionados à busca do entendimento das seus componentes subjetivos,
visto entendermos serem eles um dos principais responsáveis pelo alto grau de
incerteza do fenômeno, que por sua vez responde pelo grau de instabilidade da
organização dos sistemas turísticos e do ordenamento do território-rede produzido
pelo fenômeno.
Também sentimos a necessidade do desenvolvimento, tanto a nível
local como na escala estadual, de pesquisas qualitativas mais sistemáticas e
contínuas sobre os fluxos de demanda turística. Não nos foi possível avançar em
alguns pontos do nosso estudo em virtude da falta quase total de informações
sobre o perfil desses fluxos turísticos que circulam hoje, de maneira bastante
intensa por todo o Estado do Rio de Janeiro9. Pela nossa experiência empírica,
sabemos da existência de determinados fatos e relações entre os lugares
turísticos, mas não temos como comprová-los, devido à inexistência de séries
históricas de dados, qualitativos e quantitativos, sobre eles.
Percebemos, ainda, a falta de um entendimento mais ampliado do
fenômeno turístico, tanto da parte dos gestores e empresários locais, como dos
gestores estatais, fato que origina o desenvolvimento de ações inconsistentes e
incoerentes com a realidade turística atual. No caso específico dos gestores
municipais, suas tentativas de inserir seus municípios nas redes do mercado
turístico, na maioria das vezes acabam frustadas pela falta de compreensão do
complexo fenômeno que é o turismo, principalmente do alto grau de
complexidade da organização do seu sistema. Torna-se evidente, para nós, a
necessidade dos lugares turísticos, ou daqueles lugares que pretendam vir a se
tornar um lugar turístico, desenvolverem estudos sobre as suas potencialidades e
9 De acordo com as estimativas registradas no diagnóstico preliminar do Plano Diretor de Turismo do Estado, em fase de conclusão, circularam, no ano de 1995, pelo território estadual cerca de treze milhões de visitantes, incluindo os turistas, veranistas e excursionistas (TurisRio, 1999, p..82).
161
possibilidades de inserção nas redes do turismo, estando cônscios de que sempre
serão dependentes das decisões individuais dos seus consumidores, os turistas.
Acreditamos que o PNMT, dentro das suas limitações, esteja ajudando no avanço
desses estudos, mas ainda há muito por fazer.
Por fim, lembramos que o ordenamento do território-rede do turismo
estadual está ligado às ações, relações e inter-relações de todos os elementos
que tornam possível a atividade turística, o que nos leva a retornar à questão da
importância do lugar turístico nesse processo. Sendo o turismo um fenômeno
sociocultural e espacial complexo, baseado no movimento e no intercâmbio de
relações de pessoas, sua concretização sempre se materializa no lugar,
entendido por nós como o seu território efetivo. Dessa forma, é a partir do
acontecer nos lugares turísticos e das relações que cada um deles estabelece
para se inserir nas redes do turismo que todo o sistema turístico se organiza, e
que o território-rede do turismo passa a existir e a se estruturar. Parafraseando
Milton SANTOS (1996), vemos o lugar turístico como o lugar onde os fragmentos
da rede mostram sua dimensão social concreta, pois é nele que o fenômeno
turístico ocorre, solidária e repetitivamente, fruto da diversidade e das incertezas
das relações entre a população local residente e os turistas.
* * * * *
162
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ACERENZA, Miguel Angel. Administración del turismo: conceptualización y Organización. México: Trillas, 1991. Vol.1 e 2 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO RIO DE JANEIRO - AD-RIO,. Plano Indutor de Investimentos Turísticos: Região dos lagos – Rio. Rio de Janeiro: s/d ALMEIDA, Maria Geralda de. Refletindo sobre o lugar turístico no global. In CORIOLANO, Luzia Neide M.T.. Turismo com ética. Fortaleza: UECE, 1998. P.122-131. ANDRADE, José Vicente de. Turismo: Fundamentos e dimensões. São Paulo: Ática, 1992. BATISTA, Mário. Turismo: Competitividade Sustentável. Lisboa: Verbo, 1997. BENI, Mário Carlos. Análise Estrutural do Turismo. São Paulo: SENAC, 1998. ___. Sistema de Turismo: construção de um modelo teórico referencial para aplicação na pesquisa do turismo. São Paulo, 1988. 765p. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) – Departamento de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo. BERQUE, Augustin. Paisagem-Marca, Paisagem-Matriz: elementos da problemática para uma geografia cultural. In: CORRÊA, Roberto Lobato e ROSENDAHL, Zeny (org). Paisagem, tempo e cultura. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998. P. 84-91 BOULLÓN, Robert C. Planificación del espacio turistico. México: Trillas, 1990. BÚZIOS: balneário mostra suas “armas” para a baixa temporada. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro. 26 mar.2000. Caderno Viagem, p.16 CARLOS, Ana Fani Alessandri. O Lugar no/do Mundo. São Paulo: HUCITEC, 1996a ___. O turismo e a produção do não-lugar. In YAZIGI, Eduardo (org.).Turismo Espaço, paisagem e cultura. São Paulo: HUCITEC, 1996b. CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. (A era da informação: economia, sociedade e cultura, v.1). São Paulo: Paz e Terra, 1999. CENTRO DE INFORMAÇÕES E DADOS DO RIO DE JANEIRO – CIDE,. Estatístico do Estado do Rio de Janeiro: 1998. Rio de Janeiro: 1998. ___. Estado do Rio de Janeiro: Território. Rio de Janeiro: 1997.
163
___, Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro: 1997. Rio de Janeiro: 1997. ___, Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro: 1996. Rio de Janeiro: 1996. EMBRATUR, Instituto Brasileiro de Turismo. Programa Nacional de Municipalização do Turismo: diretrizes. Brasília: Embratur, 1999. ___. Anuário Estatístico Embratur. Brasília, 2000. V. 27. ___. Anuário Estatístico Embratur. Brasília, 1999. V. 26. ___. Anuário Estatístico Embratur. Brasília, 1998. V. 25 ___. Anuário Estatístico Embratur. Brasília, 1997. V. 24 ___. Anuário Estatístico Embratur. Brasília, 1996. V. 23 ___. Estudo da Demanda Turística Internacional. Brasília, 1998. ___. Estudo da Demanda Turística Internacional Brasília, 1997. ___. Estudo da Demanda Turística Internacional. Brasília, 1996. ___. Estudo da Demanda Turística Internacional. Brasília, 1995. ___. Identificação do Espaço Turístico Nacional. Rio De Janeiro: Embratur, 1979 ___. Turis: Desenvolvimento turístico do Litoral Rio-Santos. Rio de Janeiro: Embratur, 1975a. ___. Turis. Normas para ocupação do território. Rio de Janeiro: Embratur, 1975b ESTRANGEIROS fincam bandeira no Rio. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro. 28 nov. 1999. Caderno Cidade, p. 16 FALCÃO, José Augusto Guedes. O turismo internacional e os mecanismos de circulação e transferência de renda. In YÁSIGI, Eduardo (org) Turismo. Espaço, paisagem e cultura. São Paulo: HUCITEC, 1996, p.66-74. FIRJAN/SEBRAE-RJ. Potencialidade Econômicas e Competitividade. Sumário Executivo . Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998. ___. Potencialidades Econômicas e competitividade. Região Leste. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1998 GUIA DE INFORMAÇÔES TURÍSTICAS DE BÚZIOS; Vitória: Sol Publicações, jan./dez. 2000. Ano I, nº 01 HAESBAERT, Rogério. Escalas Espaço-temporais: uma introdução. In: Boletim Fluminense de Geografia, ano 1, vol.1, nº 1. Niterói: ABG, 1993
164
KNAFOU, Remy. Turismo e Território. Por uma abordagem científica do turismo. In: Adyr A. B. Rodrigues (org.). Turismo e Geografia. Reflexões teóricas e enfoques regionais. São Paulo: HUCITEC, 1996, p.62-74. KRIPPENDORF, Jost. Sociologia do Turismo. Para uma nova compreensão do lazer e das Viagens. Rio de janeiro: Editora Brasileira, 1989 LACOSTE, Yves. A geografia – Isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Campinas: Papirus, 1997. LAGE, Beatriz H. Celas e MILONE, Paulo César. Economia do Turismo. Campinas-SP: Papirus, 1991. LEFÈBVRE, Henri. Lógica formal, lógica dialética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira:1978 LEMOS, Leandro de. Turismo que negócio é esse? Uma análise econômica do turismo. Campinas-SP: Papirus, 1999. LUCHIARI, Maria Tereza D. P.. Urbanização turística: um novo nexo entre o lugar e o mundo, In: LIMA, Luiz Cuz (org). Da Cidade ao Campo: a diversidade do saber-fazer turístico. Fortaleza: UECE, 1998, p.15-29. MATHIESON, Alister e WALL, Geoffrey. Turismo: Repercusiones econômicas, físicas y Sociales. México: Editorial Trillas, 1990. MICHELIN. Rio de Janeiro: Cidade e Estado. Rio de Janeiro: Michelin, 1990. 26 de março de 2000., página 10 MOESCH, Norma Martim. Turismo: virtudes e pecados. In: Susana Gastal (org). Turismo: 9 propostas para um saber-fazer. S/local: dos autores, 1998, p.79-87. MOLINA E., Sérgio e ROGRIGUEZ A. Sérgio. Planificación Integral del Turismo. Um enfoque para latinoamérica México: Editorial Trillas, 1990. MONTENEGRO, Ana Maria. Evolução Recente da Demanda Turística Internacional e Mercado para o Brasil. Trabalho apresentado no Congresso Internacional de Geografia e Planejamento do Turismo, USP, 1995. MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999. ___. O Método 3. O conhecimento do conhecimento. Porto Alegre: Editora Sulina, 1999. ___. O Método II. A vida da vida. Lisboa-Portugal: Publicações Europa-América, 1999.
165
___. Epistemologia da Complexidade. In SCHNITMAR, Dora Fried (org).Novos Paradigmas, Cultura e Subjetividade. Porto Alegre: ARTMED, 1996. NICOLAS, Daniel Hiernaux. Elementos para un analisis sociogeográfico del turismo. In RODRIGUES, Adyr A. B. (org.) Turismo e geografia. Reflexões teóricas e enfoques regionais. São Paulo: HUCITEC, 1996, p. 39-54. OMT – Organización Mundial del turismo. Recomendaciones sobre estadísticas del turismo. Nova Iorque: Nações unidas, 1994. PADILHA, Óscar de la Torre. El turismo: fenômeno social. México: Fondo de Cultura Económica, 1997. PAIVA, Maria das graças de Menezes V.. Sociologia do Turismo. Campinas-SP: Papirus, 1995. PREFEITO de Arraial: ‘carnaval é isso mesmo: bagunça, folia . Jornal de Sábado, Arraial do Cabo, 11 mar. 2000, ano IV, n.º 10, p.1 RAFFESTIN, Claude. Por Uma Geografia do Poder. São Paulo, Ática, 1993. REJOWSKI, Mirian. Turismo e Pesquisa Científica. Campinas-SP: Papirus, 1996. RIO DE JANEIRO, Governo do Estado do . Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Gráfica Auriverde, 1989 RODRIGUES, Adyr Balastreri. Turismo e Espaço. Rumo a um conhecimento transdisciplinar. São Paulo: HUCITEC, 1997a. ___. (org.). Turismo. Modernidade. Globalização. São Paulo: HUCITEC, 1997b. ___. (org.). Turismo e Desenvolvimento Local. São Paulo: HUCITEC, 1997c. ___. (org.). Turismo e Ambiente. Reflexões e Propostas. São Paulo: HUCITEC, 1997d ___. (org.). Turismo e Geografia: reflexões teóricas e enfoques regionais. São Paulo: HUCITEC, 1996. RUSCHMANN, Doris Van de Meene. Turismo e Planejamento Sustentável: a proteção do meio ambiente. Campinas-SP: Papirus, 1997. SANTOS, Milton. Espaço & Método. São Paulo: Nobel, 1997. 4ª ed. ___. Metamorfoses do Espalço Habitado. São Paulo: HUCITEC, 1997. 5ª ed. ___. A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção. São Paulo: HUCITEC, 1996.
166
SOJA, Edward W. Geografias pós-modernas: a reafirmação do espaço na teoria social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ed., 1993. SOUZA SANTOS, Boaventura de. Discurso sobre as Ciências. Porto-Portugal: Edições Afrontamento, 1996 (1ª ed.1987). SOUZA, Marcelo José. |A Expulsão do Paraíso. O “Paradigma da Complexidade” e o desenvolvimento socio-espacial. In: CASTRO Iná Elias de et all (org.). Explorações Geográficas; Percursos no fim do século. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997, p. 43-87. ___. O Território: sobre espaço e poder, autonomia e desenvolvimento. In: CASTRO Iná Elias de et all (org.). Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 77-116. TRIGO, Luiz Gonzaga Godói. Viagem na Memória. Guia histórico das viagens e do turismo no Brasil. São Paulo: Editora Senac, 2000. ___. Turismo e qualidade: tendências contemporâneas. Campinas-SP: Papirus, 1993. TUAN, Yi-Fu. Geografia Humanística. In Antônio Christofoletti (org.) Perspectivas da Geografia. São Paulo: Difel, 1985. ___. Topofilia – um estudo da percepção, atitufdes e valores do meio ambiente. São Paulo: DIFEL, 1980. TURISRIO, Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. Censo turístico de Armação dos Búzios. Rio de Janeiro: TurisRio, 2000. (mimio) ___. Censo turístico de Arraial do Cabo. Rio de Janeiro: TurisRio, 2000. (mimio) ___. Plano Diretor de Turismo: diagnóstico preliminar. Rio de Janeiro: TurisRio, 1999 . ___. Plano Diretor de turismo- Relatório Executivo Costa do Sol. Rio de Janeiro: TurisRio, 1999. ___. Plano Diretor de Desenvolvimento de Pólos de Turismo Náutico no Estado do Rio Janeiro. Rio de Janeiro: TurisRio, 1990, 3 volumes. ___. Identificação das Áreas Especiais de Interesse Turístico do Estado do Rio de Janeiro .Rio de Janeiro: TurisRio, 1985 ___. Identificação do Espaço Turístico do Estado do Rio de Janeiro. Sinopse. Rio de Janeiro: Flumitur, 1980.
167
URRY, John. O Olhar do Turista: Lazer e viagens nas sociedades Contemporâneas. São Paulo: Studio Nobel:SESC, 1996. ___. Consuming places. Londres: Routledge, 1995. VERA, J. Fernandez (coord.).Análisis territorial del turismo: uma nueva geografia del turismo. Barcelona: Ariel, 1997.
168
ANEXOS ANEXO A
Tabela 5 - Oferta de leitos e de unidades habitacionais (UHs) nos municípios do estado – junho/1997
Meios de Hospedagem Região Turística
e Municípios
ATÉ
9 U
Hs
10 A
30
UH
s 31
A
50U
Hs
51 A
100
U
Hs
101
A 5
00
UH
sA
cim
a de
50
1 U
Hs
Tota
l
Tota
l UH
s
Tota
l Le
itos
Leito
s/U
Hs
UH
s/M
H
Leito
s/M
H
Rio de Janeiro 3 31 32 54 46 3 169 16.034 36.973 2,31 94,88 218,8
Armação dos Búzios 40 64 11 4 1 0 120 2.124 6.495 3,06 17,7 54,13Cabo Frio 9 36 9 5 2 0 61 1.624 4.829 2,97 26,62 79,16
Angra dos Reis 44 30 5 5 2 0 128 1.450 3.933 2,71 11,3 30,7 Nova Friburgo 31 35 6 5 0 0 77 1.396 3.877 2,78 18,13 50,35
Resende 48 34 7 2 0 0 91 1.267 3.658 2,88 13,92 40,2 Paraty 38 41 4 1 0 0 84 1.160 3.059 2,63 13,8 36,4 Itatiaia 18 44 0 2 0 0 64 940 2.839 3,02 14,69 44,36
Teresópolis 1 23 8 3 0 0 35 916 2.522 2,75 26,17 72,06Petrópolis 14 23 4 2 0 0 43 735 1.728 2,35 17,09 40,19
Mangaratiba 2 5 2 1 1 0 11 579 1.561 2,69 52,6 142 Macaé 2 14 7 4 0 0 27 768 1.535 2 28,4 56,9
Itaperuna 0 5 3 4 1 0 13 647 1.492 2,31 49,8 115Campos dos Goytacazes 1 8 4 4 0 0 17 570 1.334 2,34 33,5 78,5
Rio das Ostras 9 19 4 0 0 0 32 543 1.243 2,28 16,97 38,84Valença 0 6 7 2 0 0 15 504 1.132 2,25 33,6 75,47
Saquarema 5 18 1 0 0 0 24 360 958 2,66 15 39,92Arraial do Cabo 5 20 0 0 0 0 25 339 928 2,73 13,56 37,12Miguel Pereira 1 8 0 2 0 0 11 290 888 3,06 26,36 80,73Paty do Alferes 3 3 1 0 1 0 8 241 850 3,53 30,13 106,25
Araruama 0 10 2 0 0 0 12 285 764 2,68 23,75 63,67Volta Redonda 0 0 1 3 1 0 6 355 711 2,03 59,17 118,5
S. Pedro da Aldeia 7 9 1 0 0 0 17 217 663 3,05 12,76 39 Engº Paulo de Frontin 4 3 0 2 0 0 9 202 659 3,26 22,44 73,22
Maricá 3 11 0 0 0 0 14 202 594 2,94 14,43 42,43Três Rios 0 4 3 1 0 0 8 263 573 2,18 32,88 71,63
Cachoeiras de Macacu 7 2 2 0 0 0 11 156 434 2,78 14,18 39,45Vassouras 0 3 1 1 0 0 5 171 414 2,42 34,20 82,80
Paraíba do Sul 1 7 0 0 0 0 8 155 411 2,65 19,38 51,38Niterói 0 2 2 1 0 0 5 200 400 2 40 80
Iguaba Grande 0 7 0 1 0 0 8 194 388 2 24,25 48,5 Barra do Piraí 2 4 1 0 0 0 7 126 331 2,63 18 47,29
Mendes 0 7 1 0 0 0 8 132 320 2,42 16,5 40 Rio Bonito 1 2 2 0 0 0 5 143 314 2,20 28,60 62,80Cantagalo 0 4 1 0 0 0 5 120 302 2,52 24 60,4
Casimiro de Abreu 5 3 1 0 0 0 14 121 294 2,43 8,64 21 Itaguaí 0 2 0 2 0 0 4 140 292 2,09 35 73
Barra Mansa 0 1 2 1 0 0 4 156 290 1,86 39 72,5 Belford Roxo 0 0 0 1 0 0 1 55 220 4 55 220
Piraí 1 1 1 0 0 0 3 69 218 3,16 23 72,67Quatis 0 3 0 0 0 0 3 53 184 3,47 17,67 61,33
S. Fco. do Itabapoana 0 2 1 0 0 0 3 90 180 2 30 60São Fidélis 0 2 1 0 0 0 3 80 160 2 26,7 53,3
Santo Antônio de Pádua 0 3 1 0 0 0 4 93 153 1,65 23,3 38,3Conceição de Macabu 0 2 1 0 0 0 3 70 140 2 23,3 46,7
Bom Jardim 0 2 1 0 0 0 3 58 134 2,31 19,3 44,7 Santa Maria Madalena 1 0 0 0 0 0 3 48 108 2,25 16 36
Porciúncula 1 0 0 0 0 0 5 8 104 13 1,6 20,8S.Jose do Vale do Rio 0 0 1 0 0 0 1 35 92 2,63 35,00 92,00
Guapimirim 1 1 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 3 36 82 2,28 12 27,33Miracema 0 2 0 0 0 0 2 40 80 2 20 40Natividade 0 2 0 0 0 0 2 38 80 2,11 19 40
Silva Jardim 1 1 0 0 0 0 2 35 70 2,00 17,50 35,00
169
Tabela 5 - Oferta de leitos e de unidades habitacionais (UHs) nos municípios do estado – junho/1997 (cont.)
Meios de Hospedagem Região Turística
e Municípios A
TÉ 9
UH
s
10 A
30
UH
s 31
A
50U
Hs
51 A
100
U
Hs
101
A 5
00
UH
sA
cim
a de
50
1 U
Hs
Tota
l
Tota
l UH
s
Tota
l Le
itos
Leito
s/U
Hs
UH
s/M
H
Leito
s/M
H
Sapucaia 0 2 0 0 0 0 2 32 69 2,15 16 34,5 Areal 3 1 0 0 0 0 4 34 68 2 8,5 17
Duque de Caxias 0 2 0 0 0 0 2 32 64 2 16 32Itaocara 0 2 0 0 0 0 2 31 62 2 15,5 31
Quissamã 2 1 0 0 0 0 3 30 60 2 10 20 Cambuci 0 1 0 0 0 0 1 18 54 3 18 54Carmo 2 1 0 0 0 0 3 35 34 0,97 11,7 11,3
S. João da Barra 1 1 0 0 0 0 2 16 32 2 8 16Trajano de Moraes 0 1 0 0 0 0 1 15 30 2 15 30
Rio Claro 0 1 0 0 0 0 1 13 26 2 13 26 Macuco 0 1 0 0 0 0 1 10 20 2 10 20
Laje do Muriaé 0 1 0 0 0 0 1 10 20 2 10 20Cordeiro 1 0 0 0 0 0 1 8 16 2 8 16
Rio das Flores 1 0 0 0 0 0 1 8 16 2 8 16 Duas Barras 1 0 0 0 0 0 1 5 16 3,2 5 16 Sumidouro 2 0 0 0 0 0 2 9 14 1,56 4,5 7 Carapebus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Com. Levy Gasparian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Itaboraí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Japeri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Magé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nilópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nova Iguaçu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Paracambi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pinheiral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porto Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Queimados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. João do Meriti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0S. Sebastião do Alto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
São Gonçalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Seropédica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aperibé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bom Jesus do 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cardosos Moreira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Italva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. José do Ubá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Varre-Sai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonte: TurisRio, 1999
170
ANEXO B
Tabela 6: Estimativa do fluxo de veranistas por municípios e regiões turísticas do estado
Região Turística e Municípios
Capacidade de Hospedagemm (*)
Frequência(24X ao ano)
Veranistas (Nº) (Tx. Ocup.-50%)
Participação Regional
Metropolitana 263.825 6.331.800 3.165.900 33,16 (%) Belford Roxo 2.308 55.400 27.700 Duque de Caxias 9.902 237.656 118.828 Itaboraí 9.938 238.505 119.252 Itaguaí 15.551 373.213 186.606 Guapimirim 9.099 218.372 109.186 Japeri 1.387 33.292 16.646 Magé 23.852 572.449 286.224 Nilópolis 575 13.810 6.905 Niterói 19.151 459.627 229.813 Nova Iguaçu 8.603 206.479 103.240 Paracambi 1.332 31.961 15.981 Queimados 2.744 65.855 32.927 Rio de Janeiro 150.473 3.611.360 1.805.680 São Gonçalo 8.306 199.341 99.670 S. João de Meriti 1.374 32.976 16.488 Seropédica 5.217 125.198 62.599 Tanguá 1.630 39.123 19.562 Costa do Sol 263.891 6.333.384 3.166.692 33,16 (%) Araruama 45.614 1.094.726 547.363 Armação dos Búzios 10.016 240.386 120.193 Cabo Frio 59.074 1.417.772 708.886 Arraial do Cabo 11.511 276.272 138.136 Casimiro de Abreu 4.099 98.369 49.185 Iguaba Grande 19.099 458.385 229.192 Maricá 37.851 908.435 454.217 Rio das Ostras 21.474 515.384 257.692 S. Pedro D'Aldeia 26.012 624.289 312.144 Saquarema 29.141 699.393 349.696 . Costa Verde 56.651 1.359.624 679.812 7,12 (%) Angra dos Reis 27.211 653.058 326.529 Manguaratiba 26.211 629.060 314.530 Parati 3.229 77.504 38.752 Serrana A 38.164 915.936 457.968 4,80 (%) Areal 850 20.401 10.200 Barra Mansa 2.725 65.400 32.700 Barra do Piraí 2.899 69.585 34.793 Com. Levy Gasparian 284 6.811 3.406 Eng. Paulo Frontin 2.302 55.243 27.622 Itatiaia 3.760 90.228 45.114 Mendes 1.484 35.608 17.804 Paraíba do Sul 1.844 44.249 22.125 Pinheiral 363 8.707 4.353 Piraí 3.925 94.196 47.098 Porto Real 477 11.460 5.730 Quatis 347 8.331 4.165 Resende 3.199 76.784 38.392 Rio Claro 3.173 76.160 38.080 Rio das Flores 849 20.366 10.183 Sapucaia 1.185 28.439 14.220 Três Rios 1.547 37.136 18.568 Valença 5.358 128.602 64.301 Volta Redonda 3.262 78.280 39.140
Fonte : Censo 1991 / Fundação CIDE / Tabulação do Departamento de Estatística da TurisRio / SECPLAN.
171
Tabela 6: Estimativa do fluxo de veranistas no Estado (cont.) Região Turística e
Municípios Capacidade deHospedagem(*)
Frequência (24X ao ano)
Veranistas (Nº) (Tx. Ocup. -50%)
Participação Regional
Serrana B 115.882 2.781.168 1.390.584 14,56 (%) Cachoeiras de Macacu 5.931 142.348 71.174 Miguel Pereira 6.010 144.241 72.120 Nova Friburgo 18.696 448.705 224.352 Paty do Alferes 3.949 94.783 47.391 Petrópolis 31.537 756.883 378.442 Rio Bonito 1.617 38.816 19.408 S.José Vale Rio Preto 846 20.306 10.153 Silva Jardim 2.136 51.267 25.634 Teresópolis 42.180 1.012.311 506.155 Vassouras 2.980 71.512 35.756 Serramar 14.934 358.416 179.208 1,88 (%) Bom Jardim 1.461 35.072 17.536 Cantagalo 1.274 30.573 15.286 Carmo 671 16.106 8.053 Carapebus 687 16.480 8.240 Conceição de Macabú 583 13.997 6.998 Cordeiro 831 19.954 9.977 Duas Barras 783 18.787 9.394 Macaé 5.275 126.600 63.300 Macuco 197 4.740 2.370 Quissamã 1.468 35.230 17.615 S.Sebastião do Alto 465 11.170 5.585 Sumidouro 520 12.469 6.234 Trajano de Moraes 719 17.254 8.627 0 0 Norte 42.374 1.016.976 508.488 5,33 (%) Aperibé 218 5.237 2.618 B.Jesus do Itabapoana 884 21.206 10.603 Cambuci 700 16.800 8.400 Campo dos Goitacazes 14.543 349.027 174.514 Cardoso Moreira 538 12.913 6.456 Italva 296 7.114 3.557 Itaocara 631 15.132 7.566 Itaperuna 1.764 42.346 21.173 Laje do Muriaé 281 6.752 3.376 Miracema 588 14.111 7.055 Natividade 679 16.290 8.145 Porciúncula 354 8.486 4.243 Sta. Maria Madalena 1.118 26.842 13.421 Sto. Antônio de Pádua 1.147 27.523 13.761 São Fidélis 1.419 34.046 17.023 S. Fco. do Itabapoana 19.644 471.450 235.725 S. José do Ubá 223 5.363 2.681 S. João da Barra 16.402 393.652 196.826 Varre – Sai 221 5.307 2.654 Total do Estado 795.721 19.097.304 9.548.652 100,00 (%) Fonte : Censo 1991 / Fundação CIDE / Tabulação do Departamento de Estatística da TurisRio / SECPLAN.
(*) n.º de domicílios de uso ocasional, multiplicado pela média do número de residentes por domicílio de uso permanente.
172
ANEXO C ROTEIRO DE ENTREVISTAS
PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE TURISMO
BLOCO A: O TURISMO DENTRO DA REALIDADE ECONÔMICA ATUAL
Buscar qual o entendimento dos gestores públicos locais em relação a
importância do setor turístico para a realidade municipal; identificar como o turismo, enquanto setor econômico, é visto pelos gestores
públicos e privados dos municípios de Armação dos Búzios e de Arraial do Cabo;
1. Para o município, qual o papel da atividade turística dentro do contexto local? 2. Qual o orçamento do órgão municipal de turismo para o ano 2000? Qual foi o
orçamento efetivamente gasto por aquele órgão no ano de 1999? 3. Como foi o comportamento orçamentário no transcurso da última década? 4. Quanto o setor de turismo representa no total de arrecadação do município? 5. Qual o peso das residências de veraneio na estrutura urbana dos municípios?
Quanto elas representam no total de arrecadação do IPTU local? Qual o percentual de inadimplentes?
6. O município oferece algum tipo de incentivo fiscal para novos empreendimentos turísticos que queiram se instalar no município? Quais são esses incentivos?
BLOCO B: ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO, DIVULGAÇÃO E MARKETING DO
TURISMO LOCAL
Identificar os principais mercados turísticos emissores para os dois municípios; Mapear as diversas formas de divulgação e/ou promoção dos municípios
selecionados nos principais mercados turísticos emissores; 1. Quais as principais ações desenvolvidas pelo município visando
estimular/fomentar o setor turístico local? 2. Quais as estratégias de divulgação do município nos centros emissores de
turistas? 3. Como é feito o trabalho de divulgação do turismo do município 4. Em quais centros emissores é feita esta divulgação ? 5. Quais são os principais mercados emissores para o município? Qual o
percentual de estrangeiros no total de turistas que aqui chegam anualmente?
173
BLOCO C:
A GESTÃO LOCAL DO TURISMO, A NÍVEL INSTITUCIONAL
Identificar o nível de organização institucional do setor turístico local Situar em qual estágio do PNMT – programa Nacional de Municipalização do
Turismo cada município se encontra; 1. Como esta o desenvolvimento do PNMT no município? Como o poder público
encara esse programa? 2. Em qual estágio se encontra o conselho municipal de turismo? 3. Como é o relacionamento do poder público com os diversos setores privados
do turismo no município? 4. Como é o relacionamento do poder público municipal com os órgãos estadual
e federal de turismo? 5. Quais os principais problemas nesse relacionamento? Quais suas causas? 6. O turismo fez parte da pauta de discussões da sua campanha eleitoral? Os
temas abordados estão sendo efetivamente trabalhados no momento?
BLOCO D: A ESTRUTURA OPERACIONAL DO SETOR TURÍSTICO LOCAL
Mapear o estágio atual da estrutura operacional, pública e privada, do turismo
no município Identificar como a mão-de-obra voltada para o setor é capacitada e qual a sua
origem. 1. Como é a estrutura física e operacional do órgão municipal de turismo no
momento? 2. Quantos funcionários efetivos e quantos “extra-quadro” compõem esse órgão? 3. Qual a formação profissional desses funcionários? 4. O município mantém um banco de dados atualizado sobre a oferta turística e
sobre o perfil da demanda efetiva ? 5. Como o município age no tocante a preparação e capacitação de mão-de-obra
voltada para as demandas do setor turístico local?
BLOCO E: A PERCEPÇÃO LOCAL ENQUANTO LUGAR TURÍSTICO; AS DIFERENÇAS
ENTRE BÚZIOS E ARRAIAL DO CABO
Buscar um entendimento dos tipos de relações e inter-relações existentes entre o turista e o habitante local em cada um dos dois municípios;
1. O senhor considera que a população local tem consciência do papel turístico
da cidade? 2. Como é a relação turista-morador em seu município?
174
3. Os moradores fazem algum tipo de comentário, exigências ou de reclamações em relação aos turistas e aos empresários do setor turístico local?
4. Qual a sua opinião sobre o desenvolvimento turístico nos municípios de Armação dos Búzios e de Arraial do Cabo? Eles são concorrentes ou se complementam?
5. Na sua opinião, quais são as diferenças mais marcantes entre os dois municípios quanto a: - estímulos oficiais à atividade turística - apoio dos moradores no acolhimento do turista - atrativos turísticos disponíveis
175
ROTEIRO DE ENTREVISTAS EMPRESÁRIOS E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
BLOCO A: O TURISMO DENTRO DA REALIDADE ECONÔMICA ATUAL
Buscar qual o entendimento dos gestores públicos locais em relação a
importância do setor turístico para a realidade municipal; identificar como o turismo, enquanto setor econômico, é visto pelos gestores
públicos e privados dos municípios de Armação dos Búzios e de Arraial do Cabo;
1. Qual a situação atual do turismo no município? 2. Existe um tendência de alta ou de retração na atividade? Porque? 3. Como é a dinâmica da economia local voltada para a atividade turística? O
turismo movimenta essa economia de que maneira?
BLOCO B: ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO, DIVULGAÇÃO E MARKETING DO
TURISMO LOCAL
Identificar os principais mercados turísticos emissores para os dois municípios; Mapear as diversas formas de divulgação e/ou promoção dos municípios
selecionados nos principais mercados turísticos emissores;
1. Existe algum tipo de planejamento para o desenvolvimento turístico local , ou as ações ocorrem desordenadamente?
2. Quais são as formas de comercialização do produto turístico adotadas atualmente pelos empresários locais?
3. Quais as ações mais recentes, desenvolvidas pela iniciativa privada, visando estimular o desenvolvimento turístico local?
4. Quais os principais mercados emissores, como eles são trabalhados e em quais períodos ?
5. Quais os períodos de alta e quais os de baixa estação no município? 6. Como essa sazonalidade é encarada e trabalhada pelos empresários locais?
BLOCO C: A GESTÃO LOCAL DO TURISMO, A NÍVEL INSTITUCIONAL
Identificar o nível de organização institucional do setor turístico local Situar em qual estágio do PNMT – Programa Nacional de Municipalização do
Turismo cada município se encontra; 1. Como os segmentos do trade turístico estão organizados no município? 2. Como o setor privado vê as ações do poder público municipal para o setor
turístico?
176
3. E as ações públicas nas esferas estadual e federal? 4. A iniciativa privada participa na gestão do setor junto com o poder público? De
que maneira? 5. Existe no município um conselho municipal de turismo ? É operante? 6. Qual o nível de conhecimento dos empresários sobre o PNMT? 7. Como o programa é visto por esses mesmos empresários?
BLOCO D: A ESTRUTURA OPERACIONAL DO SETOR TURÍSTICO LOCAL
Mapear o estágio atual da estrutura operacional, pública e privada, do turismo
no município Identificar como a mão-de-obra voltada para o setor é capacitada e qual a sua
origem. 1. Como é o controle de qualidade dos serviços e dos produtos oferecidos pelas
empresas de turismo do município? 2. Na sua opinião, qual o nível de qualidade desses serviços turísticos? 3. Qual o nível de satisfação do turistas e dos visitantes que se utilizam desses
serviços? 4. Como é a formação e qualificação da mão-de-obra local? 5. O percentual de “importação” de profissionais para os setor é grande para
atender a demanda?: Quanto ele representa no total geral de empregos gerados no município?
BLOCO E: A PERCEPÇÃO LOCAL ENQUANTO LUGAR TURÍSTICO; AS DIFERENÇAS
ENTRE BÚZIOS E ARRAIAL DO CABO
Buscar um entendimento dos tipos de relações e inter-relações existentes entre o turista e o habitante local em cada um dos dois municípios;
1. Como é o relacionamento dos turistas com a população local? Há algum tipo
de intercâmbio de informações entre eles? 2. O senhor considera que a população local tem consciência do papel turístico
da cidade? 3. Os moradores fazem algum tipo de comentário, exigências ou de reclamações
em relação aos turistas e aos empresários do setor turístico local? 4. Qual a sua opinião sobre o desenvolvimento turístico nos municípios de
Armação dos Búzios e de Arraial do Cabo? Eles são concorrentes ou se complementam?
5. Na sua opinião, quais são as diferenças mais marcantes entre os dois municípios quanto a: - estímulos oficiais à atividade turística - apoio dos moradores no acolhimento do turista - atrativos turísticos disponíveis
177
ROTEIRO DE ENTREVISTAS REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES DE MORADORES, DE PESCADORES, ARTESÃOS, LÍDERES COMUNITÁRIOS, ETC.
BLOCO A: O TURISMO DENTRO DA REALIDADE ECONÔMICA ATUAL
Buscar qual o entendimento dos gestores públicos locais em relação a
importância do setor turístico para a realidade municipal; identificar como o turismo, enquanto setor econômico, é visto pelos gestores
públicos e privados dos municípios de Armação dos Búzios e de Arraial do Cabo;
1. O poder público municipal reconhece a importância do turismo para o
desenvolvimento do município? Quais as principais ações recentemente 2. A atividade turística gera empregos para os habitantes locais ou “importa”
trabalhadores de outros lugares? Porque isso acontece?
BLOCO B: ESTRATÉGIAS DE PLANEJAMENTO, DIVULGAÇÃO E MARKETING DO
TURISMO LOCAL
Identificar os principais mercados turísticos emissores para os dois municípios; Mapear as diversas formas de divulgação e/ou promoção dos municípios
selecionados nos principais mercados turísticos emissores; 1. Como o senhor vê a divulgação do turismo feita pelos órgãos oficiais? 2. Para o senhor há um planejamento das ações para o desenvolvimento
turístico do município ou as coisas ocorrem de forma expontânea? 3. Como o senhor vê o relacionamento da prefeitura com os empresários do
setor turístico local?
BLOCO C: A GESTÃO LOCAL DO TURISMO, A NÍVEL INSTITUCIONAL
Identificar o nível de organização institucional do setor turístico local Situar em qual estágio do PNMT – programa Nacional de Municipalização do
Turismo cada município se encontra; 1. Qual o nível de participação da sociedade civil organizada na gestão do
turismo municipal? 2. O conselho municipal de turismo é operante? 3. Todos têm espaço nesse conselho? 4. Normalmente os candidatos locais a prefeito ou a vereadores abordam a
questão do desenvolvimento turístico nas suas campanhas? E quando eleitos eles costumam “cumprir” com o prometido”
178
BLOCO D: A ESTRUTURA OPERACIONAL DO SETOR TURÍSTICO LOCAL
Mapear o estágio atual da estrutura operacional, pública e privada, do turismo
no município Identificar como a mão-de-obra voltada para o setor é capacitada e qual a sua
origem. 1. A prefeitura e os empresários locais investem na capacitação da mão de obra
local? 2. São oferecidos algum tipo de cursos específicos para o setor de turismo?
BLOCO E: A PERCEPÇÃO LOCAL ENQUANTO LUGAR TURÍSTICO; AS DIFERENÇAS
ENTRE BÚZIOS E ARRAIAL DO CABO
Buscar um entendimento dos tipos de relações e inter-relações existentes entre o turista e o habitante local em cada um dos dois municípios;
1. Como os moradores locais vêem o turismo no município? 2. Quais os principais problemas provenientes da atividade turística que afetam
os moradores locais? 3. A população local tem a mesma facilidade de acesso aos locais turísticos que
os visitantes? 4. senhor considera que há criação de infra-estruturas que beneficiam o turista
em detrimento da população local? Em que sentido? 5. setor turístico oferece reais oportunidades para a melhoria da qualidade de
vida dos habitantes locais? Como? 6. Existe algum tipo de intercâmbio ou de inter-relações diretas entre os turistas e
os moradores ? Como elas acontecem? 7. Existem conflitos entre os habitantes locais e os turistas? E entre os
moradores e os veranistas? 8. senhor acha que o turista valoriza o seu município? De que forma? 9. que poderia ser feito, na opinião da população, para melhorar o
desenvolvimento local tendo como base a atividade turística?