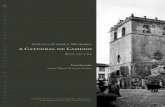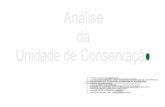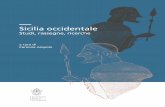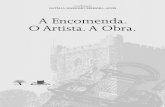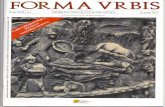Guia para o Conhecimento, Conservação e Restauro de Escultura em Madeira Policromada
Transcript of Guia para o Conhecimento, Conservação e Restauro de Escultura em Madeira Policromada
Preservar para o Futuro
.
para o Conhecimento,
Conservação e
Restauro de
Escultura em Madeira
Policromada
Nisa Félix
Porto, 2013 1
3
Introdução 4
Terminologia 8
Escultura Policromada 12
Estudo Cientifico 37
Avaliação de Riscos 47
Diagnóstico e Levantamento do Estado de Conservação 63
Procedimentos para a Conservação 67
Conclusão 98
Glossário 101
Bibliografia 106
Anexos 110
O aumento de interesse da comunidade no sentido da conservação e
reabilitação do património e a ausência de normalização para as intervenções foram
dois dos motivos que me levaram à elaboração deste trabalho. Outro fator que
contribuiu para a decisão foi a crescente consciencialização por parte da sociedade
no que toca à necessidade da preservação do património.
Para estas intervenções são necessários vários procedimentos que
exigem um levantamento cuidado da estrutura, bem como o entendimento da sua
história, tendo em atenção as várias alterações deliberadamente realizadas e
também a própria deterioração temporal, consequências das condições
atmosféricas e dos diferentes usos sociais que são atribuídos aos objetos em
questão.
É necessário compreender que apesar do conceito ‘restaurar’ significar
repor em bom estado algo que perdeu as suas qualidades originais, a aplicação
prática deste conceito não é simples. Desde sempre que o homem teve a
necessidade de fazer subsistir no tempo os objetos que fossem úteis às suas
necessidades, reparando-os desta forma para que voltassem a exercer as funções
para os quais foram concebidos.
O presente trabalho pretende abordar além da terminologia relacionada
com a Conservação e Restauro, a evolução da escultura em Portugal, não de uma
forma muito incisiva, mas para que o leitor tenha uma abordagem sobre o assunto e
perceba as técnicas, materiais e temas que mais se destacaram durante um
período. Ao longo do texto pretende-se realçar a importância da adoção de uma
política de uma conservação preventiva, referindo-se legislação e práticas que se
devem eleger para proteger e salvaguardar os objetos em madeira policromada.
Além das vantagens de uma conservação preventiva, também se apontam alguns
5
6
processos para atenuar a progressiva degradação de um objeto realizado neste
material orgânico, assim como algumas referências a métodos de restauro.
Desta forma, este guia inicia-se com a Terminologia referente ao
assunto, de forma a colocar ocorrente o leitor das definições que englobam as
disciplinas da Conservação e do Restauro, partindo de seguida para o capítulo que
aborda a Escultura Policromada, onde se explora a História e Evolução da Escultura
em Portugal, com base no Dicionário de Escultura Portuguesa, as Tipologias, desde
a Escultura de Vulto à Funerária, e ainda as várias Técnicas e Materiais que podem
fazer parte da execução de uma escultura em madeira policromada. No terceiro
capítulo, respeitante ao Estudo Científico, fazem parte os Métodos Analíticos de
Exame e os Novos Métodos de Proteção de Madeira, onde se apresentam métodos
que num futuro próximo podem ajudar na preservação da madeira. A partir do
capítulo seguinte, Avaliação de Riscos, o texto começa a focar-se nas Ações de
caráter preventivo, nos Fatores de degradação, consequência de infestações de
pragas e pestes e de outros motivos, continuando de certa forma no quinto capítulo,
Diagnóstico e Levantamento do Estado de Conservação, onde se trata do assunto
dos Danos e Patologias, e no sexo, com os Procedimentos para a Conservação.
Neste último capítulo começa-se por Identificar prioridades de ação, abordagens da
Conservação Preventiva e Curativa, continuando com o Bloqueio das Pestes,
Manutenção dos objetos, Tratamento dos bens culturais infestados, referenciando o
Restauro, e terminando com conselhos de Limpeza, Estabilização, Fixação,
Colagem, Preenchimento de lacunas, Reintegração cromática, e mesmo para o
Manuseamento e Transporte dos objetos, a nível interno e externo, terminando com
dicas de Acondicionamento para os bens culturais situados na Coleção e na
Reserva.
Acima de tudo, este manual tem o objetivo de realçar situações que
possam guiar, como elucida o título do manual, para o entendimento do percurso de
conservação de bens culturais em madeira policromada, abordando todos os
elementos que contribuem para tal. São analisados vários agentes causadores de
deterioração e apontadas medidas de proteção que têm o intuito de diminuir e
eliminar os riscos causados, principalmente por ataque biológico. Na perspetiva da
conservação e restauro, são mencionados aspetos de importância e de necessidade
essencial, como a peritagem e elementos passíveis de análise física e química,
assim como o levantamento e identificação de patologias, de forma a apontar a
melhor metodologia de intervenção, pois cada peça é um caso particular. Também
se faz referência ao Código Ético e Deontológico, e a alguns dos seus artigos, para
dar a conhecer os deveres que um conservador-restaurador tem de ter perante um
bem cultural, o seu proprietário e colegas de profissão, normas que abordam temas
desde a eliminação de antigas intervenções, desinfestações e consolidações.
7
Conservação
Segundo a Carta de Cracóvia é “o conjunto das atitudes de uma comunidade
que contribuem para perpetuar o património e os seus monumentos. A conservação do património
construído é realizada, quer no respeito pelo significado da sua identidade, quer no
reconhecimento dos valores que lhe estão associados.”
Assim sendo, são todas as ações e medidas utilizadas que tenham
como objetivo a salvaguarda do património, assegurando desta forma o seu acesso
às gerações futuras. A Conservação engloba a Conservação Preventiva, a
Conservação Curativa e o Restauro. Sobretudo, e mais importante, estas medidas e
ações deverão respeitar o significado e as propriedades físicas do bem cultural ao
qual são aplicadas.
Conservação Curativa
É o conjunto de ações e medidas aplicadas diretamente sobre um bem
cultural e que tem como objetivo imobilizar os processos nocivos presentes e
reforçar a estrutura desse mesmo bem. Estes procedimentos só se levam a cabo
quando o estado de fragilidade dos bens é evidente ou se encontram num estado de
deterioração avançado, num ritmo elevado, podendo perder-se assim num tempo
relativamente curto. Neste caso, as ações que se aplicam podem modificar o aspeto
original ou anterior dos bens.
De um modo geral, “Alguns exemplos de conservação curativa incluem a
desinfestação de têxteis, a dessalinização de cerâmicas, a desacidificação do papel, a
desidratação de materiais arqueológicos humedecidos, a estabilização de metais corroídos, a
consolidação de pinturas murais, a remoção de vegetação em mosaicos.” (ICOM-CC – 15ª
Conferência Trienal)
9
Conservação Preventiva
Consiste, tal como na Conservação, em todas as medidas e ações que
tenham o objetivo de evitar ou minimizar futuras deteriorações ou perdas de
material. A atuação realiza-se sobre o contexto ou área circundante ao bem em
questão, são ações e medidas indiretas pois não interferem com a sua estrutura e
materiais, e assim sendo não modificam a sua aparência.
A importância da Conservação Preventiva de bens culturais
incorporados em museus tem vindo a aumentar, e é cada vez mais reconhecida por
diretores, técnicos e profissionais da área. Contudo, o emprego regular destas
ações que ajudam a evitar a degradação é variável e aplicado conforme o grau de
conhecimento dos técnicos de que dispõe a instituição. Nos museus estes
comportamentos costumam ser exercidos de forma adequada, refletida e periódica,
contudo, continuam a faltar normas escritas que definam e orientem os princípios, e
sobretudo as prioridades, deste tipo de conservação.
Para ser mais fácil compreender a Conservação Preventiva, esta
resume facilmente no seguinte “Alguns exemplos de conservação preventiva incluem as
medidas e acções necessárias para o registo, armazenamento, manipulação, embalagem e
transporte, controlo das condições ambiente (luz, humidade, contaminação atmosférica e
insectos), plano de emergência, educação do pessoal, sensibilização do público.” (ICOM-CC – 15ª
Conferência Trienal) Daqui se deduz que, em traços gerais, a Conservação Preventiva
é o conjunto de medidas que visam a prevenção e o retardamento do inevitável
processo de degradação e envelhecimento a que estão sujeitos os bens culturais.
Desta forma, deve ser uma das prioridades de um museu pois atesta a estabilidade
dos acervos, permitindo o seu estudo, divulgação e exposição desses mesmos
bens.
10
Restauro
A atividade de restauro tem origem entre os meados do século XVIII e os
inícios do século XIX. A palavra Restauro engloba várias práticas e definições, cujo
significado foi mutável conforme a época e que hoje possui uma definição precisa na
Carta de Cracóvia que afirma“[…] é uma intervenção dirigida sobre um bem
patrimonial cujo objetivo é a conservação da sua autenticidade e a sua apropriação
pela comunidade.”
Por vezes o que parece tão simples não o é, isto porque é necessário ter
em conta o problema das questões económicas, fundamentais para o sucesso das
intervenções. São trabalhos que necessitam de operações de elevada
complexidade, requerendo técnicos especializados, o que acarreta custos elevados.
Além disso são poucas as empresas especializadas no assunto, assegurando desta
forma resultados satisfatórios, visto que os trabalhos de diagnóstico, inspeção e
análise requerem equipas multidisciplinares.
São todas as medidas e ações que de maneira direta interferem num
bem cultural e que têm por objetivo facilitar a sua apreciação, compreensão e uso.
Contudo, só se praticam tais procedimentos quando o bem em questão perdeu parte
do seu significado ou função, quer através de uma alteração, quer de uma
deterioração. Deve respeitar-se sempre o material original, sendo que na maioria
dos casos o aspeto do bem é alterado. “Alguns exemplos de restauro incluem o
retoque de uma pintura, a ensamblagem de uma escultura danificada, a modificação
da forma de uma cesta ou a reintegração de perda de material num vaso de vidro.”
11
História e Evolução da Escultura em Portugal
Decidimos começar este subcapítulo com a definição do termo Escultura
segundo o Dicionário de Escultura Portuguesa, e que nos diz o seguinte
“Palavra oriunda do latim sculptura e que etimologicamente significa talhar, gravar em função da
realização de obras tridimensionais, obtidas a partir duma matéria preexistente […]. Mas ao longo
duma história milenar a escultura regeu-se por princípios básicos. Desde logo, a total
diferenciação face à pintura, através duma incontornável tridimensionalidade […]; igualmente, uma
clara distinção em relação à arquitetura, pois embora ambas partilhem a tridimensionalidade
expressiva a escultura exclui do seu interior qualquer espetactador, afirmando-se como uma arte
da visão […].” (PEREIRA, José Fernandes [dir.] – Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial
Caminho, 2005, p. 226.)
“E se tematicamente impera desde os começos uma diversidade enriquecedora, parece
incontestável que o grande tema de representação em escultura foi sempre o corpo humano, seja
de um modo idealizado seja de forma mais realista. […] Por isso, pode dizer-se que, além do seu
valor intrínseco cultural, o estudo da escultura proporciona igualmente uma visão sequencial do
pensamento humano sobre o seu corpo e o modo de o representar […].” (PEREIRA, José
Fernandes [dir.] – Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 2005, p. 227.)
Escultura Pré-Histórica: É clara a impossibilidade de localizar espacial e
temporalmente o nascimento da escultura portuguesa. É de notar desde logo que
não são muito abundantes as manifestações artísticas pré-históricas no território
nacional. A partir do Paleolítico que o homem inventou objetos com finalidades
várias, nos quais se articulam forma e função. Em Portugal são referidas peças
como uma hipotética Vénus paleolítica, encontrada na Toca do Pai Lopes, em
Setúbal, revelando uma estética rudimentar. Com a arte megalítica acentua-se o
culto pelos grandes blocos de pedra, mais precisamente no norte do país.
13
Este período favorece uma aproximação com a escultura através dos
menires, grandes blocos de pedra assentes no chão, evidenciando-se na paisagem
circundante. Estes menires evoluem para formas mais figurativas, que pressupõe
ritos funerários associados a uma ideia de glorificação.
Segue-se a introdução da cultura castreja na categoria artística de escultura.
Algumas formas mostram uma ambiguidade, oscilando entre a bi e a
tridimensionalidade, incluindo neste grupo estelas funerárias e lápides, e a
expressão mais conhecida da cultura castreja, os guerreiros lusitanos. Outras
formas escultóricas desta época são as zoomórficas, vulgarmente conhecidas por
berrões, representações de animais com um tratamento muito rudimentar.
Escultura Romana: A arte desta época encontrada em território nacional mostra um
corte radical com o passado e com uma estética local. Com a chegada dos
Romanos assiste-se a uma nova realidade figurativa, marcada pela qualidade de
execução, pela mudança de temática e assim pelo alargamento iconológico que a
escultura local não podia apresentar. Contudo, os exemplares encontrados mostram
um caráter erudito ou mais simplificado do que as suas homólogas romanas,
apresentando uma deficiência anatómica e alguma falta de domínio nos elementos
compositivos.
Normalmente, a escultura romana em Portugal é dividida por géneros ou
temáticas escultóricas, consequência da dificuldade em seguir um percurso
cronológico. Dos exemplares encontrados, os retratos são a parte substancial das
peças, mostrando a preocupação realista que colocavam na sua execução. Estes
retratos são na sua maioria de imperadores, ligados ao culto imperial, pois
apresentam encaixes para poderem ser colocados em estátuas.
14
Podemos ainda definir quatro tipologias de retratos: estátua idealizada,
estátua togada, estátua couraçada e estátua equestre, bastante proliferadas e
utilizadas em espaços públicos e privados, apesar de no caso português ser difícil
estabelecer a relação destas esculturas com os espaços. Além dos retratos
imperiais, outra temática vulgar são os retratos de magistrados e, em menor
número, de particulares, mas sempre influenciados pelos programas artísticos dos
primeiros. Fora da tipologia dos retratos, as representações das divindades são
bastante comuns, mas tal como os anteriores, os exemplares encontrados em
Portugal são muito reduzidos. Finalmente, chegaram até nós uma série de
sarcófagos, tipologia escultórica de grande qualidade e enorme valor iconológico.
Tal como se pressupõe, estão ligados à prática funerária, e demonstram as
alterações nos hábitos e na cultura romana.
Escultura medieval: Assiste-se a uma mudança do
paradigma artístico, consequência dos eventos políticos
peninsulares que não permitiram uma estabilidade, tão
necessária para o desenvolvimento de um programa escultórico
coerente. Também, devido às mutações no campo religioso,
houve necessidade de introduzir novos programas iconográficos,
que, tal como se esperava, precisaram de um tempo de maturação
e sedimentação. Durante o período paleocristão a
escultura resume-se a programas decorativos adossados a
capitéis, caraterística que se manteve durante a época visigótica,
onde se privilegia os modelos decorativos com relevos,
predominando elementos vegetalistas e animais. Esta tendência
15
Ilustração 1: Senhora
do Ó, Mestre Pêro.
Madeira Policromada.
Século XIV (MNMC
645).
começa a alterar-se a partir do século XI, com a denominada época pré-Românica,
fruto de uma estabilização e organização religiosa. Com o advento da arte românica,
a escultura ganha uma maior produção.
É a norte do Douro que se situam as principais peças de escultura
românica, estas em íntima relação com a arquitetura, e situadas principalmente nos
portais e nos capitéis.
No que refere à escultura em madeira policromada, é durante o período
românico que se reinventa o seu uso, servindo como ilustração religiosa e da
devoção. Durante a Alta Idade Média a escultura figurativa quase desapareceu e foi,
pelos finais do século X, que esta voltou a integrar os espaços. Entre os séculos XI
e XVI existiram várias representações e temas, uns mais representativos de cada
período. Assim, entre os séculos XI e XVI temos a Virgem em Majestade, nas suas
três variantes – Theotokos, Hodigitria ou Kyritissa, apresentando caraterísticas
formais e iconográficas distintivas como o facto de a Virgem ser sedente e possuir
um olhar frontal, aparecer coroada, com o menino ao colo, preferencialmente do
lado esquerdo ou ao centro, sendo contraposto o lado direito onde podem aparecer
atributos como a maçã e a romã. Além de todas estas características, estas
esculturas são marcadas pela simetria e verticalidade e são realizadas em madeira
policromada. A partir do século XIV assiste-se ao aparecimento das representações
das Virgens sedentes com invocações, às Virgens da Cadeirinha e às Virgens do
Leite, estas últimas com uma deficiente representação anatómica, talvez advindas
de razões morais, mas no geral apresentando todas as tipologias a representação
frontal da figura da Virgem. Os materiais mais utilizados são o calcário e a madeira.
A partir de trezentos também surgem as denominadas Virgens Góticas,
com as invocações do Leite, da Rosa, da Expectação e da Anunciação, quer seja
16
17
em escultura de vulto ou arquitetónica e onde predomina a figura de é com o Menino
Jesus no baço esquerdo. Tal como as anteriores pode possuir na mão direita um
atributo mas, ao contrário do que se passava, a verticalidade é substituída por uma
ligeira contorção do corpo e há um claro desenvolvimento do volume dos tecidos.
Mais uma vez, os materiais mais utilizados são o calcário e a madeira, destacando-
se no seu trabalho Mestre Pêro, João Afonso e o Mestre Afonso Domingues. Ainda
durante o século XIV surge a escultura de vulto representando Santos e Santas,
com a predominância de personagens como São Sebastião, Santa Luzia e São
Pedro Apóstolo. São esculturas avulsas e de vulto em pé, que apresentam pouca
verticalidade, com mãos esguias e longas e com vestes de uma grande abundância
de drapeados, com pouco volume, e ainda, a nível facial, uns olhos grandes e
rasgados e um leve sorriso, ou em outros casos, uma total inexpressividade.
No que respeita à escultura gótica e manuelina as representações centram-se na
figura de Cristo. Desta forma, a partir entre os séculos XII e XIII, surgem esculturas
de Cristo em Majestade, e que, tal como a Virgem em Majestade, encontra-se
sedente e coroado, com grande simetria e verticalidade. Além disso executa o gesto
de bênção com ambas as mãos ou apenas com a direita, segurando assim, com a
mão esquerda, as sagradas escrituras. Também durante esta cronologia, surgindo
um pouco mais cedo, durante o século X, temos o tema de Cristo Crucificado, com
algumas caraterísticas semelhantes ao anterior, pois é coroado e apresenta um
olhar frontal, estando também, como a própria designação indica, crucificado, com
os braços e pernas esguias, e apresentando quatro cravos. Muito semelhante a esta
tipologia surge, a partir do século XIV, a dos Cristos Góticos, também crucificados,
mas sem coroa, com a cabeça caída sobre o lado direito, sendo que os braços
cedem ao peso do corpo. Dentro desta tipologia de Cristos Góticos existem
variações da iconografia de Cristo em Majestade, são elas o Hecce Hommo e o
Santíssimo Salvador. Nestas esculturas a figura encontra-se tanto de pé como
sentada, em que a posição frontal é substituída pela submissão e dor, acentuando-
se o naturalismo da sua expressão, e possuindo ainda os instrumentos do martírio
ou da Salvação. O material predileto de todas estas representações continuou a ser
a madeira policromada havendo alguns exemplares executados em pedra, com
maior aderência ao calcário.
Escultura de influência Clássica e Nórdica: O primeiro Classicismo, ou
Renascimento, português foi um fenómeno de importação, protagonizado por
escultores franceses que traduzem para a arte portuguesa a sua versão da arte
italiana, destacando-se a figura de Nicolau Chanterene. Os temas mais comuns
continuam a ser os hagiográficos e a escultura associada à tumulária arquitetura,
mas em todos os casos se seguem modelos eruditos. Há uma predominância do
uso do mármore e do calcário, e a madeira policromada é deixada de lado. Além de
Nicolau Chanterene podem ser citados nomes como João de Ruão e Diogo Pires, o
Moço, sendo Coimbra o principal centro produtor de imaginária.
Na passagem para o século XVI
torna-se clara a importação de escultura da
Flandres, principalmente de cidades como
Bruxelas, Antuérpia e Malines. Além destas,
também se podem apontar a região da
Nuremberga e de Limoges, e ainda Inglaterra.
18
Ilustração 2: Nossa Senhora (Figura de uma Deposição
no Túmulo), Escola Flamenga, oficina de Malines. Madeira
de carvalho estofada, policromada e dourada. Início do
séc. XVI (MASF 47/47A).
Mais uma vez as representações relacionam-se com a temática Mariana e
Hagiográfica, e ainda com a Infância de Cristo. As caraterísticas que mais se
destacam são as faces redondas ou ovais, com leves sorrisos ou inexpressivas, as
testas proeminentes, os cabelos longos e as vestes com pregas angulosas. A
madeira torna a ser o material predileto, sendo a nogueira e o carvalho as mais
escolhidas dos mestres, como Olivier de Gand, Machim ou João de Colónia. Além
destas esculturas de vulto, há ainda a escultura associada à arquitetura,
com muitas semelhanças com a produzida em madeira, e ainda os diversos ciclos
marianos e cristológicos executados em alabastro.
Escultura Barroca e Rococó: A escultura deste período está intimamente ligada à
sua finalidade devocional, no que respeita à decoração das igrejas e conventos,
associando profundamente à talha dourada. Predominam assim as esculturas em
madeira e barro policromado, além das executadas em mármore e granito. A
madeira retoma a sua importância como material de suporte, sendo o
enriquecimento decorativo fornecido, além da policromia, pelo ouro, através da
técnica do estofado, imitando tecidos. Como mestres deste período destaca-se Frei
Cipriano da Cruz e, mais tarde, Machado de Castro.
As temáticas continuam a ser aquelas relacionadas com a Hagiografia,
neste caso mais direcionadas para os Mártires e Místicos, as Cristológicas, com
incidência, além da Sagrada Família, na Natividade, Infância e Paixão de Cristo, e
ainda as que se referem à Virgem, como a Imaculada Conceição, as Virgens
Dolorosas e as Virgens associadas a Ordens Religiosas. Por ser a época em
questão, as esculturas são marcadas por volumes extravagantes e tratadas
cenograficamente. As suas faces são muito realistas e as vestes luxuosas, tratadas,
19
como já foi referido, através de dourados e estofados, apresentando ainda uma
ornamentação muito elaborada e cuidada, o que ressalta com o pouco cuidado do
tratamento anatómico.
O norte de Portugal, em meados do
século XVII e ao longo do século XVIII, seguiu o
panorama artístico do resto do país, apresentando
contudo algumas particularidades específicas. Os
artistas portugueses apesar de se encontrarem
numa dimensão periférica no que respeita ao discurso,
tentaram mesmo assim expressar o ideário
pós-tridentino em concordância com os critérios
estéticos vigentes na Europa.
No período que corresponde ao
despontar do barroco, o panorama da escultura
desta região, segue os esquemas observados no
resto do país. Todavia, para formar uma melhor
compreensão da globalidade do fenómeno é necessário ressalvar algumas
circunstâncias. A linguagem erudita, introduzida por João de Ruão e Nicolau
Chanterenne, em pleno século XVI, criadora de modelos escultóricos inovadores, foi
sendo paulatinamente esquecida. Os padrões classicizantes são estranhos à
produção escultórica no norte do país, prevalecendo sim uma linha arcaizante,
simultaneamente obediente aos padrões tridentinos e satisfaz uma clientela
conservadora, onde o maior volume das encomendas se destina para casas
monásticas ou igrejas. A maioria destas obras era produzida em madeira ou barro
cozido, tendo muitas delas uma profunda ligação com as estruturas de talha
20
Ilustração 3: São Domingos, autor
desconhecido. Madeira policromada. 1ª
metado do séc. XVIII. Museu de Santa
Maria de Lamas.
dourada. Quanto à produção escultórica seiscentista e setecentista não há uma
inventariação sistemática, que permita saber com exatidão o número de peças
produzido, que oficinas estavam ativas e a sua localização, as suas influências, e o
tipo de clientela que estava na génese da encomenda.
É na região de Braga que surge como centro mais ativo de produção
escultórica. Surgem assim nomes como frei Cipriano da Cruz, Gabriel Rodrigues
Álvares, Manuel Carneiro Adão, sendo o mais famoso o mestre Marceliano de
Araújo. Gabriel Rodrigues Álvares efetuou obras importantes na igreja de São Bento
da Vitória, e Manuel Carneiro Antão no Convento de São Francisco, ambos no
Porto. Marceliano de Araújo também está ligado ao Mosteiro de São Bento da
Vitória devido àreferência do escultor com os painéis dos espaldares do cadeiral do
coro alto da igreja deste edifício.
Escultura Romântica e Naturalista: A escultura do século XIX deve ser
confrontada com o grande peso da tradição clássica. A escultura desta época pode
ser sintetizada em três paradigmas, ela não se limita a conjugar valores icónicos e
plásticos, quer românticos, quer naturalistas, mas tem outra componente decisiva
constituída pelo prolongamento de valores e atitudes clássicas. Na vertente clássica
destacam-se os nomes de Faustino José Rodrigues e Francisco de Assis Rodrigues,
com trabalhos onde se conjugam os ideais clássicos e cedências às novas
tendências da época, e ainda Vítor Bastos. As temáticas mais exploradas são as
relacionadas com a exaltação patriótica e com citações históricas retiradas do
passado nacional. Deste modo, o passado e o presente permaneceram como uma
difícil dualidade durante este período. A escultura assume também novas funções, e
junta-se um lugar novo ao rol dos já existentes, a rua ou a praça pública. A escultura
21
dedica-se assim, na sua maioria, aos monumentos pátrios e aos heróis da nação.
A fase naturalista da escultura portuguesa não deixou de ser uma
continuidade lógica do Romantismo, mesmo quando os seus pressupostos
pretendem uma oposição frontal com esta época. A escultura naturalista
praticamente não teve uma teoria que a fundamentasse, vive portanto da influência
literária e da própria pintura, pretendendo um abandono dos temas do passado e
investindo nas temáticas contemporâneas. Dentro deste período destaca-se como
artista António Soares dos Reis, apesar da sua obra ter uma classificação muito
ambígua, é realista e naturalista mas possui igualmente uma forte componente
clássica, trazendo para o contexto escultórico nacional uma qualidade rara,
colocando problemas e soluções genuínas. Em Lisboa o mais reconhecido escultor
naturalista foi Costa Mota, autor de diversas obras públicas como o Monumento a
Afonso de Albuquerque.
Escultura Contemporânea: Entende-se por escultura contemporânea aquela que
foi produzida no século XX, e desta forma é importante ter em conta várias linhas e
tendências. Neste campo destacam-se nomes como Francisco Franco e António de
Azevedo, considerados pioneiros num modo de sentir e fazer a escultura. A
escultura não perdeu a sua vocação monumental durante esta época, e mesmos os
escultores tiveram a necessidade da encomenda pública, continuando a haver
esculturas de rua e monumentos comemorativos, nesta área salienta-se Maximiano
Alves e Rui Gameiro. A escultura modernista portuguesa é assim uma sucessão de
citações artísticas, fixadas por simplificações de grandes linhas compositivas e sem
o abandono das grandes referências embora estas sejam interpretadas de modo
pessoal por cada artista. Durante o Estado Novo o nome mais referido é o de
22
Leopoldo de Almeida, escultor oficial deste regime, com obra espalhada por várias
praças e ruas do país. Leopoldo de Almeida está para a Escola de Lisboa, como
Salvador Barata Feyo para a do Porto, e igualmente comprometido com a escultura
oficial do Estado Novo, mas com obra mais reduzida e maior oscilação de coerência
artística.
Durante a década de 40 acabaram por surgir novas tendências
artísticas, propondo novas poéticas e, sobretudo, possuindo pressupostos contrários
aos do Estado Novo, aparecendo no final da década a escultura abstrata. O primeiro
abstracionismo é praticado principalmente por Arlindo Rocha e Fernando
Fernandes, mas com pouca aceitação pública. A década de 60 é marcada pela
ânsia generalizada de experimentação de novas linguagens e objetos, destacando-
se a importância de autores como Alberto Carneiro ou Clara Menéres. A década
seguinte é crucial pelo facto de ser o tempo de duas propostas inovadoras no que
respeita à modificação iconográfica e formal. Falamos de João Cutileiro e o seu D.
Sebastião e também de José Aurélio com Humberto Delgado.
A partir dos anos 80 sucede-se uma nova geração de escultores, muito
jovens, uns frequentando o ensino artístico e outros que dele acabaram por desistir,
ambos trazendo novas propostas para a escultura, ao mesmo tempo que
conseguiram atingir uma projeção internacional através da participação em variados
certames. Forma-se então um grupo muito heterogéneo de artistas, onde podemos
referir Pedro Cabrita Reis, Manuel Rosa, José Pedro Croft, Rui Chafes, Rui Sanches
e Miguel Ângelo Rocha.
23
Tipologias
Dentro da categoria de Escultura é possível fazer uma divisão em quatro
subcategorias, de acordo com os objetos esculpidos e da sua identidade funcional:
– Escultura de Vulto
– Escultura Arquitetónica
– Escultura Heráldica
– Escultura Funerária
Escultura de Vulto: As escultura incluídas nesta subcategoria possuem um volume
correspondente pelo menos a ¾ do volume real de um corpo, podendo apresentar-
se trabalhada na frente, perfis e costas. Uma escultura de vulto pode ser ainda
considerada um vulto pleno, meio-vulto ou vulto a ¾ com as costas sem trabalho,
planas ou escavadas. Nesta subcategoria é integrada a Estátua, sendo esta toda a
escultura de vulto que representa uma figura completa, quer seja em pé, sentada ou
em qualquer outra posição. Assim podemos ter uma está de pé ou uma estátua
jacente, quando a figura representada se encontra deitada, uma estátua equestre,
quando representada ma figura a cavalo. Há ainda que ter em conta a distinção de
alguns tipos de estátuas conforme a sua relação com o tamanho real do
representado, desta forma surgem a estatueta ou as figurinhas, ou então, a estátua
colossal ou o colosso. Ainda é possível considerar o critério iconográfico e assim
surgem as estátuas acrólitas, alegóricas, fontenárias, estátuas-coluna, menir,
tumulares, e muitas outras.
Dentro da Escultura de Vulto existe ainda a Imagem, mais direcionada
para as representações com caráter religioso, assim aplicado às obras produzidas
24
por mestres de imaginária. O Busto aplica-se à escultura de vulto que apenas
representa a parte superior do corpo humano, podendo incluir uma ou mais
cabeças, o pescoço, uma parte das costas, dos braços, do peito e do estômago.
Este tipo de escultura pode fazer parte de composições ou então, na imaginária,
serem relicários. Já o Torso é considerado um vulto de um corpo sem cabeça, sem
braços e pernas, já a Cabeça, como as espécies anteriores, representa uma
escultura em vulto, de forma individualizada, da parte que corresponde à
extremidade superior do corpo. Existe ainda o Grupo Escultórico, a reunião de
duas ou mais figuras de vulto sobre um mesmo suporte e participam numa mesma
ação. Pode ainda ser dividido em grupo escultórico agregado quando as figuras
estão ligadas entre si por uma mesma base, ou, quando isso não acontece, por
grupo escultórico não agregado. Outras designações dentro da Escultura de Vulto
são Figura de Proa ou de Popa, Modelo: Esboço, Estudo, Maquete, dentro desta
última e conforme os formatos, Figurinhas, Estatueta, Figura académica, entre
outras.
Escultura Arquitetónica: Escultura que integra uma parte de um edifício ou eu foi
criada com a função de decorar uma estrutura arquitetónica. Desta forma é muito
vasta e integra diversos objetos que acabam por ser agrupados pelas suas
caraterísticas funcionais, estando estes mais ligados aos ofícios de cantaria e da
talha ornamental. Nesta subcategoria encontramos então, no que respeita à técnica
escultórica, o Relevo, ou seja, obras esculpidas que se projetam a partir de um
fundo. Pode ser ainda classificado conforme o grau de projeção do seu volume –
Alto, Médio e Baixo Relevo. O Alto Relevo é aquele que tem formas em saliência
que representam mais da metade do volume real de um objeto ou corpo, o Médio
25
identifica-se por representar cerca de metade do volume real de um corpo ou objeto,
e o Baixo Relevo é aquele em que as formas representam menos de metade do
volume real. O Retábulo é outro componente desta subcategoria, sendo constituído
por base, corpo e coroamento, e, normalmente, apresentando uma estrutura
composta, de baixo para cima, por sotobanco, banco, predela, nicho(s) ou
painel(éis). O Retábulo pode ser dividido, conforme a estrutura arquitetónica, em
retábulos de corpo único, dípticos, trípticos, polípticos e ainda retábulos em arco
triunfal. Dentro desta subcategoria de Escultura Arquitetónica estão incluídos ainda
todos os elementos de suporte da escultura, como Plintos, Bases e Peanhas,
Escabelos, Mísulas, entre outros elementos.
26
Ilustração 4: Estrutura de um retábulo.
Escultura Heráldica: Esta subcategoria prende-se com a “insígnia ou distintivo de
pessoa ou família nobre conferidos, geralmente, por merecimento, constituído por
figuras e ornatos dispostos num escudo.” Destaca-se então o Brasão, peça
heráldica esculpida com processo escultórico de entalhe ou talhe, sendo trabalhado
como um relevo.
Escultura Funerária: É a escultura produzida para rituais funerários, com a função
de comemorar o individuo morto, ou então, que atestam expressões como a de dor
da morte. Pode estar situada no exterior ou interior de espaços, ou associada aos
rituais de forma a documentar e identificar o falecido, nos Túmulos, Tampas de
Sarcófagos, Estelas, Efígies, Jacentes ou Lápides.
Técnicas e Materiais
O trabalho de produzir uma escultura envolve diversos ofícios, variando
conforme os materiais utilizados e outras especificidades. Normalmente estão
envolvidos nesta produção entalhadores, ensambladores, imaginários, pintores e
douradores, inseridos numa oficina direcionada por um mestre. Esculpir significa o
mesmo que entalhar ou talhar e os instrumentos utilizados para tal ação variam
desde a fase do corte da madeira até ao entalhe. Assim, para o corte podem ser
utilizados machados, rebotes, serras, enxós, plainas ou graminhos e, para o entalhe,
usados os formões, goivas de diversos tamanhos e feitios, buris, furadores e cinzéis,
27
simultaneamente com o auxílio de maços de madeira de
sobreiro ou carvalho. Para a técnica de polimento são
utilizados os abrasivos, aqui inseridas as lixas,
pedras-pomes ou raspas
No que respeita à escultura em madeira podemos subdividir este
material em duas categorias – Madeiras Gimnospérmicas e Madeiras
Angiospérmicas. As Madeiras Gimnospérmicas são mais conhecidas como
madeiras coníferas ou resinosas, logo, plantas sem flor, com folha perene,
caraterísticas dos climas temperados e frios, sendo fontes de madeira branda, as
softwoods. São deste tipo de madeira o cedro, o cipreste, o abeto, o pinho e a
sequoia. Quanto às Madeiras Angiospérmicas, ou seja, as madeiras folhosas, são
aquelas, que ao contrário das anteriores, têm flor e perdem as folhas no Inverno,
originando as designadas hardwoods, as madeiras duras. A este tipo pertencem
árvores como a cerejeira, o pau-rosa, o pau-preto, o castanheiro e o carvalho, a faia,
entre muitas outras.
Isto faz com que cada madeira tenha caraterísticas diferentes de
coloração, grão e dureza, o que as torna mais ou menos próprias para a execução
de esculturas. Assim, ainda é possível dividir as madeiras em duras, como o mogno,
em semiduras, como o carvalho e a nogueira, e ainda em macias ou brandas, o
caso do cedro. A madeira é um material bastante higroscópio, devido às suas
propriedades químicas e físicas, sofrendo variações volumétricas na presença de
humidade relativa. Na sua essência anisotrópica a madeira é constituída por três
direções principais, a transversal, radial e tangencial, sendo mais resistente a nível
28
Ilustração 5: Elaboração de
ornato entalhado.
transversal no que respeita a deformações sob pressão, porque esta direção é
aquela que dispõe de uma minoria de fibras no tecido lenhoso.
Técnicas de Acabamento
Nas Normas de Inventário surge toda uma gama de técnicas de
acabamento que podem ser utlizadas numa peça escultórica. A lista que se segue
enumera-as:
Bronzeado Estampado Pintado Brunido Estofado Policromado Cozido Forjado Polido Cromado Fundido Prateado Dourado Inciso Relevado Embutido Incrustado Remontado Encarnado Insculpido Repintado Entalhado Jaspeado Repolicromado Envernizado Marmoreado Repuxado Esculpido Modelado Esmaltado Patinado Vidrado Estranhado Vestígios de Policromia Perfurado
Policromia e Douramento
No que respeita ao tema aqui abordado, ou seja, a Escultura em
Madeira Policromada, as técnicas mais utilizadas neste tipo de peças são a
policromia e o douramento. Mas antes desse processo existem outros processos
que permitem a proteção e duração do objeto.
29
Na parte do acabamento, a peça de madeira começa por receber uma
camada de cola, a chamada encolagem, um preparado composto por cola de peixe,
pele de coelho ou cabrito e que tem como função tapar fendas e poros.
Seguidamente é dada outra camada de preparação, uma carga de cré ou gesso,
composto por carbonato ou sulfato de cálcio, misturado com um ligante,
normalmente cola proteica. A terceira fase é designada por bolo-arménio, uma
camada composta por argila, um silicato de alumínio ferruginoso de origem natural.
Após estas camadas de proteção, a peça encontra-se preparada para
receber a policromia e o douramento, uma ou outra em separado ou as duas
técnicas em conjunto. No que respeita à Policromia, esta tem várias
funcionalidades, com ela é possível a imitação das carnações e cabelos, a
decoração em relevo, como lágrimas e gotas de sangue, a aplicação de brocados e
ainda a técnica do estofado, na versão de puncionado ou esgrafitado. A aplicação de
folha metálica dourada ou prateada, o Douramento, pode ser efetuado de duas
formas, a quente, quando em superfícies metálicas, e a frio, no caso da madeira, do
estuque e da pedra, subdividindo-se segundo as suas aplicações, a água ou
mordente e com mercúrio. Depois destas camadas podem ser colocados os
diversos atributos, como resplendores e coroas.
A Policromia pode ser realizada de diversas formas e assim subdivide-se em:
Policromia com cola animal: Composto formado por cola, água e o pigmento;
Policromia com ovo. Composto formado por água, clara ou gema do ovo e o
pigmento;
Policromia a óleo: Composto formado por óleo de noz, linho ou papoila e o
pigmento;
30
Policromia com emulsão de óleo e ovo: Composto formado por óleo de linho,
mais a clara ou gema do ovo e o pigmento;
O Douramento, como atrás foi referido, subdivide-se principalmente em duas formas
de aplicação:
A água: Nesta técnica a folha é aplicada sobre a camada de bolo-arménio ou sobre
o preparado de gesso, sendo humedecida com água antes da sua aplicação;
A mordente ou óleo: A folha de ouro ou prata é aplicada com um óleo ou verniz da
cor do ouro, produzindo um acabamento mate.
A arte do douramento é uma técnica que já os egípcios utilizavam nos
seus sarcófagos. Mais recentemente, esta arte foi largamente aplicada a retábulos,
sendo a expressão mais eloquente porque se revestia a mística do ouro, cor ligada
a Deus e utilizada para a atração sensitiva dos crentes. O princípio base do
douramento era obter um revestimento de decoração brilhante, dando um tom de
riqueza inexcedível.
O douramento consiste no revestimento de superfícies com finas folhas
de ouro, batidas por um bate-folhas, que se aderem ao suporte através de diversos
31
Ilustração 6: Douramento a mordente de
óleo com ouro falso.
Ilustração 7: Douramento a água.
processos. O processo dito assim parece limitar-se à simples fixação da folha ao
suporte, mas na verdade é uma preparação morosa e meticulosa. Esta técnica tem
várias fases de preparação da madeira até que esta possa receber a folha de ouro.
Em primeiro, o suporte tem de receber um isolamento com cola animal, seguida da
aplicação de várias camadas de preparação branca e de bollús de arménia. Só
quando todas estas fases estão concluídas é que se pode realmente começar a
dourar.
Quer no estaleiro, quer na oficina, o dourador tem de possuir
ferramentas essenciais para a técnica de douramento. Algumas das principais
ferramentas são: Brochas, pincéis de aplicação da cola animal e outras
preparações, o Coxim, uma almofada forrada que serve de suporte às folhas de
ouro que iram ser colocadas, funcionando como uma espécie de paleta, e é onde o
dourador corta as folhas nas dimensões desejadas. A Faca de Dourador é outra das
ferramentas, e permite o corte da folha de ouro sem se cortar o coxim, já os Pincéis
‘putois’ servem para assentar o ouro sobre o suporte, enquanto a Paleta de Dourar é
um pincel largo que serve para agarrar o ouro do coxim e aplica-lo na zona
desejada, tendo previamente passado o pêlo por gordura de modo a facilitar a
aderência da folha, um outro pincel é o Pincel de Dourar e permite estender o ouro,
batendo-o e afagando-o. Já o Brunidor é uma pedra de hematite sanguínea ou de
ágata e serve para tornar o douramento a água luzidio e brilhante. Além destes
materiais, o dourador deve possuir diferentes lixas, recipientes, colheres,
raspadores, outros pincéis, fogão e peneiros.
Para se dourar uma superfície, esta tem de estar desprovida de qualquer
impureza, gordura e sujidade, e caso isto ocorra o mais provável é as camadas de
ouro e de preparação de destacarem. A madeira tem de possuir igualmente algumas
32
características como o facto de estar bem seca, para não se formarem fissuras, e os
nós de resina têm de ser queimados e fechados, de preferência com o mesmo tipo
de madeira. A preparação do suporte é bastante demorada pois é composto por
várias fases – Encolagem, onde se utiliza cola de animal, camadas de preparação
branca e o bollús da arménia, depois é necessário Betumar, Nivelar e Polir a
superfície para que esta fique lisa, e procede-se ao Douramento a Água ou
Mordente.
Estofado
Esta técnica decorativa começou a ser bastante
utilizada na imaginária a partir do século XVIII, e era
essencialmente destinada a mantos, roupagens, nuvens e asas de
querubins. O estofado consiste na aplicação de tintas de
têmpera de ovo sobre ouro, sendo estas raspadas, com diversos
motivos, deixando o ouro visível. A têmpera feita com gema de
ovo utilizam-se, com mais frequência, pigmentos de forma a
formar cores mates e densas, já com a clara do ovo os resultados
são mais transparentes, sendo necessária a utilização de corantes.
A realização do estofado é simples. Primeiro é
escolhido o desenho que é transposto para papel vegetal,
através do picotar do papel mas zonas delimitadoras do desenho
que depois é batido com uma boneca de pó de talco para que o
contorno apareça sobre a têmpera. Depois de transposto o desenho, a têmpera do
interior do desenho é retirada por raspagem, através de um ponteiro metálico ou
33
Ilustração 8: Escultura
em madeira policromada
com técnica de estofado.
34
madeira para não riscar o ouro. No final o ouro fica com a forma do desenho que
anteriormente fora transposto para a peça.
Punçoado
Com esta técnica o objetivo é a criação de criar
punções com várias formas. Estes quando batidos sobre
a têmpera ou ouro, transferem para a superfície a sua
forma, dando um aspeto caraterístico, como por exemplo,
pequenos círculos, estrelas e flores. A transposição destas
formas é feita através do batimento de um pequeno martelo
no punção que vai marcando a superfície dourada. É um
processo que tem de ser muito cuidadoso porque pode
causar destacamentos e o rompimento do ouro. Os padrões ficavam ao gosto do
dourador e eram mais utilizados para debruar as vestes.
Esgrafitado
Técnica fácil de realizar e cujo resultado é muito
agradável à vista. Os desenhos, pequenos, grandes, finos ou
grossos, são feitos através de pequenos estiletes. Nesta
técnica a têmpera é deslocada e ficam à vista orifícios
semelhantes a pequenos fios de ouro. Também aqui os
padrões são ao gosto do dourador, sendo os mais comuns
os traços paralelos desencontrados e pequenos círculos.
Ilustração 9: Escultura com
técnica de punçoado.
Ilustração 10: Pormenor com
esgrafitado.
Patines
As patines identificam o envelhecimento natural e as
sucessivas camadas de gordura e sujidade que se vão
acumulando nas camadas de ouro e policromia. Pode ser
imitada com uma velatura que se dá sobre o ouro ou pintura
que dá mais contraste entre as zonas convexas e
côncavas. As patines são realizadas consoante o tom
do ouro ou o efeito final pretendido. Antigamente, para o
douramento a água, usavam-se tintas a óleo ou a têmpera, onde o solvente era
água-cola muito diluída. Hoje em dia, existem no mercado patines de diferentes
tons, prontas a aplicar, simplificando todo o processo.
Após todas estas camadas, as peças acabam por possuir uma estratigrafia, quer a
nível das carnações, quer do estofado. A primeira, de um modo resumido e geral, é
composta por cinco camadas, e a segunda por sete.
Estratigrafia das Carnações:
Material de suporte físico de madeira
Camada de encolagem
Camada de preparação branca tradicional
Camada de policromia
Aplicação de vernizes
35
Ilustração 11: Pormenor de uma
escultura com patine.
Ilustração 12: Estratigrafia das
Carnações.
Estratigrafia do Estofado:
Material de suporte físico de madeira
Camada de encolagem
Camada de preparação branca tradicional
Camada de preparação de bolo-arménio
Aplicação de folha de ouro ou prata
Camada de policromia
Aplicação de velatura e vernizes
Ilustração 13 : Estratigrafia do
Estofado.
36
38
Métodos Analíticos e de Exame
Através destes processos é possível obter informações que não são
visíveis à superfície da peça em questão. São vários os métodos de análise e
exame que permitem uma avaliação completa de todos os aspetos da obra
apreciada. Acima de tudo são métodos não destrutivos e não evasivos.
Radiografia
Através da radiografia é possível verificar se as obras são realizadas
apenas num só bloco ou em vários, assim como confirmar, quando não são
detetadas assemblagens, se pequenos elementos são colados. Este processo
também é importante para se perceber se os diversos elementos que compõem a
obra fazem parte do bloco de madeira original, e permite visualizar todos os
suportes metálicos que são utilizados para a unificação dos diversos fragmentos.
Além disso, regista a diferente opacidade dos materiais, que depende da espessura
de cada um e da sua composição.
Ilustração 14: Métodos analíticos e de
exame utilizados em cada camada de
estratigrafia.
Fotografia de fluorescência de ultravioleta
Esta técnica regista a radiação visível imitida pelos materiais quando
expostos à radiação UV. Para alguns dos materiais a fluorescência aumenta
conforma os anos. Este processo fornece informações relativas as descontinuidades
e a sobreposição de materiais.
Fotografia de Infravermelhos
Permite a visualização de desenhos subjacentes. Este tipo de radiação possui
um comprimento de onda que lhe permite atravessar a camada pictórica e atingir a camada
de preparação.
Luz visível
Este é o processo mais básico pois limita-se à observação direta,
permitindo a elaboração da descrição geral da obra. Permite igualmente observar o
realce do relevo superficial e colocar em evidência aspetos do estado de
conservação.
Ilustração 15: Fotografia de fluorecência
do UV.
Ilustração 16: Fotografia a luz visível.
39
Análise complementar
Os métodos analíticos envolvem a análise de amostras recolhidas das
obras, ajudando assim a complementar os restantes exames. Através destas
amostras é possível obter informações sobre a estrutura da obra de onde foi
retirada. São úteis sobretudo na identificação do material da obra, não sendo nem
invasivo, nem destrutivo.
Microscopia ótica e eletrónica
A microscopia ótica é um método
que permite observar a cor, forma e constituintes
de uma amostra retirada da peça. Com a microscopia
eletrónica, em vez de luz, é incidido um feixe de
eletrões que permite uma maior ampliação da amostra. Desta forma é
possível aceder a informações de natureza
química.
Análise
Nesta fase podem ser inseridos vários processos que permitem obter
informações sobre a composição química do material. Pode envolver recolha de
amostras, podendo as análises serem invasivas o não, e os métodos destrutivos ou
não destrutivos. Dentro destes processos existe a espectrometria de fluorescência
de raios-X, uma análise in situ, e que apresenta resultados num espectro simples, a
espectrometria de absorção de infravermelho, muito usada para a identificação de
materiais orgânicos e ainda a espectrometria de massa que proporciona informação
de natureza molecular.
40
Ilustração 17: Análise por microscopia
eletrónica
Outros Métodos
Dendrocronologia
Método pelo qual se procede à datação das madeiras pela contagem
dos seus anéis de crescimento. A contagem dos anéis e a avaliação da sua
espessura permite ficar a saber-se a idade da peça analisada.
Novos Métodos de Proteção de Madeira
Estes métodos pretendem, através da modificação da madeira, melhorar
as propriedades que este material possui, como a resistência à biodegradação e à
radiação ultravioleta, a estabilidade dimensional, entre outras, produzindo desta feita
um novo material que não apresente um perigo ambiental superior ao da madeira
não tratada. Existem quatro tipos de processos: a modificação térmica, química, da
superfície e a impregnação.
O termo modificação da madeira é apenas aplicado quando as melhorias
verificadas no material se mantêm ao longo do ciclo da vida do produto. A maioria
dos métodos que são utilizados baseia-se na redução da acessibilidade dos grupos
hidroxilo que se encontram essencialmente na celulose e hemiceluloses, que são os
principais responsáveis pela higroscopicidade da madeira. Fazendo o bloqueio
destes grupos, presentes sobretudo nas hemiceluloses, e que se encontram mais
acessíveis, a madeira diminui a sua capacidade de absorver água.
41
Modificação térmica
Os processos que utilização a modificação térmica são aqueles que, ao
longo destes últimos anos, mais têm evoluído a nível comercial. Este sucesso é
certamente devido ao baixo custo de tratamento em comparação com outras
modificações que se baseiam na utilização de compostos químicos e tornam o
produto final muito mais caro.
A modificação térmica é realizada através da utilização de elevadas
temperaturas que alteram a composição química da madeira, resultando num novo
material com propriedades melhoradas. Com isto, a humidade de equilíbrio acaba
por diminuir consequência da menor quantidade de água absorvida pelas paredes
da célula devido à mudança química.
O tratamento térmico melhora a durabilidade da madeira, a resistência
contra os fungos, exceto em contacto com o solo, e ligeiramente contra insetos,
tendo pouco efeito na resistência sobre térmitas. Esta melhoria da resistência aos
fungos é conseguida pela transformação das hemiceluloses. Contudo, este
processo tem um ponto fraco, a degradação de algumas propriedades mecânicas. A
madeira torna-se mais quebradiça com a deterioração das propriedades devido à
perda de polissacarídeos amorfos. Desta forma a madeira torna-se num material
mais escuro, com menor condutividade térmica e molhabilidade. Além disso, a
absorção de colas e vernizes torna-se mais lento do que na madeira não tratada. No
quadro que se segue estão presentes os principais processos de modificação
térmica, sendo o Thermowood o mais bem-sucedido na Europa.
42
43
Tabela 1: Descrição dos principais processos de modificação térmica.
Processos Descrição
Thermowood
Aumento rápido da temperatura usando calor e vapor até 100ºC seguido de um aumento
mais suave até 130ºC e secagem durante 1 hora. Aumento até à temperatura de
tratamento (185-215ºC) que se mantém durante cerca de 2-3 horas. Arrefecimento e
estabilização.
Plato
Processo em 4 etapas: hidrotermólise, a temperatura de 160-190ºC em condições húmidas
e com pressões acima da pressão atmosférica, secagem normal até 10% de humidade,
tratamento térmico a seco a temperaturas de 170-190ºC e estabilização.
Bois Perdure Secagem rápida com vapor e gases de combustão quentes produzidos pela subida na
temperatura da madeira e re-injetados na câmara de combustão.
Retification A madeira com humidade de 12% é tratada numa fase, a temperaturas de 200-240ºC com
azoto, garantindo um máximo do oxigénio de 2%.
OHT Tratamento com óleo quente (180-240ºC) num recipiente fechado que limita o teor de
oxigénio.
Modificação química
A maior parte dos processos de modificação química baseia-se na
reação entre os grupos hidroxilo da madeira e um reagente químico. Ao substituir
alguns grupos hidroxilo por um composto hidrofóbico, levando à diminuição da
higroscopicidade e conduzindo a um material com propriedades melhoradas. Destes
processos o que mais se destaca a nível comercial é o que utiliza a acetilação com
anidrido acético. Também foram testados os anidridos cíclicos mas a redução da
higroscopicidade é menor, causando problemas de degradação da madeira. As
propriedades melhoradas através do processo químico não divergem muito
daquelas obtidas pelo processo térmico. Também aqui a humidade de equilíbrio
diminui devido á substituição de alguns grupos hidroxilo, e em resultado desta
diminuição a estabilidade dimensional aumenta. Na madeira acetilada a resistência
contra os fungos aumenta, mesmo em contato com o solo, e em relação
às térmitas também se denota uma ligeira reação. A madeira tratada desta forma
mostra também alguma resistência a xilófagos marinhos, mas continua suscetível ao
ataque de crustáceos e moluscos. Uma outra vantagem da madeira acetilada é a
sua resistência aos raios ultravioleta.
Contudo, muitas das propriedades mecânicas são afetadas com este
processo. Este tratamento faz com que haja uma diminuição no módulo de
elasticidade mas nenhuma mudança na resistência ao impacto ou rigidez.
A resistência à compressão, a dureza e o trabalho ao limite proporcional
aumentam. O módulo de rutura diminui nas folhosas e aumenta nas resinosas. A
resistência à colagem é afetada, proporcionalmente à acetilação, uma vez que a
madeira acetilada é bastante mais hidrofóbica que a não tratada.
´
Modificação por impregnação
Esta modificação difere da química pelo facto de não ser a ligação
química com os compostos estruturais existentes nas células de madeira que
promovem as melhorias das propriedades, apesar dessa ligação poder ocorrer. Este
processo baseia-se na introdução de um ou vários compostos químicos na parede
das células, resultando na reação dessas mesmas células que formam um
composto que bloqueia o acesso aos grupos hidroxilo, permitindo a diminuição da
higroscopicidade da madeira. Existem sobretudo dois mecanismos: a impregnação
com um monómero e a imediata polimerização ou a introdução de um material
solúvel que se torna posteriormente, após tratamento, insolúvel. Dos processos por
impregnação o que mais tem evoluído é o de furfurilação. Este processo pode ter
44
um futuro prometedor pois utiliza álcool furfurílico, obtido através dos produtos
secundários da produção do bioetanol, e o preço deste composto químico deverá
baixar no futuro.
À semelhança dos dois processos anteriores, a impregnação com álcool
furfurílico conduz a uma diminuição da humidade de equilíbrio e a um aumento da
estabilidade dimensional da madeira. A madeira furfurilada é resistente aos fungos
da podridão castanha e branca, e a resistência contra térmitas depende do ganho
de massa. É igualmente muito resistente a xilófagos marinhos, ao contrário das
outras madeiras modificadas, e ainda às condições climatéricas em relação à
madeira não tratada. Todavia a resistência ao impacto é afetada pelo tratamento.
Modificação da superfície
Este processo difere dos restantes por alterar, tal como o próprio
nomeindica, essencialmente as propriedades da superfície da madeira, incidindo
especialmente na resistência à degradação pela luz solar, condições climáticas e de
aderência. O principal problema destes métodos é o seu elevado custo, o que faz
deduzir que nenhum deles seja utilizado em grande escala num futuro próximo. De
entre os diversos processos, a modificação enzimática no sentido de promover a
colagem da madeira, sem a utilização de resinas, tem algumas potencialidades, mas
apenas se o preço destas resinas subir e simultaneamente se baixar o custo da
ativação enzimática.
A madeira tratada e modificada poderá, num futuro próximo, vir a
substituir a madeira tratada com biocidas. A escolha do método a utilizar irá
depender da utilização final a dar á madeira de acordo com as vantagens e
45
46
desvantagens de cada processo, dadas a conhecer, de modo sucinto, no quadro
que se segue.
Processos Vantagens Desvantagens
Modificação térmica Não utiliza qualquer químico;
Preço final;
Degradação das propriedades
mecânicas;
Degrada-se em contacto com o
solo;
Cor castanha escura;
Modificação química
(Acetilação)
Resistente a fungos em contacto com o
solo;
Resistente aos raios ultravioletas;
Não atribui cor à madeira;
Uso de grandes quantidades de
químicos;
Processo mais caro;
Modificação por
impregnação (Furfurilação)
Resistente a fungos em contacto com o
solo;
Preço do composto químico menor que o
da acetilação;
Resistente a xilófagos marinhos;
Ligeiramente resistente aos raios
ultravioletas;
Uso de maiores quantidades de
químicos que a modificação
química;
Cor castanha escura;
Tabela 2: Principais vantagens e desvantagens dos vários processos.
Ações com carácter preventivo
Como já foi abordado na Terminologia, os bens culturais que estão sob
contexto museológico necessitam de uma constante manutenção e preservação.
Para isso é essencial identificar os fatores de degradação a que estes bens estão
sujeitos, quer de forma extrínseca, quer intrínseca, e acima de tudo é importante
saber como evitar os danos e patologias daí decorrentes. Muitas vezes esses
fatores não podem ser anulados na sua totalidade, assim, a única maneira de
controlá-los é através de ações planeadas mediante cada situação, de modo a
estagnar os danos que o objeto sofreu. Desta forma é bastante importante identifica
e avaliar os riscos a que um objeto está sujeito de forma a diminuir despesas e os
próprios danos.
Edifício
Os principais problemas dos museus predem-se com a necessidade de
reforço das coberturas e paredes do próprio edifício, elevando assim a segurança e
diminuindo problemas como as infiltrações. Além disso, a localização de muitos
museus não é a mais adequada, situando-se em locais próximos de zonas de risco,
com poucas condições, como é o caso da proximidade com lugares de criação de
animais e plantas, possíveis fontes de pestes e pragas. A nível exterior, e não
diretamente ligados à estrutura arquitetónica, encontram-se outros fatores que
podem culminar na degradação do acervo museológico. Aqui podemos referir as
vias de transporte que significam poluentes atmosféricos e trepidações, e também
48
os cursos naturais de água, que aumentam o risco de inundação, a presença de
insetos, salinidade e ainda o aumento da humidade. Interiormente ainda há fatores
que envolvem a climatização e iluminação, porque
são necessários requisitos específicos para cada
coleção, fatores relativos aos locais de
armazenagem, sendo necessária a verificação e
adequação dos espaços aos objetos, tal como é
imprescindível a segurança dos espaços, e que
em muitos casos deveria ser melhorada.
Acervo
Cada bem cultural requer, devido à sua natureza, fragilidade e estado de
conservação, uma atenção e cuidados específicos. A sua distribuição coloca várias
questões quer devem ser articuladas com as condições ambientais e de segurança.
Todos os acervos estão sujeitos a riscos inerentes e procedimentos inadequados
que se relacionam com:
– Oscilações bruscas de humidade relativa, temperatura, presença excessiva de luz
e pragas;
– Falta de segurança, e logo roubos e vandalismo;
– Ausência de um registo de circulação interna;
– A circulação interna inadequada pode levar a vários acidentes;
– Excessivo manuseamento de objetos fruto de estudo ou investigação, o que pode
provocar danos;
– Intervenções de conservação e restauro mal executadas;
49
Ilustração 18: Degradação junto a uma tomada
elétrica provocada pela humidade.
Fatores de degradação
Os fatores de deterioração podem ser classificados como
fundamentais, secundários e acidentais, conforme a sua importância a
nível museológico. Nos primeiros incluem-se todos os parâmetros que
caraterizam o meio ambiente, a luz, a poluição, temperatura e
humidade relativa. Os secundários são aqueles que englobam parasitas,
vibrações, embalagens e a utilização incorreta de equipamentos. Por
último, os fatores de deterioração acidentais prendem-se com
catástrofes naturais, fogos e atos de vandalismo, e estes podem nunca
ocorrer.
Tal como outros materiais, a madeira está sujeita a fatores de
degradação de vários tipos. Estes podem ser físicos e químicos, mas são
sobretudo de ordem biológica. Seguir-se-ão tabelas onde, de forma
sucinta e direta, se mostram os fatores de degradação e os respetivos
riscos, assim como as medidas de prevenção para evitar ou atenuar
esses mesmos agentes.
50
– Luz (visível, infravermelha, visível e ultravioleta)
A cor que a madeira possui inicialmente é o resultado de uma proporção
de lenhina e de celulose, situadas nas paredes celulares, e também de outros
compostos. A luz, quer natural ou não, sobretudo a radiação ultravioleta, provoca
alterações cromáticas, provocando o amarelecimento da celulose e o escurecimento
da lenhina. Isto leva à diminuição da resistência mecânica da madeira.
Fator de Degradação Riscos Inerentes Medidas de Prevenção
Entrada de luz solar direta o
indiretamente;
Entrada de iluminação externa,
como a imitida pelos automóveis, e
iluminação interior desadequada;
Toda a luz é nociva e tem um
efeito cumulativo nos objetos;
As radiações infravermelhas são
responsáveis pela transmissão de
calor e provocam o aceleramento
da degradação;
As radiações ultravioletas são mais
enérgicas e logo mais destrutivas;
Envelhecimento acelerado;
Amarelecimento;
Escurecimento ou descoloração
das camadas de policromia e
douramento;
Desintegração dos materiais;
Colocação de filtros ultravioleta nas
janelas ou cortinas de pano-cru
que abrandam o efeito;
Substituição de lâmpadas
incandescentes ou fluorescentes
por lâmpadas de halogénio, com
uma emissão de calor mais
reduzida;
Implementação de lâmpadas LED,
com baixa emissão de radiação e
baixo consumo energético;
Armazenar objetos mais sensíveis
em locais totalmente escurecidos;
Recurso a um luxímetro, para
medir os valores de luminosidade,
e a um termómetro para medir a
radiação IV;
51
Ilustração 19: Luxímetro (à esquerda) e
medidor de ultravioletas (à direita).
Ilustração 20: Filtro
ultravioleta aplicado no
vidro de uma janela.
Fator de Degradação Riscos Inerentes Medidas de Prevenção
Poluição Externa: Gases de
automóveis (Azoto), de fábricas
(Dióxido de Enxofre), ozono e
partículas sólidas;
Poluição Interna: Pó, poerias, fumo
de tabaco;
Certo tipo de lâmpadas;
Libertação de materiais de
construção ou expositivos;
Libertação de anidrido carbónico
pelos visitantes;
Produtos de limpeza;
Deposição de sujidades,
escurecimento, descoloração da
policromia e douramento;
Minimização dos danos causados
nos objetos mantendo as portas e
janelas fechadas e bem
calafetadas;
Verificação da eficácia do sistema
de ventilação e dos filtros de
partículas;
Análise prévia do teor de poluentes
para solucionar eficazmente o
problema;
Colocação de papel melinex
(película de poliéster), papel tissue
(filme em polipropileno ou
polietileno) ou pano-cru (algodão
ou linho) para cobrir as peças;
Evitar o uso de material
contraplacado, aglomerados e
certos adesivos;
A limpeza dos espaços deve ser
realizada de forma cuidada e os
objetos deverão ser retirados
aquando da limpeza de vitrines;
Limpeza com a menos quantidade
de água possível e sem utilização
de detergentes;
Limpeza periódica das reservas;
A limpeza deve ser efetuada por
pessoal especializado;
A limpeza deve ser efetuada com
trinchas e pincéis macios,
espanadores do pó e aspiração de
filtros com regulação da sucção e
do diâmetro bocal;
A limpeza não deve ser efetuada
em superfícies fragilizadas de
objetos policromados e dourados
– Contaminantes (Ver Anexo A)
52
Fator de Degradação Riscos Inerentes Medidas de Prevenção
Clima local
Luz solar
Fugas de água
Ventilação inadequada
Respiração humana
Ciclos de condensação
Fragilização que pode levar à
fratura da camada de
policromia, retração e
expansão da madeira,
deformações, fraturas,
criação de bolores e ainda, a
nível dos metais, à corrosão;
Estabilização e regulação
dos valores ideais de
humidade relativa e
temperatura, evitando
oscilações bruscas dos
materiais, e diminuindo o
desenvolvimentos de
microrganismos;
Os objetos devem estar
expostos ou acondicionados
em condições semelhantes
àquelas a que se
aclimatizaram ao longo do
tempo;
Colocação de reguladores de
humidade nos locais de
exposição ou
armazenamento;
Colocação de materiais
isolantes ou protetores nas
bases ou áreas de contato;
Impedir o contato direto dos
objetos com o chão e
paredes;
Acondicionamento dos bens
em reserva em caixas ou
embrulhos livres de acidez;
–Temperatura e Humidade Relativa incorretas (Ver Anexos B e C)
Estes dois fatores estão sempre intimamente ligados. O aumento de um deles leva à
diminuição do outro. Desta forma, a temperatura deve ser considerada um dos
principais fatores de deterioração da madeira.
53
– Infestações de pragas e pestes
No seu habitat natural, insetos, bactérias, fungos e outros
microrganismos são importantes para a estabilidade das matérias animais e
vegetais. No entanto, em contexto museológico, a sua presença torna-se indesejada
e é nociva para a preservação de todo o acervo, causando-lhe intensas
degradações e perdas de informação contida nos bens culturais.
Na avaliação deste fator de deterioração de origem biológica muitos
aspetos têm de ser analisados, é o caso das condições ambientais, da composição
química dos materiais constituintes, o tipo de organismo e microrganismo e ainda o
habitat propício ao seu desenvolvimento.
A principal causa de infestações por parte de pragas e pestes é a
humidade relativa elevada. Como a madeira é um material higroscópico o seu
conteúdo de humidade deve estar em equilíbrio com o do ambiente, assim convém
que a humidade relativa esteja num nível baixo, mas sem causar a desidratação e
alteração das propriedades mecânicas dos bens culturais. Assim, são considerados
aceitáveis os valores entre 50% e 65%, devendo o limite superior ser estritamente
respeitado. Também as temperaturas elevadas provocam o desenvolvimento da
maioria destes microrganismos e insetos, e as temperaturas baixas podem
minimizar estes ataques mas não os inibem por completo. Os valores mais
desfavoráveis às pestes e pragas são os que se encontram entre os 16ºC e 20ºC.
Também a luz, artificial ou natural, torna os materiais mais vulneráveis às
infestações, pois provoca o seu envelhecimento e aumenta assim a suscetibilidade
da peça. A fraca ventilação também proporciona os referidos ataques, consequência
dos fenómenos de condensação sobre as superfícies.
54
Este fator de deterioração é, por vezes, difícil de identificar pois não se
desenvolve á superfície, mas no interior do material. A madeira é um material muito
pobre em elementos nutritivos, dependo da espécie da árvore, e assim, alguns
organismos conseguem digerir os seus constituintes mais importantes. Desta forma,
uma escultura realizada em madeira pode tornar-se num fonte de alimento, num
refúgio e ainda em local de postura. O caso mais é, sem dúvida, o dos insetos
xilófagos. O seu ciclo de vida é composto por quatro fases – ovo, larva, pupa e
adulto – sendo o ataque mais intenso no período larvar, etapa em que a detenção é
difícil e portanto a identificação do ataque biológico é sobretudo feito a partir de
vestígios ou sinais deixados na peça, como é o caso dos orifícios deixados pela
saída do inseto adulto.
São vários os organismos e micro organismos que atacam a madeira.
De seguida será apresentada uma pequena lista com aqueles que mais surgem
nestas infestações, tocando em aspetos como a sua origem, ciclo de vida e que
danos podem provocar nos bens culturais.
Anobium punctatum Degeer
É vulgarmente conhecido por caruncho pequeno, e pertence à família
Anobiidae, atacando folhosas e resinosas, e especificamente madeiras secas, dado
que a humidade encurta o seu período larvar. O seu ciclo de vida pode variar entre 2
a 3 anos, conforme o tipo de madeira, e da disponibilidade alimentar, temperatura e
humidade. Além disso, o caruncho pequeno prefere madeiras brandas, sendo a
temperatura mais favorável ao seu desenvolvimento entre os 22ºC e 23ºC,
resistindo contudo a temperaturas mais baixas. As fêmeas põem em média 50 ovos,
55
nas juntas e fendas da madeira, levando entre 3 a 4 semanas para que as larvas
eclodam e comecem a roer a madeira, originando galerias. Em adulto, o inseto
refugia-se na superfície e abandona a madeira nos meses de verão. Após esta
saída, e dado o seu curto período de vida, torna a ocorrer o acasalamento e reinicia-
se novamente o ciclo. O ataque é normalmente identificado através dos orifícios
circulares e pelo serrim acumulado na superfície da madeira, este último permitindo
saber se o ataque ainda se encontra ativo, quando de cor clara, ou, quando de cor
escura, se o ataque é antigo.
Hylotrupes bajulus Lineu
Comummente conhecido por caruncho grande, pertence à família Cerambycidae, e
á Ordem Coleoptera. Este tipo de inseto ataca sobretudo folhosas e produz um
ruído caraterístico, permitindo a sua identificação, principalmente durante o verão,
quando a sua atividade é mais ativa. As larvas são brancas-marfim mas em adulto
torna-se castanho-escuro ou negro. Em relação ao caruncho pequeno tem um ciclo
de vida maior, entre 3 a 4 anos, podendo atingir idades até os 7 anos, se as
condições forem favoráveis a tal. Também a postura de ovos é muito maior, podendo
cada fêmea depositar 200 ovos, e a incubação muito mais pequena, entre 10 a 12
dias. As larvas que daqui nascem começam a escavar túneis paralelos ao fio da
madeira, e onde vou depositando o serrim, neste caso de cor amarelada e
pulverulento. Os orifícios causados são elípticos e a saído do inseto adulto ocorre
sobretudo entre Junho e Setembro. Geralmente a superfície externa do bem cultural
permanece intacta, o que dificulta a observação e posterior identificação do ataque,
mas, como o serrim fica acumulado nos túneis, faz com que a madeira inche,
acabando por fornecer uma pista do ataque.
56
Reticulitermes lucifugus Rossi
Conhecidos por térmitas, são insetos brancos, e pertencem à família
Rhinotermitidae. Constituem, a nível mundial, a maior praga da madeira, sendo mais
frequentes em climas subtropicais e tropicais, pois necessitam de temperaturas e
humidade elevadas. São inseridos na categoria de insetos sociais, pois vivem numa
comunidade complexa, organizada por castas e onde cada elemento tem a sua
função específica, tal como funcionam as abelhas. As fêmeas depositam grandes
quantidades de ovos dentro da madeira, e destes nascem as ninfas. Estes insetos
alimentam-se de celulose, degradando grandes quantidades de material. A
identificação do ataque de térmitas é feita através das galerias e dos orifícios
abertos, que não apresentam serrim, e construídos por partículas terrosas e dejetos,
conjugados com secreções salivares. O aspeto laminado da madeira também é um
bom indício da presença de térmicas, mas, como o ataque é feito interiormente,
quando é detetado já a madeira está praticamente oca, limitando-se a uma fina
camada superficial.
Outros insetos como os besouros, os peixinhos
-de-prata, as traças e baratas são também uma preocupação
para as instituições museológicas, assim como a presença
de formigas e moscas. Além de todos estes insetos também
podemos fazer referência a animais superiores, e cuja
presença é comum em instituições museológicas, e outras,
como é o caso dos pequenos roedores, onde se inclui ratos e ratazanas, as aves,
como pombos e corujas, e ainda outros animais como morcegos, coelhos e gatos.
57
Ilustração 21: Inseto xilófago.
Fungos
São microrganismos que se desenvolvem em condições de temperatura
e humidade relativa elevadas e, dentro desta categoria, são aqueles que mais
danificam a madeira, pois nela encontram nutrientes como o açúcar e amido.
Desenvolvem-se tanto a nível interior, como exterior, atacando apenas a madeira
quando esta está húmida, mas podendo alastrar-se às zonas secas. Pode
considerar-se dois tipos de deterioração, conforme a cor que assume a madeira
depois de atacada – podridão branca e podridão castanha. A primeira resulta da
destruição da lenhina por parte dos fungos, a segunda quando os fungos só atacam
a celulose, deixando os resíduos acastanhados da
lenhina, assumindo a madeira, depois de seca, uma cor
mais escura e fragmentada. Os bolores também são
considerados fungos e o seu ataque provoca alterações
cromáticas ou a formação de películas superficiais, e
as propriedades mecânicas da madeira não são afetadas.
Bactérias
Estes microrganismos necessitam de condições de humidade relativa
muito elevadas, acima dos 85%, e por serem muito pequenos não têm uma
penetração ativa, atacando-os principalmente por via química. O seu ataque resulta
em alterações cromáticas e alteram pigmentos que contêm chumbo.
58
Ilustração 22: Fungos.
De um modo sucinto, o quadro a baixo relata os principais riscos
inerentes e diversas medidas de prevenção para os combater ou estabilizar.
Fator de Degradação Riscos Inerentes Medidas de Prevenção
Paisagem envolvente do
edifício, pouca luz existente,
presença de pó e constante
passagem de visitantes;
Perfuração de túneis por
insetos xilófagos, térmitas e
caruncho, destruição,
excreções que mancham e
fragilização da madeira;
Os riscos inerentes
dependem do tipo de inseto
que ataca a superfície, sendo
o caruncho o ataque mais
vulgar de um inseto xilófago,
rondando os 75% das
infestações. O caruncho,
dependendo da sua espécie,
pode provocar orifícios nas
madeiras, o aumento de
serrim, orifícios com poeiras
e danos estruturais;
Para eliminar e controlar este
tipo de pragas é importante a
realização de inspeções
regulares, para que assim
sejam detetados e
identificados os organismos;
Manter as temperaturas
baixas, pois isto inibe o
ataque, e o excesso de
humidade reduzido;
Colocação de armadilhas
para insetos em locais
estratégicos;
Melhoramento da ventilação;
Isolamento dos objetos com
suspeita de infestação;
59
Fator de Degradação Riscos Inerentes Medidas de Prevenção
Ladrões, vândalos, vigilância
deficiente perante grandes
aglomerados de visitantes,
má manipulação dos objetos,
levando a acidentes,
restauros mal feitos,
armazenamento inadequado
e descuido humano;
Perda irreparável do objeto,
desfiguração, destacamentos
da camada superficial,
lacunas, desgastes e
depósito de sujidade;
Colocação de grades nas
janelas e fechaduras nas
portas;
Videovigilância e sistemas de
alarme e deteção;
Construção de vitrinas
fechadas;
Inventariação de todos os
objetos, quer através de tinta
invisível, quer com microship;
– Infestações de pragas e pestes
60
– Água
É um fator que assume particular importância,
desde já por ser um constituinte da madeira, e
depois por estar na base da maioria dos processos
de deterioração deste material. Por ser um material
bastante higroscópico, a madeira, de forma a
atingir um equilíbrio com a atmosfera que a rodeia,
sofre movimentos de dilatação e retração, o que
provoca variações dimensionais que provocam
fendas e fissuras, separação de alguns elementos
e deformações irreversíveis. Não é só o suporte que
é afetado com estas variações, mas também a
camada pictórica e as folhas metálica, levando ao
destacamento da policromia e à formação de craquelés.
Fator de Degradação Riscos Inerentes Medidas de Prevenção
Infiltrações
Condensações
Excesso de Humidade
Inundações
Expansão, separação e
deformação da madeira;
Fratura e lacuna dos
materiais;
Fungos e Bolores;
Revisão da cobertura e
colocação de um
revestimento eficiente;
Inspeção periódica das
condutas de água;
Manutenção do sistema de
drenagem;
Colocação de estrados nas
reservas ou evitar que os
objetos sejam colocados
diretamente no pavimento;
61
Ilustração 23: Esculturas colocas sobre
estrados
.
Fator de Degradação Riscos Inerentes Medidas de Prevenção
Instalações elétricas
Instalações de exibição
Fogo posto
Colapso do edifício
Queda de objetos
Destroços
Destruição parcial ou total,
carbonização e
enegrecimento da superfície
dos objetos;
Destruição parcial ou total
dos objetos;
Implementação de sistema
de deteção e alarme;
Verificação dos sistemas de
segurança, como os
extintores;
Verificação de quadros
elétricos antigos;
Evitar a proximidade dos
bens com materiais
inflamáveis e equipamentos
de aquecimento;
Verificação da resistência do
edifício;
Inspeção regular de
elementos soltos;
Colocação de travamentos
nas prateleiras;
Elaboração de um Plano de
Emergência Interno de forma
a minimizar os efeitos de
acidentes e catástrofes;
– Fogo/Sismos
Medidas de prevenção para bens de diferentes materiais
As madeiras, por libertarem ácidos acéticos e fórmicos, podem acelerar a corrosão de
metais;
Os materiais orgânicos em contato com o ferro podem tornar-se quebradiços;
Evitar o contato direto de madeira com os objetos;
Os tratamentos das madeiras com biocidas podem provocar efeitos residuais;
62
Danos e Patologias
O diagnóstico e levantamento do estado de conservação de uma peça,
seja ela de qualquer material, baseia em três pontos essenciais:
Observação, com vista desarmada ou através de materiais como lupas binoculares;
Registo fotográfico;
Elaboração de uma ficha-tipo com dados relativos ao estado de conservação da
peça;
Após estes três parâmetros os danos e patologias são identificados,
dividindo-se o processo entre o suporte de madeira e a superfície pictórica, pois
ambas as secções têm problemas diferentes. Assim sendo, no suporte de madeira
podem ser identificadas:
– Fendas
– Fissuras
– Fraturas
– Empenamento
– Desagregação
– Lacunas/Perda de Material
– Mutilação
– Orifícios de pregos
– Ataque de insetos xilófagos
– Alteração da cor do suporte
– Oxidação
– Ataque fúngico
– Intervenções anteriores
64
Ilustração 24: Esculturas com madeira danificada.
Enquanto na superfície pictórica os problemas se prendem com:
– Alterações cromáticas
– Destacamentos
– Levantamentos
– Envelhecimento da camada protetora (verniz)
– Depósitos de sujidade
– Estalados (craquelet)
– Intervenções anteriores
Esta fase pode ser considerada como uma das mais importantes, ou a
mais importante, numa intervenção de conservação e restauro. O diagnóstico tem
de ser executado na presença ou supervisão de um licenciado em Conservação e
restauro, e o papel do Técnico Profissional é, primeiramente, a de fornecer as
informações que considere pertinentes. O estudo da obra passa pela sua peritagem,
e são determinadas a época de construção, materiais e técnicas utilizadas e ainda o
estado de conservação. Desde a Análise Microquímica à Análise Física, tem de
assegurar que todos os pormenores são estudados cuidadosamente e que todas as
informações essenciais são recolhidas. Só depois de reunidos estes dados se dá
início à metodologia de intervenção.
Para facilitar a tarefa do tratamento de dados é normalmente utilizada
uma ficha-tipo, onde se reúnem todas as informações relativas à peça, partindo da
identificação do proprietário, da peça, dos estudos, técnicas e materiais, como
análises e exames realizados, e levantamento de patologias, entre outras
infirmações que sejam pertinentes. A metodologia de intervenção vai estabelecer
assim um plano de ação de conservação e restauro, sendo única para cada peça,
65
visto que cada caso é um caso. Esta metodologia de intervenção pode sofrer
alterações durante os trabalhos de conservação e restauro, caso o Técnico
Profissional assim o achar, e devido a fatores extrínsecos e intrínsecos, devendo
estas alterações ser imediatamente comunicadas.
66
Identificar prioridades de ação
Um dos aspetos mais importantes para a preservação de um acervo
museológico é implementar um plano de controlo integrado de infestações, que
devem ser identificadas de forma a entender as suas vulnerabilidades e estabelecer
os métodos mais adequados para o seu controlo e eliminação.
Deve começar-se por identificar as prioridades de ação de acordo com
as particulares do edifício onde está inserido o acervo, e do próprio acervo, tomando
conhecimento de ocorrências passadas e definindo os métodos disponíveis de
combate a organismo indesejáveis, e a partir daí definir estratégias específicas para
cada caso.
Torna-se necessário saber:
– Quais os conjuntos de bens culturais, dentro da totalidade do acervo, que
apresentam maior risco de ataque biológico;
– Quais as zonas do edifício que apresenta maior risco de presença de pragas;
– Quais as atividades realizadas no museu que apresentam maior risco favorecendo
a presentam ou a entrada de pragas;
Conservação Preventiva e Curativa
Neste plano a atenção é direcionada à materialidade do bem cultural,
implicando a observação dos problemas de consistência física das esculturas. De
68
acordo com a norma, a avaliação do estado de conservação de uma escultura pode
ser – Muito Bom, Bom, Regular, Deficiente e Mau. Estes parâmetros são
estabelecidos através dos dados macroscópicos recolhidos pela observação direta
do objeto. Esta observação terá implicações importantes na identidade da peça e
poderá servir para estudos posteriores. Este exame visual ajuda à manutenção de
um bom estado de conservação e à boa prática da conservação preventiva,
correspondendo a um diagnóstico preliminar. Esta avaliação também deverá ter em
conta as caraterísticas físicas de cada um dos materiais presentes no bem cultural.
Desta forma, as alterações mais frequentes na escultura de madeira policromada
são as alterações cromáticas, os craquelés e estalados, o destacamento de
fragmentos de policromia e da folha metálica, as próprias perdas de policromia,
além daquelas alterações que são comuns a toda a escultura como a alteração da
cor do suporte, resultante da exposição aos raios UV, alteração da textura, depósito
superficial da matéria, fendas, fissuras, fungos e insetos xilófagos em atividade.
Faz parte deste processo todo um léxico que, de uma forma geral, expõe
o que se pode realizar para minimizar ou estabilizar os danos e patologias atrás
mencionados. Assim pode proceder-se à:
– Aplicação de adesivo
– Aplicação de camadas protetoras
– Aplicação de materiais de preenchimento nas lacunas
– Colagem
– Conservação
– Consolidação
– Controle de atividade biológica
69
– Desinfestação
– Estabilização
– Fixação
– Inibição
– Integração cromática
– Intervenção agressiva
– Limpeza de poeiras
– Limpeza mecânica
– Limpeza química
– Montagem
– Preservação
– Reconstituição
– Remoção de cera, manchas e vernizes
– Remontagem
– Restauro
– Substituição de elementos de ligação
– Tratamento de emergência
Após a fase de estabelecimento do estado de conservação do bem
cultural, e identificadas as alterações, modificações e fatores de degradação, é
necessário reconhecer, com rigor e precisão, o que é original e o que é
acrescentado, recorrendo-se para isso a exames científicos. Estes métodos podem
ser invasivos, como as análises microquímicas, ou não invasivas, aqui incluídas a
fotografia sob luz rasante, com radiação IV ou UV, e a radiografia.
Os exames não invasivos iniciam-se, como já foi atrás referido, pela
70
pela observação da escultura, primeiro à vista desarmada, e depois com observação
à lupa binocular. A fotografia é também um auxiliar importante nesta fase, e permite
obter conhecimentos vários e em pormenor sobre a obra em questão, não apenas
sobre zonas pontuais mas na totalidade. A fotografia sob luz rasante é importante
porque coloca em evidência elementos que de outra forma não eram tão visíveis,
acentuando também as alterações e variações de regularidade da superfície. Já a
macrofotografia, pela grande ampliação, permite a sobre-elevação das diferenças de
camadas pictóricas originais e dos repintes, facilitando a observação dos craquelés,
bem como os destacamentos da camada pictórica. A técnica fotográfica de
reflectografia de infravermelho é baseada na permeabilidade das camadas
pictóricas à radiação IV, permite visualizar elementos subjacentes às camadas
pictóricas visíveis, e permite igualmente detetar repintes, assinaturas e datas pouco
legíveis.
Outro processo bastante utilizado é o exame de fluorescência de
radiação ultravioleta, que se baseia na fluorescência que esta radiação provoca nos
materiais, dependendo da sua natureza e aumenta com o processo de
envelhecimento. Em regra, os materiais mais recentes são menos fluorescentes do
que os antigos, surgindo como manchas mais ou menos escuras conforme o
envelhecimento. Alguns pigmentos, como o branco de zinco e o vermelho de
cádmio, fluorescem com cores caraterísticas, ajudando na identificação de outros
pigmentos. A radiografia também permite estudar os objetos através das diferenças
de comportamento que apresentam quando atravessados pela radiação X. Estas
variações variam conforme o grau de opacidade dos materiais e da sua natureza
química, quanto maior for o seu número atómico e a massa especifica, maior a sua
opacidade. Os materiais que apresentam uma maior absorção de radiação
71
provocam manchas brancas mais densas, e, além do mais, permite identificar
técnicas construtivas e decorativas e detetar alterações introduzidas ao nível do
suporte ou das camadas pictóricas.
Os exames invasivos destinam-se sobretudo à análise das camadas
pictóricas, pois são necessários métodos químicos e físicos que exigem a recolha
de pequenas amostras de material. Estas amostras devem ser recolhidas
transversalmente à superfície pictórica de forma a determinar a estratigrafia e
espessura da preparação e das camadas pictóricas. Para a identificação dos
pigmentos existem vários métodos, testes microquímicos, pouco dispendiosos e
fáceis de usar, e permitem saber o tamanho das partículas dos pigmentos e a sua
cor. Este processo baseia-se numa reação química que forma precipitados
cristalinos característicos de cada pigmento e que assim se tornam fáceis de
identificar microscopicamente. Para identificar aglutinantes e materiais orgânicos
utiliza-se a espectrofotometria da absorção de IV e também os métodos
cromatográficos, processos que ajudam também na determinação das técnicas
usadas.
Testes de solubilidade e de resistência de pigmentos
Os testes de solubilidade e de resistência de pigmentos são a primeira
fase de intervenção direta num bem cultural. Estas provas ajudam a verificar se os
agentes químicos não vão degradar as camadas pictóricas durante a limpeza
72
química. Neste processo são testados vários solventes com o objetivo de atingir os
melhores resultados de limpeza. Os testes são efetuados por zonas de cor porque
cada pigmento tem comportamentos diferentes em relação à resistência,
dependendo da sua origem.
Normalmente é construída uma tabela onde são referidas as zonas de
cor a testar e os dois tipos d teste a realizar. Utiliza-se uma escala de 1 a 5, em que
o 1 corresponde a fraco e o 5 a muito bom.
Na tabela o teste A corresponde ao de solubilidade de sujidades, e o B
ao de resistência dos pigmentos. A escala dos valores é a seguinte: 1-Mau, 2-Fraco,
3-Médio, 4-Bom e 5-Muito Bom. Com esta tabela são assim estabelecidos os
melhores agentes de limpeza química, eliminando logo as hipóteses que, apesar de
limparem muito bem, desgastam as camadas cromáticas, principal fator a considerar
na escolha dos produtos.
73
Ilustração 25: Ficha de resistência de pigmentos e solubilidade de sujidades.
Bloqueio de Pestes
De um modo geral, não é possível eliminar completamente as pragas
presentes num edifício, sendo assumida como principal preocupação o impedimento
de acesso destas pestes ao acervo, a sua procriação e ainda tentar diminuir a sua
sobrevivência dentro da instituição. É muito difícil eliminar estes fatores porque quer
a temperatura, quer a humidade agradáveis ao conforto humano são-no também
para os insetos. Por isso mesmo é necessária a implementação de ações que
previnam a entrada de pragas mas permitam o normal funcionamento da instituição.
Estas ações começam pelo controlo integrado da área circundante ao
edifício, mantendo uma limpeza cuidada e frequente, evitando a acumulação de lixo
perto da instituição. Deve existir igualmente uma área em redor ao edifício livre de
vegetação.
Tal como no interior, a iluminação deve ser adequada, tentando, quando
os museus são iluminados durante a noite, adotar um sistema de iluminação que
atraiam menos os insetos, pois as luzes atraem borboletas noturnas e aumentam
assim a possibilidade da sua entrada no edifício.
Um aspeto fundamental para a prevenção de infestações é a limpeza
frequente e cuidada do edifício museológico, porque uma limpeza bem gerida é
capaz de garantir a eliminação de cerca de 80% das pestes que se encontram no
local. Dá-se especial atenção às zonas frequentadas pelos visitantes, mas locais
pouco utilizados não podem ser negligenciados. Os armários devem permitir a sua
limpeza e devem distanciar-se das paredes alguns centímetros de forma a permitir
isso mesmo. Em museus de grandes dimensões ou com poucos recursos deve
efetuar-se um plano, um sistema de rotação, que permita a limpeza correta de todas
74
as áreas pele menos quatro vezes por ano. Nestas zonas estão incluídos os
armazéns dos quais todos os armários, gavetas e prateleiras devem ser limpas
periodicamente, assim como todas as superfícies que permitam a acumulação de
poeiras.
Para prevenir a entrada de pestes é necessário também que exista uma
correta isolação de todas as saídas de ar, principalmente de portas e janelas, e
quando for possível haja grelhas de malha apertada para evitar a entrada de
pequenos insetos. Se no edifício existirem áreas onde ocorra preparação e consumo
de alimentos, deve haver uma atenção redobrada. Estas áreas são propícias à
acumulação de lixo, que devem ser despejados diariamente, e os contentores
desinfestados regularmente. Sítios quentes, junto a equipamentos elétricos, e
húmidos, como instalações sanitárias, são propícios à proliferação de insetos, sendo
para isso importante a administração das temperaturas e humidade relativa
adequadas.
Há insetos que se adaptam bem a condições variadas. É possível limitar
a sua presença estabelecendo valores de temperatura e humidade relativa
apropriados, mas tendo sempre como prioridade a conservação do acervo. No caso
dos fungos, que se propagam através de esporos invisíveis à vista desarmada, é
impossível evitar o seu depósito na superfície dos objetos. Daí ser importante que a
humidade relativa se situe entre os 45% e 55%, dificultando ou impedindo a
geminação desses esporos. Em edifícios que não tenham um sistema de
climatização ou sistema de ar condicionado também é possível tomar precauções
que evitem a propagação de pestes. Deve começar por haver uma ventilação
adequada, seguida da proteção dos objetos que não se encontram nas vitrinas,
através de embalagens adequadas ou, se não houver condições para tal, cobertos,
75
devendo ser limpos com regularidade, utilizando equipamento e material adequado,
e afastados de zonas húmidas.
Além dos pequenos insetos é necessário ter em atenção a população de
pequenos roedores, e monitorizar a sua presença. Isto permite identificar as
espécies e o seu número, fornecendo dados para o planeamento de meios de
combate adequados, para que não haja uma atuação excessiva e mal direcionada.
Para impedir a entrada de roedores é necessária a vedação de todas as
entradas, mas de forma a não impedir a ventilação. Para isso utilizam-se materiais e
técnicas de construção e redes de malhas apertadas que sejam resistentes. Este
aspeto não se refere apenas às portas e janelas, mas a qualquer tipo de aberturas,
pois os roedores são, na sua maioria, bons trepadores e nadadores, conseguindo
entrar em fendas com poucos centímetros. Já no que se refere às aves, estas
podem ser evitadas se no edifício não houver condições para o seu abrigo e
nidificação. Locais como parapeitos de janelas e varandas devem ser protegidos por
espigões, redes e outros resguardos.
Não é só necessário colocar em prática todas estas ações, é sobretudo
imprescindível a sua manutenção e eficácia. Para ajudar a tal, recorre-se a
armadilhas, não como método de controlo da população mas como método de
deteção. As armadilhas para roedores são fáceis de adquirir no mercado, usadas
com isco ou pesticida, enquanto para os insetos existem três tipos de armadilhas –
armadilhas ultravioletas, autocolantes simples e com feromonas. As primeiras são
úteis na captura de insetos voadores que se encontram no interior do edifício, mas
são prejudicais para as pessoas e bens culturais, levando a um planeamento sobre
a sua localização. As armadilhas autocolantes são pequenos prismas triangulares
de cartão, revestido com autocolante e que captura os insetos que por ele passam.
76
São colocados no chão, junto de paredes, nos locais que se achem de
passagem de insetos, mesmo em áreas pouco utilizadas. Se não houver
desconfiança de um surto de insetos, estas armadilhas podem ser verificadas de
dois em dois meses, e quanto mais forem utilizadas mais insetos serão capturados.
A distribuição deve contudo ter em conta os recursos financeiros e humanos do
museu, e as informações sobre o número, identificação dos insetos, e local de
captura devem ser registados para conclusões serem tiradas e para que
tratamentos futuros sejam mais eficazes. As feromonas são químicos libertados por
alguns insetos com o intuito de atrair os machos durante o período de
acasalamento. Cada inseto tem uma feromona específica e nos museus as mais
utilizadas são as que atraem as espécies Tineola bissellialla e Anobium puntactum.
Estas armadilhas apenas capturam machos, e o seu raio de ação é bastante largo,
só se tirando conclusões corretas com uma aplicação e observação bem feitas. Tal
como nas armadilhas ultravioleta deve ter-se em conta a sua localização para que
não sejam atraídos insetos do exterior, e como estas, devem ser colocadas ou
penduradas a uma distância do solo superior a 150cm, pois o seu objetivo é a
captura de insetos voadores.
77
Ilustração 26: Esculturas com madeira danificada.
Manutenção dos objetos
Para controlar as infestações a medida mais importante, como tem sido
assinalada é a prevenção. Por isso mesmo, as monotorizações e vistorias
frequentes são imprescindíveis. Quando bens culturais circulam entre instituições é
necessário que haja uma atenção redobrada porque estes podem ser um foco de
infestação importante. É essencial que no museu exista uma sala de quarentena
onde se pode proceder á observação e tratamento dos objetos em questão, quer
estes integrem a coleção ou se destinem à reserva. Como a visualização de larvas
não é muito difícil de percecionar, este período é fulcral para que, se assim existir, o
ataque biológico seja isolado e tratado, evitando a contaminação de todo o acervo.
O esquema que se segue assinala as diferentes fases de atuação para este tipo de
tratamento.
Ilustração 27: Esquema com as diferentes fases de atuação para a incorporação ou
receção de objetos.
78
Tratamentos em bens culturais infestados
Caso se dê conta de uma infestação a larga escala dentro do edifício
museológico, poderá ser necessário recorrer aos serviços de uma empresa
especializada, procedendo-se a estudos que deem a conhecer os químicos e a
escolha do sítio a aplicá-los. Quando é detetada a presença de um inseto nocivo
durante a inspeção, deve proceder-se imediatamente ao isolamento dos bens
culturais afetados e realizar os tratamentos de desinfestação necessários.
Os métodos mais utilizados hoje em dia são o de anóxia e o de exposição a baixas
temperaturas, por serem aqueles menos agressivos e mais fiáveis, e o recurso
químico só se aconselha em casos extremos. Os métodos são escolhidos conforme
o bem cultural que será intervencionado, em função dos seus materiais e da
extensão do ataque.
O método de exposição a baixas temperaturas é aconselhável para
todas as fases do ciclo de vida dos insetos, revelando-se extremamente eficaz
quando usado corretamente. Neste método os objetos são isolados em manga
plástica, selada e colocados a -30ºC durante três dias no mínimo. Esta temperatura
tem de ser atingida em menos de quatro horas, levando muitas vezes à construção
de estruturas próprias, porque no momento de manuseamento a peça encontra-se
extremamente frágil. Este suporte garante assim um manuseamento seguro e a
integridade física do objeto. Depois deste período, o objeto deve ser retirado da
câmara frigorífica e colocado em segurança até voltar a atingir a temperatura
ambiente, retirando posteriormente a embalagem plástica, passados pelo menos
dois dias. Quando os aparelhos não conseguem atingir os -30ºC, pode recorrer-se a
outros estimando o tempo necessário para o método surtir efeito, mantendo-se o
79
resto do tratamento igual. Mas, nem todos os objetos podem ser submetidos a este
tratamento, e este deve ser efetuado por pessoal qualificado que conheça as
limitações de cada situação.
Já o método da anóxia segue o princípio de que não há vida sem
oxigénio. Os objetos são assim colocados num compartimento plástico, designado
de bolha, onde a atmosfera é modificada através da substituição do oxigénio por
outro gás, levando à eliminação de todos os tipos de insetos, qualquer que seja a
fase do seu ciclo de vida. Os gases utilizados podem ser vários, pode usar-se o
dióxido de carbono, concentrado pelo menos a 60%, variando o tempo de exposição
a tal atmosfera. Pode igualmente usar-se o nitrogénio, mas este só é eficaz a partir
de concentrações superiores a 99%, isso faz com que o material usado no
compartimento seja absolutamente impermeável ao oxigénio. Este processo é
bastante dispendioso e é utilizado em objetos de reduzidas dimensões.
Para a total desinfestação do edifício outro tipo de químicos têm de ser
utilizados, como o brometo de metilo e as fosfinas. O primeiro, além de ser um gás
tóxico, é muito prejudicial para o ambiente, e por isso foi proibido pela União
Europeia, sendo utilizado em Portugal apenas para o escoamento de produtos ainda
existentes em armazém. As fosfinas são bastante eficazes e o procedimento é muito
semelhante ao do produto anterior. Pode apresentar alguns problemas em certos
materiais quando os valores de humidade relativa estão elevados. Estes métodos,
principalmente o último, só devem ser considerados quando todas as outras opções
são excluídas.
80
81
Ilustração 28: Preparação de um objeto para
desinfestação pelo método de exposição a baixas
temperaturas.
Ilustração 29: Método da anóxia.
Restauro
Um conservador-restaurador tem a seu cargo uma dupla função. Ele
assume, quer o papel de conservador, tendo que levar a cabo o estudo da causa de
deteriorações nos bens culturais e a sua respetiva estabilização, quer, na figura de
restaurador, restituir a esses mesmos bens culturais, a sua estabilização física e
aparência.
No papel de restaurador atua diretamente sobre as obras e deverá ter
sempre presente os princípios éticos que tal lhe impõe, como forma de salvaguarda
da autenticidade histórica e artística do bem cultural intervencionado. É por isso
mesmo que é necessário um estudo profundo sobre as vicissitudes históricas,
materiais e mesmo dos processos de deterioração, e interligando todos estes
fatores ter como resultado o êxito da tarefa de restauro, mas tendo em atenção que
só se pode preservar o que se conhece.
Uma intervenção de restauro modifica sempre a obra de arte, contudo,
devem ser seguidos princípios básicos que assegurem a sua autenticidade. Todo o
restauro deve ser precedido de um exame, como atrás referido, e com o qual se
pretende identificar todos os elementos constituintes da peça, tal como o seu estado
de conservação. Todas estas intervenções devem seguir o princípio da
reversibilidade para que, caso haja necessidade, se remova qualquer material
utilizado sem danificar ou acelerar a deterioração do bem cultural. Este conceito de
reversibilidade é, por vezes, difícil de respeitar, visto que até os próprios métodos de
limpeza podem ter efeitos irreversíveis. Por motivos como este, o conceito de
reversibilidade torna-se um pouco irrealista, o que conduziu à adoção do princípio
da intervenção mínima, intervenção apenas efetuada quando a sua necessidade se
torna extremamente necessária, resultado, por exemplo, de condições instáveis do
meio ambiente ou de processos de deterioração, limitando-se estritamente ao
necessário. Além disto, esta intervenção tem de respeitar o aspeto histórico e
estético do objeto, assim como a sua matéria original.
Durante o processo de restauro todos os materiais e métodos utilizados
têm de ser documentados e justificados de forma clara, constituindo uma memória
da intervenção e um instrumento de comunicação que estabelece um diálogo
profissional entre todos aqueles que pretendem conhecer a peça. Antes de se
proceder à intervenção é necessário ponderar-se todas as soluções possíveis,
acabando por escolher a mais adequada à situação. É necessário também conhecer
a priori a natureza dos materiais que vão ser empregues com o intuito de tomar
conhecimento sobre reações futuras. É claro que estes materiais têm de ter duas
características fundamentais – estáveis quimicamente e a nível da sua resistência
82
física, fatores que não aceleram a deterioração e que podem ser reversíveis, e
sempre que possível serem o mais semelhantes possível aos originais.
Como cada peça é um caso específico, e tal não permite a existência de
um método universal, há necessidade de realizar testes preliminares, de
solubilidade, fixação e consolidação. Além do estudo particular e dos resultados
obtidos, estes podem ser completados com outros estudos já existentes sobre os
produtos escolhidos e que permitem ter uma noção sobre a sua ação.
Durante muito tempo as pessoas que intervencionavam os bens culturais não
tinham conhecimentos suficientes para uma tarefa tão complexa, acabando por
alterar as obras a nível formal e decorativo, muitas das vezes deixando pouco da
peça original ou provocando danos irreversíveis. Utilizavam materiais não
reversíveis e incompatíveis com os originais, acabando por ajudar na destruição da
peça.
Atualmente o conservador-restaurador está sujeito a um Código Ético e
Deontológico que nunca pode ser ignorado e deve ser sempre aplicado em cada
intervenção. Este Código Ético e Deontológico é composto por 25 artigos que
abordam os princípios gerais de aplicação do próprio código, as obrigações para
com os objetos culturais, o proprietário desses bens, para com os colegas e para
com a própria profissão. Para se ter uma ideia dos aspetos abordados, seguem-se
alguns dos artigos presentes na parte das obrigações para com os objetos culturais:
Artº 5 – O conservador-restaurador deve respeitar a técnica, o aspeto
estético, o significado histórico e a integridades física do objeto cultural que lhe foi
confiado;
Artº 9 – O conservador-restaurador deve empenhar-se em usar materiais e produtor
de acordo com os conhecimentos científicos e não prejudicar os objetos […] A ação
dos materiais usados não deve interferir, tanto quanto possível, com quaisquer
exames futuros, tratamentos ou análises. Devem também ser compatíveis com os
83
materiais da peça e tanto quanto possível, fácil e completamente reversíveis;
Artº 15 - O conservador-restaurador não deve remover material da peça, a não ser
que seja indispensável para a sua preservação, ou interfira substancialmente com o
valor histórico e estético da peça. Materiais que se removam devem ser
conservados, se possível, e o processo inteiramente documentado.
Além do Código Ético e Deontológico, o conservador-restaurador tem
também uma Deontologia própria. Esse processo ético também tem fundamentos
básicos que de uma forma geral abordam as responsabilidades e deveres dessa
profissão, o que pode e deve, ou não, ser feito perante os bens culturais
intervencionados. Assim:
• Antes de qualquer intervenção, o estado de conservação da obra, os materiais e
técnicas que lhe estão inerentes, bem como os a utilizar na intervenção devem
constituir objeto de estudo e análise o mais detalhadamente possível;
• As evidências históricas contidas na obra não devem ser removidas, alteradas ou
destruídas;
• Qualquer ação deve seguir a regra de intervenção mínima, de modo a respeitar o
máximo possível os originais;
• Ter em conta o aspeto da reversibilidade tanto dos materiais utilizados mas também
do ato em si mesmo. Cada tratamento deve poder-se anular sem deixar marcas;
• Permitir a salvaguarda da maior quantidade possível de materiais originais e utilizar
materiais que sejam compatíveis com estes, tanto a nível de caraterísticas físicas,
químicas e mecânicas, mas também no aspeto harmónico no que se refere à cor e
textura sem que possam ser confundidos com materiais originais quando observados
de perto;
• As intervenções devem ser da responsabilidade de pessoas especialistas no
domínio da conservação e restauro;
84
Limpeza
A limpeza é um processo que requer paciência e minúcia. A limpeza
deve entender-se como a remoção da sujidade, a nível parcial ou total, e que
contribua para a modificação da aparência original da peça. A limpeza tem como
principal função a remoção de corpos estranhos, ou seja, materiais que não se
encontravam originalmente no objeto e que se foram misturando com os seus
próprios materiais. A limpeza pode ser efetuada mecanicamente, com processos
físicos, ou por via húmida, através de reações químicas que dissolvem a sujidade. A
escolha dos produtos a utilizar também passa por certos critérios que avaliam o seu
respeito pelo objeto e a sua toxicidade. O facto de uma errada utilização de produtos
levar a consequências irremediáveis, deve questionar-se sempre o porquê da
limpeza, qual será o seu efeito e sobretudo se a peça aguentará tal intervenção.
Normalmente, a primeira limpeza é efetuada através de processos
mecânicos, recorrendo a escovas macias e a aspiradores que evitam o depósito de
poeiras noutras zonas. Já numa segunda fase, efetua-se a limpeza química das
camadas cromáticas, sujeitas a uma maior agregação de sujidades. É sobre estas
superfícies que se encontram grandes quantidades de vernizes, a maioria oxidado,
que ocultam as verdadeiras cores da obra, mas também são um fator positivo
porque basta retirá-lo para que as sujidades nele agregadas sejam removidas. São
utilizados solventes para dissolver as resinas e repintes, e eliminar vernizes.
Durante o processos, depois de se removeram as sujidades e vernizes, passa-se a
remoção dos repintes, caso estes existam, muitas vezes removidos
estratigraficamente pois podem surgir zonas sem informação cromática. Em todos
os casos é necessário ter em conta as fichas técnicas dos produtos, os cuidados de
85
manuseamento e tempos máximos de exposição. Os solventes devem ser utilizados
em locais de trabalho bem arejados ou com sistemas de ventilação para evitar
intoxicações, manuseados com equipamento adequados e guardados em locais
próprios e seguros.
Estabilização
O conceito de estabilização relaciona-se com o restabelecimento da
forma, aparência e funções originais do bem cultural, assim como o cessamento das
reações químicas que levam à sua deterioração. Este processo pode envolver:
• Destruição de microrganismos
• Tratamento das alterações geradas pelos microrganismos
• Destruição de microrganismos
• Transformação de produtos de alteração instáveis em produtos
estáveis
86
Ilustração 30: Limpeza mecânica de um objeto
com pincel e aspiração.
Com a inibição é possível uma estabilização química e a deterioração é
retardada. Os produtos mais utilizados para uma estabilização são ceras e resinas,
sintéticas ou naturais, resinas de poliéster e mantas de vidro. Já na estabilização
química recorre-se a compostos químicos que inibem a formação dos produtos de
alteração instáveis.
Consolidação
A consolidação tem como objetivo
‘fortalecer’ o objeto, tentando estabilizá-lo a nível
físicoe químico. Para tal, recorre-se a um produto que
penetre no interior da peça de forma a consolidá-la
com profundidade, melhorando a sua coesão,
caraterísticas mecânicas e ainda a adesão entre as
suas camadas alteradas. A consolidação pode
ser realizada através de pincelagem, imersão ou
injeção. Os consolidantes têm de apresentar certos
requisitos como a penetração profunda e a uniformidade
no material, a estabilidade física e química e a não alteração
da cor do substrato. Aqui também se podem usar produtos orgânicos, como resinas
sintéticas, ou inorgânicos. Os produtos orgânicos têm uma maior adesão mas no
entanto reagem facilmente ao oxigénio, o que leva à diminuição da sua resistência,
87
Ilustração 31: Consolidação por injeção.
uma menor elasticidade, são mais duráveis e pouco se alteram com o
envelhecimento.
Fixação
Este processo pretende a manutenção e/ou o restabelecimento do
equilíbrio físico de uma peça. Os materiais utilizados neste processo são sobretudo
adesivos que, quando aplicados, formam uma película sólida. Mais uma vez são
utilizadas resinas sintéticas, ceras naturais ou colas de origem vegetal ou animal.
As variações termo-higrométricas são as principais responsáveis pelos
destacamentos das camadas pictóricas. As variações da própria madeira quando
absorve água, aumentando de volume, fazem com que as camadas pictóricas não
consigam acompanhar esses movimentos, partindo-se e criando os craquelés.
Quando o contrário acontece, ou seja, quando há desidratação da madeira, as
camadas pictóricas criam bolsas de ar, sendo este caso pior do que o anterior
porque há o perigo eminente de destacamento. Se isto acontecer é necessário
recorrer a uma pré-fixação das mesmas, usando aglutinantes para que as zonas
levantadas assentem sobre o suporte. Os aglutinantes são também estudados para
cada tipo de situação. Em casos de destacamento extremo deve recorrer-se a outra
técnica de fixação, como o facing, de forma a permitir o manuseamento das peças
ou a sua desmontagem. Esta técnica tem duas funções – proteger as camadas
cromáticas e evitar que haja grandes destacamentos, enquanto os inorgânicos,
88
apesar de possuírem ajudando a fixar zonas de destacamento através do adesivo
que penetra nas zonas levantadas.
Colagem
Processo que tem em visa a melhoria da estabilidade física do bem
cultural, tentando reconstituir a sua forma e prevenindo a sua deterioração. Tal como
o próprio conceito indica, colar é também aqui unir vários elementos do mesmo
material ou de materiais diferentes, através de um produto com propriedades
adesivas. Também aqui podemos ter produtos de origem sintética ou natural, sendo
a sua escolha condicionada pelo seu poder de adesão, capacidade de penetração,
reversibilidade e estabilidade, mas também
pela sua resistência a vários fatores, como a
humidade e o calor. Assume particular relevância
a porosidade dos materiais a colar ,a sua
resistência à humidade e temperatura e a sua
compatibilidade com solventes orgânicos, mas
também o tipo e tamanho das fraturas e o peso
do objeto na sua totalidade, bem como das
partes a colar.
89
Ilustração 32: Esquema de destacamento das
camadas pictóricas e fixação das camadas pictóricas
com cola animal.
Preenchimento de lacunas
Ao proceder ao preenchimento de uma lacuna pretende-se contribuir
para a estabilidade física de um objeto, simultaneamente reintegrando-se a camada
cromática, melhorando a leitura da obra. Em algumas destas lacunas apenas se
assiste à perda da camada pictórica, mas noutras ocorre também o destacamento
da preparação e do próprio suporte. Os materiais devem ser iguais ou o mais
próximo possível aos originais. No caso aqui estudado, de escultura policroma,
recorre-se frequentemente a misturas de uma carga, com caulino, cré ou gesso, e
de um aglutinante, cola animal, e cujas proporções são varáveis, dependendo da
peça a que se destinam, da sua consistência e do estado de conservação. As
preparações são aplicadas com espátulas de vários formatos e adequadas a cada
tipo de superfície.
Reintegração cromática
Este processo pretende proporcionar uma leitura correta da obra,
consistindo na sua reconstituição, parcial ou total, conforme for possível. Apesar de
cada peça ser um caso específico, existem critérios que são sempre seguidos na
execução deste processo, de maneira a que a reintegração seja reconhecível,
reversível e respeite o original. Muitas das vezes, por falta de informações, não é
possível reconstituir a lacuna, sendo que nesses casos não se ‘inventa’ o que
poderia lá ter estado, mas efetuando uma reconstituição cromática que permita uma
90
leitura mais consistente da obra. O método utilizado na reintegração cromática
também depende muito do tipo de lacuna com que se está a lidar, respeitando em
todos eles os limites da lacuna e utilizando materiais que permitam a sua distinção.
Existem dois métodos para a reintegração das camadas cromáticas – a
Reintegração Cromática Mimética e a Reintegração Cromática Diferenciada. No
primeiro, também conhecido como Reintegração Cromática Ilusionista, o termo
‘mimético’ refere-se a imitação, visto que se pretende imitar a zona de lacuna,
imitando as cores anteriores, e acabando por dar uma leitura pictórica igual à que se
encontra em seu redor. O segundo processo visa a diferenciação entre o original e a
zona da lacuna, assinalando este local para dar conhecimento de que ali já houve
uma lacuna. Neste método podem usar-se diferentes técnicas de reintegração –
Trattegio, onde se utilizam pequenos traços paralelos de cores puras, Pontilhismo, é
semelhante à técnica anterior, mas em vez de traços são utilizados pontos, Mancha
de Cor, é normalmente efetuada em zonas decoradas com motivos, mas na zona da
lacuna a reintegração é feita com a cor de fundo e não se imitam os motivos. Existe
ainda o Tom Diferenciado, técnica onde são reproduzidos os padrões mas com tons
abaixo ou acima do original. Em todos estes casos é a leitura ótica que irá misturar
as cores e criar a ilusão de que se está perante a cor real.
Os materiais utilizados na reintegração devem ser, como em todas as
outras intervenções, o mais reversíveis possível. Para isso, utilizam-se as temperas
sob forma de aguarela pois são fáceis de remover. Em casos particulares podem
usar-se outros tipos de tinta, como as acrílicas ou vinílicas, mas sobretudo em peças
que vão estar sujeitas a condições termo-higrométricas bruscas. No caso das
aguarelas, basta passar um cotonete humedecido em água para que estas se
dissolvam, nas acrílicas e vinílicas é necessário usar solventes como o etanol ou
91
acetona.
É necessário estudar o tipo de tom a empregar porque, depois de
removidos os vernizes da superfície, os tons ficam baços e descolorados, tendo que
se proceder à ‘molhagem’ da peça de forma a simular a aplicação de verniz. Este
processo é normalmente realizado com algodão embebido em white spirit, que
destilado deve constar dos testes de resistência dos pigmentos.
No que respeita às reintegrações cromáticas em superfícies douradas, a
metodologia utilizada é basicamente a mesma. Quando a técnica do original é
efetuada em ouro de lei, na reintegração mimética utiliza-se ouro verdadeiro, ou
poder-se-ão utilizar, por exemplo, tintas acrílicas com pigmentos não oxidáveis para
o preenchimento das lacunas. Quando a reintegração for através do processo de
diferenciação, podem ser utilizados pigmentos de outro, como por exemplo, micas
em tom diferenciado ou tintas acrílicas. Em todos os casos referido nunca se pode
esquecer que as reintegrações apenas se devem limitar à zona da lacuna, nunca
sobrepondo o original pois esta ação será considerada um repinte.
Manuseamento e Transporte
Existem procedimentos gerais que permitem um correto manuseamento
e transporte dos objetos, mas também há procedimentos específicos para as
circulações interna e externa dessas mesmas peças. Assim, deve começar-se por
uma avaliação cuidadosa das zonas vulneráveis, tomando em atenção as fissuras,
92
destacamentos e fraturas, sendo que as peças com este tipo de problemas são
muito mais difíceis de manusear e transportar. Simultaneamente é necessário ter a
consciência de que na realização destas tarefas não se pode estar a realizar outras,
coisas básicas do dia-a-dia como beber ou fumar, e ainda não haver esquecimento
da utilização de equipamento com caraterísticas adequadas pois o corpo humano, e
com mais incidência, as mãos, transpõem gordura, humidade e ácidos. As luvas são
o principal constituinte deste equipamento e devem ser substituídas regularmente
pois muitos objetos são sujeitos a tratamentos com produtos tóxicos. Além deste
equipamento é importante tomar em conta o tipo de vestuário utilizado,
principalmente no que respeita ao uso de pulseiras,
anéis ou colares, bijuterias que podem riscar e
prender-se no objeto. Mais ainda, é importante dotar
os objetos de uma base segura, especialmente os de
base arredondada ou de instável equilíbrio, sendo que
a separação dos diversos elementos que compõem
uma peça e a sua estabilização é igualmente
importante.
Outro aspeto importante a referir é que um bem cultural que esteja em
avançado estado de conservação não pode ser transferido sem que antes seja
intervencionado. Pode dar-se como exemplo as esculturas que apresentem muitos
destacamentos na camada cromática e que, devido à embalagem que as protegeria
no transporte, poderiam sofrer mais degradação. Só depois de minimizados os
riscos e escolhida a embalagem correta se pode proceder ao seu transporte.
93
Ilustração 33: Diferentes tipos de luvas. Da
esquerda para a direita: luva de algodão, luva
de látex e luva de nitrilo.
As embalagens variam conforme o tipo de peça que vão proteger. Esta
pode ser efetuada em madeira, reforçada com cantos metálicos, possuindo um
sistema de suspensão da peça, para que esta não fique apoiada em nenhuma das
fazes da embalagem. Deverá também ser forrada com material térmico para evitar
aquecimentos excessivos e material impermeabilizante, para evitar o aumento de
humidade relativa.
Pode também usar-se papel alveolado ou, quando a decoração é muito
sensível, papel japonês, ambos devendo ser acid-free, para evitar alterações nos
materiais.
Agora, especificando mais a situação, há procedimentos que se devem
ter em especial atenção quando as peças são movidas internamente. Passemos a
enumerá-las:
– Conhecer e desimpedir o trajeto a efetuar;
– Desmontar os objetos constituídos por diversas peças, transportando-os
separadamente;
– Fixar elementos que sejam articuláveis ou móveis;
– Colocar as peças num carrinho de transporte, acondicionando as bases com
espuma de polietileno, de forma a minimizar as vibrações;
– No caso de objetos de maiores dimensões recomenda-se o uso de uma
empilhadora ou mesmo uma grua;
– Registo da circulação ou indicação numa ficha do motivo da deslocação, indicando
também a localização e a data de retorno do objeto;
– Verificação dos valores de humidade e temperatura entre os locais de saída e de
recolha;
94
A nível da circulação externa, os procedimentos são ainda mais, quer em
quantidade, quer a nível de exigência e segurança. Daí:
– A circulação de bens culturais é normalmente acompanhada por um courier, ou
seja, um técnico especializado que é responsável por todo o processo de
empréstimo, desde a observação até à montagem da peça ou peças em questão. È
acima de tudo o representante da instituição eu empresta a obra e tem o poder de
tomar decisões em nome dessa mesma entidade;
– Todos os objetos que saem do seu local de exposição para outro devem ser
acompanhados de um relatório onde constem todas as informações importantes
relativas ao seu estado de conservação e/ou outras relevantes, e ainda um registo
fotográfico;
– A embalagem deve ser adequada e especifica para as caraterísticas do objeto,
funcionando como prevenção contra choques, vibrações, poluentes, agentes
biológicos e flutuações de humidade e temperatura;
– Utilização de travamentos de madeira forrados com espuma de polietileno;
– Utilização de sinalização nas embalagens, no sentido da abertura, de forma a
facilitar o manuseamento e assinalar a fragilidade do objeto;
95
Ilustração 34: Manuseamento de um objeto
pesado com recurso a uma grua.
Ilustração 35: Circulação interna em carrinho
de transporte.
96
Ilustração 36: Embalagem concebida para circulação externa.
Acondicionamento
Coleção
Um bem cultural nunca deve ser exposto se o seu estado de
conservação não o permitir, assim é necessário que haja diálogo entre os diversos
intervenientes para que sejam tomadas as atitudes corretas. É necessário que,
aquando da colocação do objeto, na sala de exposição, esta esteja devidamente
pronta, limpa e isenta de qualquer tipo de poeiras, tal como é estritamente
obrigatório que os sistemas de montagem e fixação não alterem ou danifiquem os
bem culturais. Outra situação a evitar é a sua colocação próxima a portas, janelas,
corredores e outros locais que possam sujeitar as peças a condições de humidade
relativa e temperaturas desadequadas.
Reserva
Cada objeto deve estar identificado de forma clara, com número de
inventário visível para que não seja necessário o seu manuseamento. Mais uma vez
se sublinha a ideia de não colocar os bens culturais em locais de passagem, sendo
que as esculturas de pequena e média dimensão devem ser acomodadas em
prateleiras de metal, reforçadas para suportar o peso, e as esculturas mais pesadas
colocadas no chão em cima de bases ou estrados de madeira. Todos os bens
culturais devem ser acondicionados e protegidos com material inerte, onde se inclui
espumas de polietileno, papel melinex, papel acid-free, papel tissue e pano-cru.
97
Ilustração 37: Reserva em que os objetos se encontram
protegidos por melinex.
99
Como todos sabemos, a preservação do património, dentro ou fora dos
museus, não foi ainda totalmente assumida, nem tomada na devida conta pelos
governantes. Assim, a implementação de um sistema de normas essenciais, cuja
utilização seja obrigatória dentro de todos os organismos públicos, poderá constituir
um meio eficaz para sensibilização da sua importância. Além disso, é necessária a
definição de estratégias de comunicação para públicos diferenciados, desde
crianças a idosos, que poderá poderá constituir outro meio de aumentar a
consciencialização das necessidades da conservação do património e dos
benefícios, económicos, científicos e sociais, que ela produz.
Ao longo da realização deste trabalho demos contra que a bibliografia
nacional, ou traduzida para português, sobre conservação preventiva é escassa.
Embora este aspeto seja hoje minimizado em parte pelo acesso à Internet, e pela
disponibilização on line de bibliografia, seria importante investir em publicações,
adequadamente ilustradas e mostrando condutas a seguir em casos paradigmáticos
que servissem de apoio aos que tenham de tomar decisões nesta área. Acreditamos
também que devido à falta, em muitos museus, de equipamento mínimo necessário
à conservação preventiva, de profissionais especializados capazes de aplicar e
difundir metodologias corretas, da criação de um sistema informático,
constantemente atualizado, é difícil ultrapassar carências relacionadas com a
conservação e restauros dos bens culturais, o que por vezes leva à mutilação, ou
mesmo à perda de muitos objetos. Acreditamos contudo que alguns museus já se
encontram a elaborar planos de segurança, uma ferramenta imprescindível para a
preservação das obras, mas que por vezes são esquecidos e não atualizados, uma
falha que deve ser remediada.
Ao elaborarmos este manual, tínhamos também a esperança, e acreditamos que,
100
num futuro próximo, devido ao que se tem feito nos últimos anos, a conservação
preventiva vai constituir a primeira medida de conservação do nosso património
cultural, o que facilitará muito a preservação dos objetos, possibilitando às gerações
futuras o contato.
Sobretudo pretendíamos incidir na importância da salvaguarda,
investigação e conservação destes bens materiais específicos, mas não
descuramos todos os outros. Queríamos difundir normas, metodologias e boas
práticas para as disciplinas da conservação e restauro sobre esculturas de madeira
policromada. Igualmente, quisemos assinalar a importância que uma boa
manutenção e inspeção dos espaços podem ter na preservação ou degradação dos
objetos, pronunciar-nos também em relação à movimentação desses mesmos bens
e aos cuidados a ter durante essas expedições temporárias ou definitivas, com vista
à sua salvaguarda.
Acetila – Em química orgânica, a acetila é um grupo funcional com fórmula química
COCH3.
Acetilação – Reação que introduz um grupo funcional acetila num composto
orgânico.
Álcool furfurílico – É um composto orgânico , contendo um furano. É incolor, mas
torna-se âmbar se armazenado por muito tempo. Mistura-se com facilidade, sendo
instável na água, e solúvel na maioria dos solventes orgânicos.
Anidrido acético – Composto químico com fórmula (CH3CO)2O. É um dos mais
simples anidridos de ácidos e é largamente usado como reagente em síntese
orgânica. É um composto incolor que cheira fortemente a ácido acético.
Anidrido cíclico – É um derivado do ácido carboxílico.
Anisotrópica – Qualidade de certos materiais cujas propriedades são diferentes
consoante as direções, consequência de uma diferença nos índices de refração.
Bate-folhas – Artífice que trabalha o ouro, prata ou outros metais em folhas
delgadas que serão utilizadas para o dourar, pratear ou aplicar nos acabamentos de
esculturas.
Bioetanol – Género que compreende todos os processos de obtenção de etanol e
cuja matéria-prima empregada é a celulose. É um tipo de biocombustível, produzido
a partir da fermentação de hidratos de carbono (açúcar, amido, celulose).
Bollús de arménia ou Bolo arménio – Argila extrafina, de tom vermelho, e que se
coloca sobre o revestimento de gesso.
Brunir – Polir.
Buril – Ferramenta de metal que permite gravar ou insculpir numa superfície dura.
Celulose – É um dos principais constituintes das paredes
celulares das plantas (cerca de 33% do peso da planta), em combinação com
102
a lignina, hemicelulose e pectina e não é digerível pelo homem, constituindo
uma fibra dietética. A celulose tem uma estrutura linear, fibrosa e húmida, na qual se
estabelecem múltiplas ligações de hidrogénio, fazendo-as impenetráveis à água e,
portanto, insolúveis, originando fibras compactas que constituem a parede celular
dos vegetais.
Corte estratigráfico – Corte vertical que permite estudar a estrutura pictórica de
uma obra, o seu número de camadas, desde os repintes, vernizes, colas, velaturas,
e como fazer a análise química dos componentes de cada camada.
Craquelés – Pequenas fissuras que atravessam a pintura e preparação apanhando,
ou não, todas as camadas até ao suporte. Acontecem devido a várias causas, como
as próprias movimentações do suporte, perda de coesão das massas ou devido à
má execução da peça.
Dureza Brinell – É um método de medição da dureza, utilizado principalmente nos
materiais metálicos. Este método foi proposto em 1900, pelo engenheiro
sueco Johan August Brinell.
Enxós – Ferramenta parecida com um machado ou com uma plaina, com lâmina
curva e utilizada para trabalhar a madeira.
Extrativos – São considerados constituintes secundários e são compostos químicos
que não fazem parte da parede celular, estando principalmente presentes na casca.
Eles englobam óleos essenciais, resinas e pigmentos.
Furfurilação – Modificação por impregnação através de álcool furfurílico.
Goiva – Ferramenta de trabalho com forma semelhante ao formão, mas com a parte
superior mais delgada, utilizada para talhar zonas curvas.
Graminho – Instrumento para tirar medidas pequenas (aproximadamente até
10cm), e utilizado normalmente para trabalhos em madeira.
Hemicelulose – É um polissacarídeo. Junto com celulose, a pectina e as
glicoproteínas, formam a parede celular das células vegetais.
103
Hidroxilo – Em química é um grupo funcional presente nas bases dos hidróxidos,
representado e formado por um átomo de hidrogénio e um de oxigénio. Obtidas
geralmente através da dissociação de uma base, os hidroxilos também determinam
o carater acidobásico (pH) de uma solução.
Higroscopicidade – Capacidade que certos materiais possuem de absorver água.
Lenhina – É uma macromolécula tridimensional amorfa encontrada nas plantas
terrestres, associada à celulose, cuja função é a de conferir rigidez,
impermeabilidade e resistência a ataques microbiológicos e mecânicos aos tecidos
vegetais.
Molhabilidade – É a habilidade de um líquido em manter contato com
uma superfície sólida, resultante de interações intermoleculares quando os dois são
colocados juntos.
Monómero – Cada um das moléculas simples, de baixo peso molecular, que, sob
certas condições, se unem formando cadeias de moléculas muito longas, as
macromoléculas.
Plainas – Ferramenta geralmente utilizada em carpintarias para nivelar e determinar
a espessura das peças, e o seu próprio fabrico.
Polimerização – Reação química que dá origem aos polímeros.
Polímeros - Os polímeros são compostos químicos de elevada massa molecular,
resultantes de reações químicas de polimerização.
Polissacarídeos amorfos – São compostos macromoleculares formadas pela união
de muitos monossacarídeos. Os três polissacarídeos mais conhecidos são o amido,
o glicogénio e a celulose.
Repinte – Camadas de pintura sobrepostas à original.
104
Velatura – Camada e pintura mais rica em aglutinante do que em pigmento que se
sobrepõe a outras camadas para conseguir o tom desejado com transparência.
Xilófago – Inseto que come a madeira.
105
AA.VV. – Plano de Conservação Preventiva: Bases orientadoras, normas e procedimentos [em
linha]. Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação, 2007. [Consult. 2 Dez. 2013]. Disponível na
Internet <URL http://formacaompr.files.wordpress.com/2010/02/imc-plano-de-conservacao-
preventiva.pdf>.
ALARCÃO, Catarina – Prevenir para preservar o património museológico [em linha]. Faro: Museu
Municipal de Faro, 2007. [Consult. 2 Dez. 2013]. Disponível na Internet <URL
http://www.museumachadocastro.pt/Data/Documents/Prevenir%20para%20preservar%20o%20pat
rimonio%20museol%C3%B3gico.pdf>.
ALARCÃO, Catarina Gersão de – Introdução ao estudo material e à conservação da Escultura em
Pedra e Madeira. Coimbra: Instituto de Arqueologia - Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, 2002. Cadernos de Arqueologia e Arte, 6. ISBN: 972-9004-16-1.
ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de – História da Arte em Portugal. Lisboa: Publicações Alfa,
1993.
ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de – O Românico. Lisboa: Editorial Presença, 2001. ISBN: 972-
23-2827-1
ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de; BARROCA, Mário Jorge – O Gótico. Lisboa: Editorial
Presença, 2002. ISBN: 972-23-2841-7
ALVES, Natália Marinho Ferreira – Pintura, Talha e Escultura (séculos XVII e XVIII) no norte de
Portugal [em linha]. Portugal: Universidade do Porto, 2003. [Consult. 2 Nov. 2013]. Disponível na
Internet <URL http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/8402>.
BARATA, Carolina – Caracterização de materiais e de técnicas de policromia da escultura
portuguesa sobre madeira de produção erudita e de produção popular da época barroca [em
linha]. Lisboa: Universidade de Lisboa – Faculdade de Ciências, 2008. [Consult. 2 Nov. 2013].
Disponível na Internet <URL http://repositorio.ul.pt/handle/10451/1243>.
BARATA, Carolina; CRUZ, António João; Jorgelina CARBALLO et al. – Forma e Matéria: A
escultura barroca de Santo Estêvão do Museu de Santa Maria de Lamas, Portugal [em linha]. [s.l.]:
Centro de Estudos da Imaginária Brasileira, 2009. [Consult. 2 Nov. 2013]. Disponível na Internet
<URL http://repositorio.ucp.pt/handle/10400.14/4802>. BRUHMS, J. M. Theile – El libro de la restauración. Madrid: Alianza Editorial, 1996. ISBN: 84-206-
0799-1.
107
CÂMARA MUNICIPAL DE MÉRTOLA – Intervenção de conservação sobre três esculturas de
madeira policroma da ermida de Santa Ana (Montes Santana - S. Miguel do Pinheiro-Mértola) [em
linha]. [s/l]: CMM, 2012. [Consult. 1 Nov. 2013]. Disponível na Internet <URL
http://comum.rcaap.pt/handle/123456789/2560>.
CARVALHO, Maria João Vilhena de – Nomas de Inventário - Arte Plásticas e Artes Decorativas:
Escultura. [s.l.]: Instituto Português de Museus, 2004.
DIAS, Pedro – Estudos sobre Escultura e Escultores do Norte da Europa em Portugal. Lisboa:
Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, 1997.
ESTEVES, Bruno Miguel – A Indústria de Preservação em Portugal [em linha]. Viseu: Instituto
Politécnico de Viseu, 2009. [Consult. 2 Nov. 2013]. Disponível na Internet <URL
http://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/344>.
ESTEVES, Bruno Miguel; PEREIRA, Helena – Novos métodos de protecção da madeira:
Congresso Florestal Nacional: A Floresta num Mundo Globalizado. [em linha]. Ponta Delgada:
[Não publicado], 2009. [Consult. 2 Nov. 2013]. Disponível na Internet
<URLhttp://repositorio.ipv.pt/handle/10400.19/1071>.
ESTEVES, Lília – A constituição material das obras de arte e a sua biodeterioração [em linha].
[s/l]: Instituto dos Museus e da Conservação, 2010. [Consult. 1 Nov. 2013]. Disponível na Internet
<URL http://repositorio.utad.pt/handle/10348/282>.
ESTEVES, Lília – A Dendrocronologia aplicada às Obras de Arte [em linha]. [s/l]: Instituto
Português de Conservação e Restauro, 2003. [Consult. 1 Nov. 2013]. Disponível na Internet <URL
http://paineisnunogoncalves.org/downloads/ipcr.pdf>.
FERNANDES, Alexandre Filipe – Escultura em Madeira Policromada: Encontros de Conservação
Preventiva. Porto: [Não publicado], 2013.
LOURENÇO, Paulo B. – Metodologia para conservação de estruturas de madeira: teoria e prática
[em linha]. Guimarães: Universidade do Minho, 2012. [Consult. 2 Nov. 2013]. Disponível na
Internet <URL http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/21461>.
LUSO, Eduarda Cristina Pires; LOURENÇO, Paulo B.; ALMEIDA, Manuela Guedes de – Breve
história da teoria da conservação e do restauro [em linha]. [s/l]: Universidade do Minho, 2004.
[Consult. 2 Nov. 2013]. Disponível na Internet <URL
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/2554>.
PALA, Helena – Constituição e mecanismos de degradação biológica de um material orgânico: a
madeira [em linha]. [s/l]: Publindústria, 2007. [Consult. 2 Nov. 2013]. Disponível na Internet <URL
https://iconline.ipleiria.pt/handle/10400.8/77>.
108
PEREIRA, José Fernandes [dir.] – Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho,
2005.
QUEIMADO, Paulo; GOMES, Nivalda – Conservação e Restauro de Arte Sacra, Escultura e Talha
em suporte de madeira: Manual Técnico [em linha]. Coimbra: CEARTE, 2007. [Consult. 1 Nov.
2013]. Disponível na Internet <URL
http://opac.iefp.pt:8080/images/winlibimg.exe?key=&doc=73329&img=469>.
SÁ, Sílvia Cristina Carvalho – A transformação da profissão do conservador-restaurador: um
estudo da socialização e construção das identidades profissionais [em linha]. Lisboa: Universidade
de Lisboa, 2011. [Consult. 2 Nov. 2013]. Disponível na Internet <URL
http://repositorio.ul.pt/handle/10451/4498>.
UNESCO – Carta de Cracóvia: Princípios para a conservação e o restauro do património
construído [em linha]. CONFERÊNCIA INTERNACIONAL sobre Conservação “Cracóvia 2000”.
Cracóvia, 26 de Outubro de 2000. [Consult. 2 Nov. 2013]. Disponível na Internet <URL
http://www.igespar.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf>.
109
Anexo A (FERNANDES, Alexandre Filipe – Escultura em Madeira Policromada: Encontros de
Conservação Preventiva. Porto: [Não publicado], 2013.)
Poluentes Efeitos nos Materiais
Aminas Amónia: corrosão de metais. Quando combinada com
compostos de nitratos e sulfatos, pode formar depósitos
brancos na superfície dos objetos;
Outras aminas: corrosão de bronze, cobre e prata, e
eventualmente manchas em pinturas.
Aldeídos e ácidos carboxílicos Acetaldeído e formaldeído: possível oxidação do aldeído em
ácidos carboxílicos quando presentes valores elevados de
humidade relativa e/ou em presença de oxidantes fortes;
Ácido acético e fórmico: corrosão de ligas de cobre, cádmio,
chumbo, magnésio e zinco;
Ácidos gordos: manchas em pinturas, corrosão de bronze,
cádmio e chumbo e amarelecimento de papel e documentos
fotográficos.
Compostos de óxido de azoto Corrosão de prata com elevado conteúdo de cobre,
deterioração de couro e papel, desvanecimento de alguns
pigmentos.
Compostos gasosos de oxidáveis de enxofre Acidificação do papel, corrosão do cobre, desvanecimento de
alguns pigmentos e enfraquecimento de couro.
Oxigénio e Ozono Oxigénio com radiação (visível e ultra violeta):
enfraquecimentos de objetos orgânicos e desvanecimento de
pigmentos;
Ozono: desvanecimento de pigmentos e corantes, oxidação
de objetos orgânicos com ligações duplas conjugadas, como
borrachas.
Partículas Em geral: abrasão de superfícies, retenção de humidade
(ataque biológico e corrosão), descoloração de objetos e
podem agir como catalisador em diferentes reações químicas;
Sais de amónio: corrosão de cobre, níquel, prata e zinco,
manchas em mobiliário envernizado com resinas naturais;
Compostos de cloro: aumento da velocidade de corrosão de
metais;
Fuligem: descoloração de materiais porosos, amento da
velocidade de corrosão de metais.
Peróxidos Descoloração de fotografias, desvanecimento de alguns
pigmentos, oxidação de objetos orgânicos.
Compostos gasosos redutores de enxofre Corrosão de bronze, cobre e prata, escurecimento de
pigmento branco de chumbo.
Vapor de água Reações de hidrólise em materiais orgânicos, aumento da
velocidade de corrosão de metais e foto-oxidação de alguns
pigmentos.
111
Anexo B (FERNANDES, Alexandre Filipe – Escultura em Madeira Policromada: Encontros de
Conservação Preventiva. Porto: [Não publicado], 2013.)
Anexo C (FERNANDES, Alexandre Filipe – Escultura em Madeira Policromada: Encontros de
Conservação Preventiva. Porto: [Não publicado], 2013.)
Ilustração : Quadro com as variações de humidade relativa e as alterações produzidas nos
materiais.
Ilustração : Humidade relativa adequada para os diversos materiais
utilizados em escultura.
112