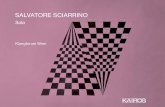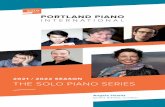Conservação e Uso Do solo - Uniasselvi
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Conservação e Uso Do solo - Uniasselvi
Copyright © UNIASSELVI 2011
Elaboração:
Prof.ª Francieli Stano Torres
Revisão, Diagramação e Produção:
Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI
Ficha catalográfica elaborada na fonte pela Biblioteca Dante Alighieri
UNIASSELVI – Indaial.
T693c Torres, Francieli Stano Conservação e uso do solo / Francieli Stano Torres. Indaial
: UNIASSELVI, 2011. 206 p. : il.
Inclui bibliografia. ISBN 978-85-7830-420-1
1. Conservação e uso do solo I. Centro Universitário Leonardo da Vinci. Ensino a Distância. II. Título.
631.41
Impresso por:
III
apresentação
Caro acadêmico!
O solo é um importante recurso natural que desempenha inúmeras funções, desde o armazenamento da água e de nutrientes até o suporte físico para o desenvolvimento das plantas, sendo considerado base para os processos ecológicos. Podemos considerá-lo essencial à vida de todos os seres vivos do nosso planeta. Nele desenvolvemos a pecuária, realizamos os plantios e as colheitas, construímos nossos lares, entre outras atividades.
Logo, os diferentes usos que fazemos dos solos nos proporcionam alimentos, moradias além de movimentar a economia de um país. Contudo, temos que lembrar que ele também é suporte para toda uma teia de biodiversidade, que se estabelece tanto acima quanto dentre, e que esse recurso natural, quando superexplorado, torna-se frágil. O uso desenfreado do solo, intensificado pelo desmatamento, leva à perda da biodiversidade e a sua degradação.
A adoção de técnicas agrícolas inadequadas destrói a sua fertilidade, reduzindo a produção dos alimentos e, como consequência, surgem inúmeros problemas ambientais, sociais e econômicos. De tal forma, conservar, manejar e recuperar os solos é fundamental para a qualidade de vida das populações e todo o ecossistema.
Assim, esse Livro de Estudos vem trazer a você o conhecimento sobre o processo de formação dos solos, os agentes de sua degradação, quando o uso é realizado de forma inadequada, além das técnicas de conservação e recuperação, levando em consideração a bacia hidrográfica como unidade de planejamento.
Espero que este Caderno possa oferecer parte do conhecimento necessário para seu desempenho em sua futura profissão.
Bom estudo!
Prof.ª Francieli Stano Torres
IV
Você já me conhece das outras disciplinas? Não? É calouro? Enfim, tanto para você que está chegando agora à UNIASSELVI quanto para você que já é veterano, há novidades em nosso material.
Na Educação a Distância, o livro impresso, entregue a todos os acadêmicos desde 2005, é o material base da disciplina. A partir de 2017, nossos livros estão de visual novo, com um formato mais prático, que cabe na bolsa e facilita a leitura.
O conteúdo continua na íntegra, mas a estrutura interna foi aperfeiçoada com nova diagramação no texto, aproveitando ao máximo o espaço da página, o que também contribui para diminuir a extração de árvores para produção de folhas de papel, por exemplo.
Assim, a UNIASSELVI, preocupando-se com o impacto de nossas ações sobre o ambiente, apresenta também este livro no formato digital. Assim, você, acadêmico, tem a possibilidade de estudá-lo com versatilidade nas telas do celular, tablet ou computador. Eu mesmo, UNI, ganhei um novo layout, você me verá frequentemente e surgirei para apresentar dicas de vídeos e outras fontes de conhecimento que complementam o assunto em questão.
Todos esses ajustes foram pensados a partir de relatos que recebemos nas pesquisas institucionais sobre os materiais impressos, para que você, nossa maior prioridade, possa continuar seus estudos com um material de qualidade.
Aproveito o momento para convidá-lo para um bate-papo sobre o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – ENADE. Bons estudos!
NOTA
Olá acadêmico! Para melhorar a qualidade dos materiais ofertados a você e dinamizar ainda mais os seus estudos, a Uniasselvi disponibiliza materiais que possuem o código QR Code, que é um código que permite que você acesse um conteúdo interativo relacionado ao tema que você está estudando. Para utilizar essa ferramenta, acesse as lojas de aplicativos e baixe um leitor de QR Code. Depois, é só aproveitar mais essa facilidade para aprimorar seus estudos!
UNI
VII
UNIDADE 1 – FORMAÇÃO DO SOLO ............................................................................................. 1
TÓPICO 1 – SOLOS COMO RECURSO NATURAL ........................................................................ 31 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 32 CONCEITUAÇÃO DE SOLO ............................................................................................................. 33 PEDOLOGIA E EDAFOLOGIA ........................................................................................................ 54 SOLOS COMO RECURSO NATURAL ............................................................................................ 75 IMPORTÂNCIA DO SOLO................................................................................................................ 9LEITURA COMPLEMENTAR ............................................................................................................... 14RESUMO DO TÓPICO 1........................................................................................................................ 16AUTOATIVIDADE ................................................................................................................................. 17
TÓPICO 2 – FORMAÇÃO (PEDOGÊNESE) ...................................................................................... 191 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 192 FATORES DE FORMAÇÃO DOS SOLOS ...................................................................................... 19
2.1 CLIMA .............................................................................................................................................. 202.2 ORGANISMOS VIVOS ................................................................................................................... 212.3 ROCHAS ........................................................................................................................................... 232.4 RELEVO ............................................................................................................................................ 242.5 TEMPO .............................................................................................................................................. 27
3 INTEMPERISMO.................................................................................................................................. 283.1 INTEMPERISMO FÍSICO ............................................................................................................... 293.2 INTEMPERISMO QUÍMICO ......................................................................................................... 31
RESUMO DO TÓPICO 2........................................................................................................................ 35AUTOATIVIDADE ................................................................................................................................. 37
TÓPICO 3 – ESTRUTURA DOS SOLOS ............................................................................................ 391 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 392 COMPOSIÇÃO DO SOLO ................................................................................................................ 39
2.1 PORÇÃO SÓLIDA: OS MINERAIS .............................................................................................. 402.2 PORÇÃO SÓLIDA: MATÉRIA ORGÂNICA (M.O.) .................................................................. 422.3 A ÁGUA NO SOLO ......................................................................................................................... 43
2.3.1 Solo muito mal drenado (encharcado) ................................................................................ 442.3.2 Solo mal drenado (úmido) ..................................................................................................... 442.3.3 Solo bem drenado (seco) ........................................................................................................ 44
2.4 O AR NO SOLO .............................................................................................................................. 453 MORFOLOGIA DO SOLO ................................................................................................................ 46
3.1 ESTRUTURA ................................................................................................................................... 463.2 TEXTURA ......................................................................................................................................... 473.3 CONSISTÊNCIA .............................................................................................................................. 493.4 POROSIDADE .................................................................................................................................. 503.5 COR ................................................................................................................................................... 51
4 PERFIL DO SOLO ............................................................................................................................... 51RESUMO DO TÓPICO 3........................................................................................................................ 55AUTOATIVIDADE ................................................................................................................................. 56
sUmário
VIII
TÓPICO 4 – CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS ................................................................................... 591 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 592 HISTÓRICO DA CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS NO BRASIL .............................................. 593 IMPORTÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS ................................................................ 614 CLASSIFICAÇÃO ATUAL DOS SOLOS – EMBRAPA 2006 ...................................................... 61
4.1 CLASSES DO 1o NÍVEL CATEGÓRICO (ORDEM) ................................................................... 634.2 CLASSES DO 2° NÍVEL CATEGÓRICO (SUBORDENS) ........................................................ 644.3 CLASSES DO 3° NÍVEL CATEGÓRICO (GRANDES GRUPOS) ........................................... 644.4 CLASSES DO 4° NÍVEL CATEGÓRICO (SUBGRUPOS) .......................................................... 654.5 CLASSES DO 5° NÍVEL CATEGÓRICO (FAMÍLIA) ................................................................. 654.6 CLASSES DO 6° NÍVEL CATEGÓRICO (SÉRIE) ....................................................................... 654.7 REGRAS PARA O USO DA NOMENCLATURA DE 1º, 2º, 3º E 4º NÍVEIS CATEGÓRICOS ........................................................................................................ 66
RESUMO DO TÓPICO 4........................................................................................................................ 68AUTOATIVIDADE ................................................................................................................................. 69
UNIDADE 2 – RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE ....................................... 71
TÓPICO 1 – RELAÇÃO SOLO E ÁGUA ............................................................................................. 731 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 732 CAMINHOS DA ÁGUA NO SOLO ................................................................................................. 73
2.1 FATORES QUE INFLUENCIAM A INFILTRAÇÃO .................................................................. 752.1.1 Cobertura florestal .................................................................................................................. 75
2.2 TOPOGRAFIA ................................................................................................................................. 772.3 PRECIPITAÇÃO .............................................................................................................................. 772.4 TIPO DE MATERIAL ...................................................................................................................... 772.5 OCUPAÇÃO DO SOLO ................................................................................................................. 78
3 DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA NO SUBSOLO ................................................................................. 783.1 INFLUÊNCIA DA POROSIDADE E DA PERMEABILIDADE NA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA ..................................................................... 82
4 CLASSIFICAÇÃO DOS AQUÍFEROS SEGUNDO A GEOLOGIA E SUA RELAÇÃO COM POROSIDADE DO SOLO ........................................................................ 85
4.1 CLASSIFICAÇÃO DOS AQUÍFEROS - SEGUNDO A PRESSÃO DA ÁGUA ....................... 86LEITURA COMPLEMENTAR ............................................................................................................... 88RESUMO DO TÓPICO 1........................................................................................................................ 90AUTOATIVIDADE ................................................................................................................................. 91
TÓPICO 2 – RELAÇÃO SOLO E PLANTAS1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................... 932 FATORES DO SOLO RELACIONADOS COM O DESENVOLVIMENTO DAS PLANTAS .................................................................................................................................... 93
2.1 ESTRUTURA DO SOLO E SUA RELAÇÃO COM AS PLANTAS ........................................... 942.2 PERFIL DO SOLO E A RELAÇÃO COM AS PLANTAS ........................................................... 942.3 ADENSAMENTO DO SOLO E AS PLANTAS ............................................................................ 952.4 POROSIDADE DO SOLO E AS PLANTAS .................................................................................. 972.5 MINERAIS DO SOLO E AS PLANTAS ........................................................................................ 98
2.5.1 Elementos de nutrição essenciais para as plantas .............................................................. 992.6 ACIDEZ E ALCALINIDADE DO SOLO E AS PLANTAS ......................................................1002.7 ÁGUA DO SOLO E AS PLANTAS ..............................................................................................101
2.7.1 A influência do nível freático sobre e crescimento radicular .........................................1032.8 MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO E AS PLANTAS ................................................................104
RESUMO DO TÓPICO 2......................................................................................................................106AUTOATIVIDADE ...............................................................................................................................107
IX
TÓPICO 3 – COMPORTAMENTO DOS AGROQUÍMICOS NO SOLO ..................................1091 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................1092 CONCEITO E SURGIMENTO DOS AGROTÓXICOS ..............................................................1093 CLASSIFICAÇÃO DOS AGROTÓXICOS QUANTO AO COMPONENTE QUÍMICO ....111
3.1 GRAU DE PERICULOSIDADE/TOXICIDADE E O MEIO AMBIENTE ...............................1134 COMPORTAMENTO DE AGROTÓXICOS NO SOLO .............................................................115
4.1 VOLATILIDADE ...........................................................................................................................1164.2 ADSORÇÃO ...................................................................................................................................1174.3 LIXIVIAÇÃO ..................................................................................................................................1184.4 REAÇÕES QUÍMICAS ..................................................................................................................1184.5 METABOLISMO MICROBIANO ................................................................................................1194.6 PERSISTÊNCIA NOS SOLOS ......................................................................................................120
5 INFLUÊNCIA DO TIPO DE SOLO NO COMPORTAMENTO DOS AGROTÓXICOS ...1216 RELAÇÃO ENTRE OS AGROTÓXICOS E A MATA CILIAR .................................................122RESUMO DO TÓPICO 3......................................................................................................................127AUTOATIVIDADE ...............................................................................................................................129
TÓPICO 4 – QUALIDADE AMBIENTAL DO SOLO .....................................................................1311 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................1312 CONCEITO DE QUALIDADE DO SOLO ....................................................................................1313 INDICADORES DE QUALIDADE DO SOLO .............................................................................132
3.1 INDICADORES FÍSICOS DA QUALIDADE DO SOLO ..........................................................1343.2 INDICADORES QUÍMICOS DE QUALIDADE DO SOLO .....................................................1353.3 INDICADORES BIOLÓGICOS DE QUALIDADE DO SOLO ................................................137
RESUMO DO TÓPICO 4 ....................................................................................................................139AUTOATIVIDADE ............................................................................................................................... 140
UNIDADE 3 – DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS ........................................... 141
TÓPICO 1 – RELAÇÃO USO DO SOLO E BACIA HIDROGRÁFICA ..................................... 1431 INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 1432 A BACIA HIDROGRÁFICA ............................................................................................................ 143
2.1 A BACIA COMO UNIDADE DE PLANEJAMENTO ............................................................. 1483 USOS DO SOLO NO BRASIL ........................................................................................................ 1494 CLASSIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE USO DAS TERRAS ............................................. 151
4.1 TERRAS PRÓPRIAS PARA TODOS OS USOS ........................................................................ 1524.2 TERRAS IMPRÓPRIAS PARA O CULTIVO INTENSIVO ..................................................... 1534.3 TERRAS IMPRÓPRIAS PARA O CULTIVO ............................................................................. 153
LEITURA COMPLEMENTAR ............................................................................................................ 154RESUMO DO TÓPICO 1......................................................................................................................157AUTOATIVIDADE ...............................................................................................................................159
TÓPICO 2 – DEGRADAÇÃO E EROSÃO DOS SOLOS...............................................................1611 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................1612 CONCEITO DE EROSÃO E DEGRAÇÃO DOS SOLOS ...........................................................1613 A SUSCEPTIBILIDADE DOS SOLOS BRASILEIROS AOS PROCESSOS EROSIVOS ....1624 PRINCIPAIS AGENTES DA EROSÃO .........................................................................................1645 TIPOS EROSÃO/DEGRADAÇÃO E SEUS IMPACTOS ............................................................1666 EROSÃO HÍDRICA ...........................................................................................................................169
6.1 TIPOS DE EROSÃO HÍDRICA ....................................................................................................1696.2 FASES NO PROCESSO DE EROSÃO .........................................................................................1726.3 FATORES QUE INFLUENCIAM NA EROSÃO HÍDRICA DO SOLO ..................................173
X
LEITURA COMPLEMENTAR .............................................................................................................175RESUMO DO TÓPICO 2......................................................................................................................178AUTOATIVIDADE ...............................................................................................................................179
TÓPICO 3 – MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS .............................................................1811 INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................1812 CONSERVAÇÃO E MANEJO ..........................................................................................................1813 MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO E MANEJO .............................................................................182
3.1 MÉTODOS EDÁFICOS .................................................................................................................1823.2 MÉTODOS MECÂNICOS ............................................................................................................1853.3 MÉTODOS VEGETATIVOS..........................................................................................................187
4 TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO ....................................................................................................1894.1 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAFS) ..............................................1894.2 PLANTIO DE ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS ...................................................................1904.3 REGENERAÇÃO NATURAL ......................................................................................................1914.4 IMPLANTAÇÃO DE POLEIROS ARTIFICIAIS ........................................................................192
RESUMO DO TÓPICO 3......................................................................................................................195AUTOATIVIDADE ...............................................................................................................................197
REFERÊNCIAS .......................................................................................................................................199
1
UNIDADE 1
FORMAÇÃO DO SOLO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
PLANO DE ESTUDOS
A partir desta unidade, você será capaz de:
• conceituar o solo de acordo com as diferentes áreas do conhecimento;
• compreender os solos como recurso natural e como parte integrante e es-sencial do biótopo;
• conhecer as estruturas e a composição dos solos;
• identificar os fatores ativos e passivos do processo de formação dos solos;
• conhecer os diferentes tipos de solos e como se dá sua classificação.
Esta primeira unidade está dividida em quatro tópicos. No final de cada um deles, você encontrará atividades que contribuirão para fixar os conteúdos explorados.
TÓPICO 1 – SOLOS COMO RECURSO NATURAL
TÓPICO 2 – FORMAÇÃO (PEDOGÊNESE)
TÓPICO 3 – ESTRUTURA DO SOLO
TÓPICO 4 – CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS
3
TÓPICO 1UNIDADE 1
SOLOS COMO RECURSO NATURAL
1 INTRODUÇÃO
O solo pode ser considerado um recurso natural da superfície terrestre formado por diferentes agregados. Entre esses agregados se encontram poros destinados ao armazenamento e fluxo de água e ar, bem como uma diversidade de organismos vivos.
Esse recurso natural desempenha importantes funções, desde o armazenamento da água e nutrientes até o suporte físico para o desenvolvimento das plantas, sendo a base para os processos ecológicos. Por ser um recurso natural, o uso do solo passa a fazer parte do contexto, pois é nele que plantamos e cultivamos grande parte dos alimentos, construímos nossos lares, indústrias, retiramos minerais, entre outras atividades.
Contudo, ele é um recurso finito e não renovável, por isso devemos usá-lo de forma sustentável, para que possa ser sempre produtivo e desenvolver suas inúmeras funções. É esse contexto que vamos estudar nesse primeiro tópico do Livro de Estudos, ou seja, compreender o solo como um recurso natural, diferenciar o trabalho de um edafologista e um pedologista e identificar as diferentes funções desempenhadas pelos solos. Primeiramente, conceituaremos o que é solo. Você sabe que os conceitos podem variar dependendo da área de atuação do profissional ou de acordo com seu uso? Então, vamos conhecer essas variações conceituais!
2 CONCEITUAÇÃO DE SOLO
Os solos podem ser definidos como qualquer material que se sobrepõe à rocha inalterada. Dentre esses materiais, incluem-se os minerais derivados da rocha-mãe, novos minerais formados pelo processo de intemperismo, a matéria orgânica vegetal e animal, o ar e a água.
Podemos também definir o solo como corpos naturais constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos e formados
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
4
por materiais minerais e orgânicos que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso planeta. Contém ainda matéria viva e permite o desenvolvimento de plantas na natureza onde ocorrem. (EMPRABA, 2006).
Pode-se dizer ainda que o solo é o resultado de algumas transformações que ocorrem nas rochas, de forma lenta e ao longo do tempo, sendo que as condições climáticas e a presença de seres vivos atuando sobre as rochas são os principais responsáveis pela formação do solo.
Os solos, acima de tudo, são recursos naturais e é neles que realizamos atividades diversas, nos sustentamos, construímos, plantamos e retiramos minerais. Por isso, as definições podem variar, dependendo da área de atuação ou do uso do solo. A seguir estão listados alguns exemplos dessas definições, segundo as diferentes áreas, conforme Lepsch (2002):
Agrônomo: camada superficial de terra arável, possuidora de vida microbiana. Arqueólogo: material onde se encontram registros de civilizações e organismos fósseis. Ecólogo: porção do ambiente condicionado por organismos vivos e que, por sua vez, interagem com esses organismos. Engenheiro civil: material escavável, que perde sua resistência quando em contato com a água. Engenheiro de minas: o solo é o detrito que cobre rochas ou minerais a serem explorados. Engenheiro de obras: parte da matéria-prima para construções de aterros, estradas, barragens e açudes. Geologia: parte de uma sequência de eventos geológicos, que se torna um produto do intemperismo físico-químico das rochas. Fazendeiro: considera o solo como ambiente para as plantas. Ele vive do solo e assim é forçado a prestar mais atenção as suas características. Físico: massa de material cujas características mudam em função das variações de clima. Químico: porção de material sólido que pode ser analisado em todos seus constituintes elementares (compostos químicos). Pedólogo: camada viva, que recobre a superfície da terra, em evolução permanente, por meio da alteração das rochas e de processos pedogenéticos comandados por agentes físicos, biológicos e químicos.
TÓPICO 1 | SOLOS COMO RECURSO NATURAL
5
IMPORTANTE
Como requisito básico para maior conhecimento sobre solo, deve-se ter a noção do que ele representa, abrangendo nesta noção os pontos de vista do engenheiro, do fazendeiro, do pedólogo entre outros. Ao desenvolver esta conceituação, é importante levar em consideração as descobertas práticas e científicas do passado.
3 PEDOLOGIA E EDAFOLOGIA
Você já ouviu falar em Pedologia e Edafologia? Certamente, já ouviu dizer que ambas estão relacionadas com o estudo dos solos. Se ambas estudam as relações com o solo, você sabe qual a diferença entre elas? O que abrange o estudo da edafologia e o estudo da pedologia? Então vamos entender mais a respeito.
Se analisarmos os conceitos de solos, conforme estudados na seção anterior, podemos perceber que há diferentes conceituações. Um leva em consideração o solo como um corpo natural, ou seja, um produto sintetizado da natureza e submetido ao intemperismo. O outro leva em consideração sua aplicação prática e/ou imagina o solo como viveiro natural para as plantas. Essas concepções indicam os dois caminhos a seguir no estudo dos solos: o do pedologista e o do edafologista.
O estudo das fases de formação do solo, sua origem, classificação e descrição são compreendidas no que se conhece como Pedologia (da palavra grega “pedon”, que significa solo ou terra). A Pedologia considera o solo um corpo natural e o pedologista o estuda, o examina e o classifica como é encontrado no seu ambiente natu ral (Figura 1). Sua descoberta pode ser útil aos engenheiros construtores assim como aos agricultores. (BRANDY, 1983; LEPSCH, 2002).
A Edafologia (da palavra grega “edaphos”, que também significa solo ou terra) é o estudo do solo do ponto de vista florestal. Considera as diversas propriedades do solo na medida em que se relacionam com a produção agrícola ou florestal (Figura 1). O edafologista é um homem prático, uma vez que visa à produção de alimentos e de fibras como objetivo final. Ao mesmo tempo, precisa ser um cientista para estabelecer as razões da variação da produtividade dos solos e desco brir os meios para manter e melhorar essa produtividade. (BRANDY, 1983; LEPSCH, 2002).
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
6
Neste Caderno de Conservação e Uso dos Solos, você perceberá que ambas as concepções serão estudadas, uma vez que a Pedologia será utilizada na medida em que proporcionamos a compreensão geral dos solos, como são encontrados na natureza e como são classificados, enquanto que os estudos das características básicas dos solos, sob o ponto de vista físico, químico e biológico, contribuem de igual modo para a Edafologia e a Pedologia.
DICAS
Para maior aprofundamento sobre Pedologia e Edafologia, leia o artigo: “História da Pedologia: um resgate bibliográfico”. Disponível em: <http://www.ige.unicamp.br/simposioensino/artigos/029.pdf>.
IMPORTANTE
A pedologia é o estudo do solo como um corpo natural e a edafologia é o estudo do solo considerando suas propriedades para a produção agrícola e florestal.
FIGURA 1 – A) IMAGEM REPRESENTATIVA DE PEDOLOGIA (ESTUDO DO SOLO COMO UM CORPO NATURAL); B) IMAGEM REPRESENTATIVA DE EDAFOLOGIA (ESTUDO DO SOLO COMO PRODUÇÃO AGRÍCOLA E FLORESTAL)
FONTE: Disponível em: A) <http://www.ceplac.gov.br/restrito/imgNot/200812/_1302_Pesquisadores%20observam%20solo%20na%20Nova%20Zel%C3%A2ndia.jpg> B) <http://www.jardimdasideias.com.br/public/userfiles/plantar.jpg> Acesso em: 31 maio 2011.
A B
TÓPICO 1 | SOLOS COMO RECURSO NATURAL
7
4 SOLOS COMO RECURSO NATURAL
Os solos são considerados recursos naturais uma vez que são usados, transformados e fornecerem suporte e alimento para as mais variadas formas de vida. Esse recurso natural fornece o substrato para as raízes, retém água o tempo suficiente para esta ser utilizada pelas plantas e fixam nutrientes essenciais para a vida – sem os solos, a paisagem da Terra seria tão estéril como a de Marte. Os solos são o lar para microrganismos que provocam importantes transformações bioquímicas - fixando nitrogênio nas plantas, conduzindo à decomposição de matéria orgânica - e para a biodiversidade de animais microscópicos, bem como para as minhocas, formigas e outros.
UNI
Você sabia que o solo é assegurado por lei? A Política Nacional de Meio Ambiente, Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, visa à sustentabilidade do uso dos recursos naturais e ressalta em um dos seus princípios fundamentais a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar.
Num contexto ambiental, o solo é a base para os processos ecológicos, ou seja, para a biocenose (inter-relação entre os seres vivos). O solo é visto como a parte integrante e essencial do biótopo (meio físico onde vivem os seres vivos como plantas, animais, microrganismos, definido por fatores como o clima e características do substrato). (Figura 2).
No exemplo de uma floresta, o biótopo é a área que contém um tipo de solo (com quantidades típicas de minerais e água) e é afetada por um determinado clima (umidade, temperatura, grau de luminosidade e outros fatores). Esses fatores afetam diretamente a biocenose, e também são por ela influenciados. O desenvolvimento de uma floresta, por exemplo, modifica a umidade do ar e a temperatura de uma região.
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
8
No contexto socioeconômico, o solo é base da produção alimentar destacando o cenário agropecuário no Brasil. Poucos setores da economia brasileira têm se desenvolvido tanto como a agricultura. Nesse cenário de grande importância para o desenvolvimento de um país, a visão econômica ainda é simplista e imediatista, uma vez que extensas áreas sem aptidão para a agropecuária foram incorporadas ao processo produtivo de forma acelerada, levando a prejuízos ambientais. (LEPSCH, 2002).
De tal forma, esse recurso natural tem limites definidos, assim se pode dizer que o limite superior é a biosfera e a atmosfera. Os limites laterais são os contatos com corpos d’água superficiais, rochas, gelo, áreas com cobertura arenosa como dunas ou praias costeiras e aterros. O limite inferior do solo é difícil de ser definido. Em geral, o solo passa gradualmente no seu limite inferior, em profundidade, para a rocha dura ou sedimentos que não apresentam sinais da influência de atividade biológica. (LEPSCH, 2002).
FIGURA 2 – O BIÓTOPO (MEIO FÍSICO ONDE VIVEM OS SERES VIVOS) ATUANDO SOBRE A BIOCENOSE (INTER-RELAÇÃO ENTRE OS SERES VIVOS)
FONTE: Kiehl (1979)
IMPORTANTE
O solo está ligado à base da cadeia alimentar e é por meio dele que os produtores (plantas) se desenvolvem. Também está ligado aos consumidores, que dependem dos produtores, bem como aos decompositores, responsáveis pela reciclagem dos elementos.
TÓPICO 1 | SOLOS COMO RECURSO NATURAL
9
5 IMPORTÂNCIA DO SOLO
O solo é sem dúvida, o recurso natural mais importante de um país, pois é dele que derivam os produtos alimentares para toda a população humana, bem como, para muitas espécies de animais que diretamente se alimentam das plantas que deles crescem. (TOLEDO; OLIVEIRA; MELFI, 2000).
Nas regiões intertropicais, essa importância é ainda maior, por duas razões:
• Nessa região ou zona climática, encontra-se praticamente a maior parte dos países em desenvolvimento como o Brasil, cuja economia depende da exploração de seus recursos naturais especialmente agrícolas. (Tabela 1).
• Os processos que levam à formação dos solos podem nas zonas intertropicais, levar também à formação de importantes recursos minerais (bauxita, carvão mineral, ferro, alumínio, chumbo etc).
TABELA 1: DADOS DE ÁREAS UTILIZADAS DE AGRICULTURA, EM HECTARES, NO TERRITÓRIO BRASILEIRO
Área agricultável disponível total estimada 152,5 milhões de hectares ou 17,9% do território.Área agricultável utilizada 62,5 milhões de hectares ou 7,3% do território.Lavouras permanentes 15 milhões de hectares ou 1,8% do território.Lavouras temporárias 42,5 milhões de hectares ou 5% do território.Florestas plantadas 5 milhões de hectares ou 0,6% do território.Área agricultável disponível não utilizável 90 milhões de hectares ou 10,5% do território.Pastagem 177 milhões de hectares ou 20,8% do território.Área de florestas nativas e reservas ambientais 440 milhões de hectares ou 53% do território.
FONTE: IBGE/CONAB. Disponível em: <http://ecen.com/eee74/eee74p/ biocombustiveis_liquidos_no_brasil.htm>. Acesso em: 20 fev. 2011. Imagem: Disponível em: <http://canoinhasonline.blogspot.com/2009_11_22_archive.html>. Acesso em: 20 fev. 2011.
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
10
IMPORTANTE
O solo, por ser um recurso finito e não renovável, pode levar milhares de anos para se tornar produtivo, uma vez destruído, na escala de tempo de algumas gerações, desaparece para sempre.
Segundo Hernani et al. (2002), as perdas anuais de solo em áreas ocupadas por lavouras e pastagens, no Brasil, são da ordem de 822,7 milhões de toneladas. Esses autores estimaram que tais valores estariam associados a uma perda total, na propriedade rural, de US$ 2,93 bilhões por ano. Os autores relatam que a erosão acarreta ao Brasil um prejuízo total de aproximadamente US$ 4,24 bilhões anuais. A relação entre as perdas de solo de acordo com os diferentes usos podem ser vistos por meio da Figura 3.
Entretanto, os solos dessas regiões, em geral, são solos velhos, frágeis, empobrecidos quimicamente e que se encontram em contínua evolução. Esses solos se encontram em estado muito precário, de tal forma que os impactos provocados por causas naturais ou por atividades antrópicas podem desestabilizar o sistema. O desmatamento, o cultivo da terra, o uso de agroquímicos e a exploração de minérios são atividades que, se não forem bem conduzidas, por meio de técnicas desenvolvidas com bases científicas, podem levar à erosão e contaminação dos solos.
TÓPICO 1 | SOLOS COMO RECURSO NATURAL
11
FIGURA 3 – COMPARAÇÃO DA PERDA DE SOLO (QUILOGRAMA POR ANO) EM ÁREAS DE FLORESTA, PASTAGEM, PLANTAÇÃO DE CAFÉ E DE ALGODÃO
FONTE: Guerra et al. (1999)
A perda dos solos e o crescimento demográfico, que geram grandes pressões para a produção de maior quantidade de alimentos, têm resultado no desmatamento de áreas florestadas para a expansão das áreas agricultáveis. Contudo, essa é uma ação que não apresenta funcionalidade, uma vez que os solos das florestas representam sistemas muito frágeis, que acabam sendo destruídos junto com o desmatamento.
UNI
Na Amazônia, por exemplo, a taxa de desmatamento para fins agrícolas é cerca de 1,3 milhão de hectares por ano.
Perdas de soloMata Solo erodido
4 kg ha ano
700 kg ha ano
1 100 kg ha ano
38 000 kg ha ano
Pastagem
Algodoal
Cafezal
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
12
Agora que analisou a Figura 4, você pode concluir que os solos exercem ainda as seguintes funções:
• Alicerce da vida em ecossistemas terrestres.• Armazenamento e liberação de água para as plantas e animais.• Reciclagem de nutrientes, fornecendo 15 elementos essenciais à vida das
plantas (nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel, cobalto, zinco).
• Hábitat para a fauna e flora.• Recarga dos aquíferos.• Filtro da água melhorando a qualidade.• Fornecimento de material para construção de estradas, barragens em açudes,
casas, outros.
O uso adequado dos solos existentes, prevenindo-se sua destruição e exaustão é a melhor solução. Nada adianta desmatar extensas áreas de floresta nativa, como vem acontecendo na Amazônia, se o solo não é adequado para tais práticas. Para proteger esse importante recurso natural, existe um conjunto de técnicas de manejo que iremos estudar na Unidade 3 desse Livro de Estudos.
Contudo, já se podem identificar até aqui algumas funções importantes que o solo desempenha, mas se você pensou que o solo é importante somente para a produção de alimentos, convido-o(a) para analisar a Figura 4 e identificar que outras funções o solo vem a exercer.
FIGURA 4 – PRINCIPAIS INTERAÇÕES ENTRE PEDOSFERA (SOLO), BIOSFERA (PLANTAS E ANIMAIS), LITOSFERA (ROCHAS), HIDROSFERA (ÁGUA) E ATMOSFERA (AR)
Litosfera
PedosferaHidrosfera
troca deenergia
evaporação
evaporação
Lixiviação
evaporação
água do solodrenagem e
escoamento
recarga dos aquíferos captação de elementos
meteorização de rochas
reciclagem
fotossínteserespiração
fauna e florado solo
emis
são
de g
ases
form
ação
de s
olo
Atmosfera
Biosfera
FONTE: Planeta Terra (2007). Disponível em: <http://www.yearofplanetearth.org/content/downloads/portugal/brochura10_web.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2011.
TÓPICO 1 | SOLOS COMO RECURSO NATURAL
13
IMPORTANTE
Os solos desempenham importantes funções, que vão desde o processo de produção de alimentos para a manutenção da vida até o fornecimento de hábitat para muitas espécies da fauna e da flora e o armazenamento e recarga dos recursos hídricos, dos quais todos dependem.
A vida, o solo, a atmosfera, a água e as geoformas evoluíram em conjunto. Nenhum destes elementos seria tal como o conhecemos, sem os outros. Os solos que cobrem a superfície terrestre estabelecem a ligação e interagem com a atmosfera e condições climáticas, com as águas superficiais e subterrâneas e com os ecossistemas. (PLANETA TERRA, 2007).
No caso das ciências do solo, isto significa o apoio a várias atividades, incluindo a produção agrícola, a engenharia civil, o fornecimento de água, a qualidade da água e do ar, o saneamento e o armazenamento de resíduos, visando à utilização sustentável deste sistema finito e frágil.
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
14
CIÊNCIAS DO SOLO E SOCIEDADE
A utilização e a gestão do território são bem sucedidas quando existe compatibilidade com a aptidão dos solos. As colheitas e jardins florescem, o gado cresce, as nascentes e poços enchem, as estradas e os edifícios são utilizados de forma adequada, os investimentos estão seguros – e a maioria das pessoas nem sequer se apercebe disso. Esse sucesso não ocorre se os solos forem incapazes de reter água e nutrientes necessários. Neste caso, as colheitas falham e o gado adoece; estradas, edifícios, condutas e cabos danificam-se em solos instáveis ou com contaminação salina, podendo mesmo algumas estruturas ruir catastroficamente.
Quando existem grandes alterações na utilização do solo e na sua gestão, atinge-se uma situação em que as suas aptidões produtivas, hidrológicas e ecológicas se perdem – aptidões que consideramos como um dado adquirido. Apesar dos enormes sucessos obtidos neste domínio (como por exemplo, na aplicação de fertilizantes, na drenagem e na irrigação) verificam-se ainda graves desfaçamentos entre a utilização do solo e a sua real aptidão. O desafio para as ciências do solo é o de fornecer conhecimento para que locais inadequados possam ser evitados ou que possam ser tomadas as devidas precauções, de forma a que a estabilidade e as funções essenciais do solo sejam garantidas.
Uma nova perspectiva do planeta Terra tem vindo a ser revelada pelas novas tecnologias, que retratam processos e sistemas geológicos nas escalas onde realmente acontecem. Sem as limitações associadas a nossa escala física e aos nossos cinco sentidos, podemos agora observar e medir desde a escala molecular à escala global, em períodos de tempo que vão do nanossegundo ao milênio. Estas observações têm sido integradas em modelos de processos geológicos, que preveem cenários futuros com base nas atuais tendências e nas opções de gestão. Em vez de se confiar no destino, usam-se modelos de previsão para suportar decisões e políticas, com potencial para melhorar a qualidade do solo, conservar suas funções e proteger a pele da Terra para as gerações futuras.
O conhecimento dos minerais, da estrutura dos solos, dos organismos vivos dotações para a proteção à escala microscópica e dos processos físicos, químicos e biológicos oferece novas potencialidades interessantes ao nível da manipulação e da intervenção – sem grandes alterações no modo como a ciência é desenvolvida ou na forma como as decisões são tomadas. O antigo cientista do microscópio óptico é o atual cientista do microscópio eletrônico ou
LEITURA COMPLEMENTAR
TÓPICO 1 | SOLOS COMO RECURSO NATURAL
15
do espectrômetro de massa. Contudo, as políticas baseadas neste novo tipo de informação continuam a depender da vontade e consciência individuais, bem como da competência das administrações nacionais. O conhecimento atual acerca dos sistemas terrestres, que são maiores, mais poderosos e que existem há muito mais tempo do que os poucos milênios de duração da civilização humana, traz maiores implicações.
FONTE: SOLO: A PELE DA TERRA. Ciências da Terra para a Sociedade, 2007. Disponível em: <http://www.yearofplanetearth.org/content/downloads/portugal/brochura10_web.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2011.
16
Neste tópico, você estudou:
• Conceitos de solo: resultado de algumas transformações que ocorrem nas rochas; corpos naturais constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas, formados por materiais minerais e orgânicos e que contêm matéria viva.
• Definições do solo podem variar dependendo da área de atuação ou uso do solo.
• Diferenças entre Pedologia e Edafologia: o primeiro refere-se ao estudo das fases de formação do solo, sua origem, classificação e descrição e o segundo é o estudo do solo, do ponto de vista florestal.
• Os solos são recursos naturais: num contexto ambiental, o solo é a base para os processos ecológicos e no contexto socioeconômico é base da produção alimentar destacando o cenário agropecuário no Brasil.
• O solo está ligado à base da cadeia alimentar e é por meio dele que os produtores (plantas) se desenvolvem. Também está ligado aos consumidores, que dependem dos produtores, bem como aos decompositores, responsáveis pela reciclagem dos elementos.
• Os solos são protegidos por lei (Política Nacional de Meio Ambiente) que ressalta em um dos seus princípios fundamentais a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar.
• A importância do solo: fornecimento de produtos alimentares para toda a população humana; alicerce da vida em ecossistemas terrestres; armazenamento e liberação de água para as plantas e animais; fornecimento de quinze elementos essenciais à vida das plantas; hábitat para animais, micro-organismos, fungos; abastecimento do aquífero freático; filtro da água melhorando a qualidade; fornecimento de material para construção de estradas, barragens em açudes e casas.
RESUMO DO TÓPICO 1
17
Caro acadêmico, para fixar melhor o conteúdo estudado, vamos exercitar um pouco. Leia as questões a seguir e responda a elas em seu Livro de Estudos. Bom trabalho!
1 Que critérios são adotados para se definir ou conceituar os solos? Como você define solo?
2 Quais as principais interações existentes entre a pedosfera (solo), biosfera (plantas e animais), litosfera (rochas), hidrosfera (água) e atmosfera (ar)?
3 O solo é considerado um recurso natural. Fale sobre essa afirmativa.
4 Na prática, de que forma se dá a aplicação da edafologia e da pedologia? Pesquise e explique por meio de exemplos concretos.
AUTOATIVIDADE
19
TÓPICO 2
FORMAÇÃO (PEDOGÊNESE)
UNIDADE 1
1 INTRODUÇÃO
Os solos são formados por um conjunto de agentes atuando sobre a rocha matriz, entre esses se encontra a ação do tempo, do clima e do relevo, das plantas e animais. Estes fatores são chamados de agentes formadores do solo. De forma geral, o processo de formação de solos é chamado de intemperismo, ou seja, fenômenos físicos, químicos e biológicos que atuam sobre a rocha e conduzem à formação de partículas não consolidadas.
A diversidade de solos encontrados no Brasil, conforme você vai ver no último tópico dessa unidade, reflete as variações que ocorrem na natureza dos fatores de formação. Ressalta-se que é preciso sobre tudo que a matéria orgânica seja misturada com o material mineral para que o solo possa existir de verdade.
Assim, neste tópico, você vai estudar os fatores de formação do solo, sejam eles ativos (clima, organismos) quanto passivos (rocha, relevo, tempo), além dos agentes físicos e químicos do processo de intemperismo.
2 FATORES DE FORMAÇÃO DOS SOLOS
Estudos realizados em várias partes do mundo atestam que os diversos tipos de solos são controlados por cinco principais fatores (Figura 5):
FIGURA 5 – FATORES QUE CONTROLAM A FORMAÇÃO DO SOLO
Fatoresativos
• Clima• Organismos
Fatorespassivos
• Rochas• Relevo• Tempo
FONTE: A autora
O clima e os organismos são os fatores ativos porque durante determinado tempo e condições de relevo, agem diretamente sobre as rochas (materiais de origem). Já as rochas, o relevo e o tempo são os fatores passivos. Qualquer solo é o resultado da ação combinada de todos esses cinco fatores de formação. (LEPSCH, 2002).
A seguir, será visto como age cada um dos cinco fatores na formação do solo.
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
20
2.1 CLIMA O clima é o fator que geralmente exerce maior influência sobre todos os
outros fatores que auxiliam na formação dos solos. Os elementos do clima que atuam diretamente no intemperismo das rochas são a temperatura, precipitação e a umidade.
Um material derivado de uma mesma rocha poderá formar solos diferentes se decomposto em condições climáticas diferentes. Porém, rochas diferentes podem formar solos parecidos em exposição a longo período, em um mesmo ambiente climático.
NOTA
Os principais elementos do clima (temperatura, precipitação e umidade) regulam o tipo e a intensidade de intemperismo das rochas, o crescimento dos organismos e a distinção entre os horizontes pedogenéticos. (LEPSCH, 2002).
O oxigênio e o gás carbônico dissolvidos na água são os responsáveis pela maior parte das reações químicas nos minerais. Portanto, quanto mais quente e mais úmido for o clima, mais rápida e intensa será a decomposição das rochas, que fornecem materiais muito intemperizados, como solos espessos e com abundância de minerais secundários (principalmente argilominerais e óxidos de ferro e de alumínio) e pobres em cátions básicos (principalmente cálcio, magnésio e potássio). Você pode visualizar a atuação do clima no esquema da Figura 6.
FIGURA 6 – ATUAÇÃO DO CLIMA NA FORMAÇÃO DOS SOLOS
ventochuva
granizogelo
minerais:: nutrientesíons em solução
óxidos de ferro e alumínio
solo temperado
argila 2:1 argila 1:1
interações químicas
material de origem
solotropical
areia
silte
sílica
calorfrio
FONTE: Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/solo/imagens/figura_03.jpg>. Acesso em: 20 fev. 2011.
TÓPICO 2 | FORMAÇÃO (PEDOGÊNESE)
21
Já no clima árido e/ou muito frio, os solos são normalmente pouco espessos, contêm menos argila e mais minerais primários, que pouco ou nada foram afetados pelo intemperismo. (LEPSCH, 2002).
Nos solos de clima quente e úmido (solos tropicais), a grande quantidade de chuva faz com que maiores volumes de água se infiltrem, solubilizando e arrastando para o nível freático e cursos d'água muitos nutrientes da solução do solo, onde as cargas elétricas são neutralizadas conferindo ao solo propriedades ácidas. Nestas condições se encontram em exuberantes florestas com árvores constantemente verdes, que produzem grandes quantidades de resíduos orgânicos, que se decompõem rapidamente. (LEPSCH, 2002).
UNI
A maior parte dos solos das regiões áridas e semiáridas é neutra ou alcalina, enquanto a maioria dos solos em regiões úmidas é ácida.
2.2 ORGANISMOS VIVOS
O solo é habitado por inúmeras espécies, formando um ecossistema. Os microrganismos fazem parte do solo de maneira indissociável, sendo responsáveis por inúmeras reações bioquímicas relacionadas não só com a transformação da matéria orgânica, mas também com o intemperismo das rochas.
Assim, os microrganismos do solo desempenham papel fundamental na gênese (formação) do solo e ainda atuam como reguladores de nutrientes, pela decomposição da matéria orgânica e ciclagem dos elementos, atuando, portanto, como fonte e dreno de nutrientes para o crescimento das plantas. (SILVEIRA; FREITAS, 2007).
Os microrganismos do solo (Figura 7), também chamados coletivamente de microbiotas, são representados por cinco grandes grupos: bactérias, actinomicetos ou actinobactérias, fungos, algas e protozoários. Apesar de constituírem somente 1 a 4% do carbono total e ocuparem menos de 5% do espaço poroso do solo, a diversidade e a quantidade dos microrganismos é bastante elevada. Entretanto, como o solo é normalmente um ambiente estressante, limitado por nutrientes, somente 15% a 30% das bactérias e 10% dos fungos se encontram em estado ativo. Os componentes microbianos vivos do solo são também denominados de biomassa microbiana e as bactérias e fungos respondem por cerca de 90% da atividade microbiana do solo. (SILVEIRA; FREITAS, 2007).
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
22
FIGURA 7 – DIVERSIDADE DE ORGANISMOS VIVOS NO SOLO
FONTE: Disponível em:<http://marianaideiasforadacaixa.wordpress.com/>. Acesso em: 20 fev. 2011.
Os microrganismos são responsáveis pelos processos de mineralização, representando eles próprios uma quantidade considerável de nutrientes potencialmente disponíveis para as plantas. Em condições ideais, a microbiota do solo permite que os nutrientes sejam, gradualmente, liberados para a nutrição das plantas, sem perdas por lixiviação. A diminuição da microbiota do solo prejudica a fixação temporária dos nutrientes, incrementando suas perdas e resultando no empobrecimento do solo. (SILVEIRA; FREITAS, 2007).
De uma maneira geral, os microrganismos estão envolvidos em vários processos de grande interesse agronômico, particularmente no que se refere à agricultura orgânica e à rotação de culturas. Dentre os processos podem ser destacados: a) decomposição e ressíntese da matéria orgânica; b) ciclagem de nutrientes; c) as transformações bioquímicas específicas (nitrificação, desnitrificação, oxidação e redução do enxofre); d) fixação biológica do nitrogênio; e) a ação antagônica aos patógenos; f) produção de substâncias promotoras ou inibidoras de crescimento, entre outros. (SILVEIRA; FREITAS, 2007).
TÓPICO 2 | FORMAÇÃO (PEDOGÊNESE)
23
IMPORTANTE
Os organismos vivos viabilizam a estabilidade estrutural do solo. Isso acontece devido à presença dos microrganismos que provocam a acumulação de matéria orgânica, a mistura dos perfis e promovem a ciclagem dos nutrientes no solo.
NOTA
Para se aprofundar mais a respeito dos organismos vivos do solo, sugiro a leitura do livro: Microbiota do solo e a qualidade ambiental (SILVEIRA; FREITAS, 2007). Disponível em: <http://www.scribd.com/doc/7981055/Livro-Microbiota-Do-Solo-e-Qualidade-Ambiental>.
2.3 ROCHAS
As rochas são consideradas como o material geológico do qual o solo é originário, sendo um fator de resistência à formação do mesmo, exercendo passividade à ação do clima e dos organismos. A maior ou menor velocidade com que o solo se forma depende do tipo de material originário, uma vez que, sob condições idênticas de clima, organismos e topografia, certos solos se formam mais rápidos do que outros. (LEPSCH, 2002).
O material originário se refere a todo material não consolidado a partir do qual o solo se formou. Outro ponto interessante é que os materiais que dão origem ao solo podem ser classificados como autóctones, ou seja, originam-se da ação intempérica junto ao material parental (rocha subjacente). Já os materiais que foram conduzidos de outras áreas e que não estão relacionados com o embasamento são classificados como alóctones. E, por último, os materiais pseudoautóctones são todos aqueles que resultam de um processo de mistura dos produtos locais ao longo das encostas. (GUERRA; CUNHA, 2000).
Existe uma grande variedade de rochas (materiais de origem), porém os mais comuns podem ser agrupados em quatro categorias: a) materiais derivados de rochas claras (ou ácidas), como granitos, gnaisses, xistos e quartzitos; b) materiais derivados de rochas ígneas escuras (ou básicas), como basalto, diabásios, gabros e anfibolitos; c) materiais derivados de sedimentos consolidados, como arenitos, ardósias e rochas calcárias; d) sedimentos inconsolidados, como aluviões recentes, dunas de areia, cinzas vulcânicas e depósitos orgânicos. (LEPSCH, 2002).
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
24
O solo que é formado sobre a superfície terrestre origina-se de vários tipos diferentes de rochas (Figura 8).
FIGURA 8 – ORIGEM DAS ROCHAS ÍGNEAS, METAMÓRFICAS E SEDIMENTARES
FONTE: Disponível em: <http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=4741e640-949f-44d0-a2ba-f6714595caca>. Acesso em: 20 fev. 2011.
2.4 RELEVO
Existe uma grande diversidade de formas na superfície terrestre que se configura em diferentes paisagens caracterizadas pelo relevo. Assim, podemos dizer que os conjuntos irregulares que a superfície terrestre apresenta são denominados de relevo. (Figura 9).
O relevo deriva de um processo de configuração superficial da crosta terrestre, afetando diretamente o desenvolvimento dos solos. Logo, exerce influência sobre a dinâmica da água, erosão, microclimas e, por consequência, na temperatura do solo. (GUERRA; CUNHA 2000).
É a ação do relevo que reflete, de forma direta, na dinâmica das águas, seja num sentido vertical através da infiltração, seja no sentido lateral, pelo escoamento das águas da chuva, e também nos processos de drenagens do solo, e seja no sentido longitudinal, que determina a configuração dos rios no formato mais reto (retilíneo), com ilhas no leito (anastomosado) ou curvo (meândrico).
meteorização e erosão
deposição emoceanos e continentes
soerguimento
aumento depressão e temperatura
fusão
arrefecimento
aumento depressão e temperatura
soerguimento
soerguimento
litificação
SEDIMENTOS
ROCHASSEDIMENTARES
ROCHASMETAMÓRFICAS
MAGMA
ROCHASMAGMÁTICAS
Pres
são
e te
mpe
ratu
ra c
resc
ente
s
TÓPICO 2 | FORMAÇÃO (PEDOGÊNESE)
25
FIGURA 9 – REPRESENTAÇÃO DE DIFERENTES FORMAS DE RELEVO
FONTE: Disponível em: <http://www.pedagogia.com.br/atividade.php?id=209>. Acesso em: 20 fev. 2011.
De acordo com as características geomorfológicas do relevo, podemos encontrar diferentes tipos de solos, assim solos de encostas são diferentes de solos das planícies. Devido à topografia, encontramos denominações diferentes para os solos: aluviais, coluviais e eluviais. (GUERRA; CUNHA, 2000).
• Solos aluviais: são solos que foram transportados pela água corrente e depositados nas laterais dos rios, formando as planícies aluviais ou diques marginais. Os materiais constituintes desses solos são de origem acumulativa de resíduos minerais ao longo do tempo, oriundos de regiões de dentro da bacia hidrográfica. (Figura 10).
FIGURA 10 – REPRESENTAÇÃO DE SOLOS ALUVIAIS, TRANSPORTADOS PELOS RIOS EM BACIA HIDROGRÁFICA
FONTE: Disponível em: <http://geoportal.no.sapo.pt/meio_natural.htm>. Acesso em: 20 fev. 2011.
• Solos coluviais: são solos resultantes de fragmentos minerais de rochas alteradas, advindas de camadas mais profundas misturadas a partículas de solo advindas dos locais de maior elevação (Figura 11). Esses solos são encontrados, de forma geral, em locais de terreno com declive.
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
26
FIGURA 11 – REPRESENTAÇÃO DE SOLO COLUVIAL
FONTE: Disponível em: <http://www.funape.org.br/geomorfologia/cap3/index.php>. Acesso em: 20 fev. 2011.
• Solos eluviais: são solos derivados somente do material de origem, ou seja, não sofrem influência pelo transporte de material mineral particulado de regiões próximas. (Figura 12).
FIGURA 12 – SOLO ELUVIAL, OU SEJA, DE ORIGEM DA ROCHA MATRIZ
FONTE: Disponível em: <http://wapedia.mobi/pt/Solo>. Acesso em: 20 fev. 2011.
TÓPICO 2 | FORMAÇÃO (PEDOGÊNESE)
27
2.5 TEMPO
O estágio inicial da formação do solo pode ser exemplificado como uma superfície de um afloramento rochoso, em que musgos e liquens começam a se desenvolver sobre uma delgada camada de rocha decomposta. Com o passar do tempo, as características desse solo começam a se tornar distintas, em que os horizontes vão se espessando e se tornando diferentes, e o solum pode atingir alguns metros. Portanto, a característica principal de influência do/pelo tempo é a espessura, pois solos jovens são normalmente menos espessos que os velhos.
A exposição do material de origem na superfície terrestre ocorre tanto por eventos lentos e contínuos, como pela deposição dinâmica de sedimentos nas várzeas dos rios, como por derrame de lavas ou cinzas de erupções vulcânicas ou desbarrancamento súbito, que remove todo o regolito de uma encosta íngreme e expõe a rocha inalterada subjacente. Estes eventos representam o início do novo ciclo de formação do solo (tempo zero). (LEPSCH, 2002).
Ao ficar exposta na atmosfera, a rocha se intemperiza para se equilibrar com as novas condições de organismos vivos e elementos do clima atmosférico, e em seguida, as plantas e microrganismos se estabelecem, alimentando-se da água armazenada e dos nutrientes liberados pela decomposição dos minerais. Ao longo do tempo, outras mudanças vêm a ocorrer como a formação e translocação de argila, a remoção de sais minerais e adições de húmus. Essas transformações acorrem para haver um novo equilíbrio dinâmico com a natureza, e quando os solos atingem esse estado, tornam-se espessos e com horizontes bem definidos (maduros) (Figura 13). No início de sua formação são denominados pouco desenvolvidos.
FIGURA 13 – FORMAÇÃO DO SOLO DESDE O TEMPO ZERO ATÉ A MATURAÇÃO
FONTE: Lepsch (2002, p. 65)
O período para que um solo passe do estágio jovem, para o maduro varia com o tipo de material de origem, condições de clima e grau de erosão, precisando de centenas a muitos milhares de anos para ser completado.
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
28
UNI
O tempo necessário para a formação da espessura do solo, a partir de um material, é assunto de vários estudos. Um estudo feito na Fortaleza de Kamenetz, localizada na Ucrânia (construída em 1362 e permanecendo em uso até 1699) verificou a formação de solo. O prédio foi abandonado e os blocos de rocha calcária, com que foi construído, começaram a se decompor sem a ação do homem. Algumas plantas cresceram formando o solo. Em 1930, o cientista Akimtzev investigou o solo formado no topo de uma das torres e comparou com os solos da redondeza, derivados também de rochas calcárias. As conclusões do estudo foram que os solos da torre eram idênticos aos solos dos arredores do forte e que, supondo-se não terem ocorrido depósitos de poeira nesse local, formou-se relativamente rápido, em torno de 261 anos. Um perfil com profundidade média de 30 cm havia ali se desenvolvido, o que dá uma média de 12 cm de solum para cada 100 anos de sua formação. (LEPSCH, 2002).
3 INTEMPERISMO
O intemperismo é o conjunto de modificações de ordem física (desagregação) e química (decomposição) que as rochas sofrem ao surgir na superfície da Terra.
Os produtos do intemperismo, rocha alterada e solo, estão sujeitos a outros processos, como erosão, transporte e sedimentação, que acabam levando à denudação continental, com o consequente aplainamento do relevo. (TOLEDO; OLIVEIRA; MELFI, 2000).
IMPORTANTE
Os fatores controladores do intemperismo são a rocha parental, o clima, o relevo, a fauna e flora e o tempo de exposição da rocha aos agentes intempéricos.
A formação do solo (pedogênese) ocorre quando as modificações causadas nas rochas pelo intemperismo tornam-se, sobretudo, estruturais, com importante reorganização e transferência dos minerais formadores do solo (argilominerais e oxi-hidróxidos de ferro e de alumínio) entre os níveis superiores do manto de alteração. Posteriormente, entram em ação a fauna e a flora do solo que, ao realizarem suas funções vitais, modificam e movimentam grandes volumes de material, mantendo o solo aerado e renovado em sua parte exposta. (TOLEDO; OLIVEIRA; MELFI, 2000).
TÓPICO 2 | FORMAÇÃO (PEDOGÊNESE)
29
Tanto o intemperismo quanto a pedogênese levam à formação de um perfil de solo. A estruturação de um perfil ocorre na posição vertical a partir da rocha fresca, na base, sobre a qual se formam o saprólito e o solum, que constituem juntos, o manto de alteração ou regolito (Figura 24 – Tópico 3), a ser estudado com maior aprofundamento no Tópico 3 desta unidade.
Quanto mais afastados se encontram os materiais do perfil em relação à rocha parental, mais diferenciados em termos de composição, estrutura e texturas eles vão se tornando. A pedogênese e o intemperismo são dependentes do clima e do relevo, ocorrendo de maneira distinta nos diferentes estágios morfoclimáticos do globo, levando à formação de perfis decompostos de horizontes de diferente espessura e composição. (TOLEDO et al., 2000).
O intemperismo é classificado como físico e químico, em função dos mecanismos predominantes de atuação.
3.1 INTEMPERISMO FÍSICO
IMPORTANTE
Os processos intempéricos que atuam como mecanismos modificadores das propriedades físicas dos minerais e rochas são denominados de intemperismo físico. Este causa a degradação das rochas, separando os grãos minerais antes coesos, e sua fragmentação, transformando a rocha inalterada em material descontínuo e friável. (TOLEDO; OLIVEIRA; MELFI, 2000).
As rochas têm sua origem em condições extremas de temperatura e pressão, em sua maioria e quando expostas à atmosfera, ficam sujeitas às condições de umidade, de temperatura, precipitação e de pressão diferentes daquelas de origem. (LEPSCH, 2002).
As variações de temperatura causam a expansão e contração térmica nos materiais rochosos, levando à fragmentação dos grãos minerais. Já os minerais com diferentes coeficientes de dilatação térmica, comportam-se de forma diferenciada às variações de temperatura, provocando o deslocamento relativo entre os cristais, rompendo a coesão inicial entre os grãos. Também a mudança periódica de umidade pode causar expansão e contração provocando o enfraquecimento e fragmentação das rochas. (TOLEDO; OLIVEIRA; MELFI, 2000).
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
30
NOTA
Esse mecanismo de expansão e contração dos materiais rochosos é eficiente nos desertos, onde a diferença de temperatura entre o dia e a noite é muito acentuada.
As rochas possuem fissuras que quando preenchidas com água e posteriormente congeladas, sofrem um aumento de volume de cerca de 9% exercendo pressão nas paredes, causando esforços que terminam por aumentar a rede de fraturas e fragmentação da rocha. (Figura 14).
FIGURA 14 – FRAGMENTAÇÃO POR AÇÃO DO GELO. A ÁGUA LÍQUIDA OCUPA AS FISSURAS DA ROCHA (A), QUE DEPOIS É CONGELADA, SE EXPANDE E EXERCE PRESSÃO NAS PAREDES DAS FISSURAS (B)
FONTE: Toledo; Oliveira; Melfi (2000, p. 141)
A cristalização de sais dissolvidos nas águas de infiltração tem efeito parecido com o congelamento, pois o crescimento desses minerais, também favorece a expansão das fissuras e a fragmentação das rochas. Esta cristalização pode chegar a exercer pressões enormes sobre as paredes das rochas, devido à expansão térmica.
UNI
O intemperismo físico de cristalização é um dos principais problemas que afetam os monumentos, em que os sais que se precipitam nas fissuras das rochas são cloretos, sulfatos e carbonatos originados da própria alteração intempérica da rocha, que são dissolvidos pelas soluções percolantes provenientes das chuvas. Há, atualmente, uma grande preocupação em preservar e restaurar monumentos históricos e, por essa razão, esses processos intempéricos são intensamente investigados. (TOLEDO; OLIVEIRA; MELFI, 2000).
TÓPICO 2 | FORMAÇÃO (PEDOGÊNESE)
31
Quando as partes mais profundas dos corpos rochosos ascendem a níveis mais superficiais, acontece o alívio da pressão, e os corpos rochosos expandem, causando a abertura de fraturas grosseiramente paralelas à superfície ao longo da qual a pressão foi aliviada. Estas fraturas recebem o nome de juntas de alívio e também fazem parte dos mecanismos do intemperismo físico. (Figura 15).
FIGURA 15 – FORMAÇÃO DAS JUNTAS DE ALÍVIO DEVIDO À EXPANSÃO DO CORPO ROCHOSO ONDE TEVE A PRESSÃO DIMINUÍDA PELA EROSÃO DO MATERIAL SOBREPOSTO. ESTAS DESCONTINUIDADES SERVEM DE CAMINHOS PARA A PERCOLAÇÃO DAS ÁGUAS, PROMOVENDO AS ALTERAÇÕES QUÍMICAS. A) ANTES DA EROSÃO; B) DEPOIS DA EROSÃO
FONTE: Toledo; Oliveira; Melfi. (2000, p.142)
Outro efeito do intemperismo físico é a quebra das rochas pela pressão causada devido ao desenvolvimento das raízes das plantas em suas fissuras. Portanto, quando as rochas são fragmentadas e, consequentemente, aumentando a superfície exposta ao ar e à água, o intemperismo físico abre caminho e facilita o intemperismo químico. (TOLEDO; OLIVEIRA; MELFI, 2000).
3.2 INTEMPERISMO QUÍMICO
Quando as rochas afloram à superfície da Terra, seus minerais entram em desequilíbrio e, através de uma série de reações químicas, transformam-se em outros minerais, que por sua vez são mais estáveis neste novo ambiente (com pressões e temperaturas baixas e grande concentração de água e oxigênio). (TOLEDO; OLIVEIRA; MELFI, 2000).
IMPORTANTE
O principal agente do intemperismo químico é a água da chuva, que infiltra e percola as rochas.
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
32
Essa água possui grande concentração de oxigênio (O2), que reage com o dióxido de carbono (CO2) atmosférico adquirindo caráter ácido, tornando-se cada vez mais ácido quando entra em contato com o solo, pois, a respiração das plantas pelas raízes e a oxidação da matéria orgânica enriquecem o ambiente com CO2.
Quando a degradação da matéria orgânica não é completa, vários ácidos orgânicos são formados reagindo com as águas percolantes, tornando-as muito ácidas e, aumentando seu poder de oxidação dos minerais. (TOLEDO; OLIVEIRA; MELFI, 2000).
Os constituintes solúveis das rochas intemperizados são transportados pelas
águas que drenam o perfil de alteração (fase solúvel). Em consequência, o material que resta no perfil de alteração (fase residual) torna-se enriquecido nos constituintes menos solúveis e estão nos minerais primários residuais, que resistiram à ação intempérica e nos minerais secundários que se formaram no perfil.
UNI
As mudanças climáticas e fenômenos tectônicos colocam em desequilíbrio o manto de alteração dos continentes, removendo a vegetação e o tornando vulnerável à erosão mecânica.
As reações do intemperismo químico podem ser representadas pela seguinte equação genérica:
Mineral + Solução de alteração → Mineral ll +Solução de lixiviação
Na maioria dos ambientes da superfície terrestre, as águas percolantes tem pH entre 5 e 9, onde as principais reações do intemperismo químico são: hidratação, dissolução, hidrólise e oxidação.
A hidrólise é a reação de sais de ácido fraco, como o ácido ortossilícico (H4 Si O4) e bases fortes, como hidróxido de sódio (NaOH), o hidróxido de potássio (KOH), o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) e o hidróxido de magnésio (Mg(OH)2).
TÓPICO 2 | FORMAÇÃO (PEDOGÊNESE)
33
FIGURA 16 – ALTERAÇÃO DE UM FELDSPATO. POTÁSSIO EM PRESENÇA DE ÁGUA E ÁCIDO CARBÔNICO, COM A ENTRADA DE H+ NA ESTRUTURA DO MINERAL, SUBSTITUINDO K+. O POTÁSSIO É ELIMINADO PELA SOLUÇÃO DE LIXIVIAÇÃO E A SÍLICA APENAS PARCIALMENTE. A SÍLICA PERSISTENTE REAGE COM O ALUMÍNIO, FORMANDO A CAULINITA
FONTE: Toledo; Oliveira; Melfi. (2000, p.145)
A hidratação dos minerais ocorre pela atração entre os dipolos das moléculas de água e as cargas elétricas não neutralizadas das superfícies dos grãos, onde as moléculas de água entram na estrutura mineral, formando um novo mineral. (Figura 17).
FIGURA 17 – AS CARGAS ELÉTRICAS INSATURADAS NA SUPERFÍCIE DOS MINERAIS INTERAGEM COM AS MOLÉCULAS DE ÁGUA FUNCIONANDO COMO DIPOLOS DEVIDO À SUA MORFOLOGIA
FONTE: Toledo; Oliveira; Melfi. (2000, p.145)
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
34
A dissolução é a solubilização completa de alguns minerais, ocorrendo com frequência em terrenos calcários, levando à formação de relevos cársticos, caracterizados por cavernas e dolinas. Já a oxidação é a reação que acontece com transferência de elétrons, modificando o número de elétrons dos minerais envolvidos, logo, adquirindo outras propriedades. Por exemplo, podemos observar na figura 18 um piroxênio transformando-se em goethita através de uma reação de oxidação.
FIGURA 18 – ALTERAÇÃO POR MEIO DE UMA REAÇÃO DE OXIDAÇÃO DE UM MINERAL DE FE2+ (FERRO FERROSO) RESULTANDO EM FE3+ (FERRO FÉRRICO), RESULTANDO NO MINERAL GOETHITA
FONTE: Toledo; Oliveira; Melfi. (2000, p.147)
35
RESUMO DO TÓPICO 2
Neste tópico, você estudou que:
• Os solos no processo de formação são controlados por cinco principais fatores: ativos (clima e organismos) e passivos (rocha, relevo e tempo).
• Os principais elementos do clima (temperatura e umidade) regulam o tipo e a intensidade de intemperismo das rochas, o crescimento dos organismos e, a distinção entre os horizontes pedogenéticos.
• Os organismos auxiliam no processo de decomposição e formação da matéria orgânica do solo.
• Os materiais que dão origem ao solo podem ser classificados como autóctones (originam-se da ação do intemperismo do material parental - rocha subjacente); alóctones (materiais que foram conduzidos de outras áreas) e; pseudoautóctones (resultam de um processo de mistura dos produtos locais ao longo das encostas).
• As rochas (materiais de origem) podem ser agrupadas em quatro categorias: a) materiais derivados de rochas claras; b) materiais derivados de rochas ígneas escuras; c) materiais derivados de sedimentos consolidados; d) sedimentos inconsolidados.
• A partir da lixiviação, da erosão e da cobertura vegetal, o relevo afeta o desenvolvimento do solo. Além do mais, devido à topografia, encontramos denominações diferentes para os solos: aluviais, coluviais e eluviais.
• O período para que um solo passe do estágio jovem para o maduro varia com o tipo de material de origem, condições de clima e grau de erosão.
• Intemperismo é o conjunto de modificações de ordem física (desagregação) e química (decomposição) que as rochas sofrem ao surgirem na superfície da Terra.
• Os produtos do intemperismo, rocha alterada e solo, estão sujeitos a outros processos, como erosão, transporte e sedimentação.
• O intemperismo é classificado como físico e químico, em função dos mecanismos predominantes de atuação.
• Os processos intempéricos que atuam como mecanismos modificadores das propriedades físicas dos minerais e rochas (morfologia, resistência, textura, entre outros) são denominados de intemperismo físico.
36
• O principal agente do intemperismo químico é a água da chuva, que infiltra e percola as rochas.
• As principais reações do intemperismo químico são: hidratação, dissolução, hidrólise e oxidação.
37
Caro acadêmico! Para fixar melhor o conteúdo estudado, vamos exercitar um pouco. Leia as questões a seguir e responda-as em seu Livro de Estudos. Bom trabalho!
1 Complete a frase a seguir com relação aos cinco fatores de formação do solo:
O ________________ e os _________________ são os fatores ativos porque durante determinado tempo e condições de relevo agem diretamente sobre as rochas. Já as ________________, o _____________ e o ________________ são os fatores passivos.
2 Descreva que características possuem solos formados em clima árido e em clima tropical.
3 Quais funções são desempenhadas pelos microrganismos no solo?
4 Com relação à atuação dos microrganismos no solo, sabe-se que eles estão envolvidos em vários processos de grande interesse agronômico, particularmente no que se refere à agricultura orgânica e à rotação de culturas. Que ações são desempenhadas por esses microrganismos? Coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) Decomposição e ressíntese da matéria orgânica.( ) Ciclagem de nutrientes. ( ) Transformações bioquímicas específicas.( ) Fixação química do nitrogênio. ( ) Produção de substâncias promotoras ou inibidoras de crescimento.
5 Existe uma grande variedade de rochas, porém as mais comuns podem ser agrupadas em quatro categorias. Quais são? Dê exemplos.
6 Diferencie os solos aluviais, eluviais e coluviais.
7 Que produtos são formados pelo intemperismo?
8 O que é intemperismo físico?
9 Quais são as principais reações do intemperismo químico?
AUTOATIVIDADE
39
TÓPICO 3
ESTRUTURA DOS SOLOS
UNIDADE 1
1 INTRODUÇÃO
A estrutura do solo refere-se à forma de como suas partículas estão agrupadas e organizadas em agregados e é o tipo de agregado que irá determinar o tipo de estrutura do solo. Entretanto, é importante conhecer a estrutura que os solos possuem uma vez que uma série de fatores age sobre eles. O suprimento de água, a aeração, a atividade microbiana, a disponibilidade de nutrientes e a penetração de raízes, dentre outros, são afetados pela estrutura dos solos.
Dessa forma, podemos perceber que a estrutura do solo tem relação direta com a qualidade dos mesmos, além do mais, uma estrutura adequada permite uma melhor produção agrícola.
Assim, neste tópico você vai estudar que o solo é composto por uma parte orgânica, advinda da ação de agentes decompositores de restos de plantas e animais; uma parte sólida advinda dos minerais e; uma parte gasosa. Também vamos conhecer suas características morfológicas como cor, textura, estrutura, consistência e porosidade e seus horizontes (O, A, A1 ou E, B, C e R) que formam o chamado perfil do solo.
2 COMPOSIÇÃO DO SOLO
O solo é formado por constituintes nos três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. A porção sólida é formada por matéria inorgânica (minerais – resultantes da decomposição de rochas) e matéria orgânica (resíduos de plantas e animais em diferentes estágios de decomposição, e organismos vivos e em atividade). A fase líquida é constituída pela água no solo, sais em dissolução e matéria coloidal em suspensão. Já a porção gasosa é o ar, apresentando diferença na proporção percentual de seus constituintes em relação ao ar atmosférico (KIEHL, 1979). Tanto o ar como água preenchem os espaços porosos (vazios) entre os materiais sólidos (orgânicos e inorgânicos). (LEPSCH, 2002).
Os constituintes do solo apresentam-se geralmente em um estágio adiantado de subdivisão, muito bem misturados que se torna difícil uma separação eficiente. (BRANDY, 1983). Assim, a proporção volumétrica média do solo superficial (horizonte A), quando em boas condições para o desenvolvimento das plantas, está demonstrada na Figura 19. A maior ou menor quantidade desses
40
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
elementos depende, diretamente, de condições climáticas, principalmente do fator "pluviosidade". (LEPSCH, 2002).
FIGURA 19 – ESQUEMA DA COMPOSIÇÃO DO SOLO SUPERFICIAL QUANDO EM BOAS CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS PLANTAS. O VOLUME DE AR E ÁGUA DOS POROS SÃO EXTREMAMENTE VARIÁVEIS COM FORTE INFLUÊNCIA NA ADEQUAÇÃO DO CRESCIMENTO DE PLANTAS
FONTE: A autora
2.1 PORÇÃO SÓLIDA: OS MINERAIS
As partículas que constituem os componentes minerais do solo têm sua origem na intemperização das rochas. São compostas de fragmentos de rochas, de minerais primários (geralmente de tamanhos maiores), e de minerais secundários, com menores dimensões (KIEHL, 1979). Os fragmentos de rocha são remanescentes de rochas maciças da qual se formam por intemperismo. (BRANDY, 1983).
As partículas minerais do solo são classificadas pela sua origem, pela composição e pelo tamanho. Em relação à origem são classificadas em dois tipos:
a) remanescentes da rocha que dão origem ao solo (denominados minerais primários ou minerais originais);
b) produtos secundários, decompostos e/ou recompostos depois da intemperização dos minerais da rocha-mãe (denominados minerais secundários ou pedogênicos).
Os minerais primários existem na maioria dos solos, e são os componentes das rochas mais resistentes ao intemperismo químico, permanecendo mais tempo no solo e mantendo sua composição original, mas podendo fragmentar-se pela ação do intemperismo físico.
TÓPICO 3 | ESTRUTURA DOS SOLOS
41
NOTA
Geralmente, os minerais primários (maiores de 2 milímetros de diâmetro) dominam as frações maiores do solo. (LEPSCH, 2002).
TABELA 2 – TAMANHO DA FRAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOMINANTE (MINERAIS PRIMÁRIOS OU SECUNDÁRIOS)
FONTE: A autora
A argila é formada pela alteração de certas rochas, como as que contêm feldspato, podendo ser encontrada próxima de rios, muitas vezes formando barrancos nas margens. Possui grande atividade química devido ao pequeno tamanho de suas partículas, o que faz com que tenham propriedades coloidais.
NOTA
A mais importante propriedade coloidal da argila é a afinidade pela água e por elementos químicos nela dissolvidos. (LEPSCH, 2002).
O silte é qualquer fragmento de mineral ou rocha menor do que areia fina e maior do que argila. É formado por partículas com diâmetros compreendidos entre 0,002 mm e 0,05 mm.
A areia é um material de origem mineral finamente dividido em grânulos, composta basicamente de dióxido de silício, com 0,05 a 2 mm. Forma-se à superfície da Terra pela fragmentação das rochas por erosão, por ação do vento ou da água.
42
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
O tamanho das partículas tem influência direta nas propriedades físicas e químicas do solo. Normalmente, as partículas menores são as mais ativas, por isso, a proporção dos componentes de tamanho menor (argila e silte) e maior (areia e cascalho), juntamente com seu arranjo em agregados, irá determinar no solo algumas características importantes, como tamanho e quantidade de poros, permeabilidade à água, grau de plasticidade, pegajosidade, facilidade de trabalhos com máquinas e resistência à erosão. (LEPSCH, 2002).
2.2 PORÇÃO SÓLIDA: MATÉRIA ORGÂNICA (M.O.)
A matéria orgânica é um conjunto de resíduos animais e plantas parcialmente decomposto e sintetizado e/ou que está em contínua decomposição resultante dos microrganismos no solo (BRANDY, 1983). A matéria orgânica tem sua origem no solo, a partir da contínua decomposição de restos de animais, de micro-organismos e parte de plantas (folhas, raízes, caules, frutos, flores), bem como de excreções animais e da meso e macro fauna. (LEPSCH, 2002).
Os compostos orgânicos transformam-se em húmus, na presença de oxigênio (meio aeróbio) que é a mineralização de matéria orgânica, ficando, assim, disponível no solo. A composição do húmus é consequência do clima da região, das características do solo, da vegetação e das atividades dos microrganismos. Já em meio anaeróbio (sem oxigênio), geralmente quando a decomposição acontece em solos encharcados, a natureza da matéria orgânica possui aspectos diferenciados, resultando na denominada turfa. (BRANDY, 1983).
Os processos envolvidos na formação dessas matérias orgânicas se dão através do ciclo de carbono ou ciclo da vida. As plantas assimilam o dióxido de carbono (CO2), transformando-o, com o auxílio da água e de nutrientes que extraem do solo, em compostos de carbono (fotossíntese). (LEPSCH, 2002).
IMPORTANTE
A matéria orgânica é muito importante para o solo, do ponto de vista da formação de agregados (cimentação), melhorando as características físicas como: permeabilidade, porosidade e retenção de água.
Outra função importante diz respeito aos microrganismos do solo, para os quais os materiais orgânicos servem de fonte de alimento. Muitos desses microrganismos desempenham papel importante referente à nutrição das plantas. (LEPSCH, 2002). Veja na figura 20 quais funções a matéria orgânica pode desempenhar.
TÓPICO 3 | ESTRUTURA DOS SOLOS
43
FIGURA 20 – FUNÇÕES DA MATÉRIA ORGÂNICA
Propicia a diversidademicrobiológica do solo
Fonte de energiaa microbiota
Segura a umidadedo solo
Fonte de nitrogêniopara as plantas
Melhora a texturado solo
Auxilia no crescimentodas plantas
Funções da M.O
Permite a infiltração daágua para o aquífero
freático
Aumenta a quantidadede absorção da água
Libera fósforo eenxofre
Aumenta a porosidadedo solo
FONTE: A autora
2.3 A ÁGUA NO SOLO
A maioria dos solos possui a capacidade de reter e armazenar a água infiltrada por um determinado tempo. (LEPSCH, 2002). Contudo, nem toda a água que chega ao solo é armazenada e se torna disponível às plantas, porque parte da água das chuvas percola pelo perfil e alcança as camadas mais profundas, tornando-se inacessível às raízes das plantas. A água que permanece nas camadas superiores pode sofrer evaporação ou ser transpirada pelas plantas (Figura 21). (KIEHL, 1979).
FIGURA 21 – CICLO HIDROLÓGICO
FONTE: Karmann (2000, p. 115)
44
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
De acordo com o conteúdo e da natureza da retenção de água, o solo pode se encontrar em três estados de umidade: muito mal drenado (encharcado), mal drenado (úmido) e bem drenado (seco). (LEPSCH, 2002).
2.3.1 Solo muito mal drenado (encharcado)
Os solos muito mal drenados ou encharcados possuem todos os poros preenchidos com água, sendo que a parte gasosa (ar) é praticamente ausente. Com o encharcamento total do solo, a água drena para as camadas ou horizontes mais baixos, juntando-se ao aquífero freático, dando origem às nascentes. (LEPSCH, 2002).
NOTA
Nos solos que ficam permanentemente encharcados, a matéria orgânica tem decomposição lenta, formando as chamadas turfeiras. (LEPSCH, 2002).
2.3.2 Solo mal drenado (úmido)
Os solos mal drenados ou úmidos são caracterizados pela água infiltrada nos microporos, sendo que o ar se encontra também presente nos chamados acroporos. Os poros menores funcionam como finos tubos chamados capilares. O líquido contido nesses é chamado água capilar, ficando retido no solo com tal força, que fica mantido por mais tempo nos poros. Contudo, as plantas ainda conseguem extrair parte dessa água, e em função disso, a água extraída é denominada água disponível. (LEPSCH, 2002).
Nem todos os solos têm a mesma capacidade de armazenar a água. Varia muito em função da quantidade de matéria orgânica das características, da textura, tipo de argila e estrutura do solo. (LEPSCH, 2002).
2.3.3 Solo bem drenado (seco)
O solo bem drenado ou seco é caracterizado por conter água, mas em forma de películas externas finas, localizadas ao redor das partículas de solo. Geralmente, essa água é retida com tal força que as raízes não conseguem extraí-la para o uso das plantas, sendo considerado então, um solo seco. A água contida no solo bem drenado ou seco é denominada higroscópica. (LEPSCH, 2002).
TÓPICO 3 | ESTRUTURA DOS SOLOS
45
IMPORTANTE
A água do solo contém pequenas e variáveis quantidades de sais minerais, oxigênio e gás carbônico, formando uma solução conhecida como solução do solo (LEPSCH, 2002). A quantidade e o tipo de elementos dissolvidos nessa solução dependem da origem do solo e que servem como reservatórios de nutrientes às plantas. (BRANDY, 1983).
2.4 O AR NO SOLO
Os solos são formados por uma parte gasosa representada por 25%. Esse ar está situado nos poros, que se encontra livre ou em pequenas bolhas dissolvidas na água. De tal forma, podemos dizer que existe uma relação dinâmica entre as fases líquidas e gasosas do solo. (LEPSCH, 2002).
O ar do solo possui diferentes teores e composição de gases em relação ao ar atmosférico, contendo maior proporção de gás carbônico (CO2) e menor de oxigênio (O2) e variando a composição devido à interação dinâmica com a fase sólida. Os fatores que influenciam estas diferenças de teor e composição são apresentados na Figura 22. (BRANDY, 1983).
FIGURA 22 – FATORES QUE INFLUENCIAM O TEOR E A COMPOSIÇÃO DO AR NO SOLO
Teor econcentraçãodo Ar do solo
Respiração dasraízes das
plantas Diferença nadissolução dosgases na água
Ausência defotossíntese
Tipos deplantas
Estações doano
Característicasdo solo
Atividadesdo solo
Profundidadedo solo
Concentraçãode água
Trocas demateriais coma atmosfera
FONTE: A autora
46
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
Os microrganismos no solo dependem das condições de aeração do solo, e na presença abundante de oxigênio, os microrganismos participam ativamente nas transformações da matéria orgânica, liberando nutrientes para as plantas.
IMPORTANTE
O solo é um meio biologicamente ativo, onde as plantas, os micróbios e pequenos animais respiram, consomem oxigênio e liberam gás carbônico.
3 MORFOLOGIA DO SOLO
A morfologia do solo pode ser observada por meio da sua aparência no meio ambiente, podendo ser descrita conforme as características visíveis e perceptíveis sem qualquer equipamento específico. O conjunto de características morfológicas constitui a base fundamental para a identificação do solo, que deverá ser completada com as análises de laboratório. (LEPSCH, 2002).
A descrição morfológica do solo é a primeira etapa a ser realizada antes de estudos analíticos específicos, pois as características e a disposição dos horizontes são o resultado da ação dos processos de formação do solo. (KIEHL, 1979).
NOTA
As principais características observadas na descrição morfológica são: estruturas, textura, consistência, porosidade e cor. Veja suas características a seguir.
3.1 ESTRUTURA
A estrutura refere-se ao tamanho, forma e aspecto do solo, no qual se encontram formas diversas. Essas formas se dão pela aglomeração das partículas de areia, silte e argila, formando os agregados de solo. (LEPSCH, 2002). Veja na figura a seguir as formas estruturais dos solos.
TÓPICO 3 | ESTRUTURA DOS SOLOS
47
FIGURA 23 – OS VÁRIOS TIPOS DE ESTRUTURA QUE OS SOLOS PODEM APRESENTAR E A INFLUÊNCIA NO FLUXO DE ÁGUA DENTRO DOS MESMOS
FONTE: Adaptada de Brandy; Weill (2002)
Para reconhecer a estrutura do solo, retira-se um bloco (torrão), que possa ser mantido na palma da mão e selecionam-se, com os dedos, os agregados do solo e verifica-se se estão ligados uns aos outros de forma natural. Depois de separados, verificam-se sua forma, tamanho e grau de desenvolvimento dentro e entre os agregados. (LEPSCH, 2002).
NOTA
A aderência entre os agregados é provocada por substâncias que têm propriedades de ligá-las umas às outras, sendo produtos de origem orgânica principalmente.
3.2 TEXTURA
Sabemos que o solo é constituído por um conjunto de partículas individuais que estão interligadas, e de tamanhos variados. Algumas podem ser observadas a olho nu, outras podem ser observadas com auxílio de lentes, enquanto outras somente com microscópios. (LEPSCH, 2002).
Essas partículas são classificadas segundo seu tamanho conforme a Tabela 2 do item 2.1 (Porção sólida: os minerais).
48
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
IMPORTANTE
O termo textura ou granulometria refere-se à proporção relativa das frações areia, silte e argila do solo.
De acordo com a EMBRAPA (2006), os solos são agrupados em três classes de textura:
• Solos de textura arenosa (solos leves) - Possuem teores de areia superiores a 70% e o de argila inferior a 15%; são permeáveis, leves, de baixa capacidade de retenção de água e de baixo teor de matéria orgânica. Também são altamente susceptíveis à erosão, necessitando de cuidados especiais na reposição de matéria orgânica, no preparo do solo e nas práticas conservacionistas. São limitantes ao método de irrigação por sulcos, devido à baixa capacidade de retenção de água o que ocasiona uma alta taxa de infiltração de água no solo e consequentemente elevadas perdas por percolação.
• Solos de textura média (solos médios) - São solos que apresentam certo equilíbrio entre os teores de areia, silte e argila. Normalmente, apresentam boa drenagem, boa capacidade de retenção de água e índice médio de erodibilidade. Portanto, não necessitam de cuidados especiais, adequando-se a todos os métodos de irrigação.
• Solos de textura argilosa (solos pesados) - São solos com teores de argila superiores a 35%. Possuem baixa permeabilidade e alta capacidade de retenção de água. Esses solos apresentam maior força de coesão entre as partículas, o que além de dificultar a penetração, facilita a aderência do solo aos implementos, dificultando os trabalhos de mecanização. Embora sejam mais resistentes à erosão, são altamente susceptíveis à compactação, o que merece cuidados especiais no seu preparo, principalmente no que diz respeito ao teor de umidade, no qual o solo deve estar com consistência friável. Apresentam restrições para o uso da irrigação por aspersão quando a velocidade de infiltração básica for muito baixa.
No campo, podemos identificar a textura do solo da seguinte forma: umedeça uma pequena amostra de solo e trabalhe-a entre os dedos. Depois de suficientemente amassada, procurar sentir, com o tato, essa massa úmida. Nas amostras em que predomina a argila, você terá impressão de suavidade e pegajosidade, formando pequenos rolos que poderão ser dobrados em argolas. No caso da predominância de areia, a sensação é de aspereza, o material parece uma pasta sem consistência. Quando o predomínio for o silte, a sensação é "sedosa" (semelhante a talco). (LEPSCH, 2002). Outra forma de identificação da textura é através de análise laboratorial.
TÓPICO 3 | ESTRUTURA DOS SOLOS
49
3.3 CONSISTÊNCIA
O termo consistência refere-se ao grau de resistência e plasticidade do solo. Esses dependem das ligações internas entre as partículas do solo. Os solos ditos coesivos possuem uma consistência plástica entre certos teores limites de umidade. Abaixo destes teores eles apresentam uma consistência sólida e acima uma consistência líquida. Pode-se ainda distinguir entre os estados de consistência plástica e sólida, uma consistência semissólida.
Os teores de umidade correspondentes aos limites de consistência entre sólido e semissólido; semissólido e plástico; e plástico e líquido são definidos como limite de contração (LC), limite de plasticidade (LP) e limite de liquidez (LL) (Figura 24).
FIGURA 24 – RELAÇÃO ENTRE A VARIAÇÃO DE VOLUME E TEOR DE UNIDADE NA DETERMINAÇÃO DA CONSISTÊNCIA DO SOLO
FONTE: Disponível em: <http://www.ufsm.br/engcivil/Material_Didatico/TRP1003_mecanica_dos_solos/unidade_4.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2011.
De modo geral, a consistência do solo está diretamente ligada ao maior ou menor grau de adesão entre as partículas de areia, silte ou argila, fazendo com que os solos sejam mais macios ou mais duros.
NOTA
A consistência varia em função das características e do tipo de horizonte, tais como textura, estrutura, agentes cimentantes e pelo teor de umidade.
Teor de umidade (w%)
Estadolíquido
EstadoplásticoVa
riaçã
o de
vol
ume
(∆V)
Estadosemi-sólido
Estadosólido
Vf
Vi
V0
Sr < 100%
0 LC LP LL
Sr = 100%
50
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
Na prática, podemos observar se um torrão de solo úmido pode ser friável, quando se desfaz sob uma pressão entre o indicador e o polegar; firme, quando se desfaz sob uma pressão moderada; e muito firme, quando dificilmente é esmagável. (LEPSCH, 2002).
3.4 POROSIDADE
O espaço poroso de um solo é a porção ocupada pelo ar e pela água e o tamanho deste espaço é determinado pela distribuição das partículas sólidas. Se as partículas permanecem em contato, como nas areias ou subsolos compactos, a porosidade total é reduzida; se distribuídos em agregados porosos, como solos com elevada concentração de matéria orgânica, os espaços porosos serão elevados. (BRANDY, 1983).
IMPORTANTE
Dependendo das condições do solo, existem diferenças no total de espaço dos poros. Alguns dos fatores que exercem influência no total de espaço dos poros são: o tipo de estrutura das partículas, a profundidade do perfil, o manuseio do solo e quantidade de matéria orgânica.
Quanto ao tamanho dos poros, há dois tipos específicos de espaços porosos: macroporos e microporos. Embora não exista uma nítida linha de demarcação, os macroporos possibilitam o movimento livre do ar e da água de percolação. Já nos microporos o movimento do ar é difícil, enquanto o da água fica restrito principalmente à capilaridade. (BRANDY, 1983).
Num solo arenoso, apesar de sua reduzida porosidade, a movimentação do ar e da água é rápida, porque tem a predominância dos macroporos. Os solos de textura fina têm movimentação lenta de gases e água, apesar da quantidade extraordinariamente grande do total de espaços porosos. Neste caso, os microporos se mantêm, muitas vezes, cheios de água. A aeração do subsolo é frequentemente inadequada para assegurar desenvolvimento satisfatório das raízes e da atividade microbiana. Assim, o fator importante a considerar é o tamanho de cada espaço de poro, de preferência ao seu volume conjunto.
TÓPICO 3 | ESTRUTURA DOS SOLOS
51
3.5 COR
A cor do solo é uma característica de fácil visualização. Solos com alto teor de matéria orgânica geralmente apresentam coloração escura, já solos vermelhos correspondem a solos bem drenados e alto teor de óxido de ferro; os solos de cor cinza com pequenas manchas indicam excesso de água no perfil. As diferentes tonalidades de solo são importantes para a identificação e delimitação dos horizontes. (LEPSCH, 2002).
UNI
Para visualizar a tabela de Munsell acesse o site: www.pedologiafacil.com.br/enquetes/enq43.php
A cor do solo é descrita comparando um fragmento ou torrão de um determinado horizonte com uma escala padronizada (tabela Munsell) que contém em torno de 170 pequenos retângulos com colorações diversas, arranjadas sistematicamente num livro de folhas destacáveis. (LEPSCH, 2002).
Quando identificar a cor característica do torrão na tabela Munsell, anotam-se os três elementos básicos que compõem uma determinada cor:
Matiz - cor "pura" ou fundamental de arco-íris.Valor - medida do grau de claridade da luz ou tons de cinza presentes (entre branco e preto) variando de 0 (para o preto absoluto) a 10 (para o branco puro). Croma - proporção da mistura da cor fundamental com a tonalidade de cinza, também variando de 0 a 10. (LEPSCH, 2002).
4 PERFIL DO SOLO
O perfil do solo é formado pela ação do intemperismo, ou seja, ao longo do tempo a ação física, química e biologia sobre a rocha foram camadas ou horizontes de solo em sentido vertical. Essas camadas ou horizontes possuem características diferentes que em conjunto, formam o chamado perfil do solo. O perfil do solo pode ser visto quando o solo é escavado ou quando sofre cortes para a abertura de estradas.
O perfil de um solo completo e bem desenvolvido possui, basicamente, cinco tipos de camadas ou horizontes que costumam ser chamados de "horizontes principais" e são, convencionalmente, identificados pelas letras maiúsculas O, A, A1 ou E, B, C (ou saprólito) e R (rocha). (TOLEDO et al., 2000). Você pode ver esse perfil com seus horizontes ou camadas por meio da Figura 25.
52
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
FIGURA 25 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DOS HORIZONTES DO SOLO (O, A, E, B, C E R)
FONTE: Adaptado de Toledo; Oliveira; Melfi (2000)
Horizonte O: é composto principalmente por serapilheira (restos de folhas, troncos, animais) que recobre o solo. É bem visível em áreas com cobertura florestal, pois apresenta coloração escura devido à concentração de matéria orgânica (cerca de 20%).
Horizonte A: é a camada rica em minerais, fruto da alteração das rochas (argilas, areias, cascalhos) e por matéria orgânica (húmus), localizado próximo à superfície. Devido ao acúmulo de matéria orgânica em decomposição, apresenta a coloração escura. Além do mais, é caracterizado por grande atividade biológica. Para o cultivo agrícola, esse horizonte é revolvido (arado) a uma profundidade de até 30 cm, sendo incorporado com o horizonte O, formando o solo agrícola.
Horizonte A1 ou E: esse horizonte é caracterizado pela transição entre os horizontes A e B, logo, apresenta uma coloração mais clara, pois ocorrem perdas de materiais que são translocados para o horizonte B. O algarismo arábico A1 indica uma subdivisão dentro do horizonte principal no caso A.
Horizonte B: é a camada mineral situada abaixo do horizonte A1 ou E, caracterizada por menor concentração de matéria orgânica do que o horizonte A. É definido como aquele que apresenta maior definição de cor e estrutura. Possui acúmulo e materiais translocados dos horizontes superiores, pela infiltração de água, que ficam retidos nas camadas mais profundas, formando esses horizontes de acumulação. Também é considerada a camada onde o material mineral está muito alterado, sendo que alguns minerais mais resistentes também são encontrados, como grãos de quartzo.
Horizonte C: é a camada que normalmente, corresponde ao soprólito, isto é, rocha ainda pouco alterada pelos processos de formação do solo, ou seja, com material não consolidado. Essa camada foi pouco afetada pelos processos de formação do solo.
TÓPICO 3 | ESTRUTURA DOS SOLOS
53
Horizonte R: é a camada mineral de material consolidado, que constitui substrato rochoso contínuo ou praticamente contínuo. A descontinuidade pode ocorrer devido a poucas e estreitas fendas no material de origem.
NOTA
É considerado como solum o conjunto dos horizontes O, A, E e B onde se encontra maior concentração de minerais disponíveis às plantas. Já os horizontes C e R são considerados subsolo.
O perfil do solo é uma característica de grande importância utilizada para a classificação dos solos, conforme você vai estudar no próximo tópico dessa unidade. Para se determinar o perfil é realizada a abertura de trincheiras no solo, com um metro quadrado de largura e em média 2 a 3 metros de profundidade, dependendo do tipo de solo (Figura 26).
FIGURA 26 – TRINCHEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DO SOLO
FONTE: Disponível em: <http://www.cnps.embrapa.br/sibcti/fotos/caracterizacao.htm>. Acesso em: 20 fev. 2011.
Outra forma de se coletar dados do perfil do solo é por meio do uso de trado (instrumento de aço de grande espessura em forma de espiral, que possui a extremidade inferior pontiaguda). Ao girar, o trado consegue perfurar o solo, assim, retira-se camadas de 20 em 20 cm até cerca de um metro ou mais de profundidade e monta-se o perfil com o solo tradado (Figura 27).
54
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
FIGURA 27 – USO DE TRADO NA COLETA DO PERFIL DO SOLO
FONTE: Acervo da autora
55
RESUMO DO TÓPICO 3
Neste tópico, você estudou que:
• O solo é formado por constituintes nos três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso.
• A porção sólida é formada por matéria inorgânica (minerais) e matéria orgânica; a fase líquida é constituída pela água no solo, sais em dissolução e matéria coloidal em suspensão e; a porção gasosa é constituída pelo ar atmosférico.
• As partículas minerais do solo são classificadas pela sua origem, pela composição e pelo tamanho em minerais primários e minerais secundários.
• A matéria orgânica é muito importante para o solo, melhorando as características físicas como: permeabilidade, porosidade e retenção de água.
• O solo pode se encontrar em três estados de umidade: muito mal drenado (encharcado), mal drenado (úmido) e bem drenado (seco) de acordo com o conteúdo e da natureza da retenção de água.
• As principais características observadas na descrição morfológica são: cor, estruturas, textura, consistência e porosidade.
• As tonalidades de solo são muito importantes para a identificação e delimitação dos horizontes.
• O termo textura refere-se à proporção relativa das frações areia, silte e argila em um material do solo, onde um horizonte é constituído, geralmente, pela combinação dessas três frações.
• A estrutura refere-se ao tamanho, forma e aspecto do solo, possuindo formas diversas (granular, prismático, maciço, grau simples, bloco e lâmina).
• A consistência pode variar em função das características e do tipo de horizonte, tais como textura, estrutura, agentes cimentantes e pelo teor de umidade.
• Os poros do solo podem ser denominados de acordo com o tamanho em macroporos e microporos.
• O perfil de um solo é formado por cinco tipos de horizontes ou camadas, que costumam ser chamados de "horizontes principais" e são, convencionalmente, identificados pelas letras maiúsculas O, A, A1 ou E, B, C e R (rocha).
• Para se determinar o perfil do solo é realizada a abertura de trincheiras no solo ou utilizado trado.
56
Caro acadêmico! Para fixar melhor o conteúdo estudado, vamos exercitar um pouco. Leia as questões a seguir e responda a elas em seu Livro de Estudos. Bom trabalho!
1 Com relação à composição do solo, quais são os três estados físicos da matéria de que é composto e qual a proporção volumétrica média no solo superficial, quando em boas condições para o desenvolvimento de uma planta?
2 Complete o quadro a seguir com as características do tamanho da fração e diga se a composição é dominante de minerais primários ou secundários.
AUTOATIVIDADE
NOME COMUM TAMANHO DA FRAÇÃO COMPOSIÇÃO DOMINANTE
Pedra
Cascalho
AreiasSilte
Argila
3 Com relação à matéria orgânica do solo, complete as lacunas da frase a seguir:
A matéria orgânica é um conjunto de resíduos de _____________e ____________ parcialmente decompostos e sintetizados e/ou que está em contínua decomposição resultante dos ________________________ no _________________.
4 A matéria orgânica é muito importante para o solo, do ponto de vista da formação de agregados. Que características físicas são melhoradas no solo com a presença da matéria orgânica? Assinale a alternativa CORRETA:
a) ( ) Permeabilidade e porosidade. b) ( ) Permeabilidade e acidez.c) ( ) Acidez e retenção de água.d) ( ) Permeabilidade e alcalinidade.
5 Quais são as principais características observadas utilizadas para a descrição morfológica de um solo?
6 Quais são os seis tipos de estrutura que os solos podem apresentar e qual sua influência com relação ao fluxo de água dentro dos mesmos?
57
7 O perfil de um solo completo e bem desenvolvido possui, basicamente, cinco tipos de horizontes ou camadas (O, A, A1 ou E, B, C e R).
59
TÓPICO 4
CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS
UNIDADE 1
1 INTRODUÇÃO
O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos é um referencial taxonômico para uso de pesquisadores, técnicos, professores, estudantes e profissionais envolvidos na pesquisa de solos.
O atual sistema publicado pela Embrapa Solos é resultante de aperfeiçoamentos contínuos ao longo de várias gerações de estudiosos da Ciência do Solo no Brasil, sintetizando, no estágio atual, a experiência e resultados de pesquisa de campo e laboratórios nas linhas de morfologia, física, química e mineralogia de solos. É o produto de uma parceria bem sucedida entre a Embrapa Solos e instituições nacionais de ensino, pesquisa e planejamento.
Então, agora que você já estudou a estrutura dos solos e como se dá sua formação (pedogênese), chegou o momento de conhecermos um pouco de sua taxonomia, ou seja, o estudo da classificação dos solos. Para isso, vamos iniciar com o histórico da classificação, para entender como tudo começou. Veremos a importância de classificarmos os solos e finalmente os diferentes níveis categóricos da classificação.
2 HISTÓRICO DA CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS NO BRASIL
A primeira classificação de solos no Brasil, baseada em conceitos essencialmente Pedológicos, iniciou em 1947, após a criação da Comissão de Solos do Ministério da Agricultura, precursora do atual Centro Nacional de Pesquisa de Solos da EMBRAPA, seguindo o objetivo de realizar o inventário nacional dos solos brasileiros.
O primeiro Estado brasileiro a ser inventariado foi o do Rio de Janeiro em 1958, seguido pelo de São Paulo em 1960. O referencial utilizado para a classificação dos solos na época era baseado em Baldwing, Kellog e Thorp em 1938 e em Thorp e Smith em 1949.
60
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
Logo que iniciaram os inventários, perceberam inadequação daqueles sistemas na identificação de solos, uma vez que os solos encontrados não se ajustavam ao conceito central de algumas daquelas classes ou porque não era encontrada qualquer característica que correspondia ao conceito das classes contidas naqueles referenciais.
O avanço dos conhecimentos adquiridos dos solos brasileiros e a inexistência de uma taxonomia adequada e hierarquizada aumentaram a demanda por um sistema de classificação que permitisse identificar os solos desde classes mais gerais até repartições mais específicas.
Este desafio foi assumido pelo então Serviço Nacional de Levantamento e Conservação do Solo (SNLCS) da EMBRAPA, sucessor da Comissão de Solos que, em 1978, organizou uma Comissão de Classificação e produziu um documento preliminar. A partir desse documento foi instituído o projeto “Desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos.
Anos depois, o Projeto de Desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos que havia praticamente parado, retorna em 1995 sob nova estratégia de ação, destacando-se a abertura para a participação ativa e contínua da comunidade de pedólogos brasileiros por meio do Comitê Executivo, do Comitê Assessor Nacional e dos Comitês Regionais.
O avanço apresentado foi muito significativo a ponto de no Congresso de Solos de Brasília, em 1999, ter sido apresentado o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) (EMBRAPA, 1999), texto considerado como suficientemente elaborado para ser divulgado para toda a comunidade de pedólogos.
Esse foi um momento histórico, pois esta publicação constitui, na realidade, o primeiro Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SBCS) oficialmente publicado.
O Sistema foi testado por meio de viagens de correlação e classificação de solos, excursões técnicas de congressos de solos, e também nos levantamentos pedológicos executados em várias regiões do Brasil.
Os estudos e verificações de campo mostraram que o SiBCS deu resultados práticos, porém necessitava de revisão e aperfeiçoamento contínuo com base nos dados existentes e em novos trabalhos mais detalhados executados por diversas instituições nacionais públicas e privadas conforme se vai conhecendo melhor o país. Tanto é que o Novo Sistema de Classificação de Solos foi publicado pela EMBRAPA em 2006.
TÓPICO 4 | CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS
61
3 IMPORTÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS
A classificação de solos tem aplicações práticas principalmente em levantamentos de solos, constituindo a fonte permanente de conhecimento para este ramo de atividade técnica. Além dos levantamentos, a classificação é útil para referenciar, precisamente, pontos de amostragem de solos, rochas, plantas, materiais genéticos, facilitando a extrapolação de resultados experimentais de manejo, conservação e fertilidade de solos. (EMBRAPA, 1999).
A classificação do solo em pontos de amostragem, associada ao georreferenciamento (latitude, longitude e altitude), é uma ferramenta poderosa para o conhecimento de segmentos da paisagem ou do território como um todo, constituindo uma informação indispensável na estruturação de bases de dados e para o Sistema de Informação Geográfica (SIGs) para fins de estudos ambientais. (EMBRAPA, 1999).
Nesta linha de organização, interpretação e integração da informação, a classificação de solos, do ponto de vista do planejamento territorial, desempenha importante papel na segmentação de paisagens. Com essas informações é possível identificar áreas de maior potencial para fins de utilização e ocupação e áreas impróprias ou não recomendadas, contribuindo desta forma para a preservação ambiental e uso adequado de ecossistemas, dos quais o solo é um componente básico.
4 CLASSIFICAÇÃO ATUAL DOS SOLOS – EMBRAPA 2006
O sistema atual de classificação dos solos – EMBRAPA 2006 - classifica todos os solos do território nacional em níveis categóricos, sendo que cada nível é formado por um conjunto de classes.
As características ou propriedades usadas para a definição de um nível categórico são propriedades dos solos que possam ser identificadas no campo ou que possam ser inferidas de outras propriedades que são reconhecidas no campo ou a partir de conhecimentos da ciência do solo e de outras disciplinas correlatas.
As características diferenciais para os níveis categóricos mais elevados da classificação de solos devem ser propriedades que resultam diretamente dos processos de formação do solo ou que afetam, diretamente, a formação do mesmo, porque estas propriedades apresentam um maior número de características acessórias.
62
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
Os níveis categóricos aplicados para o Sistema Brasileiro de Classificação dos solos são seis:
• 1o nível: Ordens• 2o nível: Subordens• 3o nível: Grandes Grupos• 4o nível: Subgrupos• 5o nível: Famílias• 6o nível: Séries
Na nova classificação geral do sistema, vamos ter 13 classes no nível de Ordem (1o nível categórico), 44 classes no nível de Subordem (2o nível), 150 classes no nível de Grande Grupo (3º nível) e 580 classes no nível de Subgrupo (4º nível). No 5º e 6º níveis, Família e Série, respectivamente, o número de classes é imprevisível no momento, dependendo da intensidade de levantamentos semidetalhados e detalhados que venham a ser executados nos anos futuros. (EMBRAPA, 2006).
IMPORTANTE
Como você já deve ter percebido, são centenas de tipos de solos agrupados de acordo com seu nível de classificação. No entanto, como nosso objetivo é compreender o processo de gênese, uso e conservação dos solos, então não iremos nos aprofundar nas terminologias acima do segundo nível categórico. Mas ressalto que é muito importante diferenciarmos as características que definem os seis níveis categóricos.
UNI
Para maior aprofundamento e conhecimento da classificação dos solos, sugerimos a leitura do livro: Sistemas de classificação dos solos. (EMBRAPA, 2006).
TÓPICO 4 | CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS
63
4.1 CLASSES DO 1o NÍVEL CATEGÓRICO (ORDEM)
O nível definido como ordem corresponde ao nível mais genérico de classificação, distinguindo as grandes classes de solos.
As diversas classes nesse 1° nível categórico são separadas pela presença ou ausência de determinados atributos, horizontes diagnósticos ou propriedades que são passí veis de serem identificadas no campo mostrando diferenças no tipo e grau de desenvolvimento dos processos que atuaram na formação do solo. Assim, a separação das classes no 1o nível categórico teve como base os sinais deixados no solo, pela atuação de um conjunto de processos que foram considerados dominantes no desenvolvimento do solo.
Assim, as propriedade para determiná-los foram:
• diferenciá-Ios entre solos minerais e orgânicos; • indicar seu potencial de modificação quando drenados e/ou cultivados; • prever ou identificar a qualidade do substrato mineral e; • selecionar características diferenciais que mudem pouco ou muito lentamente
com o uso e manejo.
No quadro 1, você pode conhecer as 13 classes de solos do nível categórico denominado ordem, bem como seus termos de conotação que os auxiliarão na memorização do significado das diferentes classes de solo.
QUADRO 1 – NOMENCLATURA DAS TREZE (13) CLASSES DE SOLOS QUE COMPREENDEM O PRIMEIRO NÍVEL CATEGÓRICO (ORDEM) E SEUS RESPECTIVOS SIGNIFICADOS
Classes Termo de conotação/memorização Definição
ARGISSOLOS “Argila” = acumulação de argila.
Solos com horizonte B desenvolvido e argiloso.
CAMBISSOLOS “Cambiare” = trocar ou mudar.
Solos com horizonte B incipiente, ou seja, pouco desenvolvido.
CHERNOSSOLOS “Cherno” = preto ou rico em bases.
Solos escuros, ricos em bases e matéria orgânica.
ESPODOSSOLOS “Spodos” = cinza vegetal. Solos desenvolvidos e com presença de húmus ácido.
GLEISSOLOS “Glei” = horizonte glei.
Solos com horizonte glei, ou seja, resultante de processo de redução do
ferro devido efeito de flutuação do lenço freático, apresentando coloração cinzenta.
LATOSSOLOS “Lat” = material muito alterado.
Solos mais antigos, resultado de intemperismo intenso.
64
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
4.2 CLASSES DO 2° NÍVEL CATEGÓRICO (SUBORDENS)
Para a definição das classes do 2º nível categórico, foram analisadas algumas propriedades ou características diferenciadas, tais como:
a) o processo de formação do solo (conjunto de fatores ou um fator dominante);b) a presença ou ausência de diferenciação de horizontes e seu grau de
profundidade;c) a presença de propriedades da formação solo (tipo de rocha, porção orgânica,
porosidade, saturação) que sejam extremamen te importantes para o desenvolvimento das plantas e/ou para usos não agrícolas) ou;
d) as propriedades ou características que se destacam dentro das classes do 1º nível categórico.
4.3 CLASSES DO 3° NÍVEL CATEGÓRICO (GRANDES GRUPOS)
Para a definição das classes do 3º nível categórico, foram analisadas algumas propriedades ou características diferenciadas, tais como:
a) tipo e arranjamento dos horizontes; b) atividade da argila (movimentação); condição de saturação do solo por bases
ou por alumínio, ou por sódio e/ou a presença de sais solúveis;
LUVISSOLOS “Luere” = iluvial.Solos ricos em bases e acumulação de argila, apresentando coloração
vermelho-amarelo.
NEOSSOLOS “Neo” = novo. Solos pouco desenvolvidos, encontrados em margens de rios.
NITOSSOLOS “Nitidus” = brilhante. Solos que correspondem à terra roxa estruturada, vermelho-escuros.
ORGANOSSOLOS “Organo” = orgânico. Solos orgânicos ou turfosos (solos de turfeiras).
PLANOSSOLOS “Planus” = horizonte B plântico.
Solos com grande contraste textural devido à concentração intensa de argila
no horizonte superficial.
PLINTOSSOLOS “Plinthus” = horizonte plíntico.
Solos com horizontes acinzentados e com pontos (mosqueados) avermelhados.
VERTISSOLOS “Vertere” = inverter. Solos com propriedades provenientes de argilas expansíveis (movimentação).
FONTE: Adaptado de EMBRAPA (2006)
TÓPICO 4 | CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS
65
4.4 CLASSES DO 4° NÍVEL CATEGÓRICO (SUBGRUPOS)
Para a definição das classes do 4º nível categórico, foram analisadas algumas propriedades ou características diferenciadas, tais como:
a) área geográfica, mas apresenta a organização de horizontes e sinais dos processos pedogenéticos;
b) atributos que os definem como intermediários para ou tras classes no 1°, 2° ou 3° níveis categóricos;
c) representa os solos com características únicas.
4.5 CLASSES DO 5° NÍVEL CATEGÓRICO (FAMÍLIA)
O 5° nível categórico do sistema de classificação está em discussão e deverá ser definido com base em características e propriedades morfológicas, físicas, químicas e mineralógicas importantes para uso e manejo dos solos.
Os critérios recomendados devem ser testados nas distintas classes de solos, verificando metodologias apropriadas e respostas em termos de importâncias agronômica, geotécnica e para fins diversos. Este é um campo que deve ser estimulado nas ações de pesquisas nas instituições diversas.
4.6 CLASSES DO 6° NÍVEL CATEGÓRICO (SÉRIE)
O 6° nível categórico correspondendo o nível mais detalhado, contudo, está também em discussão e deverá ser a categoria mais homogênea do sistema, correspondendo ao nível de "série de solos", para ser utilizada em levantamentos detalhados. É importante que as características diferenciais utilizadas sejam identificadas quanto a sua variabilidade espacial.
A definição de classes neste nível deverá ter por base características diretamente relacionadas com o crescimento de plantas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento do sistema radicular, relações solo-água-planta e propriedades importantes nas inter-relações para fins de engenharia, geotecnia e ambientais.
c) presença de horizontes ou propriedades que restringem o desenvolvimento das raízes e afetam o livre movimento da água no solo.
66
UNIDADE 1 | FORMAÇÃO DO SOLO
Para textos corridos de livros, artigos em revistas, tabelas e semelhantes, o 1º e 2º níveis categóricos podem ser escritos apenas com as primeiras letras maiúsculas. Ex.: Neossolos Ta Eutróficos vertissólicos (Figura 28).
QUADRO 2 – EXEMPLO DA NOMENCLATURA DE UM TIPO DE SOLO USANDO OS QUATRO NÍVEIS CATEGÓRICOS
1º e 2º níveis categóricos (em maiúsculo)
3º nível categórico (inicial maiúscula)
4º nível categórico (inicial minúscula)
NEOSSOLOS FLÚVICOS Ta Eutróficos vertissólicos
FONTE: A autora
4.7 REGRAS PARA O USO DA NOMENCLATURA DE 1º, 2º, 3º E 4º NÍVEIS CATEGÓRICOS
Em fichas de descrição morfológica de perfis de solos e nas legendas de mapas, as classes de 1° e 2° níveis categóricos devem ser escritas com todas as letras maiúsculas e as classes de 3° nível categórico (grandes grupos) apenas com a primeira letra maiúscula, e no 4° nível categórico (subgrupos) os nomes devem ser escritos em letras minúsculas (EMBRAPA, 1999). Veja um exemplo no Quadro 2.
Para os nomes das classes do 6° nível categórico deverão ser utilizados nomes próprios, geralmente referenciados a lugares onde a série foi reconhecida e descrita pela primeira vez, desta maneira evitando-se o emprego de um nome descritivo, o que levaria uma grande dificuldade de distinção em relação às famílias.
TÓPICO 4 | CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS
67
FIGURA 28 – PERFIL DE UM NEOSSOLO FLÚVICO TA EUTRÓFICO
FONTE: Disponível em: <http://www.leonamsouza.com.br>. Acesso em: 20 fev. 2011.
68
RESUMO DO TÓPICO 4
Neste tópico, você estudou:
• O histórico de classificação dos solos no Brasil, que iniciou em 1947, após a criação da Comissão de Solos do Ministério da Agricultura, precursora do atual Centro Nacional de Pesquisa de Solos da EMBRAPA.
• O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS) foi oficialmente publicado pela EMBRAPA em 1999.
• Os estudos e verificações de campo mostraram que o SiBCS deu resultados práticos, porém necessitava de revisão e aperfeiçoamento contínuo. Um Novo Sistema de Classificação de Solos foi publicado pela EMBRAPA em 2006.
• A classificação de solos é um referencial importante do ponto de vista do planejamento territorial contribuindo para a preservação ambiental e uso adequado de ecossistemas, dos quais o solo é um componente básico.
• O sistema atual de classificação dos solos classifica todos os solos do território nacional em níveis categóricos: 1º nível: Ordens; 2º nível: Subordens; 3º nível: Grandes Grupos; 4º nível: Subgrupos; 5º nível: Famílias; 6º nível: Séries.
• O primeiro nível categórico denominado Ordem é formado por 13 classes de solos.
• A nomenclatura dos solos segue algumas regras de acordo com o nível categórico.
69
AUTOATIVIDADE
Caro acadêmico! Para fixar melhor o conteúdo estudado, vamos exercitar um pouco. Leia as questões a seguir e responda a elas em seu Livro de Estudos. Bom trabalho!
1 Com relação à importância do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, classifique as afirmativas a seguir com V para as verdadeiras e F para as falsas:
( ) A classificação é útil para referenciar, precisamente, pontos de amostragem de solos, rochas, plantas e materiais genéticos.
( ) Tem importância para a definição do uso, manejo, conservação e fertilidade de solos.
( ) É uma ferramenta poderosa para o conhecimento de segmentos da paisagem ou do território como um todo.
( ) É importante apenas para pesquisadores que buscam compreender a diversidade biológica do solo.
( ) É uma ferramenta informativa, mas não serve para planejamento ambiental.
2 De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, os solos são classificados em seis níveis categóricos: como são denominados? E quantas classes cada um possui?
1o nível: ____________________ Nº de classes: _____________________2o nível: ____________________ Nº de classes: _____________________3o nível: ____________________ Nº de classes: _____________________4o nível: ____________________ Nº de classes: _____________________5o nível: ____________________ Nº de classes: _____________________6o nível: ____________________ Nº de classes: _____________________
3 Que propriedade ou características foram fundamentais no levantamento dos solos para a classificação do 1º nível categórico?
4 Cite a nomenclatura adotada para as treze (13) classes de solos que compreendem ao primeiro nível categórico e seus respectivos significados.
5 Que regras são aplicadas na nomenclatura de um tipo de solo com até quatro níveis categóricos? Dê um exemplo.
71
UNIDADE 2
RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
PLANO DE ESTUDOS
A partir desta unidade, você será capaz de:
• conhecer o caminho da água no subsolo por meio da infiltração;
• identificar e compreender os fatores que influenciam a infiltração, tais como cobertura florestal, topografia, precipitação, tipo de material e ocu-pação do solo;
• conhecer os diferentes tipos de aquíferos e sua relação com porosidade do solo;
• identificar os fatores do solo relacionados com o desenvolvimento das plantas;
• classificar os tipos de agrotóxicos e conhecer seu comportamento e trans-porte no solo;
• conhecer os indicadores e atributos que definem a qualidade do solo para a compreensão do equilíbrio necessário entre as condicionantes químicas, físicas e biológicas dos solos.
Esta segunda unidade está dividida em quatro tópicos. No final de cada um deles, você encontrará atividades que contribuirão para fixar os conteúdos explorados.
TÓPICO 1 – RELAÇÃO SOLO E ÁGUA
TÓPICO 2 – RELAÇÃO SOLO E PLANTA
TÓPICO 3 – COMPORTAMENTO DOS AGROQUÍMICOS NO SOLO
TÓPICO 4 – QUALIDADE AMBIENTAL DO SOLO
73
TÓPICO 1
RELAÇÃO SOLO E ÁGUA
UNIDADE 2
1 INTRODUÇÃO
A água é a substância mais abundante na superfície do planeta, participando dos processos modeladores da paisagem pela dissolução de materiais formando o solo, além de participar no transporte de partículas. A relação da água com o solo vai além do processo modelador da paisagem e formador do próprio solo. Podemos dizer que a água no solo pode assumir dois importantes papéis: infiltrar profundamente, abastecendo e formando os corpos de águas subterrâneas, também chamadas de aquíferos freáticos ou; ficar retida nos poros do solo nos horizontes mais superficiais que são liberadas para as plantas absorverem no processo de crescimento, carreando os sais minerais.
Contudo, para que a infiltração ocorra, depende de fatores essenciais, que estão relacionados à cobertura da superfície, à topografia, à precipitação, ao tipo de material e à ocupação do solo. Esses devem atender a características específicas para a formação das águas subterrâneas que irão originar os aquíferos freáticos.
Então, Caro acadêmico, neste primeiro tópico na Unidade 2, você vai estudar a relação água e solo no sentido de compreender o caminho da água no solo, sua distribuição e relação com a porosidade até a formação dos aquíferos freáticos.
2 CAMINHOS DA ÁGUA NO SOLO
A água, uma vez que atinge o solo, pode percorrer dois caminhos. O primeiro é a chamada infiltração que depende principalmente das características do material de cobertura da superfície, ou seja, se o solo se encontra coberto por vegetação ou desnudo. A água de infiltração, guiada pela força gravitacional, tende a preencher os vazios no subsolo, seguindo em profundidade, onde irá abastecer e formar os aquíferos freáticos ou as chamadas águas de subsolo ou subterrâneas. (KARMANN, 2000).
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
74
NOTA
Todas as águas que ocupam vazios em formações rochosas ou aderidas às partículas de solo são classificadas como águas de subsolo ou subterrâneas.
A segunda possibilidade ocorre quando a capacidade de absorção de água pela superfície é superada e o excesso inicia o escoamento superficial, impulsionado pela gravidade para as partes mais baixas do relevo. O escoamento superficial inicia-se por meio de pequenos filetes que se formam na superfície do solo, e convergem para os córregos e rios, contribuindo com a rede de drenagem. O escoamento superficial, com raras exceções, tem como destino final os oceanos, uma vez que os rios deságuam neles. (KARMANN, 2000).
A quantidade de água no solo depende de uma característica muito importante, chamada de capacidade de campo, que corresponde ao volume de água absorvido pelo solo, antes de atingir a saturação, e que não sofre movimento para níveis inferiores. Este parâmetro influencia diretamente a infiltração, pois representa um volume de água que participa do solo, mas que não contribui com a recarga da água subterrânea, sendo aproveitada somente pela vegetação. (RICKLEFS, 2003).
NOTA
A quantidade de água retida contra a gravidade pelas forças de atração maiores que 0,1 atmosfera (atm) é chamada de capacidade de campo do solo. (RICKLEFS, 2003). Você deve estar se perguntando: O que isso significa? Para ter noção, a força equivalente a 0,1 atm pode elevar uma coluna de água a aproximadamente 1 metro de altura.
IMPORTANTE
A infiltração é o processo mais importante de recarga da água no subsolo. É o processo pelo qual a água se infiltra nas camadas superficiais do solo e se desloca pela ação da gravidade até a camada impermeável, formando o aquífero freático.
TÓPICO 1 | RELAÇÃO SOLO E ÁGUA
75
IMPORTANTE
O volume e a velocidade de infiltração dependem de vários fatores, tais como: cobertura florestal, topografia, precipitação, tipo de rocha e ocupação do solo. São esses fatores que vamos ver a seguir.
2.1 FATORES QUE INFLUENCIAM A INFILTRAÇÃO
2.1.1 Cobertura florestal
A presença da vegetação na superfície auxilia no aumento da capacidade de infiltração da água no solo e reduz o escoamento superficial, favorecendo o abastecimento do aquífero freático (GUERRA; CUNHA, 2000; LIMA; ZAKIA, 2000). A cobertura florestal também exerce importante função no retardamento de parte da água que atinge o solo, por meio da interceptação das folhas, reduzindo a energia cinética das gotas de chuva. O excesso de água passa então, a ser lentamente liberado para a superfície do solo por gotejamento, evitando assim a compactação e erosão do solo. (BIGARELLA et al., 1994; LIMA; ZAKIA, 2000). Você pode observar a influência da cobertura florestal no processo de infiltração observando a figura a seguir.
FIGURA 29 – RELAÇÃO DE INFILTRAÇÃO DA ÁGUA NO SOLO EM LOCAL COM COBERTURA FLORESTAL E SEM COBERTURA FLORESTAL
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
76
A formação de matéria orgânica por meio das partes das plantas também desempenha importante função no processo de infiltração da água, uma vez que contribui para a estabilidade e teor de agregados dos solos (GUERRA; CUNHA, 2000) além de atuarem como filtro de substâncias tóxicas. (LIMA; ZAKIA, 2000).
Em uma pesquisa, a retenção da água no solo da bacia hidrográfica do Córrego Palmital, Jaboticabal/SP, mostrou que os valores médios da permeabilidade identificados nos solos foram de 94,81mm/h por hectare em floresta (mata), 8,99 mm/h por hectare em pastagem e 36,01 mm/h por hectare em agricultura (cana-de-açúcar). Considerando que deveria se infiltrar no solo pelo menos 20% da água que se precipita sobre a bacia e que as perdas de água em florestas é padrão, o volume total estimado para compen sar a perda que ocorre em excesso nas áreas de pastagem e agricultura é de 12,21 milhões de m³/ano. Com esses dados, constatou-se que o reflorestamento nativo compensatório para reter aquele volume de perda de água deve contemplar uma área de 942,73 ha, ou seja, 8,87 % da área da bacia. (BORGES et al., 2005).
IMPORTANTE
Você deve ter percebido que as florestas são extremamente importantes para o processo de infiltração. Assim também se fazem as matas ciliares, vegetação vinculada à dinâmica fluvial, ou seja, à beira de rios, lagos e nascentes que exercem papel fundamental no processo de infiltração da água no solo e ainda contribuem para a estabilização das margens dos rios e produção de água nas nascentes.
FONTE: Adaptado de: <http://www2.agua.org.br/protecao-mananciais/conteudos/113/manejo-de-solo.aspx>. Acesso em: 20 fev. 2011.
TÓPICO 1 | RELAÇÃO SOLO E ÁGUA
77
2.2 TOPOGRAFIA
A forma do relevo é outro fator que interfere na infiltração. Assim, em áreas que apresentam declives acentuados ou íngremes, ocorre o escoamento superficial direto, diminuindo a infiltração. Superfícies suavemente onduladas permitem o escoamento superficial menos veloz, aumentando a possibilidade de infiltração. (KARMANN, 2000).
DICAS
Para aprofundarmos o assunto, recomendo a leitura do livro Manejo ecológico do solo, da Ana Primavesi. Esta é uma das leituras obrigatórias da disciplina de Conservação e Uso do Solo.Abaixo um breve resumo do que trata este livro:
“Este livro contem a resposta a inúmeros problemas que surgem diariamente, como: mau aproveitamento dos adubos, efeito cada vez mais pronunciado da seca, deficiências e doenças de toda espécie, mas de controle difícil, compactações e adensamentos do solo, encrostamento da superfície do solo após as chuvas, erosão cada vez mais pronunciada, enchentes, mas também a germinação muito deficiente de sementes etc”
Boa Leitura!
2.3 PRECIPITAÇÃO
A forma de como a precipitação total é distribuída ao longo do ano é um fator decisivo no volume de recarga da água subterrânea, em qualquer tipo de terreno. Chuvas regularmente distribuídas ao longo do tempo promovem uma infiltração maior, pois desta maneira, a velocidade de infiltração acompanha o volume de precipitação. Ao contrário, chuvas torrenciais favorecem o escoamento superficial direto, pois a taxa de infiltração é inferior ao grande volume de água precipitada em curto intervalo de tempo. (KARMANN, 2000).
2.4 TIPO DE MATERIAL
A infiltração é favorecida pela presença de materiais porosos e permeáveis, como solos e sedimentos arenosos. Rochas expostas muito fraturadas ou porosas também permitem a infiltração de águas superficiais. Por outro lado, materiais argilosos e rochas cristalinas pouco fraturadas, como por exemplo, as rochas metamórficas (granitos e gnaisses), são desfavoráveis à infiltração. Espessas coberturas de solo exercem um importante papel no controle da infiltração, retendo temporariamente parte da água de infiltração que posteriormente é liberada lentamente para a rocha subjacente. (KARMANN, 2000).
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
78
2.5 OCUPAÇÃO DO SOLO
O avanço da urbanização e o desmatamento das florestas influenciam significativamente a quantidade de água infiltrada em adensamentos populacionais e zonas de intenso uso agropecuário. Nas áreas urbanas, as construções e a pavimentação impedem a infiltração, causando efeitos catastróficos devido ao aumento do escoamento superficial e redução na recarga da água subterrânea. Nas áreas rurais, a infiltração sofre redução pelo desmatamento em geral, pela exposição de vertentes por meio de plantações sem terraceamento, e pela compactação dos solos causada pelo pisoteamento de animais, como em extensivas áreas de criação de gado. (KARMANN, 2000).
NOTA
A ocupação do solo em grandes centros urbanos pode gerar recarga significativa de água subterrânea por vazamentos da rede de abastecimento.
3 DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA NO SUBSOLO
A água no subsolo e seu movimento dependem de vários fatores atuando de forma conjunta, dentre esses fatores estão, a força gravitacional, as características dos solos, sedimentos e rochas e a força de atração molecular e tensão superficial.
A atração molecular age quando moléculas de água se aderem ou ficam presas na superfície da argila (entorno da partícula de argila). Isso acontece por meio da atração de cargas opostas, uma vez que tanto a partícula de argila quanto a molécula de água possuem cargas que permitem essa atração. Este fenômeno, também dito como adsorção da água à partícula de argila, ocorre principalmente nos primeiros metros de profundidade, sendo o solo rico em argila e mineral.
Devido ao efeito de tensão superficial a água no subsolo pode ter movimento ascendente (contra a gravidade) por capilaridade. A adsorção de água em argila, minerais e nos capilares dificulta seu movimento nas proximidades da superfície, reduzindo assim sua evaporação e infiltração. Assim, conforme o tamanho do poro, a água pode ser: higroscópica (adsorvida) e praticamente imóvel; capilar quando sofre ação da tensão superficial movendo-se lentamente ou; gravitacional (livre) em poros maiores, que permitem movimento mais rápido. (KARMANN, 2000).
TÓPICO 1 | RELAÇÃO SOLO E ÁGUA
79
IMPORTANTE
No subsolo, existem três situações de movimentação da água: adsorvida ou higroscópica (presa à partícula de argila ou mineral), capilar (movimenta-se lentamente pelas franjas capilares, ver Figura 30) ou gravitacional (movimenta-se rapidamente para as profundidades do subsolo).
FIGURA 30 – DETALHE DA FRANJA CAPILAR NO PROCESSO DE INFILTRAÇÃO DA ÁGUA NO SOLO
FONTE: Disponível em: <http://ga.water.usgs.gov/edu/watercycleportuguese.html>. Acesso em: 20 fev. 2011.
O limite inferior da percolação ou deslocamento de água é dado quando as rochas não admitem mais espaços abertos (poros). Esta profundidade atinge um máximo de 10.000 metros, dependendo da situação topográfica e do tipo de rocha. Pode-se imaginar então que toda água de infiltração tende a atingir este limite inferior, sofrendo um represamento onde todos os espaços abertos em direção à superfície são preenchidos. Estabelece-se assim uma zona onde todos os poros estão cheios de água, denominada zona saturada ou freática (Figura 31). Acima desse nível, os espaços vazios estão parcialmente preenchidos por água, contendo também ar, definindo a zona não saturada, também chamada de zona de aeração. O limite entre estas duas zonas é uma importante superfície denominada superfície freática ou nível da água subterrânea (Figura 31). (KARMANN, 2000).
Precipitação
Zona do solo
Franja capilar
Zona
não
satu
rada
Zona
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
80
UNI
A superfície freática ou nível da água subterrânea pode ser facilmente identificado na prática, ao se perfurarem poços, nos quais a altura da água marca a posição do nível da água.
FIGURA 31 – DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SUBSOLO
FONTE: Karmann (2000, p. 120)
O nível freático acompanha aproximadamente as irregularidades da superfície do terreno, o que pode ser visualizado pelo traçado de sua superfície (Figura 32). A profundidade do nível freático se dá em função da quantidade de recarga e dos materiais do subsolo. Em áreas úmidas, com alta pluviosidade, tende a ser mais raso, enquanto em ambientes áridos, como nos cerrados, desertos e savanas, tende a ser profundo. De modo geral, é mais profundo nas cabeceiras de divisores topográficos (divisores de águas em bacia hidrográfica – a ser estudada na Unidade 3) e mais raso nos fundos de vales. (KARMANN, 2000).
TÓPICO 1 | RELAÇÃO SOLO E ÁGUA
81
FIGURA 32 – NÍVEL FREÁTICO E DIREÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
FONTE: Karmann (2000, p. 120)
IMPORTANTE
O nível freático quando em contato com a superfície do terreno passa a aflorar, gerando nascentes, córregos ou rios. Os rios cuja vazão aumenta para jusante (abaixo) são chamados de rios efluentes, que são alimentados pela água subterrânea, situação típica de regiões úmidas. Ao contrário, nos rios influentes a vazão diminui a jusante, como consequência da recarga da água subterrânea pelo escoamento superficial. Nestes casos, a água do rio infiltra-se para o nível freático e o rio poderá secar se o nível for rebaixado, abandonando o leito do rio, como é comum em áreas semiáridas ou áridas. (KARMANN, 2000).
NOTA
Você já deve ter ouvido falar em salinização do solo. A evaporação intensa e a pouca precipitação podem levar a um processo de inversão sazonal da infiltração, quando uma parte da água subterrânea tem movimento ascendente por capilaridade, atravessando a zona não saturada para alimentar a evaporação na superfície do solo. Este processo é responsável pela mineralização dos horizontes superficiais do solo. Os sais dissolvidos na água subterrânea acabam precipitando e cimentando os grãos do solo, salinizado. O solo fica endurecido pela precipitação de carbonato de cálcio pelas águas ascendentes em áreas semiáridas a áridas. (KARMANN, 2000).
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
82
3.1 INFLUÊNCIA DA POROSIDADE E DA PERMEABILIDADE NA DISPONIBILIDADE DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
A porosidade é uma propriedade física definida pela relação do volume de poros e o volume total de certo material. Existem dois tipos fundamentais de porosidade nos materiais: primária e secundária.
A porosidade primária é gerada juntamente com o sedimento ou rocha, sendo caracterizada nas rochas sedimentares pelos espaços entre os grãos (porosidade intergranular). Nos materiais sedimentares, o tamanho e forma das partículas e a presença de cimentação influencia a porosidade. (KARMANN, 2000).
A porosidade secundária, por sua vez, se desenvolve após a formação das rochas ígneas, metamórficas ou sedimentares, por fratura ou falha (Figura 33) durante sua deformação (porosidade de fraturas). Um tipo especial de porosidade secundária se desenvolve em rochas solúveis, como calcário e mármores, por meio da criação de vazios por dissolução (porosidade de conduto ou cártica). (KARMANN, 2000).
FIGURA 33 – TIPOS DE FALHAS OU FRATURAS EM ROCHAS
FONTE: Adaptado de Machado e Silva (2000, p. 415)
Para você visualizar melhor os tipos de porosidade e onde ocorrem, observe a Figura 34 a seguir. Note que a porosidade intergranular ocorre em materiais como arenitos (rochas sedimentares constituídas por areias aglutinadas), colúvios (material proveniente de locais topograficamente mais elevados, que são transportados por meio de escoamento superficial e depositados em situação morfológica apropriada) e aluviões (depósitos sedimentares formados por materiais em geral grosseiros transportados por águas correntes de rios e ribeirões).
TÓPICO 1 | RELAÇÃO SOLO E ÁGUA
83
FIGURA 34 – TIPOS DE POROSIDADE CONFORME DIFERENTES MATERIAIS EM UMA SEÇÃO GEOLÓGICA
FONTE: Karmann (2000, p. 121)
Já a porosidade de fratura ocorre em material proveniente do basalto (rocha ígnea proveniente da ação vulcânica), granito (rocha ígnea composta essencialmente por minerais como quartzo, feldspatos e micas) e gnaisse (rocha de origem metamórfica, resultante da deformação de sedimentos como granitos). A porosidade de condutos ocorre em materiais como calcário e o mármore (rochas sedimentares que contêm minerais com quantidades acima de 30% de carbonato de cálcio).
Perceba que, o principal fator que determina a disponibilidade de água subterrânea não é a quantidade de água que os materiais armazenam, mas a sua capacidade em permitir o fluxo de água através dos poros. Para que essa condução aconteça é necessário conhecer a permeabilidade dos materiais.
IMPORTANTE
A propriedade de os materiais conduzirem água é chamada de permeabilidade, que depende do tamanho dos poros e da conexão entre eles.
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
84
Um sedimento argiloso, por exemplo, apesar de possuir alta porosidade (Tabela 3, Figura 35), é praticamente impermeável, pois os poros são muito pequenos e a água fica presa por adsorção. Por outro lado, derrames basálticos, onde a rocha em si não tem porosidade alguma, mas possui abundantes fraturas abertas e interconectadas podem apresentar alta permeabilidade devido ao tipo de porosidade. (KARMANN, 2000).
TABELA 3 – TAMANHO DAS PARTÍCULAS (MILÍMETROS), PERMEABILIDADE E POROSIDADE (PORCENTAGEM) DE DIFERENTES MATERIAIS
Material Tamanho das partículas (mm) Permeabilidade Porosidade (%)Silte e argila 0,05 a 0,006 Baixa a muito baixa 50 a 60
Areia fina 0,3 Alta a média 42Areia grossa 1 a 2 Alta 37,4
Cascalho > 2 a 20 Muito Alta 35,2
FONTE: Adaptado de: Karmann (2000)
FIGURA 35 – ESTRUTURA DO PORO CORRELACIONADA À PERMEABILIDADE
FONTE: Disponível em: <http://3.bp.blogspot.com/_SqCRr_AlJtM/SgTJRpdeESI/AAAAAAAAAQU/zXA5NLlFm_k/s320/119>. Acesso em: 20 fev. 2011.
NOTA
Quanto maior o tamanho da partícula, maior é a permeabilidade, porém menor será a porosidade. Isso se dá devido ao tamanho das partículas, que quanto maior forem, menor será a quantidade de água aderida no entorno, fazendo com que a água se infiltre rapidamente.
TÓPICO 1 | RELAÇÃO SOLO E ÁGUA
85
Como você pode perceber, a porosidade e a permeabilidade influenciam na disponibilidade de água subterrânea. Essa disponibilidade está diretamente relacionada com a formação de aquíferos, que são considerados reservatórios de águas subterrâneas. A seguir, você vai conhecer as características desses reservatórios que se classificam em aquíferos livres, suspensos, confinados e artesianos.
4 CLASSIFICAÇÃO DOS AQUÍFEROS SEGUNDO A GEOLOGIA E SUA RELAÇÃO COM POROSIDADE DO SOLO
Conforme a ANA (Agência Nacional de Água) há três tipos fundamentais de aquíferos e que estão estritamente relacionados com a porosidade: aquíferos porosos (porosidade intergranular ou granular), aquífero fraturado ou fissurado (fraturas) e aquíferos castiços (condutos).
Os aquíferos porosos podem ser exemplificados pelos arenitos, ou seja, ocorrem em solos arenosos. Constituem os mais importantes aquíferos, pelo grande volume de água que armazenam, e por sua ocorrência em grandes áreas. Estes aquíferos ocorrem nas bacias sedimentares (depressões da superfície terrestre onde ocorre deposição natural de sedimentos, em algumas situações materiais vulcânicos) e em todas as várzeas onde se acumularam sedimentos arenosos. Uma particularidade deste tipo de aquífero é sua porosidade quase sempre homogeneamente distribuída, permitindo que a água flua para qualquer direção, em função tão somente dos diferenciais de pressão hidrostática ali existente. Poços perfurados nestes aquíferos podem fornecer até 500 metros cúbicos por hora de água de boa qualidade. (PEDROSA; CAETANO, 2002).
Os aquíferos de fraturas ocorrem em rochas ígneas e metamórficas. A capacidade destas rochas em acumularem água está relacionada à quantidade de fraturas, suas aberturas e intercomunicação. No Brasil a importância destes aquíferos está muito mais em sua localização geográfica, do que na quantidade de água que armazenam. Poços perfurados nestas rochas fornecem poucos metros cúbicos de água por hora. Um caso particular de aquífero fraturado é representado pelos derrames de rochas ígneas vulcânicas basálticas, das grandes bacias sedimentares brasileiras. Estas rochas, apesar de ígneas, são capazes de fornecer volumes de água até dez vezes maiores do que a maioria das rochas ígneas e metamórficas. (PEDROSA; CAETANO, 2002).
NOTA
Importante ressaltar que o fluxo de água somente se instala quando as fraturas que compõem o sistema estão interconectadas. (KARMANN, 2000).
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
86
Os aquíferos cársticos são formados em rochas carbonáticas. Constituem um tipo peculiar de aquífero fraturado, onde as fraturas, devido à dissolução do carbonato pela água, podem produzir aberturas muito grandes, criando, neste caso, verdadeiros rios subterrâneos. É comum em regiões com grutas calcárias, ocorrendo em várias partes do Brasil. (PEDROSA; CAETANO, 2002).
4.1 CLASSIFICAÇÃO DOS AQUÍFEROS - SEGUNDO A PRESSÃO DA ÁGUA
Aquíferos livres são aqueles cujo topo é demarcado pelo nível freático, estando em contato com a atmosfera. Normalmente ocorrem a profundidades de alguns metros a poucas dezenas de metros da superfície. (KARMANN, 2000). São os aquíferos mais comuns e mais explorados pela população e os que apresentam maiores problemas de contaminação. Dentre esse, existe ainda o denominado aquífero suspenso, que é aquífero livre formado sobre uma camada impermeável ou semipermeável que nem armazena nem transmite água. (PEDROSA; CAETANO, 2002).
Aquíferos confinados ocorrem quando a água subterrânea está confinada entre duas unidades pouco permeáveis ou impermeáveis. Representam situações mais profundas, a dezenas, várias centenas ou até milhares de metros de profundidade, onde a água está sob ação da pressão não somente atmosférica, mas também de toda a coluna de água localizada no estrato permeável. (KARMANN, 2000).
Os aquíferos confinados dão origem ao fenômeno artesiano, responsável por poços jorrantes, chamados de artesianos. Você deve se perguntar como se formam os aquíferos artesianos? Então, a água penetra no aquífero confinado em direção a profundidades, onde sofre a pressão hidrostática da coluna de água entre a zona de recarga e um ponto em profundidade. Quando um poço perfura esse aquífero, a água sobe pressionada por esta pressão hidrostática, jorrando naturalmente. (KARMANN, 2000).
NOTA
Pressão hidrostática é a pressão exercida por uma coluna líquida sobre uma superfície.
A formação deste tipo de aquífero requer as seguintes condições: uma sequência de camadas inclinadas, onde pelo menos uma camada permeável se encontre entre camadas impermeáveis e uma situação geométrica em que a camada permeável intercepte a superfície, permitindo a recarga de água nesta camada. (KARMANN, 2000).
TÓPICO 1 | RELAÇÃO SOLO E ÁGUA
87
Nesta condição, podemos diferenciar os poços artesianos jorrantes dos poços não artesianos, observando a Figura 36.
FIGURA 36 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DE AQUÍFERO CONFINADO (POÇO ARTESIANO JORRANTE E POÇO NÃO ARTESIANO), AQUÍFERO LIVRE E O MAPEAMENTO DO NÍVEL POTENCIOMÉTRICO
FONTE: Disponível em: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-agua/imagens/aquifero-guarani-25.jpg>. Acesso em: 20 fev. 2011.
Os poços artesianos jorrantes, ao serem perfurados, junto ao aquífero confinado, jorram água fortemente devido à pressão hidrostática exercida no ponto de perfuração, ou seja, ponto esse localizado abaixo do chamado nível potenciométrico. Já os poços não artesianos, apesar de serem também perfurados no ponto onde se encontra o aquífero confinado, não jorram água uma vez que o ponto perfurado encontra-se na mesma altura do nível potenciométrico. Isso faz com que os caracterize como poço não artesiano.
NOTA
Nível potenciométrico é determinado como a altura do nível da água no poço. Essa altura sofre um desnível crescente quanto mais afastado for do local de recarga da água (cabeceiras ou topos de morro). Quanto maior o desnível, maior será a pressão sobre o aquífero confinado, e quando perfurado faz com que a água jorre.
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
88
LEITURA COMPLEMENTAR
AQUÍFERO GUARANI
O mais precioso bem da humanidade encontrou nos subterrâneos do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai o seu maior reservatório. O Aquífero Guarani é a principal reserva subterrânea de água doce da América do Sul e um dos maiores sistemas aquíferos do mundo, ocupando uma área total de 1,2 milhões de km² na Bacia do Paraná e parte da Bacia do Chaco-Paraná.
Oitocentos e quarenta mil quilômetros quadrados do reservatório estendem-se pelo Brasil (840.000 Km²), 58.500 Km² estão no Paraguai, 58.500 Km² no Uruguai e 255.000 Km² na Argentina, A maior ocorrência do Aquífero Guarani se dá em território brasileiro (2/3 da área total) abrangendo os Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
O Aquífero Guarani, denominação do geólogo uruguaio Danilo Anton em memória do povo indígena da região, tem uma área de recarga de 150.000 Km² e é constituído pelos sedimentos arenosos da Formação Piramboia na Base (Formação Buena Vista na Argentina e Uruguai) e arenitos Botucatu no topo (Missiones no Paraguai, Tacuarembó no Uruguai e na Argentina).
O Aquífero Guarani constitui-se em uma importante reserva estratégica para o abastecimento da população, para o desenvolvimento das atividades econômicas e do lazer. Sua recarga natural anual (principalmente pelas chuvas) é de 160 Km³/ano, sendo que desta, 40 Km³/ano constitui o potencial explorável sem riscos para o sistema aquífero. As águas em geral são de boa qualidade para o abastecimento público e outros usos, sendo que em sua porção confinada, os poços têm cerca de 1.500 m de profundidade e podem produzir vazões superiores a 700 m³/h.
No Estado de São Paulo, o Guarani é explorado por mais de 1000 poços e ocorre numa faixa no sentido sudoeste-nordeste. Sua área de recarga ocupa cerca de 17.000 Km² onde se encontra a maior parte dos poços. Esta área é a mais vulnerável e deve ser objeto de programas de planejamento e gestão ambiental permanentes para se evitar a contaminação da água subterrânea e sobre-exploração do aquífero com o consequente rebaixamento do aquífero freático e o impacto nos corpos d'água superficiais.
TÓPICO 1 | RELAÇÃO SOLO E ÁGUA
89
1 Além do Guarani, sob a superfície de São Paulo, há outro reservatório, chamado Aquífero Bauru, que se formou mais tarde. Ele é muito menor, mas tem capacidade suficiente para suprir as necessidades de fazendas e pequenas cidades.
2 O líquido escorre muito devagar pelos poros da pedra e leva décadas para caminhar algumas centenas de metros. Enquanto desce, ele é filtrado. Quando chega aqui está limpinho.
3 Nas margens do aquífero, a erosão expõe pedaços do arenito. São os chamados afloramentos. É por aqui que a chuva entra e também por onde a contaminação pode acontecer.
4 A cada 100 metros de profundidade, a temperatura do solo sobe 3 graus Celsius. Assim, a água lá do fundo fica aquecida. Neste ponto ela está a 50 graus.
FONTE: Disponível em: <http://www.riosvivos.org.br/Canal/Aquifero+Guarani/278>. Acesso em: 20 fev. 2011.
90
RESUMO DO TÓPICO 1
Neste tópico, você estudou que:
• A água pode percorrer dois caminhos no solo: infiltrar ou escoar superficialmente.
• A água de infiltração irá abastecer e formar os aquíferos freáticos ou as chamadas águas de subsolo ou subterrâneas.
• O volume e a velocidade de infiltração dependem de vários fatores: cobertura florestal, topografia, precipitação, tipo de rocha e ocupação do solo.
• A cobertura florestal exerce papel fundamental no processo de infiltração da água no solo: contribuem para a estabilização das margens dos rios, produção de água nas nascentes, controle de erosão, produção de matéria orgânica, filtro para substâncias tóxicas, redução do escoamento superficial, favorecendo o abastecimento do aquífero freático, entre outros.
• No subsolo, existem três situações de movimentação da água: adsorvida ou higroscópica capilar e gravitacional.
• O limite inferior ao deslocamento de água é dado quando as rochas não admitem mais espaços abertos (poros). Logo, temos uma zona onde todos os poros estão cheios de água, denominada zona saturada ou freática. Acima desse nível, os espaços vazios estão parcialmente preenchidos por água, contendo também ar, definindo a zona não saturada.
• O limite entre estas duas zonas é uma importante superfície denominada superfície freática ou nível da água subterrânea.
• O tipo de porosidade e a permeabilidade influenciam na disponibilidade de água subterrânea.
• Existem dois tipos fundamentais de porosidade nos materiais: primária e secundária. Na porosidade primária temos a chamada porosidade intergranular. Na porosidade secundária temos as chamadas porosidade de fraturas e porosidade de conduto ou cártica.
• A propriedade dos materiais conduzirem água é chamada de permeabilidade, que depende do tamanho dos poros e da conexão entre eles.
• Existem três tipos fundamentais de aquíferos e que estão estritamente relacionados com a porosidade: aquíferos porosos (porosidade intergranular ou granular), aquífero fraturado ou fissurado (fraturas) e aquíferos castiços (condutos). Esses aquíferos podem ser de forma livre, suspensos e confinados (artesianos).
91
AUTOATIVIDADE
Caro acadêmico! Para fixar melhor o conteúdo estudado, vamos exercitar um pouco. Leia as questões a seguir e responda-as em seu caderno. Bom trabalho!
1 Discorra a respeito dos caminhos que a água pode percorrer no solo.
2 Elenque todos os fatores que estão relacionados com o processo de infiltração da água no solo e fale de seu papel/função nesse processo.
3 O que é água higroscópica, capilar e gravitacional? Qual sua relação com a movimentação da água no solo?
4 Caracterize uma zona saturada e uma não saturada do solo.
5 Diga quais são os tipos de porosidade que existem no solo e sua relação com as falhas e fraturas das rochas.
6 Como são classificados os aquíferos freáticos? Descreva cada um deles.
93
TÓPICO 2
RELAÇÃO SOLO E PLANTAS
UNIDADE 2
1 INTRODUÇÃO
O solo é a base para o desenvolvimento de inúmeras espécies de plantas. Suas características físicas, químicas e biológicas são terminantes na colonização de uma ou de outra espécie. Assim, a capacidade de retenção hídrica condicionada muitas vezes pela matéria orgânica, a troca de cátions, a estrutura, a porosidade, os teores sais e minerais dos solos, a densidade, o perfil do solo, a temperatura, a acidez ou alcalinidade facilitam ou impedem plantas e animais (estes notadamente de vida subterrânea) de colonizarem determinadas áreas. (GUERRA; CUNHA, 2000).
Assim, podemos dizer que o desenvolvimento de uma planta no solo, além dos fatores genéticos e climáticos, depende da bioestrutura do solo e dos fatores que dali resulta, como um abastecimento adequado de água e ar, a fácil disponibilidade de nutrientes e ausência de substâncias tóxicas (como você vai estudar no próximo tópico dessa unidade).
Então, convido você para entender uma pouco mais dos fatores do solo que influenciam a vida das plantas e viajar no substrato das raízes.
2 FATORES DO SOLO RELACIONADOS COM O DESENVOLVIMENTO DAS PLANTAS
De uma forma geral, as plantas dependem de uma série de fatores relacionados às características dos solos para seu desenvolvimento. São essenciais. (KIEHL, 1979; PRIMAVESI, 2002):
1) As propriedades físicas do solo especialmente sua estrutura.2) As propriedades químicas do solo, ou seja, de sua riqueza ou pobreza em
nutrientes e fatores tóxicos.3) A umidade do solo, influindo tanto nos períodos de seca quanto em excesso
de água.4) A matéria orgânica do solo.5) O clima, incluindo temperaturas e precipitações. 6) O uso do solo, que influi especialmente pelas técnicas agrícolas empregadas e
que compactam ou afrouxam o solo.
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
94
2.1 ESTRUTURA DO SOLO E SUA RELAÇÃO COM AS PLANTAS
A estrutura do solo é de grande importância para a vida das plantas. A penetração e distribuição das raízes no solo são variáveis, segundo a estrutura que ele apresenta. Assim, de acordo com o tipo de solo, existem diferentes formas das raízes se distribuírem. Em solos de extrema falta de agregação, as raízes ao encontrar resistência em penetrar no sentido vertical, passam a penetrar na posição horizontal.
As raízes removem do solo o oxigênio, a água e os nutrientes. Sabe-se da importância dos nutrientes para a subsistência das plantas, mas, se o solo não for bem estruturado, faltarão água, oxigênio e nutrientes, mesmo que estejam em quantidades suficientes, serão inoperantes.
IMPORTANTE
A estrutura do solo atua como importante fator na aeração, garantindo um fluxo de oxigênio capaz de contrabalancear o excesso de gás carbônico do ar do solo, eliminado pelas raízes e microrganismos. (KIEHL, 1979).
Os adubos orgânicos, como o esterco animal curtido, o composto e outros, têm demonstrado efeitos diretos e indiretos na estruturação do solo: diretamente, na formação de agregados, pela ação cimentante do húmus e; indiretamente, com o aumento da produtividade, resultando maior quantidade de matéria orgânica retornável ao solo. Ainda como consequência de uma melhor estruturação, tem-se maior resistência do solo às perdas por erosão, graças aos agregados que se formam e à maior capacidade de infiltração das águas das chuvas, diminuindo o deflúvio superficial. (KIEHL, 1979).
2.2 PERFIL DO SOLO E A RELAÇÃO COM AS PLANTAS
As características físicas, químicas e biológicas de um perfil estão diretamente relacionadas com a vida da planta. Assim, o crescimento das raízes, o suprimento de nutrientes às plantas, a capacidade de armazenamento de água, a aeração, são exemplos de características e propriedades apresentadas por um perfil de solo e que definem o valor agrícola do solo. (KIEHL, 1979).
Os horizontes superiores são os mais trabalhados pelo agricultor. A calagem, o preparo do solo feito pelas arações e gradagens, a semeadura, as fertilizações nos cultivos, são operações agrícolas realizadas nos horizontes
TÓPICO 2 | RELAÇÃO SOLO E PLANTAS
95
superficiais. É neles, igualmente, que se irá encontrar a maior quantidade de raízes das plantas, pois essa zona do perfil é, geralmente, a mais rica em matéria orgânica e nutrientes minerais, além de possuir maior capacidade de retenção de água. (KIEHL, 1979).
NOTA
Geralmente 65% das raízes das plantas herbáceas se encontram na camada superficial. Com a profundidade do perfil do solo, diminui a abundância das raízes. (PRIMAVESI, 2002).
Os horizontes inferiores também influem na fertilidade e produtividade do solo, são menos sujeitos a alterações, geralmente menos férteis e, quando compactados influem na drenagem e aeração do perfil. O horizonte inferior de um solo pode contribuir, em certos casos, favoravelmente para a fertilidade do solo pela sua composição química. (KIEHL, 1979).
2.3 ADENSAMENTO DO SOLO E AS PLANTAS
O adensamento do solo e o confinamento das raízes das plantas à camada superficial são comuns em solos agrícolas. O solo adensado oferece um ambiente péssimo para as raízes das plantas que, na impossibilidade de se expandir, pode levar à mortalidade do indivíduo, uma vez que a compactação gera deficiência de água, ar e nutrientes para os mesmos.
NOTA
Adensamento é a compactação por entupimento dos poros do solo, desfavorecendo o crescimento radicular das plantas.
A Figura 37 reúne vários fatores que influem sobre a raiz e seu crescimento em solo adensado.
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
96
FIGURA 37 – O EFEITO DO ADENSAMENTO DO SOLO SOBRE AS CONDIÇÕES DE CRESCIMENTO DE UMA PLANTA
Soloadensado
Falta deoxigênio
Absorção deficiente,unidades portadoras
não são oxidadas
Metabolismodiminui, há
pouca energia
Raiz enfraqueceabsorve menosRaiz cresce menos,
explora espaço menor
Falta águaa planta
Respiraçãoacelerada, gasto
maior de produtosfotossintetizados Safra pequena,
de qualidadeinferior
Planta malnutrida,
fotossintetizadamenos
FONTE: Adaptado de Primavesi (2002)
Observando-se a figura anterior, poderia ser dito que um ou outro fator seria mais decisivo. Contudo, no processo de desenvolvimento da vida não existem fatores que ocorrem de forma isolada, mas somente fatores interligados, provocando um à modificação do outro, de modo que a maior densidade do solo promova automaticamente a menor difusão de oxigênio, a menor disponibilidade de água, o menor desenvolvimento radicular e finalmente uma colheita reduzida.
NOTA
A taxa de oxigênio no solo depende intimamente de sua densidade. A razão é que, durante o processo de adensamento, os primeiros poros a desaparecer são os macroporos, que justamente servem à ventilação.
TÓPICO 2 | RELAÇÃO SOLO E PLANTAS
97
O manejo inadequado do solo pode ser esquematizado conforme a Figura 38, mostrando que, com a perda do estado afofada do solo seguido da formação de adensamento, o desenvolvimento radicular se torna cada vez menor, podendo produzir somente plantas pequenas de pouco valor econômico.
FIGURA 38 – ESQUEMA DO EFEITO DE ADENSAMENTO DO SOLO SOBRE O DESENVOLVIMENTO RADICULAR E A PRODUÇÃO DE PLANTAS
FONTE: Primavesi (2002, p. 66)
IMPORTANTE
A raiz é a base para que a planta possa produzir. Em solo adensado, onde seu desenvolvimento é reduzido, não consegue absorver a água e os nutrientes que a parte aérea necessita para poder produzir.
2.4 POROSIDADE DO SOLO E AS PLANTAS
O solo ideal tem sido referido como aquele que apresenta 50% de macroporosidade e 50% de microporosidade. Considerando, porém, que as raízes podem se desenvolver com porosidade de aeração acima de 10% e que o conteúdo de água armazenada deve ser em maior quantidade que a de ar, o solo ideal passa a ser o que apresenta um terço de macroporos para dois terços de microporos. Tais solos garantiriam suficiente aeração, permeabilidade e capacidade de retenção de água; consequentemente, boas colheitas.
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
98
NOTA
A aeração ótima do solo está situada entre 20 e 30%, correspondendo a agregados com diâmetros médios entre 2 e 3 mm. (KIEHL, 1979).
2.5 MINERAIS DO SOLO E AS PLANTAS
O fornecimento de nutrientes, retidos pelos minerais de argila às raízes das plantas ou aos microrganismos do solo, pode-se dar de duas maneiras:
a) indiretamente, por permuta de catiônicos com a solução do solo, podendo estes entrar em contato com as superfícies de adsorção das raízes, realizando nova troca, isto é, as raízes cedendo hidrogênios e adsorvendo cátions;
b) diretamente, quando ocorre um contato dos pelos absorventes com as superfícies dos minerais de argila, havendo uma troca de hidrogênios por parte da planta com cátions adsorvidos nos coloides inorgânicos do solo. (BRANDY, 1983).
Os minerais primários do solo, pelo processo de intemperização, liberam nutrientes para as raízes das plantas, dando formação, também, aos minerais de argila; o processo, no entanto, é na natureza lento para garantir um crescimento rápido e vigoroso.
IMPORTANTE
A fração coloidal do solo, representada pela matéria orgânica e pelas argilas, é que armazena os nutrientes formando uma reserva que será fornecida às plantas, até certo ponto, de acordo com suas necessidades. É também o complexo coloidal que retém nutrientes em uma forma adsorvida e não lixiviável pelas águas das chuvas evitando perdas por percolação. (BRANDY, 1983).
No mais, solos pobres de coloides, em clima úmido, possuem poucos nutrientes disponíveis às culturas, necessitando receber fertilizantes em quantidade, qualidade e tempo oportunos. (BRANDY, 1983).
TÓPICO 2 | RELAÇÃO SOLO E PLANTAS
99
2.5.1 Elementos de nutrição essenciais para as plantas
Os elementos de nutrição essenciais devem estar presentes para as plantas nas formas usáveis e nas concentrações ótimas para o seu crescimento. Para tal, as plantas obtêm esses elementos do ar (mediante fotossíntese), da água do solo ou dos minerais do solo (Quadro 3).
QUADRO 3 – ELEMENTOS DE NUTRIÇÃO ESSENCIAIS E SUAS FONTES
Elementos essenciais usados em maior quantidade Elementos essenciais usados em menor quantidade
Fonte principal: ar e água Fonte: minerais do solo Fonte: minerais do soloCarbono Nitrogênio Ferro Cobre
Hidrogênio Fósforo Manganês ZincoOxigênio Potássio Boro Cloro
Cálcio Molibdênio Cobalto MagnésioEnxofre
FONTE: Brandy (1983, p. 24)
De acordo com a necessidade das plantas, os elementos essenciais de nutrição podem ser classificados em MACRONUTRIENTES e MICRONUTRIENTES.
MACRONUTRIENTES: Dos quatro elementos essenciais obtidos dos minerais do solo pelas plantas, seis (6) são utilizados em quantidades relativamente grandes, assim, são denominados macronutrientes. São eles: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. O crescimento das plantas poderá ser retardado caso faltem esses elementos no solo, isso porque sua assimilação se processa de forma lenta ou porque não estão adequadamente balanceados em relação aos outros nutrientes. (BRANDY, 1983).
NOTA
Macronutrientes são elementos nutritivos necessários à planta em maiores quantidades.
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
100
IMPORTANTE
O fósforo, o nitrogênio e o potássio são geralmente fornecidos ao solo por meio das fezes de animais (estrume) ou por fertilizantes comerciais. Já o cálcio e o magnésio são adicionados aos solos quando ácidos na forma de calcário, para controlar o pH do solo. O enxofre, além de existir nas águas de rios é adicionado aos solos como ingredientes de alguns fertilizantes. (BRANDY, 1983).
MICRONUTRIENTES: Os outros elementos (ferro, manganês, cobre, zinco, boro, molibdênio, cloro e cobalto) são utilizados pelas plantas em quantidade muito pequena, por isso, se justifica a designação de micronutrientes. (BRANDY, 1983).
NOTA
Micronutrientes são elementos nutritivos necessários à planta em quantidades reduzidas.
IMPORTANTE
A disponibilidade dos micronutrientes é problemática geralmente em três tipos de solos: arenosos, orgânicos e muito alcalinos. Isso é consequência das quantidades relativamente pequenas de micronutrientes em areais e em solos orgânicos e a reduzida capacidade de assimilação na maioria desses elementos sob condições de elevada alcalinidade. (BRANDY, 1983).
2.6 ACIDEZ E ALCALINIDADE DO SOLO E AS PLANTAS
A reação química do solo é um importante fator na produção agrícola, influenciando na disponibilidade de nutrientes às raízes das plantas, propiciando condições favoráveis ou de toxidez; concorre, igualmente, para favorecer o desenvolvimento de microrganismos que operam transformações úteis para melhorar as condições do solo, como também pode concorrer para dar meio propício a microrganismos causadores de doenças às plantas. (KIEHL, 1979).
TÓPICO 2 | RELAÇÃO SOLO E PLANTAS
101
Assim, os solos que têm o pH entre 5,8 e 7,5 tendem ser livres de problemas do ponto de vista do crescimento de plantas. Abaixo de pH 5, haverá deficiência de elementos como o cálcio (Ca), magnésio (Mg), o fósforo (P), o molibdênio (Mo), boro (B) ou toxidez de alumínio (AI), manganês (Mn), zinco (Zn) e outros metais pesados, devido às suas maiores solubilidades. A presença de pH entre 8,0 e 8,5 indica a ocorrência de carbonato de cálcio e/ou magnésio livres e baixas disponibilidades dos elementos fósforo (P), manganês (Mn), zinco (Zn) e cobre (Cu). (KIEHL, 1979).
2.7 ÁGUA DO SOLO E AS PLANTAS
O efeito primário do adensamento e compactação sobre o crescimento das plantas pode ser associado diretamente com a água disponível. O segundo efeito é a condição do solo criado pelo uso de maquinaria para seu preparo. O terceiro é a falta aguda de oxigênio no solo explorado.
IMPORTANTE
As condições normalmente encontradas, num solo agrícola, são:
1 Uma crosta superficial que impede a infiltração da água pluvial, provocando seu escorrimento e com isso a erosão.
2 Uma camada solta logo abaixo, de 6 a 8 cm de espessura. 3 Abaixo desta encontra-se uma camada adensada cuja espessura oscila entre 6 e 15 cm e
com grau de densidade diferente, geralmente constituindo uma barreira de efeito variável à penetração radicular.
A habilidade das plantas de poder crescer em solo bem drenado (seco) ou mal drenado (úmido) depende do potencial radicular. Porém, crescer em camadas bem drenadas, superaquecidas pela incidência direta do sol, planta alguma consegue.
A crosta impede a infiltração de água, mas é bom condutor de calor, de modo que cria uma camada de aproximadamente 5 cm completamente seca e quente durante o dia. Logo abaixo, segue-se uma camada bem arejada e fofa, onde a raiz consegue se desenvolver, local esse onde já existe o suficiente de umidade para o crescimento radicular. E mais abaixo segue uma camada adensada, barrando o desenvolvimento normal das raízes. (Figura 39).
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
102
FIGURA 39 – EFEITO DA CROSTA SUPERFICIAL SOBRE O DESENVOLVIMENTO RADICULAR
FONTE: Primavesi (2002, p. 55)
Sabe-se que a raiz varia de forma e tamanho segundo a umidade do solo, que pode ser consequência do clima. (Figura 40).
FIGURA 40 – INFILTRAÇÃO E EFEITO DO ADENSAMENTO DO SOLO SOBRE O DESENVOLVIMENTO RADICULAR E A MUDANÇA NA RAIZ
FONTE: Primavesi (2002, p. 57)
Verifica-se que a infiltração diminui à medida que o solo mostra adensamentos e crostas superficiais (Figura 40), de modo que finalmente se instala uma vegetação xerófita (planta que tolera condição seca).
TÓPICO 2 | RELAÇÃO SOLO E PLANTAS
103
NOTA
A água é tanto mais essencial na vida das plantas quando se considera que entre 85 e 95% da planta são água e que não existe absorção das plantas sem que as substâncias, minerais e orgânicas, sejam dissolvidas em água. (PRIMAVESI, 2002).
2.7.1 A influência do nível freático sobre e crescimento radicular
Tanto um nível freático muito profundo como um muito superficial podem constituir limitações para o crescimento radicular. (Figura 41).
FIGURA 41 – INFLUÊNCIA DAS OSCILAÇÕES DO NÍVEL FREÁTICO SOBRE O CRESCIMENTO RADICULAR
Percebe-se ainda, por meio da Figura 40, que a raiz, à procura de água, consegue enraizar o solo até profundidades consideráveis, de modo que a existência de raízes em maior profundidade indica uma infiltração boa. Quando, porém, o solo tiver um nível maior de nutrientes, as raízes conseguem nutrir-se com maior facilidade e não penetram tão profundo no solo, uma vez que o gasto de água depende, também, da nutrição vegetal. Em clima seco, onde a quantidade de água não é o suficiente para percolar todo perfil do solo, as raízes permanecem na camada superficial, indicando assim até onde ocorre a infiltração. Quando, porém, o desenvolvimento radicular permanece superficial por causa de adensamentos, o aspecto é outro. (PRIMAVESI, 2002).
FONTE: Primavesi (2002, p. 60)
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
104
Se o nível freático é baixo, a falta de água é aparente e as raízes concentram-se mais profundas no solo, buscando a captação da água. Mas se o nível freático é muito superficial, como ocorre em muitos solos da Amazônia e em partes do Nordeste, limita igualmente a penetração radicular. Na floresta em geral, com muitas árvores com raízes respiratórias ou raízes tabulares, encontramos o quadro típico de um nível freático alto, às vezes, subindo até a superfície. As oscilações do nível freático, geralmente, limitam o enraizamento do solo como mostra a Figura 41, simplesmente por falta de oxigênio no horizonte.
2.8 MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO E AS PLANTAS
Nas propriedades químicas e físico-químicas do solo, a matéria orgânica tem sua importância ressaltada na reação do solo, nos conteúdos de bases trocáveis e na capacidade de troca catiônica, propriedades essas que muito contribuem no suprimento de nutrientes às plantas. A capacidade da matéria orgânica em adsorver cálcio, magnésio, potássio e outros elementos, evita a lavagem desses nutrientes em solos pobres de argila.
IMPORTANTE
Matéria orgânica são todas as frações que contêm carbono, como húmus, raízes, folhas, galhos, tronco de árvores mortas, excreções de animais, microrganismos etc.
NOTA
A matéria orgânica é muito importante para o desenvolvimento das plantas, sendo que a capacidade de troca catiônica (CTC) dessa pode ser de 2 a 20 vezes a das argilas.
Se o papel da matéria orgânica fosse unicamente adicionar nutrientes ao solo especialmente nitrogênio, teria pouca importância, uma vez que a adubação mineral age com maior precisão e eficiência, embora, por exemplo, o feijoeiro reaja melhor a uma adubação verde, que é rica em nitrogênio, do que a uma adubação mineral. (PRIMAVESI, 2002).
TÓPICO 2 | RELAÇÃO SOLO E PLANTAS
105
NOTA
Adubação verde é a adição de restos de cultivares (folhas, galhos) na produção de novas culturas. Essa adubação consiste especialmente no fornecimento de nitrogênio orgânico e substância de crescimento.
Porém, você já deve ter percebido que nenhum produto consegue substituir o efeito da matéria orgânica. A adubação mineral, por mais completa que seja, nunca consegue manter a produtividade do solo, quer o clima seja temperado ou tropical, sem que exista o retorno sistemático e dirigido da matéria orgânica.
Assim, pode-se verificar, conforme Primavesi (2002), que a matéria orgânica fornece:
1 substâncias agregantes do solo;2 ácidos orgânicos e álcoois durante sua decomposição, e que servem de fonte de
carbono aos microrganismos fixadores de nitrogênio nas plantas;3 possibilidade de vida aos microrganismos;4 alimento aos organismos ativos na decomposição, produzindo antibióticos que
protegem as plantas de ataques;5 substâncias intermediárias produzidas durante a decomposição que podem
servir para o crescimento das plantas;6 aumenta a capacidade de troca catiônica (CTC) quando humificada;7 aumenta o poder de tampão (resistência contra modificações bruscas do pH do
solo);8 fornece substâncias como fenóis que contribuem na respiração e maior absorção
do fósforo, além da sanidade das plantas.
DICAS
Para maior aprofundamento nas relações solo-planta sugerimos a leitura do livro Manejo ecológico do solo, escrito por Primavesi em 2002.
106
RESUMO DO TÓPICO 2
Neste tópico, você estudou que:
• Os fatores essenciais dos solos relacionados com o desenvolvimento das plantas são: as propriedades físicas do solo especialmente sua estrutura; as propriedades químicas do solo; a umidade do solo; a matéria orgânica; o clima, incluindo temperaturas e precipitações.
• A estrutura do solo é uma propriedade que atua como importante fator na aeração, garantindo um fluxo de oxigênio para as plantas.
• O crescimento das raízes, o suprimento de nutrientes às plantas, a capacidade de armazenamento de água, a aeração são características e propriedades apresentadas por um perfil do solo e que definem seu valor agrícola.
• Adensamento é a compactação por entupimento dos poros do solo, desfavorecendo o crescimento radicular das plantas.
• O solo ideal tem sido referido como aquele que apresenta 50% de macroporosidade e 50% de microporosidade.
• As plantas obtêm esses elementos do ar, da água e/ou dos minerais do solo.
• Os elementos essenciais de nutrição podem ser classificados em macronutrientes (necessários à planta em maiores quantidades) e micronutrientes (necessários à planta em quantidades reduzidas).
• Os solos que têm o pH entre 5,8 e 7,5 tendem ser livres de problemas do ponto de vista do crescimento de plantas.
• A habilidade das plantas de poder crescer em solo bem drenado (seco) ou mal drenado (úmido) depende do potencial radicular.
• Tanto um nível freático muito profundo como um muito superficial podem constituir limitações para o crescimento radicular.
• A matéria orgânica é muito importante para o desenvolvimento das plantas, sendo que a capacidade de troca catiônica (CTC) dessa pode ser de 2 a 20 vezes a das argilas.
107
AUTOATIVIDADE
Caro acadêmico! Para fixar melhor o conteúdo estudado, vamos exercitar um pouco. Leia as questões a seguir e responda a elas em seu caderno. Bom trabalho!
1 Cite os fatores do solo que estão relacionados com o desenvolvimento das plantas.
2 Quais efeitos podem gerar o adensamento do solo sobre uma planta?
3 Quais são os elementos minerais usados em maior quantidade pelas plantas? E como são chamados?
4 Quais são os elementos minerais usados em menor quantidade pelas plantas? E como são chamados?
5 Relacione os elementos com (1) para macronutrientes e (2) para micronutrientes:
6 Quais são as condições do solo em uma área agrícola? Qual o efeito da crosta superficial sobre o desenvolvimento radicular?
7 Qual a relação entre o adensamento do solo, a infiltração da água e o desenvolvimento radicular?
( ) Carbono( ) Enxofre( ) Manganês( ) Ferro
( ) Molibdênio( ) Cobre( ) Cobalto( ) Zinco
( ) Magnésio( ) Fósforo
( ) Oxigênio( ) Boro( ) Hidrogênio( ) Cálcio
109
TÓPICO 3
COMPORTAMENTO DOS AGROQUÍMICOS
NO SOLO
UNIDADE 2
1 INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a atenção da população tem sido progressivamente focalizada na poluição ambiental e nos seus efeitos sobre o homem, a flora, a fauna bem como seus ecossistemas. Atualmente, entre os maiores poluentes se enquadram os despejos urbanos (esgotos) e os industriais, em uma gama de diferentes produtos químicos. Contudo, a urbanização e ocupação do solo; as atividades agropastoris, ligadas à agricultura e pecuária; atividades extrativas como a mineração; o armazenamento de produtos e resíduos, principalmente perigosos; acidentes no transporte de cargas como derrame ou vazamento de produtos ou resíduos perigosos; disposição de resíduos sólidos de diversas origens, com destaque para os industriais em termos de significância de poluição entre outros também têm sido a causa da poluição dos solos.
De tal forma, o solo é o recipiente mais visado, intencional ou não, da maioria destes produtos químicos, que são despejados indiscriminadamente. Além disso, após a penetração destes materiais no solo ou o seu mau uso, tornam-se parte de um ciclo que influencia todas as formas de vida, inclusive a do homem. É essencial uma compreensão desses poluentes, das suas reações nos solos, e dos meios de destruí-los, controlá-los ou desativá-los.
Neste Livro de Estudos, mais propriamente neste tópico, você estudará o surgimento dos agrotóxicos, sua classificação com relação ao composto químico, seu comportamento e transporte no solo e a relação existente entre os agrotóxicos e a mata ciliar.
2 CONCEITO E SURGIMENTO DOS AGROTÓXICOS
O conceito de agrotóxico é dado pela Lei no 7.802/89 em seu art. 1º (VI), sendo considerado como produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento.
110
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
A Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, específica para os agrotóxicos, dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação e exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização e dá outras providências.
UNI
A Lei no 7.802/89 específica para os agrotóxicos é muito importante. Sugerimos a você conhecê-la na íntegra. Faça uma leitura! Você pode encontrá-la disponível em: <www.mma.gov.br>.
O emprego de produtos químicos no controle de pestes tem sido prática de séculos. Há informações de que os gregos já usavam enxofre para prevenir certas doenças em plantas. Produtos químicos foram pesquisados e produzidos, quando Pasteur no início do século XIX descobriu serem os microrganismos os causadores de certas doenças dos animais e das plantas. (BRANDY, 1983).
O emprego de uma mistura de vinho "Bordeaux" com cobre se vulgarizou logo após as descobertas de Pasteur. Misturas de cal e de enxofre, assim como aspersões de arsênico têm sido usadas por meio século na prevenção de doenças e para evitar estragos de insetos nas macieiras. (BRANDY, 1983).
Embora estivessem em uso estes produtos químicos citados, a descoberta das propriedades de inseticida do DDT em 1939 e os efeitos do herbicida 2-4-D em 1941 que realmente iniciaram a revolução química na agricultura. Estes produtos químicos matavam as pestes e podiam ser manufaturados em bases econômicas pela humanidade. Embora demonstrassem significação própria no controle dos insetos e das ervas daninhas, o maior impacto foi a nova conceituação: o homem poderia aperfeiçoar e manufaturar biocidas para empregá-los na sua guerra contra as pestes. (BRANDY, 1983).
UNI
Você sabia que dezenas de milhares de fórmulas e de produtos químicos foram aperfeiçoados, verificados e encontram-se atualmente em uso? Em 1970, mais de 1 bilhão de libras de agrotóxicos foram aplicados nos Estados Unidos, cerca de 50% dos quais utilizados na agricultura. (BRANDY, 1983).
TÓPICO 3 | COMPORTAMENTO DOS AGROQUÍMICOS
111
Um fato histórico muito importante também correlacionado ao uso desses produtos foi a Guerra do Vietnã, ocorrida entre os anos de 1954 e 1975. O país se dividiu em duas metades: o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Dentre as armas de guerra presentes, destacaram-se os herbicidas desfolhantes (o mais famoso ficou conhecido como "agente laranja"), que foram utilizados pelos norte-americanos pela seguinte razão: como a resistência vietnamita era composta por bandos de guerrilheiros que se escondiam nas florestas, formando armadilhas para os soldados americanos, a aspersão de nuvens de herbicidas por aviões fazia com que as árvores perdessem suas folhagens, dificultando a formação de esconderijos.
Essa operação militar, aparentemente bem sucedida, trouxe consequências ambientais e de saúde catastróficas para a população local, que foram:
• Contaminação das águas dos rios e do mar, de todos os seres vivos presentes nesses ambientes e dos seres humanos pelo consumo desta água.
• Os herbicidas que compõem o agente-laranja (o 2,4-D e o 2,4,5-T) também são tóxicos a pequenos animais terrestres e aquáticos, assim como a muitos insetos benéficos para as plantas.
• O herbicida 2,4,5-T é sempre acompanhado da dioxina, que é o mais ativo composto causador de deformações em recém-nascidos que se conhece (tetranogênico), permanece no solo e na água por um período superior a um ano.
DICAS
Publicado em 1962, o livro Primavera Silenciosa (Silent Spring) de Rachel Carson, foi a primeira obra a detalhar os efeitos adversos da utilização dos agrotóxicos, iniciando o debate acerca das implicações da atividade humana sobre o ambiente e o custo ambiental dessa contaminação para a sociedade humana. Faça a leitura desse livro!
3 CLASSIFICAÇÃO DOS AGROTÓXICOS QUANTO AO COMPONENTE QUÍMICO
Existem vários tipos de agrotóxicos presentes no mercado devido aos diferentes fins aos quais são aplicados. No Brasil, há cerca de 300 princípios ativos em 2 mil formulações comerciais diferentes (OPAS/OMS, 1996). De tal forma, é importante conhecer a classificação dos agrotóxicos quanto à sua ação e ao grupo químico a que pertencem. Essa classificação também é útil para o diagnóstico das intoxicações e instituição de tratamento específico. Então, vamos lá!
112
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
Os agrotóxicos podem ser classificados em três grupos principais (OPAS/OMS, 1996):
• Inseticidas: possuem ação de combate a insetos, larvas e formigas. Conforme você pode verificar na Tabela 4, inseticidas pertencem a quatro grupos químicos distintos.
• Herbicidas: possuem ação de combate às ervas daninhas, indesejáveis na agricultura. Nas últimas duas décadas, esse grupo tem tido uma utilização crescente na agricultura.
• Fungicidas: possuem ação de combate a fungos.
TABELA 4 – PRINCIPAIS GRUPOS QUÍMICOS DE AGROTÓXICOS E EXEMPLOS COMERCIAIS, CONFORME OPAS/OMS (1996)
Grupo químico ExemplosInseticidas:organofasforados carbonatos organoclorados piretroides
Folidol, Azodrin, Malation, Diazinon, Nuvacron, Tantaron Carbaril, Tentfk, Zeclram, Furadan Aldrin, Endrin, MtIC, DUr, Endossulfan, Heptacloro, LindaneAletrina, resmetrina, decametrina, cipermetrina
Herbicidas:paraguatglifosatopentacloofenolderivados do ácido fenoxiacético
dinitrofenóis
Gramoxone Round-up
2,4 diclorofenoxiacético (2,4 D) a 2,4,5 triclorofenoxiacético (2,4,5 T). Dinoseb a DNOC.
Fungicidasetileno-bis-ditiocarbonatostrifenil estânico captanhexaclorobenzeno
Maneb, Mancozeb, Dithane, Zineb,Tiram
Duter e Brestan Ortocide a Merpan
FONTE: A autora
Outros grupos:
• Raticidas: utilizados no combate a roedores. • Acaricidas: ação de combate a ácaros diversos. • Nematicidas: ação de combate a nematoides. • Molusquicidas: ação de combate a moluscos, basicamente contra o caramujo
da esquistossomose. • Fumigantes: ação de combate a insetos e bactérias.
TÓPICO 3 | COMPORTAMENTO DOS AGROQUÍMICOS
113
NOTA
Os fertilizantes não são considerados agrotóxicos, e sim são compostos químicos que visam suprir as deficiências em substâncias vitais à sobrevivência das plantas. São aplicados na agricultura com o intuito de aumentar a produção. Podem ser aplicados através das folhas (pulverização manual ou mecanizada ou ainda via irrigação) ou através do solo. O principal grupo de elementos químicos utilizados são o NPK – nitrogênio, fósforo e potássio.
NOTA
Outra importante substância orgânica aplicada nas plantas são os hormônios, que desempenham uma importante função na regulação do crescimento. No geral, atuam ou não diretamente sobre os tecidos e órgãos produzindo respostas fisiológicas específicas (floração, crescimento, amadurecimento de frutos etc.).
Os agrotóxicos são classificados, ainda, segundo seu grau de periculosidade e poder tóxico. Veja a seguir.
3.1 GRAU DE PERICULOSIDADE/TOXICIDADE E O MEIO AMBIENTE
Os agrotóxicos são produzidos a partir de diferentes substâncias químicas, desenvolvidos para matar, exterminar, combater ou impedir o desenvolvimento de diferentes organismos considerados prejudiciais às culturas implantadas no sistema agrícola mundial. (RIBAS; MATSUMURA, 2009). Assim, por sua forma de ação, por atuarem sobre processos vitais, esses produtos têm ação sobre a constituição física, saúde do ser humano e o meio ambiente. (EPA, 1985).
Para se ter uma noção, a Portaria Normativa no 84/1996 classifica os agrotóxicos quanto ao potencial de periculosidade ambiental baseada nos parâmetros bioacumulação, persistência, transporte, toxicidade a diversos organismos, potencial mutagênico, teratogênico, carcinogênico, obedecendo aos seguintes graus:
• Classe I - Produto Altamente Perigoso.• Classe II - Produto Muito Perigoso.• Classe III - Produto Perigoso.• Classe IV - Produto Pouco Perigoso.
114
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
A avaliação e a classificação do potencial de periculosidade ambiental de um agrotóxico são baseadas em estudos físico-químicos, toxicológicos e ecotoxicológicos. Já a classificação dos agrotóxicos em função dos efeitos à saúde, decorrentes da exposição humana a esses agentes, pode resultar em diferentes classes toxicológicas, sumarizadas na Tabela 5. Essa classificação obedece a testes ou estudos realizados em laboratório que tentam estabelecer a dosagem letal (DL) do agrotóxico em 50% dos animais utilizados naquela concentração. (RIBAS; MATSUMURA, 2009).
TABELA 5 – CLASSIFICAÇÃO DOS AGROTÓXICOS DE ACORDO COM OS EFEITOS À SAÚDE HUMANA
Classe toxicológica Toxicidade DL50 Faixa coloridaI Extremamente tóxico < 5 mg/kg VermelhaII Altamente tóxico Entre 5 e 50 mg/kg AmarelaIII Mediamente tóxico Entre 50 e 500 mg/kg AzulIV Pouco tóxico Entre 500 e 5000 mg/kg VerdeV Muito pouco tóxico Acima de 5000 mg/kg -
FONTE: OPAS/OMS (1996)
UNI
No Brasil, a classificação toxicológica está a cargo do Ministério da Saúde.
O aumento considerável no volume de agrotóxicos aplicados tem gerado uma série de transtornos e modificações para o ambiente, tanto pela contaminação das comunidades de seres vivos que o compõe, quanto pela sua acumulação nos segmentos bióticos e abióticos do ecossistema (biota, água, ar, solo etc.). Um dos efeitos negativos provocado pelos agrotóxicos é a contaminação de espécies não alvo, ou seja, espécies que não interferem no processo de produção. O Quadro 4 apresenta o grau de toxicidade e persistência nos principais grupos de animais atingidos pela contaminação ambiental por agrotóxicos (variando de 1 a 5), exceto humanos. (RIBAS; MATSUMURA, 2009).
TÓPICO 3 | COMPORTAMENTO DOS AGROQUÍMICOS
115
QUADRO 4 – TOXICIDADE E PERSISTÊNCIA AMBIENTAL DE ALGUNS AGROTÓXICOS (ESCALA 1 A 5)
FONTE: OPAS/OMS (1996) e Ribas; Matsumura (2009)
4 COMPORTAMENTO DE AGROTÓXICOS NO SOLO
Os agrotóxicos são aplicados às folhagens das plantas, à superfície do solo ou incorporados ao próprio solo. Em qualquer uma destas situações, uma elevada proporção dos produtos químicos eventualmente se desloca para o interior do solo, fato que aumenta a importância dos estudos sobre o destino de tais produtos no solo.
A grande variedade das fórmulas químicas estruturais encontradas nos agrotóxicos justifica a ampla multiplicidade de comportamento destes produtos químicos no solo (BRANDY, 1983). Pesquisas de laboratório e de campo confirmam tal multiplicidade. Para se fazer uma ideia do seu comportamento, serão a seguir consideradas algumas características dos agrotóxicos e da maneira por que exercem influência sobre o comportamento e sobre as reações químicas nos solos. Atenção será dada a cinco possíveis destinos dos agrotóxicos, conforme Brandy (1983), após serem adicionados aos solos:
a) os produtos químicos poderão se vaporizar e se perder na atmosfera, sem nenhuma modificação química;
b) poderão ser adsorvidos pelos solos;c) poderão se mover no sentido descendente do solo, sob forma líquida ou de
solução e se perder por lixiviação;d) poderão ser submetidos a reações químicas na superfície ou no interior do solo e; e) poderão ser desagregados pelos microrganismos.
No quadro 4, você poderá verificar a dinâmica ou destino dos agrotóxicos no ambiente. Note que os processos como volatilização, adsorção, lixiviação, reações químicas e metabolismo microbiano ocorrem influenciados por alguns fatores e que vão gerar algumas consequências no transporte e na degradação do agrotóxico.
AgrotóxicosToxicidade
Persistência no ambienteMamíferos Peixes Aves Insetos
Permetrina (piretróide) 2 4 2 5 2DDT (organoclorado) 3 4 2 2 5Lindano (organoclorado) 3 3 2 4 4Etil-paration (organofosforado) 5 2 5 5 2Malation (organofosforado) 2 2 1 4 1Carbaril (carbamato) 2 1 1 4 1Metoprene (regulador de crescimento) 1 1 1 2 1Bacillus thuringensis (microbiológico) 1 1 1 1 1
116
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
QUADRO 5 – DINÂMICA/DESTINO DO AGROTÓXICO NO AMBIENTE
FONTE: Pierzynski; Sims; Vance (1994, p. 200)
UNI
Vamos conhecer um pouco mais sobre alguns desses fatores relacionados com o transporte e degradação dos agrotóxicos no solo.
4.1 VOLATILIDADE
A volatilidade dos agrotóxicos é muito variável, assim como sua susceptibilidade de perdas para a atmosfera. Certos agrotóxicos apropriados à fumigação do solo como o brometo de metila são selecionados por causa de suas pressões de vapor, muito elevadas e que possibilita sua penetração nos poros do solo, para atingir os organismos. Essas mesmas características estimulam rápida fuga para a atmosfera, após o tratamento, a menos que o solo esteja coberto, ou seja, isolado. Uns poucos herbicidas (por exemplo, EPTA, CDEA, trifluralin) e
Processo Consequência FatoresTransferência (processo que realoca a molécula sem alterar sua estrutura)
Deriva física Movimento pela ação do vento Velocidade do vento, tamanho das gotas
Volatilização Perda por evaporação do solo, da planta ou do ecossistema aquático
Pressão de vapor, velocidade do vento, temperatura
Adsorção Remoção pela interação com plantas, solo e sedimento
Conteúdo mineral e matéria orgânica, tipo de mineral, umidade
Absorção Absorção pelas rapizes ou ingestão animal
Transporte pela membrana celular, tempo de contato sustentabilidade
Lixiviação Translocação lateral e vertical através do solo
Conteúdo de água, macroporos, textura do solo, quantidade do mineral
e contepudo de matéria orgânica
Erosão Movimento pela ação da água ou do vento
Chuva, velocidade do vento, tamanho das partículas do mineral e da matéria
orgânica com moléculas adsorvidasDegradação (processo que altera a estrutura química)
Fotoquímica Quebra da molécula devido a absorção de luz solar
Estrutura química, intensidade e duração da luz solar, exposição
Microbiana Degradação microbianaFatores ambientais (pH, umidade,
temperatura), condições de nutriente, conteúdo de matéria orgânica
Química Alteração por processos químicos como hidrólise e reações de oxi-redução Alto ou baixo pH e fatores ambientais
Metabolismo Transformação química após absorção pelas plantas e animais
Capacidade de ser absorvido, ser metabolizado e interagir com organismos
TÓPICO 3 | COMPORTAMENTO DOS AGROQUÍMICOS
117
fungicidas (por exemplo, PCNB) são suficientemente voláteis para fazer da vaporização o principal processo de escapamento do solo. (BRANDY, 1983).
NOTA
As análises da atmosfera esclarecem que DDT e dieldrina (altamente tóxicos) são volatilizados do solo em quantidades expressivas, embora suas pressões de vapor sejam bastante reduzidas se comparadas às dos produtos químicos anteriormente mencionados. (BRANDY, 1983).
UNI
Você sabia que, por meio da vaporização pode ocorrer, ao menos em parte, o deslocamento aéreo dos produtos químicos voláteis dos agrotóxicos para grandes distâncias dos seus pontos de aplicação? Isso pode acarretar em contaminação de muitas áreas, além do ar e das águas.
4.2 ADSORÇÃO
A tendência de serem adsorvidos pelos solos é, em grande parte, determinada pelas características do próprio agrotóxico, assim como do solo a que são adicionados. A presença de certos grupos funcionais na estrutura molecular dos produtos químicos estimula a adsorção, especialmente nos solos humosos. Via de regra, quanto maior for o tamanho das moléculas dos agrotóxicos, maior será a sua adsorção. (BRANDY, 1983).
IMPORTANTE
A adsorção está relacionada com a movimentação da água no solo, como você já viu no Tópico 1 dessa unidade. No entanto, adsorção do agrotóxico ocorre quando o ele fica aderido ou preso à partícula de argila ou mineral do solo.
118
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
4.3 LIXIVIAÇÃO
A tendência dos agrotóxicos à lixiviação está intimamente relacionada com o seu potencial de adsorção. A movimentação da água poderá favorecer a lixiviação, que se realiza com maior rapidez em solos arenosos permeáveis, com reduzida porcentagem de argila e de matéria orgânica. De uma maneira geral, os herbicidas aparentam possuir maior mobilidade do que os fungicidas ou os inseticidas. (BRANDY, 1983).
IMPORTANTE
A lixiviação é a remoção pela água de compostos solúveis contidos na matéria orgânica ou no perfil do solo. Logo, os agrotóxicos quando solúveis no solo podem ser lixiviados para o aquífero freático, levando à contaminação das águas subterrâneas.
4.4 REAÇÕES QUÍMICAS
Após contato com o solo, muitos agrotóxicos, sem interferência dos organismos do solo, são submetidos a modificações químicas. Na superfície do solo, alguns produtos como DDT e "diquat" ficam sujeitos à fotodecomposição desencadeada pela radiação solar. Tal degradação tem, entretanto, importância relativamente menor do que a que é catalisada diretamente pelo sol. Admite-se que esta catálise ocorre principalmente devido à fração da argila, especialmente nos solos ácidos. As decomposições químicas do DDT, endrina, heptacloro, malation, diazinon e atrazina, são exemplos deste tipo de reação. Embora as complexidades das estruturas moleculares dos agrotóxicos façam supor a existência de diferentes mecanismos de desagregação, é preciso compreender que realmente ocorre esta desintegração independente dos organismos do solo. (BRANDY, 1983).
A característica do solo com que a adsorção demonstra mais íntima associação é com o montante de matéria orgânica do próprio solo. Um pequeno número de tipos de agrotóxicos (como os herbicidas fortes) são também adsorvidos pelas argilas.
TÓPICO 3 | COMPORTAMENTO DOS AGROQUÍMICOS
119
4.5 METABOLISMO MICROBIANO
A degradação bioquímica exercida pelos organismos do solo é talvez o método singular mais importante de remoção dos agrotóxicos do solo. A presença de certos grupos polarizados nas moléculas dos agrotóxicos proporciona, aparentemente, pontos de ataque aos organismos.
NOTA
O DDT poderá ser modificado por determinados fungos e bactérias, transformando-se em compostos mais simples, no entanto, sua desagregação posterior ocorre muito lentamente.
Os outros hidrocarbonetos clorados (como aldrina, dieldrina e heptacloro) ficam apenas condicionados à "decomposição parcial", porque os organismos não se ajustam à rápida destruição de tais compostos, o que contribui para a marcante persistência destes compostos nos solos. (BRANDY, 1983).
Os inseticidas organofosfáticos são degradados nos solos, com muita rapidez, aparentemente por grande número de organismos. De modo semelhante, os herbicidas mais comumente empregados, como o 2,4-D e os carbamatos são prontamente atacáveis por organismos. Os fungicidas orgânicos estão igualmente, na sua maioria, expostos à decomposição microbiana, embora seja lento o ritmo de desintegração de alguns deles, ocasionando embaraçosos problemas de resíduos. (BRANDY, 1983).
IMPORTANTE
Os microrganismos desempenham importante função na degradação dos agrotóxicos nos solos, contudo o uso indiscriminado e em altas doses (sem controle) faz com que esses microrganismos se extingam do solo, isso pode resultar na permanência do agrotóxico por muitos anos no solo.
120
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
4.6 PERSISTÊNCIA NOS SOLOS
A persistência dos agrotóxicos nos solos é o somatório de todas as reações, movimentos e degradações que exercem influência sobre os mesmos. A regra geral é uma marcante diferença nas persistências. Por exemplo, os inseticidas organofosfatos têm duração de apenas alguns dias nos solos; o herbicida 2,4-D, que é o mais amplamente usado, tem uma persistência nos solos de duas a quatro semanas apenas; o DDT e outros hidrocarbonetos clorados poderão ter uma persistência de três a quinze anos ou mais. (BRANDY, 1983).
NOTA
A Figura 42 resume todos esses processos. Após o agrotóxico ser aplicado no solo pode ser adsorvido nas partículas de solo ou ser solubilizado. Quando adsorvido pode permanecer no solo por muito tempo (run off) ou sofrer degradação química e assim ser lixiviado para o aquífero freático. Quando se torna solúvel, pode ser volatilizado (contaminando o ar ou outras áreas); sofrer fotósile (decomposição desencadeada pela radiação solar); ou degradação biológica (degradação desencadeada por microrganismos) e assim também sendo lixiviado para o aquífero freático. Também ao ser solubilizado torna-se disponível para a absorção das plantas, podendo em seguida sofrer a degradação tanto química quanto biológica.
FIGURA 42 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DA INTERAÇÃO ENTRE PROCESSO DE RETENÇÃO, TRANSPORTE E TRANSFORMAÇÃO DE UM AGROTÓXICO APLICADO NO SOLO
FONTE: Adaptado de Silva (1999 apud MACEDO, 2002)
Aplicação doagrotóxico
Adsorvido
Degradaçãoquímica
Degradaçãobiológica
Absorçãopelas plantas
Lixiviação
Aquífero freático
Superfície do solo
"Run off"
Solução
Volatilização Fotólise
TÓPICO 3 | COMPORTAMENTO DOS AGROQUÍMICOS
121
5 INFLUÊNCIA DO TIPO DE SOLO NO COMPORTAMENTO DOS AGROTÓXICOS
O tipo de solo e suas características interferem direta e indiretamente no comportamento e transporte de agrotóxicos.
NOTA
As características do solo determinantes que estão relacionadas com o comportamento e transporte dos agrotóxicos são a quantidade de matéria orgânica, textura, porosidade, umidade, temperatura e estrutura.
A textura e porosidade são determinantes na capacidade do solo em reter ou não a solução do solo (FILIZOLA et al., 2002). Solos arenosos, por exemplo, possuem pouca matéria orgânica entre as suas partículas. Neste tipo de solo os agrotóxicos podem percolar facilmente e atingir reservatórios de água subterrânea. Solos argilosos, por exemplo, possuem partículas com compostos ativos que funcionam como sítios de captura para os agrotóxicos. Ainda têm-se nos solos, os chamados macroporos, que são espaços vazios derivados de apodrecimento de raízes, aberturas feitas por animais que vivem nos solos, espaços estes que facilitam a movimentação dos agrotóxicos. (BARRIGOSSI; LANNA; FERREIRA, 2004).
A quantidade de matéria orgânica do solo é uma característica muito importante no transporte de agrotóxicos, porém essa dependerá do tipo e da densidade da vegetação que há sobre este solo. Grande parte dos agrotóxicos é absorvida pela matéria orgânica, impedindo que estes alcancem o aquífero freático via percolação. (FILIZOLA; FERRACINI; SANS, 2002). Quando os agrotóxicos se aderem às partículas do solo ou à matéria orgânica, eles se tornam mais sujeitos à degradação.
122
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
A umidade e a temperatura do solo afetam muito a decomposição dos agrotóxicos. A decomposição química do agrotóxico ocorre mais lentamente em solos bem drenados (secos) e temperaturas mais baixas, pois tanto as reações químicas como as biológicas ocorrem mais lentamente nestas condições. (BARRIGOSSI; LANNA; FERREIRA, 2004).
A maior ou menor quantidade do escoamento superficial e subsuperficial se devem ao relevo como também às condições pluviométricas. Quanto maior a declividade da área, maior a velocidade dos escoamentos e mais rapidamente os agrotóxicos chegam aos cursos de água. Quanto mais chuva, maior o escoamento e infiltração, facilitando o transporte dos agrotóxicos. Cabe lembrar a você que as matas ciliares funcionam como barreiras e filtros das águas escoadas superficialmente e que se direcionam aos cursos d’água.
O comportamento dos agrotóxicos depende não somente das características físicas, químicas e biológicas ao seu redor. Depende das suas próprias características químicas, entre elas a solubilidade, hidrofilia, cargas, meia-vida (half-life) em água e no solo, coeficiente de adsorção à matéria orgânica etc., que interagem com o solo e com os organismos presentes nele, como também com a água. (FILIZOLA; FERRACINI; SANS, 2002).
6 RELAÇÃO ENTRE OS AGROTÓXICOS E A MATA CILIAR
A agricultura acompanha a humanidade desde que os povos nômades deixaram de migrar de uma região a outra. Eles descobriram como cultivar as plantas e assim não mais abandonar suas terras pela falta de alimentos. Desde então, as práticas agrícolas vêm se aperfeiçoando muito e suas tecnologias para a produção gerando ótimos resultados aos produtores.
Entretanto, para realizar as atividades na agricultura, há necessidade de grande quantidade de água para irrigação, sendo esta de boa qualidade. Mas o que vem acontecendo na maioria das bacias hidrográficas é a utilização de agrotóxicos na agricultura e a degradação ambiental, incluindo as áreas de matas ciliares.
NOTA
A decomposição dos agrotóxicos se dá por meio de reações químicas envolvendo água, compostos e organismos presentes no solo. Alguns agrotóxicos se decompõem com radiação solar. (BARRIGOSSI; LANNA; FERREIRA, 2004).
TÓPICO 3 | COMPORTAMENTO DOS AGROQUÍMICOS
123
IMPORTANTE
As matas ciliares também são conhecidas como florestas fluviais, ripárias, beiradeiras, ripícolas, ribeirinhas ou florestas de galeria (NAIMAN; DÉCAMPS, 1997) que acompanham os cursos d'água. São áreas de preservação permanentes que se destacam como importantes refúgios para a fauna terrestre e aquática, como corredores de fluxo gênico vegetal e animal e, proteção do solo e dos recursos hídricos da bacia hidrográfica. (NAIMAN; DÉCAMPS, 1997; LIMA; ZAKIA, 2000).
A mata ciliar quase sempre é retirada do terreno para se ampliar o espaço territorial para produção, e para aumentar ainda mais a produção são usados os agrotóxicos na agricultura para controle das doenças, pragas e plantas invasoras nas culturas, sendo eles as principais formas de controle destes vetores. (FILIZOLA; FERRACINI; SANS, 2002).
As formas mais comuns de aplicação de agrotóxicos são por meio da aplicação direta no solo e pulverização (tratores, manuais e avião). Na pulverização, o agrotóxico é diluído em água, formando uma emulsão estável. A deriva, que é o movimento das gotículas do jato do agrotóxico para fora do alvo durante a aplicação, é um grande problema, sendo que 99,98% do ingrediente ativo é desperdiçado, atingindo organismos não alvo. (DORES; DE-LAMONICA FREIRE, 1999).
O destino dos agrotóxicos no ambiente é governado por processos de retenção (absorção e adsorção), de transformação (decomposição e degradação) e de transporte (volatilização, lixiviação, escoamento superficial) e por interações desses processos (SPADOTTO et al., 2002). Mas você deve se perguntar, qual a relação existente entre os agrotóxicos e as matas ciliares?
As matas ciliares desempenham papel de filtro superficial de sedimentos das águas advindas de áreas agricultáveis ou outros usos (LIMA; ZAKIA, 2000), exercendo ainda importante papel na infiltração da água e na redução do escoamento superficial – funcionando como uma esponja, absorvendo a água das chuvas (GUERRA; CUNHA, 2000). Assim, parte dos nutrientes liberados pelos processos agrícolas ou de ecossistemas terrestres que chegariam aos cursos d’água por escoamento superficial podem ser retidos por absorção das raízes das plantas. Desta forma, há uma diminuição significativamente na concentração de agrotóxicos nos cursos da água. (LIMA; ZAKIA, 2000).
A mata ciliar também protege o solo formando húmus, importante para a estabilidade e teor de agregados dos solos. (BIGARELLA et al., 1994;
124
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
NOTA
As matas ciliares, ao exercerem função de filtro de agrotóxicos estão exercendo a função de proteção da biota aquática, uma vez que muitas das espécies de animais dependem da boa qualidade de água para a sobrevivência. Além do mais, as matas ciliares favorecem a criação de micro-hábitats, próprios para alguns organismos aquáticos e equilíbrio térmico da água por meio do sombreamento das copas das árvores.
Outro impacto perceptível do uso de agrotóxicos com ausência de matas ciliares, que intensifica a quantidade desses por serem carregados aos rios é a eutrofização artificial (aporte excessivo de nutrientes – nitrogênio e fósforo - nos lagos e rios) causada principalmente pelos fertilizantes utilizados.
IMPORTANTE
A eutrofização das águas significa seu enriquecimento por nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo (provenientes de agrotóxicos, fertilizantes, esgoto doméstico e industrial), levando ao crescimento excessivo das plantas aquáticas (algas), com consequente desequilíbrio do ecossistema aquático e progressiva degeneração da qualidade das águas.
Diante do exposto, pode-se verificar a vulnerabilidade do ambiente à contaminação, principalmente, por agrotóxicos, no ambiente agrícola, onde são muito utilizados. Este intenso uso, aliado ao desmatamento das áreas de preservação permanente, contribui para a contaminação do solo, do ar e da
GUERRA; CUNHA 2000). O teor de matéria orgânica no solo é um fator de muita importância para a retenção de agrotóxicos no solo e consequente melhoria da qualidade da água. Como exemplo disto, um estudo realizado por Vieira et al. (1999), conclui que o herbicida 2,4-D adsorve preferencialmente na matéria orgânica, retendo-se no solo, não sendo lixiviado para os cursos d’água. Segundo estudo efetuado por Pinho et al. (2004), a presença da mata ciliar localizada em área de silvicultura, reduziu as concentrações de caulinita, atrazina e picloram em 70, 33, e 6%, respectivamente, em escoamento, devido à presença do horizonte O (matéria orgânica) no solo.
TÓPICO 3 | COMPORTAMENTO DOS AGROQUÍMICOS
125
água, afetando assim toda a biota que se utiliza deles. A contaminação da água é aumentada com o uso do solo fora da sua condição de melhor aptidão e com seu manejo inadequado.
Este tipo de degradação ambiental ainda é muito presente, apesar de que o uso de agrotóxicos ser regido pela Legislação Federal (Lei no 7.802/1989) e a preservação da mata ciliar ser obrigatória (Lei nº 4771/65, Código Florestal Brasileiro).
Fazendo-se referência às condições citadas acima, problemas relacionados à qualidade de vida das pessoas e dos ecossistemas estão aparecendo cada vez mais. A retirada da vegetação das margens dos rios é prejudicial não somente pelo transporte de materiais em suspensão e agrotóxicos pelas águas, danificando a sua qualidade e causando a mortandade da fauna aquática (BARRELA et al., 2000), mas também por provocar interferência na cadeia alimentar deste ecossistema. Para o homem, a ingestão de água contaminada por agrotóxicos, ou exposição a estes, pode ocasionar várias doenças, tais como lesões hepáticas, lesões renais, neurite periférica, esterilidade masculina, cistite hemorrágica, hiperglicemia, debilidade do sistema imunológico, fibrose pulmonar irreversível, reações de hipersensibilidade, mutagênese, e carcinogênese. (RUEGG et al., 1991).
IMPORTANTE
Consequências dos agrotóxicos:
• Destroem a microflora e microfauna dos solos.• Acumulam-se nos ecossistemas, podendo perdurar por vários anos.• Contaminam os alimentos por meio de resíduos remanescentes no solo.• Poluem indistintamente a água, o ar e o solo.
126
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
UNI
Saiba como minimizar o impacto ambiental dos agrotóxicos:
- Descarte corretamente as embalagens vazias de agrotóxicos.- Utilize a dosagem correta de fertilizantes e agrotóxicos, de acordo com as instruções de
um especialista e a embalagem do produto. - Cada cultura tem agrotóxicos específicos, não use os de uma planta para outra.
- Procure usar agrotóxicos naturais sempre que possível para substituir os químicos, pois são menos agressivos ao ambiente.
- Fertilize o solo com adubo orgânico (esterco) que não causa contaminação.- Não manuseie o agrotóxico sem equipamento de proteção.- Não aplique produtos próximos à fonte de água, especialmente lagos e rios.- Evite pulverizar o produto contra o vento, em dias de vento forte, chuvosos ou de muito
calor - a evaporação do produto fará com que ele seja precipitado em outro local.
127
RESUMO DO TÓPICO 3
Neste tópico, você estudou:
• Agrotóxicos são considerados produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de ambientes urbanos, hídricos e industriais.
• Na história dos agrotóxicos, os produtos químicos foram pesquisados e produzidos, quando Pasteur no início do século XIX descobriu serem os microrganismos os causadores de certas doenças dos animais e das plantas.
• Os agrotóxicos podem ser classificados em três grupos principais: Inseticidas: possuem ação de combate a insetos, larvas e formigas; Herbicidas: possuem ação de combate às ervas daninhas, indesejáveis na agricultura e; Fungicidas: possuem ação de combate a fungos.
• Quanto ao potencial de periculosidade ambiental os agrotóxicos são classificados em: Classe I - Produto Altamente Perigoso; Classe II - Produto Muito Perigoso; Classe III - Produto Perigoso e; Classe IV - Produto Pouco Perigoso.
• Quanto aos efeitos à saúde, podem ser classificados nas seguintes classes toxicológicas: extremamente tóxicos; altamente tóxicos; mediamente tóxicos; pouco tóxicos e; muito pouco tóxicos.
• Os agrotóxicos nos solos podem se comportar de cinco diferentes formas ou possuírem diferentes destinos:
a) os produtos químicos poderão se vaporizar e se perder na atmosfera, sem nenhuma modificação química;
b) poderão ser adsorvidos pelos solos;c) poderão se mover no sentido descendente do solo, sob forma líquida ou de
solução e se perder por lixiviação;d) poderão ser submetidos a reações químicas na superfície ou no interior do
solo e; e) poderão ser desagregados pelos microrganismos.
• O tipo de solo interfere direta e indiretamente no comportamento e transporte de agrotóxicos.
128
• As características do solo determinantes que estão relacionadas com o comportamento e transporte dos agrotóxicos são a quantidade de matéria orgânica, textura, porosidade, umidade, temperatura e estrutura.
• As matas ciliares desempenham papel de filtro superficial de sedimentos das águas advindas de áreas agricultáveis ou outros usos, desta forma, há uma diminuição significativamente na concentração de agrotóxicos nos cursos da água.
• Os agrotóxicos podem gerar diversas consequências: destruição da microflora e microfauna dos solos; acúmulo nos ecossistemas, podendo perdurar por vários anos; contaminação dos alimentos por meio de resíduos remanescentes no solo; poluição indistintamente a água, o ar e o solo.
• A Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, é específica para os agrotóxicos e dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação e exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização e dá outras providências.
129
Caro acadêmico! Para fixar melhor o conteúdo estudado, vamos exercitar um pouco. Leia as questões a seguir e responda a elas em seu caderno. Bom trabalho!
1 Como os agrotóxicos podem ser classificados?
2 Os fertilizantes e os hormônios adicionados nas plantas são considerados agrotóxicos? Explique.
3 Em que classes os agrotóxicos são classificados quanto ao grau de periculosidade e toxicidade?
4 Explique como é o comportamento dos agrotóxicos no solo. Como se dá o transporte e a degradação?
5 Quanto tempo um agrotóxico pode permanecer no solo?
6 O tipo de solo exerce alguma influência no comportamento do agrotóxico? Explique.
7 Como a mata ciliar pode contribuir para minimizar os impactos do agrotóxico no ambiente? Discuta com seus colegas de classe e relate.
AUTOATIVIDADE
131
TÓPICO 4
QUALIDADE AMBIENTAL DO SOLO
UNIDADE 2
1 INTRODUÇÃO
Estudar a qualidade do solo é importante para a compreensão do equilíbrio necessário que deve existir entre as condicionantes químicas, físicas e biológicas dos solos. Por meio dessas condicionantes é possível determinar o grau de conservação ou degradação do solo.
Os indicadores são propriedades, processos e características que podem ser medidos para monitorar as mudanças ocorridas nos solos. E são os indicadores que levam a ação de proteção e recuperação dos solos. Portanto, é a respeito da qualidade do solo e de seus indicadores que você vai estudar neste tópico.
2 CONCEITO DE QUALIDADE DO SOLO
Os conceitos de qualidade do solo mais difundidos são aqueles que ressaltam o seu aspecto funcional, como proposto por Doran e Parkin (1994), que consideraram a qualidade do solo a capacidade deste de funcionar dentro dos limites do ecossistema para sustentar a produtividade biológica, manter a qualidade ambiental e promover a saúde de plantas e animais. Esta abordagem leva em consideração não apenas o papel do solo na produção agrícola, mas também a sua participação em funções específicas no ecossistema, de que depende a sustentabilidade em longo prazo.
A qualidade do solo serve como indicador da qualidade ambiental. O solo, além de funcionar no sistema de produção agrícola e ser um componente altamente crítico na biosfera terrestre, deve também funcionar na manutenção da qualidade ambiental.
O conceito de qualidade do solo surgiu no final da década de 1970 e durante os 10 anos seguintes esteve muito associado ao conceito de fertilidade. (KARLEN et al., 2003). Acreditava-se, que um solo quimicamente rico era um solo com alta qualidade, isto porque tinha a capacidade de prover a produção agrícola. Entretanto, a percepção de qualidade do solo evoluiu, principalmente nos últimos anos, e, num entendimento mais amplo, percebe-se que não basta apenas o solo apresentar alta fertilidade, mas, também, possuir boa estruturação e abrigar uma alta diversidade de organismos.
132
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
Entretanto, a qualidade do solo influencia o potencial de uso, a produtividade e a sustentabilidade global do agroecossistema, sendo seu estudo necessário para fornecer informações sobre o manejo do solo e assegurar a tomada de decisões para uma melhor utilização desse recurso. (KARLEN et al., 2003).
3 INDICADORES DE QUALIDADE DO SOLO
Uma ferramenta altamente poderosa na avaliação da qualidade do solo e formação de indicadores é a medição de atributos do solo, ou seja, os que estão relacionados à sua funcionalidade. Tais atributos oferecem uma maneira indireta de medir a qualidade dos solos, servindo como indicadores da qualidade, e são altamente úteis para monitoramento de mudanças no ambiente do solo. (REICHERT et al., 2003).
NOTA
Você sabe o que são indicadores? Indicadores dos solos são propriedades, processos e características físicas, químicas e biológicas que podem ser medidos para monitorar mudanças no solo. (MUCKEL; MAUSBACH, 1996).
Segundo Doran e Parkin (1994), os atributos indicadores da qualidade do solo são definidos como propriedades mensuráveis que influenciam a capacidade do solo na produção das culturas ou no desempenho de funções ambientais. A quantificação das alterações nos atributos do solo, decorrentes da intensificação de sistemas de uso e manejo, pode fornecer subsídios importantes para a definição de sistemas racionais de manejo, contribuindo assim para tornar o solo menos suscetível à perda de capacidade produtiva.
NOTA
Os indicadores mais comuns para identificar a qualidade do solo estão pautados nos atributos físicos, químicos e biológicos que têm relação direta com a função do solo (Figura 43). Vamos ver cada indicador a seguir:
TÓPICO 4 | QUALIDADE AMBIENTAL DO SOLO
133
FIGURA 43 – FUNÇÕES DO SOLO, ATRIBUTOS E INDICADORES DE QUALIDADE DO SOLO PARA A PRODUÇÃO DE PLANTAS
FONTE: Adaptado de Chaer (2001)
Antes de você estudar os indicadores, ressalta-se a importância de seguir algumas etapas para determinar o índice de qualidade dos solos. Assim, primeiramente, é preciso definir as funções que o solo exerce; selecionar os indicadores; padronizar as funções e os indicadores; integrar os indicadores às funções e; por fim obter o índice de qualidade do solo, tomando, desse modo, a decisão sobre qual o melhor manejo a ser adotado na respectiva área. Veja essas etapas na Figura 44.
Promover ocrescimentodas raízes
Receber,armazenar esuprir água
Armazenar,suprir e reciclar
nutrientes
Promover astrocas
gasosas
Promover aatividadebiológica
Qualidadequímica
Qualidadefísica
Qualidadebiológica
Funçõesdo solo
Atributos daqualidade do solo
Indicadores dequalidade do solo
• Teor de Nitrogênio• Nutrientes• C-orgânico• CTC• pH• C. elétrica e sais
• Temperatura• Densidade• Porosidade• Agregação• Retenção água
• Carbono da biomassa• Coeficiente metabolico• Respiração basal
FIGURA 44 – ETAPAS PARA A DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DO SOLO
FONTE: Souza (2005, p. 14)
Definição das Funções
Seleção de Indicadores
Padronização dasfunções e dos
indicadores
Obtenção doíndice de
Qualidade do Solo
Tomada dedecisão sobrequal o melhormanejo a ser
adotado
Integração dosindicadores edas Funções
1ª Etapa
2ª Etapa
3ª Etapa
4ª Etapa
5ª e 6ª Etapa
134
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
3.1 INDICADORES FÍSICOS DA QUALIDADE DO SOLO
Os indicadores físicos assumem importância por estabelecerem relações fundamentais com os processos hidrológicos, tais como taxa de infiltração, escoamento superficial, drenagem e erosão. Possuem também função essencial no suprimento e armazenamento de água, de nutrientes e de oxigênio no solo.
Entre os principais indicadores físicos de qualidade do solo sob o ponto de vista da produtividade de plantas, ou seja, relacionado à agricultura, estão: textura, estrutura, resistência à penetração, profundidade de enraizamento, capacidade de água disponível, percolação ou transmissão de água e sistema de cultivo. (LAL, 1999).
A textura é indicador físico que se torna necessário em uma análise inicial do solo e depois pode ser verificada de 2 a 5 anos, pois sua alteração se verifica mais frequente quando ocorre erosão do solo acelerada, fazendo com que as partículas de argila sejam carregadas, ficando apenas as mais grosseiras. (GOMES; FILIZOLA, 2006).
Na estrutura, os aspectos mais importantes a serem analisados estão relacionados com a agregação e a distribuição dos agregados do solo. Outro aspecto importante a ser caracterizado é a porosidade e a distribuição dos poros, para se definir o grau de retenção de umidade do solo. (GOMES; FILIZOLA, 2006).
A resistência à penetração é necessária para conhecer o grau de umidade do solo e sua compactação. A resistência de penetração é verificada por meio da densidade do solo, condutividade hidráulica e pela profundidade das raízes das plantas. Se os valores forem elevados para a densidade do solo, baixos para a condutividade e as raízes pouco profundas, por exemplo, pode ser indicativo de alta resistência à penetração do solo. Nesse caso, são chamados de “solos pesados” ou adensados. (GOMES; FILIZOLA, 2006).
A compactação pode ser observada tanto através da planta quanto do próprio solo por meio das seguintes características: formação de crosta superficial; fendas nas marcas das rodas do trator; zonas compactadas de superfície; empoçamento de água; erosão excessiva pela água e; presença de restos de resíduos não decompostos meses após a incorporação. (CAMARGO et al., 1997 apud GOMES; FILIZOLA, 2006).
A profundidade de enraizamento é um indicador importante da produtividade do solo, podendo ser facilmente estimada a partir de torrões indeformados e na contagem de raízes nas arestas (bifurcações) quebradas naturalmente, sendo os dados expressos em densidade de comprimento de raízes. (TAYLOR; TERREL, 1982 apud GOMES; FILIZOLA, 2006).
A capacidade de água disponível ou reserva de água no solo é definida pela capacidade de campo (conforme estudado no Tópico 1 desta Unidade) que é realizada por meio de sucção com tensões definidas.
TÓPICO 4 | QUALIDADE AMBIENTAL DO SOLO
135
A percolação da água pode ser determinada de forma muito simples, retirando amostras do solo com o uso de trados. A velocidade de infiltração é um importante indicador que integra diversas características físicas do solo e representa uma medida de sua capacidade de receber água na interface solo/ar e transmitir por meio do perfil do solo. A taxa de equilíbrio é atingida após a coluna de água permanecer constante na superfície do solo por cerca de três horas. (GOMES; FILIZOLA, 2006).
3.2 INDICADORES QUÍMICOS DE QUALIDADE DO SOLO
Os indicadores químicos normalmente encontram-se agrupados em classes, conforme Gomes e Filizola (2006):
a) Aqueles que indicam os processos do solo ou de comportamento. Ex.: pH, carbono orgânico.
b) Aqueles que indicam a capacidade do solo de resistir à troca de cátions. Ex.: tipo de argila, CTC, óxidos de ferro, óxidos de alumínio.
c) Aqueles que indicam as necessidades nutricionais das plantas. Ex.: nitrogênio (N), potássio (K), fósforo (P), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e os micronutrientes (elementos que as plantas necessitam em menor quantidade).
d) Aqueles que indicam contaminação ou poluição. Ex.: metais pesados, nitrato, fosfato e agrotóxicos.
NOTA
O pH (potencial hidrogeniônico) é o índice de concentração de hidrogênio (H+) no solo. Esse parâmetro é usado para determinar se um solo é ácido (pH menor que 7), neutro (pH igual a 7) ou básico (pH maior que 7).
IMPORTANTE
A determinação do pH é importante uma vez que a concentração de hidrogênio (H+) controla a solubilidade de nutrientes no solo, exercendo influência sobre a absorção dos mesmos pelas plantas. (GOMES; FILIZOLA, 2006).
136
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
O carbono orgânico não é especificamente um nutriente para as plantas, mas sua baixa concentração pode afetar a produtividade em razão do aumento de massa da planta; na disponibilidade de água para as plantas e; no seu poder de tamponamento frente à presença de compostos muitas vezes tóxicos às plantas. (GOMES; FILIZOLA, 2006).
NOTA
O carbono orgânico pode ser considerado um composto tampão, pois promove o equilíbrio da concentração hidrogênio (H+) determinando a acidez ou basicidade do solo.
A capacidade de troca catiônica (CTC) é dependente da quantidade de argila e matéria orgânica no solo. Assim, quanto maior a quantidade de carga negativa da argila, maior será a capacidade de trocar cátions (cargas positivas). Conforme ocorre à perda de cargas, há troca de cátions, levando à perda de minerais do solo. Desta forma, podemos ter os solos ricos em bases (maior que 50%) chamados eutróficos e os solos pobres em bases (menor que 50%) chamados distróficos. (GOMES; FILIZOLA, 2006).
UNI
Você sabia que a saturação da CTC com alumínio pode ser suportada por algumas espécies de cultivar? A cevada, geralmente, não suporta uma saturação maior do que 5%, enquanto o trigo brasileiro já não se beneficia com uma saturação menor do que 46%. (PRIMAVESI, 2002).
O nitrogênio do solo é importante para a produtividade de praticamente todas as plantas, que exigem teores elevados. No solo, o nitrogênio encontra-se disponível para as plantas na forma amoniacal (NH3
-) e nítrica (NO3-). A falta de
nitrogênio torna-se perceptível nas plantas, uma vez que as folhas se apresentam de forma amareladas ou com coloração mais pálida. (GOMES; FILIZOLA, 2006).
Os nutrientes disponíveis para as plantas favorecem o aumento da produtividade. São representados pelo fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca) e magnésio (Mg) chamados macronutrientes (nutrientes que as plantas necessitam em maiores quantidades). (GOMES; FILIZOLA, 2006).
TÓPICO 4 | QUALIDADE AMBIENTAL DO SOLO
137
3.3 INDICADORES BIOLÓGICOS DE QUALIDADE DO SOLO
Enquanto que os indicadores químicos do solo fazem uma contribuição qualitativa à sua qualidade e poderão determinar a qualidade máxima de um solo, os indicadores biológicos são os mais susceptíveis a mudanças e à ação do homem. Assim, como indicadores biológicos temos:
a) Carbono da massa microbiana: a massa microbiana é a fração viva da matéria orgânica do solo e é composta por bactérias, fungos, protozoários e algas. Esses são importantes componentes na avaliação da qualidade do solo, uma vez que atuam nos processos de decomposição natural interagindo na dinâmica dos nutrientes e regeneração da estabilidade dos agregados. A massa microbiana é influenciada pelo tipo de manejo, pelo clima, pelo tipo de cultivo e pelos resíduos das plantas (MORRIS, 2007). Em sistemas de manejo que permitem a entrada maior de matéria orgânica, como o sistema orgânico de cultivo, ou que diminui o distúrbio físico do solo pela aração, como o plantio direto, há uma tendência de se aumentar a massa do solo. Assim, os indicadores biológicos podem fornecer subsídios para o planejamento do uso correto dos solos. (MORRIS, 2007).
b) Respiração basal: A respiração basal é definida como sendo a respiração sem adição de substratos orgânicos ao solo e pode ser avaliada por meio da produção de dióxido de carbono (CO2) ou consumo de oxigênio (ALEF et al., 1995 apud MORRIS, 2007). É o parâmetro mais antigo utilizado na quantificação da atividade metabólica dos solos. É dependente do estado fisiológico da célula e influenciada por diversos fatores no solo tais como umidade, temperatura, estrutura do solo e disponibilidade de nutrientes. (MORRIS, 2007).
c) Coeficiente metabólico: O coeficiente metabólico é calculado pela razão entre a taxa de respiração basal e o carbono da biomassa microbiana. (ANDERSON; DOMSCH, 1993 apud MORRIS, 2007). O coeficiente metabólico é um componente relevante na avaliação dos efeitos ambientais e antropogênicos sobre a atividade microbiana no solo.
A condutividade elétrica (capacidade de um material de conduzir elétrons) e sais solúveis totais, quando em altas concentrações, são fatores limitantes para o desenvolvimento das plantas, característica comumente encontrada em solos de regiões semiáridas e áridas. A salinidade constitui um fator importante na avaliação da produtividade dos solos. (GOMES; FILIZOLA, 2006).
138
UNIDADE 2 | RELAÇÃO SOLO-ÁGUA-PLANTA E A QUALIDADE
IMPORTANTE
Um indicador eficiente deve ser sensível às variações do manejo, bem correlacionado com as funções desempenhadas pelo solo, capaz de elucidar os processos do ecossistema, compreensível e útil para o agricultor e, de mensuração fácil e barata. Preferencialmente, devem ser mensurados a campo ou em condições que reflitam a real função que desempenham no ecossistema. (DORAN; PARKIN, 1994).
DICAS
Para maior aprofundamento no que diz respeito às questões relacionadas à qualidade dos solos, sugerimos a leitura do livro de Gomes e Filizola publicado em 2006 em Embrapa denominado Indicadores físicos e químicos de qualidade de solo de interesse agrícola.
139
RESUMO DO TÓPICO 4
Neste tópico, você estudou que:
• A qualidade do solo está relacionada com seu aspecto funcional, considerada como a capacidade do solo funcionar dentro dos limites do ecossistema para sustentar a produtividade biológica, manter a qualidade ambiental e promover a saúde de plantas e animais.
• Uma ferramenta altamente poderosa na avaliação da qualidade do solo e formação de indicadores é a medição de atributos do solo, ou seja, os que estão relacionados à sua funcionalidade.
• Indicadores dos solos são propriedades, processos e características físicas, químicas e biológicas que podem ser medidos para monitorar mudanças no solo.
• Os indicadores mais comuns para identificar a qualidade do solo estão pautados nas características físicas, químicas e biológicas.
• Para se avaliar a qualidade do solo, sugere-se seguir as seguintes etapas: definir as funções que o solo exerce; selecionar os indicadores; padronizar as funções e os indicadores; integrar os indicadores as funções e; por fim obter o índice de qualidade do solo, fazendo assim a tomada de decisão sobre qual o melhor manejo a ser adotado na respectiva área.
• Os principais indicadores físicos de qualidade do solo são: textura, estrutura, resistência à penetração, profundidade de enraizamento, capacidade de água disponível, percolação ou transmissão de água e sistema de cultivo.
• Os indicadores químicos normalmente encontram-se agrupados em classes:
a) Aqueles que indicam os processos do solo ou de comportamento. Ex.: pH, carbono orgânico.
b) Aqueles que indicam a capacidade do solo de resistir à troca de cátions. Ex.: tipo de argila, CTC, óxidos de ferro, óxidos de alumínio.
c) Aqueles que indicam as necessidades nutricionais das plantas. Ex.: nitrogênio (N), potássio (K), fósforo (P), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e os micronutrientes.
d) Aqueles que indicam contaminação. Ex.: metais pesados, nitrato, fosfato e agrotóxicos.
• Os indicadores biológicos são: carbono da massa microbiana (fração viva da matéria orgânica do solo); respiração basal (respiração sem adição de substratos orgânicos ao solo) e; coeficiente metabólico (razão entre a taxa de respiração basal e o carbono da biomassa microbiana).
140
Caro acadêmico! Para fixar melhor o conteúdo estudado, vamos exercitar um pouco. Leia as questões a seguir e responda a elas em seu caderno. Bom trabalho!
1 Discuta com seus colegas de classe e explique o que é qualidade do solo.
2 Com relação aos atributos necessários para se avaliar a qualidade do solo, preencha as lacunas da frase a seguir:
Os indicadores mais comuns para identificar a qualidade do solo estão pautados nos atributos ______________, ________________, _________________ que têm relação direta com a ______________ do solo.
3 Esquematize as etapas que são importantes a serem seguidas para determinar o índice de qualidade dos solos.
4 Com relação aos indicadores físicos e à determinação da qualidade dos solos, coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
( ) Os indicadores físicos estão ligados com taxa de infiltração, escoamento superficial, drenagem e erosão.
( ) Os indicadores físicos estão ligados com taxa de infiltração e o pH (potencial hidrogeniônico).
( ) Entre os principais indicadores físicos de qualidade do solo estão a textura, a estrutura, a resistência à penetração, a profundidade de enraizamento e a capacidade de água disponível.
( ) Entre os principais indicadores físicos de qualidade do solo estão a profundidade de enraizamento e a percolação ou transmissão de água.
5 O carbono da massa microbiana, a respiração basal e o coeficiente metabólico são que tipo de indicadores? Para que são usados?
AUTOATIVIDADE
141
UNIDADE 3
DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
PLANO DE ESTUDOS
A partir desta unidade, você será capaz de:
• conhecer bacias hidrográficas como unidades de planejamento para o uso e ocupação do solo;
• identificar as diferentes classes de capacidade de uso do solo;
• conhecer a susceptibilidade dos solos brasileiros aos processos erosivos;
• identificar os principais agentes e tipos de erosão e seus impactos;
• determinar os fatores que influenciam na erosão hídrica do solo;
• conhecer as práticas de manejo, conservação e recuperação dos solos.
Esta unidade está dividida em três tópicos. No final de cada um deles, você encontrará atividades que contribuirão para fixar os conteúdos explorados.
TÓPICO 1 – RELAÇÃO USO DO SOLO E BACIA HIDROGRÁFICA
TÓPICO 2 – DEGRADAÇÃO E EROSÃO DOS SOLOS
TÓPICO 3 – CONSERVAÇÃO E MANEJO
143
TÓPICO 1
RELAÇÃO USO DO SOLO E BACIA
HIDROGRÁFICA
UNIDADE 3
1 INTRODUÇÃO
A crescente necessidade de alimentos tem exigido o incremento rápido da produção agrícola e pecuária, seja pela expansão na área da agricultura ou pelo aumento da produtividade das culturas. Este incremento tem como um dos fatores limitantes a falta de capacidade de suporte do solo devido à degradação acelerada. De tal forma, o conhecimento sobre o uso da terra agrícola ou não agrícola vem ganhando espaço pela necessidade de garantir a sua sustentabilidade diante das questões ambientais, sociais e econômicas.
Atualmente, muitas das práticas relacionadas com o uso e conservação do solo e até o planejamento territorial vêm sendo aplicadas como um sistema integrado, tanto em nível de cultura como de propriedade agrícola e urbana. Esta integração parte da observação de uma unidade física denominada bacia hidrográfica. É, nesse espaço, formado naturalmente por divisores topográficos, que estão incluídas a propriedade rural, residências, comunidades, escolas, mananciais hídricos, estradas, pecuária, agricultura etc.
Assim, esse tópico contemplará os diferentes usos do solo, sejam eles agrícolas ou não agrícolas e sua relação com a bacia hidrográfica. Então, vamos lá! Vamos conhecer o que é uma bacia hidrográfica e como ela é uma importante unidade de planejamento ambiental para o uso correto dos solos.
2 A BACIA HIDROGRÁFICA
As bacias hidrográficas ou bacias fluviais correspondem a determinadas áreas da superfície terrestre cujos limites são determinados pelas partes mais altas do relevo (divisores topográficos) nas quais escoam as águas e as drenam para um rio, oriundos de seus afluentes. (GUERRA; CUNHA, 2000).
As bacias hidrográficas são interligadas e limitadas pelos seus divisores topográficos. O divisor topográfico (divisor de águas) que forma o contorno da bacia é o limite físico que divide o escoamento das águas superficiais para uma bacia ou para outra (Figuras 45 e 46).
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
144
FIGURA 45 – VISÃO ESQUEMÁTICA DE UMA BACIA HIDROGRÁFICA
FONTE: Adaptada de Castro et al. (2009)
FIGURA 46 – MAQUETE DEMONSTRATIVA DE UMA BACIA HIDROGRÁFICA (BACIA DO RIO ITAJAÍ/SC) ESCALA HORIZONTAL 1:50.000; VERTICAL 1:7.500
FONTE: Imroth; Scolaro (2010)
Para exemplificar o conceito de bacia hidrográfica pode-se utilizar a metade do telhado de uma casa, em que a cumeeira é o divisor de águas que define para qual bacia (lado) a água irá escoar (Figura 47). O telhado funciona como sistema de captação de água e a calha é o rio. (CASTRO et al., 2009).
TÓPICO 1 | RELAÇÃO USO DO SOLO E BACIA HIDROGRÁFICA
145
FIGURA 47 – TELHADO COMO REPRESENTAÇÃO DIDÁTICA DE UMA BACIA HIDROGRÁFICA
FONTE: Castro et al. (2009, p. 30)
UNI
Você sabia que a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos? A Lei nº 9.433/97 foi criada com o objetivo de harmonizar o uso das águas para fins de geração de energia elétrica, agricultura e demais usos.
As bacias hidrográficas contêm uma rede de drenagem pela qual a água juntamente com material sólido e dissolvido são transportados para uma saída comum ou ponto terminal (conforme visto nas Figuras 45 e 46), que pode ser um rio, lago, reservatório ou oceano. (GUERRA; CUNHA, 2000).
Essa rede de drenagem é responsável por modelar a paisagem da bacia, que pode ser dividida de acordo com a altitude e o tipo de rio em três segmentos: curso superior (partes altas da bacia onde se encontram as nascentes), curso médio (parte intermediária onde formam ilhas no leito dos rios devido à perda de velocidade das águas) e curso inferior (parte mais baixa da bacia onde a água pode desaguar num outro rio, lago, reservatório ou oceano). (GUERRA; CUNHA, 2000). Veja esses segmentos na Figura 48.
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
146
FIGURA 48 – REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO CURSO DE UM RIO, SEGMENTADO EM CURSO SUPERIOR, MÉDIO E INFERIOR, E DA VELOCIDADE DA ÁGUA E DO TAMANHO DAS PARTÍCULAS EM SEU LEITO
FONTE: Ghoddosi; Torres; Frank (2009, p. 41)
NOTA
Perceba que quanto maior é a declividade da bacia hidrográfica, maior é o tamanho médio das partículas que as águas conseguem carregar no fundo do leito dos rios, modelando assim a paisagem da bacia (Figura 48).
Assim podemos dizer que a bacia hidrográfica exerce papel fundamental na evolução do relevo uma vez que os cursos d'água constituem importantes modeladores da paisagem. (GUERRA; CUNHA, 2000). O padrão e a forma do rio estão relacionados diretamente com a declividade da bacia, logo quanto maior a declividade maior a velocidade das águas e assim maior será a capacidade das águas erodirem o fundo do rio aprofundando e formando os chamados vales. Contudo, ao erodirem, carregam os sedimentos de vários tamanhos, que conforme a diminuição da declividade da bacia, esses sedimentos vão sendo depositados, seja no próprio leito do rio, formando as ilhas, seja nas laterais dos rios quando em períodos de cheias, formando os diques marginais. (GUERRA; CUNHA, 2000).
Os rios, ao transportar sedimentos e depositar nas margens em períodos de cheias, formam então os chamados diques marginais e as várzeas ou planícies
TÓPICO 1 | RELAÇÃO USO DO SOLO E BACIA HIDROGRÁFICA
147
aluviais. (AB'SABER, 2000). Parte desses diques marginais e as planícies aluviais servem de suporte para a floresta ciliar, e ademais são destinadas aos diferentes usos, principalmente agrícola uma vez que essas planícies são consideradas as áreas mais férteis da bacia hidrográfica devido à frequente deposição de sedimentos depositados pelos rios (Figura 49).
FIGURA 49 – DIQUE MARGINAL DO RIO COM FLORESTA CILIAR E PLANÍCIES COM DIFERENTES USOS DO SOLO
FONTE: Disponível em: <http://www.apremavi.org.br>. Acesso em: 20 fev. 2011.
IMPORTANTE
A bacia hidrográfica pode ser considerada uma unidade natural na qual é possível reconhecer e estudar as inter-relações existentes entre os diversos elementos da paisagem e os processos que atuam na sua esculturação. Compreendida dessa maneira, a bacia hidrográfica passa também a representar uma unidade fundamental de planejamento de uso das terras.
1- Floresta ciliar nativa2- Reflorestamento 3- Agricultura permanente4- Pastagem5- Agricultura de rotação6- Área desmatada sem cobertura
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
148
2.1 A BACIA COMO UNIDADE DE PLANEJAMENTO
A utilização da bacia hidrográfica como unidade de planejamento ocorre nos Estados Unidos desde 1933. No Brasil, a década de 80, e principalmente a de 90 são marcadas por inúmeros trabalhos que têm a bacia hidrográfica como sua unidade fundamental de pesquisa e planejamento. (GUERRA; SILVA; BOTELHO, 1999).
Uma vez que uma bacia hidrográfica é formada por várias bacias hidrográficas menores, chamadas microbacias hidrográficas, os estudos para um bom planejamento ambiental começam pela seleção de suas microbacias hidrográficas.
NOTA
É essencial que a microbacia seja representativa das condições físicas e socioeconômicas locais. Desse modo, os resultados e experiências gerados a partir dela poderão ser implementados com sucesso nas demais microbacias da região até atingir toda a bacia hidrográfica.
Tal fato exige, portanto, um levantamento geral prévio das características do quadro natural da região, como clima, geologia, relevo, solos e vegetação, que pode ser conseguido por meio de pesquisas bibliográficas e cartográficas sobre a área em questão, as quais também podem e devem, se possível, ser acompanhadas de rápido reconhecimento de campo. (GUERRA; SILVA; BOTELHO, 1999).
Após coletas de dados, procede-se a integração dos mesmos e determinação das tipologias das áreas, definindo as áreas mais homogêneas ou de características semelhantes, em que são criados mapas, que possam ser compreendidos por técnicos, administradores, fazendeiros etc. O mapeamento de unidades ambientais busca representar a análise da paisagem, organizando espacialmente as informações e características da microbacia. Assim, suas combinações de dados geram mapas interpretativos dos quais são extremamente úteis para o planejamento ambiental fazendo com que a demanda e o uso do solo sejam orientados de acordo com as características e a capacidade da microbacia hidrográfica. (GUERRA; SILVA; BOTELHO, 1999).
DICAS
Saiba mais sobre a formação e dinâmica de bacia hidrográfica consultando o livro Geomorfologia e meio Ambiente escrito por Guerra e Cunha em 2000.
TÓPICO 1 | RELAÇÃO USO DO SOLO E BACIA HIDROGRÁFICA
149
IMPORTANTE
Acredita-se que o planejamento ambiental em microbacia hidrográfica possa minimizar a ocorrência de impactos ambientais decorrentes da ação antrópica indiscriminada. É necessário orientar a ocupação humana e os usos do solo a fim de que sejam resguardadas as áreas destinadas à preservação ambiental, tendo em vista a conservação dos recursos naturais, a forte instabilidade ou fragilidade ambiental e a alta suscetibilidade à erosão e movimentos de massa que certas regiões podem apresentar.
Agora que você sabe que é importante estudar uma bacia hidrográfica antes de ocupar ou fazer uso do solo, vamos conhecer quais são os principais usos do solo no Brasil e como se dá sua classificação.
3 USOS DO SOLO NO BRASIL
De acordo com o Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2006), os usos do solo podem ser classificados em: a) áreas antrópicas não agrícolas; b) áreas antrópicas agrícolas; c) áreas de vegetação natural e; d) áreas com uso de água.
A) Áreas antrópicas não agrícolas
A esta nomenclatura estão associados todos os tipos de uso da terra de natureza não agrícola, tais como: áreas urbanizadas, industriais, comerciais, redes de comunicação e áreas de extração mineral. Dentre elas, compreendem: áreas urbanizadas, metrópole, cidade, vila, comercial e serviços, transportes, comunicações e utilidades, indústria, complexo industrial e comercial, extração mineral, lavra, mina, extração de materiais de construção, lavra garimpeira e garimpagem.
B) Áreas antrópicas agrícolas
No sentido amplo, a terra agrícola pode ser definida como terra utilizada para a produção de alimentos (Figura 50). Inclui todas as terras cultivadas, caracterizadas pelos cultivos, podendo também compreender áreas alagadas. Encontram-se inseridas nesta categoria as lavouras temporárias, lavouras permanentes, pastagens plantadas, silvicultura entre outras. Vejamos cada uma delas:
• Lavoura temporária: cultura de plantas de curta ou média duração, geralmente com ciclo vegetativo inferior a um ano, que após a produção deixa o terreno disponível para novo plantio.
• Lavouras alimentares para subsistência: compõem sistemas produtivos que constituem a base alimentar e também fonte de renda básica para pequeno e médio produtor.
• Lavouras alimentares para comercialização: dizem respeito às culturas de plantas voltadas exclusivamente para a comercialização. Têm como finalidade
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
150
a obtenção de renda e contribuem significativamente para as exportações de produtos agrícolas.
• Lavoura permanente: cultura de ciclo longo que permite colheitas sucessivas, sem necessidade de novo plantio a cada ano.
• Sistema agroflorestal (SAF): uso da terra na qual se combinam espécies arbóreas lenhosas (frutíferas e/ou madeireiras) com cultivos agrícolas e/ou animais, de forma simultânea ou em sequência temporal, que interagem econômica e ecologicamente.
• Sistema agrossilvicultural: sistema de produção consorciada, envolvendo o componente arbóreo com cultivos agrícolas anuais, podendo ser aplicado em áreas de capoeiras ou onde o desmatamento fez surgir nova vegetação.
• Sistema agrossilvipastoril: sistema de produção consorciada, envolvendo o componente arbóreo com cultivos agrícolas e animais.
• Sistema silvipastoril: sistema que combina árvores com pastagem (animais). • Pastagem plantada: áreas destinadas ao pastoreio do gado, formadas mediante
plantio de forragens perenes. • Pecuária: atividade que procura unir ciência e tecnologia visando à produção
de animais domésticos com objetivos econômicos. • Silvicultura: técnica ligada à implantação, composição, trato e cultivo de
povoamentos florestais, assegurando proteção, estruturando e conservando a floresta como fornecedora de matéria-prima para a indústria madeireira.
• Reflorestamento: plantio ou formação de maciços com espécies florestais nativas ou exóticas. O plantio heterogêneo é utilizado para enriquecimento de florestas e na recuperação das florestas nas margens dos rios. O plantio homogêneo refere-se a plantios normalmente feitos com espécies exóticas, como pínus e eucaliptos.
FIGURA 50 – USOS DIVERSOS DO SOLO EM PROPRIEDADE MODELO
FONTE: Disponível em: <http://www.apremavi.org.br>. Acesso em: 20 fev. 2011.
TÓPICO 1 | RELAÇÃO USO DO SOLO E BACIA HIDROGRÁFICA
151
C) Áreas de vegetação natural
Conforme o sistema de classificação adotado, a vegetação natural compreende um conjunto de estruturas florestais, abrangendo desde florestas e campos originais (primários) e alterados até formações florestais espontâneas secundárias, arbustivas, herbáceas e/ou gramíneo-lenhosas, em diversos estágios sucessionais de desenvolvimento, distribuídos por diferentes ambientes e situações geográficas. Além das formações florestais e campos, as áreas de vegetação natural de uso podem ser:
• Unidades de Conservação de Uso Sustentável: são aquelas nas quais a exploração e o aproveitamento econômico direto são permitidos, mas de forma planejada e regulamentada.
• Terras Indígenas: são áreas destinadas pela União ao usufruto exclusivo das comunidades indígenas que a habitam.
D) Áreas com uso de água
Incluem todas as classes de água interior e costeira, como cursos d’água e canais (rios, riachos, canais e outros corpos d’água), corpos d’água naturalmente fechados, sem movimento (lagos naturais regulados) e reservatórios artificiais (represamentos artificiais d’água), além das lagoas costeiras ou lagunas, estuários e baías.
Portanto, os principais usos dentre esses são: aquicultura, maricultura, piscicultura, captação de água para abastecimento doméstico, para abastecimento industrial, para abastecimento agrícola, lazer e desporto, e represamento para geração de energia.
4 CLASSIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE USO DAS TERRAS
De acordo com a necessidade de uso dos solos e seu planejamento, foram classificados os solos conforme sua capacidade de uso. Foram definidas oito classes (Figura 51) subdivididas em três categorias segundo Lepsch (2002): terras próprias para todos os usos; terras impróprias para o cultivo intensivo e; terras impróprias para o cultivo. Veja suas características a seguir.
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
152
FIGURA 51 – CLASSES DE CAPACIDADE DE USO DOS SOLOS
FONTE: Lepsch (2002, p. 173)
4.1 TERRAS PRÓPRIAS PARA TODOS OS USOS
As terras próprias para todos os usos são classificadas em três classes, como segue:
Classe I - Terras que, praticamente, não oferecem limitação de uso no que diz respeito à erosão, podendo, assim, ser cultivadas. São solos dotados de boa profundidade, produtivos, quase planos e fáceis de serem lavrados. Não são facilmente inundados, mas sujeitos à erosão por lixiviação e compactação. No caso de serem usados intensa e sucessivamente com plantio de lavouras, é necessário que se façam práticas mantedoras da fertilidade, como adubações periódicas.
Classe II - Terras que possuem limitações moderadas de uso, apresentando riscos moderados de degradação. Diferem de várias maneiras da Classe I: estão em áreas ligeiramente inclinadas, sujeitas à erosão e ao acúmulo de água no solo. Essas terras, quando cultivadas, necessitam de práticas conservacionistas relativamente simples, tais como plantio em nível ou plantio direto.
Classe III - Terras ainda apropriadas para cultivos intensos, mas necessitando de práticas conservacionistas complexas. São solos normalmente com declives mais acentuados, suscetíveis a erosões mais fortes, tendo, portanto, mais limitações de uso e maior risco à erosão que os enquadrados na Classe II.
Classe de capacidade
de uso
Aumento da intensidade do uso
Vida silvestre e ecoturismo ReflorestamentoPastoreio Cultivo
Moderado Intensivo Restrito Moderado Intensivo Muito intensivo
I Apto para os usos. O cativo exige apenas práticas agrícolas mais usuais.II Apto para todos os usos, mas práticas de conservação simples são necessárias se cultivado.III Apto para todos os usos, mas práticas intensivas de conservação são necessárias para cultivo.IV Apto para vários usos, restrições para cultivos.V Apto para pastagem, reflorestamentou ou vida silvestre.VI Apto para pastagem extensiva, reflorestamento ou vida sivestre
VII Apto para reflorestamento ou vida silvestre. Em geral, inadequado para pasto.
VIII
Apto, ás vezes, para produção de vida silvestre ou recreação. Inapto para produção econômica agrícola, pastagem ou material florestal.
TÓPICO 1 | RELAÇÃO USO DO SOLO E BACIA HIDROGRÁFICA
153
4.2 TERRAS IMPRÓPRIAS PARA O CULTIVO INTENSIVO
As terras impróprias para o cultivo intensivo são classificadas em quatro classes, como segue:
Classe IV - Terras com limitações extremas de uso. Lavouras intensivas como milho, soja etc. devem ser implantadas apenas em situações especiais e ocasionalmente, mesmo assim em extensão limitada, alternando o cultivo de culturas anuais, durante um a quatro anos de pastagem. Solos desta classe devem, em sua maioria, ser mantidos com pastagem e com culturas permanentes, no caso, frutíferas (tais como pêssego, laranja). São terras com alto grau de declive, possuindo características impróprias para a agricultura e por vezes são muito pedregosas à superfície.
Classe V - Terras que devem ser mantidas com pastagem ou reflorestamento. O terreno pode até ser plano, mas apresenta limitações para o cultivo, como superfície pedregosa ou encharcada, tornando-o impróprio para o cultivo de lavoura.
Classe VI - Terras que não devem ser cultivadas com lavouras intensivas, sendo mais adaptadas para pastagens, reflorestamento ou cultivos especiais que protegem os solos. Quando usadas para pastagens, requerem cuidados intensivos para evitar a erosão.
Classe VII - Terras sujeitas a limitações severas, mesmo quando usadas para pastagens ou reflorestamento. São terrenos muito inclinados, erodidos, ressecados ou pantanosos, considerados de baixa qualidade e devem ser usados com muito cuidado.
4.3 TERRAS IMPRÓPRIAS PARA O CULTIVO
As terras impróprias para cultivo se enquadram na classe VIII, como segue:
Classe VIII - São terras não recomendáveis para qualquer tipo de cultivo, seja lavoura, pastagem e até mesmo florestas comerciais. Obrigatoriamente devem ser reservadas para a proteção da flora e fauna silvestre. São áreas arenosas, com declive muito acentuado ou pantanoso. São exemplos: encostas com muitos afloramentos de rochas, terrenos íngremes montanhosos, dunas e mangues.
As práticas conservacionistas estão diretamente ligadas à classificação da capacidade de uso da terra, no sentido de recomendar e executar práticas adequadas em um determinado tipo de solo, tanto em propriedades agrícolas como em um conjunto delas, ou até mesmo no caso do planejamento de uma bacia hidrográfica.
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
154
LEITURA COMPLEMENTAR
IMPORTÂNCIA DA BACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE DE PLANEJAMENTO PARA A GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA
Nas últimas décadas o homem vem se conscientizando que a água é um bem finito. Esta preocupação só ocorre quando a escassez da água provoca danos tanto ao meio ambiente quanto a ele próprio. O aumento da contaminação da água é uma das características mais importantes do uso dos recursos hídricos. São poucas as cidades que contam com estações de tratamento para os esgotos domésticos, agrícolas e industriais, incluindo os agrotóxicos. Todos nós estamos nos adaptando às situações de mudança, mas se a contaminação aumentar a capacidade de regeneração e adaptação diminuirá acarretando a extinção de espécies e ambientes que antes constituíam em fonte de vida. Por isto é urgente um planejamento para prevenir e reduzir a possibilidade de ocorrerem estes danos.
INTRODUÇÃO
Este trabalho pretende apresentar o conceito e a importância de uma bacia hidrográfica, cuja degradação ambiental está tipicamente caracterizada por solos empobrecidos e erodidos, instabilidade hidrográfica, produtividade primária reduzida e diversidade biológica ameaçada, sendo possível avaliar de forma integrada as ações humanas sobre o ambiente e discutir métodos e técnicas para a recuperação das mesmas.
BACIA HIDROGRÁFICA E SUA IMPORTÂNCIA
A bacia hidrográfica é um conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes. Inúmeros esquemas ou representações gráficas deixam também de apresentar, por exemplo, os limites internos do sistema de uma bacia hidrográfica, por onde circula e atua grande parte da água envolvida. Para não ocorrer em tais equívocos, é possível definir bacia hidrográfica como um sistema que compreende um volume de materiais, predominantemente sólidos e líquidos, próximos à superfície terrestre, delimitado interno e externamente por todos os processos que, a partir do fornecimento de água pela atmosfera, interferem no fluxo de matéria e de energia de um rio ou de uma rede de canais fluviais. Inclui, portanto, todos os espaços de circulação, armazenamento, e de saídas de água e do material por ela transportado, que mantêm relações com esses canais. (RODRIGUES; ADAMI, 2005, p. 147-148).
A rede fluvial também chamada de rede de drenagem ou de rede hidrográfica é constituída por todos os rios de uma bacia hidrográfica, hierarquicamente interligada. É um dos principais mecanismos de saída da água, principal matéria em circulação na bacia hidrográfica. Tanto a bacia hidrográfica quanto a rede hidrográfica não possuem dimensões fixas. Pode-se subdividir uma bacia hidrográfica considerando-se as ordens hierárquicas
TÓPICO 1 | RELAÇÃO USO DO SOLO E BACIA HIDROGRÁFICA
155
de seus canais. Rodrigues e Adami (2005, p. 163) afirmam que o primeiro modo de hierarquização amplamente aplicado foi proposto por Horton em 1945. Nesse esquema, os canais sem afluentes são considerados de 1ª ordem, e, apenas na confluência de dois rios de igual ordem, acrescenta-se mais um à ordenação, ou seja, dois canais de mesma ordem hierárquica formam um canal de ordem hierárquica superior.
A água faz parte do meio ambiente, portanto, sua conservação e bom uso são fundamentais para garantir a vida em nosso planeta. É importante lembrar que a água é um recurso natural, único, escasso, essencial à vida e está distribuída de forma desigual no planeta. Do total da água existente na terra só 0,0067% está disponível para as atividades do homem e deste percentual só uma parte está em condições de ser utilizada. Devido a estas características ganha relevância o tema do manejo e preservação das bacias hidrográficas. A bacia é um território, microcosmo delimitado pela própria natureza. Seus limites são os cursos d’água que convergem para um mesmo ponto.
As bacias, seus recursos naturais (fauna, flora e solo) e os grupos sociais possuem diferentes características biológicas, sociais, econômicas e culturais que permitem individualizar e ordenar seu manejo em função de suas particularidades e identidade.
GESTÃO E MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
A gestão dos recursos hídricos ocupa um lugar importante na gestão ambiental, pois assim, podem controlar o fluxo e uso da água. Com relação ao ambiente, implica um processo contínuo de análise, tomada de decisão, organização, controle das atividades de desenvolvimento, bem como avaliação dos resultados para melhorar a formulação de políticas e a sua implementação para o futuro. Busca a participação conjunta de autoridades locais, setores privados e a comunidade; incorpora a variante ambiental na expansão e melhoria da qualidade de vida da população; atua como suporte aos processos de decisão do desenvolvimento; constitui o marco para coordenar atividades ambientais entre setores, lugares e agentes.
O principal objetivo de um processo de gestão é tratar de maneira integral os sistemas hídricos ou bacias buscando aproveitá-los, protegê-los e recuperá-los a fim de satisfazer as crescentes demandas da população assegurando seu uso para as gerações futuras.
Os modelos de gestão dos recursos hídricos se constituem em formas de administração da água dando um marco institucional ao manejo do ambiente. Surgiu, em 1988 com a V Semana Interamericana da Água, os Comitês das Bacias Sinos e Gravataí, afluentes do Guaíba no Estado do Rio Grande do Sul, que se constituem em iniciativas pioneiras por terem surgido da própria comunidade das bacias hidrográficas, com o apoio do governo do Estado. Apesar de na sua origem esses comitês terem surgido apenas com atribuições consultivas, a grande
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
156
mobilização os tornou produtivos, e, posteriormente, eles foram incorporados ao sistema de gestão daqueles Estados. A Expoágua foi criada como uma mostra interativa e espaço destinado a mostrar ao grande público os diferentes usos da água num ambiente que proporcione educação ambiental, entretenimento e lazer. É também uma excelente vitrine para o marketing ambiental valorizando as empresas que vêm desenvolvendo esforços para melhorar a sua gestão ambiental.
As atividades paralelas como apresentações culturais, palestras e oficinas, realizadas no local da exposição, têm como tema principal o Meio Ambiente e visam motivar crianças e adultos para atitudes efetivas de preservação. Hoje no Brasil, os recursos hídricos têm sua gestão organizada por bacias hidrográficas em todo o território nacional, seja em corpos hídricos de titularidade da União ou dos Estados.
Há certamente dificuldades em se lidar com esse recorte geográfico, uma vez que os recursos hídricos exigem a gestão compartilhada com a administração pública, órgãos de saneamento, instituições ligadas à atividade agrícola, gestão ambiental, entre outros, e a cada um desses setores corresponde uma divisão administrativa certamente distinta da bacia hidrográfica.
AÇÕES A PROMOVER
Incentivar prefeituras para que organizem festividades em sua comunidade promovendo a Semana Interamericana da Água. Convocar um fórum para tratar dos principais problemas da contaminação e uso inadequado de suas fontes. Convocar a comunidade, através do Ministério da Saúde e Ongs locais, para seminários de discussão sobre temas como: A contaminação da água, Seus efeitos sobre a saúde da população, das plantas e dos animais, Promoção da saúde ambiental, Medidas preventivas aplicadas à saúde ambiental e coletiva. Organizar seminários convocando os usuários formais e informais das fontes de água para discutir os problemas e buscar as soluções. Incentivar que as escolas produzam murais que contenham os seguintes temas como: Fontes de água existentes, Os diferentes usos da água, Quem contamina a água, Efeitos da contaminação para o ambiente e a saúde humana. Promover seminários sobre A Gestão de Bacias Hidrográficas: Realidades e Perspectivas e convocar os representantes dos vários usuários da bacia. Organizar mesas-redondas com a participação das autoridades locais para tratar de temas relacionados com esses assuntos. Organizar um fórum com a participação dos diferentes órgãos do Estado para discutir as políticas ambientais dos recursos hídricos. Promover concursos de pinturas sobre o tema Água.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho mostrou que toda a proposta de melhoramento do manejo dos recursos hídricos deve começar por melhorar as atitudes e condutas do próprio indivíduo e que também precisa envolver as organizações de usuários e abrir espaços de participação e gestão para que possam influenciar a tomada de decisões.
FONTE: Disponível em: <http://www.webartigos.com>. Acesso em: 25 nov. 2010.
157
Neste tópico, você estudou que:
• As bacias hidrográficas são áreas naturais da superfície terrestre cujos limites são determinados pelas partes mais altas do relevo (divisores topográficos) nas quais escoam as águas e as drenam para um rio, oriundas de seus afluentes.
• A bacia hidrográfica representa uma unidade fundamental de planejamento de uso das terras.
• Os estudos para um bom planejamento ambiental começam pela seleção de suas microbacias hidrográficas. Os resultados e experiências gerados a partir dela poderão ser implementados com sucesso nas demais microbacias da região até atingir toda a bacia hidrográfica.
• O planejamento ambiental em microbacia hidrográfica contribui para minimização da ocorrência de impactos ambientais decorrentes da ação antrópica indiscriminada.
• O Manual Técnico de Uso da Terra traz os vários usos do solo no Brasil, que se classificam em: a) áreas antrópicas não agrícolas; b) áreas antrópicas agrícolas; c) áreas de vegetação natural e; d) áreas com uso de água.
• Entre as áreas antrópicas não agrícolas encontramos: áreas urbanizadas, metrópole, cidade, vila, comercial e serviços, transportes, comunicações e utilidades, indústria, complexo industrial e comercial, extração mineral, lavra, mina, extração de materiais de construção, lavra garimpeira e garimpagem.
• Entre as áreas antrópicas agrícolas encontramos: lavoura temporária, lavouras alimentares para subsistência, lavouras alimentares para comercialização, lavoura permanente, sistema agroflorestal (SAF), sistema agrossilvicultural, sistema agrossilvipastoril, sistema silvipastoril, pastagem plantada, pecuária, silvicultura e reflorestamento.
• Entre as áreas de vegetação natural temos: Unidades de Conservação de Uso Sustentável e Terras Indígenas.
RESUMO DO TÓPICO 1
158
• Entre as áreas com uso de água, temos: aquicultura, maricultura, piscicultura, captação de água para abastecimento doméstico, para abastecimento industrial, para abastecimento agrícola, lazer e desporto e represamento para geração de energia.
• De acordo com a necessidade de uso dos solos e seu planejamento, a classificação da capacidade de uso pode se dar em oito classes subdivididas em três categorias: terras próprias para todos os usos; terras impróprias para o cultivo intensivo e; terras impróprias para o cultivo.
159
Caro acadêmico! Para fixar melhor o conteúdo estudado, vamos exercitar um pouco. Leia as questões a seguir e responda a elas em seu caderno. Bom trabalho!
1 Discuta com seus colegas de classe sobre a importância de se compreender e conhecer a bacia hidrográfica com relação ao uso do solo.
2 A bacia hidrográfica exerce papel fundamental na evolução do relevo uma vez que os cursos d'água constituem importantes modeladores da paisagem. Com relação a esse contexto, complete a frase a seguir:
O padrão e a forma do rio estão relacionados diretamente com a ____________________ da bacia, logo quanto maior a declividade, maior a ______________________ das águas e assim maior será a _________________________ das águas de erodir o fundo do ______________ aprofundando e formando os chamados ________________. Contudo, ao erodir, carregam os sedimentos de vários tamanhos, que, conforme a _____________________ da declividade da bacia, esses sedimentos vão sendo ______________________, seja no próprio leito do rio, formando as _____________________, seja nas laterais dos rios quando em períodos de cheias.
3 Por que as terras próprias para todos os usos não oferecem limitações ao seu uso?
4 No caso de serem utilizadas, as terras próprias para todos os usos, em alta intensidade, o que é necessário fazer para manter a sua fertilidade?
AUTOATIVIDADE
161
TÓPICO 2
DEGRADAÇÃO E EROSÃO DOS SOLOS
UNIDADE 3
1 INTRODUÇÃO
O modelo agrícola predominante no país é baseado em uso de energia fóssil, agroquímicos, mecanização intensiva e forte preocupação com a eficiência econômica, via ganhos de produtividade. Ainda hoje, é utilizando o preparo intensivo do solo por meio de implementos como arados e grades de discos. Esse modelo incrementa fortemente os processos erosivos pela exposição do solo ao sol, à chuva, destruição de seus agregados, formação de camadas compactadas, decréscimo de permeabilidade e infiltração e, em consequência, elevação das perdas do patrimônio solo.
O uso intensivo do solo degrada os recursos naturais, destruindo a matéria orgânica e originando camadas endurecidas com a redução da permeabilidade do solo, assim provocando a erosão. Também o cultivo das espécies sem rotação de culturas, uso excessivo de fertilizantes, queimadas e desmatamentos levam à degradação do solo.
Essas práticas, em desarmonia com a natureza, destroem a flora, a fauna inclusive a edáfica, consequentemente, a uma perda ecológica muitas vezes irreparável. Assim, vamos estudar nesse tópico os conceitos de erosão e degradação, conhecer um pouco sobre a susceptibilidade dos solos brasileiros aos processos erosivos, os principais agentes de erosão e tipos erosão/degradação e seus impactos, e por fim, a erosão hídrica e suas fases.
2 CONCEITO DE EROSÃO E DEGRAÇÃO DOS SOLOS
A erosão dos solos vem preocupando agricultores, políticos e cientistas há muito tempo. O homem vem desempenhando um papel importante no que se refere ao aceleramento da destruição das terras: florestas são derrubadas e queimadas, as encostas indígenas são ocupadas e aradas em sentido de declive, as pastagens são superlotadas com rebanhos, as terras submetidas à monocultura, ano após ano, sem que haja um controle que evite o arraste pelas enxurradas.
162
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
Diante deste contexto, a erosão do solo é praticamente inevitável uma vez que se dá pelo processo de desgaste da superfície e/ou arrastamento das partículas do solo por agentes, tais como a água das chuvas (hídrica), ventos (eólica), gelo (mudanças de temperatura), ou outro agente geológico, incluindo processos como o arraste gravitacional. (GUERRA; SILVA; BOTELHO, 1999).
A perda da camada superficial do solo é a principal forma de expressão da degradação das terras no Brasil, sendo a erosão a sua causa maior (GEOBRASIL, 2002). Os processos de degradação estão associados a fatores edáficos, climáticos e antrópicos. A intensidade e a taxa de desenvolvimento desses processos são ampliadas pelo uso e manejo inadequados da terra (desmatamento indiscriminado, exploração acima da capacidade de suporte, uso intensivo de grades de discos no preparo do solo etc.), que expondo o solo aos fatores intempéricos induzem à destruição gradativa de suas propriedades físicas, químicas e biológicas. Assim, podemos conceituar degradação com a alteração das propriedades do solo que acarrete efeitos negativos sobre uma ou várias funções do solo, a saúde humana ou o meio ambiente.
3 A SUSCEPTIBILIDADE DOS SOLOS BRASILEIROS AOS PROCESSOS EROSIVOS
A susceptibilidade natural dos solos à erosão é uma função da interação entre as condições de clima, modelado do terreno e tipo de solo. Da análise da interação destes fatores e a partir de estimativas experimentais de perdas de solo, foi possível estabelecer cinco classes de susceptibilidade à erosão das terras do país, sendo elas: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta (Figura 52). (GEOBRASIL, 2002).
TÓPICO 2 | DEGRADAÇÃO E EROSÃO DOS SOLOS
163
FIGURA 52 – MAPA DE SUSCEPTIBILIDADE DOS SOLOS À EROSÃO HÍDRICA
FONTE: GEOBRASIL (2002, p. 49)
NOTA
Pode-se dizer que, 65% das terras brasileiras podem ser consideradas como de moderada a baixa susceptibilidade à erosão, que se expressam, entretanto, de forma diversa, nas diferentes regiões.
Na região Norte, se observam baixos níveis de susceptibilidade nas várzeas do rio Amazonas e seus afluentes, bem como nos baixos platôs, onde se desenvolvem solos argilosos ou muito argilosos, muito profundos, porosos, geralmente em relevo plano. As terras com o maior potencial de erosão (36% da região) ocorrem em relevos mais ondulados e compreendem os Argissolos, Luvissolos e Cambissolos (solos estes estudados no Tópico 4 da Unidade 1). (GEOBRASIL, 2002).
No Nordeste do Brasil, 33% das terras apresentam susceptibilidade muito baixa e baixa, 34% média e 33% têm classes de susceptibilidade alta e muito alta. Solos como os neossolos são os com maior potencial à erosão devido à presença de conteúdos significativos de areia. Embora as chuvas no semiárido nordestino sejam de baixa duração e frequência, sua elevada intensidade em alguns locais favorece o escoamento superficial, desagregação e transporte dos solos. (GEOBRASIL, 2002).
164
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
O Centro-Oeste apresenta cerca de 70% de seus solos com susceptibilidade variando de muito baixa a média, decorrente, em termos gerais, da dominância de relevos aplainados do planalto central brasileiro, associados a solos profundos e bem drenados, como os Latossolos. O restante das terras (30%) corresponde, em geral, aos solos com elevados conteúdos de areia, como os neossolos e alguns latossolos, os quais apresentam fraca estruturação e são facilmente carregados pelas águas da chuva, mesmo em relevo relativamente plano. (GEOBRASIL, 2002).
Na região Sudeste ocorre a predominância de solos com baixa suscetibilidade aos processos erosivos (46%), destacando-se os latossolos bem estruturados, que condicionam a baixa suscetibilidade à erosão. Entretanto, 40% da região apresentam terras muito susceptíveis à erosão, decorrência de relevos mais acidentados e/ou a solos com elevados conteúdos de areia ou significativa diferença textural em profundidade, como, por exemplo, as que ocorrem no oeste do estado de São Paulo e nos relevos acidentados ao longo da Serra do Mar. (GEOBRASIL, 2002).
Para a região Sul, observa-se a predominância de solos com alta e muito alta susceptibilidade à erosão, condicionados pela presença significativa de solos rasos, como os cambissolos e neossolos, ou mesmo mais profundos, como os argissolos, todos localizados em relevos acidentados das serras e planaltos sulinos. Os solos com susceptibilidade muito baixa e baixa perfazem 29% da região, geralmente associados aos planaltos e planícies sedimentares de relevos aplainados. (GEOBRASIL, 2002).
IMPORTANTE
De forma geral, as classes muito baixas e baixas englobam tanto os solos de baixadas, mal drenados ou não, bem como aqueles de planalto, muito porosos, profundos e bem drenados, todos localizados em relevo plano. Em condições mais favoráveis ao desenvolvimento de processos erosivos, destacam-se solos arenosos ou com elevada mudança de textura em profundidade, até aqueles rasos, localizados, em geral, em relevos mais acidentados, configurando classes de susceptibilidade à erosão média, alta ou muito alta.
4 PRINCIPAIS AGENTES DA EROSÃO
Entre os principais agentes causadores de erosão do solo, quando esse se encontra sem cobertura florestal são a água e os ventos. Além desses agentes, a mudança de temperatura e alguns agentes biológicos podem atuar no processo erosivo.
TÓPICO 2 | DEGRADAÇÃO E EROSÃO DOS SOLOS
165
FIGURA 53 – A) DESLOCAMENTO DE PARTÍCULA EM SUSPENSÃO DE POEIRA. B) IMPACTO DO GRAU CAUSANDO DESLOCAMENTO DE PARTÍCULA DE AREIA POR SALTAÇÃO. C) DESLOCAMENTO DA PARTÍCULA POR SALTAÇÃO E ARRASTO
FONTE: Sígolo (2000, p. 252)
A ação dos ventos ocorre por meio da abrasão de partículas de rochas e solo em suspensão (Figura 53), já a água é o mais importante agente de erosão atuando por meio das chuvas, riachos e rios pelo impacto ou carreamento do solo. As ondas também atuam erodindo as margens de da costa litorânea, de lagos e rios. (GUERRA; SILVA; BOTELHO, 1999).
As mudanças de temperatura são consideradas como um agente de erosão geológica, sendo perceptível somente quando se considera longo período de tempo, como por exemplo, as fraturas geradas nas rochas. Estas fraturas tendem a ser superficiais nas variações de temperatura entre o dia e noite, enquanto são mais profundas quando originadas das alternâncias entre o verão e inverno. (GUERRA; SILVA; BOTELHO, 1999).
A ação biológica sobre o solo ocorre por meio de alguns organismos tais como liquens e musgos sobre as rochas (Figura 54). Contudo, os efeitos principais das alterações promovidas por organismos estão relacionados à aceleração da atuação de outros agentes como a água e os ventos.
166
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
Agora que você conheceu os agentes causadores de erosão, vamos conhecer que tipos de erosão e degradação esses agentes podem desenvolver.
5 TIPOS EROSÃO/DEGRADAÇÃO E SEUS IMPACTOS
Com a retirada da vegetação natural, o solo fica exposto a uma série de fatores que tendem ao seu empobrecimento. A velocidade de empobrecimento está, diretamente, ligada às características do solo, com o tipo de clima e com os aspectos da topografia. De tal forma, o desgaste acelerado está relacionado a vários processos, tais como:
• Erosão hídrica: é a remoção e transporte das camadas ou horizontes superiores do solo pela água. Começa com a queda das gotas de chuva diretamente sobre superfícies desprotegidas e continua com a formação de enxurradas que formam sulcos de diversas proporções (Figura 55).
FIGURA 54 – LIQUENS, MUSGOS E RAÍZES DE PLANTAS ATUANDO NO PROCESSO DE EROSÃO DAS ROCHAS
FONTE: Acervo da autora
TÓPICO 2 | DEGRADAÇÃO E EROSÃO DOS SOLOS
167
FIGURA 55 – EROSÃO EM MARGENS DE RIOS AUSENTES DE FLORESTAS CILIARES
FONTE: Acervo da autora
A erosão hídrica acelerada é uma das principais causas de empobrecimento dos solos e pode ser definida como a remoção seletiva das partículas do solo das partes mais altas, com deposição nas terras mais baixas ou no fundo dos rios, lagos e oceanos. (GEOBRASIL, 2002).
Calcula-se que cerca de um bilhão de toneladas de materiais dos solos agrícolas é arrastado anualmente pelas enxurradas, o que representa um grande prejuízo econômico e ecológico. Em São Paulo, dos 194 milhões de toneladas de terras férteis erodidas anualmente, 48,5 milhões de toneladas causaram assoreamento e poluição em mananciais, correspondendo a 10 kg de solo para cada 1 kg de soja. (BERTONI; LOMBARDI NETO; 1990).
Estabelecendo-se, com base em De Maria, 1999 apud GEOBRASIL (1999), que as perdas de água sejam de 2.519 m3 ha-1.ano-1 para as áreas cultivadas com lavouras, e que nas com pastagens a perda média relativa seja um décimo desse valor, estima-se para a área atualmente ocupada perdas anuais de água de 126,2 bilhões de m3 em áreas de lavouras e 44,8 bilhões de m3 em áreas de pastagens, num total de 171 bilhões de m3 de água. Esse volume não se infiltra no solo e nem recompõe aquíferos freáticos, causando enchentes e diminuição da disponibilidade hídrica, sendo um dos fatores ocultos na recente crise energética brasileira.
168
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
UNI
Você sabia que a redução da camada superior do solo em função do cultivo de milho pode chegar a 30 cm de espessura em um ano, representando 75% do solo produtivo? (BERTONI; LOMBARDI NETO, 1990). Isso significa o empobrecimento do solo, podendo levar ao processo de desertificação com o passar do tempo, além de contribuir com o assoreamento dos rios, aumentando os efeitos das enchentes e a poluição das águas pelos agrotóxicos aplicados sobre o solo.
• Degradação física: é a mudança das características físicas do solo (porosidade, permeabilidade e densidade). O uso frequente de maquinário agrícola forma uma camada compacta, com cerca de 10 a 30 cm no horizonte superior reduzindo a produtividade. (GUERRA; SILVA; BOTELHO, 1999).
• Erosão eólica: É a remoção e deposição de fragmentos finos (silte e areia) do solo pelo vento. De acordo com a velocidade dos ventos, os fragmentos finos são removidos, permanecendo, muitas vezes, uma camada de pedregulhos e seixos na superfície erodida.
• Desertificação: A Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (United Nations, 2001 apud GEOBRASIL, 2002) conceituou a desertificação como o processo de degradação das terras das regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante de diferentes fatores, entre eles as variações climáticas e as atividades humanas. Refere-se à degradação do solo, da fauna, da flora e dos recursos hídricos. As regiões de clima árido e semiárido do Nordeste brasileiro constituem os ambientes mais susceptíveis a esses processos.
• Arenização: processo de retrabalhamento de depósitos arenosos pouco ou não consolidados, que acarreta dificuldades para a fixação da cobertura vegetal, devido à intensa mobilidade dos sedimentos pela ação das águas e dos ventos. É a degradação, relacionada ao clima úmido, em que a diminuição do potencial biológico não resulta em condições de tipo deserto. O Rio Grande do Sul, com precipitação média de 1.400 mm, apresenta áreas em fase de arenização localizadas a sudoeste do estado que ocupam áreas de 3,67 km2. (GEOBRASIL, 2002).
• Empobrecimento químico: é a perda de elementos minerais (nutrientes) do solo através do esgotamento causado pelas colheitas e pela falta de cobertura florestal do solo, onde as águas das chuvas carregam os nutrientes quando há escoamento superficial, bem como pela retirada de elementos nutritivos com as colheitas (GUERRA; SILVA; BOTELHO, 1999).
TÓPICO 2 | DEGRADAÇÃO E EROSÃO DOS SOLOS
169
• Salinização: é o processo de acúmulo, em excesso, de sais na solução do solo prejudicado, ou mesmo impedindo o desenvolvimento da vegetação. De modo geral, a salinização está relacionada à ocorrência de solos situados em regiões de baixas precipitações pluviais, altos déficits hídricos e com deficiências naturais de drenagem. A prática da agricultura irrigada é uma das principais causadoras de salinização dos solos em áreas de drenagem deficiente à nula, especialmente nas regiões de clima semiárido. (GEOBRASIL, 2002).
• Degradação biológica: é o processo de redução das atividades dos seres vivos do solo, reduzindo assim a quantidade de matéria orgânica, a biomassa e diversidade da fauna do solo. A degradação biológica pode ser considerada a forma mais branda de degradação, uma vez que afeta a vida no solo e porque a matéria orgânica decomposta por esse conjunto de seres vivos afeta as propriedades químicas e físicas do solo. Essa degradação pode ser causada, por exemplo, pelo uso indiscriminado de substâncias químicas, como os agrotóxicos (estudados no Tópico 3 da Unidade 2).
• Queimadas: As queimadas ocorrem em todo o território nacional, em cultivo itinerante principalmente em sistemas de produção altamente intensificados, como a cana de açúcar e o algodão, gerando impactos ambientais em escala local e regional. Elas são utilizadas em limpeza de áreas, preparação de colheita, renovação de pastagens, queima de resíduos, para eliminar pragas e doenças, como técnica de caça etc. O fogo afeta diretamente as características físico-químicas (perda por volatilização de nitrogênio e enxofre) e biológicas dos solos, deteriora a qualidade do ar, reduz a biodiversidade e prejudica a saúde humana. Ao sair de controle, atinge o patrimônio público e privado (florestas, cercas, linhas de transmissão e de telefonia, construções etc.). As queimadas também alteram a química da atmosfera e influem negativamente nas mudanças globais. (GEOBRASIL, 2002).
6 EROSÃO HÍDRICA
Neste item, estudaremos os tipos de erosão hídrica, as fases no processo de erosão e os fatores que influenciam na erosão hídrica do solo.
6.1 TIPOS DE EROSÃO HÍDRICA
Existem três tipos principais de erosão hídrica reconhecidos: superficial, sulcos e voçorocas. Veja as características de cada uma a seguir.
• Erosão laminar ou superficial: é a uniforme remoção de uma delgada camada superior de todo o terreno. As gotas de chuva, ao caírem sobre o solo, quebram os agregados, separando em partículas menores, sujeitas a serem arrastadas
170
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
FIGURA 56 – IMPACTO DA GOTA DE CHUVA NA SUPERFÍCIE DO SOLO CAUSANDO EROSÃO LAMINAR
FONTE: Disponível em: <http://sidklein.vilabol.uol.com.br/pos/metexpimg2_1.gif>. Acesso em: 20 fev. 2011.
• Erosão em sulcos: é resultado de irregularidades na superfície do solo, devido à concentração de enxurrada em determinados locais. A água das encostas escorre em pequenos sulcos, convergindo para outras encostas, tornando os sulcos ainda mais acentuados (Figura 57). Algum tempo depois, com a concentração da água nesses sulcos, os mesmos se transformam em grandes cavidades ramificadas. (GUERRA; SILVA; BOTELHO, 1999).
pela força das enxurradas (Figura 56). Este tipo de desgaste é constante, mesmo que o terreno possua pouco declive. Se não são tomadas medidas de contensão a esse tipo de erosão, em pouco tempo, aparecem os sulcos com maior evidência. (GUERRA; SILVA; BOTELHO, 1999).
TÓPICO 2 | DEGRADAÇÃO E EROSÃO DOS SOLOS
171
FIGURA 57 – ESQUEMA MOSTRANDO UMA ENCOSTA EM PROCESSO INICIAL DE EROSÃO EM SULCOS
FONTE: Disponível em: <http://www.ub.es/geocrit/b3w-287-5.jpg>. Acesso em: 20 fev. 2011.
• Erosão em voçoroca: apresenta-se como valas profundas nas encostas, atingindo até mesmo o horizonte C dos solos. Pode atingir profundidades de vários metros (Figura 58). Esse tipo de erosão indica a perda total do solo, destruindo campos cultivados e, muitas vezes, até áreas urbanas. (GUERRA; SILVA; BOTELHO, 1999).
FIGURA 58 – MODELO DE EVOLUÇÃO DE VOÇOROCA. I) VOÇOROCA CONECTADA À REDE HIDROGRÁFICA. II) VOÇOROCA DESCONECTADA À REDE HIDROGRÁFICA. III) INTEGRAÇÃO ENTRE OS DOIS TIPOS ANTERIORES
FONTE: Guerra; Silva; Botelho (1999, p. 82)
172
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
NOTA
A intensidade com que cada uma destas erosões ocorre pode variar com as características e/ou propriedades do solo, além do clima, declividade e manejo do solo.
DICAS
Para saber mais a respeito dos tipos de erosão e seus agentes, sugerimos a leitura do livro escrito por Guerra, Silva e Botelho em 1999: Erosão e conservação dos solos: conceitos, temas e aplicações.
6.2 FASES NO PROCESSO DE EROSÃO
Segundo Bertoni e Lombardi Neto (1990), o processo de erosão hídrica acontece em três fases distintas:
• Desagregação: umedecimento dos agregados durante as chuvas ameniza as forças de coesão entre as partículas do solo, tornando os agregados mais susceptíveis à fragmentação com o impacto continuado das gotas de chuva. Contribuem também nesta fase as enxurradas formadas pelo escorrimento superficial.
• Transporte: as partículas de solo desagregadas pelas gotas poderão ser transportadas pelo salpique, ou seja, junto com as gotículas de chuvas subdivididas e que se deslocam com o impacto das primeiras gotas. As enxurradas formadas pelo escoamento superficial são outro meio de transporte.
• Deposição: após diminuir ou cessar a velocidade e turbulência da enxurrada e encerradas as chuvas, as partículas de solo são então depositadas nas porções mais rebaixadas do relevo. Este processo pode ocasionar o assoreamento de cursos d’água ou reservatórios.
TÓPICO 2 | DEGRADAÇÃO E EROSÃO DOS SOLOS
173
NOTA
A degradação é ocasionada tanto pelo impacto direto ao solo pelas gotas de chuva, como pelas águas que escorrem pelas suas superfícies.
As gotas da chuva atingem a superfície com uma velocidade entre 5 a 15 km/hora, enquanto a água das enxurradas tem velocidade bem menor, não superior a 1 km/hora. Portanto, o primeiro passo para a erosão é o impacto das gotas de chuva, o que provoca forte degradação das partículas de solo desprovido de vegetação. Quando a superfície do solo está protegida com mata, a copa das árvores absorve a maior parte da energia cinética das gotas das chuvas e o manto de folhas sobre o solo amortece o resto do impacto.
IMPORTANTE
A erosão hídrica é a principal forma de degradação dos solos no Brasil, e ocorre em três fases: desagregação, transporte e deposição; e suas principais formas de expressão são a laminar, sulcos e em voçorocas.
6.3 FATORES QUE INFLUENCIAM NA EROSÃO HÍDRICA DO SOLO
A erosão causada pela água depende de uma série de fatores, sendo que quatro são os principais: clima, tipo de solo, declividade do terreno e manejo do solo.
• Clima: a distribuição, a quantidade e a intensidade das chuvas são os fatores que exercem forte influência quando o solo está desprotegido. Se o solo está sendo cultivado, fica mais desprotegido, principalmente por ocasião da semeadura, quando o solo é recém-removido.
• Natureza do solo: a erosão depende das características físicas como textura, permeabilidade e profundidade. Solos arenosos são erodidos com mais facilidade, já os solos argilosos, devido à sua estrutura mais compacta, sofrem menos com a erosão. Solos rasos são mais erodíveis que os profundos, devido ao acúmulo de água acima da rocha, ou camada impermeável, tornando-se mais rapidamente encharcado, permitindo o escoamento das partículas.
174
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
• Declividade do terreno: terrenos planos ou com pouco declive, a água escoa com menor velocidade, sendo assim, tem maior tempo para infiltrar-se, ao passo que, nos terrenos mais inclinados, a velocidade é maior e a infiltração menor, provocando maiores erosões.
• Manejo do solo: solos cobertos por vegetação estão em condições ideais para absorção da água e resistem bem à erosão. Se todos os cultivos convencionais fossem substituídos por florestas ou plantio direto, o problema da erosão seria minimizado.
IMPORTANTE
A degradação e o transporte de partículas estão diretamente ligados à forma de cultivo do solo, podendo, assim, minimizar ou maximizar o escoamento superficial da água. Solos com cultivo de plantas anuais (milho, cebola, feijão, soja) estão mais expostos à erosão que os cultivados com plantas perenes (laranja, cafeeiro, pereira).
TÓPICO 2 | DEGRADAÇÃO E EROSÃO DOS SOLOS
175
LEITURA COMPLEMENTAR
PRINCIPAIS DANOS CAUSADOS PELA EROSÃO DO SOLO
Simplificadamente podemos definir erosão do solo como sendo a desagregação, o arrastamento (transporte) e a deposição de componentes do solo, pelas águas ou pelo vento. De uma maneira didática, podemos identificar os seguintes danos principais causados pela erosão do solo:
1 Arrastamento das partículas de argila dos solos. Não é fácil ao leigo compreender bem o significado deste aspecto, mas seria importante reconhecer que a base química do solo reside nas argilas. Como são partículas de dimensões microscópicas (medem menos que 0,002 milímetros de diâmetro), elas são muito leves e também facilmente arrastadas pelas águas e ventos. O desaparecimento das argilas resulta num gradativo empobrecimento químico dos solos, comprometendo sua produtividade.
2 Arrastamento de nutrientes. Juntamente com as argilas, são arrastados os nutrientes nelas adsorvidos. Esses nutrientes tanto são os existentes naturalmente, como aqueles adicionados artificialmente, através das fertilizações, realizadas obrigatoriamente na agricultura intensiva, com custos financeiros elevados. Perder nutrientes do solo, portanto, também representa perder dinheiro.
3 Arrastamento de matéria orgânica. A matéria orgânica do solo, em diferentes estádios de decomposição entre os resíduos recentes e o húmus, é facilmente arrastada pelas enxurradas. No entanto, sua importância para os solos tropicais é altamente significativa, pois ela pode responder por até 100% da capacidade de intercâmbio catiônico dos mesmos. Isto significa dizer, em outras palavras, que solo sem matéria orgânica é solo com baixo nível de nutrientes, solo com baixa capacidade de intercâmbio catiônico, vital na fisiologia vegetal, incapaz até mesmo de reter por um prazo mínimo, aqueles elementos adicionados artificialmente (correções e adubações). Pode-se compreender, aqui, o grave prejuízo causado pelas queimadas sistemáticas, que destroem a matéria orgânica do solo.
4 Diminuição da capacidade produtiva das terras. Consequentemente aos três itens anteriores (arrastamento de argilas, arrastamento de nutrientes e arrastamento de matéria orgânica), ocorre aumento e persistência da acidez do solo e, ao final, a perda da produtividade da terra.
5 Arrastamento de partículas de maiores dimensões. As areias constituem importante parte do solo, também arrastadas pelas enxurradas e até mesmo pelos ventos fortes. Quando arrastadas pelas águas, elas podem sedimentar nos cursos d'água e em outros corpos hídricos, assoreando-os. Corpos maiores também podem e são arrastados, como pedras de grandes proporções, casas e outros bens. Os noticiários da televisão mostram, não raro, verdadeiras tragédias causadas pelas enxurradas que causam as erosões e danos de toda ordem.
176
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
6 Agravamento das inundações. Os cursos d'água e outros corpos hídricos, à medida que vão sendo assoreados, recebendo as partículas arrancadas e transportadas, vão diminuindo também a capacidade de receber água (não cabe mais água, pois o espaço está ocupado por areia). Desta forma, qualquer enxurrada acaba provocando inundação.
7 Agravamento das secas. As argilas, sejam elas orgânicas ou inorgânicas, têm capacidade de reter água por adsorção. Graças a essa capacidade, as plantas e outros organismos conseguem sobreviver no solo, que funciona como se fosse um verdadeiro reservatório de água. Desaparecendo as argilas, por arrastamento ou queima (no caso de argilas orgânicas), também desaparece essa capacidade armazenadora, resultando em solo seco, ou seja, agravamento dos períodos secos do ano (popularmente chamado de verão).
8 Danos a plantações e benfeitorias. O arrastamento do solo pela erosão pode arrastar também sementes recém-plantadas. Plantios podem ser soterrados. Plantas perenes podem ser arrancadas. Casas, cercas, currais, estábulos e outras benfeitorias também podem ser danificados, causando prejuízos diversos, alguns de difícil reparação posterior.
9 Danos a obras e instalações hidráulicas. Obras hidráulicas como barragens de terra e outras, podem ser danificadas (ou até mesmo destruídas) pelas enxurradas ou por soterramento a elas consequente. O mesmo pode acontecer com as instalações hidráulicas, inclusive aquelas utilizadas na irrigação de culturas.
10 Empobrecimento gradativo do meio rural. As pessoas que vivem das atividades rurais, quando sujeitas a processos contínuos de erosão do solo, gradativamente empobrecem como consequência da perda gradativa da produtividade da terra. Por outro lado, é triste constatar que muitos agricultores e criadores são incapazes de reconhecer a existência do processo erosivo em suas áreas. De fato, a modalidade de "erosão laminar" não é de fácil reconhecimento. Mas isto está infinitamente longe de indicar sua ausência.
Em função do resumo exposto, pode-se concordar com alguns ecólogos, que consideram que o maior risco à sobrevivência da espécie humana no planeta Terra é a degradação ambiental, destacando-se dentre elas, a erosão do solo. Muitos autores consideram que ameaças tais como armas nucleares e químicas, pode ser objeto de controle mais perfeito ainda que o atualmente adotado o que minimizaria ou colocaria uma possível destruição planetária num grau de risco extremamente remoto, se não de todo afastado. Com a degradação ambiental, aí inserida com destaque a erosão do solo, não é tão simples, pois envolvem conscientizar milhões de pessoas, muitas das quais sem capacidade intelectual de perceber os riscos envolvidos ou o significado dos mesmos, não podendo deixar de ser considerada a multiplicidade de etnias, culturas, interesses, aspirações etc.
TÓPICO 2 | DEGRADAÇÃO E EROSÃO DOS SOLOS
177
O controle da erosão do solo merece uma reflexão. Ela tem sido constatada apenas de modo difuso e indireto, como por exemplo, através do assoreamento de rios, lagos e açudes privados. As medidas técnicas de controle da erosão do solo, paradoxalmente, são relativamente simples e pouco dispendiosas. A matéria revela-se como de conhecimento obrigatório por parte de muitos profissionais, que precisam continuamente ser alertados pelos agrônomos e outros especialistas.
FONTE: SENA, Julio Nascimento. Fragmento de Dissertação (2006, p. 14-16) Disponível em: <http://www.ppgec.feis.unesp.br/teses/2008/julio2008.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2011.
178
Neste tópico, você estudou que:
• A erosão do solo é o processo de desgaste da superfície e/ou arrastamento das partículas do solo por agentes, tais como a água das chuvas (hídrica), ventos (eólica), gelo (mudanças de temperatura), ou outro agente geológico, incluindo processos como o arraste gravitacional.
• A degradação pode ser conceituada como a alteração das propriedades do solo que acarrete efeitos negativos sobre uma ou várias funções do solo, a saúde humana ou o meio ambiente.
• A susceptibilidade natural dos solos à erosão é uma função da interação entre as condições de clima, modelado do terreno e tipo de solo.
• Existem cinco classes de susceptibilidade à erosão das terras do país, sendo elas: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta.
• Na região Norte, observam-se baixos níveis de susceptibilidade; no Nordeste do Brasil, 33% das terras apresentam susceptibilidade muito baixa e baixa, 34% média e 33% têm classes de susceptibilidade alta e muito alta; o Centro-Oeste apresenta cerca de 70% de seus solos com susceptibilidade variando de muito baixa a média; na região Sudeste ocorre a predominância de solos com baixa susceptibilidade aos processos erosivos (46%); para a região Sul, observa-se a predominância de solos com alta e muito alta susceptibilidade à erosão.
• Entre os principais agentes causadores de erosão do solo estão: a água, o vento, as mudanças de temperatura e os agentes biológicos.
• Podemos elencar os tipos de erosão e degradação em: erosão hídrica, erosão eólica, empobrecimento químico e lixiviação, excesso de sais ou salinização, degradação física, degradação biológica, desertificação, arenização e queimadas.
• A erosão hídrica pode ocorrer de três formas diferentes, sendo elas: erosão laminar ou superficial, sulcos e voçorocas.
• A intensidade com que cada uma destas formas ocorre pode variar de acordo com as características e/ou propriedades do solo, clima, declividade e manejo do solo.
• O processo de erosão hídrica acontece em três fases distintas: desagregação, transporte e deposição.
RESUMO DO TÓPICO 2
179
AUTOATIVIDADE
Caro acadêmico! Para fixar melhor o conteúdo estudado, vamos exercitar um pouco. Leia as questões a seguir e responda a elas em seu caderno. Bom trabalho!
1 Complete as lacunas da frase a seguir:
Entre os principais agentes causadores de erosão do solo, quando esse se encontra sem _________________ são a _______________ e os ventos. Além desses agentes, a ________________________ e alguns agentes ________________ podem atuar no processo erosivo.
2 Com relação aos tipos de erosão hídrica, assinale a alternativa CORRETA:
a) ( ) Laminar, eólica e voçorocas.b) ( ) Laminar, sulcos e voçorocas.c) ( ) Arenização, desertificação e queimadas.d) ( ) Arenização, laminar e eólica.e) ( ) Sulcos, voçorocas e desertificação.
3 Descreva as três fases do processo de erosão hídrica e relacione-as com o impacto da gota de chuva.
4 Cite e descreva três exemplos de erosão/degradação e os impactos que podem causar.
181
TÓPICO 3
MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
UNIDADE 3
1 INTRODUÇÃO
O uso adequado da terra é o primeiro passo em direção à conservação do recurso natural solo, e à agricultura correta e sustentável. Para isso, deve-se empregar cada parcela de terra de acordo com a sua aptidão, capacidade de sustentação e produtividade econômica, de tal forma que os recursos naturais sejam colocados à disposição do homem para seu melhor uso e benefício, ao mesmo tempo em que são preservadas para gerações futuras.
A prática conservacionista visa proporcionar um manejo correto do solo, evitando, assim, sua degradação e conciliando ecologia, agricultura e equilíbrio ambiental.
Existem várias formas que podem ser aplicadas no processo de conservação do solo, dentre as formas, você vai estudar nesse tópico algumas delas, como os métodos edáficos, mecânicos e vegetativos ou florestais, além de técnicas de recuperação ambiental do solo. Todos esses métodos, para serem aplicados exigem conhecimento sobre as características do solo, estudadas nas unidades anteriores.
2 CONSERVAÇÃO E MANEJO
A conservação dos solos está diretamente ligada a um conjunto de práticas que são aplicadas para promover o uso de forma mais sustentável do solo para o plantio na agricultura e o desenvolvimento da pecuária. Essas práticas visam garantir as condições físicas, químicas e biológicas dos solos na busca de manter a fertilidade e assim proporcionar o desenvolvimento das plantas cultivadas.
Assim sendo, o principal objetivo da conservação dos solos está ligada à produtividade, que busca a sua condição original quando o solo apresenta produtividade baixa. Para isso, o sistema de manejo do solo é fundamental, pois é capaz de controlar a ação dos agentes causadores de degradação que levam à erosão do solo.
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
182
O manejo nada mais é que todo e qualquer procedimento que visa assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas conforme mencionado no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei no 9.985/2000).
Assim, podemos dizer que manejar o solo é gerenciar esse recurso natural em uma área, podendo ser a bacia hidrográfica, conforme você estudou no Tópico 1 dessa unidade, a fim de conservar para que seu aproveitamento possa ser feito de forma integrada e contínua.
UNI
Vamos conhecer os métodos de conservação e manejo dos solos para que possamos, como tecnólogos em Gestão Ambiental, orientar o uso adequado e sustentável desse recurso natural.
3 MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO E MANEJO
Dentre os métodos de conservação e manejo do solo estão o método edáfico, o mecânico e o vegetativo. Veja a seguir o que caracteriza cada um desses métodos.
3.1 MÉTODOS EDÁFICOS
Os métodos edáficos de conservação dizem respeito ao solo em si, procurando manter e melhorar sua fertilidade, principalmente, manter a adequada quantidade de nutrientes para as plantas. Estas medidas são regidas por três princípios: a adubação, a rotação de culturas e a eliminação ou controle das queimadas. (LEPSCH, 2002).
A adubação visa repor nutrientes ao solo para que as lavouras se desenvolvam melhor. Para que se tenha um melhor controle sobre a adubação, são feitas coletas de solo e enviadas para laboratórios especializados, onde é diagnosticado o tipo e a quantidade de determinado nutriente que deverá ser reposto ao solo, “corrigindo-o”. (LEPSCH, 2002).
TÓPICO 3 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
183
NOTA
A adubação orgânica é indicada para áreas com cultivo intensivo, como é o caso da horticultura. Você pode adicionar esterco de curral ou compostos formados pela decomposição de restos orgânicos misturados junto ao solo.
A rotação de cultura consiste em alternar em um mesmo terreno diferentes culturas, não repetindo por muito tempo uma determinada cultura em um mesmo local (Figura 59). Essa prática baseia-se no fato de as culturas terem sistemas radiculares e exigências nutricionais diferentes. (LEPSCH, 2002).
Um dos meios de corrigir o solo é utilizar o calcário, que serve para elevar o pH a valores apropriados, corrigir a acidez e eliminar elementos tóxicos (alumínio), bem como para fornecer os macronutrientes, como cálcio e magnésio. Já os fertilizantes oferecem elementos nutritivos, como são os casos do nitrogênio, os fósforos e os potássios, utilizados em maior quantidade pelas plantas.
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
184
A consolidação do método de rotação de culturas está ligada ao chamado sistema de plantio direto. Esse sistema é orientado à geração de benefícios fitossanitários, à manifestação da fertilidade integral do solo (aspectos físicos, químicos e biológicos) à promoção da cobertura permanente de solo e, sobretudo, ao incremento da rentabilidade.
IMPORTANTE
O método de rotação de cultura ajuda a recuperar e manter melhor o solo em características físicas, químicas e biológicas. Também contribui para o controle de plantas daninhas, doenças e pragas, e ainda protege o solo da ação dos agentes climáticos, viabilizando a semeadura direta e a produção agropecuária.
FIGURA 59 – EXEMPLO DE UMA ÁREA QUE REALIZA ROTAÇÃO DE CULTURA. A) SOJA NO VERÃO COM COLHEITA DE 3.703 KG/HA E AVEIA E NABO NO OUTONO PARA PRODUÇÃO DE BIOMASSA E ADUBAÇÃO VERDE. B) MILHO NO VERÃO COM PRODUÇÃO APROXIMADA DE 9 TONELADAS DE GRÃOS/HA E NABO FORRAGEIRO OUTONO
FONTE: REVISTA PLANALTO DIRETO. Passo Fundo: Aldeia Norte Ed., n. 111, 2009.
TÓPICO 3 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
185
Com relação às queimadas, muitos ainda a consideram como sendo a forma mais rápida e econômica de limpar o terreno, de facilitar a colheita (caso da cana-de-açúcar) ou de renovar pastagens. É um sistema em que os nutrientes da biomassa das plantas ficam rapidamente disponíveis sob forma de cinzas, para que as lavouras de ciclo curto possam produzir uma boa colheita. No entanto, a queimada deixa o solo descoberto para a ação dos processos erosivos, queima elementos úteis às plantas e, ainda, causa poluição atmosférica e elimina toda a biota do solo (bactérias, minhocas, formigas, fungos etc.). (LEPSCH, 2002).
3.2 MÉTODOS MECÂNICOS
Os métodos mecânicos de conservação exigem a utilização de máquinas. Geralmente são introduzidas alterações de relevo, com intuito de corrigir declives acentuados, por meio da construção de patamares em linhas de nível, forçando a água das enxurradas a se infiltrar em vez de escorrer. São práticas geralmente simples, que envolvem maior custo, mas que produzem excelentes resultados. (LEPSCH, 2002).
Dentre as principais práticas mecânicas de conservação do solo estão o plantio em curvas de nível, os terraços de tipo camalhão, bem como estruturas para desvio e infiltração das águas.
O plantio em curvas de nível (Figura 60) consiste em determinar curvas conforme a topografia do terreno, fazendo-se o preparo do solo e a semeadura sempre em sentido perpendicular ao declive. Sendo assim, as fileiras de plantas agem como sulcos que quebram a velocidade da enxurrada, forçando a água se infiltrar no solo.
FIGURA 60 – PLANTIO SEGUINDO AS CURVAS DE NÍVEL DO TERRENO
FONTE: Disponível em: <http://www.geocities.ws/aeapi_agronegocio/curvas.jpg>. Acesso em: 20 fev. 2011.
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
186
O terraço (Figura 61) é a construção de um canal em forma de dique de terra com o auxílio de máquinas agrícolas. São construídos em intervalos regulares, no sentido transversal às inclinações de terreno, fazendo com que a água seja obrigada a se infiltrar no solo e o excedente escoará de maneira lenta, para fora da área de cultivo.
A prática do terraceamento é muito eficiente, desde que bem planejada e aplicada, e que receba também uma adequada manutenção. Por outro lado, um mau planejamento de um terraceamento poderá causar muito mais estragos que benefícios, pois no caso do rompimento ou transbordamento de um desses diques, a reação será em cadeia e todos os outros serão rompidos, causando enormes prejuízos ao solo, como a produção de profundos sulcos no terreno. (LEPSCH, 2002).
FIGURA 61 – ÁREA COM PLANTIO USANDO O MÉTODO DE TERRACEAMENTO
FONTE: Disponível em: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Sapa,_terraced_rice_paddy.jpg>. Acesso em: 20 fev. 2011.
Estruturas semelhantes a estas já eram utilizadas por povos da antiguidade como os astecas e os maias, que construíam patamares e terraços nas encostas para o plantio de culturas como o milho e batatas. Portanto, fica evidente que tais povos já se preocupavam com a conservação do solo, garantindo, assim, a produção de alimentos para as gerações futuras. (LEPSCH, 2002).
Por fim, cabe destacar que não somente a área de cultivo deverá estar à mercê de tais práticas, mas o entorno da mesma também deverá ser considerada. Nesse sentido, propõe-se um planejamento mais amplo, como, por exemplo, não desviar águas oriundas do escoamento de estradas e pastagens para dentro do terreno que está sendo cultivado.
TÓPICO 3 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
187
3.3 MÉTODOS VEGETATIVOS
As práticas vegetativas consistem em recobrir o solo com o plantio visando ao controle da erosão. Para tal, pode-se realizar o cultivo em faixas, reflorestamento, manejo adequado de pastagens, formação de quebra de vento com faixas de árvores, cobertura do solo com palhas ou serapilheira e controle de capinas. (LEPSCH, 2002).
A prática de recobrir o solo com palhas ou serapilheira (galhos, folhas) é muito eficiente no controle da erosão e está baseada em princípios de cobrir o solo com resíduos de plantas, imitando, assim, a própria natureza (Figura 62).
FIGURA 62 – COBERTURA DO SOLO COM PALHA OU RESTOS DE PLANTAS DA COLHEITA ANTERIOR PARA PROTEÇÃO CONTRA EROSÃO
FONTE: Disponível em: <http://www.semeato.com.br/semeato/_uploads/userfiles/image/CULTURA-SOJA-(2).jpg>. Acesso em: 20 fev. 2011.
IMPORTANTE
A cobertura ou revestimento do solo protege tanto o impacto das gotas de chuva, como o escoamento da água, diminuindo sua velocidade e aumentando a infiltração e, ainda, proporciona o sombreamento e o fornecimento de matéria orgânica ao solo.
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
188
A cobertura do solo também proporciona a vida da fauna que vive no solo, como minhocas, besouros e bactérias, além de fungos e liquens que necessitam de condições ideais de temperatura, umidade e luminosidade para que possam se desenvolver.
Os solos, que antes eram aptos para as lavouras e que agora não são mais adequados a isso, prestam-se para a formação de pastagens. Contudo, na prática da pecuária, deve-se observar a quantidade de gado colocada em uma determinada área de pastagem, pois quanto maior o número de indivíduos por área, maior será o pisoteio sobre o solo, levando à erosão do solo (LEPSCH, 2002). Buscando evitar essa erosão da pastagem, recomenda-se o rodízio de pastagens (Figura 63), com os pastos subdivididos, formando os chamados piquetes. Assim, o gado passa de uma subdivisão para outra, segundo um planejamento predeterminado. Sem o pisoteio contínuo, a pastagem terá tempo para se refazer, mantendo o solo sempre coberto e vigoroso.
FIGURA 63 – ÁREA COM APLICAÇÃO DO MÉTODO VEGETATIVO TIPO RODÍZIO DE PASTAGEM
FONTE: Disponível em: <http://www.unesc.br/portal/galeriafotos/veterinaria/piquetes %20equinocultura.jpg>. Acesso em: 20 fev. 2011.
TÓPICO 3 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
189
O cultivo em faixas diferentes também é um método vegetativo que auxilia na conservação do solo. Para tal, são estabelecidas faixas de 20 a 40 metros de largura, de tal modo que, a cada ano, cultivos pouco densos se alternem com outros mais densos, que ofereçam maior proteção ao solo. Essa prática combina o plantio em contorno com rotação de cultura. O controle da erosão advém tanto da diferença de cobertura dos cultivos adotados como do parcelamento das encostas e da disposição em contorno, interceptando as águas das enxurradas. (LEPSCH, 2002).
4 TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO
A recuperação é o processo que visa à obtenção de uma nova utilização para a área degradada, que pode ser diferente da original. Conforme Rodrigues e Gandolfi (2000), o termo recuperação se refere a uma designação genérica de qualquer ação que possibilite a reversão de uma área degradada para a condição não degradada.
Além dos métodos de conservação do solo para que a agricultura possa coexistir, existem várias estratégias para se realizar a recuperação de uma área que já foi usada, seja para cultivo de plantas alimentares ou pastagem, seja pela mera exploração florestal e abandono da área deixando os rastros de degradação que levam à erosão do solo pelas enxurradas, impactos das gotas de chuvas, ventos e outros. Dentre as técnicas de recuperação de uma área degradada pela ação antrópica, podemos citar: implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs), a implantação de espécies florestais nativas, regeneração natural e implantação de poleiros artificiais, implantação de leiras de contenção.
4.1 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAFS)
Esta estratégia consiste em plantar espécies nativas consorciadas com espécies exóticas que não tenham histórico de invasão, quando manejadas ao longo do tempo em uma mesma área (Figura 64). Os SAFs referem-se a uma ampla variedade de formas de uso da terra, onde árvores e arbustos são cultivados de forma interativa com cultivos agrícolas e/ou pastagens, visando a múltiplos propósitos, constituindo-se numa opção viável de manejo sustentado da terra.
As espécies cultivadas nos SAFs podem pertencer a um dos seguintes grupos (MAY; TROVATTO, 2008):
Espécies prioritárias: usadas para o autoconsumo e para a geração e apropriação da renda (beneficiamento e comercialização).
Espécies de serviço: são espécies funcionais na prestação de serviços ambientais, como as plantas repelentes que ajudam a controlar determinadas pragas, entre elas: o gengibre (Zingiberoficinale) e a citronela (Cymbopogonwinterianus).
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
190
FIGURA 64 – REPRESENTAÇÃO DE UM SISTEMA AGROFLORESTAL (SAF)
Mogno
Pupunha
Andiroba
FONTE: Disponível em: <http://sitiocurupira.files.wordpress.com/2008/11/agrofloresta2.jpg>. Acesso em: 20 fev. 2011.
4.2 PLANTIO DE ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS
Essa estratégia pode ser usada em áreas em que a floresta original foi substituída por alguma atividade de agricultura ou de pecuária. As espécies são introduzidas nessa sequência: pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias e/ou climáxicas. As espécies podem ser plantadas na área em mudas ou por meio de semeadura de propágulos. (GHODDOSI; TORRES; FRANK, 2009).
Um aspecto fundamental dessa estratégia é a escolha adequada das espécies, o que representa uma das garantias do sucesso da recuperação (Figura 65). A seleção deve considerar a adaptabilidade das espécies para cada condição física do solo, ou seja, espécies para solos saturados (úmidos) e para não saturados (secos).
TÓPICO 3 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
191
FIGURA 65 – PLANTIO COM ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS PARA A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
Durante pelo menos dois anos após o plantio, deve-se manter a área limpa, evitando a concorrência de espécies invasoras.
Passados três a quatro anos após o início domanejo, haverá aumento dos incrementos em altura e diâmetro das plantas, surgindo um sub-bos que pelo processo de dispersão natural da própria floresta.
FONTE: Disponível em: <http://www.agr.feis.unesp.br/noroeste/figura17.JPG>. Acesso em: 15 fev. 2011.
4.3 REGENERAÇÃO NATURAL
Essa estratégia é usada em áreas com menor nível de perturbação e caracteriza-se pela facilidade do processo de recuperação, pois é preciso somente isolar a área dos fatores de perturbação. O isolamento é essencial nos casos em que as áreas a serem recuperadas localizam-se próximas às áreas de criação animal, pois o pisoteio desses causa danos significativos às mudas e ao processo sucessional. (GHODDOSI; TORRES; FRANK, 2009).
Um fator importante que contribui para o sucesso de recuperação por meio da regeneração natural é a presença de pássaros no entorno da área, que liberam as sementes dos frutos de que se alimentaram em remanescentes das proximidades (Figura 66).
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
192
FIGURA 66 – REPRESENTAÇÃO DE UMA ÁREA EM REGENERAÇÃO NATURAL PRÓXIMA A CURSOS D’ÁGUA
FONTE: Rodrigues e Gandolfi (2000, p. 8)
4.4 IMPLANTAÇÃO DE POLEIROS ARTIFICIAIS
Consiste na instalação de galhos secos na fase inicial do processo de recuperação. Os poleiros artificiais servem de atrativo aos dispersores dentro da área que se pretende recuperar (Figura 67). Assim, os galhos secos de árvores servem de pouso para as aves. Elas os utilizam para repouso ou forrageamento de presas (muitas aves são onívoras e, enquanto caçam, depositam sementes). (GHODDOSI; TORRES; FRANK, 2009).
O poleiro artificial pode ser confeccionado com diversos materiais, como, por exemplo, restos de madeira ou bambu. Eles devem apresentar ramificações terminais onde as aves possam pousar, serem relativamente altos para proporcionar bom local de caça e esparsos na paisagem. (GHODDOSI; TORRES; FRANK, 2009).
TÓPICO 3 | MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
193
FIGURA 67 – POLEIRO ARTIFICIAL NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
FONTE: Disponível em: <http://www.biotemas.ufsc.br/volumes/pdf/volume233/125a135.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2011.
4.5 IMPLANTAÇÃO DE LEIRAS DE CONTENÇÃO
A estratégia de adicionar sobre o solo as leiras de contenção consiste da formação de pilhas de galhos e matéria orgânica que formem aglomerados de meio a um metro de altura e de aproximadamente dois metros de comprimento, distribuídos ao longo da área em que há caminhos preferenciais de água (Figura 68). Essa técnica auxilia na redução da erosão e criam-se ambientes para a instalação de espécies. (GHODDOSI; TORRES; FRANK, 2009).
UNIDADE 3 | DEGRADAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS
194
FIGURA 68 – ÁREA EM RECUPERAÇÃO USANDO LEIRAS DE CONTENÇÃO
FONTE: Disponível em: <http://img156.imageshack.us/i/28042010258.jpg/>. Acesso em: 20 fev. 2011.
195
Neste tópico, você estudou:
• A conservação dos solos é um conjunto de práticas que são aplicadas para promover o uso de forma mais sustentável do solo.
• O manejo é um procedimento que visa assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas, ou seja, gerenciar esse recurso natural a fim de conservar para que seu aproveitamento possa ser feito de forma continuada.
• Os métodos de conservação e manejo dos solos podem ser classificados em: edáficos, mecânicos e vegetativos.
• O método mecânico de conservação e manejo dos solos procura manter e melhorar sua fertilidade. Estas medidas são regidas por três princípios: eliminação ou controle das queimadas, adubação e rotação de culturas.
• A rotação de cultura consiste em alternar em um mesmo terreno diferentes culturas, não repetindo por muito tempo uma determinada cultura em um mesmo local.
• Os métodos mecânicos de conservação do solo que exigem a utilização de máquinas. Podemos citar o plantio em curvas de nível, os terraços, bem como estruturas para desvio e infiltração das águas.
• As práticas vegetativas visam ao controle da erosão por meio da cobertura vegetal do solo. Dentre as principais práticas vegetativas, podemos citar: cultivo em faixas, reflorestamento, manejo adequado de pastagens, formação de quebra de vento com faixas de árvores, cobertura do solo com palhas ou serapilheira e controle de capinas.
• Outra forma de conservar o solo é por meio de técnicas de recuperação, que é o processo que visa à obtenção de uma nova utilização para a área degradada, que pode ser diferente da original.
• Dentre as técnicas de recuperação de uma área degradada pela ação antrópica, podemos citar: implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs), a implantação de espécies florestais nativas, regeneração natural, implantação de poleiros artificiais e implantação de leiras de contenção.
• A implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs) é a estratégia que consiste em plantar espécies nativas consorciadas com espécies exóticas que não tenham histórico de invasão.
RESUMO DO TÓPICO 3
196
• O plantio de espécies florestais nativas é a introdução de espécies por meio de plantio ou semeadora, sendo usada em áreas em que a floresta original foi substituída por alguma atividade de agricultura ou de pecuária.
• A regeneração natural é a estratégia usada em áreas com menor nível de perturbação e caracteriza-se pela facilidade do processo de recuperação, pois é preciso somente isolar a área dos fatores de perturbação.
• A implantação de poleiros artificiais consiste na instalação de galhos secos na fase inicial do processo de recuperação que servem de pouso para as aves.
• A implantação de leiras de contenção consiste da formação de pilhas de galhos e matéria orgânica que formem aglomerados que auxiliam na quebra da velocidade da água, evitando a erosão.
197
AUTOATIVIDADE
Caro acadêmico! Para fixar melhor o conteúdo estudado, vamos exercitar um pouco. Leia as questões a seguir e responda a elas em seu caderno. Bom trabalho!
1 Analise uma área agropecuária próxima ao seu polo de estudo ou sua residência e faça um parecer técnico orientando o proprietário da terra na conservação e uso do solo. Para isso, escolha o melhor método edáfico, mecânico e vegetativo, além de sugerir uma ou mais técnicas estudadas para a recuperação ambiental da propriedade.
199
REFERÊNCIAS
AB’SABER, A. N. O suporte geoecológico das Florestas Beiradeiras (Ciliares). In: RODRIGUES, R. R.; LEITÃO-FILHO, H. de F. Matas ciliares: conservação e recuperação. São Paulo: EDUSP, 2000.
BARRELA, W. et al. As relações entre as matas ciliares, os rios e os peixes. In: RODRIGUES, R. R.; LEITÃO-FILHO, H. de F. Matas ciliares: conservação e recuperação. São Paulo: EDUSP, 2000.
BARRIGOSSI, J. A. F.; LANNA, A. C.; FERREIRA, E. Agrotóxicos no cultivo do arroz no Brasil: análise do consumo e medidas para reduzir o impacto ambiental negativo. Santo Antônio de Goiás: Circular Técnica (EMBRAPA), 2004.
BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. São Paulo: Ícone, 1990.
BIGARELLA, J. J.; BECKER, R. D.; SANTOS, G. F. dos. Estrutura e origem das paisagens tropicais e subtropicais. Florianópolis: UFSC, 1994. v. 1.
BORGES, M. J. et al. Reflorestamento compensatório com vistas à retenção de água no solo na bacia hidrográfica do Córrego Palmital, Jaboticabal, SP. Scientia Forestalis, Piracicaba, São Paulo, n. 69, p. 93-103, dez. 2005.
BOSCARDIN, N. R.; BORGHETTI, J. R.; ROSA-FILHO, E. F. da. O Aquífero Guarani. (2004). Disponível em: <http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-agua/imagens/aquifero-guarani-25.jpg>. Acesso em: 26 out. 2010.
BRANDY, N. C.; WEILL, R. Y. The nature and properties of soils. 13. ed. New Jersey: Prentice Hall, 2002.
BRANDY, N. C. Natureza e propriedades dos solos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1983.
BRASIL. Lei nº 4.771/65, de 15 de setembro de 1965. Institui o Código Florestal. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771.htm>. Acesso em: 20 out. 2010.
200
______. Lei nº 7.802, de 4 de janeiro de 1989. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7802.htm>. Acesso em: 20 out. 2010.
______. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm>. Acesso em: 20 nov. 2010.
______. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 18 out. 2010.
______. Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm>. Acesso em: 18 out. 2010.
CASTRO, A. D. J. et al. Caderno do educador ambiental. Blumenau Fundação Agência de Água do Vale do Itajaí; FURB, 2009. Disponível em: <www.comiteitajai.org.br>. Acesso em: 25 nov. 2010.
CHAER, G. M. Modelo para determinação de índice de qualidade do solo baseado em indicadores físicos, químicos e microbiológicos. 2001. Tese (Pós-Graduação em Microbiologia, para obtenção do título de Magister Scientiae) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2001.
DORAN, J.W.; PARKIN, T. B. Defining and assessing soil quality. In: DORAN, J.W. et al. (Eds.). Defining soil quality for a sustainable environment. Madison: ASA/SSSA, 1994.
DORES, E. F. G. C.; DE-LAMONICA-FREIRE, E. M. Contaminação do ambiente aquático por pesticidas: vias de contaminação e dinâmica dos pesticidas no ambiente aquático. Curitiba: Pesticidas: R. Ecotoxicologia e Meio Ambiente, 1999.
EMBRAPA. Sistema brasileiro de classificação de solos. Rio de Janeiro: EMBRAPA. 2006.
201
______. Sistema brasileiro de classificação de solos. Rio de Janeiro: EMBRAPA. 1999.
EPA. Environmental Protection Agency. Pesticide safety for farmworkers. DC: United States Environmental Agency, Office of Pesticide Programs, 1985.
FILIZOLA, H. F.; FERRACINI, V. L.; SANS, L. M. A. Monitoramento e avaliação do risco de contaminação por pesticidas em água superficial e subterrânea na região de Guaíra. Pesq. agropec. bras., Brasília, v. 37, n. 5, p. 659-667, maio 2002.
GALETI, P. A. Conservação do Solo - Reflorestamento - Clima. São Paulo: Instituto Campineiro de Ensino, 1973.
GEOBRASIL. O estado do meio ambiente no Brasil. 2002. Disponível em: <http://ibama2.ibama.gov.br/cnia2/download/publicacoes/geobr/Livro/cap2/solos.pdf>. Acesso em: 29 out. 2010.
GHODDOSI, S. M.; TORRES, F. S; FRANK, B. Caderno de recuperação de matas ciliares: orientações para os grupos de trabalho municipais. Blumenau: Fundação Agência de Água do Vale do Itajaí; FURB, 2009. Disponível em: <www.comiteitajai.org.br>. Acesso em: 25 nov. 2010.
GOMES, M. A. F.; FILIZOLA, H. F. Indicadores físicos e químicos de qualidade de solo de interesse agrícola. Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2006.
GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. da (Org.). Geomorfologia e meio Ambiente. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.
GUERRA, A. J. T.; SILVA, A. S. da; BOTELHO, R. G. M. Erosão e conservação dos solos: conceitos, temas e aplicações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
HERNANI, L. C. et al. A erosão e seu impacto. In: MANZATTO, C. V.; FREITAS JÚNIOR, E.; PERES, J. R. R. (Orgs.). Uso agrícola dos solos brasileiros. Rio de Janeiro: Embrapa, 2002. p. 47-60.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual técnico de uso da terra. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2006.
IMROTH, Maurici; SCOLARO, Daniele. Maquete da bacia hidrográfica do rio Itajaí. Comitê do Itajaí, Blumenau, ano 6, n. 16, maio 2010.
KARLEN, D. L.; DITZLER, C. A.; ANDREWS, S. S. Soil quality: why and how? Geoderma, Amsterdam, v. 114, n. 3/4, p. 145-156, 2003.
202
KARMANN, I. Ciclo da água: água subterrânea e sua ação geológica. In: TEIXEIRA, W. et al. (Orgs.). Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000.
KIEHL, E. J. Manual de edafologia: relação solo-planta. São Paulo: Agronômica Ceres, 1979.
LAL, R. Método para avaliação do uso sustentável dos recursos solo e água nos trópicos. Tradução e adaptação C.C. Medugno e J.F. Dynia.Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 1999.
LEPSCH, O. F. Formação e conservação dos solos. São Paulo: Oficina de Textos, 2002.
LIMA, W. de P.; ZAKIA, M. J. B. (Orgs.). Hidrologia de Matas Ciliares. In: RODRIGUES, R. R.; LEITÃO-FILHO, H. de F. Matas ciliares: conservação e recuperação. São Paulo: EDUSP, 2000.
MACEDO, J. A. B. Introdução à química ambiental. Juiz de Fora: CRQ-MG, 2002.
MACHADO, Rômulo; SILVA, Marcos Egydio. Estruturas em rochas. In: TEIXEIRA, Wilson; FAIRCHILD, Thomas Rich; TOLEDO, Maria Cristina Motta de; TAIOLI, Fabio (Org.). Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000.
MAY, P. H.; TROVATTO, C. M. M. (Coord.) Manual agroflorestal para a Mata Atlântica. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2008.
MORRIS, M. L. M. Avaliação da qualidade do solo sob sistema orgânico de cultivo. 2007. 95 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) – Universidade de Brasília, Brasília, 2007.
MUCKEL, G. B.; MAUSBACH, M. J. Soil quality information sheets. In: DORAN, J. W.; JONES, A. J. (Eds.). Methods for assessing soil quality. Soil Science Society of America, Madison, n. 49 p. 393-400, 1996.
NAIMAN, R. J.; DÉCAMPS, H. The ecology of interfaces: Riparian Zones. Annu. Rev. Ecol. Syst., n. 28, p. 621-658, 1997.
OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. Manual de vigilância da saúde de populações expostas a agrotóxicos. Brasília: Ministério da Saúde, Organização Pan-americana da Saúde/OMS, 1997. Disponível em: <http://www.opas.org.br/sistema/arquivos/livro2.pdf>. Acesso em: 18 out. 2010.
PEDROSA, C. A; CAETANO, F. A. Águas subterrâneas. Agência Nacional de Águas. Brasília: Superintendência de Informações Hidrológicas – SIH, 2002.
203
PIERZYNSKI, G. M.; SIMS, J. T.; VANCE, G. F. Organic chemicals in the environment.Boca Raton: Lewis Publishers, 1994. p. 185-215.
PINHO, A. P. de et al. Retenção de atrazina, picloram e caulinita em zona ripária localizada em área de silvicultura. Engenharia na Agricultura, Viçosa, v. 12, n. 4, p. 260-270, out./dez. 2004.
PLANETA TERRA. 2007. Disponível em: <http://www.yearofplanetearth.org/content/downloads/portugal/brochura 10_web.pdf>. Acesso em: 16 out. 2010.
PRIMAVESI, A. Manejo ecológico do solo. São Paulo: Nobel, 2002.
REICHERT, J. M.; REINERT, D. J.; BRAIDA, J. A. Qualidade dos solos e sustentabilidade de sistemas agrícolas. Ciência e Ambiente, Santa Maria, n. 27, p. 29-48, jul. dez. 2003. RIBAS, P. P.; MATSUMURA, A. T. S. A química dos agrotóxicos: impacto sobre o meio ambiente. Revista Liberato, Novo Hamburgo, v. 10, n. 14, p. 149-158, jul./dez. 2009.
RICKLEFS, R. E. Economia da natureza. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003.
RODRIGUES, R. R.; GANDOLFI, S. Conceitos, tendências e ações para a recuperação de florestas ciliares. In: RODRIGUES, R. R.; LEITÃO-FILHO, H. de F. (Eds.). Matas ciliares: conservação e recuperação. São Paulo: EDUSP, 2000. p. 235-248.
RUEGG, E. F et al. Impacto dos agrotóxicos: sobre o ambiente, a saúde e a sociedade. 2. ed. São Paulo: Ícone Editora Ltda, 1991.
SÍGOLO, J. B. Processos eólicos e a ação dos ventos. In: TEIXEIRA, W. et al. (Orgs.). Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000.
SOUZA, A. L. V. Avaliação da qualidade de um latossolos amarelo coeso argissólico dos tabuleiros costeiros, sob floresta natural. 2005. 114 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2005.
SPADOTTO, C. A. et al. Previsão da lixiviação do herbicida tebuthiuron no solo e estimativa da concentração em águas subterrâneas em área de recarga do aquífero Guarani. Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas. Cuiabá: ABAS, 2004.
TOLEDO, M. C. M.; OLIVEIRA, S. M. B. de; MELFI, A. J. Intemperismo e formação do solo. In: TEIXEIRA, W. et al. (Orgs.). Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000.
204
VIEIRA, E. M. et al. Estudo da adsorção/dessorção do ácido 2,4 diclorofenoxiacético (2,4-D) em solo na ausência e presença de matéria orgânica. Química Nova, São Carlos, p. 305-308, 1999.
SILVEIRA, A. P. D. da; FREITAS, S. S. Microbiota do solo e a qualidade ambiental. Campinas: Instituto Agronômico, 2007.
205
ANOTAÇÕES
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
206
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________