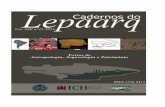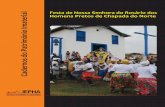O Conjunto Moderno da Pampulha como Patrimônio Cultural da Humanidade
Fazendas de Café O patrimônio arquitetônico rural em São Paulo, Brasil, 1800-1940
Transcript of Fazendas de Café O patrimônio arquitetônico rural em São Paulo, Brasil, 1800-1940
Fazendas de Café O patrimônio arquitetônico rural em São Paulo, Brasil, 1800-1940 Vladimir Benincasa Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo - FAPESP Introdução
O objetivo deste trabalho é traçar um panorama da arquitetura rural paulista ligada ao ciclo do café, entre 1800 e 1940, um período marcado por grandes transformações socioeconômicas da história do Estado de São Paulo, quando se registra a ocupação efetiva do seu território e assiste-se às mudanças dos regimes políticos (Colônia, Império e República); da técnica e do regime de trabalho no mundo rural; e, principalmente, pelo seu enriquecimento, através da produção e comercialização internacional do café. Além disso, com a melhora nas condições de transporte e comunicação com a Europa e Estados Unidos (ferrovias
e navegação a vapor) facilitou-se, durante o século XIX e início do XX, a possibilidade da chegada das novas tendências da arte e da arquitetura aos sertões paulistas – como o neoclássico, o neogótico, o ecletismo, o art nouveau, o art dèco, o neocolonial, o modernismo - o que viria a alterar profundamente a estética das suas construções e mesmo o comportamento da sua população. Para se compreender esse vasto patrimônio, foram visitadas cerca de 340 fazendas nas oito regiões que compunham o cenário da cafeicultura paulista até 1940, do qual se apresenta agora um pequeno painel. O Estado de São Paulo e a cafeicultura A economia no meio rural paulista, até o século XVIII, foi pouco dinâmica, embora tenha produzido uma arquitetura extremamente interessante, conhecida como arquitetura bandeirista, da qual são testemunhas as casas e capelas que chegaram até os tempos atuais como as do Sítio do Padre Inácio, do Sítio Santo Antônio, etc. Nada restou, no entanto, das demais edificações que compunham a propriedade rural paulista de então. Somente a partir da segunda metade do século XVIII, surge uma economia agrícola paulista significativa, quando assume o cargo de governador geral de São Paulo, Dom Luís Antônio de Souza Botelho Mourão, o Morgado de Mateus, nobre português que incentivou o desenvolvimento da agricultura em São Paulo, conseguindo bons resultados com a cana-de-açúcar, principalmente no território compreendido entre as cidades de Moji-Guaçu, Jundiaí, Sorocaba e Piracicaba. A arquitetura produzida nesta região e período, segundo Lemos1, foi praticamente a mesma dos séculos anteriores. Porém, o relativo desempenho econômico deste ciclo acabou por atrair levas de migrantes de Minas Gerais, que começam a chegar ainda nas últimas décadas do século XVIII. A influência de sua arquitetura se refletiria nas novas fronteiras agrícolas abertas nas regiões além-Jundiaí (de Campinas para o norte). A arquitetura rural dessas novas fronteiras agrícolas abertas pela cana-de-açúcar (cujo ciclo se estendeu até as primeiras décadas do século XIX, alcançando a região do atual município de Rio Claro), incluiu técnicas mineiras do construir, substituindo a taipa de pilão pela taipa de mão, além de introduzir inovações tanto nos aspectos formais, quanto nos programáticos, como por exemplo a inclusão da área de serviço no corpo principal da edificação, a adoção de alpendres e escadarias externas, entre outras. Em fins do século XVIII, uma nova lavoura surgiria em terras paulistas: o café. Por volta de 1790, as plantações de café chegaram ao vale do rio Paraíba, em São Paulo, primeiro à cidade de Areias e, a seguir, a Bananal, a São José do Barreiro, a São Luís do Paraitinga e a Silveiras, além de Ubatuba, no litoral. Daí a cafeicultura foi abrindo caminho e avançando em direção ao Centro-Oeste paulista, sendo
Regiões do Estado de São Paulo, Brasil
Fonte: Milliet, Sérgio. Roteiro do Café. São Paulo: Hucitec/INC, 1982.
que em 1830 já se encontravam cafezais em Campinas. A expansão continuou em direção a Limeira e Rio Claro, atingindo os quase desabitados Campos de Araraquara, por volta de 1840. Em 1870, o café alcançava Ribeirão Preto, no Nordeste paulista.2 A partir de então o desbravamento rumou em direção a oeste e sudoeste. Planta que exige solos nem secos, nem encharcados, o cafeeiro encontrou nas áreas de meia encosta e nos solos de terra roxa, o seu hábitat ideal. Acreditava-se que o cafeeiro produzia melhor em terras antes cobertas por matas “virgens”,3 assim, enormes
áreas de mata eram destruídas para abrigar as plantações do “ouro verde”, sendo que, aos primeiros sinais de esgotamento do solo, outras áreas de florestas eram destruídas para a abertura de novas fazendas de café. Este aspecto itinerante e predatório da cultura cafeeira deveu-se ao fato de que, inicialmente, o café foi muito mal plantado. A imprevidência e o pouco caso com as reservas naturais, então fartas, eram agravados pelo método utilizado na limpeza da terra: utilizava-se a técnica primitiva e não adequada da “coivara”, ou seja, derrubada e queima da mata, uma herança indígena. Não havia controle e, dessa maneira, muitas vezes o fogo destruía uma área muito maior do que a pretendida.4 Para agravar a situação, não se fazia a reposição de nutrientes e nem se empregava a técnica do plantio em curvas de nível, optando-se pelo plantio feito em fileiras de morro acima, o que facilitava o controle dos escravos pelos feitores, porém aumentavam as erosões e a lixiviação do solo - o café era plantado, geralmente, em regiões de morros, e com esse tipo de plantio facilitava-se a retirada de húmus do solo pelas enxurradas das chuvas. Assim, o pé de café tinha uma curta duração (vinte anos de produção aproximadamente); findo este período, devia-se partir em busca de terras novas deixando para trás as terras esgotadas.5 Daí a itinerância desta cultura, que ampliou as fronteiras agrícolas do território paulista, percorrendo quase todo seu território. Somente em 1896, com a criação do Instituto Agronômico de Campinas, é que técnicas modernas de plantio e de cuidados com o cafezal começaram a ser mais bem observadas.6 Elas viriam a possibilitar a fixação das plantações de café, retirando-lhe o caráter de cultura nômade e prejudicial ao solo. A partir de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, aliada à ascensão de outros produtores mundiais de café - Colômbia, Equador, Quênia e Etiópia - os lucros provenientes da cultura cafeeira tornaram-se pouco atrativos aos produtores brasileiros, notadamente com relação ao custo da mão-de-obra. São Paulo foi perdendo, depois da década de 1940, a sua posição de maior produtor brasileiro, não só pela queda dos preços no mercado internacional, mas também pelo envelhecimento natural de seus cafeeiros, substituídos por cana-de-açúcar, algodão e laranja, cujos preços eram mais vantajosos aos produtores. De São Paulo, as frentes pioneiras do café mudaram-se para o sul de Mato Grosso, sul de Minas Gerais e norte do Paraná.7 Dos toscos estabelecimentos “caipiras” de subsistência do século XVIII até o surgimento dos especializadíssimos conjuntos de edifícios da fazenda cafeeira da segunda metade do século XIX, houve uma grande transformação no modo de vida paulista, que se refletiu na arquitetura e em suas técnicas e tipologias, que passaram da arquitetura colonial brasileira, com influências indígenas e portuguesas, às inovações tecnológicas do período que antecede ao Modernismo. Isto se explica por dois fatores: a necessidade de mão-de-obra numerosa para os cuidados com a lavoura cafeeira, que provocou a vinda de um vasto contingente de imigrantes durante o final do século XIX e início do século XX, dentre eles inúmeros trabalhadores da construção civil (mestres-de-obras, escultores, pintores, marceneiros, serralheiros, carpinteiros, mestres-canteiros, etc.), que acabariam por introduzir novas técnicas e padrões arquitetônicos, tanto nas cidades, quanto nas fazendas; e em segundo lugar, pelo enriquecimento da sociedade paulista, principalmente da aristocracia rural, o que proporcionou a criação de uma extensa malha ferroviária e a conseqüente importação de materiais de construção civil, além do
Ocupação do Estado de São Paulo, Brasil.
Fonte: GUNN, Philip. Espaço, Estado, Território: uma Contribuição à Análise Crítica da Organização Social em São Paulo e no Brasil. São Paulo: FAU-USP (tese de doutoramento), 1985.
emprego de novas e mais sofisticadas técnicas construtivas, nos mais longínquos lugares do território paulista. Em resumo, durante o ciclo cafeeiro, o meio rural paulista foi ocupado por povos de diferentes tradições e culturas, que vieram em momentos diferentes e se estabeleceram em diferentes locais, garantindo a produção de uma arquitetura diversificada, rica em nuanças e cores próprias. A fazenda de café em São Paulo
A fazenda cafeeira em São Paulo possui especificidades que não existem em propriedades semelhantes de outros países, pois sua configuração, bem como as técnicas de cultivo do café, baseou-se em soluções adotadas em outros tipos de agenciamentos rurais brasileiros como os engenhos de cana-de-açúcar e as fazendas policultoras ou de gado mineiras. A escolha do sítio para o assentamento das fazendas pioneiras de café levou em conta determinados aspectos que dizem respeito principalmente ao beneficiamento dos grãos. Sendo uma das primeiras regiões a fazer o cultivo do café no sistema capitalista
moderno, ou seja, a grande produção com vista a atender ao mercado internacional, uma das características de implantação dos edifícios foi a procura por terrenos em que houvesse insolação abundante para a mais rápida secagem dos grãos colhidos, além de ofertar condições para a construção de tulhas de armazenamento aeradas e ventiladas, que não estragassem o produto até seu embarque em direção aos portos exportadores. Predominaram os sítios localizados à meia encosta, que facilitavam o bom aproveitamento da água, por gravidade, para o abastecimento das edificações, para o processo de beneficiamento do café, além de fornecer a energia hidráulica necessária à movimentação de rodas d’água de moinhos e engenhos de toda a espécie. Essas condicionantes foram uma constante em todo o ciclo cafeeiro paulista, dos primórdios até o seu declínio. Um conhecimento que atravessou o século XIX e perdura até os dias atuais. O elemento norteador nessas fazendas paulistas foi o terreiro de secagem do café. Em geral, há dois tipos de arranjos das edificações ao redor desses grandes pátios. O primeiro, mais comum, formado por um terreiro ao redor do qual se acha o casarão em posição de destaque, situado na porção superior do terreno, como foco central do conjunto, e as demais edificações se distribuindo nas laterais da quadra. No segundo tipo, quase sempre ocasionado por situações de relevo muito movimentado, o casarão se encontra um pouco afastado do terreiro, fora do eixo do conjunto. Em ambos os casos, porém, matem-se o terreiro como elemento organizador. A implantação dessas fazendas em meia encosta iria também fazer com que o local escolhido, conforme sua declividade, tivesse de sofrer ajustes para receber o terreiro e as demais edificações; assim, era executada uma série de cortes e aterros, formando terraços, quase sempre por muros de arrimos de pedra bastante robustos e de variados tamanhos, com escadas ou rampas entre si. Nas fazendas do final do século XIX e início do século XX, a pedra seria substituída pela alvenaria de tijolos, aliás essa substituição se daria principalmente após o final do período escravocrata, que vai coincidir também com a chegada intensiva de imigrantes italianos, principalmente os do norte da Itália, grandes difusores do uso do tijolo de barro cozido. Na construção desses terraplenos pode-se constatar o grande embate que houve entre a natureza e a inteligência humana, principalmente ao levar em conta que esses complexos eram construídos em meio às matas, quase sempre longe de cidades e sem máquinas adequadas. Não só os terraplenos são dignos de nota, mas todo o sistema de drenagem das águas pluviais e o sistema de canais para o abastecimento das várias edificações, frutos de complexos projetos executados por profissionais extremamente competentes. Infelizmente são poucas as referências sobre esses profissionais. Formada por um conjunto de oficinas, de habitações para trabalhadores livres e escravos8, habitação do fazendeiro, além de edificações ligadas ao beneficiamento e armazenamento do café, a fazenda de café paulista do século XIX mais se assemelhava a uma pequena vila. Por estar localizada quase sempre longe de núcleos urbanos e pela precariedade das estradas, quase sempre concentrou um grande número de profissionais para execução de atividades diárias: açucareiros, aguardenteiros, alfaiates, armadores, carpinteiros, carreiros, farquejadores, ferreiros, formigueiros, marceneiros, moleiros, pedreiros,
Vista geral da Faz. Cachoeira, na cidade de Vinhedo-SP
Fonte: Centro de Memória, Unicamp, Campinas-SP
sapateiros, serradores, tanoeiros, telheiros, tropeiros, seleiros... São profissões ligadas à construção de edificações e sua manutenção; ao fabrico de alimentos; ao trabalho com o couro; ao transporte de cargas; ao ensacamento do café e outros produtos da fazenda. Além, obviamente, daqueles trabalhadores diretamente destinados à lavoura e aos que trabalhavam no beneficiamento do café (secagem, limpeza, classificação e armazenamento dos grãos). O beneficiamento é uma etapa muito importante e dela depende boa parte da qualidade do produto. O café necessita de uma lavagem prévia, com água, para separar os grãos de impurezas como pedras, gravetos e
folhas. Depois disso deve ser secado ao sol, ter sua casca retirada para então ser ensacado e armazenado até sua comercialização. São operações básicas que desde o início do seu cultivo no Brasil foram obedecidas. Para se realizar esse beneficiamento várias instalações tiveram que ser construídas nas fazendas destinadas ao seu cultivo. Em primeiro lugar podem ser citados os canais para o deslocamento da água em direção aos tanques de lavagem do café. Desses tanques, saíam outros canais que levavam as impurezas para fora do terreiro e outros que levavam o café até as grandes plataformas para a secagem
dos grãos. Em geral esses canais eram abertos diretamente no chão, como valas, e quando se aproximavam do terreiro eram regularizados com pedras. Também de pedra eram os tanques de lavagem. Os terreiros - grandes terraplenos ou cortes com superfície levemente inclinada para o escoamento de águas de chuva - eram envolvidos em geral por muros de arrimo feitos de pedras, material abundante em quase todo o território paulista. A superfície, que de início era de terra batida, foi depois recoberta por lajes de pedra, lajotas de barro cozido, tijolos ou mesmo argamassa de cimento e cal, para dar maior qualidade ao produto final e garantir melhores preços em sua comercialização no mercado externo. Seco o café, ele passava pelo processo de separação da polpa, para que só restasse o grão. O método mais antigo para o despolpamento foi o apiloamento manual, mas também há relatos do primitivo café batido com varas ou mesmo através de
monjolos. Uma inovação nesse sistema seria a bateria de pilões movidos à água, ou o aparelho chamado de carretão, composto de duas rodas de pedra ou madeira, movidas por bois, que giravam sobre os grãos secos do café, dispostos em uma base de madeira. Desses aparelhos só se encontrou descrições, ao que parece nenhum deles restou. Depois de despolpados, a casca seca era retirada por meio de abanadores mecânicos ou manuais e os
grãos, já limpos eram separados manualmente por tamanho. A precariedade dos primeiros tempos seria em breve substituída por maquinário específico ao beneficiamento do café. O mercado para esse tipo de máquina se expandiu rapidamente com a abertura de grande número de fazendas pelo território paulista, mineiro e fluminense. Após ser beneficiado e separado por tamanho, o café era armazenado em edifício fechado, seco e aerado para esperar a melhor hora de comercialização, chamado de tulha. Em geral essas edificações eram cobertas com telhas de barro e possuíam alicerces de pedra, piso de madeira e porão. Além disso, internamente, as paredes (de alvenaria de pedra, taipa de mão ou
Tulha e casa de beneficiamento. Faz. Brejão, Casa Branca-SP
Fonte: Vladimir Benincasa
Tulha e casa de beneficiamento de café,
em alvenaria de pedra. Faz. Santa Eudóxia, em São Carlos-SP
Fonte: Paulo Pires
Senzala da Faz. dos Pereiras, Itatiba-SP
Fonte: Vladimir Benincasa
de pilão) possuíam um segundo revestimento de madeira, para evitar a umidade. O porão também tinha a função de afastar o piso da umidade do solo evitando a perda dos grãos, bem como a cobertura de telhas. Quanto às moradias, elas se dividiam em casas para trabalhadores livres, escravos, agregados e para o fazendeiro. As senzalas eram o abrigo dos escravos, e poucas dessas edificações chegaram até os dias atuais. Uma explicação pode estar nas técnicas construtivas empregadas, que a partir de inventários, deduz-se que fossem taipa de mão ou de pilão com cobertura de telha capa e canal ou de palha, técnicas muito frágeis se não houver manutenção constante. Sendo apenas local de abrigo e não de moradia no sentido estrito, além de destinar-se a escravos, que eram considerados tão somente força de trabalho, entende-se a precariedade dessas edificações, sua fragilidade e rusticidade. As descrições falam em lances corridos ou senzalas em quadra, outras aparecem tendo uma varanda. Ora elas aparecem unidas aos casarões, ora separadas, porém sempre próximas desses. A causa dessa proximidade era a necessidade de vigilância constante para se evitar fugas, uma vez que o elemento escravo era muito caro, com preço às vezes superior ao da terra, na época. As senzalas que restaram são de meados do século
XIX e certamente não foram as primeiras edificações com esse fim nessas fazendas. Em geral elas apresentam interferências como aberturas de portas e janelas, além de paredes internas posteriores. Reformas justificáveis uma vez que no período pós-escravidão esses edifícios tiveram usos diversos, muitos deles se tornaram habitações para famílias de imigrantes, outros se transformaram em depósitos, tulhas, etc. Há ainda senzalas que, segundo tradição oral, localizaram-se em porões de casarões. Também há descrições de moradia escrava em casas individuais, privilégio concedido a escravos casados e que constituíam família, porém a existência desse tipo de habitação dependia da boa vontade do fazendeiro e não se pode afirmar que tenham sido comum. Posteriormente, com a vinda de imigrantes para o trabalho nas fazendas, surgiram as colônias, conjuntos de casas isoladas ou geminadas, espalhados pelas fazendas, junto às plantações de café. Por volta de 1840, são instaladas as primeiras colônias na fazenda Ibicaba do Senador Vergueiro, hoje situada no município de Cordeirópolis, onde teve início o processo de trabalho livre com a vinda de imigrantes europeus. A aparência dessas pequenas casas pouco se alterou ao longo do tempo, mas trazem em si aspectos que condiziam com alguns dos preceitos higienistas, como insolação e ventilação em todos os cômodos. Seu aspecto exterior é praticamente o mesmo em todas as regiões do Estado de São Paulo, pouco variando: planta retangular, duas águas de telhado - uma caindo para a fachada e outra para os fundos - e dois oitões laterais. Outro aspecto comum é a ausência de banheiros internos, que, quando existem, são acréscimos posteriores, construídos em geral a partir da década de 1940, por exigências de alguns códigos de postura municipais e estaduais. As origens das características tipológicas e de implantação das casas de colônias, que se difundiram por todo o território paulista, são uma incógnita. Alguns historiadores mencionam sua semelhança com as casas de vilas operárias, bem como sua implantação em renques. Também há a hipótese de terem sido copiadas das humildes casas urbanas de então. A primeira hipótese é a mais provável, uma vez que o ideal das vilas operárias propagava-se pelo mundo capitalista oitocentista e a fazenda cafeeira paulista foi influenciada por essas idéias, principalmente no que diz respeito ao aumento de produtividade e controle do trabalho e do trabalhador. De qualquer forma, tratava-se já de uma tipologia comum aos paulistas, a inovação estava na localização no ambiente rural e serem destinadas a famílias estrangeiras. O que variou muito foi a técnica construtiva empregada. De acordo com a região e a época em que foram construídas, essas colônias podem ter alicerces de pedra, de tijolos ou ainda de madeira. Suas paredes podem ser de taipa de mão, pedra, tijolos ou madeira. Piso interno de terra batida, ou tijolos, às vezes de
Colônia, Faz. Vassoural, Itu-SP
Fonte: Vladimir Benincasa
Colônia, Faz. Fosca, Santa Lúcia-SP
Fonte: Vladimir Benincasa
cimento. Cobertura quase sempre de telhas de barro, mas também houve aquelas cobertas de palhas de coqueiro. O conjunto de edificações se completava com a casa-grande, a sede da fazenda e residência do fazendeiro. Quanto à tipologia, essas casas-grandes possuem três tipos básicos: os sobrados, as casas térreas e as que, estando em terrenos inclinados, conjugam a condição de sobrado em um dos lados e térreas de outro. O programa e as técnicas construtivas também variaram muito ao longo dos anos e nas diversas regiões do Estado de São Paulo.
A arquitetura das primeiras casas de fazendas de café – a junção das tradições paulista e mineira A arquitetura residencial da zona rural de tradição paulista (que corresponde a uma parte do Vale do Paraíba e à região Central) tinha como características gerais: o emprego da taipa de pilão; volumetria simples, em geral edificações com plantas quadradas ou retangulares construídas sobre terraplenos; ausência de porão; poucas aberturas; cobertura em quatro águas. Embora também simples, a arquitetura mineira é mais leve e ornamentada, mais próxima da tradição portuguesa. Empregava a técnica das estruturas autônomas de madeira, com vãos preenchidos por taipa de mão e um grande número de aberturas; eram comuns os alpendres, as escadarias externas e os porões utilizáveis. A volumetria é mais movimentada, com telhado em várias águas, com plantas em “L”. Também foi comum em algumas regiões de Minas Gerais, a alvenaria de pedra, principalmente nos alicerces, nas paredes externas e nos porões. A expansão da cafeicultura em território paulista, a partir do final do século XVIII, ocorre juntamente com o esgotamento do ouro de Minas Gerais. Esse fato fez com que levas de mineiros adentrassem São Paulo em busca de novas terras cultiváveis, ainda não desbravadas, e passassem também a cultivar o café. Esse foi um fluxo migratório constante, que perdurou até as primeiras décadas do século XX, devido principalmente à demanda de trabalho na lavoura cafeeira e também à constante abertura de novas frentes pioneiras para o cultivo do café. Não só pessoas humildes vinham de Minas Gerais, mas também pessoas de posse, dispostas a tornaram-se fazendeiros de café. Em várias regiões de São Paulo, a população de origem mineira foi muito superior à paulista e suas tradições se impuseram, inclusive na arquitetura. Por essa razão, têm-se a presença da casa tipicamente mineira nas mais diversas épocas e regiões do Estado de São Paulo, sempre com as mesmas características, às vezes mais suntuosas, outras mais rústicas. A planta em “L”, por exemplo, só seria mudada naquelas casas em que se percebe uma grande influência do ecletismo europeu, e somente em exemplares do final do século XIX ou início do século XX. A estrutura autônoma de madeira e as paredes de taipa de mão foram utilizadas até meados da segunda metade do século XX. Essas casas mais tradicionais refletem o aprendizado dos séculos anteriores, mostrando-se adaptadas às condições de clima, ao relevo e aos materiais construtivos locais. São casas de aparência rústica, porém funcionais. E, se bem equipadas, podem também ser bastante confortáveis.
Chácara do Rosário, arquitetura de tradição paulista, século XVIII, Itu-SP.
Fonte: Vladimir Benincasa
Faz. São José, cerca de 1900, região Noroeste, Pirajuí-SP.
Fonte: Álbum da Noroeste, 1928.
Faz. Salto Grande, cerca de 1880, região Paulista,
Araraquara-SP. Fonte: Vladimir Benincasa
Por volta de 1840, nas regiões mais antigas do cultivo do café (Vale do Paraíba e Central), já se apresentava uma planta típica residencial que perdurou por muito tempo e apareceu em praticamente por todo o território paulista: uma faixa fronteira com salas e escritório, ao centro uma faixa de dormitórios e alcovas e uma terceira faixa com outros dormitórios e a sala de jantar (também chamada nessa época de varanda); mais ao fundo, em corpo anexo à edificação, a ala de serviços (cozinha, despensas, quarto de doces, dormitórios de empregados). A sala de jantar era o maior dos cômodos e fazia a comunicação entre as três zonas da casa: social, íntima e de serviços, além de quase sempre ter acesso direto aos fundos da edificação, o que significa dizer, aos jardins e ao pomar. Funcionava quase como uma grande praça e foi sem dúvida um dos cômodos mais importantes da casa rural cafezista. Deve-se destacar que mesmo quando a cafeicultura começou a produzir grandes fortunas, às vezes, a precariedade das estradas, a distância de grandes centros, impedia a construção de casas mais suntuosas, pois não havia onde comprar materiais construtivos sofisticados, nem profissionais capacitados para isso. A casa de um grande fazendeiro não diferia muito da de um pequeno quanto às técnicas construtivas, mas sim pelas proporções, principalmente quando a comparação é feita entre casas de uma mesma região. A arquitetura rural residencial paulista vinha num processo espontâneo de caracterização regional, aproveitando algumas soluções estrangeiras, que lhe eram convenientes, como o alpendre e a varanda (sala não totalmente fechada ao exterior da habitação). Essa situação começa a mudar a partir da segunda metade do século XIX, quando as condições de trânsito pelas estradas vão melhorando, principalmente com a abertura das ferrovias, e com a vinda dos imigrantes europeus. Influência da arquitetura européia do século XIX Um pouco antes, porém, em meados da primeira metade do século XIX, nas zonas do Vale do Paraíba e na região Central de São Paulo, os grandes fazendeiros de café já haviam construídos sedes imponentes para a época, incorporando traços de uma arquitetura Neoclássica em voga na capital do país, o Rio de
Janeiro. As casas dessas regiões, influenciadas pela Corte, passam a apresentar certo refinamento, um desenho mais cuidado, incomum até então. Torna-se comum o emprego de elementos da arquitetura greco-romana, da simetria no desenho das fachadas. A técnica construtiva, no entanto, permanecia a mesma de tempos atrás, a taipa de pilão ou de mão. Se as alterações exteriores são poucas, foi internamente que essas casas mais conseguiram reproduzir os casarões da capital do país. Assoalhos bem encerados; pinturas murais decorativas, ora representando paisagens; papéis de parede importados, forros bem elaborados; janelas e portas almofadadas; e toda a sorte de objetos de decoração e mobiliário que eram os mesmos das melhores casas da Corte. Outros itens de conforto foram: água encanada e aquecida e a iluminação a gás. A planta da casa também se alterou com o aparecimento de inúmeras salas e saletas destinadas ao convívio social, que, com o aprimoramento da iluminação, proporcionou que essas novas casas fossem abertas para inúmeras recepções. Aos poucos, a vida social nas
Casa com características classicizantes, de meados do
século XIX. Faz. São Sebastião, Amparo-SP Fonte: Vladimir Benincasa
Casa com características classicizantes, de meados
do século XIX. Faz. Bom Retiro, Bananal-SP Fonte: Vladimir Benincasa
Sala de jantar, Faz. Resgate, Bananal-SP
Fonte: Vladimir Benincasa
fazendas foi adotando os mesmos hábitos das grandes cidades do Império. A grande expansão da cafeicultura pelo interior de São Paulo, aliada aos sucessos da campanha anti-escravista, induziram a um forte processo de imigração de mão-de-obra européia para trabalhar nas lavouras de café. Pessoas vindas principalmente de Itália, de Espanha e de Portugal, dentre elas muitos trabalhadores da construção civil. Esse processo intensifica-se a partir da década de 1880. Até 1929, cerca de 2.250.000 imigrantes entraram no Estado de São Paulo. Esse processo aliado ao surgimento de uma elite cafeeira e à vinda de muitos profissionais como arquitetos e engenheiros formados na Europa, iria modificar a paisagem das
fazendas cafeeiras, com o surgimento de uma arquitetura ligada ao Ecletismo. Outro fator determinante para essa alteração foi a expansão das linhas ferroviárias e pelo desenvolvimento da navegação à vapor, que facilitaram a importação de materiais de construção, industrializados ou não, de países europeus e dos Estados Unidos. A partir de então, surgiram casas assimétricas no desenho de fachada, com maior liberdade formal, inspiradas nos estudos sobre arquitetura da Antigüidade Clássica, da Idade Média, do Renascimento, ou nos chalés europeus; ocorre um aumento de ornamentação externa e interna, principalmente na área social; e um programa habitacional mais extenso, privilegiando o espaço social. Também se exacerba a especialização das atividades de cada cômodo. Ao contrário da casa rural, que até o início do século XIX concentrava várias atividades num mesmo cômodo, a partir de fins do século XIX ocorre uma violenta segmentação do espaço. Há salas e saletas destinadas às mais diversas atividades: sala de visitas, sala de chá, sala de jogos, sala de costura, sala de música, sala de almoço, sala de jantar, fumoir, etc. E, uma das maiores mudanças ocorridas, surgem os corredores, destinados ao trânsito interno pelas várias alas da casa, sem a percepção do visitante, reflexos de um processo de aburguesamento da classe rural.
Casa eclética da Faz. Saltinho, cerca de 1890, Região Sorocabana,
São Manuel-SP. Fonte: Vladimir Benincasa
Casa eclética da Faz. Santa Maria, 1889, São Carlos-SP.
Fonte: Vladimir Benincasa
Sala de jantar, Faz. Palmital, início do séc. XX, Ibaté-SP
Fonte: Acervo Faz. Pinhal, São Carlos-SP
Jardins, Faz. Prudente do Morro, Casa Branca-SP
Fonte: Vladimir Benincasa
Jardins, Faz. Dona Carolina, Itatiba-SP
Fonte: Vladimir Benincasa
Os jardins também passam a fazer parte fundamental do espaço de convívio da família do fazendeiro. Jardins à francesa, com vários canteiros, gaiolas com pássaros, lagos com repuxos d’água, e cercados por muros ou gradis, delimitando o espaço privado do fazendeiro e sua família. Grandes alterações ocorreram no aspecto construtivo das edificações: a arquitetura de terra (taipas de pilão e de mão) foi substituída gradualmente pela alvenaria de tijolos, o que proporcionou o surgimento de edificações mais regulares e com maior liberdade formal; a volumetria das edificações torna-se mais solta e complexa. A importação de calhas e condutores de águas pluviais, além da adoção das “novas” tecnologias de estrutura de telhado (tesouras de madeira) proporcionou o surgimento de coberturas com várias águas. As regras higienistas também deram sua contribuição a essa nova casa rural inundando-a de sol e ventilação, com a abertura de amplas e inúmeras janelas, com suas folhas venezianas. Surge o banheiro como peça fundamental no programa, com água encanada e chuveiro, além de peças de louça inglesa como vaso sanitário, bidê e lavatório, além das paredes revestidas por azulejos e pisos por ladrilhos hidráulicos. A iluminação dos antigos lampiões a querosene ou das lâmpadas a gás de carbureto também foi sendo aposentada, substituída pela iluminação elétrica, energia gerada em pequenas usinas hidrelétricas importadas da Inglaterra, que eram instaladas em quedas d’água, próximas às edificações. A casa rural do final do século XIX e início do século XX incorporava os confortos da vida moderna, passando a expressar, dessa maneira, a solidez financeira e o cosmopolitismo do fazendeiro paulista.
A arquitetura das fazendas nas frentes pioneiras – a primeira metade do século XX
Nas regiões paulistas que foram desbravadas e ocupadas a partir do final do século XIX (Araraquarense, Noroeste e Alta Paulista), o povoamento é feito por pessoas vindas de outras regiões de São Paulo, como a Paulista e Mogiana, além de grandes levas de migrantes de outros estados
brasileiros (como Minas Gerais e do Nordeste), e por imigrantes da Itália, Espanha, Portugal, Síria e Líbano. Nessas novas zonas de expansão da cafeicultura, a chegada da ferrovia logo no início do século XX, transformou-as em grandes produtoras do Estado de São Paulo. As cidades dessas frentes pioneiras se sucediam ano a ano na detenção do título de maior produtora de café do mundo, tal era o volume da produção. Paradoxalmente, a arquitetura das casas nessas fazendas é, em geral, mais simples que a dos setores anteriores. As mais antigas, do final do século XIX, guardam uma arquitetura que tem uma influência direta das casas rurais de Minas Gerais, inclusive com o uso do desnível do terreno criando porões utilizáveis; outras mesclam o Ecletismo com essa arquitetura de influência mineira. Raras são as edificações mais suntuosas nessas regiões, e quando ocorrem são fazendas não de brasileiros, mas de investidores estrangeiros, ingleses e suíços quase sempre. As sedes das primeiras décadas do século XX possuem uma arquitetura singela, em que desaparecem os adornos, pode-se dizer que se trata de uma arquitetura muito prática destinada prioritariamente ao
Fazenda não identificada, casa de madeira, cerca de
1920, na Região Noroeste, Penápolis-SP Fonte: Museu Fernão Dias Paes, Penápolis-SP
Faz. Santa Fausta, casa da década de 1930, na Região
Noroeste, Lins-SP Fonte: Vladimir Benincasa
Faz. Barra Grande, casa da década de 1910, na Região
Araraquarense, Mirassol-SP Fonte: Álbum da Comarca de Rio Preto, 1929.
trabalho e não tanto à moradia: o proprietário de fazenda já não morava mais no campo. Foi comum, nessa região, um mesmo proprietário ter várias fazendas. A facilidade de locomoção, agora através de automóveis, possibilitava o rápido deslocamento entre as fazendas e as cidades, e facilitava a administração de várias propriedades. É expressivo o fato de revistas e almanaques do início do século XX, não mostrarem as casas de fazendas, como era comum, mas escritórios e casas de administração, aparecendo por vezes, como para justificar uma ausência de casarão mais suntuoso nas fazendas, as casas urbanas dos proprietários, invariavelmente de gosto eclético. Em sintonia com a vida urbana, muitas das casas
rurais dessa região, construídas nas décadas de 1920 e 1930, vão incorporar à sua arquitetura elementos dos estilos Missões e Neocolonial, como telhados em várias águas e beirais com cachorros recortados, alpendres com abertura em arco, gradis salientes nas janelas, colunas torcidas ou galbadas, escadarias, jardineiras de cimento sobre as muretas de alpendres. Quanto à técnica construtiva, a taipa de mão foi ainda muito empregada na região, nas casas mais simples; além do tijolo, naquelas um pouco mais sofisticadas. Outro material muito utilizado, principalmente na execução de paióis e tulhas é a madeira, não só como estrutura, mas também como vedação (tábuas de madeira). Nas regiões Noroeste e Alta Paulista, houve também muitos casarões construídos inteiramente de madeira. Infelizmente quase todos esses exemplares de madeira foram demolidos. Em geral, o programa das casas rurais dessas regiões, por se tratarem de casas de curta permanência, é simplificado, já não há salas em profusão. Possuem o estritamente necessário para uma pequena e confortável estada. Já não é o local de recepções, estas transferidas para o ambiente urbano, e sua arquitetura já não ostenta tanto a riqueza de seu proprietário. Conclusões A cafeicultura no Estado de São Paulo, em 150 anos, produziu um importante acervo de edifícios que hoje faz parte e ajuda a explicar a sua história. Infelizmente, grande parte destas edificações vem sendo destruída ou descaracterizada ao longo dos anos, com escassos registros, documentação ou estudos mais aprofundados, bem como a história do cotidiano9 das pessoas que as construíram e usaram.10 As mudanças da economia nos últimos 50 anos, que ocasionaram um intenso êxodo rural, tiveram conseqüências drásticas em várias esferas, uma delas foi o surgimento de uma população desapegada de suas tradições, que desconhece suas origens. É urgente a necessidade do resgate e, principalmente, de uma maior divulgação desta história aos seus habitantes para despertar-lhes a consciência do pertencer, de fazer parte de uma História. Essa pesquisa é uma contribuição para a divulgação desse patrimônio, tratando-o como um fenômeno importante da arquitetura paulista que se espalhou por quase todo o seu território, atravessando diferentes épocas, relevos, climas, políticas, culturas, e fez surgir cidades, estradas, ferrovias, novas técnicas agrícolas, que incrementou a imigração. Enfim, tratando-o como parte de um processo que ajudou a moldar o caráter deste pedaço do Brasil. 1 Lemos, Carlos A. C. Casa Paulista. São Paulo: EDUSP, 1999, p. 75. 2 Idem, ibidem, p. 8. 3 DEAN, Warren. A ferro e fogo. A história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 195. 4 Idem, ibidem, p. 199. 5 DEAN, Warren. Rio Claro: um sistema brasileiro de grande lavoura (1820-1920). São Paulo: Paz e Terra, 1977. p. 40. 6 Anotações de aula da disciplina A cidade e o município no ciclo do café: o seu urbanismo e a sua arquitetura, ministrada na FAU-USP, pelo Prof. Dr. Gustavo Neves da Rocha, no primeiro semestre de 1996. 7 FIGUEIREDO, João Carlos. O Ciclo do Café (1756-1930). Ribeirão Preto: Engenho e Arte Multimídia, 1996. 8 A convivência entre trabalhadores livres e escravos ocorreu até 1888, quando foi promulgada a lei que pôs fim à escravidão. 9 Cotidiano, entendido aqui, como as práticas exercidas para a conquista da sobrevivência em sociedade: as atividades remuneradas, o trabalho; as práticas domésticas; o relacionamento social; a religião; etc. 10 É importante frisar que importantes estudos foram feitos (como é o caso de trabalhos do Prof. Dr. Carlos Alberto Cerqueira Lemos, da Prof. Dra. Daici Ceribelli, da Prof. Dra. Neide Marcondes, do Prof. Dr. André Argollo Ferrão, entre outros), mas em geral, o enfoque é regional, não abrangendo o território todo do Estado de São Paulo, ou então, discorre-se sobre a arquitetura urbana e rural, não se aprofundando no tema especificamente rural.
Fazenda com casa de madeira, início do século XX, na
Região Sorocabana, Agudos-SP Fonte: Acervo Fazenda Mandaguahy, Jaú-SP