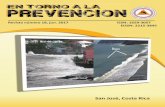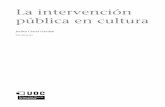Educação Patrimonial na Arqueologia Brasileira: um estudo de caso no entorno do Parque Nacional...
Transcript of Educação Patrimonial na Arqueologia Brasileira: um estudo de caso no entorno do Parque Nacional...
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO GRADUAÇÃO EM ARQUEOLOGIA E PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL
Claudio Marcio Barbosa de Siqueira
A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA ARQUEOLOGIA
BRASILEIRA: um estudo de caso no entorno do Parque
Nacional Serra da Capivara
São Raimundo Nonato-PI Abril/2014 (2013.2)
CLAUDIO MARCIO BARBOSA DE SIQUEIRA
A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA ARQUEOLOGIA
BRASILEIRA: um estudo de caso no entorno do Parque
Nacional Serra da Capivara
Trabalho apresentado a Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, Campus Serra da Capivara, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Arqueologia e Preservação Patrimonial. Orientadora: Profª. Drª. Selma Passos Cardoso Co-orientador: Prof. Dr. José Jaime Freitas Macêdo
São Raimundo Nonato-PI Abril/2014 (2013.2)
Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a
fonte.
São Raimundo Nonato – PI, 02 de abril de 2014.
Claudio Marcio Barbosa de Siqueira
Siqueira, Claudio Marcio Barbosa de.
S615e
A educação patrimonial na arqueologia brasileira: um estudo de caso no entorno do Parque Nacional Serra da Capivara/ Claudio Marcio Barbosa de Siqueira. – São Raimundo Nonato – PI, 2014.
112 f. : il. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arqueologia e
Preservação Patrimonial) – Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus Serra da Capivara, São Raimundo Nonato - PI, 2014.
Orientadora: Profª. Drª. Selma Passos Cardoso. 1. Educação patrimonial. 2. Arqueologia - Brasil. 3. Patrimônio
Arqueológico. 4. Preservação Patrimonial. 5. Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM). 6. Parque Nacional Serra da Capivara - PI. 7. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). I. Título. II. Universidade Federal do Vale do São Francisco.
CDD 930.108122
Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema Integrado de Biblioteca SIBI/UNIVASF Bibliotecária: Ana Paula Lopes da Silva CRB-3/1269
À meu filho Miguel Damasceno Barbosa, à minha esposa Iêda
Damasceno Santos, à minha mãe Andrea Barbosa Pombo, à
minha irmã Julyana Andrea Barbosa de Siqueira, à minha avó
materna Sandra Barbosa Ferreira, pelo tempo que lhes roubei.
AGRADECIMENTOS
Antes de tudo e todos, devoto meus agradecimentos a Deus, o grande
arquiteto do universo e da vida. Pela oportunidade de estar vivo, por me
proporcionar a honra de ter formado uma família linda, pela oportunidade de estar
sempre em constante aprendizado e aperfeiçoamento.
Agradeço a meu familiares e parentes pelo apoio e incentivo durante minha
jornada acadêmica, principalmente pela paciência, compreensão e pelo
financiamento dos meses de estudos. Especialmente minha esposa (Iêda
Damasceno Santos), meu filho (Miguel Damasceno Barbosa), minha mãe (Andrea
Barbosa), a minha irmã (Julyana Barbosa), minha avó (Sandra Barbosa), meu avô
(Jacintho), minha tia avó (Maria do Carmo Barbosa), minha tia (Ana Paula Pombo).
Deixo registrado um agradecimento especial a minha sogra (Francisca
Damasceno), por cuidar tão carinhosamente e atenciosamente de mim, e
principalmente do meu filho, na minha ausência, tornando possível a conclusão do
minha graduação e deste trabalho. Agradeço também a meu cunhado e compadre
(Isaías Damasceno), a minha concunhada (Joice), a minha cunhada (Paloma), a
minha cunhada (Iandra Damasceno), por me acolherem tão bem como novo
membro da família, e por terem se tornado base emocional para suportar as
saudades de minha terra natal, de minha mãe, e irmã, e demais familiares que no
Rio de Janeiro deixei.
Agradeço a minha orientadora, Selma Passos, pela amizade, pela
orientação, pelo apoio, pelas palavras carinhosas de incentivo, por incontáveis
copos/xícaras/canecas de café, pelo empréstimo dos ouvidos para desabafos, pelos
momentos de bate-papo descontraídos que tornaram mais leve o caminha durante
esses 4 anos. Sentirei saudades.
Agradeço a meu co-orientador, Jaime Macedo, pela atenção a mim
dispensada, pelas caronas, por momentos descontraídos, pelo incentivo e
principalmente por suas contribuições à minha formação profissional.
Ao professor Celito Kestering, pela oportunidade de atuar como
pesquisador/bolsista no projeto ‘Escavando História: São Raimundo Nonato além
dos 100 anos’ no Grupo PET-Arqueologia/UNIVASF, e por suas contribuições para
minha formação.
À todos os professores, professoras, ex-professores e ex-professoras do
colegiado de Arqueologia e Preservação Patrimonial que contribuíram para minha
formação profissional, e pela troca de conhecimentos.
Aos funcionários e servidores da UNIVASF e FUMDHAM, que sempre
solícitos e atenciosos me ajudaram nessa jornada, desde a matrícula até a colação
de grau. Ao Paulinho, ao Sandro, à Artenice, à Vanicleide, ao Venício, às “meninas
da biblioteca” – Eliene, Rochele e Ana, às “tias da limpeza e do café”, aos técnicos
dos laboratórios da FUMDHAM e aos demais funcionários.
Agradeço a minha amiga e comadre, Ianthe Santos, pelo companheirismo,
pela amizade, por me ceder tantas vezes seus ouvidos e seus ombros, pelos
conselhos, pela troca de conhecimentos, pelos cigarros e cervejas compartilhados. E
mais recentemente, pelo seu conhecimento em língua inglesa, fundamental para o
“abstract” deste trabalho.
Agradeço a meu amigo, Flávio Carvalho, pela confecção do mapa para
ilustração deste trabalho. Agradeço também por ter me aturado durante o longo
tempo que moramos juntos, pelos momentos felizes que tivemos juntos em bate-
papos e bebedeiras, e também os momentos sólidos de “papo cabeça”. Por ter de
alguma forma cuidado de mim.
E por último, mas não menores em importância, aos meus amigos e amigas,
Jéssica Oliveira, Augusto Moutinho, Patrícia, Rafaela Fonseca, Rodrigo Bernardo,
Taiguara Aleixo, Tainã Salles, Ana Assis, Ana Ferreira, Nevi Amorin, Taisa Enaile.
Pelos quais a estima de afeto se destacou. Por tornarem meus dias
agradabilíssimos em São Raimundo Nonato, me proporcionando momentos de riso
e descontração, pelos inúmeros encontros em mesa de bares. Pelo apoio
emocional, e até mesmo financeiro. Por momentos de desabado e de confidências.
Deixo aqui meu muito obrigado, e o registro do desejo de manter contato com cada
um de vocês. Sentirei saudades.
Aos demais colegas da turma de 2010.1, e aos agregados e Agregadas:
Amanda, Gizelle, Leyliany e Leonel, pelos bons momentos vividos, principalmente
nas atividades de campo.
Enfim, agradeço a todos que direta ou indiretamente contribuíram com a
minha formação acadêmica, e para a conclusão deste trabalho.
RESUMO
De acordo com a portaria nº 230 de 17 de dezembro de 2002, publicada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) um projeto de pesquisa e/ou intervenção arqueológica acerca de uma área devem ser previamente liberados pelo órgão e deve conter, dentre muitas coisas, o Programa de Educação Patrimonial. No entanto, não existe um protocolo postulado de como se deve ser desenvolvido esse programa. As cartas patrimoniais, artigos, simpósios e discussões acerca da prática da Educação Patrimonial (EP) podem fornecer uma meta idealizada, porém, nenhum dispositivo assegura, de fato, que seja desenvolvido um programa eficaz. Cabe, então, uma verificação/observação detalhada das possíveis dicotomias entre a teoria e a prática da educação patrimonial pelos arqueólogos. Para isso o presente projeto busca estabelecer um panorama nacional da Prática da Educação Patrimonial na Arqueologia, e realizar um estudo de caso na região arqueológica do Parque Nacional (PARNA) Serra da Capivara, lançando o olhar sobre os projetos desenvolvidos, executados ou não, pela Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM), pelos docentes e discentes do curso de graduação em Arqueologia e Preservação Patrimonial da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), e pelo escritório técnico regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nosso objetivo não é qualificar suas ações, e sim de compreender como se tem concebido a prática da EP pelos profissionais da área, e elencar as principais dificuldades enfrentadas. E por fim, elaborar projetos, propostas e sugestões para solucionar, ou ao menos contribuir para melhoraria do exercício da Educação Patrimonial, especialmente na Arqueologia. Palavras-chave: Educação Patrimonial – Serra da Capivara – Arqueologia
ABSTRACT According to the decree No. 230 of December 17, 2002, published by the Institute of National Historical and Artistic Heritage (IPHAN), a research project and/or an archaeological intervention on an area must first be approved by the Institute and must contain, among many things, the Heritage Education Program. However, there isn't a protocol about how the program should be developed. The patrimonial letters, articles, symposia and discussions on the practice of Heritage Education (HE) can provide an idealized goal. However, no device ensures, in fact, that an effective program is developed. This way a detailed observation of possible dichotomies between theory and practice of heritage education should be done by archaeologists. To this end, this project seeks to establish a national overview on the Practice of Heritage Education in Archaeology, and conduct a case study in the archaeological region of Serra da Capivara National Park (PARNA), focusing on projects developed - executed or not - by the Museum of the American Man (FUMDHAM), teachers and students of Archaeology and Heritage Preservation from the Federal University of the Vale do São Francisco (UNIVASF), and by the regional office of the Institute of National Historical and Artistic Heritage. Our goal is not to assess their actions, but to understand how the practice of the HE has been conceived by professionals, and list the main difficulties. As a final point, it is also intended to develop projects, proposals and suggestions to solve, or at least contribute to improve the practice of heritage education, especially in archeology. Keywords : Heritage Education – Serra da Capivara - Archaeology
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Relação de municípios limítrofes e do entorno do Parque Nacional
Serra da Capivara, contemplados por ações de educação patrimonial
desenvolvidas pelo Escritório Técnico I / 19ª Superintendência Regional do
IPHAN/PI, pela FUMDHAM e por docentes e/ou discente do curso de
graduação em Arqueologia e Preservação Patrimonial da UNIVASF
58
Figura 2 - Trilha Interpretativa da Fazenda Jurubeba. Fonte: OLIVEIRA; BUCO;
IGNÁCIO, 2009
64
Figura 3 - Território Berço do Homem Americano (TBHA) e municípios
atendidos pelo projeto ABHA. Fonte: Portal da FUMDHAM
66
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 - Temáticas abordadas nos TCCs 74
Gráfico 2 - Principais linhas de interesse dos graduandos em Arqueologia e
Preservação Patrimonial da UNIVASF, indicadas na entrevista
75
Gráfico 3 - Conhecimento dos discentes sobre os Projetos de Educação
Patrimonial desenvolvidos no CARQUEOL/UNIVASF
84
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 – Relação de disciplinas dos cursos de Arqueologia 54
Quadro 2 - Apresentação de Trabalhos de EP nos Congressos da SAB entre
2001 e 2007
54
Quadro 3 - Concentração dos temas das TCCs por ano 74
LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES
ABHA Água no Berço do Homem Americano
AID Área de Influência Direta
AII Área de Influência Indireta
Apb Arqueologia Pública
Apv Arqueologia Preventiva
CARQUEOL Colegiado de Arqueologia e Preservação Patrimonial
CEMO Centro de Memória da Serra da Capivara
CES Câmara de Educação Superior
CF Constituição Federal
CNE Conselho Nacional de Educação
DCN Diretrizes Curriculares Nacionais
Del Decreto de Lei
DPHAN Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
EA Educação Ambiental
EIA Estudo de Impacto Ambiental
Enade Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudantes
EP Educação Patrimonial
EREARQUE-
NE Encontro Regional de Estudantes de Arqueologia do Nordeste
FUMDHAM Fundação Museu do Homem Americano
ICAHM International Scientific Committee on Archaeological Heritage
Management
ICOMOS Conselho Nacional de Monumentos e Sítios
IES Instituições de Ensino Superior
IFPI Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
INTERARTES Festival Internacional de Serra da Capivara
IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996)
LDBEN Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996)
LI Licença de Instalação
LO Licença de Operação
LP Licença Prévia
MEC Ministério da Educação
Minc Ministério da Cultura
NACs Núcleos de Apoio às Comunidades
PA Patrimônio Arqueológico
PARNA Parque Nacional
PCN Parâmetros Curriculares Nacionais
PEP Programa de Especialização em Patrimônio
PET Programa de Educação Tutorial
PL Projeto de Lei
PPP Projeto Político Pedagógico
Pró-Arte Projeto sócio educativo da Fundação Museu do Homem Americano
PROEN Pró-Reitoria de Ensino
RIMA Relatório de Impacto Ambiental
SCIENTEX Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão
SEISC Semana de Estudos Interdisciplinares da Serra da Capivara
SEMEC Secretaria Municipal de Educação de São Raimundo Nonato
Sinaes Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
SPHAN Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
SRN São Raimundo Nonato
TBHA Território Berço do Homem Americano
TCCs Trabalhos de Conclusão de Curso
TT Temas Transversais
UFPE Universidade Federal de Pernambuco
UFPI Universidade Federal do Piauí
UNESCO Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a
Cultura
UNICAMP Universidade Estadual de Campinas
UNIVASF Universidade Federal do Vale do São Francisco
USP Universidade de São Paulo
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO 15
1.1 Apresentação do Tema 15
1.2 Problematização 20
1.3 Procedimentos Metodológicos 24
1.4 Estrutura do Trabalho 27
2. BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO
BRASIL
29
2.1 Desenvolvimento Conceitual 29
2.2 Educação Patrimonial no Sistema Educacional Bra sileiro 39
3. EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA ARQUEOLOGIA
BRASILEIRA
44
3.1 A Arqueologia, o Patrimônio e a Preservação Pat rimonial 44
3.1.1 A Arqueologia 44
3.1.2 O Patrimônio Arqueológico e a Preservação Patrimonial 46
3.2 Educação Patrimonial e Arqueologia Pública 48
3.3 Educação Patrimonial e Arqueologia Preventiva 5 2
4. EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL SERRA DA CAPIVARA
56
4.1 Caracterização do Parque Nacional Serra da Capi vara e seu Entorno 56
4.2 Atividades Desenvolvidas pela FUMDHAM 59
4.3 Atividades Desenvolvidas pelo IPHAN 67
4.4 Atividades Desenvolvidas pela UNIVASF 73
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 86
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 92
ANEXOS 96
15
1. INTRODUÇÃO
1.1. Apresentação do Tema
A Educação Patrimonial (EP) no âmbito da Arqueologia Brasileira, dentre
outros dispositivos legais, é regulamentada pela portaria nº 230 de 17 de dezembro
de 2002, publicada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), onde se lê que qualquer projeto de pesquisa e/ou intervenção
arqueológica, seja de natureza acadêmica ou empresarial, precisa ser previamente
liberado pelo órgão e deve conter, dentre muitas coisas, o Programa de Educação
Patrimonial. No entanto, não existe um protocolo postulado de como deve ser
desenvolvido esse programa. Considerando isso, falar sobre Educação Patrimonial
na Arqueologia é falar de como os profissionais da área arqueológica estão
desenvolvendo a EP, a que referencial teórico estão se reportando, sobre qual
patrimônio estão ensinando em suas ações. Será que se limitam apenas ao
patrimônio arqueológico, ou abordam o Patrimônio Cultural Nacional como um todo?
Quais as diferenças entre ações educativas desenvolvidas na área acadêmica e na
área da arqueologia preventiva (ou arqueologia de contrato1)? As respostas a essas
perguntas serão respondidas ao longo deste trabalho.
Existem, segundo o Portal do IPHAN, onze publicações oficiais do órgão
sobre Educação Patrimonial. Analisando essas publicações do IPHAN, órgão de
autarquia do governo brasileiro, vinculado ao Ministério da Educação (MEC),
responsável pela gestão Patrimônio Nacional, não encontrei nenhum postulado que
indique como deve ser feita a Educação Patrimonial atrelada a Arqueologia. Nem
mesmo parâmetros e/ou diretrizes para a Educação Patrimonial no Brasil. Em geral
1 A partir da década de 1980 a Constituição brasileira determinou que todo empreendimento que viesse provocar impactos definitivos ao ambiente fosse submetido, antes de sua implantação, aos chamados "Estudos de Impacto Ambiental". Estes estudos envolvem diferentes áreas de conhecimento, e a equipe necessita contar com especialistas como biólogos, geólogos, antropólogos, além de arqueólogos. Passadas mais de três décadas da publicação daquele anúncio, o Brasil conta com algumas empresas especializadas em arqueologia, além de profissionais que atuam de forma autônoma através de um contrato de prestação de serviço. Daí o nome "Arqueologia de Contrato".
16
as publicações são direcionadas aos professores da educação básica2, e orientam
os professores no sentido de ensinar os alunos a perceberem/identificarem o
patrimônio ao seu redor e se apropriarem dele.
O ‘Guia Básico de Educação Patrimonial’ de 1999, primeira publicação do
órgão sobre o assunto, é destinado aos professores escolares e fornecem
orientações e modelos de como ensinar sobre o patrimônio nacional ao alunado,
basicamente através de visitas monitoradas a museus. Ou seja, não oferece
nenhuma orientação específica para os profissionais em arqueologia. Ou sobre
generalidades do Patrimônio Nacional.
O ‘Manual de Atividades Práticas de Educação Patrimonial’ de Evelina
Grunberg, publicado em 2007 pelo IPHAN, segue a mesma linha da publicação de
1999, no entanto admite o universo da educação não formal, ensinando atividades
que se propõem a ensinar crianças, jovens e adultos a observarem, registrarem,
explorarem (no sentido de analisar) e se apropriarem (no sentido de valorizar) do
Patrimônio Nacional.
No livro ‘Patrimônio Cultural e Educação Patrimonial: Artigos e Resultados’,
organizado por Euder Arrais Barreto, Joel Ribeiro Zaratim, Lídia dos Reis Freire,
Márcia Bezerra, Maria Joana Cruvinel Caixeta, e Vera Lúcia Abrantes D’Osvualdo,
publicado pelo IPHAN em 2010, essa publicação, segundo a apresentação do
próprio livro:
“Com objetivo de capacitar e instrumentalizar os professores do ensino fundamental da rede municipal de educação de Goiânia, para atuarem como multiplicadores da educação patrimonial, foi realizado, no período de 6 de maio a 18 de setembro de 2004, o curso Patrimônio Cultural e Educação. O curso resultou de uma parceria da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás, o Instituto do Trópico Subúmido e o Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia da Universidade Católica de Goiás [...]. Como desdobramento, foi organizada a presente publicação, de textos com temas abordados no decorrer do curso, com o objetivo de subsidiar as futuras ações de educação patrimonial a serem implantadas pela Secretaria Municipal de Educação, em toda rede de ensino” (BARRETO, et al 2010).
2 Segundo a Lei de diretrizes e bases da educação nacional (Lei nº 9.394/96) a compreende a Educação Infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
17
Este livro é o trabalho mais expressivo do IPHAN no sentido de orientar a
prática da Educação Patrimonial, e embora seja destinado aos professores do
ensino fundamental da rede municipal de educação de Goiânia, é extremamente
generalista, no melhor sentido da palavra, servindo como orientação para qualquer
ação de educação patrimonial a ser desenvolvida no âmbito educacional. No
entanto, especificamente, sobre educação patrimonial na arqueologia este livro
apresenta dois capítulos (dois artigos): ‘Patrimônio Arqueológico e Educação
Patrimonial’ de Dilamar Martins e ‘Arqueologia e Educação’ de Márcia Bezerra. Os
artigos destacam a importância da abordagem da arqueologia em sala de aula, nos
livros didáticos e nos currículos da educação básica. E, além disso, ensinam sobre o
que é o Patrimônio Arqueológico, o que é a Arqueologia. Infelizmente, apesar de
riquíssimos em conhecimento da Arqueologia enquanto ciência são muito
específicos em orientar os professores de ensino fundamental, e não fornece
nenhuma orientação para os profissionais de arqueologia desenvolverem ações
educativas. O máximo que pode ser extraído das referidas publicações é um modelo
de como as autoras abordaram o tema.
O livro ‘Educação Patrimonial: Memória e identidade da Cidade de Goiás -
Patrimônio pra que te quero’, de Selma Pires, publicado em 2010 pelo IPHAN, como
propõem o título discorre sobre o patrimônio cultural da cidade de Goiás. É uma
leitura pertinente sobre a relação entre memória e patrimônio, mas também não
fornece nenhum subsídio direcionado para a prática da Educação Patrimonial.
O ‘Catálogo de Resultados do Fórum Juvenil de Patrimônio Mundial’,
publicado em 2010 pelo IPHAN, registra o compromisso de iniciativas de jovens no
mundo inteiro para preservação do Patrimônio Cultural Mundial. Ficam registrados
projetos e expectativas sobre o patrimônio mundial. Não apresenta nenhuma
orientação específica para gestão e preservação do Patrimônio.
A ‘Carta de Nova Olinda’ é o documento final do I Seminário de Avaliação e
Planejamento das Casas do Patrimônio, realizado no final de 2009 e publicado pelo
IPHAN 2010. Segundo a própria carta “O objetivo do encontro foi avaliar a atuação
das primeiras Casas do Patrimônio, hoje implantadas, e elaborar diretrizes comuns
para o seu funcionamento, como também propor ao Iphan a criação de instrumentos
legais e administrativos que garantam a sustentabilidade da proposta” (IPHAN,
18
2010). Não há na carta nenhum conteúdo norteador para prática da Educação
Patrimonial, mas sim o registro de avaliações sobre ações desenvolvidas desde
2000 e formulação metas e ações acerca das Casas do Patrimônio.
‘Educação Patrimonial no Programa Mais Educação – Fascículo 1’ é uma
publicação de 2011, do IPHAN e do MEC, e consiste numa cartilha de apoio para
educadores de escolas que aderiram o programa. Nela encontram-se definições e
conceitos de Educação Patrimonial, seus objetivos e métodos atrelados ao
programa. É uma publicação para orientação da prática da EP, mas é específica
para atividades do Programa Mais Educação, que por sua vez oferecem
indiretamente subsídios para que outros membros da sociedade elaborem projetos
de EP. Outra publicação atrelada ao programa e que segue a mesma proposta
dessa primeira é a cartilha ‘Educação Patrimonial no Programa Mais Educação -
Manual de Aplicação’, publicada em 2013. Nela os conceitos, objetivos e métodos
são aprofundados, inclui fichas para levantamento do patrimônio cultural nas regiões
de impacto do programa, dentro da perspectiva de inventário do patrimônio cultural
nacional apresentada pelo IPHAN.
Os cadernos temáticos ‘Educação Patrimonial: orientações ao professor’ e
‘Educação Patrimonial: reflexões e práticas’, publicados respectivamente em 2011 e
2012, pela Casa do Patrimônio de João Pessoa-PB do IPHAN, se propõem a
divulgar o Patrimônio Cultural Nacional, com um leve enfoque para os bens
patrimoniais do Estado da Paraíba, orientando professores sobre o desenvolvimento
de ações educativas. O primeiro Caderno Temático parte da concepção de
Educação Patrimonial como processo sistemático, continuado e transversal a
diferentes áreas do conhecimento. E trabalha conceitos como de patrimônio,
memória, cidadania, museu, educação, entre outros. E o segundo Caderno Temático
tem como objetivo apresentar aos professores e interessados na área textos de
referências sobre Educação Patrimonial, bem como diferentes experiências de
atuação de Educação Patrimonial desenvolvidas no Estado da Paraíba, seja na
escola ou fora dela.
A última e mais recente publicação do IPHAN é o livro ‘Educação
Patrimonial: histórico, conceitos e processos’ que foi publicado On-line pelo IPHAN
19
em seu portal, no dia 10 janeiro deste ano, e noticiado pelo próprio portal no dia 13
do mesmo mês e ano da seguinte maneira:
“Publicação online do IPHAN consolida diretrizes da Educação Patrimonial no Brasil: O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) lança em versão online nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro, a publicação Educação Patrimonial: histórico, conceitos e processos . A expectativa é que a publicação seja um marco institucional que referencie as ações e experiências no âmbito da Educação Patrimonial, de forma a articular de maneira participativa as unidades do IPHAN, outras instâncias governamentais e a sociedade civil como agentes de uma política com abrangência nacional. Produzido pela Coordenação de Educação Patrimonial (Ceduc) do Departamento de Articulação e Fomento (DAF/IPHAN), a publicação é resultado de um percurso amplo de debates, pesquisas teóricas e avaliações das práticas e ações educativas voltadas à preservação do Patrimônio Cultural, dentro e fora do IPHAN. Seu conteúdo consolida as atuais diretrizes conceituais e macroprocessos institucionais com os quais o IPHAN tem atuado. O trabalho marca o esforço em constituir o campo da Educação Patrimonial como uma área finalística, de caráter transversal e dialógico, dedicada à promoção, coordenação, integração e avaliação da implementação de programas e projetos educativos no âmbito da Política Nacional do Patrimônio Cultural. Dividido em três partes, o livro Educação Patrimonial: histórico, conceitos e proces sos descreve, em primeiro lugar, a trajetória histórica de ações educativas dentro do IPHAN, destacando documentos, iniciativas e projetos utilizados como estratégia de proteção e preservação do patrimônio sob sua responsabilidade. Em seguida, volta-se para a descrição dos fundamentos conceituais que amparam as atuais políticas da área. Por fim apresenta os três macroprocessos institucionais desenvolvidos pela Ceduc: inserção do tema patrimônio cultural na educação formal; gestão compartilhada das ações educativas; e a instituição de marcos programáticos no campo das ações de Educação Patrimonial” (Portal do IPHAN, 2014)3.
O livro é, sem duvidas, uma enorme contribuição para a consolidação da
Educação Patrimonial enquanto campo de atuação e/ou disciplina. No entanto a
chamada da matéria que indica que o livro “consolida as Diretrizes da Educação
Patrimonial no Brasil” é, na minha concepção, um exagero. O livro desenvolve bem
o historio da EP no Brasil, inclusive é de grande valia para este trabalho, apresenta
como a EP foi introduzida no país, como foi concebido seu primeiro conceito e como
este se transformou até a presente data. Nesse sentido a publicação se faz um
excelente referencial para quem atua na EP, mas, não apresenta nenhuma
orientação objetiva, específica para desenvolvimento de projetos e ações de EP,
como se espera de um livro que aspira ser considerado diretriz. Nesse aspecto a
leitura do mesmo foi frustrante.
3 Para mais detalhes da notícia acessar:
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=18245&sigla=Noticia&retorno=detalheNotici
a.
20
As cartas patrimoniais, artigos, simpósios e discussões acerca da prática da
Educação Patrimonial podem nos orientar e ajudar a idealizar uma meta. Contudo, o
levantamento bibliográfico prévio, contemplado acima, aponta a inexistência de
algum dispositivo oficial, ou seja do IPHAN, que garanta, de fato, que seja
desenvolvido um bom programa de EP, e nem mesmo algum dispositivo que
indicasse o que poderia ser considerado um bom programa. Para constatar a real
situação foi necessária uma revisão bibliográfica mais refinada, foi necessário
buscar textos especializados, não oficiais, e executar uma verificação/observação
detalhada das possíveis dicotomias entre a teoria e a prática da educação
patrimonial pelos arqueólogos. Dentro desse propósito este trabalho buscou
estabelecer um panorama nacional, geral, para então se aprofundar num estudo de
caso na região arqueológica do Parque Nacional (PARNA) Serra da Capivara,
lançando o olhar sobre os projetos desenvolvidos, executados ou não, pela
Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM), pelos docentes e discentes
do curso de graduação em Arqueologia e Preservação Patrimonial da Universidade
Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), e pelo Escritório Técnico I (São
Raimundo Nonato-PI)/19ª Superintendência Regional do IPHAN. Não foi nosso
objetivo qualificar suas ações, e sim de compreender como se tem concebido a
prática pelos profissionais das referidas instituições, e apontar possíveis pontos de
distanciamento entre a teoria e a prática, elencando as principais dificuldades
enfrentadas, que por sua vez possam ser entendidas como justificativas e/ou
motivos do atual quadro apresentado. E então, propor projetos e sugestões para
solucionar, ou que contribua direta e/ou indiretamente para melhoria de tal situação,
bem como oferecer subsídio para outros pesquisadores que por sua vez poderão
apresentar propostas diferentes. Em outras palavras, ajudar a tornar mais prático e
prazeroso a elaboração e execução de Projetos de Educação Patrimonial
particularmente na área da arqueologia como um todo.
1.2. Problematização
Ao pesquisar sobre o histórico da Educação Patrimonial no Brasil, me
deparei com um quadro confuso e complexo, onde seus conceitos não se
apresentam de forma bem definida, de tal forma que é difícil identificar se existem
21
várias ou uma definição de Educação Patrimonial. Essa imprecisão parece refletir na
sociedade brasileira na forma de ações educativas elaboradas sem um referencial,
sem uma orientação adequada. Isso sinaliza que no território nacional não existe um
campo ou uma disciplina de EP instituída (como poderá ser visto no próximo
capítulo). Nesse sentido nosso problema é elencar as principais orientações teóricas
para a elaboração de Projetos de Educação Patrimonial (ou seja, os pressupostos
teóricos da EP), especialmente no âmbito da arqueologia. A partir disto investigar
uma provável dicotomia existente entre a teoria e a prática da EP para o entorno do
Parque Nacional Serra da Capivara. É de nosso interesse pontuar essas dicotomias
e suas causas através da análise de programas/projetos/ações desenvolvidos nos
últimos dez anos pelo Escritório Técnico I (São Raimundo Nonato-PI) / 19ª
Superintendência Regional do IPHAN, pela FUMDHAM e pelos docentes e discentes
do curso de graduação em Arqueologia e Preservação Patrimonial da UNIVASF.
Este trabalho assumiu hipoteticamente que essa dicotomia já existia, tendo
em vista que os projetos de educação patrimonial vêm sendo elaborados a esmo,
sem um referencial bem definido. Porém, isso só se verificou de fato após elencados
os pressupostos teóricos. No entanto, o diagnóstico da pesquisa não foi uma
dicotomia entre teoria e prática na EP.
Considerando essa hipótese, era imprescindível para este trabalho identificar
os principais postulados/parâmetros da Educação Patrimonial na Arqueologia
Brasileira. Sendo assim, foi feito um levantamento de como tem sido desenvolvida a
prática da Educação Patrimonial na região de entorno do PARNA Serra da Capivara.
Evidenciando a existência ou não dessa dicotomia, e pontuando as possíveis causas
para ela. Este trabalho considerou projetos desenvolvidos na última década nessa
mesma região.
Foram pontuadas as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais
de arqueologia para atingir as metas postuladas sobre EP. A partir disto, elaborei
sugestões e intervenções que aprimorem a prática da Educação Patrimonial na
região por meio de um Projeto de Lei (PL) Nacional que contribua com o
desenvolvimento da disciplina, semelhantemente ao que é feito com a Educação
Ambiental (EA), ou seja, torná-la obrigatória nos currículos das licenciaturas, das
graduações que atuem diretamente sobre o Patrimônio de qualquer natureza
22
(Arqueológico, Ambiental, etc.), bem como no setor da Educação Básica. Pois, ao
analisar as definições de Educação Patrimonial4, que encontram-se expostas e
debatidas no próximo capítulo, algo me inquietou, e a princípio, o que justificaria esta
pesquisa seria uma inquietação pessoal, fruto de uma observação direta do dia a
dia, enquanto graduando em Arqueologia e Preservação Patrimonial. As discussões
em sala de aula, conversas pelos corredores indicavam que na arqueologia a EP
resumia-se à realização esporádica de atividades como oficinas e palestras, ou no
máximo na confecção e distribuição de cartilhas. Ao observar atentamente o
contexto no qual estava inserido, percebi que entre 2010 e 2013, docentes e
discentes do curso de Arqueologia e Preservação Patrimonial pouco trabalhavam
nesse sentido. Senti falta das atividades de extensão que poderiam ser
desenvolvidas no campo da Educação Patrimonial. Nesse contexto o fazer extensão
universitária, fazer educação patrimonial parecia enfadonho e pouco valorizado. E
no âmbito da arqueologia nacional não parece ser diferente. Os projetos de
educação patrimonial desenvolvidos pelas empresas de consultoria em arqueologia,
também são esporádicos e pontuais, em alguns casos deficientes. Os projetos de
EP executados por empresas são muitas vezes feitos porque é legalmente
obrigatório. É notável um descaso com a área. Em um levantamento bibliográfico
prévio encontrei apenas um trabalho de avaliação das atividades de educação
patrimonial desenvolvidas pelo IPHAN a nível nacional. Trata-se de uma monografia
onde a autora reconhece que:
“Desde a sua criação, o Iphan manifestou em documentos e publicações a importância da educação patrimonial para a preservação do patrimônio cultural. Contudo, a educação patrimonial é concretamente tratada apenas como uma atividade complementar às outras realizadas pelo órgão, tendo sido, de modo geral, realizadas atividades pontuais, desvinculadas das ações finalísticas do Iphan. Assim, verifica-se um grande descompasso entre a importância da educação patrimonial enunciada e as ações realizadas nesse sentido” (OLIVEIRA, 2011, grifo meu).
Esse descompasso parece ecoar aos quatro cantos do país, e seria um
reflexo do descaso do próprio IPHAN, que em quase 80 anos de história passou a
4 O IPHAN apresentou duas definições para Educação Patrimonial, uma publicada em 1999, no ‘Guia Básico de Educação Patrimonial’, e outra mais recente publicada em 2008. Além dessas definições, existem subcategorias de patrimônio, como por exemplo, patrimônio material, patrimônio imaterial, patrimônio natural/ambiental, etc.
23
avaliar e repensar suas ações acerca da EP apenas nos últimos cinco anos5. Na
arqueologia podem ser lidas algumas publicações de relatórios que avaliam algumas
atividades pontuais como quem faz um evento e ao término senta para avaliá-lo, o
que é válido, porém não é suficiente. E nesse sentido esse trabalho começa se
justificando por aí, ou seja, pela necessidade clara e sucinta de refletir sobre a
história de desenvolvimento da Educação Patrimonial, especialmente na
Arqueologia.
Além disso, é preciso destacar a importância da Educação Patrimonial para
a Arqueologia. Conforme já mencionei anteriormente, o IPHAN recomenda por meio
de portaria, que todo trabalho de intervenção e/ou pesquisa arqueológica contenha
um projeto de Educação Patrimonial destinado à população adjacente à área a ser
abordada pela intervenção/pesquisa. Isso é importante, pois é através do Projeto de
Educação Patrimonial que esta população vai aprender o que é Patrimônio (natural,
arqueológico, histórico, etc.), e ser conscientizada, sensibilizada a preservar esse
patrimônio. Ou seja, é um projeto bem elaborado e bem executado que vai ajudar a
preservar e conservar sítios arqueológicos (ou qualquer coisa considerada
Patrimônio Arqueológico), uma vez que estamos tratando da educação patrimonial
na arqueologia, bem como do Patrimônio Cultural Nacional como um todo. Sendo
assim esse descaso com a educação patrimonial pode acarretar na destruição do
objeto de estudo arqueológico. Em outras palavras, um profissional que não exercita
a EP adequadamente está limitando suas possibilidades de trabalho e contribuindo
para destruição de sítios arqueológicos, e assim inviabilizando o acesso a um
passado que pode ser relevante para compreensão do presente. Dada a importância
da Educação Patrimonial é imprescindível que sua prática esteja em constante
avaliação e readaptação, para que cada vez mais seja eficaz no atingir seus
objetivos.
1.3. Procedimentos Metodológicos
Os procedimentos metodológicos desse trabalho perpassaram pelos
seguintes pontos: 5 Para mais detalhes ver Linha do Tempo em: IPHAN, 2014, p. 16-17.
24
• Levantamento/Revisão Bibliográfica acerca do tema da pesquisa (Pressupostos teóricos, conceitos, dispositivos legais, etc.);
• Levantamento e análise dos relatórios de ações de EP na Arqueologia brasileira, publicados nos últimos dez anos, para verificar o panorama nacional da prática da EP por empresas, instituições e profissionais livres da Arqueologia;
• Levantamento (documental e/ou oral) de relatórios e/ou projetos de ações de EP (incluindo monografias, dissertações e teses), direcionados para o entorno do PARNA Serra da Capivara, desenvolvidos e/ou elaborados nos últimos dez anos pelo Escritório Técnico do IPHAN (de São Raimundo Nonato-PI), pela FUMDHAM, e pela UNIVASF;
• Análise dos dados levantados no ponto acima. Verificando a existência de pontos dicotômicos entre a teoria e a prática da EP, os motivos para uma possível inexistência e/ou para a inexecução dessas ações/projetos, e pontuação das dificuldades de elaboração/execução dos projetos;
• Levantamento das grades curriculares das graduações em arqueologia no Brasil, verificando a presença/ausência da Educação/Preservação/Gestão Patrimonial na formação dos futuros profissionais da área;
• Verificação da legislação vigente sobre a obrigatoriedade da Educação/Preservação Patrimonial nos currículos desde a Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) a Educação Superior, ou ao menos como Tema Transversal;
• Levantamento e análise dos Temas Transversais instituídos pelo Ministério da Educação (MEC), dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), e das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) da Educação Básica, e da Educação Superior, especificamente dos cursos de licenciatura, arquitetura, geologia e engenharias cujas atividades podem afetar direta ou indiretamente o Patrimônio Nacional, especialmente os patrimônios: Natural, e/ou Histórico, e/ou Arqueológico;
O levantamento bibliográfico prévio é a primeira atividade para toda e
qualquer pesquisa de cunho acadêmico. Esse levantamento serve para nos orientar
na elaboração de um projeto. Quando me propus a fazer um levantamento
bibliográfico para este trabalho, como metodologia de pesquisa, me referi a um
levantamento mais detalhado, mais elaborado, no sentido de revisar as publicações
atrás dos principais conceitos de Educação Patrimonial e dos pressupostos teóricos,
ou seja, de literaturas que orientassem a prática da EP como um todo e, sobretudo
na Arqueologia Brasileira. As literaturas serão citadas e discutidas ao longo do texto.
Busquei num segundo momento observar relatórios de ações de Educação
Patrimonial publicados por empresas de consultoria em arqueologia e atividades
acadêmicas no Brasil, de forma aleatória, não a fim de estabelecer uma amostragem
estatística ou um recorte, mas para apontar alguns exemplos, de como tem sido feito
25
esses trabalhos com o intuito de definir um panorama geral da Educação Patrimonial
na Arqueologia brasileira.
Para verificar como tem sido concebida a prática da EP no âmbito da
arqueologia desenvolvida no entorno do PARNA Serra da Capivara, fiz um
levantamento dos relatórios e projetos arquivados na FUMDHAM, no Escritório
Técnico I (S. Rdo. Nonato-PI) do IPHAN, e na biblioteca do campus Serra da
Capivara – São Raimundo Nonato-PI da UNIVASF. E posteriormente a análise deles
(como poderá ser visto em capítulo específico), verificando que tipo de atividade foi
realizada, porque alguns projetos não chegaram a ser executados, e quais as
principais dificuldades para executar os projetos. Para complementar este
levantamento, compreendendo que nem toda atividade gera um relatório, e que nem
todo projeto/relatório fica arquivado nas instituições. Então resolvi fazer um
levantamento entre professores, ex-professores, estudantes e ex-estudantes da
UNIVASF, bem como entre os funcionários da FUMDHAM e do IPHAN. Para isso
desenvolvi dois questionários On-line com perguntas objetivas (de múltipla escolha)
e explicativas, um específico para professores e outro para estudantes
(respectivamente ANEXO A e ANEXO B). Optei pela enquete On-line, pois através
deste recurso posso garantir a privacidade dos informantes, entendendo que os
indivíduos sentem-se menos tímidos e se expressam melhor pela escrita do que
pela oralidade, pois ao transcrever suas falas correria o risco de alterar a ideia
transmitida pelo informante. Outra vantagem é o conforto para quem está
desenvolvendo a pesquisa e para quem está respondendo. Como a enquete é
disponibilizada On-line por um determinado período, os informantes podem acessá-
la no momento que mais lhe forem oportuno, e assim responderem com calma e
atenção o que proporciona uma melhor concentração para relembrar as informações
solicitadas. Outro aspecto que me chamou atenção foi o recurso denominado
‘Pergunta Dinâmica’, onde algumas perguntas surgiam de acordo com as respostas.
Isso me serviu para que as perguntas seguintes não influenciassem nas respostas
das perguntas iniciais. Por exemplo, numa pergunta exclusiva entre ‘sim’ e ‘não’,
onde a alternativa escolhida gera uma nova pergunta explicativa do tipo ‘Por que
não?’ ou ‘Por que sim?’ poderia influenciar o informante (entrevistado) a escolher a
alternativa que diminuiria seu esforço, e evitasse assim de responder o porquê da
sua escolha. Entendo que as informações cedidas pelos “entrevistados” não me
26
fornecem nem amostragem nem um recorte, antes são um complemento ao
levantamento feito a partir dos projetos e relatórios arquivados nas instituições já
citadas. As informações levantadas a partir das enquetes somadas às informações
do levantamento documental também não representam o universo como um todo, ou
seja, não serão, necessariamente, mencionados todos os projetos e/ou ações.
Chamo atenção ainda para o fato de que o quadro de professores e estudantes está
em permanente transformação, e que os estudantes e professores que compõem o
Colegiado de Arqueologia e Preservação Patrimonial hoje não é o mesmo de 2004,
ano da sua criação. Ou seja, essas entrevistas se enquadram como uma técnica de
história oral:
“Assumindo que técnica é um conjunto de regras dispostas a conduzir os procedimentos de buscas de alguma certeza, o que se objetiva quando se vale da história oral segundo essa proposta é o uso de entrevistas como mecanismo de operação capaz de guiar a pesquisa no caminho de resultados premeditados [...] Como técnica, contudo deve-se supor que exista uma documentação paralela, escrita ou iconográfica, e que as entrevistas entrariam como mais um apêndice formalizado, maneira precisa de diálogo de fontes, recurso adicional que extrapolaria o uso indefinido ou exemplificador – ainda que destacado. Sob essa condição, as entrevistas comporiam um sentido mais resoluto entre as fontes e teriam suas aplicações determinadas claramente, portanto mais que simples ‘ferramenta’ para comprovar o andamento de algo desejado ou pressuposto. Como técnica pressupõe análise, as implicações de seu uso devem articular o processo de captação das entrevistas e sua inscrição no processo analítico. Mas as entrevistas seriam algo a mais. O objeto central, nesse caso, seria a documentação cartorial, escrita, historiográfica, estatística, ou mesmo imagética e não as entrevistas que integrariam a seriação como elemento distinto pela sua originalidade, mas não exclusivo ou gerador de diálogos previstos desde o projeto [...] Mais uma conclusão sobre o uso das entrevistas como técnica: elas não são apenas exemplos, pois ganham condição privilegiada de formulação de diálogos entre outras fontes” (MEIHY; HOLANDA; 2010, p. 70-71).
Para verificar a ausência/presença da preservação/educação/gestão
patrimonial na formação dos profissionais em arqueologia, adotei como metodologia
a análise das grades curriculares de todas as graduações em arqueologia do país.
Considerando que uma das hipóteses deste trabalho perpassa pela boa/má
formação desses profissionais e ainda não existem parâmetro e/ou diretrizes
curriculares nacionais para as graduações em arqueologia, a análise das grades
torna-se indispensável.
A verificação da ausência/presença da educação/preservação/gestão
patrimonial na Educação Básica e na Educação Superior, torna-se necessária para
27
determinar em que grau de conhecimento sobre o assunto os arqueólogos
encontram os cidadãos e profissionais de outras áreas, enfim seu público alvo em
geral, quando vão a campo desenvolver ações educativas acerca do Patrimônio
Arqueológico ou do Patrimônio Cultural Nacional como um todo. Essa análise pode
responder se uma das hipóteses deste trabalho é verdadeira ou não. No caso saber
se a falta de um conhecimento prévio por parte do público alvo acerca do que é
Patrimônio dificulta e/ou inviabiliza ações de educação/preservação patrimonial.
1.4. Estrutura do Trabalho
Para cumprir as intenções expostas até aqui, expor minhas ideias de forma
coesa e coerente, clara e concisa, estruturei este trabalho da seguinte maneira.
No primeiro capítulo, como foi visto até aqui, apresento o tema do trabalho, a
problematização e a metodologia.
No capítulo seguinte traço em breve histórico da Educação Patrimonial no
Brasil, identificando os conceitos e definições de EP, seus objetivos e demais
pressupostos teóricos, que além de apresentar um panorama nacional da EP,
servem como parâmetros para análise das ações educativas desenvolvidas no
entorno do PARNA Serra da Capivara. Ainda neste capítulo apresento como a
Educação Patrimonial vem sendo abordada no Sistema Educacional Nacional.
No terceiro capítulo apresento um quadro geral de como a Educação
Patrimonial tem se desenvolvido no âmbito da arqueologia Nacional. Que a
Educação Patrimonial realizada dentro do contexto da Arqueologia Pública e da
Arqueologia Preventiva, possuem enfoques diferentes. Neste capítulo apresento
também como as graduações em arqueologia do Brasil preparam os futuros
arqueólogos para atuarem como agentes da EP, realizando uma análise das grades
curriculares dessas graduações.
No quarto capítulo, apresento a caracterização do que vem a ser a região de
entorno do Parque Nacional Serra da Capivara e apresento como a Educação
Patrimonial foi pensada e aplicada nesse contexto pelos docentes e discentes do
28
curso de graduação em Arqueologia e Preservação Patrimonial na UNIVASF, pela
FUMDHAM e pelo Escritório Técnico I do IPHAN (São Raimundo Nonato-PI).
Destacando os pontos que possam ressaltar como dicotomia entre a teoria e a
prática da EP e elencado as principais dificuldades para elaboração e execução de
projetos de EP para a região.
Entrando no último capítulo, apresento uma síntese dos resultados da
pesquisa, enfatizando pontos relevantes da discussão feita ao longo deste trabalho,
e apresento minhas propostas para contribuir com o avanço da Educação
Patrimonial na região de entorno do Parque Nacional Serra da Capivara.
29
2. BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO BRASI L
2.1. Desenvolvimento Conceitual
Segundo a recente publicação do IPHAN (2014) ‘Educação Patrimonial:
histórico, conceitos e processos’ o uso do termo Educação Patrimonial (EP) foi
introduzido no Brasil em 1983, durante 1º Seminário sobre o Uso Educacional de
Museus e Monumentos, como uma metodologia inspirada no modelo da heritage
education, desenvolvido na Inglaterra. Para introduzir o estudo da Educação
Patrimonial, antes de tudo é importante nos remetermos à etimologia das duas
palavras (Educação + Patrimônio) que compõem o termo. Segundo Ferreira (2010)
‘Educar’ vem do latim educare que significa promover a educação [de alguém],
transmitir conhecimentos a [alguém], ou ainda instruir. Ainda segundo Ferreira
(2010) ‘Patrimônio’ vem do latim patrimoniu que significa herança paterna. Partindo
daí, a princípio podemos entender Educação Patrimonial como ‘instrução a respeito
daquilo que é herdado. Se aprofundando um pouco mais em ambos os termos,
observando como alguns conceitos surgiram e se transformaram ao longo do tempo,
ou seja, vamos um pouco mais além da etimologia das palavras.
Ao se debruçar sobre o Patrimônio Cultural Nacional Funari e Pelegrini
(2006) traçam uma trajetória do patrimônio no contexto mundial. Eles nos informam
que na antiga Roma patrimonium fazia referência a tudo que pertencia ao pai de
família (pater famílias) incluindo esposa, filhos, escravos, bens móveis, imóveis e
ainda animais. Esse conjunto de pertences representava tudo que poderia ser
legado via testamento. A respeito desse entendimento de patrimônio na Roma
Antiga, Funari e Pelegrini (2006) consideram:
“O conceito de patrimônio, surgido no âmbito privado do direito de propriedade, estava intimamente ligado aos pontos de vista e interesses aristocráticos. Entre os romanos, a maioria da população não era proprietária, não possuía escravos; logo não era possuidora de patrimonium. O patrimônio era um valor aristocrático e privado, referente à transmissão de bens no seio da elite patriarcal romana. Não havia conceito de patrimônio público. [...] O patrimônio era patriarcal, individual e privativo da aristocracia” (FUNARI; PELEGRINI; 2006, p. 11).
30
Como percebemos a ideia de herança paterna, ou ainda, familiar, tem uma
abordagem individualista, no sentido de ser patrimônio de um indivíduo (outrora do
pai/mãe, agora de um filho/herdeiro). Essa perspectiva começa a mudar com o
advento do cristianismo (FUNARI; PELEGRINI; 2006). O caráter coletivo da religião
fazia diferentes categorias sociais compartilharem sentimentos religiosos e a admitir
espaços de fato públicos, ainda que regidos por uma hegemonia aristocrática, “a
catedral era um patrimônio coletivo, mas aristocrático” (FUNARI, PELEGRINI; 2006,
p. 12). Com o Renascimento o caráter teocêntrico perde espaço para o humanismo,
nessa lógica cresce uma valorização da Antiguidade Greco-romana. Funari e
Pelegrini (2006) nos informam sobre duas maneiras principais de venerar e valorizar
esse passado: “lendo obras antigas e colecionando objetos e vestígios da
Antiguidade”. E eles continuam, dizendo que:
“Com a invenção da imprensa, multiplicaram-se as edições de obras clássicas, na língua original e traduzidas. Em paralelo, os humanistas começaram a se preocupar com a catalogação e coleta de tudo que viesse dos antigos: moedas, inscrições em pedra, vasos de cerâmica, estatuário em mármore e em metal. Vestígios de edifícios também eram medidos, desenhados e estudadas com grande dedicação. Esses humanistas, que amavam coisas antigas, fundaram o que viriam a se chamar antiquariado. Isso ocorria não apenas em cidades com grandes monumentos clássicos como Roma, mas por toda a Europa [...]. Alguns estudiosos enfatizam que o patrimônio moderno deriva, de uma maneira ou de outra, do Antiquariado [... que] nunca deixou de existir e continua até hoje”. (FUNARI; PELEGRINI; 2006, p. 12 – 13, grifo meu).
A invenção do patrimônio nacional está intimamente ligada a essa lógica
apresentada por Funari e Pelegrini e com a formação dos Estados Nacionais. Em
busca de evocar para si grandes territórios, utilizava-se o argumento da
ancestralidade greco-romana para dominar uma ou mais regiões. Nesse sentido o
antiquariado era uma representação metafórica de uma identidade nacional recém-
criada. Para uma série de estudiosos o melhor exemplo disso seria a Revolução
Francesa. No entanto vou omitir um aprofundamento nessa parte da história
estrangeira do Patrimônio.
Salteando pela história, e chegando ao Brasil, especificamente na década de
1920, encontramos um cenário de busca por uma identidade nacional. O advento da
Modernidade inspirou artistas e intelectuais a se movimentarem nesse sentido, a
semana de Arte Moderna em 1922 é, sem dúvida, um marco dessa movimentação
modernista, dado fato de ser o primeiro evento sobre o tema no Brasil, mas talvez
31
não seja o mais importante. Eu prefiro destacar o ‘Manifesto pau-brasil’ (1924) de
Oswald de Andrade que defendia a valorização da cultura popular como a
“verdadeira cara do Brasil”, e o ‘Manifesto Antropofágico’ onde se propunha a
reconstrução da cultural nacional, de forma que se valorizasse aquilo que fosse
genuinamente brasileiro, e não somente de uma elite, mas também as
manifestações populares. É nesse contexto que surgem os primeiros dispositivos
legais acerca de um Patrimônio Nacional. Segundo Fonseca (1997 apud OLIVEIRA,
2011) as primeiras iniciativas sobre o Patrimônio, foram: a criação de Inspetorias
Estaduais de Monumentos Históricos, na década de 1920; o Decreto Nº 22.928/33,
que declara Ouro Preto monumento nacional; e uma menção, na Constituição de
1934, (Capítulo II, artigo 148) à preservação do patrimônio ser um princípio
constitucional e dever da União, estados e municípios. Mas, adota-se efetivamente
como consolidação de um Patrimônio Nacional o ano de 1937, quando foi criado o
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN (atual IPHAN)6, e
publicado o Decreto de Lei (Del) nº 25, de 30 de novembro, que dispunha sobre a
organização e a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Nesse Del foi
considerado que:
Art. 1º Constituem o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. § 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico artístico nacional, depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei. § 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. (BRASIL, 1937)
Analisando a citação acima percebemos que inicialmente evocava-se como
patrimônio objetos de valor excepcional para a história nacional, e que de
preferência fosse de autoria própria (autoria brasileira). É importante observar
6 “O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, criado pela Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937, tornou-se Diretoria em 1946 (DPHAN); em 1970, assume a denominação de Instituto (IPHAN) e, em 1979, de Secretaria (novamente SPHAN). Em 1981, passa a Subsecretaria, mantendo a sigla SPHAN. Finalmente, em 1994, readquire a designação de Instituto e recebe a nomenclatura de IPHAN. Para fins didáticos, manteremos ao longo do texto a sigla IPHAN, desconsiderando as sucessivas mudanças de nomenclatura” (IPHAN, 2014, p. 5).
32
também que até este momento o patrimônio faz menção ao tangível, a
manifestações físicas e concretas da história. Sobre este trecho do Del 25/37,
Oliveira (2011) considera que:
“A proposta inicial do Iphan foi a de salvaguardar bens monumentais brasileiros, de valor excepcional e materiais – sobretudo arquitetônicos e predominantemente do período colonial (principalmente igrejas em Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro), com o intuito de construir a memória e a identidade nacionais. Esta visão predominou até o fim da década de 1960 e [...] Na década de 1970, o Iphan começou a ampliar o conceito de patrimônio à medida que incorporou a ideia de bem cultural, do qual fazem parte as manifestações populares e bens ligados a outros grupos sociais, além da burguesia. Assim, o recorte de bens protegidos passou a representar o patrimônio cultural, não só histórico e artístico” (OLIVEIRA, 2011).
Como bem destaca Oliveira (2011) somente a partir da década de 70
começa a se pensar nos aspectos culturais como patrimônio nacional. E a partir daí
o conceito de Patrimônio Nacional amplia-se ainda mais com a adição do termo
Cultural. O conceito de Patrimônio Cultural Nacional, por sua vez, é dado segundo a
Constituição Federal (CF) de 1988, vejamos:
Art. 216. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas de expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988 apud OLIVEIRA, 2011).
Essa definição introduziu os bens de natureza imaterial (intangível), que
mais tarde culminaram na instituição do Patrimônio Imaterial, com registro próprio,
garantido pelo Del nº. 3.551, de 4 de agosto de 2000. Todas essas definições e
conceitos apresentados com auxilio das citações acima servem para enfatizar o
caráter múltiplo do Patrimônio Cultural Nacional. Ou seja, Patrimônio Cultural
Nacional é um termo amplo, macro, no qual se encontram dois tipos de patrimônio: o
material (tangível) e o imaterial (intangível). Que por sua vez também se subdividem
em outras classes como Patrimônio Arqueológico, Patrimônio Artístico, Patrimônio
Natural, entre outros. Então quando falo em Educação Patrimonial estou fazendo
33
referência ao Patrimônio Cultural Nacional, ou seja, ao todo, ou a todos os tipos e
classes de patrimônio presentes em nosso País.
Embora a Educação Patrimonial só seja inserida no Brasil na década de
1980, interação entre Educação e Patrimônio é antiga. Segundo o IPHAN (2014):
“Desde a sua criação, em 1937, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN manifestou em documentos, iniciativas e projetos a importância da realização de ações educativas como estratégia de proteção e preservação do patrimônio sob sua responsabilidade, instaurando um campo de discussões teóricas, e conceituais e metodologias de atuação que se encontram na base das atuais políticas públicas de Estado na área” (IPHAN, 2014, p. 5).
As ações educativas, no contexto da preservação e conservação do
Patrimônio Nacional surgem como recurso metodológico, como uma estratégia para
levar a população a conhecer um patrimônio nacional, se reconhecer nesse
patrimônio, (se apropriar), valorizar e por fim preservar esse patrimônio. Essa lógica
se mantém até hoje. E nesse primeiro momento (década de 30 até década de 80),
ela vai se desenvolver através da educação formal ou escolar, mas não como
Educação Patrimonial. Segundo David, Santos Júnior e Bomfim (2012):
“A educação formal é aquela que acontece, predominantemente, por meio do ensino em instituições próprias. No Brasil, ela é regida pela Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) [...] A Escola tornou-se responsável pela educação formal, principalmente no século XIX” (DAVID; SANTOS JR; BOMFIM; 2012, p. 113).
A Educação Patrimonial, embora ainda não recebesse esse nome, era
realizada dentro das instituições de ensino (escolas). A valorização do Patrimônio
Cultural era um componente curricular nas escolas, reconhecer esse patrimônio
como seu era pré-requisito para ser brasileiro. Muitas vezes esse conteúdo estava
destrinchado em disciplinas como Educação Cívica, ou Ética, ou ainda Cidadania. E
a primeira noção de patrimônio era aprender a respeitar os símbolos nacionais,
como o Hino Brasileiro e a Bandeira Nacional. Ou seja, de se identificar como
brasileiro através de alguma forma de patriotismo.
Na década de 80 o termo Educação Patrimonial é introduzido no cenário
nacional, no entanto, não como uma disciplina, ou como um conteúdo curricular a
ser desenvolvido nas escolas. Ela se distancia da lógica da educação formal/escolar,
34
mas não há um rompimento, tendo em vista que ocorre uma troca de espaços, onde
museus se tornam uma extensão dos espaços escolares. As primeiras ações de
Educação Patrimonial consistiam em visitações a museus e seus respectivos
acervos, onde os professores apresentavam a seus alunos um Patrimônio Nacional
imposto (de cima para baixo), elitizado, sobre o qual a população deveria acatar
como herança cultural e admitir como modelo de outras coisas que poderiam vir a se
tornar Patrimônio Cultural Nacional, se inscritas também nos livros de tombo7. Essa
lógica era resultado da influência da Educação Popular, uma discussão que estava
em alta na década de 80. Segundo o Instituto Paulo Freire:
“Compreende-se a educação popular, fundamentada no referencial teórico-metodológico freiriano, como uma concepção de educação, realizada por meio de processos contínuos e permanentes de formação, que possui a intencionalidade de transformar a realidade a partir do protagonismo dos sujeitos. Essa coordenadoria vivencia esta concepção ao realizar ações conjuntas com educadores populares, lideranças de movimentos, redes e organizações sociais populares, como também equipes responsáveis pela implantação e controle social das políticas públicas” (INSTITUTO PAULO FREIRE).
A ideia de Educação Popular defendida por Paulo Freire, admitia que o
processo educativo não se dava apenas no espaço escolar, numa sala de aula, e
que a população se educava no momento em que se organizava para, por exemplo
reivindicar suas necessidades, para protestar. Isso sem precisar necessariamente
de um professor, de alguém que venha instruir, ou preencher uma mente que estaria
oca, vazia. Sendo assim, admitia-se que a população também tem conhecimentos a
transmitir e que a dinâmica de ensino-aprendizagem em qualquer espaço é uma via
de mão dupla ou seja, um diálogo. Não existem papéis bem definidos, professor e
aluno se confundem, e um pode aprender com o outro (FREIRE; NOGUEIRA; 1999).
Nesse sentido, se admitia que a população pudesse também inventariar o
patrimônio nacional, ela também poderia informar o que deveria ser tombado. No
entanto, essa abordagem era falaciosa, havia uma preocupação em fazer com que
7 “O tombamento foi regulamentado pelo Decreto-Lei Nº 25/37. Trata-se de um ato administrativo do Iphan para proteção de bens culturais. Os bens protegidos são inscritos em um ou mais livros de tombo: livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Livro do Tombo Histórico; Livro do Tombo das Belas-Artes e Livro do Tombo das Artes Aplicadas. O tombamento pode ser voluntário ou compulsório, provisório ou definitivo. Após o ato, incidem uma série de efeitos sobre o bem no que se refere à transferência, alienação e proibição de destruição, demolição e mutilação. Qualquer modificação deve ser previamente aprovada pelo Iphan, o que implica em limitações no direito de propriedade. Este é o ponto mais complicado da relação entre o órgão e a sociedade”. (OLIVEIRA, 2011, p. 9).
35
os “populares” incorporassem esse modelo de patrimônio que era imposto pela elite,
para que suas propostas não destoassem dos bens que já eram tombados como
Patrimônio Nacional. Ou seja, a educação popular incorporada à metodologia da
preservação patrimonial divergia do real propósito apresentado por Freire. Tendo em
vista que ele acreditava numa educação de mão dupla, onde o papel do educador e
do educando se confundem. Em outras palavras, em alguns momentos era
importante que professores assumissem também o papel de aluno para aprender
com seu alunado rico de conhecimento popular. Entendo assim que as
manifestações populares não eram de fato reconhecidas como Patrimônio Nacional
conforme estava previsto na legislação, e aqui se faz presente a primeira dicotomia
entre teoria e prática da Educação Patrimonial. Talvez por isso a primeira definição
de Educação Patrimonial seja:
“Um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no Patrimônio Cultural como fonte primária de conhecimento individual e coletivo. A partir da experiência e do contato direto com as evidências e manifestações da cultura, em todos os seus múltiplos aspectos, sentidos e significados, o trabalho da Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens, e proporcionado geração e a produção de novos conhecimentos, num processo contínuo de criação cultural ”. (HORTA; GRUNBERG; MONTEIRO, 1999, p. 6, grifo do autor).
A citação acima foi extraída da primeira publicação acerca da Educação
Patrimonial no Brasil, feita pela IPHAN. O ‘Guia Básico de Educação Patrimonial’ é
um referencial para escolas e professores ensinarem seu alunos acerca do
Patrimônio Cultural Nacional, dentro da mesma lógica adotada na década de 80,
atrelada a excursões escolares, a museus e exposições. A definição de Educação
Patrimonial apresentada no Guia foge completamente à lógica da Educação Popular
de Freire, e se aproxima ao conceito de Educação Formal/Escolar ao pensar a
educação como um processo sistemático e permanente. Processo esse que, a meu
ver só pode ser feito em caráter institucional. Ou seja, essa definição excluiria ações
transversais, que não fossem realizadas sistemicamente e/ou permanentemente. O
que seria contraditório, tendo em vista que excursões são eventos pontuais e
esporádicos.
Mas, segundo o IPHAN:
36
“Paulatinamente, as políticas educativas foram se afastando de ações centradas em acervos museológicos e restritas a construções isoladas para a compreensão dos espaços territoriais como documento vivo, passível de leitura e interpretação por meio de múltiplas estratégias educacionais. Seus efeitos se potencializam quando conseguem interligar os espaços tradicionais de aprendizagem a equipamentos públicos, como centros comunitários e bibliotecas públicas, praças e parques, teatros e cinemas. Tornam-se também mais efetivas quando integradas às demais dimensões da vida das pessoas e articuladas a práticas cotidianas e marcos de referências identitárias ou culturais de seus usuários” (IPHAN, 2014, p. 24).
Prova disso é que o primeiro conceito de Educação Patrimonial, publicado
em 1999, já supracitado não está mais vigorando. Segundo IPHAN (2014):
“Atualmente, a CEDUC [Coordenação de Educação Patrimonial] defende que a Educação Patrimonial constitui-se de todos os processos educativos formais e não formais que têm como foco o Patrimônio Cultural, apropriado socialmente como recurso para a compreensão sócio-histórica das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para seu reconhecimento, sua valorização e preservação. Considera ainda que os processos educativos devem primar pela construção coletiva e democrática do conhecimento, por meio do diálogo permanente entre os agentes culturais e sociais e pela participação efetiva das comunidades detentoras e produtoras das referências culturais, onde convivem diversas noções de Patrimônio Cultural” (IPHAN, 2014, p. 19).
Observando os conceitos acima constatamos que inicialmente se propunha
que a EP fosse feita através de um processo sistêmico e permanente. Ocorre que as
ações eram em larga escala pontuais e esporádicas (oficinas, palestras, visitas
monitoradas a museus), e apesar de relevantes para o processo de preservação do
Patrimônio Cultural Nacional, não estavam contempladas nessa primeira definição.
O novo conceito apresentado abre espaço para essas ações pontuais e
esporádicas, sem abdicar [na teoria] das ações permanentes. Essas ações, ditas
esporádicas e pontuais estão compreendidas na definição de Educação Não Formal.
Para compreender melhor a diferença entre Educação Formal, Educação Informal e
Educação Não formal, vamos observar a citação abaixo:
“A educação formal ocorre na instrução escolar, sob orientação do professor e com finalidade de socializar saberes e transmitir conteúdos historicamente construídos, mediante o processo de ensino e aprendizagem. Aqui o resultado esperado é a aprendizagem efetiva, a certificação e a titulação. A educação informal acontece na família, na rua, no bairro, no clube, nas igrejas, sob a responsabilidade dos pais, dos vizinhos, da comunidade religiosa. Seu objetivo é desenvolver hábitos, atitudes e a socialização por meio das experiências no convívio social. Os resultados são visíveis nas formas de agir e pensar, de acordo com o grupo em que as pessoas se inserem. A educação não formal atua em espaços de ações coletivas nos
37
quais os cidadãos interagem segundo as diretrizes do grupo. Seu propósito é desenvolver a capacidade para agir e pensar como cidadãos do mundo e no mundo. Os resultados refletem-se na condição de pertencimento, consciência e organização em coletividade, considerando o desenvolvimento da capacidade para enfrentar as adversidade e criar saídas originais e alternativas às condições cotidianas” (DAVID; SANTOS JR; BOMFIM; 2012, p. 114, grifo meu).
Apesar da inserção dos conceitos de educação formal e não formal (para
maior compreensão dos conceitos, ver quadro anexado – ANEXO C), a EP
continuou se desenvolvendo principalmente e talvez somente no contexto não formal
da educação nacional. Segundo David, Santos Júnior e Bomfim (2012) não haveria
sentido perguntar qual dessas categorias de educação seria mais eficaz no processo
da EP, pois segundo eles:
“Educação formal, educação informal e educação não formal surgem como categorias da educação, mas não se excluem nem se opõem, antes, se entrecruzam e se complementam na complexa tarefa de educar o cidadão no mundo contemporâneo” (DAVID; SANTOS JR; BOMFIM; 2012, p. 115).
Sendo assim, a Educação Patrimonial deveria se utilizar das três categorias
de educação mencionadas. No entanto, evoca em seu conceito apenas duas
(educação formal e não formal), excluindo a educação informal. A partir daí esse
trabalho se propõem a verificar, na prática, o que se expos teoricamente acima.
Mediante breve histórico da Educação Patrimonial apresentado acima o
IPHAN reconhece que:
“A experiência acumulada de iniciativas bem-sucedidas, bem como o alinhamento com preceitos extraídos das reflexões de educadores e profissionais das ciências humanas, permitem identificar certos princípios norteadores que amplificam a eficácia do reconhecimento e da apropriação dos bens culturais e, por conseguinte, a relevância da implementação dos vários instrumentos legais de proteção do Patrimônio Cultural. Nos últimos anos, multiplicaram-se iniciativas educacionais voltadas à preservação patrimonial. Ao se adotar a expressão Educação Patrimonial, uma grande variedade de ações e projetos com concepções, métodos, práticas e objetivos pedagógicos distintos foi realizada por todo o país. Não obstante a extrema pertinência e a importância dos resultados alcançados por essas iniciativas, nem sempre se discerne uma orientação programática definida, subjacente a esse conjunto heterogêneo: ações pontuais e esporádicas de promoção e divulgação se acotovelam com propostas educativas continuadas, inseridas na dinâmica social das localidades; projetos e encontros, materiais de apoio, cadernos temáticos e publicações resultantes de oficinas se misturam a práticas significativas em que esses materiais não constituem um fim em si mesmo; ao contrário, compõem partes de processos educativos” (IPHAN, 2014, p. 19, grifo meu).
38
Mesmo com quase 80 anos de história do IPHAN, e com mais de 20 anos da
introdução da ideia da Educação Patrimonial no território nacional, constata-se a
partir da leitura desse trecho que não existe um campo, uma disciplina de Educação
Patrimonial instituída, ainda falta uma proposta bem elaborada e clara que oriente a
prática da Educação Patrimonial no Brasil.
Em nossa concepção, um dos maiores problemas advindos da falta de
diretrizes bem formuladas para a EP no Brasil é a indeterminação a que patrimônio
os projetos educacionais devem fazer menção. Em outras palavras, sobre qual
patrimônio se deve instruir o público. Mediante tudo que foi apresentado acima,
verifica-se que não existe uma orientação nesse sentido. Ou seja, não se sabe se o
Patrimônio Cultural Nacional pode ser desmembrado no momento de uma
abordagem. Como exemplo, ao executar um programa de EP eu poderia ensinar
apenas sobre o Patrimônio Arqueológico, em detrimento do Patrimônio
Natural/Ambienta, do Patrimônio Artísitico, ou do patrimônio de qualquer natureza?
Outro problema que merece destaque é a imposição do patrimônio ao
público em geral. Considerando que o Patrimônio Cultural Nacional, foi a priori uma
invenção elitista, e que o diálogo entre os agentes culturais e a sociedade foi
pensado recentemente, ou seja, que durante décadas os bens inscritos nos livros de
tombo foram registrados sem considerar efetivamente o reconhecimento popular
sobre estes, cabe uma revisão de todos os registros realizados sem a participação
efetiva da sociedade, sem a opinião do todo. Pois, uma vez que isso não é feito, os
projetos de EP continuarão abordando/mencionando bens que devem ser
reconhecidos e valorizados pela população, que por sua vez permanece distante
desse patrimônio, pois não se reconhece nele. E dessa maneira a imposição do
patrimônio continuaria, com exceção dos bens instituídos como patrimônio
recentemente. Isso nos remete a perguntas feitas frequentemente em congressos,
seminários, simpósios, mesas redondas, discussões acadêmicas, mas que
continuam sem resposta adequada: Qual Patrimônio deve ser preservado? Quem
reconhece esse Patrimônio? Para quem deve ser preservado? E por que deve ser
preservado?
Para responder a esses questionamentos, julgo necessário evocar o
conceito de memória, aqui entendido como “um conjunto de funções psíquicas,
39
graças às quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou
que ele representa como passadas” (LE GOFF, 2003 apud OLIVEIRA, 2014).
(Re)Considerando que a constituição do patrimônio cultural, seja material ou
imaterial, seja móvel ou imóvel, seja uma música, um quadro, um monumento ou
uma edificação está necessariamente atrelado ao conceito de memória, a fatos dos
quais se pretende manter viva a lembrança. Que a preservação do patrimônio é
necessariamente a preservação de memórias. E que a educação patrimonial
também perpassa pela manutenção dessas memórias. Sejam elas individuais ou
coletivas. Entendendo memória coletiva como aquela que é
“Vista como resultado das lembranças de acontecimentos vividos pelo grupo, onde cada pessoa terá suas lembranças individuas, mas que estas fará parte do mesmo acontecimento, constituindo a memória coletiva, sendo resultado de fatos e acontecimentos vividos no presente” (HALBWACHS, 1990, p. 55 apud OLIVEIRA, 2014).
Ou seja, a grosso modo, deverá ser considerado Patrimônio Cultural
Nacional aquilo que a população reconheça como representação de memórias
coletivas a qual sintam a necessidade de relembrar e manter viva para gerações
posteriores.
Mediante ao exposto acima, é impossível desassociar a construção do
Patrimônio Cultural Nacional da população. O patrimônio deve ser construído de
baixo para cima. E sendo assim a Educação Patrimonial deveria também ser feita de
baixo para cima, cabendo aos agentes culturais fomentar o diálogo entre Estado e
Sociedade, apesentando como subsídio para a discussão os conceitos de memória
e sua relação com a materialidade dos fatos.
2.2. Educação Patrimonial no Sistema Educacional B rasileiro
Conforme vimos até aqui, historicamente a Educação Patrimonial foi
pensada para ser inserida no sistema educacional, como um dos conteúdos
curriculares. Inicialmente, a temática ‘Cultura Nacional’ foi inserida em disciplinas
como Cidadania, Ética, Educação Moral e Cívica. E se consistia em aprender,
respeitar e valorizar os símbolos nacionais (Hinos, Bandeiras, etc.). Posteriormente,
40
essa instrução acerca do patrimônio cultural nacional se deu no âmbito dos museus.
De uma maneira geral, o tema Patrimônio, nunca se estabeleceu como conteúdo
curricular do sistema educacional brasileiro, ou seja, nunca se seu de forma
sistêmica e permanente, ao contrário disso, sempre foi abordado na
transversalidade e extraoficialmente.
O conceito geral de educação, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN / LDB) ou Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 é
um processo formativo que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana,
no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. O sistema
educacional brasileiro por sua vez, admite como “educação oficial” a educação
escolar, regida pela referida lei.
De acordo com a LDB, o Sistema Educacional Nacional se divide em dois
níveis escolares: a Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental, e
Ensino Médio) e a Educação Superior (graduação, pós-graduação). A educação
básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação
comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecendo-lhe meios para
progredir no trabalho e em estudos posteriores. A educação superior apresenta as
seguintes finalidades:
“Art. 43. A educação superior tem por finalidade: I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da
41
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição” (BRASIL, 1996, grifo meu)
Durante todo o texto da LDB, o termo Patrimônio é mencionado apenas três
vezes. Sendo que duas são para tratar do patrimônio das instituições de ensino
superior, e a outra vez no inciso IV, do artigo 43º (texto grifado na citação acima)
assegurando que uma das finalidades (um dos objetivos) da Educação Superior é
promover a divulgação do Patrimônio Cultural e Científico da Humanidade através
do ensino, ou através de publicações, ou ainda de outros meios de comunicação.
A LDB estabelece ainda, que a Educação Básica e a Educação Superior
devem seguir uma base nacional comum, conhecidas como Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), comumente usada para diretrizes voltadas a Educação Básica
apresentando conteúdos mais específicos, ou Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN), comumente utilizada para estabelecer diretrizes gerais da Educação
Superior. É responsabilidade do Conselho Nacional de Educação (CNE) redigir
esses documentos. Ocorre que a Educação Patrimonial ou o Patrimônio Cultural
Nacional não estão presentes de forma adequada nesses documentos.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica, publicada no
ano passado (2013) prevê que a Educação Patrimonial ocorra na educação infantil,
ou seja, na educação pré-escolar, como por exemplo em creches, nas turmas
conhecidas como Jardins I, II e III. E na Educação Quilombola ou Indígena. Além
desses o Patrimônio Cultural Nacional só é evocado na seção sobre a Educação
Técnica de nível médio, sobre cursos profissionalizantes que atuem diretamente na
área. A inclusão da Educação Patrimonial nessas categorias pode ser entendida
como um avanço, no entanto, ainda considero insuficiente. Outro aspecto desse
novo documento, é que em relação aos anteriores (de 2000, e de 2010) ele é mais
generalista, não fornece parâmetros específicos sobre como deve ser abordado
essa temática, bem como nenhuma outra temática, assegurando apenas, quais
temáticas devem ser abordadas na Educação Básica. Isso faz com que os
professores continuem utilizando as PCNs, publicações antigas e desatualizadas.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Superior são específicas
para cada curso graduação e, segundo o parecer CES/CNE nº 583/2001 devem
considerar o seguinte:
42
“1 - A definição da duração, carga horária e tempo de integralização dos cursos será objeto de um parecer e/ou uma resolução específica da Câmara de Educação Superior. 2 - As diretrizes devem contemplar: a) Perfil do formando/egresso/profissional – conforme o curso, o projeto pedagógico deverá orientar o currículo para um perfil profissional desejado; b) Competência/habilidades/atitudes; c) Habilitações e ênfases; d) Conteúdos curriculares; e) Organização do curso; f) Estágios e Atividades Complementares; g) Acompanhamento e avaliação” (BRASIL, 2001).
Não existem DCNs para todos os cursos de graduação. Algumas ainda
estão em fase de elaboração. Como, por exemplo, é o caso das graduações em
Arqueologia. A inexistência dessas diretrizes inviabiliza uma avaliação adequada
dos mesmos pelo MEC, impossibilitando, por exemplo, que sejam elaboradas as
provas do Exame Nacional de Avaliação de Desempenho de Estudantes (Enade),
que integra que integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes).
Considerando que uma das finalidades da Educação Superior é “promover a
divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade” (Del 9.394/96), e considerando que algumas profissões
lidam diretamente com o Patrimônio Cultural Nacional, suas atividades podem
prejudicar direta e indiretamente esse patrimônio. Resolvi examinar como o tema
Patrimônio estava sendo abordado, ou não, nas DCNs de algumas graduações que
tenham pareceres e/ou resoluções que estabelecem as Diretrizes Curriculares
Nacionais publicadas e divulgadas no Portal do MEC.
Para o cursos de graduação em Agronomia ou Engenharia Agronômica, as
diretrizes são regidas pelo Parecer CNE/CES nº 306, de 7 de outubro de 2004, e
pela Resolução CNE/CES nº 1, de 2 de fevereiro de 2006. De acordo com esses
textos o Projeto Político Pedagógico (PPP) dos cursos deve considerar os aspectos
políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, no âmbito nacional e
internacional. No entanto o termo patrimônio não é mencionado em nenhum
momento. Caberá assim a cada Instituição de Ensino Superior (IES) que mantiver o
curso de Agronomia incluir ou não o conteúdo Patrimônio, que está respaldado
como aspecto cultural, nos seus respectivos PPPs.
43
Para os cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo, as DCNs são
estabelecidas pelos seguintes documentos: Parecer CNE/CES nº 112/2005,
aprovado em 06 de abril de 2005; Resolução CNE/CES nº 6, de 2 de fevereiro de
2006; Parecer CNE/CES nº 255/2009, aprovado em 2 de setembro de 2009;
Resolução CNE/CES nº 2, de 17 de junho de 2010. Nesses documentos lemos que
esses cursos devem contemplar a preservação, conservação e valorização do
Patrimônio Arquitetônico/Edificado, o Patrimônio Paisagístico e o Patrimônio Natural.
Devendo os profissionais formados estarem aptos para lhe darem com essas
categorias de Patrimônio.
Para os cursos de graduação em Engenharias, as DCNs são fixadas pelo
parecer CNE/CES n.º 1.362, de 12 de dezembro de 2001, podendo haver outros
textos de acordo com a especificação da engenharia (civil, florestal, agrícola, etc.).
No caso das engenharias o processo é semelhante ao que ocorre no curso de
Agronomia. Não é mencionado o termo Patrimônio, e o texto leva em consideração
que os futuros engenheiros devem estar aptos a resolver problemas de ordem
social, cultural, ambiental, etc.
Caberia ainda a verificação de tantos outros cursos como Ciências Sociais,
Geologia, etc. Mas com o que lemos até aqui, já podemos constatar que a inclusão
da temática Patrimônio é facultativa ainda que prevista na LDB sua promoção e
divulgação na Educação Superior. E mesmo que esteja prevista nas DCNs, caberia
a verificação dos PPPs de cada curso em cada instituição.
Conclui-se até aqui, que a problemática de instituir a Educação Patrimonial
como disciplina ou campo de saber, e exigir que seja feita em projetos de
licenciamento ambiental perpassa pela falta de profissionais capacitados para
desenvolveram a EP.
44
3. EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA ARQUEOLOGIA BRASILEIRA
A falta de diretrizes para a Educação Patrimonial no Brasil permite que as
ações educativas acerca do patrimônio se reportem a uma categoria específica, ou
tantas quantas se queira. Ou seja, os projetos de EP não precisam necessariamente
abordar o Patrimônio Nacional como um todo. Nesse sentido, falar de Educação
Patrimonial na Arqueologia não é necessariamente falar de uma Educação
Patrimonial limitada ao Patrimônio Arqueológico, numa educação arqueológica, ou
promoção/divulgação da Arqueologia. No entanto, EP no âmbito da arqueologia
brasileira têm se desenvolvido enfocada no Patrimônio Arqueológico, e muitas vezes
apenas nele, ou seja, negligenciando outros tipos de patrimônio (histórico, natural,
imaterial, etc.).
A educação patrimonial na arqueologia brasileira vem sendo desenvolvida
por duas vertentes, através da Arqueologia Pública (Apb) e/ou através da
Arqueologia Preventiva (Apv). A Arqueologia Pública está intimamente ligada a
Arqueologia Acadêmica, ou seja, à pesquisas desenvolvidas nas instituições de
ensino e/ou pesquisa. Já a Arqueologia Preventiva está atrelada à
empreendimentos, perpassando pelo licenciamento ambiental, se caracterizando por
ações de salvaguarda do patrimônio arqueológico nas zonas de impacto desses
empreendimentos. Mas, antes de continuar falando sobre isso faz-se necessário
uma breve apresentação sobre o que é a Arqueologia e por consequência o que é o
Patrimônio Arqueológico (PA).
3.1. A Arqueologia, o Patrimônio Arqueológico e a Preservação Patrimonial
3.1.1. A Arqueologia
Segundo Funari (2003) a Arqueologia é uma ciência ainda e construção e,
por isso, não há consenso sobre o que é arqueologia, mas do seu ponto de vista a
Arqueologia é a ciência que:
45
“Estuda os sistemas socioculturais, sua estrutura, funcionamento e transformações com o decorrer do tempo a partir da totalidade material transformada e consumida pela sociedade. [...] tem como objetivo a compreensão das sociedades humanas e, como objeto de pesquisa imediato, objetos concretos” (FUNARI, 2003: p. 16).
Em outras palavras, a Arqueologia é a ciência que estuda sociedades
pretéritas, em todos os seus aspectos (cultural, político, etc.) através da cultura
material, ou seja, da materialidade que restou daquela sociedade, ou ainda dos
constituintes de um sítio arqueológico.
Também não existe consenso para a definição de sítio arqueológico. Segundo
Orton (2000 apud BICHO, 2006) cada arqueólogo possui uma definição particular.
Para Willey & Phillips (1958 apud BICHO, 2006) Sítio Arqueológico é “a unidade
espacial mais pequena utilizada por arqueólogos”, tal definição foi considerada por
Bicho (2006) muito vaga. Feder (1997 apud BICHO, 2006) definiu que “um Sítio
Arqueológico é uma zona descontínua e delimitada onde seres humanos viveram,
trabalharam ou aí tiveram qualquer atividade – e onde indícios físicos resultantes
dessas atividades podem ser recuperados por arqueólogos”. De acordo com Bicho
(2006) essa definição é bem difundida, porém limitada, apesar disso não apresenta
uma definição adequada para sítio arqueológico.
Podemos entender sítio arqueológico como um espaço delimitado, onde se
encontram bens arqueológicos. De acordo com Mcmanamon (1984 apud BICHO,
2006) existem cinco tipos de evidências [arqueológicas] que constituem um sítio
arqueológico, dos quais três são detectáveis pela visão humana e dois somente com
a ajuda de instrumentos. Os três constituintes detectáveis pela visão humana são os
artefatos (incluindo ecofatos), as estruturas e os solos antrópicos, ou seja,
elementos físicos e palpáveis. Os dois não identificáveis são as anomalias químicas
e as anomalias instrumentais, elementos vestigiais, fugazes.
No Brasil os monumentos arqueológicos e pré-históricos são definidos no
artigo 2º, da Lei nº 3.924, promulgada dia 26 de julho de 1961:
“Art. 2º Consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históricos: a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem testemunhos de cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias e quaisquer outras não especificadas aqui, mas de significado idêntico a juízo da autoridade competente.
46
b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos paleoameríndios tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha; c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de aldeamento, "estações" e "cerâmicos", nos quais se encontram vestígios humanos de interesse arqueológico ou paleoetnográfico; d) as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e outros vestígios de atividade de paleoameríndios” (BRASIL, 1961)
3.1.2. O Patrimônio Arqueológico e a Preservação Patrimonial
A legislação brasileira acerca do Patrimônio Arqueológico (PA), bem como o
patrimônio cultural como um todo, é influenciada por recomendações internacionais,
conhecidas como Cartas Patrimoniais, redigidas em congressos, simpósios,
conferências à nível mundial organizados pela Organização das Nações Unidas para
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), e/ou pelo Conselho Nacional de
Monumentos e Sítios (ICOMOS), e/ou pelo International Scientific Committee on
Archaeological Heritage Management (ICAHM)8.
De acordo com a Carta de Nova Delhi podemos entender os objetos de
caráter ou interesse arqueológico (vestígios, artefatos, sítios, monumentos) somente
se tornam patrimônio arqueológico, quando há interesse público de conservá-los do
ponto de vista da história ou da arte, sendo considerados bens protegidos pelo
Estado (UNESCO, 1956).
Sobre a gestão do patrimônio arqueológico, as Cartas Patrimoniais (DELHI,
1956; VENEZA, 1964; RESTAURO, 1972; BURRA, 1980; LAUSANNE, 1990)
reconhecem que os bens arqueológicos, têm importância histórica à nível mundial,
partindo da concepção de que a pré-história diz respeito a todos os Homens. E em
função disso recomendam que a Gestão do Patrimônio Arqueológico seja efetivada
por cooperação internacional. Que cada Estado/Nação crie leis específicas para
garantir a integridade desse patrimônio.
De acordo com a da Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, todo bem
arqueológico é considerado patrimônio da União e sob sua guarda está. Toda
8 Tradução: Comité Científico Internacional sobre Gestão do Patrimônio Arqueológico;
47
atividade atrelada a esse patrimônio deve ser comunicado e previamente autorizado
ao IPHAN/MinC, sob pena de multa e crime contra o patrimônio. Regulamentam
essas ações a Portaria SPHAN nº 07, de 01 de dezembro de 1988, e a Portaria
IPHAN nº 230, de 17 de dezembro de 2002.
A Portaria SPHAN 07/88 regulamenta os pedidos de permissão para
desenvolvimentos de pesquisa de campo e escavações arqueológicas. Geralmente
é utilizada no âmbito acadêmico.
A Portaria IPHAN 230/02 está atrelada a Arqueologia Preventiva, com
caráter de licenciamento ambiental, no caso licenciamento patrimonial, para
empreendimentos de qualquer natureza que afetem direta e/ou indiretamente, total
e/ou parcialmente o Patrimônio Arqueológico. A obtenção da licença está dividida
em três partes: 1ª) Fase de obtenção da licença prévia (EIA / RIMA); 2ª) Fase de
obtenção de licença de instalação (LI); 3ª) Fase de obtenção da licença de
operação.
Na Fase de obtenção da LP (EIA / RIMA) faz-se a contextualização
arqueológica e etnohistórica da área de influência do empreendimento por meio de
levantamento exaustivo de dados secundários e levantamento arqueológico de
campo. Faz-se também a avaliação dos impactos no patrimônio arqueológico. A
partir do diagnóstico do impacto elabora-se o programa de prospecção e resgate
compatível com o cronograma das obras e com fases de licenciamento ambiental do
empreendimento de forma a garantir a integridade do patrimônio cultural da área.
A Fase de obtenção da LI consiste em executar o programa de prospecção
fixado na fase anterior. O objetivo aqui é detalhar a área determinar o número de
sítios arqueológicos e estabelecer um programa de Resgate Arqueológico dentro do
que já foi proposto na EIA, o qual será executado na próxima fase.
A última fase em que se obtém a LO, implementa-se o empreendimento e
executa-se do Programa de Resgate Arqueológico detalhado na fase anterior. O
desenvolvimento dessa fase resulta em trabalhos de laboratório e gabinete (limpeza,
triagem, registro, análise, interpretação, acondicionamento adequado do material
coletado, Educação Patrimonial).
48
3.2. Educação Patrimonial e Arqueologia Pública
A princípio podemos, erroneamente, entender o termo ‘Arqueologia Pública’
como uma arqueologia estatal, desenvolvida pelo governo. O que não é o caso.
Genericamente podemos entender a Arqueologia Pública como apresentação da
arqueologia para o público Segundo Tasso & Ferro9 (2013) a Apb começou a ser
pensada em meados do século XX e ainda não existe consenso sobre este campo,
sendo frequentes os debates a respeito dos seus objetivos e metodologias.
Segundo Mcmanamon (1998 apud BEZERRA DE ALMEIDA,2003) a
arqueologia pública:
“[...] não se resume à divulgação dos resultados das pesquisas, uma vez que este é um dos pressupostos de qualquer ciência. Afinal, a ciência produz conhecimento para sociedade e não para si mesma. [...] engloba um conjunto de ações e reflexões que objetiva saber a quem interessa o conhecimento produzido pela arqueologia; de que forma nossas pesquisas afetam a sociedade; como estão sendo apresentadas ao público, ou seja, mais do que uma linha de pesquisa da disciplina, a Arqueologia Pública é inerente ao exercício da profissão” (BEZERRA DE ALMEIDA, 2003 apud MCMANAMON, 1998)
No sentido apresentado acima, a Apb perpassa pelo estreitamento dialógico
entre academia e sociedade. Dito de outra maneira, a Apb promove uma
aproximação entre a Arqueologia desenvolvida dentro das instituições de ensino
e/ou pesquisa (universidades, etc.) e a população (a sociedade). Sobre esse
aspecto Bezerra de Almeida (2003 apud BEZERRA DE ALMEIDA, 2001) destaca
que:
“A apresentação da Arqueologia para o público deixou de ser apenas importante e passou a ser premente. A razão reside na crescente destruição do patrimônio arqueológico registrado ao redor do mundo. No entanto, a destruição, seja por cidadãos comuns, seja por empresas privadas ou órgãos do governo, é o sintoma de um problema: a relação distorcida do público com o patrimônio arqueológico e, consequentemente, com a Arqueologia. O público, em sua maioria, acredita que a Arqueologia seja uma atividade exótica e, portanto, a vê, apenas como um divertimento. O patrimônio arqueológico, nessa perspectiva, não tem valor para o público a não ser como curiosidade. [...] Nosso compromisso profissional passa pelo imperativo de mostrar ao público uma Arqueologia que, longe de ser uma atividade de entretenimento, seja um instrumento na construção de sua
9 Pesquisadoras e colaboradoras do Laboratório de Arqueologia Pública – Paulo Duarte (LAP/NEPAM/Unicamp).
49
memória, de sua história, de sua identidade e de sua cidadania”. (BEZERRA DE ALMEIDA, 2003 apud BEZERRA DE ALMEIDA, 2001)
De acordo com Carvalho & Funari (2009) “existem diversas vertentes de
teorias e práticas dentro deste campo. E o que tange todas essas discussões é a
reflexão sobre como as pesquisas arqueológicas, realizadas dentro das academias
ou mesmo pelas empresas de Arqueologia, se relacionam com a sociedade”.
Citando Cornelius Holtorf, professor de Arqueologia da Universidade de Lund, na
Suécia, eles apresentam a existência de “três modelos gerais que caracterizam as
atuações dos arqueólogos dentro do campo da AP [Arqueologia Pública]: 1) o
modelo da Educação; 2) o modelo da Relação Pública e, por fim, 3) o modelo
Democrático. (HOLTORF, 2007, p.107 apud CARVALHO; FUNARI; 2009).
Para melhor compreensão de cada um desses vieses melhor seria ler na
integra o trabalho de Carvalho & Funari (2009), mas vou tentar sintetizar abaixo as
ideias que eles apresentam embasados por Holtorf (2007).
O modelo da Educação é influenciado pelo iluminismo, que concebe a
academia e a sociedade como esferas distintas. Dentro dessa perspectiva o
arqueólogo adota a postura de detentor de uma verdade, somente ele sabe como
era a vida no passado, na pré-história. E assim, a sociedade é instruída sobre seu
passado. “Não há debates entre os arqueólogos e a sociedade como um todo: os
únicos capazes de discutir o passado reconstruído pelos vestígios materiais, dentro
do modelo da Educação, seriam os arqueólogos e seus pares” (HOLTORF, 2007,
p.107 apud CARVALHO; FUNARI; 2009).
Exprime-se nesse contexto a lógica do patrimônio imposto, a lógica da
educação formal (mencionada no capítulo anterior) e tradicional, onde o educador,
em nosso caso o arqueólogo, é o detentor do saber, e a sociedade assume o papel
do aluno, um indivíduo sem luz que precisa ser iluminado, ou ainda vazio e que
precisa ser preenchido por esse conhecimento/saber arqueológico.
O modelo da Relação Pública se distancia da proposta anterior, Carvalho &
Funari (2009) apresentam que:
“A vertente da Relação Pública almeja melhorar a imagem da Arqueologia na sociedade. Isso para garantir o aval social que permite a continuidade dos próprios trabalhos arqueológicos. Holtorf afirma que esse viés da AP [Arqueologia Pública] compreende que muitas são as necessidades sociais
50
não necessariamente ligadas à ciência: questões como alimentação, saúde, habitação, segurança entre inúmeros outros problemas, podem se configurar, na maioria das vezes, como mais urgentes em financiamentos do que um projeto arqueológico. Assim, por uma questão de sobrevivência, torna-se imperativo demonstrar para a sociedade o quanto os trabalhos arqueológicos, e as memórias deles derivadas, são relevantes e, por isso, podem ser financiados com fundos públicos ou apoiados das mais diversas maneiras (HOLTORF, 2007, p. 114-119 apud CARVALHO; FUNARI; 2009).
A propaganda dos trabalhos arqueológicos, dentro do modelo Relação
Pública, é feita através das mídias: da televisão, passando por filmes e
documentários, até os jogos de computador, tudo é entendido como válido quando
se trata de divulgação (CARVALHO; FUNARI; 2009). Essa proposta é considerada
problemática, pois tende “à simplificação da Arqueologia e, principalmente, do
passado” (HOLTORF, 2007, p. 114-119 apud CARVALHO; FUNARI; 2009). Sobre
isso Carvalho & Funari reconsideram que:
“Para vender a Arqueologia como um produto, na maioria das vezes, apaga-se uma série de relações que podem ter existido no passado e que poderiam ser debatidas no presente. O passado tende a ser transformado em algo simples demais; tudo para que ele seja consumido. Nesse contexto, poderiam ser citados documentários exibidos pelos canais pagos de televisões, que, na maioria das vezes, são vinculados aos arqueólogos e, mesmo assim, valorizam situações por demais peculiares” (CARVALHO; FUNARI; 2009).
Além disso, essa abordagem pode levar com que a sociedade entenda a
Arqueologia como uma ciência oportunista. Que se utiliza do dinheiro público
injustificadamente, em detrimento do interesse nacional sobre aspectos sociais de
caráter urgente, como educação, saúde, alimentação, e etc.
O modelo Democrático foi eleito for Holtfort como a melhor vertente dentre
as três apresentadas. Ele afirma que o maior pressuposto deste modelo é a
valorização igualitária do conhecimento (HOLTFORT, 2007, p. 119-126 apud
CARVALHO; FUNARI; 2009) Sobre isso Carvalho & Funari destacam que Holtfort
segue “uma linha argumentativa muito semelhante à do educador brasileiro Paulo
Freire (1980), Holtorf advoga que todas as pessoas são detentoras de
conhecimentos válidos: esses saberes podem variar de acordo com a trajetória de
vida de cada um dos indivíduos, mas possuem igual importância” (CARVALHO;
FUNARI; 2009) Em concordância com Carvalho & Funari destaco a aproximação da
ideia de Holtfort com o conceito de Educação Popular de Freire & Nogueira (1999),
apresentado no capítulo II, onde o saber popular deve ser inserido nas discussões e
51
valorizado. E que por consequência aproxima-se também do conceito atual de
Educação Patrimonial10. Considero que Educação Patrimonial passa por esses
mesmo processos, por esses três modelos. No entanto, isso não está colocado de
forma clara. E nesse sentido, afirmo que a discussão da Apb está à frente da
discussão da EP para se consolidar enquanto campo de atuação. Há, contudo de se
considerar que a Apb está centrada unicamente no Patrimônio Arqueológico, e que
por sua vez a EP engloba diferentes categorias (naturezas/tipos) e subcategorias de
patrimônio11. E isso pode indicar que para a Educação Patrimonial existam não
apenas esses três vieses, mas também outros que não foram apresentados para a
Apb.
Outro aspecto interessante que vem sendo pensado da Apb são os
diferentes tipos de público. Pedro Paulo Funari (2008)12 destaca a existência de no
mínimo seis tipos de público leigo: 1. Ativistas – participantes de movimentos sociais
que têm interesses específicos na Arqueologia; 2. Mídia – público que tem acesso a
uma arqueologia muitas vezes distorcida via mídia; 3. Leitores de manuais
escolares; 4. Pessoas comuns da comunidade; 5. Crianças em idade escolar; 6.
Parentes das vítimas – tipo de público com parentes desaparecidos que às vezes
são encontrados em escavações arqueológicas, como, por exemplo, parentes das
vítimas de desaparecidos no período da ditadura (desaparecidos políticos). E é
responsabilidade do arqueólogo saber lhe dar com cada tipo de público, pensando
no modo como suas pesquisas e resultados irão influenciar a sociedade, atento ao
interesse de cada um, não preocupado em dizer o que o público quer ouvir, mas
atento ao fato que existem múltiplas interpretações sobre o passado.
10 Ver citação de IPHAN (2014) no Capítulo II; 11 O Patrimônio Cultural se divide em Material – tangível, ou Imaterial – intangível. Dentro da natureza material do patrimônio existem ainda subcategorias, que correspondem aos diferentes livros de tombo mantidos pelo IPHAN: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas artes; e das artes aplicadas. Cabe ainda outra classificação para bens materiais, se são móveis ou imóveis; 12 Para mais detalhes ler: FUNARI, Pedro Paulo Abreu; OLIVEIRA, Nanci Vieira; TAMANINI, Elizabete. Arqueologia Pública no Brasil e as Novas Fronteiras. In: APA – Associação Profissional de Arqueólogos. Praxis Archaeologica. Nº. 3, p. 131-138, 2008.
52
3.3. Educação Patrimonial e Arqueologia Preventiva
A Arqueologia Preventiva ou Arqueologia de Contrato, como já foi
mencionado anteriormente, é regulamentada pela Portaria nº 230/2002 do IPHAN.
As ações da Arqueologia Preventiva estão atreladas a trabalhos de licenciamento
ambiental, exigido para liberação de empreendimentos de diversas naturezas,
geralmente grandes obras de engenharia como construção de rodovias e/ou
ferrovias, de edificações diversas, construção de barragens, exploração de minério,
implantação de redes elétricas e etc. Para empreendimentos desse tipo é obrigatório
o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que por sua vez resulta no Relatório de
Impactos Ambientais (RIMA). A partir do EIA/RIMA são adotados uma série de
procedimentos para evitar, minimizar ou compensar os tipos de impactos gerados
por um empreendimento. Nesse contexto a Arqueologia Preventiva [de Contrato, de
Salvamento, de Restauração] fica incumbida por avaliar o impacto desses
empreendimentos sobre o Patrimônio Arqueológico, elaborar o programa de
salvaguarda e/ou proteção deste patrimônio, além de monitorar as obras durante
todo o período em que estejam ocorrendo. Esse tipo de avaliação já estava previsto
por lei desde 1961, quando foi promulgada a Lei 3.294. Com a promulgação dessa
portaria, as ações educativas sobre se tornaram obrigatórias.
De acordo com Marcia Bezerra (2010):
“O desenvolvimento de projetos educativos para a divulgação da Arqueologia no Brasil mobilizou, por décadas, apenas um reduzido número de pesquisadores. Com a criação da Portaria do Iphan – 230/2002 –, sua realização se multiplicou em razão da obrigatoriedade de inclusão de projetos de Educação Patrimonial (EP), no âmbito dos Projetos da chamada Arqueologia de Contrato no país. Em seis anos, o crescimento exponencial da Arqueologia de Contrato originou um volume, ainda não mensurado, de projetos de EP. Na ausência de parâmetros para a sua elaboração e avaliação, corre-se o risco de apresentar concepções equivocadas, tanto da Arqueologia, quanto da Educação. Em que pese o fato de que nenhum de nós arqueólogos têm a formação necessária para a criação desses projetos, não se justifica a pouca importância dada ao seu planejamento. A EP tem sido considerada como um acessório à pesquisa, e não como parte de uma nova agenda da Arqueologia. Isso se reflete na sua pouca representatividade nas publicações e congressos da área” (BEZERRA DE ALMEIDA, 2010, p. 1023).
53
Neste trecho, um dos problemas mencionado por Marcia Bezerra (op. Cit.) é
a falta de parâmetros para elaboração e avaliação desses projetos de EP realizados
no âmbito da Apv. Como já venho afirmando ao longo deste trabalho, não há
indicativo sobre que patrimônio esses projetos devem abarcar, se esses projetos são
destinados às áreas afetadas por um empreendimento, se esse projeto é um mero
meio de divulgação local do patrimônio ameaçado cuja população local às vezes
desconhece, sendo o patrimônio de domínio público e nacional caberia uma
divulgação a nível nacional. Ou seja, diversos problemas podem surgir devido à falta
de parâmetros/diretrizes para a Educação Patrimonial. Mas como foi possível
perceber no segundo capítulo desta obra, não existem diretrizes para a EP no Brasil,
seria esperar muito que existisse para a EP atrelada a Apv.
Outro problema mencionado por Marcia Bezerra (op. Cit.) é a formação dos
arqueólogos brasileiros, no que diz respeito à Educação e/ou Patrimônio. Até o ano
de 2004, os Arqueólogos atuantes no Brasil eram formados exclusivamente no
exterior, ou em cursos de pós-graduação. De acordo com o Portal e-MEC, do ano de
2004 até hoje, foram abertos e reconhecidos dez cursos de arqueologia, sendo nove
em nível de bacharelado13 e um a nível tecnológico14. Analisando as matrizes
curriculares desses cursos15 evidenciei, como se pode observar no quadro abaixo
(Quadro 1): a) que em média as matrizes apresentam duas disciplinas que abordam
a temática patrimônio; b) que a média para disciplinas pedagógicas tende a zero (=
0,25); c) que apenas metade dos cursos de arqueologia apresentam disciplinas que
abordem o tema Arqueologia Pública; d) e que menos da metade desses cursos
discutem sistematicamente sobre Arqueologia Preventiva. Ou seja, a falta de
formação adequada dos arqueólogos mencionada pela autora se mantém como
perfil dos novos profissionais.
13 Instituições de ensino superior que mantém curso de bacharelado em arqueologia: Universidade Federal de Sergipe (UFS), Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade Federal do Rio Grande (FURG), Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GOIÁS), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) e Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA); 14 Oferecido exclusivamente na Universidade do Estado do Amazonas (UEA). 15 Exceto da UNEB e UFOPA, cuja as matrizes curriculares não tive acesso.
54
Instituição Nº total de disciplinas
Nº de disciplinas
pedagógicas
Nº de disciplinas sobre o Patrimônio
Nº de disciplinas sobre Arqueologia
Pública
Nº de disciplinas sobre Arqueologia Preventiva
FURG 43 0 1 1 0
PUC GOIÁS 39 0 0 1 1
UEA 63 0 5 1 1
UFPE 44 1 3 1 0
UFPI 42 0 1 0 0
UFS 40 1 4 0 0
UNIR 53 0 3 0 1
UNIVASF 46 0 4 0 0
TOTAIS 370 2 21 4 3
Quadro 1 – Relação de disciplinas dos cursos de Arqueologia.
Fonte: Portal e-MEC
Outra problemática destacada por Marcia Bezerra (op. Cit.) é a falta de
interesse dos arqueólogos pela EP. Mesmo com a Arqueologia de Contrato
(preventiva, de salvamento) crescendo consideravelmente de 2002 pra cá, e com o
crescimento do volume de trabalhos de EP, ainda é inexpressiva a quantidade de
trabalhos apresentados em congressos de arqueologia sobre o assunto. Isso quer
dizer que esse crescimento no número de trabalhos de EP, atrelados a Apv se deu
desordenadamente, e em função da obrigatoriedade. Sobre este aspecto a autora
apresenta como exemplo um quadro (Quadro 2) com “O levantamento de trabalhos
de EP nos congressos da Sociedade de Arqueologia Brasileira [SAB], entre os anos
de 2001 e 2007, [que] demonstra o aumento da representação da EP nas reuniões,
mas aponta para a inexpressiva relação entre a totalidade dos trabalhos
apresentados e os trabalhos de EP” (BEZERRA DE ALMEIDA, 2010, p. 1026).
Quadro 2 - Apresentação de Trabalhos de EP nos Congressos da SAB 2001 – 2007. Fonte: Bezerra de Almeida, 2010, p. 1026
55
Por fim, caracterizando as ações de Educação Patrimonial atreladas à
Arqueologia Preventiva, destaco uma citação em Marcia Bezerra (2010) apresenta o
trecho de um “delicioso artigo” de Hilbert:
“Primeiro, os arqueólogos procuram convencer as pessoas da importância e dos inestimáveis valores da cultura material arqueológica que está na sua propriedade. Depois distribuem cartilhas em linguagens infantis, elaboram programas de educação patrimonial sem sentido para a comunidade local, até as ameaçam com multas e prisão em caso de desobediência às leis, e depois, quando finalmente os moradores do sítio arqueológico dão sinal de ter incorporado o discurso dos educadores patrimoniais, esses objetos tão valiosos e importantes, são levados embora pelos arqueólogos” (HILBERT, 2006, p.100 apud BEZERRA DE ALMEIDA, 2010, p. 1025).
Acredito que essa passagem descreve bem os projetos de EP deficientes,
que vem, em larga escala, sendo produzidos dentro da Arqueologia Preventiva.
Sobre toda essa problemática, em concordância com Marcia Bezerra (op.
Cit.) considero que Arqueologia de Contrato [preventiva, de salvamento, de restauro]
é Arqueologia. Nesse sentido ela também passa pelo compromisso profissional
proposto pela Arqueologia Pública.
56
4. EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL SERRA DA CAPIVARA
4.1. Caracterização do Parque Nacional Serra da Ca pivara e seu Entorno
De acordo com as informações obtidas nos sites16 da FUMDHAM e do
Instituto Chico Mendes (ICMBio), o Parque Nacional Serra da Capivara está
localizado no sudeste do Estado do Piauí, à cerca de 530 Km da capital do estado
(Teresina), ocupando áreas dos municípios de São Raimundo Nonato (SRN), João
Costa, Brejo do Piauí e Coronel José Dias. Abrangendo uma área de um pouco mais
que 129 mil hectares, com perímetro aproximado de 215 Km. A cidade mais próxima
do Parque Nacional é Cel. José Dias, sendo a cidade de São Raimundo Nonato o
centro urbano da microrregião que recebe o mesmo nome (Microrregião São
Raimundo Nonato).
O Parque foi criado em junho de 1979, por múltiplas motivações ligadas à
preservação de um meio ambiente específico e de um dos mais importantes
patrimônios culturais pré-históricos.
Na referida unidade de conservação, “acha-se uma densa concentração de
sítios arqueológicos, a maioria com pinturas e gravuras rupestres, nos quais se
encontram vestígios extremamente antigos da presença do homem (100.000 anos
antes do presente). Atualmente estão cadastrados 913 sítios, entre os quais, 657
apresentam pinturas rupestres, sendo os outros sítios ao ar livre (acampamentos ou
aldeias) de caçadores-coletores, são aldeias de ceramistas-agricultores, são
ocupações em grutas ou abrigos, sítios funerários e, sítios arqueo-paleontológicos”
(Portal da FUMDHAM).
O PARNA está situado em região semiárida, fronteiriça entre duas grandes
formações geológicas - a bacia sedimentar Maranhão-Piauí e a depressão periférica
do rio São Francisco - com paisagens variadas nas serras, vales e planície, com
vegetação de caatinga. A unidade abriga fauna e flora específicas e pouco
16 Para mais informações acessar o Portal da FUMDHAM <http://www.fumdham.org.br/> e o Portal do ICMBio <http://www.icmbio.gov.br/portal/>.
57
estudadas. Trata-se, pois, de uma das últimas áreas do semiárido possuidoras de
importante diversidade biológica. “A Portaria MMA nº 76, de 11 de março de 2005,
criou um Mosaico de Unidades de Conservação abrangendo os Parques Nacionais
Serra da Capivara e Serra das Confusões e o Corredor Ecológico conectando os
dois parques. A área total do Corredor Ecológico é de 414 mil hectares, abrangendo
os municípios de São Raimundo Nonato, Canto do Buriti, Tamboril do Piauí, Brejo do
Piauí, São Braz, Anísio de Abreu, Jurema, Caracol e Guaribas” (Portal ICMBio).
A presença do Parque na microrregião de São Raimundo Nonato tem
cooperado com o desenvolvimento da região, através do turismo. As paisagens, de
uma beleza natural surpreendente, com pontos de observação privilegiados, atrai
turistas do mundo inteiro.
Em 1991 a UNESCO, pelo seu valor cultural, inscreveu o Parque Nacional
na lista do Patrimônio Cultural da Humanidade. Em 2002 foi oficializado o pedido
para que o mesmo seja declarado Patrimônio Natural da Humanidade. Atualmente a
gestão do PARNA Serra da Capivara é compartilhada entre o ICMBio, a FUMDHAM
(LUZ, 2012).
Os projetos de pesquisa, e os projetos educativos direcionados ao entorno
da Serra da Capivara fazem menção a diferentes localidades. Para compreender
melhor as atividades que logo serão descritas trago aqui a definição/delimitação do
que é considerado entorno do Parque Nacional Serra da Capivara. Este trabalho
considera como Entorno a Área de Influência Direta (AID), que é a área
correspondente ao entorno direto do parque, compreendendo os municípios
limítrofes do mesmo: São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, Brejo do Piauí, e
João Costa. E a Área de Influência Indireta (AII), que correspondem a municípios
vizinhos da mesma microrregião, e os municípios que estão inseridos no corredor
ecológico, entre o Parque Nacional Serra da Capivara e o Parque Nacional Serra
das Confusões, por considera-los municípios sujeitos ao mesmo contexto
sociocultural e ambiental. Muitos dos quais também já foram abrangidos por projetos
de Educação Patrimonial do IPHAN, e/ou da FUMDHAM, e/ou UNIVASF.
Vejamos abaixo a relação de municípios limítrofes e do entorno do Parque
Nacional Serra da Capivara, contemplados por ações de educação patrimonial
desenvolvidas pelo Escritório Técnico I / 19ª Superintendência Regional do
58
IPHAN/PI, pela FUMDHAM e por docentes e/ou discente do curso de graduação em
Arqueologia e Preservação Patrimonial da UNIVASF.
Figura 1 - Relação de municípios limítrofes e do entorno do Parque Nacional Serra da Capivara, contemplados por ações de educação patrimonial desenvolvidas pelo Escritório Técnico I / 19ª
Superintendência Regional do IPHAN/PI, pela FUMDHAM e por docentes e/ou discente do curso de graduação em Arqueologia e Preservação Patrimonial da UNIVASF.
Crédito: Flávio de Araújo Carvalho
LEGENDA
Municípios do entorno do Parque Nacional Serra da Capivara onde foram desenvolvidas ações de Educação Patrimonial entre 2004 e 2014
Municípios limítrofes do Parque Nacional Serra da Capivara Municípios: 1- São Raimundo Nonato; 2- Brejo do Piauí; 3- João Costa; 4- Coronel José Dias; 5- São João do Piauí; 6- Capitão Gervásio Oliveira; 7- São Lourenço do Piauí; 8- Bonfim do Piauí; 9- Várzea Branca; 10- Anísio de Abreu; 11- São Braz do Piauí; 12- Jurema; 13- Caracol; 14- Guaribas.
59
4.2. Atividades Desenvolvidas pela FUMDHAM
A Fundação Museu do Homem Americano, é a instituição que está presente
na região do Parque Nacional Serra da Capivara há mais tempo. E em relação às
demais mencionadas nesse capítulo, é a que está mais intimamente relacionada ao
Parque. Sua equipe é diretamente responsável pela criação do PARNA, e também
pela sua gestão, em conjunto com o ICMBio.
De acordo com informações obtidas no Portal da FUMDHAM17 após a
criação do Parque Nacional Serra da Capivara, em 1979, nenhum profissional ou
funcionário foi designado para cuidar dele. Tal situação perdurou durante anos e
isso deu origem a uma destruição do meio ambiente, quando caçadores e
exploradores de madeira utilizavam o parque livremente. Sendo assim, no ano
de1986, os pesquisadores da Missão Franco Brasileira do Piauí, composta por
franceses da Mission Archéologique du Piauí e brasileiros da USP, Unicamp, UFPE
e UFPI, criaram a Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM), cujas
finalidades eram:
• Criar reservas técnicas para acolher todo o material coletado nos
trabalhos de campo;
• Criar um museu que mostrasse ao público os resultados das
pesquisas;
• Garantir a preservação das pinturas rupestres e do meio ambiente
do Parque Nacional;
• Intervir junto ao Governo Federal para conseguir que a proteção do
Parque Nacional fosse efetiva.
Desde então, a FUMDHAM firmou inúmeras parcerias para promover o
desenvolvimento e a diversificação dos programas de pesquisa, a proteção do meio
ambiente e do patrimônio arqueológico e a aplicação dos resultados das pesquisas
em programas de desenvolvimento regional. Diante desta realidade a FUMDHAM é 17 http://www.fumdham.org.br/
60
uma das responsáveis pela Preservação Patrimonial do Parque Nacional Serra da
Capivara. Salientando, que o mesmo é reconhecido como Patrimônio Cultural da
Humanidade, devido suas múltiplas potencialidades (natural/ambiental,
arqueológica, cultural, etc.).
Nesse contexto, desde sua criação a FUMDHAM desenvolveu diversas
atividades, inclusive ações de Educação Patrimonial, às quais passo a descrever.
O acesso aos relatórios de atividades de EP, apesar de autorizado pela
Diretora Presidente Niède Guidon, não foi consolidado. Pois, os mesmos estariam
guardados com terceiros, fora da instituição, quem de fato não viabilizou a vista dos
mesmos. Sendo assim, busquei outras fontes para levantar e analisar as atividades
de EP desenvolvidas pela FUMDHAM nos últimos dez anos, como monografias,
dissertações, teses, por meio de entrevista com funcionários, e algumas atividades
descritas em relatórios de instituições parceiras, como o IPHAN.
Sobre as atividades educativas especificamente, embora este trabalho
delimite-se apenas aos últimos 10 anos, acho importante mencionar os Núcleos de
Apoio às Comunidades (NACs), que antecedem a esse período.
De acordo com o trabalho de Marlene Costa18 (2011), que teve acesso ao
acervo da FUMDHAM, os NACs foram implantados pela FUMDHAM em convênio
com a ONG italiana, Terra Nuova, em meados de 1990, com a finalidade em
melhorar as condições de ensino básico e profissional na microrregião de São
Raimundo Nonato, e para minimizar o impacto e o agravamento dos problemas
sociais vivenciados por aquela população que foi desalojada pela criação do PARNA
(FUMDHAM, 1992 apud COSTA, 2011).
Segundo Marlene Costa (2011), os NACs:
“Incluíam além de escolas em tempo integral com a grade curricular obrigatória também oferecia aulas de educação ambiental, ecologia, arte-educação por meio da música, dança (ballet), capoeira. Disponibilizava alojamentos para educadores e educandos, postos de saúde, e cursos profissionalizantes para os moradores dessas regiões compreendidas entre Sítio do Mocó, Barreirinho, ambos no município de Coronel José Dias, Alegre, Porteirinha no município de João Costa e Serra vermelha em São Raimundo Nonato” (COSTA, 2011, p. 37).
18 Ex-monitora do Pró-Arte/FUMDHAM, graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Piauí – UESPI (2011), graduanda em Arqueologia e Preservação Patrimonial na UNIVASF.
61
Dentre vários aspectos interessantes desses núcleos, um é fundamental
para este trabalho, a tentativa bem sucedida de incluir a Educação Patrimonial na
grade curricular dessas escolas, ou seja, de incluir a EP na educação formal.
Infelizmente, esses núcleos atendiam uma pequena parcela da população, e
funcionou cerca de 10 anos. A diminuição dos recursos financeiros para realizar a
capacitação dos professores e a manutenção dos espaços físico dos núcleos forçou
a FUMDHAM a encerrar as atividades dos mesmos.
Com o fechamentos dos NACs a FUMDHAM passou a desenvolver projetos
de Educação Patrimonial de caráter educacional não-formal e/ou informal19, em
parcerias com outras instituições, como o IPHAN, a UNIVASF, Prefeituras, e etc.
Mas, antes de falar desses projetos, é importante ressaltar a existência do Museu do
Homem Americano, e do Centro Cultural Sérgio Motta.
O Centro Cultural Sérgio Motta, é a área da sede da FUMDHAM, onde estão
instalados os laboratórios, as reservas técnicas, uma biblioteca e os escritórios. Ali
são elaboradas as pesquisas de campo, armazenados os materiais
coletados/escavados, posteriormente estudados/analisados, e onde são produzidos
relatórios e textos para serem publicados dando um retorno a sociedade.
O Museu do Homem Americano mantém atualmente uma exposição
autoexplicativa, que promove a valorização do território denominado Berço do
Homem Americano, e concomitantemente a valorização do Parque Nacional Serra
da Capivara, e divulga os principais resultados das pesquisas desenvolvidas na
região. Como por exemplo, a teoria de povoamento das américas pelo atlântico. É
um espaço didático, muito utilizado por professores da região.
Em 2001, deu início a um projeto Socioeducativo através da arte, conhecido
como Pró-Arte/FUMDHAM. De acordo com Marlene Costa (2011):
“A causa maior da criação deste projeto foi a necessidade de valorização da cultura local. O Pró-Arte/FUMDHAM, surge como opção para dar continuidade ao programa de arte-educação que vinha sendo desenvolvido nas escolas dos NACs, após o fechamento das mesmas e promover a integração com o Museu do Homem Americano” (COSTA, 2011, p. 44).
19 Para compreender melhor esses conceitos ver capítulo II deste trabalho.
62
O Pró-Arte foi criado através do ‘Programa Cidadão 21 – Arte’, mantido pelo
Instituto Ayrton Senna e pela Empresa Brasileira de Telecomunicações
(EMBRATEL). De 2001 a 2004, funcionou utilizando-se do espaço físico da sede da
FUMDHAM, do Anfiteatro da Pedra Furada, e da Escola Ambiental do Povoado Sítio
do Mocó (Espaço Físico do NAC). Na impossibilidade de manter em dia a
manutenção da Escola Ambiental, a FUMDHAM disponibilizou um espaço físico no
centro do município de São Raimundo Nonato, onde era possível atender cerca de
150 crianças e adolescentes.
Mediante as análises de relatório e projetos arquivados na FUMDHAM,
Costa (2011) relata que as atividades do Pró-Arte se enquadravam três programas
correlacionados: Programa I, focado na formação continuada do público atendido;
Programa II, Arte e Ciência em Pesquisa, onde a arte era utilizada para divulgação
da ciência; Programa III, Eventos na Serra da Capivara, onde eram realizados
encontros, festivais com o intuito de divulgar e promover a valorização da cultura
local, como músicas, lendas, danças, etc. (COSTA, 2011, p. 46).
“No período entre 2002 a 2009 a parceria entre Instituto Ayrton Senna e a FUMDHAM possibilitaram a capacitação de educadores em arte-educação para o atendimento direto com os educandos que estavam assim estruturados entre crianças, adolescentes e jovens do entorno do Parque Nacional Serra da Capivara. Portanto, os três programas citados anteriormente estavam estruturados em um plano de trabalho com um itinerário formativo dividido entre básico: que compreendia as ações de segunda a sexta-feira com as crianças e adolescentes em contra turno escolar; O rotativo oferecia oficinas de aperfeiçoamento técnico, pesquisas contextualizadas aos sábados para a juventude e capacitações para educadores” (COSTA, 2011, p. 46).
Através do Pró-Arte/FUMDHAM, em parceria com o IPHAN e outras
instituições, com patrocínio da Telemar, do Governo do Estado do Piauí, e do
Ministério do Turismo, foram realizados três edições do Festival Internacional Serra
da Capivara (INTERARTES), nos anos de 2003, 2004 e 2005, e uma edição do
Festival Cultural Acordais, com patrocínio da empresa Oi, em 2010. Ambos
promovendo a valorização das manifestações culturais locais, e proporcionando à
população local o conhecimento de outras manifestações culturais do Brasil e do
Mundo.
A partir de 2009, a parceria com o Instituto Ayrton Senna findou-se. As
atividades desenvolvidas foram pouco a pouco enfraquecendo. De 150 crianças e
63
adolescentes, o Pró-Arte passou a atender apenas 30, diminuíram as atividades e
oficinas ministradas, tornando-se basicamente uma creche. Entre 2012 e 2013 as
atividades foram encerradas devido à falta de recursos para manter o projeto.
De acordo com a documentação a qual tive acesso via IPHAN, e por meio
de entrevista com funcionários, constatei que a FUMDHAM não manteve nenhum
projeto específico de Educação Patrimonial, de 2004 pra cá, a não ser o Pró-Arte.
No entanto, a EP esteve presente em suas ações, dentro de outros projetos, dentre
eles destacam-se três: O projeto ‘Arqueologia, História e Preservação Patrimonial –
Resgatando a cultura do Homem da Caatinga, na zona rural e urbana’ (2004 à
2007); O projeto ‘A Água e o Berço do Homem Americano’ (2007 à 2010); E um
mais recente conhecido até então como ‘Trilha dos Maniçobeiros’ (iniciado em
2013).
Nas ações do projeto ‘Arqueologia, História e Preservação Patrimonial –
Resgatando a cultura do Homem da Caatinga, na zona rural e urbana’, foi concebida
a ideia de um circuito turístico denominado ‘No Rastro da Maniçoba’, dentro dessa
perspectiva diversos sítios arqueológicos foram adaptados à visitação turística,
inclusive para cadeirantes. Entre os circuitos destaca-se a Trilha Interpretativa da
Fazenda Jurubeba. Trata-se de um conjunto de sítios arqueológicos, históricos e
pré-históricos, situados na região da antiga Fazenda Jurubeba, no município de
Coronel José Dias, numa área do entorno do Parque Nacional Serra da Capivara,
conhecida como Arkeópolis. As atividades desenvolvidas durante a última ocupação
da região são referentes ao período de exploração do látex da maniçoba, que
permitiu o desenvolvimento socioeconômico da microrregião de São Raimundo
Nonato. Além dos sítios preparados para visitação, foi organizado um museu a céu
aberto. A trilha apresenta placas que contam a história da região, e relata a
importância das atividades ali desenvolvidas para a região, o que torna a trilha
quase autoexplicativa. (OLIVEIRA; BUCO; IGNÁCIO, 2009).
64
Figura 2 - Trilha Interpretativa da Fazenda Jurubeba. Fonte : OLIVEIRA; BUCO; IGNÁCIO, 2009
Outra trilha desse circuito encontra-se em fase de instalação, trata-se da
‘Trilha do Maniçobeiros’. Ainda não há maiores informações sobre essa trilha,
segundo informações obtidas com a Drª Ana Stela, chefe do Escritório Técnico I do
IPHAN, em SRN, serão adaptados para visitação sítios históricos, resultantes da
ocupação maniçobeira da região do PARNA conhecida como Serra Branca, entre os
municípios de São Raimundo Nonato e Brejo do Piauí.
Segundo entrevista realizada com a contadora/administradora da
FUMDHAM, Sirleide dos Santos Ribeiro, as atividades de Educação Patrimonial
mais relevantes dos últimos 10 anos desenvolvidas pela instituição, estão atreladas
ao projeto ‘A Água e o Berço do Homem Americano (ABHA).
O projeto ABHA, foi realizado pela FUMDHAM, com patrocínio da Petrobrás,
através do Programa Petrobrás Ambiental, e do Governo Federal, em parceria com
outras instituições como o IBAMA, o IPHAN e a UNIVASF.
65
O ABHA teve início em 2007, durou três anos, e teve o relatório publicado
em 2011. Dentre os objetivos específicos dos projetos e as linhas de ação destaca-
se o trecho abaixo, que pode ser lido no Portal da FUMDHAM e no Folder do
projeto:
“O ABHA objetiva melhorar a gestão dos recursos hídricos na região dos Parques Nacionais Serra da Capivara e Serra das Confusões (Território Berço do Homem Americano) para promover o aproveitamento dos recursos naturais, ecológicos, turísticos e culturais. [...] Linhas de Ação
• Recuperação e conservação de reservatórios naturais de água; • Aumento da reserva de água potável nos períodos de grande
estiagem; • Implementação da gestão integrada dos recursos hídricos; • Promoção de práticas do uso racional da água (educação ambiental); • Proteção das nascentes do rio Piauí; • Mapeamento dos sítios arqueológicos e paleontológicos existentes no
Território Berço do Homem Americano; • Preservação e valorização dos vestígios arqueológicos do TBHA”.
O ABHA, sinteticamente, “desentupiu” lagoas, furou poços, e em algumas
localidades onde havia poços já furados, foram construídas estruturas com válvulas,
caixas d’água, pias, piso, cerca. A fim de evitar o derrame desnecessário de água, e
contaminação da fonte por fezes de animais, por exemplo. E concomitantemente,
realizou prospecção e escavações arqueológicas e paleontológicas, e a ações de
Educação Patrimonial e Ambiental nos povoados da região do Território Berço do
Homem Americano (TBHA).
De acordo com o Portal da FUMDHAM:
“O Território Berço do Homem Americano (TBHA) localiza-se a sudeste do estado do Piauí e corresponde à cerca de 3,4 % da área total do Estado. Os sete municípios selecionados pelo projeto têm forte ligação com a Serra das Confusões, Serra da Capivara e/ou com o corredor ecológico que as une. Ambas as Serras apresentam áreas delimitadas que constituem unidades de conservação permanente. Achados arqueo-paleontológicos com datações de até 100.000 anos permitem definir esta região como Território Berço do Homem Americano. O TBHA está localizado em uma área de transição dos biomas Cerrado e Caatinga, onde a Floresta Estacional participa desta transição como vegetação dominante. Os municípios beneficiados pelo Projeto são: São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, São Lourenço do Piauí, São Braz do Piauí, Anísio de Abreu, Jurema e Caracol, como mostra o mapa a seguir” (Trecho extraído do Portal da FUMDHAM).
66
Figura 3 - Território Berço do Homem Americano (TBHA) e municípios atendidos pelo projeto ABHA.
Fonte : Portal da FUMDHAM
As ações de Educação Patrimonial do ABHA consistiram em palestras nas
escolas dos municípios abrangidos, às vezes em outros espaços como praças.
Oficinas de Arte-Educação. Visitas monitoradas ao Museu do Homem Americano e
ao Parque Nacional Serra da Capivara. Uma particularidade do ABHA que se
destaca, é o fato de ter sido o projeto que mais abrangeu municípios e povoados. Ou
seja, cujas ações de Educação Patrimonial chegaram a mais pessoas.
Durante a entrevista com a contadora/administradora da FUMDHAM,
perguntei a ela qual eram as principais dificuldades e desafios para desenvolver
projetos na região. Eis abaixo sua fala:
“Além dos recursos financeiros, o principal problema foi a falta de apoio político dos gestores locais e por outro lado o envolvimento equivocado de alguns desses políticos. Alguns mentiam, dizendo que eram responsáveis pelo projeto ABHA, de forma que os adversários políticos não participavam
67
das atividades. Outros não ajudavam a divulgar, e ao chegar da equipe a população não estava informada e não se fazia presente. Por outro lado algumas prefeituras forneciam ônibus para transporte da população” (Sirleide Santos – Contadora da FUMDHAM – entrevista cedida à UNIVASF).
Conforme podemos perceber, a principal dificuldade para o desenvolvimento
de projetos de Educação Patrimonial e/ou Ambiental, bem como de qualquer outro, é
a falta ou escassez de recurso financeiro. E a falta de envolvimento/interesse dos
gestores/políticos.
4.3. Atividades Desenvolvidas pelo IPHAN
O Escritório Técnico I / 19ª Superintendência do Regional do IPHAN foi
instalada no município de São Raimundo Nonato-PI no ano de 2004. O escritório
atende demandas de todo Piauí. Várias atividades de educação e preservação
patrimonial e ambiental foram desenvolvidas de 2004 até os dias de hoje,
especialmente na microrregião de São Raimundo Nonato, no entorno do Parque
Nacional Serra da Capivara. As atividades aqui citadas, foram elencadas a partir da
leitura dos relatórios mantidos na biblioteca do próprio escritório, e de entrevistas
com funcionários. Passo, agora a descrever as atividades de Educação Patrimonial
desenvolvidas pelo IPHAN na região, nos últimos 10 anos, incluindo a Educação
Ambiental, entendendo que a temática está abrangida pelo termo Patrimônio,
seguindo uma linha do tempo, do mais antigo para o mais recente.
No primeiro ano do escritório (2004), não foram executados projetos, ou pelo
menos, não foram arquivados relatórios desses projetos. Esse fato deve-se ao
contexto de instalação do escritório, tornando 2004 um ano marcado pelo
planejamento, organização e estruturação do IPHAN na região.
No ano de 2005 foi elaborado e teve início desenvolvido o Projeto
‘Preservação e Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico da área do entorno do
Parque Nacional Serra da Capivara’; dentro dele o ‘Programa de Educação
Patrimonial no Entorno do Parque Nacional Serra da Capivara’; a principal ação
desenvolvida dentro desse programa consistiu em oficinas de Educação Patrimonial
68
na área de abrangência direta (São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, João
Costa) em povoados limítrofes com o PARNA.
Ainda no mesmo ano (2005) foi proposta a criação do ‘Centro de Memória
da Serra da Capivara’ (CEMO), a concepção do CEMO englobava:
• PROPEP: Programa Permanente de Educação Patrimonial:
o PEC – Programa Escola Comunidade;
o “Oi vizinho(a)!!!”;
o Divulgação;
• CEDOC: Centro de Documentação
o Laboratório de História Oral (gravação, transcrição, fichas de
autorizações, etc.);
o Acervo Midiático (jornais, revistas, boletins, documentários de
TV, Rádio, Internet, etc.);
o Acervo Iconográfico (fotos e imagens);
o Organização de Arquivo Público Municipal junto aos órgãos
governamentais da região;
• PROLIVRO: Produção de bibliografias como:
o Paradidáticos para professores;
o Cartilhas e/ou GIBI para crianças e adolescentes;
o Produção de História Local (através do “PEC”);
• PROMÍDIA: (definir uma programação dedicada à Educação
Patrimonial – Cultural/Ambiental – nas rádios locais, portais, etc.).
Dentro da perspectiva desses projetos, no mesmo ano (2005) foi dado início
à pesquisa documental na região de São Raimundo Nonato para construção de um
material paradidático patrimonial, intitulado ‘Cadernos de Cultura’; Foi desenvolvida
a campanha ‘Povo educado, cidade limpa’, em parceria com a UNIVASF e a
69
FUMDHAM; Oficina de Xilogravura com a artística plástica Yolanda Carvalho, dentro
da concepção de arte-educação (educação através da arte); E a produção de
material de divulgação - folhetaria informativa.
Em 2006, ainda dentro do o Projeto ‘Preservação e Diagnóstico do
Patrimônio Arqueológico da área do entorno do Parque Nacional Serra da Capivara’
e da proposta de criação do CEMO foi realizado o Levantamento da Cultural
Imaterial: São Raimundo Nonato-PI e Macrorregião, também em parceria com a
UNIVASF e a FUMDHAM. E publicada a cartilha ‘Patrimônio cultural: o que é, como
preservar’, distribuída e trabalhada com escolas da rede pública.
No ano de 2007, ocorreu a troca de chefia no escritório técnico do IPHAN,
contudo, as propostas iniciais foram mantidas. Nesse ano houve duas publicações: o
livro ‘Levantamento da Cultural Imaterial: São Raimundo Nonato-PI e Macrorregião’,
resultado da pesquisa realizada no ano anterior; e a publicação do Caderno de
Cultura ‘São Raimundo Nonato: memória e patrimônio – Serra da Capivara’, que
trata sobre história local, sobre o patrimônio edificado, a cultura imaterial e da
legislação acerca do patrimônio.
Em 2008, foi publicada a Cartilha ‘Conhecendo o nosso Patrimônio’, foram
realizadas oficinas de EP nos municípios de Pedro II e Castelo do Piauí, os quais
não se localizam na área de abrangência da Serra da Capivara.
Também em 2008, foi dada a continuação do ‘Programa de Educação
Patrimonial no entorno do Parque Nacional Serra da Capivara’, com o
desenvolvimento de atividades de Arte-Educação (oficinas de: música, desenho,
capoeira, arqueologia – lascamento e simulação de escavação, pintura, Lugares da
memória); Palestras sobre a Serra da Capivara, o Patrimônio Imaterial, a História da
Cidade de São Raimundo Nonato, sobre o Patrimônio Edificado, sobre Proteção do
Patrimônio e sobre Educação Ambiental, nas escolas de São Raimundo Nonato,
Coronel José Dias, Gervásio de Oliveira e João Costa; Visitas monitoradas ao
Museu do Homem Americano e ao Centro Cultural Sérgio Motta da FUMDHAM; E a
exibição (cine-debate) do filme ‘Narradores de Javé’.
Em setembro de 2008, foi realizado o evento ‘Cultura e Educação
Patrimonial para a sociedade’ em Coronel José Dias e João Costa do Piauí, com a
70
realização de visitas monitoradas ao Parque, oficinas de arte-educação, palestras,
exibição do filme ‘Narradores de Javé’, apresentação da Banda Pró-Arte FUMDHAM.
O ano de 2009 foi bastante intenso para escritório técnico do IPHAN. Entre
Janeiro e fevereiro foi realizada uma Oficina de Educação Patrimonial em São João
do Piauí, concomitante ao Festival da Uva; Foi firmada uma parceria com a
Secretaria Municipal de Educação de São Raimundo Nonato (SEMEC), com intuito
de trabalhar a cartilha ‘Conhecendo Nosso Patrimônio’ com alunos e professores
durante o ano letivo de 2009. Em abril de 2009 foi feito o lançamento oficial dessa
cartilha e a distribuição de Kits para as escolas da rede pública, contendo as
seguintes publicações20: ‘Parque Nacional Serra da Capivara’, ‘Patrimônio Cultural, o
que é, e como preservar?’, ‘São Raimundo Nonato: memória e patrimônio – Serra da
Capivara’, ‘Levantamento da Cultura Imaterial – São Raimundo Nonato e
Macrorregião’. ‘Liberdade e Saúde: animais silvestres livres: pessoas saudáveis’,
‘Macacos-prego: Parque Nacional Serra da Capivara’ para que fossem utilizados
como material de apoio para os professores.
Ainda em 2009, com apoio da Prefeitura Municipal de SRN, que cedeu
ônibus para transportar alunos e professores; E em parceria com a FUMDHAM e
IBAMA, foram realizadas visitas monitoradas e gratuitas ao Museu do Homem
Americano, e visitas monitoradas e gratuitas ao PARNA Serra da Capivara.
Foram proferidas21 as seguintes palestras nas escolas da área de
abrangência direta do PARNA: ‘Parque Nacional Serra da Capivara’, ‘Patrimônio
Imaterial’, ‘História da Cidade de São Raimundo Nonato’, ‘Patrimônio Edificado’ e
‘Proteção do Patrimônio e Educação Ambiental’.
Em junho de 2009, durante o Festival de Inverno de Pedro II, foi ministrada
uma oficina de Educação Patrimonial e palestra para condutores de visitantes na
região.
20 Publicações do IPHAN, FUMDHAM e IBAMA. 21 Palestras proferidas por Ana Stela de Negreiros Oliveira e pela estagiária Shirlene Matos – na época, graduanda em arqueologia pela UNIVASF.
71
Em julho de 2009 foi realizada a Semana Pedagógica da SEMEC, evento no
qual o IPHAN ministrou a oficina pedagógica “Patrimônio Regional: nas entrelinhas
do saber e da Educação” para professores da rede municipal de SRN.
No ano de 2010 deu-se continuação às atividades desenvolvidas em 2009,
nas escolas que ainda não haviam sido contempladas com as ações de EP. A partir
deste ano percebe-se uma diminuição considerável no volume de atividades
desenvolvidas. Segundo a Drª. Ana Stela, chefe do Escritório Técnico I do IPHAN de
SRN isso se deve ao fato da inviabilização das diárias e outros recursos financeiros
outrora assegurados pelo IPHAN, a impossibilidade de pagar bolsas e diárias fez
diminuir o recurso humano, pois bolsistas, estagiários, estudantes e parceiros não
apresentaram interesse em desenvolver atividades como voluntários. Ela aponta
ainda que essa é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelo escritório ainda
hoje. Outro motivo, que dificultou a execução de atividades de EP, foi o fechamento
do Projeto sócio educativo da Fundação Museu do Homem Americano (Pró-
Arte/FUMDHAM), do qual os monitores eram parceiros do IPHAN em diversas
atividades, como na organização de festivais culturais.
De 2011 a 2013, a atuação do IPHAN consistiu, principalmente em apoiar
projetos de outras instituições como a FUMDHAM e a UNIVASF.
Em 2011 foi desenvolvido em parceria com a UNIVASF, na pessoa da
professora Fátima Barbosa e do, então graduando em arqueologia, Getúlio Alípio, o
projeto ‘Educação Patrimonial e Ambiental na área arqueológica do Parque Nacional
Serra da Capivara’. Onde a bolsista do Programa de Especialização em Patrimônio
(PEP), Carolina Luz, lotada então na unidade, e os já citados, autores do projeto,
realizaram palestras nas Unidades Escolares José Leandro Deusdará, e Madre
Lúcia, bem como no SESC da cidade de SRN e no Campus local do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).
Em 2012 foram realizadas palestras nas escolas da rede escolar municipal
de SRN, e no IFPI, sobretudo sobre a história de SRN, devido ao fato de 2012 ter
sido ano de comemoração do centenário da cidade. Foi realizada também, em
parceria com o Pró-Arte FUMDHAM, uma exposição histórica sobre o município. E a
doação de livros e revistas sobre o patrimônio local.
72
Em 2013, o escritório técnico se restringiu a apoiar o Projeto de Educação
Patrimonial da Associação de Condutores de Visitantes do Parque Nacional Serra
da Capivara (ACOVESC), e apoiar Projeto Trilha dos Maniçobeiros da FUMDHAM.
Sobre os referidos projetos, ainda não foram divulgados maiores detalhes pelas
instituições autoras.
Durante o ano de 2014, pretende-se trabalhar a temática da Exploração da
Maniçoba, importante fato histórico para formação e desenvolvimento do município
de SRN, nas escolas dos assentamentos Sítio Novo e Nova Jerusalém, uma vez
que os mesmos estão localizados bem próximos da Trilha dos Maniçobeiros. Essa
ação faz parte do trabalho da atual bolsista do PEP/IPHAN, em parceria com a
SEMEC.
Também para 2014, no município de Coronel José Dias, o IPHAN dará apoio
a uma unidade escolar que aderiu ao Programa Mais Educação do MEC, optando
por trabalhar com a temática sobre patrimônio dentro das perspectivas apresentadas
pela cartilha do próprio programa.
Como podemos perceber ao observar a descrição das atividades de
Educação Patrimonial desenvolvidas pelo IPHAN nos últimos 10 anos, o tema
Patrimônio vem sendo trabalhado na transversalidade, tendo como público alvo
principal professores e estudantes da rede pública de ensino do entorno do Parque
Nacional Serra da Capivara. De acordo com a Drª Ana Stela, chefe do presente
escritório, ocorreram tentativas do IPHAN de inserir uma disciplina de
Educação/Preservação Patrimonial nas grades curriculares das escolas na área de
influência do PARNA, porém a ideia não foi bem recebida pelos gestores locais, que
alegam não ter professores capacitados para ministrar tal disciplina, o que resultaria
num gasto para qualificar esses profissionais ou então fazer novos concursos ou
contratações, e as prefeituras não teriam recursos para isso. Ela informou ainda que
no município de Coronel José Dias, em uma das escolas municipais, a disciplina foi
incluída, porém o professor que era responsável se ausentou da cidade, desta
maneira a disciplina é ofertada, mas na porção destinada a sua carga-horária são
realizadas excursões ao PARNA e ao museu. Essa passagem reforça a informação
dada pela Drª Ana Stela, de que as principais dificuldades para realização de ações
73
e projetos de EP na região é a escassez de recursos humano e financeiro, e a
dificultosa parceria com as prefeituras/gestores.
Sobre a autoria especifica de cada projeto desenvolvido dentro do IPHAN,
não foi possível extrair informações precisas através da análise dos relatórios, e por
isso as autorias não foram mencionadas. Nos relatórios analisados as ações
aparecem como atividades do IPHAN. O que se sabe que 2004 a 2007 a chefe do
escritório do IPHAN na localidade era a pesquisadora Cristiane Buco, e a partir de
2007 a gestão é feita pela Drª Ana Stela.
4.4. Atividades Desenvolvidas pela UNIVASF
O curso de graduação em Arqueologia e Preservação Patrimonial da
UNIVASF, foi instalado em São Raimundo Nonato, em 2004, utilizando-se
inicialmente o espaço físico da FUMDHAM até a construção do campus Serra da
Capivara.
Fazer o levantamento das atividades de Educação Patrimonial
desenvolvidas pelo CARQUEOL/UNIVASF foi uma das tarefas mais difíceis deste
trabalho. Esse fato se deve à ausência de relatórios no acervo local. A partir da
Biblioteca do Campus Serra da Capivara, foi possível fazer basicamente o
levantamento das pesquisas monográficas depositadas, observando quais foram
produzidas acerca da temática do Patrimônio. Para complementar o banco de dados
dessa pesquisa foi necessário entrevistar docentes e discentes, a fim de levantar
outros trabalhos de EP, bem como o interesse dos professores e estudantes pela
temática do Patrimônio. O maior problema desse levantamento, feito através da
técnica da história oral foi a alta rotatividade de estudantes e professores, que não
estiveram presentes no campus durante todo o período dos 10 anos. Bem como a
falibilidade da memória, onde nem sempre lembramos de fatos ocorridos há algum
tempo atrás. Dito isto há de se considerar que é possível que algumas atividades
não se encontrem aqui descritas.
Sobre os trabalhos monográficos, deve-se considerar que os primeiros
trabalhos começam a ser depositados em 2009, dado o fato da conclusão do curso
74
se dar em no mínimo quatro anos. Foram considerados trabalhos depositados entre
2009 e fevereiro de 2014, que constam na lista de Trabalhos de Conclusão de Curso
(Anexo D) (TCCs), fornecido pela bibliotecária e documentalista do Campus Serra da
Capivara, Ana Paula Lopes da Silva.
Gráfico 1 - Temáticas abordadas nos TCCs
De acordo com essa lista foram depositadas 54 TCCs do Curso de
Arqueologia e Preservação Patrimonial. E conforme podemos observar no gráfico
acima (gráfico 1), o tema Patrimônio não é o principal. Podemos observar no quadro
abaixo (quadro 3) que não há um padrão acerca da concentração/distribuição dos
temas abordados de 2009 pra cá.
Temática 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Patrimônio 2 0 3 0 2 1
Registro Rupestre 4 11 2 2 1 0 Arqueologia Histórica 4 1 0 0 2 0
Pré-história 5 5 1 1 0 0
Teoria e Métodos 1 1 1 1 2 0
Bioarqueologia 0 0 1 0 0 0 Quadro 3 - Concentração dos temas das TCCs por ano
75
O fato é que Patrimônio não é a temática principal. Dentre os trabalhos
listados nenhum trabalha especificamente a Educação Patrimonial. Os trabalhos
consistem no levantamento do Patrimônio Edificado e do Patrimônio Imaterial de
diferentes localidades, algumas dessas na região de abrangência do Parque
Nacional Serra da Capivara. Sobre isso observa-se um descompasso com a
preferência atual indicada pelos discentes de arqueologia (ver gráfico 2). De acordo
com as respostas fornecidas nas entrevistas a principal linha de interesse, dos
atuais alunos, é Educação/Preservação Patrimonial. É possível supor que nos
próximos anos, exista uma maior concentração de trabalhos nessa temática. Vale
destacar que os alunos que responderam, não são os mesmos que depositaram
suas monografias. E no que diz respeito às entrevistas com os discentes do
CARQUEOL, é importante dizer que apenas 25% respondeu a enquete e autorizou a
divulgação dos resultados.
Gráfico 2 - Principais linhas de interesse dos graduandos em Arqueologia e Preservação Patrimonial
da UNIVASF, indicadas na entrevista
76
Sobre os projetos de EP desenvolvidos por docentes e discentes do curso
de Arqueologia e Preservação Patrimonial da UNIVASF. Enquanto discente,
participei ativamente como membro do Programa de Educação Tutorial (PET) em
Arqueologia, cujo o Tutor é o professor Dr. Celito Kestering; E também de projetos
desenvolvidos dentro das disciplina: Educação Ambiental, ministrada pela
Professora Ms. Fátima Barbosa; na disciplina Preservação Patrimonial I, ministrada
pela então professora Ms. Pávula Maria; e na disciplina Preservação Patrimonial IV,
ministrada pela professora Drª. Selma Passos, orientadora deste trabalho.
As atividades do grupo PET-Arqueologia/UNIVASF foram desenvolvidas
dentro do projeto ‘Escavando História: São Raimundo Nonato além dos 100 anos’. O
objetivo do programa é permitir uma formação aprimorada, potencializando a prática
da pesquisa, do ensino e da extensão universitária. Dentro dessa perspectiva o
grupo PET-Arqueologia/UNIVASF busca contar e/ou recontar a história da região de
São Raimundo Nonato através da Arqueologia, proporcionando aos discentes
bolsistas e voluntários o exercício prático da pesquisa arqueológica, e uma
aproximação entre a academia e a comunidade, através da extensão. Sendo assim,
o grupo PET organizou duas exposições arqueológicas, que além de homenagear a
cidade de SRN na ocasião do seu centenário, possibilitou a visualização da
ocupação maniçobeira na região, fato histórico tão importante para o
desenvolvimento econômico e social da região. Foram realizados palestras, oficinas
e cine debate (Cine-PET). E a maior conquista do grupo PET, foi a publicação da
Cartilha, que recebe o mesmo nome do projeto ‘Escavando História: São Raimundo
Nonato além dos 100 anos’. Essa cartilha foi distribuída para a escolas de São
Raimundo Nonato, e serão trabalhas durante este ano (2014).
As atividades desenvolvidas pela Professora Maria Fátima Ribeiro Barbosa
na disciplina de Educação Ambiental consistem em visitas às escolas da área de
abrangência da Serra da Capivara, promovendo palestras, oficinas, teatro que
ensinam a preservar o meio ambiente que constitui o patrimônio natural/ambiental
da humanidade, enfatizando a importância do Parque Nacional Serra da Capivara
para o desenvolvimento da região, e assim a valorização desse patrimônio. A
professora Fátima também foi responsável por outras atividades de EA e EP que
serão descritas mais à frente.
77
A atividade desenvolvidas pela ex-professora do CARQUEOL, Pávula Maria,
na disciplina Preservação Patrimonial I, em 2011 (período letivo 2011.1), consistiu
no levantamento do Patrimônio Edificado, caracterizando-os quanto as patologias
que afetavam até então esses imóveis, e contextualizando historicamente a partir de
fotos, texto e da história oral. A professora Pávula também desenvolveu outras
atividades que também serão descritas mais à frente. Sobre esta, especificamente,
os relatórios não foram deixados no campus. A atividade foi realizada como critério
avaliativo na disciplina, sendo os relatórios provas documentais. É possível que os
discentes que cursaram a disciplina nessa ocasião detenham seus respectivos
relatórios.
A atividade desenvolvida pela Professora Selma Passos, na disciplina
Preservação Patrimonial IV (2013), teve um cunho educativo (ensino), objetivando
treinar os discentes que cursaram a disciplina na ocasião, sobre como estudar
tecnicamente e interpretar o Patrimônio Edificado, realizando o registro fotográfico,
desenhando plantas, croquis, identificando técnicas e momentos construtivos, enfim
as peculiaridades de um imóvel histórico. Outros trabalhos da professora Selma
Passos também serão descritos mais à frente.
Até então, as atividades descritas foram por mim vivenciadas. Para ter
acesso a outras atividades, desenvolvi dois questionários, um destinado aos
docentes do CARQUEOL e outro aos discentes, como já foi informado
anteriormente. O intuito principal dessa enquete foi levantar outros projetos que
foram desenvolvidos por professores e estudantes, mas que por algum motivo não
se tem registro no acervo da biblioteca do campus Serra da Capivara. A partir desse
levantamento, pude então procurar entrevistar discentes e docentes específicos,
identificados como autores, ou colaboradores nesses projetos.
Tenho conhecimento, que a professora Gisele Daltrini Felice, desenvolveu
ações educativas dentro da disciplina de Educação Ambiental. Tentei entrevista-la
por e-mail para buscar maiores detalhes dessas ações, porém não obtive resposta
em tempo hábil.
Nos questionários respondidos pelos discentes foram mencionadas oito
atividades. A cartilha PET, e as atividades das disciplinas de Educação Ambiental e
Preservação Patrimoniais já mencionadas. E os projetos: ‘Casa de Farinha’ da
78
Professora Selma Passos; ‘Educação Patrimonial e Ambiental na área Arqueológica
do Serra da Capivara, PI’ do discente Getúlio Alípio; o projeto de extensão
‘Patrimônio Cultural e Turismo Comunitários em áreas quilombolas: o sítio
arqueológico e paleontológico Lagoa do São Vitor sob a ótica da ciência e da
sabedoria popular’, desenvolvido pela Professora Nívia Paula de Assis; E outras
atividades indicadas sem nome, que serão apresentadas à frente.
Nos questionários respondidos pelos docentes foram mencionados os
mesmos projetos já indicados acima, e os seguintes demais: ‘Patrimônio Rural’, da
professora Selma Passos; ‘Educação Patrimonial no município de São Bráz do
Piauí’, do professor Mauro Farias; ‘Salvamento, monitoramento arqueológico e
educação patrimonial na área do parque eólico sobradinho – município de
Sobradinho / Bahia’, do professor Celito Kestering, que apesar de mencionado não
corresponde ao contexto deste trabalho; Foi mencionado também que as ex-
professoras do CARQUEOL, Pávula Maria, e Elaina Ignácio desenvolveram projetos
enquanto professoras, porém não foram relatados os nomes.
A partir dessas indicações pude entrevistar alguns professores, ex-
professores, alunos e ex-alunos para obter maiores detalhes dos projetos e
atividades mencionadas. Nem todos foram entrevistados, pois não consegui entrar
em contato com alguns, e de outros não tive resposta em tempo hábil.
Os projetos ‘Casa de Farinha’ e ‘Patrimônio Rural’, desenvolvidos pela
professora Selma Passos, mencionados nas enquetes, nasceram dentro das
disciplinas de Preservação Patrimonial. Segundo informações cedidas pela própria
professora, ambos estão em fase de elaboração, para que se configurem como
projetos de extensão oficiais da UNIVASF. O projeto ‘Patrimônio Rural’, a princípio,
foi um mapeamento de casas rurais, que foram “engolidas” pelo crescimento urbano.
Posteriormente as casas são fotografadas, desenhadas, descritas e caracterizadas
de acordo com seus atributos construtivos, e são desenvolvidas entrevistas com a
população para registrar as memórias em relação a esses imóveis. O projeto ‘Casa
de Farinha’, deriva do primeiro projeto, e é específico. Está sendo desenvolvido em
parceria com a Prefeitura de Bonfim do Piauí. Consiste num levantamento,
mapeamento e análise das Casas de Farinha que existem ou existiram no município,
para que a partir desse estudo se possa construir a réplica de uma Casa de Farinha,
79
um verdadeiro monumento que conte um pouco da história e da cultural local. Um
espaço voltado à visitação turística, promovendo a valorização e a divulgação do
patrimônio. Embora não tenha sido mencionados nas entrevista, também foram
desenvolvidas ações de EP e EA dentro da disciplina de Preservação Patrimonial III.
Dois desses trabalhos foram apresentados no evento II Exposição e I Ciclo de
Palestras do Grupo PET-Arqueologia (2013).
A professora Selma manteve ainda outro projeto na área de Preservação
Patrimonial, entre agosto de 2010 e dezembro de 2012. O Projeto intitulado
‘Memórias e Identidades em torno do Parque Nacional Serra da Capivara e Serra
das Confusões’ de autoria da Prof.ª Drª Selma Passos Cardoso foi contemplado com
edital do CNPQ de nº 10/2010, que visa o apoio técnico à pesquisa, tendo como
bolsista Murilo Muritiba Araújo, na época graduando em Arqueologia e Preservação
Patrimonial pela UNIVASF. O presente projeto teve como foco inicial a cidade de
São Raimundo Nonato – PI, sendo sua proposta o estudo do patrimônio urbano
arquitetônico, artístico, natural e cultural a partir do resgate da memória das cidades,
e para isso leva-se em consideração imagens, palavras, além de espaços
imaginados e vivenciados por essa população.
O projeto ‘Educação Patrimonial e Ambiental na área Arqueológica Serra da
Capivara’, de Getúlio Alípio, discente egresso da UNIVASF. Era desenvolvido em
parceria com o IPHAN, onde o mesmo atuava como estagiário. E sob a orientação
da professora Fátima Barbosa. Era voltado a estudantes do II Ciclo (Ensino
Fundamental) nas escolas municipais contempladas pelo projeto. E como o próprio
nome propõe, consistia em ações educativas acerca do Patrimônio Cultural e sobre
o Meio Ambiente, através do método Arte-Educação. A concepção se deu a partir de
ações educativas desenvolvidas nas disciplinas de Educação Ambiental e Tópicos
Especiais em Educação Patrimonial II. E de acordo com um resumo do projeto,
apresentado por Getúlio e Fátima no SCIENTEX/UNIVASF, os objetivos do projeto
são:
“Promover, através da arte-educação, a significação e apreensão do patrimônio cultural e natural presentes na região, para os alunos do ensino fundamental das escolas municipais envolvidas no projeto. Conscientizar do valor do patrimônio cultural, como legado de povos ancestrais; valorização da identidade e da cultura das populações adjacentes aos Parques; esclarecimento sobre a ação dos arqueólogos, como preservadores e
80
reconstrutores da pré-história e história das sociedades que viveram nestes locais, num passado remoto” (SANTOS; SOUZA; 2010).
O projeto ‘Salvamento, monitoramento arqueológico e educação patrimonial
na área do parque eólico sobradinho – município de Sobradinho / Bahia’, do
professor Celito Kestering, conforme já disse anteriormente, não se encaixa no
contexto de entorno do Parque Nacional Serra da Capivara. As ações que o
professor desenvolve na região, já foram descritas, dentro da redação sobre o PET-
Arqueologia/UNIVASF.
O projeto ‘Educação Patrimonial no município de São Bráz do Piauí’,
desenvolvido pelo professor Mauro Farias, contempla as ações da pesquisa e da
produção monográfica de sua orientanda, Iunny Macêdo. Ações desenvolvidas em
municípios como o de São Bráz do Piauí merecem destaque pelo aspecto de não
serem considerados áreas de influência direta do PARNA Serra da Capivara. Apesar
de o município estar mais distante do Parque, geograficamente falando,
culturalmente essa distância não existe. Na cidade existem diversos sítios
arqueológicos, alguns com intenso potencial arqueológico. Ou seja, é uma área que
precisa de tanta atenção quanto as limítrofes do PARNA. Isso se aplica a diversos
municípios e localidades da região.
A mesma situação descrita acima para o município de São Braz se aplica a
localidade (povoado) São Vitor, no município de São Raimundo Nonato. A região
está inserida numa área conhecida como Território Quilombola de Lagoas. Existem
diversos povoados que se instalam ao lado de lagoas. A lagoa do São Vitor é um
sítio paleontológico e arqueológico. No final de fevereiro, foi realizado um evento
chamado ‘Ciência e Sabedoria Popular na Lagoa do São Vitor’. Este evento é uma
das ações do projeto ‘Patrimônio Cultural e Turismo Comunitários em áreas
quilombolas: o sítio arqueológico e paleontológico Lagoa do São Vitor sob a ótica da
ciência e da sabedoria popular’, desenvolvido pela professora Nívia Paula. O projeto
promove um diálogo entre a academia e o saber popular, estreitando as relações
entra a UNIVASF e a população da localidade. Segundo o folder do evento, o
mesmo foi realizado:
“Com objetivo de atingir diretamente os jovens da localidade São Vitor, que cotidianamente encontram-se na iminência de migrar para as cidades do sudeste e centro-oeste em busca de serviços braçais, muitas vezes
81
exploratórios, reuniu-se conhecimentos científicos e explicações fornecidas pelos próprios moradores locais sobre a referida lagoa, entendendo-se a valorização interna do patrimônio cultural e natural como atributo importante para autoestima de uma sociedade e como fornecedora de matéria complementar para a realização de atividades econômicas. [...] No que tange à arqueologia, destaca-se aqui a linha de pensamento que a aproxima das sociedades contemporâneas, tanto pela preservação dos bens culturais, quanto pelo aproveitamento dos mesmos para fins sustentáveis” (Trecho removido do folder do evento ‘Ciência e Sabedoria Popular da Lagoa de São Vitor’)
Percebe-se na leitura desse trecho, a realização de um dos principais
fundamentos da ciência e da pesquisa, que é o retorno, a apresentação dos
resultados para a sociedade. Observa-se ainda os pressupostos freirianos de
educação, onde “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens
se educam entre si, midiatizados pelo mundo” (FREIRE, 1997, p: 39 apud COSTA,
2011). Destaca-se também o engajamento social e político do projeto, que
demonstra preocupação em instrumentalizar/viabilizar o turismo sustentável através
da arqueologia. Esses pontos observados se remetem a ideia de Arqueologia
Pública, apresentado no terceiro capítulo deste trabalho. Poucos projetos
desenvolvidos na região apresentam a mesma abordagem, ou abordagem similares.
Ainda sobre o projeto ‘Patrimônio Cultural e Turismo Comunitários em áreas
quilombolas: o sítio arqueológico e paleontológico Lagoa do São Vitor sob a ótica da
ciência e da sabedoria popular’, em si, não obtive maiores detalhes, pois a entrevista
via e-mail com a professora Nívia Paula, não teve resposta em tempo hábil.
Em entrevista com a Professora Fátima Barbosa obtive a informação de que
suas atividades de extensão, dentro da temática de Preservação Patrimonial e
Ambiental, na região, começou paralelamente à sua entrada na UNIVASF, quando a
mesma ministrou a disciplina de Preservação Patrimonial. Junto com a turma, a
professora, fazia visitas itinerantes às escolas apresentando noções do patrimônio
arqueológico através de palestras, levando inclusive exemplares de artefatos
recuperados em escavações. Organizava também visitas monitoradas ao Museu do
Homem Americano, e aos laboratórios do Centro Cultural Sérgio Motta. Outra
iniciativa da professora Fátima, foi o evento cultural conhecido como
CULTURARQUE, o evento reunia as diversas manifestações culturais da região,
como música, danças, artesanato e etc. A ideia do evento era proporcionar o
conhecimento da cultura local aos alunos recém chegados ao campus Serra da
82
Capivara, com o objetivo de promover a valorização e a preservação da cultura
local. Além das atividades já mencionadas, desenvolvidas dentro da disciplina de
Educação Ambiental, com diferentes turmas. Ao questionar a Professora Fátima
sobre as dificuldades para desenvolver ações de EP, ela indicou que recursos
financeiros e recursos humanos seriam os pontos frágeis na elaboração e execução
de projetos. A professora possui um acervo pessoal com fotos e vídeos dessas
ações.
Em entrevista com Pávula Maria Sales Nascimento, ex-professora do
CARQUEOL/UNIVASF, atualmente professora de História da Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG), levantei as seguintes atividades por ela desenvolvidas:
a) No primeiro semestre de 2009, foi realizado um projeto de EP numa
escola municipal de São Braz, desenvolvido dentro da disciplina de
Preservação Patrimonial. Na ocasião foram realizados teatro, oficinas de
arte e canto, abordando temas como patrimônio material, imaterial, e
ambiental. Também foram plantadas mudas de árvores. A professora possui
fotos e outros arquivos em seu acervo pessoal;
b) No segundo semestre de 2009, na disciplina Preservação Patrimonial
II, foi desenvolvido um projeto em Patrimônio imaterial, onde cada equipe de
alunos, escolheu um patrimônio imaterial da região para produzir um
trabalho. Alguns fizeram documentários, e outros dissertaram sobre saberes,
lugares e modos de fazer;
c) Em 2011, na disciplina Preservação Patrimonial I, o projeto de
Patrimônio Histórico, o qual já mencionei acima. Onde as equipes fizeram
um mapeamento do patrimônio edificado de S. Raimundo, observando as
condições de preservação e propondo ações na área de conservação e
restauração;
83
d) Na área de extensão, a professora desenvolveu o projeto Pau de Chá
(Patrimônio Imaterial), com a estudante Selena Gomes sobre o uso de ervas
tradicionais para fins medicinais na área de S. Raimundo e entorno.
Segundo a professora Pávula, durante seu exercício como professora da
UNIVASF, ela não enfrentou situações que a inviabilizassem de elaborar e executar
projetos de EP. E as maiores dificuldades, por ela enfrentada, foram:
“Tempo para conhecer a região (pois sou de outro estado), falta de contato com autoridades locais – prefeitos, diretores de escola, líderes comunitários) para viabilizar o desenvolvimento de projetos, falta de um contato mais próximo com profissionais de outras instituições da região – FUMDHAM, IPHAN, Secretaria de Cultura – para manter uma rede de informações sobre projetos desenvolvidos, falta de interesse dos estudantes (sim, embora alguns se interessassem pela área, a arqueologia é o foco maior dos discentes do curso)” (Trecho da entrevista cedida pela professora Pávula Maria à UNIVASF).
As colocações da professora Pávula, são compatíveis com algumas demais,
no quesito da falta de uma relação adequada com os gestores locais. Ou seja, é
recorrente o relato da falta de interesse político no tema, ou o envolvimento
equivocado em projetos de EP. Sobre o envolvimento com outras instituições,
entendo que, apesar de apoiarem realizações/produções umas das outras, falta uma
organização comum para autoria de projetos, que por sua vez, poderiam ser mais
abrangentes e até mesmo definitivos/permanentes.
Ainda sobre as dificuldades de elaborar e/ou executar projetos de Educação
Patrimonial. Ao perguntar aos docentes e discentes da UNIVASF, quais seriam elas,
obtive os seguintes motivos através da respostas: I) A primeira e a principal
dificuldade seria estabelecer um diálogo entre a universidade e a comunidade; II) A
segunda seria a falta ou a escassez de recursos financeiros; III) Em terceiro aparece
a falta de incentivo/interesse de colegas do colegiado, incluindo discentes e
docentes; IV) Em quarto, e por último, seria a escassez de tempo hábil para
elaboração de projetos, em outras palavras conciliar as atividades de aula com
atividades de pesquisa e extensão.
Um aspecto, interessante dos motivos identificados nas respostas, é que são
recorrentes tanto entre os discentes quanto é entre os docentes. Infelizmente, uma
84
minoria respondeu a essa pergunta, alguns se justificaram argumentando que nunca
elaboraram/executaram de projetos de EP e por isso não teriam respaldo para
responder a questão.
Gráfico 3 - Conhecimento dos discentes sobre os Projetos de Educação Patrimonial desenvolvidos
no CARQUEOL/UNIVASF
Apesar da maioria dos discentes entrevistados declararem ter interesse
principal na temática do patrimônio, é grande a quantidade de discentes que não
sabem da existência de projetos de EP desenvolvidos pela UNIVASF (ver gráfico 3).
De acordo com o gráfico acima, 45% dos entrevistados declararam não ter
conhecimento de algum projeto desenvolvido por estudantes e/ou professores do
Colegiado de Arqueologia e Preservação Patrimonial. Essa porcentagem demonstra
uma incongruência entre o interesse e a procura. Tal fato pode ser explicado pela
falta de divulgação/informação sobre os projetos desenvolvidos na UNIVASF por
parte dos professores e dos estudantes que desenvolvem alguma atividade de EP.
85
O Colegiado de Arqueologia e Preservação Patrimonial não mantém
nenhum evento regular para divulgação dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos
por docentes e discentes. Em 2010, a representação estudantil conseguiu em
reunião de colegiado, registrada em ata, firmar que toda primeira semana do mês de
maio fosse reservada para realização de uma ‘Semana Acadêmica de Arqueologia e
Preservação Patrimonial’, o evento seria o canal oficial para divulgação dos
trabalhos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos por estudantes e
professores, tanto internamente (para outros alunos e outros professores do
CARQUEOL) como externamente (alunos e professores de outros cursos e até
mesmo instituições, e para comunidade local). Porém, o projeto nunca saiu do papel.
No ano de 2012, ele cedeu o espaço para realização do ‘Encontro Regional de
Estudantes de Arqueologia do Nordeste’ (EREARQUE-NE). Por iniciativa de alguns
docentes do campus Serra da Capivara, foi organizada, em 2011, a primeira e única
edição da Semana de Estudos Interdisciplinares da Serra da Capivara (SEISC).
Entre 2010 e 2014, esse foi o único evento destinado a promoção/divulgação de
pesquisas desenvolvidas no campus, pelos discentes dos cursos de ‘Arqueologia e
Preservação Patrimonial’ e ‘Licenciatura em Ciências da Natureza’ – os dois cursos
oferecidos no Campus Serra da Capivara em São Raimundo Nonato-PI. Em nível
institucional existe a Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (SCIENTEX), evento
promovido pela Pró-reitoria de Ensino (PROEN), geralmente realizado nos campi de
Juazeiro-BA e/ou Petrolina-PE, dado a esse fato do evento ser realizado em
Juazeiro ou Petrolina, a frequência de estudantes do campus Serra da Capivara se
limita a estudantes que vão apresentar trabalhos, ou seja, não existe uma real
divulgação dos trabalhos. Não é de se admirar que a falta de comunicação interna
seja perpetuada externamente.
Infelizmente, o registro público das poucas atividades de Educação
Patrimonial que são realizados dentro do Curso de Arqueologia e Preservação
Patrimonial da UNIVASF se limitam às monografias depositadas na biblioteca do
Campus Serra da Capivara. Outros registros como relatórios, fotos estão
armazenados nos acervos pessoais de docentes e discentes, ou seja, não estão
disponíveis para o público, nem o acadêmico e nem a comunidade.
86
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sobre as atividades de Educação Patrimonial desenvolvidas no Entorno do
Parque Nacional Serra da Capivara, pela FUMDHAM, pelo IPHAN, e pela UNIVASF,
nos últimos dez anos (2004 – 2014), apresentadas no capítulo anterior, podemos
diagnosticar que não estão distantes dos pressupostos da EP desenvolvida a nível
nacional, apresentados no capítulo II deste trabalho.
As atividades desenvolvidas no entorno do parque, em sua maioria
consistem basicamente em palestras e oficinas nas escolas estaduais e municipais,
com visitação a museus, e em nosso caso específico, a Serra da Capivara, e ainda
produções de cartilhas. Com exceção do projeto ‘Patrimônio cultural e turismo
comunitário em áreas Quilombolas: o sítio arqueológico e paleontológico Lagoa de
São Vitor sob a ótica da ciência e da sabedoria popular’, todos os outros não
dialogam com a comunidade de forma adequada. Perpetua-se a lógica do
Patrimônio imposto onde o pesquisador, o cientista, o acadêmico assume a postura
do detentor de um saber, estimado erroneamente como único e verdadeiro. Não
estou dizendo com isso, que os outros trabalhos realizados até agora não tenham
seu grau de importância, ou que não surtem efeitos positivos. Certamente, em algum
grau ele tem atingido e modificado a comunidade. Mas, a análise do impacto das
atividades de EP desenvolvidas na mesma região é tema para outro trabalho.
Especificamente sobre a EP desenvolvida no âmbito da arqueologia,
relacionando as atividades levantadas que foram desenvolvidas na região em
questão aos pressupostos lidos no capítulo III, é possível inferir que as atividades
aqui desenvolvidas permeiam entre as abordagens do “Modelo da Educação” e do
“Modelo da Relação Pública”. Diagnostico o ‘modelo da educação’, tendo em vista o
que mencionei no parágrafo acima, a postura do pesquisador frente à comunidade,
onde este pesquisador assume o papel do detentor de uma verdade, onde dentro de
uma perspectiva iluminista a comunidade assume o papel do aluno, vazio ou oco,
que precisa ser preenchido com essa verdade só conhecida pela academia. Para
chegar ao diagnóstico do ‘modelo da relação pública’ é preciso conhecer os
contextos locais. A criação do PARNA desalojou povoados inteiros que foram
assentados em comunidades no entorno do mesmo. Em função disso, muitos
87
trabalhos de EP são realizados com a intenção de justificar o reassentamento
desses grupos, destacando a importância da arqueologia e da Serra da Capivara
como um todo, e há de se considerar também os esforços para obtenção de
recursos financeiros para custear as pesquisas e a manutenção do parque. Não
discordo que a divulgação da arqueologia é importante para obtenção de recursos.
Mas, acredito e defendo o uso sustentável das unidades de conservação pela
população local, que a arqueologia através do turismo e de outros meios pode
colaborar para o desenvolvimento de uma localidade, favorecendo a população local
economicamente, além de um diálogo permanente com a comunidade para
construção de uma Arqueologia, de fato, pública.
Através das dificuldades elencadas no capítulo anterior, para a elaboração e
execução de projetos de EP, podemos entender que a dificuldade de estabelecer um
diálogo entre a academia e a comunidade é fruto de uma abordagem equivocada,
onde comumente os pesquisadores entrevistam a população, registram suas
memórias e não oferecem nenhum retorno. Ainda considero a possibilidade de que
esse dificultoso diálogo pode ser fruto da falta de uma linguagem menos rebuscada,
menos técnica, menos instrumentalizada, menos acadêmica. Ou ainda, da falta de
conhecimentos prévios por parte da população, para dialogar especificamente sobre
Patrimônio Cultural. Embora a pesquisa não tenha encontrado elementos para
sustentar esta hipótese, também não aparecem elementos para descartá-la.
De uma maneira geral, as atividades de EP aqui desenvolvidas não são
dicotômicas das desenvolvidas pelo IPHAN, por dois motivos. Primeiro, pela falta de
diretrizes e parâmetros, que estabeleçam a EP como um campo de saber, ou em
outras palavras que estabeleça um corpo teórico. E segundo, por que, as atividades
são muito similares as desenvolvidas pelo IPHAN, considerando as propostas das
publicações mencionadas no início deste trabalho, como o ‘Guia Básico de
Educação Patrimonial’, as Cartilhas do Mais Educação.
A Educação Patrimonial no Entorno do Parque Nacional Serra da Capivara,
continua sendo realizada na transversalidade, ou ainda através da educação ‘não-
formal’ e/ou ‘informal’ (fora do sistema educacional). Pois, as tentativas da
FUMDHAM e do IPHAN de estabelecerem conteúdos acerca do Patrimônio Cultural
88
nas grades curriculares das escolas locais foram frustradas, e não se considera mais
essa possibilidade em nível regional.
A inconstância das atividades de EP desenvolvidas pelas três instituições já
citadas faz com que uma parcela reduzida da população seja efetivamente atingida
por essas ações, pois a rotatividade de alunos e professores nas escolas é alta. É
necessário um programa de fato permanente. E, além disso, é necessário
refletir/avaliar sobre as ações que foram desenvolvidas até então. O fato de
oferecerem oficinas e palestra para professores da região, não significa
necessariamente capacitá-los para realizarem Educação Patrimonial nas instituições
de ensino. E nem oferece garantia, de que mesmo capacitados irão abordar o tema.
Outra vez menciono a necessidade, a importância de uma pesquisa de avaliação
dos impactos das ações realizadas na região até hoje.
Outro problema diagnosticado que dificulta a elaboração de novos projetos
ou até mesmo a perpetuação de projetos pré-existentes, é a falta de um banco de
dados bem organizada e de acesso público nas referidas instituições. Lembrando
que a única instituição que de fato, disponibilizou relatórios para a pesquisa foi o
IPHAN. Essa problemática faz com que as ações de EP se tornem repetitivas, não
despertando o interesse da população. Isso ocorre, pois, os atuais estudantes e/ou
funcionários do IPHAN, FUMDHAM e UNIVASF, não sabem o que já foi
desenvolvido e acabam “reinventando a roda”. Outro aspecto desse problema é que
ele dificulta e até mesmo inviabiliza ações auto avaliativas.
Sobre todos esses aspectos mencionados, entre dificuldades, desafios, e
problemas, algumas propostas podem ser úteis e contribuir para solucionar e/ou
amenizar tais situações.
Sem dúvida, o primeiro passo a ser dado pelas instituições, é uma auto
avaliação de suas ações voltadas para a região. Além de uma reestruturação
interna, com atualização e organização dos seus respectivos acervos,
especialmente sobre os relatórios de atividades desenvolvidas. No caso específico
da UNIVASF o acervo não existe. No caso da FUMDHAM, o acervo existe, mas está
mal organizado, o que inviabiliza sua consulta. E no caso do IPHAN, ele existe, está
minimamente organizado, peca por estar incompleto e mal armazenado. É
necessário, melhorar a comunicação interna das instituições, como vimos por
89
exemplo, no caso da UNIVASF, onde estudantes desconhecem projetos
desenvolvidos por professores e/ou por outros estudantes. Blogs, revistas e jornais
internos são opções que podem dar certo.
Um segundo passo é uma parceria entre as referidas instituições, para
autoria de projetos de caráter sistemático e permanente. Para isso as instituições
precisam conhecer melhor umas às outras, e juntar forças para conquistarem seu
espaço no cenário político da região. Pois, nenhuma delas conseguiu de fato,
estabelecer uma parceria satisfatória com gestores locais (prefeitos, vereadores,
etc.). E lembrar também que existem outras instituições que podem ser parceiras em
potencial, como UESPI, IFPI, etc.
Um passo muito relevante é a criação de espaços e canais permanentes de
diálogo entre a academia e a comunidade. Na UNIVASF existem poucos projetos de
extensão.
Especificamente sobre os projetos de Educação Patrimonial, é importante
valorizar outros públicos, além dos professores e alunos da rede de ensino local. É
interessante, inovar, buscar outros meios de promover ações educativas que não
sejam apenas oficinas, palestras, cine-debate, teatros. Deve-se buscar atividades
que insiram a população na discussão, ao invés de apenas mostrar-lhes resultados.
As ações de EP desenvolvidas no entorno do PARNA abordam, quase que
unicamente, o tema arqueologia, ou o tema meio ambiente, atrelados ao próprio
parque. Não há nada de errado nisso, mas vale salientar de Educação Patrimonial
engloba outras temáticas. Considerando isto, é importante que outras categorias de
patrimônio sejam abordadas nessas ações. Isso a nível nacional, pois, permite que a
população local tenha acesso ao conhecimento de outras culturas regionais do
nosso país, por exemplo. É importante fornecer subsídios para que a população
procure registrar suas memórias, e estabelecer de fatos quais são seus
monumentos, o que de fato é seu patrimônio, sua história.
Ainda que as atividades educativas sobre o patrimônio desenvolvidas no
âmbito não-formal e/ou informal ofereçam esse subsídio de conhecimento para a
população, acredito que a maneira mais eficaz de compartilhar esse conhecimento,
o nivelando nacionalmente, é através da Educação Formal, ou Escolar. Defendo que
90
a temática Patrimônio deva ser inserida nos currículos da Educação Básica em
forma de lei, constando nas Diretrizes Curriculares Nacionais, destrinchado entre os
diferentes ciclos da educação. E em função disso, todos os cursos de licenciatura
plena também deveriam obrigatoriamente incluir em suas grades curriculares a
temática Patrimônio, assegurando que os futuros professores estarão aptos a
trabalhar com o assunto em sala de aula e/ou fora dela. Acredito também, e defendo
que a mesma temática deve ser obrigatória em todos os cursos de Arqueologia, e
em todos os demais cursos de graduação, nos quais a futura atuação profissional
influencie direta e/ou indiretamente no Patrimônio Cultural Nacional, em todas as
suas categorias (arqueológico, natural histórico, artístico, etc.), a exemplo disso
temos os cursos de engenharias – principalmente as engenharias civil, florestal,
agronômica; cursos de gestão/licenciamento ambiental; o curso de arquitetura e
urbanismo; o curso de ciências políticas e/ou sociais, onde geralmente os
profissionais formados ingressam na carreira política.
Mesmo sabendo que ainda existe uma grande parcela da população
brasileira que não frequenta a escola, entendo que esse é o meio mais eficaz de
oferecer conhecimento a população como um todo, e inserir de fato a sociedade na
discussão acerca do seu patrimônio cultural. Essa ação também contribuiria para a
conservação e preservação do patrimônio nacional, tendo em vista que o
conhecimento traz consigo responsabilidade, uma vez que diminui-se a alienação
sobre a temática, entre por exemplos, profissionais que ao construir rodovias,
ferrovias, ou outras coisas, coloquem em risco sítios arqueológicos, espécies de
plantas e/ou animais, as fontes de água potável e etc.
É claro que a elaboração e instalação de um dispositivo legal que assegure
a inserção do tema Patrimônio nas DCNs, perpassa por um planejamento e uma
avaliação dos impactos dessa instalação, a curto, médio e longo prazo em todos os
seus aspectos (econômicos, sociais, etc.). É óbvio presumir que um dispositivo
desse tipo cria uma demanda de profissionais capacitados que ministrem de início a
disciplina nos cursos de licenciatura, para os professores que já atuam no sistema
educacional nacional, de professores já capacitados para atuarem na educação
básica. É que isso tem um custo operacional, mas que por outro lado gera
empregos, e diminui o desemprego no país, e que esses novos salários
movimentam a economia. Enfim, são vários os benefícios. É claro, que há de se
91
estudar possíveis ônus/problemas, prever possíveis prejuízos. Isso também é tema
para outra pesquisa.
Este trabalho chama atenção para a necessidade da organização da
Educação Patrimonial como disciplina, como campo de saber. Isso pode beneficiar a
sociedade de inúmeras formas. Ressalta a necessidade de uma avaliação de todas
as atividades de Educação Patrimonial que foram desenvolvidas em nível nacional,
respeitando as peculiaridades de cada região. Pois, como foi possível perceber,
existe não uma, mas várias educações patrimoniais. O que não é um problema. O
problema é a falta de diretrizes que estabeleçam minimamente o que ações de EP
precisam abordar, deixando a escolha da abordagem didática para cada educador,
instituição ou agente do patrimônio.
92
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARRETO, Euder Arrais; et al (orgs.). Patrimônio Cultural e Educação Patrimonial: artigos e resultados. Goiânia: Museu de Antropologia/UFG/IPHAN, 2010. BEZERRA DE ALMEIDA, Marcia. O Público e o patrimônio arqueológico: reflexões para a arqueologia pública no Brasil. In: Habitus , Goiânia: v. 1, n. 2, p. 275-295, jul./dez. 2003. _____. Nossa Herança Comum: considerações sobre a Educação Patrimonial na Arqueologia Amazônica. In: PEREIRA, E; GUAPINDAIA, V. (Orgs.). Arqueologia Amazônica . Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, v.2, p. 1021-1037, 2010. BICHO, Nuno Ferreira. Manual de arqueologia pré-histórica. Lisboa: Edições 70, 2006. BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Parecer nº 1.362/2001. Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Engenharias. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 25 fevereiro, 2002. _____. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Parecer nº 306/2004. Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 20 dezembro, 2004. _____. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Parecer nº 112/2005. Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 06 junho, 2005. _____. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Parecer nº 255/2009. Proposta de alteração da Resolução CNE/CES nº 6/2006, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, em decorrência de expediente encaminhado pela SESu/MEC. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 08 junho, 2010. _____. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução nº. 01/2006. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 03 fevereiro, 2006. _____. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução nº. 06/2006. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 03 fevereiro, 2006. _____. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Resolução nº. 02/2010. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em
93
Arquitetura e Urbanismo, alterando dispositivos da Resolução CNE/CES nº 6/2006. Diário Oficial da União. Brasília, DF, 18 junho, 2010. _____. Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Diário Oficial da União, Presidência da República, Brasília, DF, 06 dezembro, 1937. _____. Decreto de Lei nº. 3.294, de 26 de julho de 1961. Dispõem sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos. Diário Oficial da União, Presidência da República, Brasília, DF, 27 julho, 1961. _____. Decreto de Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Presidência da República, Brasília, DF, 23 dezembro, 1996. _____. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Portaria nº 230, de 17 de dezembro de 2002. Diário Oficial da União, nº 244, Brasília, DF, 18 dezembro, 2002. _____. Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Portaria nº 07, de 01 de dezembro de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 dezembro, 1988. CARVALHO, Aline V; FUNARI, Pedro Paulo A. As possibilidades da Arqueologia Pública . Revista História e-História, 2009. Disponível em: <http://www.historiaehistoria.com.br/materia.cfm?tb=arqueologia&id=31>. Acesso em: 04/02/2014. COSTA, Marlene dos Santos. Educação Patrimonial no Parque Nacional Serra da Capivara – PI . Trabalho de Conclusão de Curso (graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual do Piauí, Campus Ariston Dias Lima, 2011. DAVID, Ana Celeste da Cruz; SANTOS JR, Reginaldo Pereira dos; BOMFIM, Marcos Viana. Multirreferencialidade, cotidiano e espaços não escolares: convergências conceituais em alguns aportes epistemológicos. In: Cadernos de Ciências Sociais Aplicadas – Revista do Núcleo de E studos e Pesquisas em Ciências Sociais Aplicadas (Nepaad). Vitoria da Conquista-BA, nº 13, p. 111 – 133, jan./jun. 2012. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 5. Ed. Curitiba: Positivo, 2010. 2272p. FREIRE, Paulo; NOGUEIRA, Adriano S. Que fazer: teoria e prática em educação popular. Petrópolis-RJ: Vozes, 1999. FUNARI, Pedro Paulo Abreu. Arqueologia. São Paulo: Contexto, 2003. _____; OLIVEIRA, Nanci Vieira; TAMANINI, Elizabete. Arqueologia Pública no Brasil e as Novas Fronteiras. In: APA – Associação Profissional de Arqueólogos. Praxis Archaeologica. Nº. 3, p. 131-138, 2008.
94
_____; PELEGRINI, Sandra de Cássia Araújo. Patrimônio histórico e cultural. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. GRUNEBERB, Evelina. Manual de atividades práticas de educação patrimoni al. Brasília-DF: IPHAN, 2007. HORTA, Maria de Lourdes Parreiras; GRUNBERG, Evelina; QUEIROZ, Adriane. Guia básico de Educação Patrimonial . Brasília: IPHAN, 1999. ICOMOS. Carta de Burra . 1980. _____. Carta internacional sobre conservação e restauração de monumentos e sítios . Veneza, 1964. _____; ICAHM. Carta para proteção e gestão do patrimônio arqueoló gico . Lausanne, 1990. 7p. INSTITUTO PAULO FREIRE – IFP. Educação Popular. Disponível em: <http://www.paulofreire.org/programas-e-projetos/educacao-popular>. Acesso em: 25/jan./2014. IPHAN. Carta de Nova Olinda – I Seminário de Avaliação e P lanejamento das Casas do Patrimônio. Nova Olinda-CE: IPHAN, 2010. _____. Catálogo de Resultados do Fórum Juvenil de Patrimôn io Mundial. Brasília-DF: IPHAN, 2010. _____. Educação Patrimonial: histórico, conceitos e processos. Brasília-DF: 2014. 62 p. _____. Educação Patrimonial no Programa Mais Educação - Fa scículo 1. Brasília-DF: IPHAN/MEC, 2011a. _____. Educação Patrimonial no Programa Mais Educação - Ma nual de Aplicação. Brasília-DF: IPHAN, 2013. _____. Educação Patrimonial: Orientações ao Professor - Ca derno Temático 1. João Pessoa: IPHAN/Casa do Patrimônio de João Pessoa-PB, 2011b. ITÁLIA. Ministério de Instrução Pública. Carta do Restauro , 1972. LUZ, Carolina Francisca Marchiori da. Sítios Arqueológicos de Registro Rupestre: Gestão Compartilhada e as Ações de Preser vação do Iphan no Parque Nacional Serra da Capivara e entorno – Piauí , Brasil. Trabalho de conclusão de curso (Mestrado em Preservação do Patrimônio Cultural) – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 2012. MEIHY, José Carlos B; HOLANDA, Fabíola. HISTÓRIA ORAL: como fazer, como pensar. São Paulo: Contexto, 2. Ed, 2010.
95
OLIVEIRA, Ana Stela. de Negreiros; IGNÁCIO, Elaine; BUCO, Cristiane. No Rastro da Maniçoba: Trilha Interpretativa da Fazenda Jurubeba. FUMDHAMentos , v. VIII, p. 124-132, 2009. OLIVEIRA, Cléo Alves Pinto de. Educação patrimonial no Iphan . 2011. 131p. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão Pública) – Escola Nacional de Administração Pública (CGE/DFR/ENAP), Brasília-DF, 2011. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=1766>. Acesso em: agosto/2013. OLIVEIRA, Jéssica Rafaella de. Memória e patrimônio histórico edificado da cidade de Petrolina-PE: uma análise da dissonância entre desenvolvimento e preservação patrimonial nas cidades médias. 2014. 1 CD-ROM Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arqueologia e Preservação Patrimonial) - Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus Serra da Capivara, 2014. PIRES, Selma de Oliveira Bastos (org.). Educação Patrimonial: Memória e identidade da Cidade de Goiás - Patrimônio pra que te quero. Goiânia: IPHAN, 1 ed., 2010. SANTOS, Getúlio Alípio X. de J; SOUZA, Maria Fatima Barbosa. Educação Patrimonial e Ambiental na área arqueológica Serra da Capivara, PI. 2010. TASSO, Bárbara Kosin; FERRO, Clarita Maria de Godoy. Arqueologia Pública. Portal do LAP. Disponível em: <http://arqueologiapublicalap.blogspot.com.br/p/a-
arqueologia-publica.html>. Acesso em: 04/02/2014. TOLENTINO, Átila Bezerra. Educação Patrimonial: Reflexões e Práticas - Caderno Temático 2. João Pessoa: IPHAN/Casa do Patrimônio de João Pessoa-PB, 2012. UNESCO. Conferência Geral . Nova Delhi, 1956.
ANEXO A – Enquete para Docentes -Questionário desenhado com Encuestafacil.com
Pesquisa: EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA ARQUEOLOGIA - ENQUETE P/ DOCENTES UNIVASF
Pág. 1.- Identifique-se ----------------------------------------------------------------------------
Desde já agradeço por sua cooperação, nesse primeiro momento você precisa se identificar para validar a pesquisa. Seus dados pessoais não serão divulgados.
Perg.1.- Declara atuar como docente do Curso de Graduação em Arqueologia e Preservação Patrimonial da Universidade Federal do Vale do São Francisco?
(* Esta pergunta é obrigatória ) (* Marque apenas uma opção)
Sim Não
Informe seu nome completo (não será divulgado):
(* Esta pergunta é obrigatória ) (* Responder apenas se cumpre : responderam em "Declara atuar como docente do Curso de Graduação em Arqueologia e Preservação Patrimonial da Universidade Federal do Vale do São Francisco? : Sim da página Identifique-se.) ___________________________________________________________________________________
Informe o nº da sua matrícula/SIAPE (não será divulgado, serve apenas para validação das respostas):
(* Esta pergunta é obrigatória ) (* Responder apenas se cumpre : responderam em "Declara atuar como docente do Curso de Graduação em Arqueologia e Preservação Patrimonial da Universidade Federal do Vale do São Francisco? : Sim da página Identifique-se.) ___________________________________________________________________________________
Autoriza a divulgação total e/ou parcial das suas respostas, excetuando seus dados pessoais (nome e nº. de matrícula/SIAPE)?
(* Esta pergunta é obrigatória ) (* Marque apenas uma opção) (* Responder apenas se cumpre : responderam em "Declara atuar como docente do Curso de Graduação em Arqueologia e Preservação Patrimonial da Universidade Federal do Vale do São Francisco? : Sim da página Identifique-se.)
Sim Não
Pág. 2.- Educação Patrimonial na Arqueologia - Perguntas específicas ----------------------------------------------------------------------------
Vamos as perguntas específicas. Nesta seção as perguntas abordam seu envolvimento com a Educação Patrimonial.
Perg.2.- Já desenvolveu, ou desenvolve, já participou, ou participa de algum projeto no campo da Educação Patrimonial, quer seja como coordenador/autor, bolsista/voluntário, ou por co-participação?
(* Esta pergunta é obrigatória ) (* Marque apenas uma opção)
Sim Não
ANEXO A – Enquete para Docentes -Questionário desenhado com Encuestafacil.com
Perg.3.- Atualmente, você participa ou desenvolve algum projeto de Educação Patrimonial junto a UNIVASF?
(* Esta pergunta é obrigatória ) (* Marque apenas uma opção)
Sim Não
Qual(ais)?
(* Esta pergunta é obrigatória ) (* Responder apenas se cumpre : responderam em "Atualmente, você participa ou desenvolve algum projeto de Educação Patrimonial junto a UNIVASF? : Sim da página Educação Patrimonial na Arqueologia - Perguntas específicas.) ___________________________________________________________________________________
Qual o maior desafio, ou a maior dificuldade para desenvolver (elaborar/executar) um Projeto de Educação Patrimonial?
(* Esta pergunta é obrigatória ) (* Responder apenas se cumpre : responderam em "Atualmente, você participa ou desenvolve algum projeto de Educação Patrimonial junto a UNIVASF? : Sim da página Educação Patrimonial na Arqueologia - Perguntas específicas.) ___________________________________________________________________________________
Pág. 3.- Educação Patrimonial na Arqueologia - Sobre Projetos Institucionais ----------------------------------------------------------------------------
Nesta seção traga a memória Projetos de Educação Patrimonial dos seus colegas de colegiado...
Perg.4.- Tem conhecimento de algum projeto de Educação Patrimonial desenvolvido (ou em desenvolvimento) por algum outro membro do Colegiado de Arqueologia e Preservação Patrimonial da UNIVASF?
(* Esta pergunta é obrigatória ) (* Marque apenas uma opção)
Sim Não
Indique qual(ais) membro(s) e/ou qual(ais) projeto(s)
(* Esta pergunta é obrigatória ) (* Responder apenas se cumpre : responderam em "Tem conhecimento de algum projeto de Educação Patrimonial desenvolvido (ou em desenvolvimento) por algum outro membro do Colegiado de Arqueologia e Preservação Patrimonial da UNIVASF? : Sim da página Educação Patrimonial na Arqueologia - Sobre Projetos Institucionais.) ___________________________________________________________________________________
Perg.5.- Tem conhecimento de algum projeto de Educação Patrimonial desenvolvido por ex-professores do Colegiado de Arqueologia e Preservação Patrimonial da UNIVASF?
(* Esta pergunta é obrigatória ) (* Marque apenas uma opção)
Sim Não
ANEXO A – Enquete para Docentes -Questionário desenhado com Encuestafacil.com
Qual(ais)? (* Esta pergunta é obrigatória ) (* Responder apenas se cumpre : responderam em "Tem conhecimento de algum projeto de Educação Patrimonial desenvolvido por ex-professores do Colegiado de Arqueologia e Preservação Patrimonial da UNIVASF? : Sim da página Educação Patrimonial na Arqueologia - Sobre Projetos Institucionais.) ___________________________________________________________________________________
Pág. 4.- Educação Patrimonial na Arqueologia - Fim ----------------------------------------------------------------------------
Muito obrigado por suas respostas e sua colaboração.
ANEXO – B – Enquete para Discentes - Questionário desenhado com Encuestafacil.com
Pesquisa: EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NA ARQUEOLOGIA: um estudo de caso no Entorno do Parque Nacional Serra da Capivara
Pág. 1.- Por favor identifique-se ----------------------------------------------------------------------------
Seu nome e seus dados não serão divulgados. Servem apenas para validar a pesquisa.
Perg.1.- Qual seu nome completo?
Respuesta: _____________________________________________________________________________
Perg.2.- Declara estar devidamente matriculado no Curso de Graduação em Arqueologia e Preservação Patrimonial da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF?
(* Esta pergunta é obrigatória ) (* Marque apenas uma opção)
Sim Não
Informe o número da sua matrícula (CPF):
(* Esta pergunta é obrigatória ) (* Responder apenas se cumpre : responderam em "Declara estar devidamente matriculado no Curso de Graduação em Arqueologia e Preservação Patrimonial da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF? : Sim da página Por favor identifique-se.) Respuesta: _____________________________________________________________________________
Você autoriza a divulgação total e/ou parcial de suas respostas, excetuando seus dados pessoais (como nome e Cpf)?
(* Esta pergunta é obrigatória ) (* Marque apenas uma opção) (* Responder apenas se cumpre : responderam em "Declara estar devidamente matriculado no Curso de Graduação em Arqueologia e Preservação Patrimonial da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF? : Sim da página Por favor identifique-se.)
Sim Não
ANEXO – B – Enquete para Discentes - Questionário desenhado com Encuestafacil.com
Pág. 2.- Educação Patrimonial na Arqueologia - Perguntas Específicas ----------------------------------------------------------------------------
Obrigado. Vamos as Perguntas Específicas:
Perg.3.- Qual a sua principal linha de interesse na Arqueologia? (* Esta pergunta é obrigatória ) (* Marque apenas uma opção)
Educação e/ou Preservação Patrimonial Arqueologia Histórica Arqueologia Pré-Histórica Bioarqueologia Geoarqueologia Outra (Por favor especifique)_______________________________________________________
Perg.4.- Você desenvolveria um Projeto ou Programa na área de Educação/Preservação Patrimonial, por iniciativa própria?
(* Esta pergunta é obrigatória ) (* Marque apenas uma opção)
Sim Não
Por quê?
(* Esta pergunta é obrigatória ) (* Responder apenas se cumpre : responderam em "Você desenvolveria um Projeto ou Programa na área de Educação/Preservação Patrimonial, por iniciativa própria? : Não da página Educação Patrimonial na Arqueologia - Perguntas Específicas.) ___________________________________________________________________________________
Pág. 3.- Educação Patrimonial na Arqueologia - Sobre Projetos Institucionais ----------------------------------------------------------------------------
Estamos quase terminando. Está é a última página de perguntas.
Perg.5.- Você tem conhecimento de algum Projeto de Educação Patrimonial desenvolvido por estudantes e/ou professores no seu curso?
(* Esta pergunta é obrigatória ) (* Marque apenas uma opção)
Sim Não
Qual(ais) Projeto(s)? (* Responder apenas se cumpre : responderam em "Você tem conhecimento de algum Projeto de Educação Patrimonial desenvolvido por estudantes e/ou professores no seu curso? : Sim da página Educação Patrimonial na Arqueologia - Sobre Projetos Institucionais.)
___________________________________________________________________________________
ANEXO – B – Enquete para Discentes - Questionário desenhado com Encuestafacil.com
Perg.6.- Já participou de algum Projeto de Educação Patrimonial? (* Esta pergunta é obrigatória ) (* Marque apenas uma opção)
Sim Não
Qual a maior dificuldade/desafio para EXECUTAR um Projeto de Educação Patrimonial?
(* Esta pergunta é obrigatória ) (* Responder apenas se cumpre : responderam em "Já participou de algum Projeto de Educação Patrimonial? : Sim da página Educação Patrimonial na Arqueologia - Sobre Projetos Institucionais.) ___________________________________________________________________________________
Qual maior dificuldade/desafio para ELABORAR um Projeto de Educação Patrimonial?
(* Esta pergunta é obrigatória ) (* Responder apenas se cumpre : responderam em "Já participou de algum Projeto de Educação Patrimonial? : Não da página Educação Patrimonial na Arqueologia - Sobre Projetos Institucionais.) ___________________________________________________________________________________
Pág. 4.- Educação Patrimonial na Arqueologia - Fim ----------------------------------------------------------------------------
Muito obrigado por responder a pesquisa e contribuir com minha monografia. Em breve ela estará disponível na biblioteca do nosso campus.