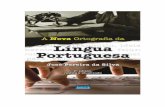Dafne Duani Pereira da Silva - Univali
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Dafne Duani Pereira da Silva - Univali
U N I V E R S I D AD E D O V AL E D O I T AJ AÍ CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS
DA TERRA E DO MAR Curso de Engenharia Ambiental
CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DOS PRINCIPAIS AFLUENTES DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMBORIÚ (SC)
Ac: Dafne Duani Pereira da Silva
Orientador: Paulo Ricardo Schwingel, Dr.
Itajaí, dezembro/2015
U N I V E R S I D AD E D O V AL E D O I T AJ AÍ CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS
DA TERRA E DO MAR Curso de Engenharia Ambiental
CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DOS PRINCIPAIS AFLUENTES DA
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMBORIÚ (SC)
Dafne Duani Pereira da Silva
Monografia apresentada à banca examinadora do Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Ambiental como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro Ambiental.
Itajaí, dezembro/2015
ii
AGRADECIMENTOS
Em cinco anos de curso, diversas pessoas foram de grande importância para a
minha formação, tanto acadêmica, quanto para a vida. Durante este período, muitas foram
aquelas que permaneceram ao meu lado dando suporte até a etapa final, resultando no
presente trabalho.
Agradeço ao meu professor orientador, Paulo Ricardo Schwingel, pelas horas de
conversa e aprendizado, não apenas sobre assuntos pertinentes a este trabalho, mas
também aos diversos temas que ajudaram na minha trajetória acadêmica até aqui e que
serão sempre lembrados.
Aos grandes amigos que me acompanham desde sempre, ou àqueles em que a
amizade foi construída ao longo destes últimos anos. Amigos que me aturaram e fizeram
dos meus dias algo muito melhor, pelo simples fato de estarem ali presentes.
À minha família, pelo entusiasmo em relação à minha escolha e por sempre me
incentivar de forma carinhosa.
Por fim, às pessoas mais importantes na minha vida, meus pais, Eduardo e Maria
Antonieta, e ao meu irmão, Renan. Agradeço por me proporcionarem uma educação
excelente, incentivarem minhas escolhas e ideias, por me apoiarem em momentos difíceis,
compreenderem a minha ausência nestes últimos meses e, finalmente, pelo ambiente de
afeto e imenso amor onde cresci e me tornei quem sou hoje.
iii
RESUMO
A Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú localiza-se nos municípios de Camboriú e Balneário
Camboriú (SC), possui cerca de 40 km de extensão e drena uma área de aproximadamente
200 km². O presente trabalho teve como objetivo realizar a caracterização ambiental dos
principais afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC). Para isso foram
identificadas mudanças no uso e ocupação do solo ocorridas entre 1986 e 2010 através da
utilização de imagens de satélite. Também foi aplicado o protocolo de avaliação rápida do
ambiente, sendo verificados os parâmetros: substrato de fundo, complexidade do hábitat,
qualidade dos remansos, estabilidade dos barrancos, proteção vegetal dos barrancos,
cobertura vegetal das margens, qualidade vegetal das margens e presença de mata ciliar.
Ainda, foram determinadas as variações sazonais de parâmetros físico-químicos e
biológicos da água superficial, em diferentes áreas da bacia hidrográfica. As variáveis físico-
químicas e biológicas da água foram registradas in situ. Os parâmetros registrados em
campo foram a temperatura da água, potencial hidrogeniônico, oxigênio dissolvido,
condutividade, salinidade e turbidez. Estas variáveis foram registradas utilizando os
equipamentos: termômetro, pHmetro, oxímetro, multianalisador portátil e turbidímetro,
devidamente calibrados. A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) foi registrada no
laboratório de microbiologia aplicada (LAMA) da UNIVALI. As mudanças no uso e ocupação
do solo mostraram rápido avanço da urbanização, passando de 9% em 1986, para 21% em
2010. Com relação à mata ciliar, foi verificado que regiões altas da bacia hidrográfica
apresentaram melhores resultados, fato que apresentou similaridade com a integridade
ambiental dos trechos de cursos d’água estudados. Quanto aos parâmetros físico-químicos,
os resultados demonstraram que as áreas urbanizadas encontram-se em qualidade inferior
às áreas naturais. Porém, em comparação com estudos realizados na mesma bacia, foi
observada redução na qualidade de alguns parâmetros nas áreas naturais.
Palavras-chaves: recursos hídricos, uso do solo, bacia hidrográfica.
iv
ABSTRACT
The watershed of the Camboriú River is located in the cities of Camboriú and Balneário
Camboriú (SC), with approximately 40 kilometer in length, draining an area of 200 km². This
paper aimed to environmentally characterize the main tributaries of The Camboriú River
Basin (SC). Therefore changes in occupation and land use between 1986 and 2010 were
identified through the use of satellite imagery. Also the rapid environmental assessment
protocol was applied, using the following parameters: bottom substrate, habitat complexity,
backwaters quality, stability of banks, vegetative protection, vegetative cover, vegetative
quality and riparian vegetation presence. Furthermore, variations of physicochemical and
biological parameters of superficial water were defined in different areas of the watershed.
The physicochemical and biological variables of water were recorded in situ. The parameters
recorded in field were water temperature, hydrogenionic potential, dissolved oxygen,
conductivity, salinity and turbidity. These variables were recorded using the calibrated
equipments: thermometer, pHmeter, oximeter, portable multi analyzer and turbidimeter. The
biochemical oxygen demand (BOD) was recorded in the Applied Microbiology Laboratory of
UNIVALI. The changes in occupation and land use showed rapid urbanization, rising from
9% in 1986 to 21% in 2010. Regarding the riparian forest, higher regions of the watershed
showed better results, a similar fact found on the environmental integrity of the stream
stretches studied. As for the physicochemical parameters, the results showed that the quality
of the urbanized areas of the watershed are worse than the natural regions. However, in
comparison to studies performed in the same basin, it was observed a reduction of the
quality in some parameters recorded in natural areas.
Keywords: water resources, land use, watershed.
v
SUMÁRIO
Dedicatória ............................................................................................................................. i
Agradecimentos ..................................................................................................................... ii
Resumo ................................................................................................................................. iii
Abstract ................................................................................................................................ iv
Sumário ................................................................................................................................. v
Lista de Figuras .................................................................................................................... vi
Lista de Tabelas .................................................................................................................. viii
1 Introdução ....................................................................................................................... 1
1.1 Objetivos ................................................................................................................. 4
1.1.1 Geral ................................................................................................................ 4
1.1.2 Específicos ....................................................................................................... 4
2 Fundamentação Teórica ................................................................................................. 5
2.1 Importância da mata ciliar ........................................................................................ 5
2.2 Efeitos das características físico-químicas da água ................................................. 6
2.3 Legislação ambiental associada aos recursos hídricos superficiais ......................... 7
2.4 Protocolos de avaliação rápida de integridade ambiental ........................................ 9
2.5 Efeitos do uso e ocupação do solo sobre a qualidade dos recursos hídricos ......... 10
3 Metodologia .................................................................................................................. 12
3.1 Área de estudo ...................................................................................................... 12
3.2 Identificação das mudanças no uso e ocupação do solo ....................................... 12
3.3 Análise da mata ciliar ............................................................................................. 13
3.4 Aplicação do protocolo de avaliação rápida de integridade ambiental ................... 15
3.5 Análises físico-químicas e biológicas ..................................................................... 15
4 Resultados e Discussão ............................................................................................... 17
4.1 Mudanças no uso e ocupação do solo ................................................................... 17
4.2 Análise da mata ciliar ............................................................................................. 23
4.3 Análise da integridade ambiental ........................................................................... 28
4.4 Análises físico-químicas e biológicas ..................................................................... 30
5 Considerações Finais ................................................................................................... 38
6 Referências .................................................................................................................. 39
Apêndices ............................................................................................................................ 44
Anexos ................................................................................................................................ 72
vi
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC) e localização dos pontos
amostrais. ............................................................................................................................ 12
Figura 2 - Localização das quatro regiões na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC). .... 14
Figura 3- Mapa de uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), no
ano de 1986. ........................................................................................................................ 19
Figura 4 - Mapa de uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), no
ano de 1993. ........................................................................................................................ 19
Figura 5 - Mapa de uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), no
ano de 1999. ........................................................................................................................ 20
Figura 6 - Mapa de uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), no
ano de 2004. ........................................................................................................................ 20
Figura 7 - Mapa de uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), no
ano de 2006. ........................................................................................................................ 21
Figura 8 - Mapa de uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), no
ano de 2010. ........................................................................................................................ 21
Figura 9 - Área ocupada por cada classe de uso do solo na (a) região do Rio Camboriú, (b)
região do Rio Pequeno, (c) região do Rio do Braço e (d) região do Rio dos Macacos, Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú (SC). ..................................................................................... 22
Figura 10 - Estado (a) e presença (b) da mata ciliar na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú
(SC). .................................................................................................................................... 23
Figura 11 - Mapa contendo a situação da mata ciliar na região do Rio Camboriú, na Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú (SC). ..................................................................................... 26
Figura 12 - Mapa contendo a situação da mata ciliar na região do Rio Pequeno, na Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú (SC). ..................................................................................... 26
Figura 13 - Mapa contendo a situação da mata ciliar na região do Rio do Braço, na Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú (SC). ..................................................................................... 27
Figura 14 - Mapa contendo a situação da mata ciliar na região do Rio dos Macacos, na
Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC). ........................................................................... 27
Figura 15 - Mapa da integridade ambiental na região do Rio Pequeno, na Bacia Hidrográfica
do Rio Camboriú (SC). ......................................................................................................... 29
vii
Figura 16 - Mapa da integridade ambiental na região do Rio do Braço, na Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú (SC). ..................................................................................... 29
Figura 17 - Mapa da integridade ambiental da região do Rio dos Macacos, na Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú (SC). ..................................................................................... 30
Figura 18 - Temperatura da água em 10 pontos amostrais na Bacia Hidrográfica do Rio
Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015. ............................................... 31
Figura 19 - Condutividade da água em 6 pontos amostrais, sem influência da salinidade, na
Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015. ...... 32
Figura 20 - Condutividade da água em 6 pontos amostrais, com influência da salinidade, na
Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015. ...... 32
Figura 21 - Concentração de oxigênio dissolvido em 10 pontos amostrais na Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015. ................ 34
Figura 22 - Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) em 10 pontos amostrais na Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015. ................ 35
Figura 23 - Valores de pH da água em 10 pontos amostrais na Bacia Hidrográfica do Rio
Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015. ............................................... 36
Figura 24 - Turbidez da água em 10 pontos amostrais na Bacia Hidrográfica do Rio
Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015. ............................................... 37
viii
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Classificação da presença da mata ciliar para trechos de rio baseado em
diferentes intervalos de pontuações. .................................................................................... 14
Tabela 2 - Classificação do estado da mata ciliar para trechos de rio baseado em diferentes
intervalos de pontuações. .................................................................................................... 14
Tabela 3 – Classificação da integridade ambiental para trechos de rio baseado em diferentes
intervalos de pontuações. .................................................................................................... 15
Tabela 4 - Localização dos pontos amostrais na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC)
para análises físico-químicas e biológicas. .......................................................................... 16
Tabela 5 – Porcentagem de ocupação de cada classe, para o período entre 1986-2010, na
Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC). ........................................................................... 22
1
1 INTRODUÇÃO
Os rios e seus tributários são os ecossistemas aquáticos mais afetados pelas
inúmeras atividades humanas. Especialmente os localizados nas regiões costeiras
encontram-se associados ao crescimento industrial e urbano desordenado, com severas
consequências a qualidade do meio ambiente (TUNDISI; TUNDISI, 2008). A contaminação
dos corpos hídricos pelas atividades antropogênicas reduz o potencial econômico das
águas, além de restringir o aproveitamento para lazer e recreação e apresentar risco à
saúde da população (URBAN; SCHWINGEL, 2001).
A Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, no âmbito estadual, está inserida na região
hidrográfica RH7 - Vale do Itajaí, localizada nos municípios de Camboriú e Balneário
Camboriú, Estado de Santa Catarina (SANTA CATARINA, 2008a). A Bacia Hidrográfica do
Rio Camboriú é composta pelos rios Camboriú, Gavião, Braço, Canoas, Ribeirão do Salto,
Ribeirão dos Macacos e Pequeno. A Bacia drena uma área de aproximadamente 200 km² e
tem uma extensão de 40 km (EPAGRI, 1999). Segundo Epagri (1999), o clima da região da
bacia hidrográfica do Rio Camboriú é classificado como subtropical úmido (Cfa), com verão
e inverno bem definidos e ocorrência de chuvas em todos os meses do ano. A temperatura
média anual da bacia fica entre 19ºC e 20°C, e a precipitação média anual é de 1600 mm
(EPAGRI, 1999). Os meses de verão, além de serem os mais quentes, são os de maior
ocorrência de chuvas. Entretanto, em épocas de estiagem a agricultura e o abastecimento
da população são prejudicados, como ocorreu no verão de 2014.
A Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, segundo Veiga et al. (1992), faz parte da
região C (Litoral Norte e Vale do Itajaí), que apresenta grande variação nos índices de
erosividade ao longo do ano, sendo o período entre janeiro e março os de maior erosão. O
preparo da terra para cultivo deve ser realizado com cautela nesta época do ano, mas
durante todo o ano o manejo do solo deve ser realizado de maneira eficiente, de forma a
evitar o assoreamento dos mananciais. Os meses de primavera, entre setembro e
dezembro, apresentam índices médios de erosividade e os meses de abril a agosto os
percentuais mais baixos.
Neste contexto, a Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú apresenta um processo
acelerado de crescimento populacional, de acordo com o censo demográfico do IBGE
(2010), que mostra que do ano de 2010 a 2014 a população de Camboriú e Balneário
Camboriú aumentou de 62.361 habitantes para 72.261 e de 108.809 para 124.557
habitantes, respectivamente. O aumento populacional associado à falta de planejamento e
infraestrutura, como drenagem urbana, tratamento de esgoto, aterro sanitário, aterro para
resíduos da construção civil, conservação e recuperação da mata ciliar, conservação das
encostas, entre outros fatores, gera diversos problemas ambientais aos municípios e à bacia
2
hidrográfica em si. Na área rural da bacia o crescimento populacional é menor, contudo,
esta também vem sendo degradada com o manuseio inadequado de áreas de plantio
(GRANEMANN, 2014).
Segundo Urban (2008), apesar da qualidade ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio
Camboriú ser considerada razoável, de acordo com parâmetros físico-químicos, estado da
mata ciliar, condições hidrológicas e morfológicas, a mesma vem sofrendo com a
degradação ambiental provocada pela expansão de áreas cultivadas (principalmente a
rizicultura), mineração, exploração de madeiras para as carvoarias e pastagens para o gado.
Além disso, um estudo de Urban e Schwingel (2001) verificou que 1/3 das nascentes da
Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú encontram-se com sinais de degradação,
comprometendo a qualidade dos corpos d’água em toda a sua extensão.
Segundo Padilha (2013), apesar da bacia hidrográfica ainda apresentar, em sua
maioria, floresta e cobertura vegetal em estágio inicial, o crescimento populacional de forma
aglomerada representa risco ao ambiente, devido à exploração concentrada dos recursos
naturais. A autora destaca também que as Áreas de Preservação Permanente (APP) das
margens dos cursos d’água estão mais preservadas nas regiões a montante da bacia,
sendo que mais de 50% das APP apresentam outros usos, sem cobertura florestal. A
captação de água para o abastecimento público é o maior uso empregado à Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú, dessa forma, ambos os municípios pertencentes à bacia
dependem da boa qualidade dos seus afluentes para garantir a saúde da população, o
desenvolvimento agropecuário e socioeconômico. Assim, é necessário diagnosticar e
dimensionar as condições atuais e mudanças no uso e ocupação do solo e as
consequências sobre a qualidade dos recursos hídricos que a Bacia Hidrográfica do Rio
Camboriú vem sofrendo, especialmente nas APP dos afluentes que compõem a bacia,
possibilitando estabelecer políticas públicas para conservação e recuperação do
ecossistema, tanto terrestre como aquático.
A caracterização ambiental dos rios e ambientes adjacentes é uma etapa importante
de um futuro processo de planejamento e zoneamento da Bacia Hidrográfica do Rio
Camboriú, avaliando as condições ambientais de diferentes áreas deste ambiente. As
mudanças temporais no ecossistema aquático devem ser medidas e avaliadas para
estabelecer ações associadas à sustentabilidade ambiental da região. Além disso, Leal
(2012) mostra que as bacias hidrográficas na região litoral centro-norte do Estado de Santa
Catarina têm sua qualidade ameaçada devido à pressão antropogênica, resultado da
urbanização nas áreas de matas ciliares, lançamento de efluentes sem tratamento,
pastagens (pecuária) e retificação dos cursos de água. A autora mostra também a
necessidade de análises periódicas destas bacias para medir continuidade, ou não, dos
processos de degradação ambiental.
3
Em adição, estudo de Granemann (2011) na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú
revela que a disponibilidade hídrica, estabelecida pelos critérios das legislações para
outorga de direito de uso de recursos hídricos catarinenses, mostra que a demanda
qualitativa já não é factível de ser atendida no cenário atual. O estudo mostra também que o
limite para atender a demanda quantitativa está entre os anos de 2024 e 2033, necessitando
assim, maiores conhecimentos da bacia para estabelecer estratégias futuras. Neste
contexto, destaca-se a necessidade de identificar, verificar e analisar o uso do solo, o estado
da mata ciliar nas APP e a qualidade da água dos afluentes que compõem a Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú, respectivamente, as quais exercem função chave na
manutenção da qualidade do ambiente e biodiversidade.
4
1.1 OBJETIVOS
1.1.1 Geral
Realizar a caracterização ambiental dos principais afluentes que compõem a Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
1.1.2 Específicos
a) Identificar mudanças na ocupação do solo ocorridas na Bacia Hidrográfica do Rio
Camboriú (SC) nas últimas três décadas;
b) verificar a situação da mata ciliar nas áreas de preservação permanente dos principais
afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú;
c) aplicar o protocolo de avaliação rápida de integridade ambiental para os principais
afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú;
d) analisar variações sazonais e espaciais de parâmetros físico-químicos e biológicos da
água em diferentes áreas de contribuição da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú.
5
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 IMPORTÂNCIA DA MATA CILIAR
A mata ciliar desempenha diversas funções, seja para o ambiente aquático a qual
margeia, seja para a fauna e flora, ou ainda às águas subterrâneas. Dentre as principais
funções da mata ciliar está a hidrológica, exercida através de processos como: a) geração
de escoamento direto, aumentando a vazão dos rios na ocorrência de precipitação; b)
quantidade de água, considerando a capacidade da mesma em reter a água e abastecer os
rios em épocas de estiagem (ELMORE; BESCHTA, 1987); c) qualidade da água, que é
mantida pela capacidade da mata ciliar em filtrar os nutrientes carreados no escoamento
superficial das áreas terrestres; d) ciclagem de nutrientes, proporcionada pela filtragem
realizada pela mata ciliar; e e) interação direta com o ecossistema aquático, através da
estabilização das margens, deposição de matéria orgânica e sombreamento do curso
d’água (LIMA; ZAKIA, 2000; GREGORY et al., 1991). Além disso, há a função ecológica das
matas ciliares, através do fornecimento de troncos e sedimentos que proporcionam abrigo à
fauna aquática, dispersão de sementes, e servindo de corredor ecológico aos animais
terrestres (LIMA; ZAKIA, 2000).
A mata ciliar fornece proteção aos cursos d’água por ser um ecótono entre o
ambiente terrestre e o aquático. As zonas ripárias fornecem abrigo para a biota, pela
deposição de detritos (galhos, troncos, folhas), auxiliam na estabilização das margens pelas
raízes das árvores, filtragem dos sedimentos carreados no escoamento superficial e
armazenamento de água no solo, de forma a abastecer o lençol freático e o curso d’água
em épocas de menor pluviosidade (ELMORE; BESCHTA, 1987; LIMA; ZAKIA, 2000;
LACERDA; FIGUEIREDO, 2009). Elmore e Beschta (1987) citam as funções das zonas
ripárias degradadas e recuperadas, sendo estas inversamente proporcionais, ou seja,
enquanto nas áreas de boa qualidade de vegetação há regulação da temperatura pelo
fornecimento de sombra à superfície do rio, em áreas degradadas isto não ocorre. O mesmo
é observado em relação à diversidade biológica, estabilização dos barrancos, erosão das
margens, habitat, alimento e, por fim, reserva de água da chuva. Apesar do conhecimento
sobre a importância das matas ciliares, estas vêm sendo reduzidas com o avanço
populacional.
A atividade agrícola, retirada de madeira, abertura de estradas e construções alteram
a mata ciliar, afetando direta e indiretamente a integridade dos recursos hídricos adjacentes
(MORING et al., 1985). Uma das características observadas após a retirada da mata ciliar é
o aumento da temperatura do curso d’água, decorrente do aumento da incidência solar,
acarretando na diminuição da concentração de oxigênio dissolvido na água (MISERENDINO
6
et al., 2011; BREN, 1993). Além dos fatores mencionados anteriormente, Bren (1993) cita
ainda que a descarga de sedimentos, lançamento de efluentes, introdução de espécies
exóticas e a modificação da vegetação podem causar a degradação da zona ripária.
Os processos de degradação ambiental devem ser analisados continuamente para
dimensionar a eficácia das ações de conservação. Em estudo de Leal (2012), sobre as
bacias dos rios Iriri e Gravatá (SC), litoral centro-norte catarinense, foi revelado que projetos
de recuperação e conservação destes ecossistemas não apresentaram efetividade. Esse
fato alerta para a necessidade de revisão de políticas públicas para a região na qual
também está inserida a Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú. Assim, a caracterização
ambiental dos rios e áreas adjacentes é uma etapa importante no processo de
planejamento, manejo e zoneamento das bacias hidrográficas (BREN, 1993; ESTEVES,
2010; TUNDISI; TUNDISI, 2008).
2.2 EFEITOS DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DA ÁGUA
A temperatura é de extrema importância e influencia diretamente sobre a
solubilidade dos gases na água, além de servir como mecanismo de seleção para a biota
aquática (VON SPERLIN, 2007; SCHÄFER, 1984; WETZEL; LIKENS, 2000). O aumento da
temperatura diminui a solubilidade de gases, como o oxigênio dissolvido. Isto ocorre, pois
com calor mais intenso, o metabolismo dos organismos presentes na água tende a
aumentar, fazendo com que a demanda por oxigênio dissolvido cresça (SCHÄFER, 1984). O
autor cita ainda que na situação contrária, em temperaturas mais baixas, ocorre o inverso e
são registradas maiores concentrações de oxigênio dissolvido na água.
As águas continentais apresentam grande amplitude de salinidade, por serem
influenciadas por fatores como escoamento das áreas de entorno, intemperismo e erosão de
rochas, precipitação atmosférica, atividades antropogênicas e evaporação (ESTEVES, 2010;
WETZEL, 1983). Além disso, a salinidade altera a solubilidade de oxigênio dissolvido na
água, que reduz conforme a concentração de sais aumenta (WETZEL, 1983). Esta
influência não é tão acentuada quanto à provocada pela temperatura, mas também pode
causar alteração nas medições.
A concentração de íons no ambiente, ou seja, a salinidade do meio aumenta a
condutividade elétrica. Segundo Esteves (2010), além da salinidade, a temperatura e o pH
também influenciam a condutividade elétrica, especialmente em locais onde o pH é menor
que 5, ou maior que 9. Através da condutividade, pode-se identificar informações sobre o
meio, como a presença de fontes poluidoras, diferenças geoquímicas, processos de
produção primária e decomposição no ambiente aquático (ESTEVES, 2010).
O oxigênio dissolvido é o mais importante parâmetro de qualidade das águas. A
partir dos valores medidos em corpos d’água obtêm-se informações sobre processos
7
biológicos e bioquímicos do ecossistema (WETZEL, 1983; WETZEL; LIKENS, 2000). A
concentração de oxigênio disponível no ambiente, como mencionado anteriormente, é
alterada pela temperatura e pela salinidade, afetando diretamente a vida de organismos
aeróbios (VON SPERLING, 2007). O oxigênio dissolvido na água provém principalmente de
trocas gasosas entre água/ar, e através da fotossíntese (ESTEVES, 2010; VON SPERLING,
2007). Por outro lado, a estabilização de matéria orgânica, a respiração de organismos
aquáticos e a oxidação de íons o consomem, diminuindo sua concentração no meio
(ESTEVES, 2010; VON SPERLING, 2007). Segundo Von Sperling (2007), peixes mais
exigentes não sobrevivem em ambientes com concentração de oxigênio dissolvido entre 4-5
mg/l, e em locais onde esta é inferior a 2 mg/l, a ictiofauna é praticamente inexistente.
A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) é a quantidade de oxigênio consumido
durante a estabilização de matéria orgânica pelas bactérias (CETESB, 2009). Segundo Von
Sperling (2007), a presença de matéria orgânica na água é o maior problema de poluição,
sendo a principal forma de consumo e diminuição do oxigênio dissolvido nos corpos d’água.
A presença de matéria orgânica no meio pode ser de origem natural ou antropogênica,
sendo esta oriunda principalmente de lançamento de esgotos doméstico e industrial na
água, sem o devido tratamento (VON SPERLING, 2007).
O pH pode ser alterado de forma natural, através da carstificação, absorção de
gases da atmosfera, oxidação de matéria orgânica, fotossíntese, salinidade e a chuva, ou
ainda por atividades antropogênicas, como despejos doméstico e industrial (VON
SPERLING, 2007; ESTEVES, 2010). Os diversos fatores que influenciam os valores de pH
fazem deste um parâmetro de difícil interpretação, mas de grande importância ambiental
(ESTEVES, 2010). O autor cita ainda que em águas continentais, comumente são
registrados valores de pH entre 6 e 8, contudo a Resolução CONAMA nº357/2005
estabelece para águas doces – classe 2 o intervalo aceitável entre 6 e 9 (BRASIL, 2005).
Segundo Wetzel e Likens (2000) e Esteves (2010), a turbidez é causada pela
presença de matéria orgânica e inorgânica suspensa ou, em menor escala, dissolvida na
água como silte, argila, detritos, fitoplâncton e bactérias. O aumento da turbidez faz com que
a radiação solar seja dispersa e absorvida, não transmitida, aumentando a temperatura da
água (WETZEL; LIKENS, 2000).
2.3 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL ASSOCIADA AOS RECURSOS HÍDRICOS
SUPERFICIAIS
No ano de 1934, foi instituído o decreto nº 24.643 com o Código de Águas, a primeira
legislação ambiental voltada a recursos hídricos no Brasil, que cita a propriedade sobre as
águas, seja pela União, os Estados, os Municípios, ou ainda, por particulares (BRASIL,
8
1934). Conforme mencionado no decreto, a instituição deste foi necessária considerando
que a legislação da época não atendia as necessidades e interesses da coletividade
nacional, incentivando a utilização industrial das águas, inclusive para aproveitamento
energético. Desde então, várias leis, decretos e resoluções associadas aos recursos
hídricos foram instituídas. O Código Florestal de 1965, apesar de não ser direcionado
exclusivamente aos cursos d’água, cria as Áreas de Preservação Permanente (APP) e
estabelece distâncias mínimas a serem respeitadas das margens dos mananciais e
nascentes, de forma a garantir sua qualidade, sendo este substituído posteriormente pela lei
nº12. 651 de 2012 (BRASIL, 1965).
Além do Código Florestal, a lei nº 6.938 de 1981, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente (PNMA), trata, no seu Art. 9, sobre os instrumentos da PNMA,
dentre estes o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental e o zoneamento
ambiental (BRASIL, 1981). O zoneamento é abordado por Muñoz-Espinosa (2000), que
menciona o fato de que a ordenação territorial e a gestão dos recursos hídricos devem ser
observadas de forma conjunta. O Plano Diretor do Município contém o zoneamento e
embora as margens dos rios sejam estabelecidas como áreas de preservação permanente,
tanto pelo Plano, quanto pelas legislações ambientais, o que se observa é a ocupação
irregular destas áreas sem controle dos municípios (MUÑOZ-ESPINOSA, 2000).
A preocupação com o meio ambiente é crescente, por conta disto, diversas
conferências internacionais foram realizadas buscando discutir sobre as questões
ambientais e possíveis soluções. Em 1992, houve a Conferência das Nações Unidas para o
Desenvolvimento e Meio Ambiente, em Dublin, como evento preparatório para a posterior
Conferência a ser realizada no Rio de Janeiro (CNUMAD-RIO92). A partir desta conferência,
foram estabelecidos quatro princípios, dentre os quais é reconhecido o valor econômico da
água, sua vulnerabilidade e condição finita (MUÑOZ-ESPINOSA, 2000). Segundo o autor, a
Lei das Águas nº 9.433/1997 possui objetivos, diretrizes, princípios e instrumentos em
concordância com os resultados obtidos na Conferência de Dublin e na CNUMAD- RIO92. A
Lei das Águas instituiu a Política e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, tendo como fator importante a gestão participativa do Poder Público, dos usuários
e da comunidade (BRASIL, 1997). Além disso, tal lei estabelece a bacia hidrográfica como
unidade de gestão, e introduz o objetivo de desenvolvimento sustentável ao buscar garantir
às futuras gerações disponibilidade hídrica com qualidade para os usos demandados
(BRASIL, 1997).
Compondo as legislações ambientais, estão as resoluções do Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA), dentre elas a de nº 357/2005 que dispõe sobre a classificação
dos recursos hídricos quanto aos usos preponderantes, e estabelece padrões de qualidade
das águas e lançamentos de efluentes (BRASIL, 2005). De acordo com o Art. 42 da
9
resolução Conama nº 357/2005, rios de água doce e salobra que não possuem
enquadramento quanto aos usos preponderantes devem ser considerados como classes 2 e
1, respectivamente (BRASIL, 2005).
2.4 PROTOCOLOS DE AVALIAÇÃO RÁPIDA DE INTEGRIDADE AMBIENTAL
Na década de 80, nos Estados Unidos, percebeu-se a necessidade de elaborar
técnicas de pesquisa biológica de baixo custo, devido à falta de recursos para o
monitoramento e avaliação dos cursos d’água (BARBOUR et al., 1999). Segundo os
autores, a falta de dados ambientais para a tomada de decisões importantes era geral em
todo o país. Dessa forma, era crucial o desenvolvimento de uma técnica capaz de coletar,
analisar e interpretar dados ambientais de maneira rápida, facilitando a gestão e
possibilitando à elaboração de ações para controle e/ou mitigação de impactos. Os
protocolos de avaliação rápida apresentavam os seguintes fundamentos (BARBOUR et al.,
1999): a) procedimentos para pesquisa biológica ao mesmo tempo com validade científica e
custo/benefício; b) dar provisão para múltiplas investigações no local; c) obtenção rápida de
resultados para medidas de gestão; d) resultados facilmente entendidos para a prática da
gestão e para o público; e e) procedimentos benéficos ao meio ambiente.
O primeiro documento contendo um protocolo de avaliação de organismos aquáticos
e da qualidade dos recursos hídricos foi elaborado por Plafkin et al. (1989). Os protocolos de
avaliação rápida fazem uma avaliação integrada, comparando habitat, como a estrutura
física e regime de fluxo, com medidas biológicas baseadas em condições pré-estabelecidas
como referência (PLAFKIN et al., 1989). Segundo os autores, o entendimento das relações
entre o habitat e o potencial biológico permite diferenciar os impactos sobre a qualidade da
água dos efeitos sobre o local, fazendo com que as ações de controle estejam direcionadas
para as fontes de impactos mais importantes.
Protocolos de avaliação rápida do ambiente foram aplicados em diversos lugares do
Brasil, como no Parque Nacional da Serra do Cipó (MG) e no Parque Nacional da Bocaina
(RJ) por Callisto et al. (2002), na bacia do Rio Itajaí-Mirim por Minatti-Ferreira e Beaumord
(2004; 2006), em Guapimirim (RJ) por Buss e Borges (2008), em Ipameri (GO) por Firmino
et al. (2011), na região do Arenito Caiuá (PR) por Cionek et al. (2011) e no Rio do Braço
(Camboriú) por Silva (2013). A caracterização de um ambiente requer mais do que apenas
os parâmetros físico-químicos da água, sendo necessário considerar também parâmetros
físicos do habitat. Exemplo disso são os atributos escolhidos por Minatti-Ferreira e
Beaumord (2004), que incluem substrato de fundo, complexidade do habitat submerso,
qualidade dos remansos, estabilidade e proteção dos barrancos e proteção vegetal das
margens, uma vez que estes são cruciais para a sobrevivência da biota. A aplicação deste
método de avaliação do ambiente não substitui outros, mas complementa na determinação
10
da integridade ambiental do meio, além de servir como importante instrumento de
educação ambiental a ser aplicado junto à comunidade (MINATTI-FERREIRA; BEAUMORD,
2006).
2.5 EFEITOS DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO SOBRE A QUALIDADE DOS
RECURSOS HÍDRICOS
O crescimento populacional, o desenvolvimento econômico e das cidades, aumento
no número de indústrias e as atividades agrícolas provocam alterações no meio ambiente
podendo chegar até ao nível de degradação. Tal degradação é observada na retirada de
vegetação em planícies, morrarias e zonas ripárias, despejo inadequado de resíduos
sólidos, lançamento de efluentes sem o devido tratamento e utilização de agrotóxicos e
pesticidas, prejudicando principalmente os recursos hídricos. Tais atividades causam
diversas complicações para o ecossistema aquático, incluindo a eutrofização, que é um
processo natural, mas que pode ser acentuado artificialmente (ESTEVES, 2010). Esteves
(2010) cita ainda, que a eutrofização artificial é considerada poluição, devido ao
empobrecimento ao qual o ecossistema é submetido, resultando no fato de que apenas
organismos pouco exigentes sobrevivem em ambientes com tais características (PRIMACK;
RODRIGUES, 2001).
O uso do solo afeta a qualidade ambiental do ecossistema aquático, como
demonstrado no estudo de Miserendino et al. (2011), onde as atividades antropogênicas nas
áreas urbanas como despejo de efluentes, canalização de rios e desmatamento, são as que
mais afetam negativamente o meio aquático. As áreas cultivadas também apresentam riscos
à mata ciliar e aos cursos d’água. Necessitam-se grandes quantidades de água em alguns
tipos de cultura, como o arroz, altamente presente na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú.
Sendo assim, é comum encontrar vastas áreas de plantação próximas a cursos d’água,
normalmente sem a presença de mata ciliar. Um dos riscos gerados por esta atividade é a
utilização de agentes químicos (fertilizantes, agrotóxicos e inseticidas) que auxiliam no
cultivo de alimentos, diminuindo os prejuízos causados por pragas e insetos.
A proximidade das áreas agrícolas com os rios, e a ausência de vegetação nas
margens faz com que, na ocorrência de chuva e escoamento superficial, tais agentes
químicos não encontrem barreiras e cheguem livremente até os cursos d’água, sendo
transportados à jusante da bacia hidrográfica. Alguns organismos presentes no meio filtram
grande quantidade de água durante a alimentação, acabando por armazenar os compostos
no seu organismo (PRIMACK; RODRIGUES, 2001). Segundo Primack e Rodrigues (2001),
o problema não se limita apenas aos organismos aquáticos, pois substâncias presentes nos
agrotóxicos e fertilizantes foram encontradas em animais do topo da rede trófica,
11
demonstrando que estes agentes são bioacumulativos, passando por toda a cadeia e
apresentando maior concentração no último elemento desta.
Diversos estudos e.g. Luz (2009), Campos et al. (2011), Donadio et al. (2005),
Poleto et al. (2010), Santos e Hernandez (2013), Vanzela et al. (2010), demonstram que o
uso e ocupação do solo representado pela ocupação urbana, rural e alguns tipos de cultivo
possuem correlação positiva com a má qualidade dos recursos hídricos. No estudo de Luz
(2009) realizado na Bacia do Rio Ipitanga (BA), os parâmetros de qualidade da água: pH,
oxigênio dissolvido, sulfeto, DBO, amônia, nitrito, fósforo total, coliformes termotolerantes,
clorofila a, fenóis, ferro solúvel e manganês total apresentaram valores em não
conformidade com a Resolução CONAMA nº 357/2005, sendo que estes foram influenciados
pelas atividades agropecuárias, supressão da vegetação, lançamento de efluentes e
resíduos sólidos e a urbanização.
O desmatamento, a ocupação por moradias urbanas e rurais, e algumas áreas de
cultivo são os usos do solo que mais influenciam os recursos hídricos, seja na sua
qualidade, ou ainda, na sua quantidade (VANZELA et al., 2010). Segundo os autores, o
aumento no escoamento superficial, que ocorre devido a estes usos, é um dos fatores de
modificação na qualidade da água, uma vez que os sólidos são carreados para o interior dos
mananciais. Quanto à quantidade de água disponível, é observada a diminuição da vazão
dos corpos d’água, causada pela diminuição ou eliminação da permeabilidade do solo, ou a
sua compactação, reduzindo a infiltração de água no terreno (VANZELA et al., 2010;
SANTOS; HERNANDEZ, 2013; TUCCI, 2002).
Urban (2008) observa que a degradação ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio
Camboriú manifesta-se nos recursos hídricos, no solo e na cobertura vegetal, causando
alterações na paisagem natural, urbana, peri-urbana e rural. O extrativismo vegetal é
praticado na área da bacia acarretando danos ao ecossistema e, consequentemente, à
hidrografia. O desmatamento também traz grandes prejuízos, pois modifica o tempo de
permanência da água na bacia através da diminuição da permeabilidade do solo. Com isso,
acelera o processo erosivo, deixando o solo desprotegido e exposto à ação dos agentes
erosivos (OLIVEIRA, 2000), provocando o assoreamento nas calhas dos rios e córregos e
aumentando as áreas de alagamento. Antunes et al. (2007), analisando a composição e
diversidade do fitoplâncton na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, mostram que a mesmas
refletem o uso do solo na área adjacente. As assembleias fitoplanctônicas foram associadas
à ação antropogênica na região, podendo separá-las como urbanas, peri-urbanas, rurais e
em condição natural.
12
3 METODOLOGIA
3.1 ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo compreende a região ocupada pela Bacia Hidrográfica do Rio
Camboriú, localizada nos municípios de Camboriú e Balneário Camboriú, litoral centro-norte
do Estado de Santa Catarina (Figura 1).
Figura 1 - Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC) e localização dos pontos amostrais.
3.2 IDENTIFICAÇÃO DAS MUDANÇAS NO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
A evolução das mudanças no uso e ocupação do solo ocorridas na Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú nas últimas três décadas foi estudada com base em imagens
do satélite Landsat 5 disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
Os anos utilizados na análise foram escolhidos considerando a disponibilidade e visibilidade
das imagens do satélite para a área de estudo, sendo eles 1986, 1993, 1999, 2004, 2006 e
2010.
A ocupação do solo foi classificada em agricultura (onde predomina a cultura de
arroz irrigado), área urbana, área natural (presença de vegetação em estágio médio e
avançado), pasto/vegetação rasteira e espelho d’água, a partir de fotointerpretação
13
utilizando o software ArcGis 10.0. A escolha dos usos considerou a qualidade das
imagens de satélite, fazendo com que classes, como áreas de reflorestamento, fossem de
difícil interpretação. A partir desta análise foi possível verificar o avanço do uso do solo na
área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú no período estudado. Os
resultados da evolução percentual da ocupação do solo foram analisados através de
estatística descritiva e na forma de mapas.
3.3 ANÁLISE DA MATA CILIAR
Para determinar a condição em que se encontra a mata ciliar dos afluentes da Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú foram aplicadas as metodologias propostas por Leal (2012),
Minatti-Ferreira e Beaumord (2006) e Cionek et al. (2011), através da utilização das imagens
aéreas obtidas pelo Governo do Estado de Santa Catarina, do levantamento
fotogeorreferenciado realizado por Comitê Camboriú (2013) e de visitas a campo. As
metodologias são baseadas na determinação da qualidade do ambiente através da
aplicação de um protocolo utilizando parâmetros voltados exclusivamente para a mata ciliar.
Para tanto, foram realizadas seis saídas de campo entre os meses de junho e agosto, onde
foram avaliados 171 pontos da Bacia Hidrográfica, distribuídos em quatro regiões, sendo
elas: Rio Camboriú, Rio Pequeno, Rio do Braço e Rio dos Macacos (Figura 2). Foram
analisados 13 trechos na região do Rio Camboriú, 28 no Rio Pequeno, 72 no Rio do Braço e
58 no Rio dos Macacos. A escolha dos pontos amostrais foi baseada nos seguintes
aspectos: a) abrangerem todas as áreas de contribuição hídrica da bacia hidrográfica; b)
localização e acesso, procurando-se compreender de forma mais ampla possível a bacia
hidrográfica, incluindo áreas urbanas, peri-urbanas, rurais e naturais; e c) terem sido
registrados fotograficamente por Comitê Camboriú (2013).
Para a classificação da mata ciliar foram considerados os parâmetros presença e
estado (Apêndice A). Foram definidos 5 intervalos de classificação para o parâmetro
presença e 4 para o estado da mata ciliar (Tabelas 1 e 2), sendo os resultados analisados
separadamente por parâmetro. A presença da mata ciliar foi quantificada através do
software ArcGis 10.0, onde as margens dos rios foram plotadas de acordo com as distâncias
previstas no Código Florestal de 2012, sem considerar o disposto sobre as áreas
consolidadas até 22 de julho de 2008, devido a sua difícil identificação (BRASIL, 2012).
Dessa forma, foi possível identificar a presença da mata ciliar dentro dos limites impostos na
legislação, através da aerofotogrametria da bacia hidrográfica, e classificar a área conforme
a metodologia de Leal (2012). A avaliação em cada ponto foi realizada separadamente para
as margens esquerda e direita, montante e jusante, com notas variando de zero a 4. Ao
final, os valores foram somados, chegando-se à classificação de cada trecho, conforme os
14
intervalos apresentados na Tabela 1. Para determinar o estado da mata ciliar, foi
considerada a qualidade vegetal das margens, cobertura vegetal das margens, proteção
vegetal dos barrancos e estabilidade dos barrancos (Apêndice A), com notas variando de
zero a 10. Da mesma forma que realizado para a presença, os valores obtidos para o estado
da mata ciliar foram somados, chegando à classificação apresentada na Tabela 2.
Tabela 1 - Classificação da presença da mata ciliar para trechos de rio baseado em diferentes intervalos de pontuações.
Classificação Intervalo
Inexistente 0
Péssima 1-4
Regular 5-8
Boa 9-12
Ótima 13-16
Tabela 2 - Classificação do estado da mata ciliar para trechos de rio baseado em diferentes intervalos de pontuações.
Classificação Intervalo
Péssima 0-40
Regular 41-80
Boa 81-120
Ótima 121-160
Figura 2 - Localização das quatro regiões na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
15
3.4 APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO RÁPIDA DE INTEGRIDADE
AMBIENTAL
O Protocolo de Avaliação Rápida (PAR) do ambiente foi baseado no modelo
simplificado de Minatti-Ferreira e Beaumord (2006), que consiste na observação in loco do
ambiente para análise de diferentes parâmetros, através de um sistema de pontuação, que
ao final irá qualificar o ambiente, variando de situação ótima a péssima. O PAR inclui os
parâmetros substrato de fundo, complexidade do hábitat e qualidade dos remansos
(Apêndice B). Através das visitas a campo e com o auxílio do levantamento
fotogeorreferenciado disponibilizado pelo Comitê Camboriú, foi determinada a integridade
ambiental dos afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú. O PAR foi aplicado em seis
visitas a campo, no mesmo momento da análise da mata ciliar, entre os meses de junho e
agosto, onde foram avaliados 171 pontos. Entretanto, as regiões à jusante da bacia não
podem ser avaliadas da mesma forma que as áreas à montante, uma vez que ambas
possuem características distintas. Sendo assim, os pontos localizados na região potamal da
bacia hidrográfica foram desconsiderados na análise final, resultando em 54 pontos
amostrais analisados (15 na região do Rio Pequeno, 27 no Rio do Braço e 12 no Rio dos
Macacos). Da mesma maneira que a análise da mata ciliar, as pontuações atribuídas aos
parâmetros substrato de fundo, complexidade do hábitat e qualidade dos remansos foram
somadas, obtendo a pontuação e respectiva classificação apresentadas na Tabela 3.
Tabela 3 – Classificação da integridade ambiental para trechos de rio baseado em diferentes intervalos de pontuações.
Classificação Intervalo
Péssima 0-30
Regular 31-60
Boa 61-90
Ótima 91-120
3.5 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BIOLÓGICAS
As variáveis físico-químicas e biológicas da água foram registradas no período de
dezembro de 2014 a setembro de 2015, em 10 pontos amostrais distribuídos pela Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú (Figura 1; Tabela 4). Os parâmetros registrados em campo
foram: temperatura da água (ºC), potencial hidrogeniônico (pH), oxigênio dissolvido (mg/l),
condutividade (mS/cm), salinidade (%) e turbidez (NTU). Estas variáveis foram registradas
utilizando termômetro, pHmetro, oxímetro, multianalisador portátil e turbidímetro,
16
devidamente calibrados. Para a medição da demanda bioquímica de oxigênio (DBO)
foram coletados 1000 ml de água em cada ponto amostral, em garrafas plásticas
acondicionadas em isopor com gelo. Posteriormente, as amostras foram transferidas aos
frascos de DBO, para a leitura da concentração inicial de oxigênio dissolvido. Em seguida,
os frascos foram armazenados em ambiente com temperatura controlada em 20ºC, isolados
de luminosidade, por cinco dias no Laboratório de Microbiologia Aplicada (LAMA) da
UNIVALI. Por fim, a concentração final de oxigênio foi medida, sendo obtido o valor de DBO
através da diferença entre a concentração final e inicial. O procedimento foi realizado em
triplicata. Os dados foram agrupados por datas e pontos amostrais para a verificação de
variações espaço-temporais dos mesmos e os resultados comparados com as conclusões
apresentadas no trabalho de Urban (2008).
Tabela 4 - Localização dos pontos amostrais na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC) para análises físico-químicas e biológicas.
Ponto amostral Localização Lat./Long. Nome do ponto Área
1 27°00’7,62’’ S
Rio Camboriú Urbana 48°37’6,41’’W
2 27°00’5,56’’ S
Ribeirão Peroba Urbana 48°38’7,69’’ W
3 27°01’2,23’’ S
Rio Camboriú Peri-urbana 48°39’4,52’’ W
4 27°01’4,38’’ S
Rio Pequeno Peri-urbana 48°38’4,75’’ W
5 27°05’3,63’’ S
Rio Camboriú Rural 48°41’5,80’’ W
6 27°07’2,30’’ S
Ribeirão dos Macacos
Natural 48°41’9,77’’ W
7 27°07’3,63’’ S
Rio do Salto Natural 48°43’1,37’’ W
8 27°06’9,73’’ S
Louro Natural 48°44’9,50’’ W
9 27°06’3,68’’ S
Rio Gavião Natural 48°46’3,95’’ W
10 27°03’4,14’’ S
Rio do Braço Rural 48°42’2,43’’ W
17
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 MUDANÇAS NO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
A classificação do uso e ocupação do solo possibilitou visualizar, de forma mais
clara, a distribuição e quantificação das áreas urbana, agrícola, natural e pasto/vegetação
rasteira na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (Figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; Tabela 5).
Apesar de ainda ser a classe de maior representatividade na bacia, a área natural foi a que
apresentou maior redução percentual, chegando a quase 10% entre 1986 e 1993 (Figuras 3,
4 e 9; Tabela 5). O difícil acesso a essas áreas, caracterizadas pela existência de morrarias,
faz com que boa parte de sua extensão seja mantida, embora a ocupação urbana também
tenha avançado nessas regiões, principalmente a partir de 2004. No ano de 2006 as áreas
naturais voltaram a crescer em locais antes ocupados por pasto/vegetação rasteira, fato que
pode estar associado a vegetação em fase de regeneração e ao plantio de eucalipto
(Eucalyptus sp.). A região do Rio Pequeno é a que apresentou maior redução de cobertura
vegetal ao longo do período 1986-2010, alcançando 15% (Figura 9b; Apêndice C). A menor
área natural foi identificada na região do Rio Camboriú, com uma redução de cerca de 14%
no período estudado.
A área ocupada por pasto/vegetação rasteira cresceu mais de 8% entre 1986 e 1993,
inclusive nas zonas altas da bacia hidrográfica, i.e. regiões do Rio do Braço e Rio dos
Macacos. A retirada de vegetação nativa para a plantação de eucalipto ou ocupação de
gado nestas regiões foi observada em visitas a campo. Esta classe apresenta grande
variação de área na bacia, sendo substituída por diferentes usos do solo ao longo do tempo.
Apesar do aumento da ocupação do solo por pasto/vegetação rasteira nas quatro áreas
entre os anos de 1993 e 2004, o período seguinte, entre 2006 e 2010, apresentou redução
desta classe (Figura 9).
A área urbana cresceu de 9% para 10% no período 1986-1999, alcançando 21% da
ocupação do solo em 2010, fazendo desta a classe de maior crescimento na bacia
hidrográfica. O aumento das áreas urbanas foi mais expressivo nas regiões do Rio
Camboriú e Rio Pequeno, onde se observou gradativo adensamento da mancha urbana
(Figuras 9a e 9b). A região do Rio Pequeno, assim como a dos Macacos, possui áreas de
morraria onde também foram registradas novas manchas de ocupação urbana, inclusive
próximas às nascentes. No caso do Rio Pequeno, a área urbana passou de 11% em 1986
para 34% em 2010, o maior crescimento relativo na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú.
Por outro lado, as regiões do Rio do Braço e do Rio dos Macacos foram as de menor
ocupação urbana, embora sua extensão tenha dobrado entre 2006 e 2010 na região dos
Macacos (Figuras 7 e 8).
18
Em geral, as áreas agrícolas se mantiveram estáveis ao longo do período,
apresentando queda a partir do ano de 2004 (Figuras 6 e 9). A agricultura está situada em
maior parte na região do Rio dos Macacos, onde foi observado um aumento entre os anos
de 1993 e 2006, seguido de uma redução em 2010. Além disso, entre 1986 e 2006 havia
mais áreas agrícolas do que urbanas nesta região, sendo que a situação foi invertida em
2010. O mesmo foi verificado na região do Rio do Braço, com uma agricultura representativa
até o ano de 2004, sendo substituída pela ocupação urbana a partir de 2006. Os dados
revelaram também que a região do Rio Camboriú foi pouco ocupada por áreas agrícolas,
representando menos de 1% até 2006, não sendo mais registrada em 2010.
O aumento da área natural, em ambientes expostos a fatores estressores, pode estar
associado à plantação de eucaliptos, fato observado em campo e também mencionado nos
estudos de Urban (2008) e Padilha (2013), que verificou a existência de uma área de cerca
de 6 km² ocupada por espécies exóticas. Em adição, recente estudo de Granemann (2014)
destacou que a monocultura de eucalipto ocupa aproximadamente 14% da área da bacia. O
presente estudo considerou tanto a vegetação nativa quanto a exótica como área natural,
devido a dificuldade de diferenciar tais manchas pela imagem de satélite, podendo provocar
erros na classificação. Entretanto, o método utilizado mostrou-se confiável, pois o resultado
obtido para o ano de 1999 é igual ao apresentado por Epagri (1999), que registrou 63% da
área da bacia hidrográfica coberta por floresta nativa.
19
Figura 3- Mapa de uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), no ano de 1986.
Figura 4 - Mapa de uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), no ano de 1993.
20
Figura 5 - Mapa de uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), no ano de 1999.
Figura 6 - Mapa de uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), no ano de 2004.
21
Figura 7 - Mapa de uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), no ano de 2006.
Figura 8 - Mapa de uso e ocupação do solo na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), no ano de 2010.
22
Tabela 5 – Porcentagem de ocupação de cada classe, para o período entre 1986-2010, na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Classe Ano/ocupação (%)
1986 1993 1999 2004 2006 2010
Área Urbana 9,43 10,19 10,49 13,53 17,50 21,18
Área Natural 73,72 64,30 62,88 59,23 67,65 63,38
Pasto/rasteira 13,40 21,42 23,62 22,71 10,63 11,84
Agricultura 1,97 2,57 2,51 4,07 3,77 3,23
Espelho d'água 0,40 0,65 0,50 0,45 0,45 0,37
Sem classificação 1,09 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00
Figura 9 - Área ocupada por cada classe de uso do solo na (a) região do Rio Camboriú, (b) região do Rio Pequeno, (c) região do Rio do Braço e (d) região do Rio dos Macacos, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
23
4.2 ANÁLISE DA MATA CILIAR
Em relação ao estado e presença da mata ciliar, os resultados para a Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú mostram que aproximadamente 65% dos trechos estudados
estão em condições péssimas ou regulares (Figura 10). Em apenas 13% dos trechos
avaliados a mata ciliar foi classificada em estado ótimo, sendo que em relação a presença
17% estão nesta categoria. Estes dados evidenciam que o rio Camboriú e seus afluentes
encontram-se em desconformidade com o Código Florestal Brasileiro (2012), considerando
que a classificação ótima diz respeito às margens 100% cobertas por vegetação, ou seja,
quando a área de preservação permanente (APP) está sendo mantida.
Figura 10 - Estado (a) e presença (b) da mata ciliar na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
A área denominada Rio Camboriú apresenta o pior estado de mata ciliar, onde
apenas 23% da vegetação existente está em boas condições (Figura 11). Os trechos que
compõem a região são predominantemente ocupados por atividades antropogênicas, sendo
encontradas margens concretadas em diversos pontos. Este fato faz com que a estabilidade
dos barrancos, um dos parâmetros constituintes do estado da mata ciliar, tenha obtido
classificação péssima nestes trechos, devido a descaracterização do ambiente natural. Com
relação à presença da mata ciliar, o Rio Camboriú também apresentou os piores resultados,
com 61% dos trechos classificados como péssimos e 8% onde não há vegetação (Figura
11).
A região do Rio Pequeno encontra-se em melhor estado de mata ciliar, sendo
registradas 39% das áreas em boas condições e 14% em ótimas (Figura 12). Houve mais
registros de classificações boas e ótimas nos trechos a montante, próximos as morrarias,
sendo que na zona baixa nenhum trecho obteve a melhor classificação para o estado.
Quanto à análise individual dos parâmetros do estado da mata ciliar, foi observado que a
qualidade vegetal das margens recebeu as piores pontuações, com 64% dos trechos
24
classificados como péssimos ou regulares. A região também apresentou as melhores
notas no parâmetro presença da mata ciliar, chegando a 43% dos trechos com classificação
boa ou ótima. Porém, assim como na região do Rio Camboriú, foram registrados trechos de
inexistência de mata ciliar no Rio Pequeno, chegando a 4%. As classificações ótimas e boas
para a presença concentraram-se nas zonas altas da região, não sendo registrados trechos
com tais classificações nas partes baixas.
O Rio do Braço foi a região com maior número de pontos amostrais, localizados em
grande parte nas áreas altas da bacia hidrográfica. Aproximadamente 60% dos trechos
desta região foram classificados em estado regular ou péssimo (Figura 13). Quanto à
presença, os resultados são ainda piores, sendo registrados 43% dos trechos em péssimas
condições. Novamente os trechos melhor classificados encontram-se à montante, sendo
registrados 12 dos 72 pontos em ótimas condições, tanto para o estado quanto para a
presença da mata ciliar. Da mesma maneira, 6 trechos da zona baixa apresentaram
classificação péssima para ambos os parâmetros.
A região do Rio dos Macacos, quanto ao estado da mata ciliar, apresentou 10% dos
trechos com classificação péssima e 52% como regular (Figura 14). Tais resultados são
similares aos obtidos para a região do Rio Camboriú, porém, o Rio dos Macacos está
localizado em áreas mais altas da bacia hidrográfica, onde deveria ser esperado melhores
pontuações para a mata ciliar. Apenas quatro trechos receberam classificação ótima quanto
ao estado, o que mostra que a zona ripária desta região está ameaçada. Quanto a presença
da mata ciliar, os resultados mostram que 66% dos trechos estão classificados como
péssimo ou regular. Informações mais detalhadas sobre estado e presença da mata ciliar
nas quatro áreas estudadas podem ser observadas no Apêndice D.
De maneira geral, os resultados mostraram que mesmo em regiões altas a bacia
hidrográfica vem sofrendo com a ocupação antropogênica, fato este que pode afetar
diretamente a qualidade dos cursos d’água desde as zonas ritrais. Exemplo disso são as
áreas do Rio do Braço e Rio dos Macacos, cujas margens estão ocupadas em parte pela
cultura do arroz irrigado. Com a análise individual dos parâmetros que compõem o estado
da mata ciliar (qualidade e cobertura vegetal das margens, proteção vegetal e estabilidade
dos barrancos) foi averiguado que a qualidade vegetal apresentou as piores classificações,
em todas as regiões da bacia. Isto indica que mesmo em pontos onde há existência de
mata, estas são, em maioria, representadas por vegetação exótica associada à presença de
impactos antropogênicos, ou ainda pastagem e ocupação urbana. Em toda a extensão da
bacia são encontrados trechos com presença de Brachiaria sp. às margens dos cursos
d’água, fazendo com que a classificação seja ruim com relação ao parâmetro estado da
mata ciliar. Segundo estudo de Padilha (2013), as áreas de pastagem/vegetação em estágio
inicial somam aproximadamente 25% do total da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú.
25
O parâmetro qualidade vegetal das margens também foi avaliado em outros rios
por Minatti-Ferreira e Beaumord (2004), Cionek et al. (2011) e Rodrigues et al. (2008). Na
região do Arenito Caiuá (PR), em quatro dos cinco trechos avaliados por Cionek et al.
(2011), as margens apresentaram piores pontuações para a qualidade vegetal. O mesmo foi
verificado por Rodrigues et al. (2008) na região de Ouro Preto (MG), onde o estado de
conservação da vegetação do entorno recebeu notas mais baixas, inclusive em trechos de
alto curso. Os resultados apresentados pelos autores são similares ao registrado na Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú, o que mostra que as zonas ripárias, mesmo que classificadas
em boas condições, são representadas, em grande parte, por espécies exóticas. Rodrigues
et al. (2008) também revela que as áreas de baixo curso apresentam, em sua maioria,
condições regulares e péssimas. Tal situação também foi registrada por Minatti-Ferreira e
Beaumord (2004), com destaque para a Sub-bacia do Rio da Limeira (Itajaí, SC), que possui
características semelhantes às regiões do Rio do Braço e Rio dos Macacos, onde há cultura
do arroz irrigado. O fato das regiões planas concentrarem maior número de atividades
antropogênicas reflete diretamente nos resultados obtidos para a situação da mata ciliar da
Bacia do Rio Camboriú, bem como da Sub-bacia do Rio da Limeira (MINATTI-FERREIRA;
BEAUMORD, 2004) e da região de Ouro Preto (MG) (RODRIGUES et al., 2008).
A situação da mata ciliar encontrada na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú
preocupa, uma vez que a sua importância vai além da vegetação que a compõe e da biota
associada a este ecossistema. A qualidade dos cursos d’água e da bacia hidrográfica
depende da saúde da zona ripária, que provê sombra, nutrientes, estabilização das
margens, dentre outras funções que garantem boas condições aos ecossistemas aquáticos
(DEBANO; SCHMIDT, 1989). A presença da mata ciliar, parâmetro pior classificado para a
bacia, apresentou redução durante o período de visitas a campo. Trechos avaliados no
presente estudo tiveram redução da cobertura vegetal entre janeiro e setembro de 2015,
período em que foram realizados registros fotográficos dos pontos amostrais para análise de
parâmetros físico-químicos. Isto demonstra a vulnerabilidade deste ecossistema e a
velocidade que o mesmo é modificado por ações antropogênicas.
26
Figura 11 - Mapa contendo a situação da mata ciliar na região do Rio Camboriú, na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Figura 12 - Mapa contendo a situação da mata ciliar na região do Rio Pequeno, na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
27
Figura 13 - Mapa contendo a situação da mata ciliar na região do Rio do Braço, na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Figura 14 - Mapa contendo a situação da mata ciliar na região do Rio dos Macacos, na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
28
4.3 ANÁLISE DA INTEGRIDADE AMBIENTAL
A análise da integridade ambiental dos principais afluentes da Bacia Hidrográfica do
Rio Camboriú foi realizada exclusivamente para riachos da área ritral, sendo assim, a região
do Rio Camboriú e trechos de baixo curso não foram considerados. Dos 171 trechos com
análise de mata ciliar, em 54 pontos foi verificada a integridade ambiental (Figuras 15, 16 e
17), pois a descrição dos parâmetros se aplica exclusivamente a esses pontos. Em
aproximadamente 60% dos trechos avaliados foram obtidas classificações boas ou ótimas
(Apêndice E). Os resultados obtidos para a mata ciliar e integridade ambiental foram
distintos, o que pode estar associado a localização e número de trechos analisados.
Diferentemente do que foi averiguado com relação à mata ciliar, a região do Rio
Pequeno apresentou as piores condições com relação à integridade ambiental. Dos trechos
avaliados, 60% foram classificados em condições péssimas ou regulares (Figura 15). A
região do Rio dos Macacos obteve resultados semelhantes ao Rio Pequeno, registrando
50% das áreas classificadas como péssimas ou regulares (Figura 17). Estas categorias
somam 26% para a região do Rio do Braço, local com predomínio de trechos classificados
em estado bom (30%) e ótimo (44%) (Figura 16). Em geral, parâmetros da integridade
ambiental como o substrato de fundo e a complexidade do habitat apresentaram
características similares, propiciando para a biota alimento e refúgio (MINATTI-FERREIRA;
BEAUMORD, 2006).
A situação da mata ciliar encontrada em trechos de alto curso mostrou que em áreas
conservadas, a integridade ambiental dos riachos foi melhor classificada. Isto comprova que
a qualidade da zona ripária reflete diretamente sobre a integridade dos ecossistemas
aquáticos, tema abordado por diversos autores (DEBANO; SCHMIDT, 1989; ELMORE;
BESCHTA, 1987; LIMA; ZAKIA, 2000). Embora os trechos de baixo curso não tenham sido
avaliados quanto à integridade ambiental, a relação existente entre as condições da zona
ripária e os cursos d’água pode ser indicativo de má qualidade nestes locais, onde foram
registradas péssimas condições de mata ciliar.
29
Figura 15 - Mapa da integridade ambiental na região do Rio Pequeno, na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Figura 16 - Mapa da integridade ambiental na região do Rio do Braço, na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
30
Figura 17 - Mapa da integridade ambiental da região do Rio dos Macacos, na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
4.4 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BIOLÓGICAS
Para as análises físico-químicas e biológicas foram realizadas nove saídas de campo
entre os meses de dezembro de 2014 e setembro de 2015, em dez pontos amostrais
distribuídos pela Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (Figura 1; Apêndice G). As saídas
ocorreram em semanas com pouca ou nenhuma ocorrência de chuva, devido a interferência
da precipitação sobre os resultados. Por esta razão, nos meses de maio e outubro de 2015
não foram realizadas análises. A ordem de visita dos pontos amostrais foi realizada sempre
na sequência #1, #2, #3, #4, #10, #9, #8, #7, #6, #5, no período matutino.
A temperatura da água seguiu um padrão em todos os pontos amostrais, variando
conforme a época do ano (Figura 18). O mês de dezembro apresentou as maiores
temperaturas, enquanto em agosto foram obtidos os menores registros, variando entre 16°C
e 28,5°C (Apêndice F). Em geral, os pontos localizados nas áreas naturais (#6, #7, #8 e #9)
apresentaram os menores valores de temperatura, devido, principalmente, a maior cobertura
vegetal nas margens. Estudo realizado por Urban (2008) apresentou o mês de agosto como
o mais frio, com média de temperatura igual a 16,2°C no ano de 2005. Embora a menor
temperatura do presente estudo tenha sido registrada em agosto, a menor média foi
31
observada no mês de junho, com 17,7°C. A temperatura máxima média chegou a 25,9°C
no mês de dezembro, enquanto que Urban (2008) registrou 25°C em março.
Figura 18 - Temperatura da água em 10 pontos amostrais na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015.
A condutividade foi dividida entre os pontos que não sofrem efeito da salinidade (#5,
#6, #7, #8, #9 e #10) e os que sofrem (#1, #2, #3 e #4). Os pontos não influenciados pela
salinidade variaram de 0,035 mS/cm (#9, julho/2015) a 0,1 mS/cm (#5, janeiro/2015) (Figura
19; Apêndice F). Os pontos #6 e #9 apresentaram condutividade similar, assim como os
pontos #7, #8 e #10. Por outro lado, o #5, localizado em área rural, apresentou valores
superiores aos demais pontos. Tal resultado difere do obtido por Urban (2008), onde os
maiores valores de condutividade foram registrados no #8. Segundo Brigante et al. (2003),
em geral, maiores índices de condutividade são apresentados em ambientes poluídos,
devido ao aumento do conteúdo mineral, o que pode explicar os valores registrados no #5,
local de atividade agrícola, pouca cobertura vegetal nas margens e próximo à estrada. Além
disso, Esteves (2010) cita que o pH e a temperatura influenciam a condutividade elétrica,
especialmente em locais com pH inferior a 5 e superior a 9. Quanto aos pontos influenciados
pela salinidade, a variação foi de 0,122 mS/cm (#3, setembro/2015) a 36,8 mS/cm (#1,
julho/2015) (Figura 20). O maior valor observado no #1 tem relação com a salinidade
registrada em julho, que alcançou 23,4. Este ponto apresentou aumento no valor médio de
condutividade em relação ao estudo realizado por Urban (2008), passando de 15,87 mS/cm
15
17
19
21
23
25
27
29
Dez Jan Fev Mar Abr Jun Jul Ago Set
Tem
pe
ratu
ra d
a ág
ua
(°C
)
Mês
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
32
para 20,4 mS/cm. Os demais pontos (#2, #3 e #4) também sofrem influência de maré,
porém registraram valores inferiores a 10,3 mS/cm.
Figura 19 - Condutividade da água em 6 pontos amostrais, sem influência da salinidade, na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015.
Figura 20 - Condutividade da água em 6 pontos amostrais, com influência da salinidade, na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015.
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
Dez Jan Fev Mar Abr Jun Jul Ago Set
Co
nd
uti
vid
ade
(m
S/cm
)
Mês
5
6
7
8
9
10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Dez Jan Fev Mar Abr Jun Jul Ago Set
Co
nd
uti
vid
ade
(m
S/cm
)
Mês
1
2
3
4
33
A concentração de oxigênio dissolvido (OD) variou entre 0,22 mg/l (#2,
março/2015) e 11,7 mg/l (#9, agosto/2015), resultados presentes na Figura 21. Do ponto #5
ao #10 foram observadas características semelhantes, no aumento e redução da
concentração, com picos registrados no mês de agosto e mínimas em fevereiro (Apêndice
F). Em fevereiro e setembro foram registrados valores baixos de OD nos dez pontos
amostrais. Os pontos #1, #2 e #4 apresentaram os menores valores de OD, sendo que o #2,
localizado no Rio Peroba, encontra-se nas piores condições, com média igual a 2,37 mg/l.
Por outro lado, o #9 na Limeira registrou a maior média de oxigênio dissolvido com 7,49
mg/l. Urban (2008) registrou os mesmos resultados quanto aos pontos em estado melhor
(áreas rurais e naturais) e pior (áreas urbanas e peri-urbanas).
A Resolução CERH nº001/2008 descreve que corpos d’água que não possuem
enquadramento proposto pelo Plano de Bacia devem adotar a classificação disposta na
Resolução CONAMA n°357/2005 (SANTA CATARINA, 2008b; BRASIL, 2005). Nesta
resolução consta que para cursos de água doce, sem enquadramento definido, deve-se
considerar classe 2, enquanto que para águas salobras será adotada classe 1. Os pontos
amostrais #1, #2 e #3, por apresentarem salinidade média superior a 0,5%, são
classificados como águas salobras. Os demais pontos, de #4 a #10, são classificados como
cursos de água doce. Tanto para águas doces classe 2, quanto para águas salobras classe
1, a concentração mínima de oxigênio dissolvido exigida pela resolução é de 5 mg/l. Dessa
forma, os pontos amostrais #1, #2 e #4 encontram-se em desconformidade com a
legislação. Quanto à época de amostragem, os meses de janeiro, fevereiro e setembro
também estiveram abaixo da concentração mínima exigida. A diminuição da concentração
de OD nos meses de verão pode estar relacionada ao aumento da temperatura da água,
quando a atividade microbiológica é maior, havendo maior consumo de oxigênio. Além
disso, neste período o despejo de carga orgânica nos cursos d’água aumenta
consideravelmente, devido ao acréscimo populacional no município de Balneário Camboriú.
As baixas concentrações de oxigênio dissolvido registradas em alguns pontos
amostrais da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú podem representar risco para a ictiofauna
destes cursos d’água. Segundo Von Sperling (2007), espécies de peixes mais exigentes não
conseguem sobreviver em ambientes com concentração de OD entre 4-5 mg/l, sendo que
em locais onde esta é inferior a 2 mg/l, e.g. ponto amostral #2, a ictiofauna é praticamente
inexistente.
34
Figura 21 - Concentração de oxigênio dissolvido em 10 pontos amostrais na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015.
A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) variou de 0,14 mg/l (#2, janeiro/2015) a
8,37 mg/l (#2, fevereiro/2015), apresentando comportamento semelhante para os pontos
amostrais de #5 a #10 (Figura 22; Apêndice F). O valor mínimo registrado no ponto #2 foi
devido à concentração inicial de oxigênio dissolvido ter sido inferior a 0,26 mg/l, ou seja, não
havia disponibilidade de OD no ambiente no mês de janeiro. O Rio Peroba (#2) se destaca
novamente como o ponto de pior qualidade da água, com DBO médio de 5,07 mg/l. Os
pontos localizados nas zonas urbana (#1 e #2) e peri-urbana (#3 e #4) registraram os
maiores valores de DBO. Os meses de dezembro e janeiro apresentaram as maiores
concentrações de DBO, provavelmente devido ao aumento populacional e,
consequentemente, da descarga de efluente nos rios. Em vários locais da bacia hidrográfica
foram observadas tubulações de esgoto direcionadas aos cursos d’água, fato que aumenta
a matéria orgânica no ambiente, sendo necessário maior consumo de oxigênio para a sua
degradação (Apêndice G). Durante o período amostral, valores de DBO superiores ao
máximo permitido, de 5mg/l presente na Resolução Conama n°357/2005, foram registrados
pelo menos uma vez para cada ponto amostral analisado.
0
2
4
6
8
10
12
14
Dez Jan Fev Mar Abr Jun Jul Ago Set
Oxi
gên
io d
isso
lvid
o(m
g/l)
Mês
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
35
Figura 22 - Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) em 10 pontos amostrais na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015.
Os valores de pH variaram de 3,24 (#10, fevereiro/2015) a 9,45 (#4, março/2015),
não sendo registrado padrão definido para os resultados encontrados (Figura 23; Apêndice
F). Em quatro meses de amostragem (dezembro, janeiro, fevereiro e julho) foram
registrados valores de pH médio inferior ao mínimo exigido pela Conama n°357/2005 para
águas doces (6 a 9) e águas salobras (6,5 a 8,5). Quanto aos pontos amostrais, apenas o
#3 teve registro inferior a 6,5. Foi observado que os valores de pH apresentaram redução
em relação ao verificado por Urban (2008), onde o mínimo registrado foi de 6,4. Além disso,
o autor destacou a redução do pH do período de 2001/2002 para 2005/2006. Isto demonstra
que os cursos d’água da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú veem apresentando perfil mais
ácido ao longo dos anos. Esteves (2010) cita que o pH pode ser influenciado por diversos
fatores, dificultando a sua interpretação. Um destes fatores é o lançamento de efluentes
domésticos, verificado em toda a extensão da bacia de estudo, podendo explicar os
menores índices de pH registrados, principalmente na época de veraneio. A salinidade
também influencia os valores de pH, fato mencionado por Urban (2008) e verificado no
presente estudo, onde os maiores resultados foram registrados nos pontos #1 e #2, áreas
salobras.
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
Dez Jan Fev Mar Abr Jun Jul Ago Set
DB
O (
mg/
l)
Mês
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
36
Figura 23 - Valores de pH da água em 10 pontos amostrais na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015.
A turbidez apresentou grande variação, tanto temporalmente quanto espacialmente
(Figura 24). Os valores variaram entre 1,49 NTU (#9, junho/2015) e 161 NTU (#3,
julho/2015) (Apêndice F). Os pontos #2 e #3, localizados em áreas mais urbanizadas,
registraram os maiores valores, relacionados principalmente com o lançamento de efluente
doméstico sem tratamento. Além do despejo de esgoto, a pouca cobertura vegetal nas
margens do Rio Peroba (#2) pode influenciar diretamente a turbidez da água. Os meses de
julho e setembro apresentaram os maiores valores de turbidez, tendo forte influência do
ponto amostral #3. Os índices de precipitação acumulada nas 72 horas anteriores às
campanhas amostrais não justificam os resultados de turbidez obtidos nos meses de julho e
setembro, uma vez que não houve chuva neste período (Anexo A). Os pontos #6, #8 e #9
apresentaram os menores resultados para o parâmetro. Urban (2008) também registrou
melhores resultados para os pontos #8 e #9, destacando a ocupação das margens por
vegetação em bom estado de conservação, fato que contribui para a proteção dos cursos
d’água.
3
4
5
6
7
8
9
10
Dez Jan Fev Mar Abr Jun Jul Ago Set
pH
Mês
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
37
Figura 24 - Turbidez da água em 10 pontos amostrais na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015.
Em geral, os pontos amostrais localizados nas áreas naturais apresentaram melhor
qualidade dos cursos d’água. Quanto ao estado e presença da mata ciliar, foi verificado que
pontos com classificações regulares e péssimas (#2 e #4) apresentaram valores ruins para
os parâmetros de qualidade dos cursos d’água analisados. Da mesma maneira, os pontos
com mata conservada no entorno apresentaram os melhores resultados, principalmente
para a concentração de oxigênio dissolvido. Além disso, a ocupação do solo também pode
influenciar os parâmetros físico-químicos e biológicos, especialmente em áreas muito
urbanizadas, como é o caso dos pontos #1, #2, #3 e #4.
Em comparação com o estudo de Urban (2008), foram observadas diferenças para
os parâmetros oxigênio dissolvido e turbidez, conforme os pontos amostrais. Com relação
ao oxigênio dissolvido, foi observado que as áreas rurais (#5 e #10) e naturais (#6, #7, #8 e
#9) registraram redução na concentração média. Por outro lado, os pontos localizados nas
áreas urbana (#1 e #2) e peri-urbana (#3 e #4) apresentaram aumento nas concentrações
médias. Quanto à turbidez, houve aumento dos índices nos pontos #7, #8 e #9. Tais
resultados demonstram que no horizonte de dez anos entre o presente estudo e o realizado
por Urban (2008), houve diminuição da qualidade da água nos pontos localizados nas áreas
naturais, para os parâmetros citados anteriormente.
0
10
20
30
40
50
60
70
Dez Jan Fev Mar Abr Jun Jul Ago Set
Turb
ide
z (N
TU)
Mês
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
38
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos resultados obtidos no presente estudo para a Bacia Hidrográfica do Rio
Camboriú (SC), referentes às mudanças no uso e ocupação do solo, mata ciliar, integridade
ambiental e parâmetros físico-químicos e biológicos, pode-se concluir que:
a) A área urbana da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú cresceu cerca de 125% entre os
anos de 1986 e 2010, por outro lado a área natural diminuiu aproximadamente 15% no
mesmo período;
b) a mata ciliar do rio Camboriú e seus afluentes encontra-se em desconformidade com o
Código Florestal Brasileiro;
c) a classificação do estado e presença da mata ciliar revela diferenças para as quatro
regiões estudadas na Bacia Hidrográfica;
d) os trechos de baixo curso encontram-se em pior qualidade de mata ciliar;
e) existe relação entre a situação da mata ciliar e a qualidade dos cursos d’água;
f) todos os pontos amostrais apresentaram ao menos um parâmetro em desconformidade
com a Resolução Conama n°357/2005 nos nove meses de análises;
g) comparando o presente estudo com os realizados por Urban (2008), incluindo os
períodos 2001-2002 e 2005-2006, ficou constatada uma contínua redução da concentração
de oxigênio dissolvido na água, nas áreas rurais e naturais, e dos valores de pH, na
totalidade da bacia hidrográfica;
h) houve aumento nos valores de condutividade elétrica e temperatura média da água em
relação ao estudo de Urban (2008).
A partir das conclusões obtidas neste estudo, recomenda-se:
a) Recuperação das matas ciliares, principalmente nas áreas altas da Bacia Hidrográfica do
Rio Camboriú, de forma a melhorar a qualidade dos recursos hídricos até a foz;
b) monitorar a qualidade ambiental da bacia continuamente, pois apenas dessa forma pode-
se verificar processos de degradação;
c) implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto no município de Camboriú;
d) necessidade urgente da elaboração de um Plano de Recursos Hídricos para a Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú, principal instrumento da Política Nacional de Recursos
Hídricos (Lei nº 9433/1997);
e) manter atualizados os mapas de uso e ocupação do solo, para identificar mudanças
espaciais e temporais na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú.
39
6 REFERÊNCIAS
ANTUNES, A.; SCHWINGEL, P.R.; BURLIGA, A.L.M.; URBAN, S.R. Composição do
fitoplâncton na bacia hidrográfica do rio Camboriú (SC Brasil) durante o verão de 2005.
Braz. J. Aquat. Sci. Technol., v.11, n.2, p.33-43, 2007.
BARBOUR, M.T.; GERRITSEN, J.; SNYDER, B.D.; STRIBLING, J.B. Rapid bioassessment
protocols for use in stream and wadeable rivers: Periphyton, Benthic
Macroinvertebrates and Fish. 2.ed. U.S. Washington: Environmental Protection Agency,
1999.
BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente. Resolução nº 357 de 17 de março de
2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes,
e dá outras providências.
BRASIL. Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1934. Decreta o Código de Águas.
BRASIL. Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012. Novo Código Florestal Brasileiro.
BRASIL. Lei nº 4.771 de 15 de setembro de 1965. Institui o Código Florestal revogado pela
Lei nº 12.651 de 2012.
BRASIL. Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente.
BRASIL. Lei nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
BREN, L.J. Riparian zone, stream, and floodplain issues: a review. Journal of Hidrology,
n.150, p.277-299, 1993.
BRIGANTE, J.; ESPÍNDOLA, E.L.G.; POVINELLI, J.; NOGUEIRA, A.M. Caracterização
física, química e biológica da água do rio Mogi-Guaçu. In: BRIGANTE, J.; ESPÍNDOLA,
E.L.G. Limnologia fluvial: um estudo no rio Mogi-Guaçu. São Carlos: RiMa, p.55-76,
2003.
BUSS, D.F.; BORGES, E.L. Application of rapid bioassessment protocols (RBP) for benthic
macroinvertebrates in Brazil: comparison between Sampling Techniques and Mesh Sizes.
Neotropical Entomology. v.37, n.3, p.288-295, 2008.
CALLISTO, M.; FERREIRA, W.R.; MORENO, P.; GOULART, M.; PETRUCIO,M. Aplicação
de um protocolo de avaliação rápida da diversidade de habitats em atividades de ensino e
pesquisa (MG-RJ). Acta Limnol. Bras. v.14, n.1, p.91-98, 2002.
40
CAMPOS, K.B.G; RAMIRES, I.; PAULA, S.M. Influência do uso e ocupação do solo nos
recursos hídricos de quatro córregos na região de Caarapó – MS. Revista de Ciências
Ambientais, Canoas, v.5, n.2, p.77-92, 2011.
CETESB. Relatório de qualidade das águas interiores do estado de São Paulo 2008.
São Paulo: Cetesb, 513p., 2009.
CIONEK, V. de M.; BEAUMORD, A. C.; BENEDITO, E. Protocolo de avaliação rápida do
ambiente para riachos inseridos na região do Arenito Caiuá – Noroeste do Paraná. Maringá:
Eduem, Coleção Fundamentum, n. 72, 47p., 2011.
COMITÊ CAMBORIÚ. Levantamento Fotogeorreferenciado dos afluentes do rio
Camboriú (SC). Relatório Técnico. Camboriú, SC, 2013.
DEBANO, L.F.; SCHMIDT, L.J. Improving southwestern riparian areas through
watershed management. Gen. Tech. Rep. RM-182. Fort Collins, CO: U.S. Department of
Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Forest and Range Experiment Station. 33 p.
1989.
DONADIO, N.M.M.; GALBIATTI, J.A.; PAULA, R.C. Qualidade da água de nascentes com
diferentes usos do solo na Bacia Hidrográfica do Córrego Rico, São Paulo, Brasil. Eng.
Agríc., Jaboticabal, v.25, n.1, p.115-125, 2005.
ELMORE, W.; BESCHTA, R.L. Riparian Areas: Perceptions in Management. Rangelands,
v.9; n.6, p.260-265, 1987.
EPAGRI. Inventário das Terras da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú. Florianópolis.
1999.
ESTEVES, F. de A. Fundamentos de limnologia. 2.ed. Rio de Janeiro: Interciência, 602p.,
2010.
FIRMINO, P.F.; MALAFAIA, G.; RODRIGUES, A.S.L. Diagnóstico da integridade ambiental
de trechos de rios localizados no município de Ipameri, sudeste do Estado de Goiás, através
de um protocolo de avaliação rápida. Braz. J. Aquat. Scl. Technol. v.15, n.2, p.1-12, 2011.
GRANEMANN, A. R. B. Determinação do limite temporal e populacional do uso dos
recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Camboriú – SC, Brasil. 75f. Monografia
(Graduação em Engenharia Ambiental), Universidade do Vale do Itajaí. Itajaí, 2011.
GRANEMANN, A.R.B. Estudo das áreas de preservação permanente dos afluentes da
Bacia Hidrográfica Do Rio Camboriú (SC) frente a legislação vigente. 29f. Monografia
(Especialização em Direito Ambiental), Universidade do Vale do Itajaí. Itajaí, 2014.
GREGORY, S.V.; SWANSON, F.J.; MCKEE, W.A.; CUMMINS, K.W. An ecosystem
perspective of riparian zones. Focus on links between land and water. BioScience, v.41;
n.8, p.540-550, 1991.
41
IBGE. Censo Demográfico 2010. Disponível em:
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home>. Acesso em: 26 de setembro de 2014.
INMET. Instituto Nacional de Meteorologia. Estações automáticas – gráficos. Disponível
em: <http://www.inmet.gov.br/ >. Acesso em: 11 de novembro de 2015.
LACERDA, D.M.A.; FIGUEIREDO, P.S. Restauração de matas ciliares do rio Mearim no
município de Barra do Corda – MA: seleção de espécies e comparação de metodologias de
reflorestamento. Acta Amazônica, v.39; n.2, p. 295-304. 2009.
LEAL, K. P. Bacias hidrográficas dos rios Gravatá e Irirí, municípios de Navegantes e
Penha (SC): caracterização ambiental e recomendações para orientar políticas
públicas. 69f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental), Universidade do Vale do
Itajaí. Itajaí, 2012.
LIMA, W. P.; ZAKIA M. J. B. Hidrologia de matas ciliares. In: RODRIGUES; R.R.; LEITÃO
FILHO; H. F. (Ed.) Matas ciliares: conservação e recuperação. 2.ed. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, p.33-43, 2000.
LUZ, C.N. Uso e ocupação do solo e os impactos na qualidade dos recursos hídricos
superficiais da Bacia do Rio Ipitanga. 103f. Dissertação (Mestrado em Engenharia
Ambiental Urbana), Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2009.
MINATTI-FERREIRA, D. D.; BEAUMORD, A. C. Adequação de um protocolo de avaliação
rápida de integridade ambiental para ecossistemas de rios e riachos: Aspectos físicos.
Revista Saúde e Ambiente, v.7, n.1, p.39-47, 2006.
MINATTI-FERREIRA, D. D.; BEAUMORD, A.C. Avaliação rápida de integridade ambiental
das sub-bacias do rio Itajaí-Mirim no município de Brusque, SC. Revista Saúde e
Ambiente, v. 5, n. 2, p.21-27, 2004.
MISERENDINO, M.L.; CASAUX, R.; ARCHANGELSKY, M.; DI PRINZIO, C.Y.; BRAND, C.;
KUTSCHKER, A.M. Assessing land-use effects on water quality, in-stream habitat, riparian
ecosystems and biodiversity in Patagonian northwest streams. Science of the Total
Environment, v.409, p. 612-624, 2011.
MORING, J.R.; GARMAN, G.C.; MULLEN, D.M. The value of riparian zones for protecting
aquatic systems: general concerns and recent studies in Maine. North American Riparian
Conference, Tucson, Arizona, p.315-319, 1985.
MUÑOZ-ESPINOSA, H.R. Razões para um debate sobre as interfaces da gestão dos
recursos hídricos no contexto da lei de Águas de 1997. IN: MUÑOZ-ESPINOSA, H.R. (org).
Interfaces da gestão de recursos hídricos: desafios da lei de águas de 1997. 2. ed.
Brasília, DF: Secretaria de Recursos Hídricos, 2000.
42
OLIVEIRA Jr., U. D. Subsídios para uma proposta metodológica para capacitação de
recursos humanos para gestão participativa de bacias hidrográficas: estudo de caso do
Comitê Camboriú - SC. 97f. Monografia (Especialização em Gestão Ambiental),
Universidade do Vale do Itajaí. Itajaí, 2000.
PADILHA, L. R. Modelagem da qualidade da água na bacia hidrográfica do rio
Camboriú, SC: Subsídios à gestão integrada dos Recursos Hídricos. 87f. Monografia
(Graduação em Engenharia Ambiental), Universidade do Vale do Itajaí. Itajaí, 2013.
PLAFKIN, J.L.; BARBOUR, M.T.; PORTER, K.D.; GROSS, S.K.; HUGHES, R.M. Rapid
bioassessment protocols for use in stream and rivers: Benthic macroinvertebrates
and fish. Washington: Environmental Protection Agency, 1989.
POLETO, C.; CARVALHO, S.L.; MATSUMOTO, T. Avaliação da qualidade da água de uma
microbacia hidrográfica no município de Ilha Solteira (SP). Holos Environment, v.10, p.95-
110, 2010.
PRIMACK, R.B.; RODRIGUES, E. Biologia da conservação. Londrina: E. Rodrigues, 2001.
RODRIGUES, A.S.L.; MALAFAIA, G.; CASTRO, P.T.A. Avaliação ambiental de trechos de
rios na região de Ouro Preto – MG através de um protocolo de avaliação rápida. REA –
Revista de estudos ambientais, v.10, n.1, p.74-83, 2008.
SANTA CATARINA. Coletânea de legislação de recursos hídricos de Santa Catarina.
2ºEd. Florianópolis: SDS e DRHI, 2008a.
SANTA CATARINA. Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Resolução n° 001 de 21 de
julho de 2008b. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água de Santa Catarina e dá
outras providências.
SANTOS, G.O.; HERNANDEZ, F.B.T. Uso do solo e monitoramento dos recursos hídricos
no córrego do Ipê, Ilha Solteira, SP. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e
Ambiental, v.17, n.1, p.60-68, 2013.
SCHÄFER, A. Fundamentos de ecologia e biogeografia das águas continentais. Porto
Alegre: Ed. Da Universidade, UFRGS, 1984.
SILVA, A. N. Influência da integridade do habitat físico sobre a composição e
abundância da ictiofauna dos rios Braço, Canhanduba e Itapocú (SC). 53f. Monografia
(Graduação em Oceanografia), Universidade do Vale do Itajaí. Itajaí, 2013.
TUCCI, C.E.M. Impactos da variabilidade climática e o uso do solo nos recursos hídricos. In:
Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas – Câmara Temática de Recursos Hídricos,
Brasília, 2002.
TUNDISI, J. G.; TUNDISI, T. M. Limnologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2008.
43
URBAN, S. R. Uso do solo na bacia hidrográfica do rio Camboriú (SC) e sua
influência sobre a qualidade da água. 66f. Dissertação (Mestrado em Ciência e
Tecnologia Ambiental), Universidade do Vale do Itajaí. Itajaí, 2008.
URBAN, S. R.; SCHWINGEL, P. R. Levantamento das nascentes da bacia hidrográfica do
Rio Camboriú. Anais VII Seminário Integrado de Iniciação Científica. Blumenau: Ed
FURB, pág. 165, 2001.
VANZELA, L.S.; HERNANDEZ, F.B.T.; FRANCO, R.A.M. Influência do uso e ocupação do
solo nos recursos hídricos do córrego Três Barras, Marinópolis. Revista Brasileira de
Engenharia Agrícola e Ambiental, v.14, p.55-64, 2010.
VEIGA, M.; MASSIGNAM, A.M.; WILDNER, L. P. Potencial erosivo das chuvas no Estado de
Santa Catarina. Agropecuária Catarinense, v.5, n.2, 1992.
VON SPERLING, M. Estudos e modelagem da qualidade da água de rios. Belo
Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de
Minas Gerais, 2007.
WETZEL, R.G. Limnology: 2nd. ed. Saunders College, 1983.
WETZEL, R.G.; LIKENS, G.E. Limnological analyses: 3rd.ed. New York: Springer-Verlag,
2000.
APÊNDICE A Definição e pontuação da presença da mata ciliar para os rios da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de acordo com as dimensões estabelecidas pelo Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651 de 25/05/2012), adaptado de Leal (2012).
Presença da mata ciliar
CATEGORIAS
EXCELENTE BOA REGULAR PÉSSIMA INEXISTENTE
100% da Mata
Ciliar Presente
75% da Mata
Ciliar Presente
50% da Mata
Ciliar Presente
25% da Mata
Ciliar Presente
Mata Ciliar
Inexistente
ME 4 3 2 1 0
MD 4 3 2 1 0
Definição da qualidade vegetal das margens para os rios da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC) (LEAL, 2012).
Qualidade vegetal das margens
CATEGORIAS
ÓTIMA BOA REGULAR PÉSSIMA
A vegetação do
entorno é composta
por espécies nativas
em bom estado de
conservação,
conforme sua
fitofisionomia.
A vegetação é
composta não só por
espécies nativas,
mas também por
espécies exóticas,
contudo
apresentando bom
estado de
conservação, com
mínima evidência de
impactos antrópicos.
Presença nítida de
vegetação exótica e
pouco resquício de
vegetação nativa
associada à
presença de
impactos antrópicos.
Podendo apresentar
pastagem ou
ocupação urbana.
A vegetação do
entorno é
praticamente
inexistente devido,
principalmente, a
retirada da
vegetação nativa
para uso da madeira,
instalação de
moradias e
construção de
estradas.
ME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
MD 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Definição da cobertura vegetal das margens para os rios da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), adaptado de Minatti-Ferreira e Beaumord (2006).
Cobertura vegetal das margens
CATEGORIAS
ÓTIMA BOA REGULAR PÉSSIMA
Vegetação com
várias alturas
provendo uma
mistura de sombras
e luzes para a
superfície da água.
Vegetação
descontinuada provê
áreas de
sombreamento
alternadas com
áreas de exposição
completa.
Pouco
sombreamento, mais
de 50% da superfície
da água é totalmente
exposta à luz solar.
Superfície da água é
exposta totalmente à
luz solar,
praticamente o dia
todo.
ME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
MD 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Definição da proteção vegetal dos barrancos dos rios da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC) (MINATTI-FERREIRA; BEAUMORD, 2006).
Proteção vegetal dos barrancos
CATEGORIAS
ÓTIMA BOA REGULAR PÉSSIMA
Mais de 80% das
superfícies do
barranco são
cobertas por
vegetação, ou lajes
de pedras, ou outras
estruturas estáveis.
De 50 a 80% das
superfícies do
barranco são
cobertas por
vegetação, pedras e
outras estruturas de
grande porte.
De 25 a 50% das
superfícies do
barranco são
cobertas por
vegetação e demais
estruturas, com focos
representativos de
ocupação antrópica
para fins agrícolas,
pastoris e/ou
urbanos. Em caso de
impactos urbanos, a
pontuação é menor.
Menos de 25% das
superfícies do
barranco são
cobertas por
vegetação e demais
estruturas.
ME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
MD 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Definição da estabilidade dos barrancos dos rios da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC) (MINATTI-FERREIRA; BEAUMORD, 2006; CIONEK et al., 2011).
Estabilidade dos barrancos
CATEGORIAS
ÓTIMA BOA REGULAR PÉSSIMA
Trechos com
ocorrência mínima
de processos
erosivos, presença
de vegetação
preservada e densa
dando sustentação
ao solo,
apresentando até
10% de sua
extensão com
pequenos sinais de
perda de massas de
solo.
Deslizamentos raros
ou pouco frequentes,
sendo a maioria
sanada. Baixo
potencial para
futuros
deslizamentos.
Processos erosivos
alcançam de 31% a
65% do trecho, com
exposição de raízes,
presença mínima de
vegetação e
consequente
susceptibilidade aos
efeitos de chuvas
fortes, com
movimentação clara
e abundante de
massas de solo,
limitando a sucessão
vegetacional.
Frequentes ou
grandes
deslizamentos, com
ausência ou
presença mínima de
vegetação.
Barrancos instáveis
que contribuem para
aumentar a carga de
sedimentos para
dentro dos corpos de
água. As margens
estão revestidas de
cimento ou
sustentadas por
gabiões, ou qualquer
outra alteração
ME 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
MD 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
APÊNDICE B
Definição de substrato de fundo dos rios da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC) (MINATTI-FERREIRA; BEAUMORD, 2006).
Substrato de Fundo
CATEGORIAS
ÓTIMA BOA REGULAR PÉSSIMA
Mais de 60% do fundo
é de cascalho, seixos
rolados. Mistura
quase heterogênea de
classes de tamanho
do substrato.
De 30 a 60% do
fundo é coberto por
seixos rolados.
Substrato pode ser
dominado por
estruturas de um só
tamanho.
De 10 a 30% do
fundo é composto
por material de
maior porte. Silte e
areia representam
de 70 a 90% do
fundo.
Substrato
dominado por silte
e areia. Cascalho e
pedras de maior
porte representam
menos do que 10%
da cobertura.
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Definição de complexidade do habitat dos rios da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC) (MINATTI-FERREIRA; BEAUMORD, 2006).
Complexidade do habitat. Estruturas: troncos, galhos, seixos rolados, vegetação aquática e barrancos submersos
CATEGORIAS
ÓTIMA BOA REGULAR PÉSSIMA
Vários tipos e
tamanhos de
estruturas formando
um habitat altamente
diversificado.
Os tipos e tamanhos
das estruturas são
menores, porém
fornecem uma
cobertura adequada.
Habitat dominado
por somente um ou
dois componentes
estruturais. A
cobertura é
limitada.
Habitat monótono
com pouca
diversificação. Silte
e areia dominam e
reduzem a
complexidade do
habitat.
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Definição da qualidade dos remansos dos rios da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC) (MINATTI-FERREIRA; BEAUMORD, 2006).
Qualidade dos remansos
CATEGORIAS
ÓTIMA BOA REGULAR PÉSSIMA
25% dos remansos
são tão largos ou mais
largos que a largura
média do rio e
possuem
profundidade maior do
que 1 m.
Menos de 5% dos
remansos são mais
profundos que 1
metro e mais largos
do que a largura
média do rio. A
maioria dos
remansos é menor
que a largura média
do rio e tem
profundidade menor
que 1 m.
Menos de 1% dos
remansos são
mais profundos
que 1 m e mais
largos do que a
largura média do
rio. Os remansos,
quando presentes,
podem ser muito
fundos ou muito
rasos.
A maioria dos
remansos é
pequena e rasa ou
ausente.
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
APÊNDICE C
Área e porcentagem de ocupação de cada classe de uso do solo nas quatro regiões da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC) nos anos de estudo.
Região Classe Ano
1986 1993 1999 2004 2006 2010
Rio Camboriú
Área Urbana km 12,26 13,00 13,55 15,04 15,96 18,09
% 40,21 42,57 44,38 49,04 52,23 59,21
Área Natural km 14,38 10,81 11,22 10,22 12,42 10,18
% 47,16 35,40 36,75 33,32 40,64 33,32
Pasto/rasteira km 2,90 5,51 4,99 4,81 1,63 1,94
% 9,51 18,04 16,34 15,68 5,33 6,35
Agricultura km 0,17 0,01 0,21 0,08 0,16 -
% 0,56 0,03 0,69 0,26 0,52 -
Espelho d'água km 0,56 0,99 0,56 0,52 0,39 0,34
% 1,84 3,24 1,83 1,70 1,28 1,11
Sem classificação km 0,22 0,22 - - - -
% 0,72 0,72 - - - -
Rio Pequeno
Área Urbana km 4,43 5,25 6,24 8,10 11,19 13,67
% 11,24 13,16 15,64 20,31 28,05 34,27
Área Natural km 28,27 22,78 22,21 20,95 24,90 22,49
% 71,75 57,09 55,65 52,52 62,41 56,38
Pasto/rasteira km 5,89 10,90 10,92 10,30 3,11 3,54
% 14,95 27,32 27,36 25,82 7,79 8,87
Agricultura km 0,21 0,38 0,34 0,35 0,53 0,03
% 0,53 0,95 0,85 0,88 1,33 0,08
Espelho d'água km 0,18 0,32 0,20 0,19 0,17 0,16
% 0,46 0,80 0,50 0,48 0,43 0,40
Sem classificação km 0,42 0,27 - - - -
% 1,07 0,68 - - - -
Rio do Braço
Área Urbana km 0,92 0,59 0,27 1,59 3,91 4,31
% 1,33 0,85 0,39 2,29 5,65 6,23
Área Natural km 58,26 52,94 51,23 48,54 53,20 52,79
% 84,06 76,44 74,03 69,93 76,83 76,29
Pasto/rasteira km 8,25 13,68 15,84 16,35 8,99 9,64
% 11,90 19,75 22,89 23,56 12,98 13,93
Agricultura km 1,50 1,77 1,76 2,82 3,03 2,35
% 2,16 2,56 2,54 4,06 4,38 3,40
Espelho d'água km - - 0,10 0,11 0,11 0,11
% - - 0,14 0,16 0,16 0,16
Sem classificação km 0,38 0,28 - - - -
% 0,55 0,40 - - - -
Rio dos Macacos
Área Urbana km 1,70 2,05 1,40 2,98 4,52 7,25
% 2,65 3,17 2,16 4,61 6,99 11,21
Área Natural km 48,84 45,18 43,82 41,50 46,80 44,01
% 76,11 69,84 67,75 64,16 72,36 68,06
Pasto/rasteira km 10,39 13,78 16,59 15,06 7,89 9,13
% 16,19 21,30 25,65 23,28 12,20 14,12
Agricultura km 2,16 3,10 2,82 5,08 5,32 4,23
% 3,37 4,79 4,36 7,85 8,23 6,54
Espelho d'água km - 0,02 0,05 0,06 0,15 0,04
% - 0,03 0,08 0,09 0,23 0,06
Sem classificação km 1,08 0,56 - - - -
% 1,68 0,87 - - - -
APÊNDICE D
Pontuações atribuídas a cada ponto amostral para os parâmetros de análise da situação da mata ciliar da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Pto Estabilidade barrancos Proteção vegetal Cobertura vegetal Qualidade vegetal
Total Classificação Presença
Total Classificação ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD
C1 8 8 8 8 4 8 3 2 1 1 1 1 4 5 3 2 67 Regular 2 3 2 4 11 Boa
C2 1 1 1 1 1 3 2 2 6 5 6 5 3 2 2 2 43 Regular 0 0 0 0 0 Inexistente
C3 1 1 1 1 3 3 2 2 4 4 6 5 3 3 2 2 43 Regular 0 1 0 1 2 Péssima
C4 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 7 7 7 7 5 115 Boa 1 1 1 1 4 Péssima
C5 8 2 8 2 6 6 5 4 3 3 5 5 5 6 5 3 76 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
C6 3 3 8 8 5 5 5 5 3 2 2 3 1 1 4 6 64 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
C7 1 1 1 1 5 5 5 5 2 2 2 2 1 2 1 2 38 Péssima 3 1 3 1 8 Regular
C8 3 3 3 3 5 5 5 5 2 2 2 2 1 2 2 1 46 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
C9 2 2 8 6 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 63 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
C10 8 8 5 5 3 3 3 3 38 Péssima 1 1 0 0 2 Péssima
C11 6 1 8 6 5 1 5 5 3 2 3 3 3 1 3 3 58 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
C12 9 9 7 5 9 7 5 2 5 3 3 3 7 5 4 4 87 Boa 1 2 3 2 8 Regular
C13 9 9 8 8 8 4 8 4 5 3 5 3 8 6 8 3 99 Boa 2 2 2 1 7 Regular
P2 6 4 8 8 5 3 7 7 2 2 5 5 4 3 6 7 82 Boa 1 1 1 1 4 Péssima
P3 8 7 5 4 6 4 4 3 6 5 5 4 6 3 4 2 76 Regular 1 1 2 1 5 Regular
P4 5 5 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 57 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
P5 4 2 4 2 3 2 3 1 21 Péssima 0 0 1 1 2 Péssima
P6 8 5 8 8 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 62 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
P7 9 8 9 7 7 5 6 5 7 7 7 6 8 7 4 3 105 Boa 1 1 1 1 4 Péssima
P8 7 7 8 8 7 7 7 7 2 2 5 5 3 3 5 5 88 Boa 1 1 1 1 4 Péssima
P10 8 7 8 8 9 9 8 8 9 9 5 5 7 7 3 3 113 Boa 3 1 2 1 7 Regular
P11 8 7 7 7 9 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 118 Boa 1 1 1 1 4 Péssima
Pto Estabilidade barrancos Proteção vegetal Cobertura vegetal Qualidade vegetal
Total Classificação Presença
Total Classificação ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD
P13 5 5 3 3 5 5 4 4 5 5 1 1 3 3 2 2 56 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
P14 3 3 5 5 4 4 6 6 3 3 3 3 2 2 2 2 56 Regular 2 2 1 1 6 Regular
P15 8 6 6 8 8 6 6 8 8 3 5 6 6 3 4 4 95 Boa 1 1 2 1 5 Regular
P16 0 8 0 6 0 7 0 7 0 4 0 4 0 3 0 3 42 Regular 0 0 1 1 2 Péssima
P17 0 2 2 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 1 1 0 16 Péssima 0 0 0 0 0 Inexistente
P18 7 4 4 5 6 4 5 5 6 6 5 7 3 3 3 3 76 Regular 2 2 3 3 10 Boa
P19 4 4 4 0 9 7 8 0 9 7 6 0 9 4 8 0 79 Regular 3 1 3 2 9 Boa
P20 3 3 3 3 5 5 6 6 4 4 7 7 3 3 3 3 68 Regular 3 4 1 2 10 Boa
P22 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 7 7 4 4 4 4 102 Boa 3 4 1 2 10 Boa
P23 8 8 8 8 7 7 8 8 4 4 8 8 3 3 8 8 108 Boa 3 3 4 4 14 Ótima
P24 8 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 156 Ótima 3 4 3 4 14 Ótima
P25 10 7 8 8 10 8 8 9 10 9 8 8 10 9 9 9 140 Ótima 3 3 3 3 12 Boa
P26 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 136 Ótima 2 4 3 3 12 Boa
P27 4 4 5 5 7 5 7 7 6 5 5 6 6 3 6 6 87 Boa 4 2 4 4 14 Ótima
P28 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 28 Péssima 1 1 4 2 8 Regular
P29 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 7 116 Boa 3 3 1 1 8 Regular
P30 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 124 Ótima 4 4 3 3 14 Ótima
P31 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 3 3 3 3 92 Boa 4 2 4 2 12 Boa
P32 6 3 3 3 6 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 50 Regular 4 3 4 2 13 Ótima
B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Péssima 1 0 1 0 2 Péssima
B2 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 5 0 18 Péssima 1 1 1 1 4 Péssima
B3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Péssima 1 1 1 1 4 Péssima
B4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 Péssima 2 2 1 1 6 Regular
B6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 2 2 2 2 68 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
B7 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 52 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
Pto Estabilidade barrancos Proteção vegetal Cobertura vegetal Qualidade vegetal
Total Classificação Presença
Total Classificação ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD
B8 8 6 9 9 5 5 9 9 5 5 6 6 3 5 7 7 104 Boa 1 2 1 2 6 Regular
B9 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 3 3 3 3 84 Boa 1 1 1 1 4 Péssima
B10 7 2 7 3 6 1 6 3 4 1 4 1 3 1 3 2 54 Regular 0 2 0 2 4 Péssima
B11 4 5 3 5 5 6 5 6 2 5 2 5 2 5 2 5 67 Regular 1 2 1 1 5 Regular
B12 4 5 3 5 5 6 5 6 2 5 2 5 2 5 2 5 67 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
B13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 Péssima 1 1 1 1 4 Péssima
B14 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 28 Péssima 1 1 1 1 4 Péssima
B15 5 5 2 2 1 1 1 1 18 Péssima 1 1 1 1 4 Péssima
B16 7 7 7 7 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 68 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
B24 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 54 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
B25 4 8 4 8 5 4 5 4 5 3 5 3 3 3 3 3 70 Regular 3 2 2 1 8 Regular
B26 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3 2 2 2 2 58 Regular 4 4 4 4 16 Ótima
B27 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 2 2 2 2 68 Regular 1 1 1 4 7 Regular
B28 3 2 3 2 3 4 3 3 4 4 6 6 2 2 2 2 51 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
B29 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 Péssima 2 2 2 2 8 Regular
B30 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 48 Regular 1 1 2 1 5 Regular
B35 8 8 8 8 6 6 4 4 6 6 4 4 4 4 3 3 86 Boa 1 1 1 1 4 Péssima
B37 6 6 6 6 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 64 Regular 1 1 1 2 5 Regular
B38 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 1 1 1 1 68 Regular 1 2 1 1 5 Regular
B39 6 6 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 2 2 2 2 74 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
B40 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 3 3 3 3 92 Boa 1 1 1 1 4 Péssima
B41 5 7 7 4 8 8 8 8 3 3 3 3 3 3 3 3 79 Regular 1 1 1 3 6 Regular
B42 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 2 2 2 2 72 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
B43 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 132 Ótima 3 3 3 3 12 Boa
B45 6 6 6 6 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 60 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
Pto Estabilidade barrancos Proteção vegetal Cobertura vegetal Qualidade vegetal
Total Classificação Presença
Total Classificação ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD
B46 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 50 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
B47 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 2 2 2 2 68 Regular 1 1 2 2 6 Regular
B49 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 156 Ótima 4 4 3 4 15 Ótima
B50 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 2 2 3 3 3 3 76 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
B51 5 5 6 2 9 9 6 3 8 8 6 3 8 8 5 3 94 Boa 1 2 1 2 6 Regular
B53 4 4 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 41 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
B54 3 3 6 4 5 5 6 6 2 2 2 2 2 2 3 3 56 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
B55 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 3 3 74 Regular 4 3 4 4 15 Ótima
B56 7 9 6 10 9 9 10 8 9 9 9 8 9 9 10 8 139 Ótima 2 3 3 4 12 Boa
B57 8 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 135 Ótima 3 2 4 2 11 Boa
B58 8 8 9 9 8 8 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 138 Ótima 4 4 4 4 16 Ótima
B59 8 8 9 9 8 8 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 132 Ótima 4 4 4 4 16 Ótima
B60 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 44 Regular 2 2 1 1 6 Regular
B61 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 136 Ótima 4 4 3 4 15 Ótima
B62 6 6 4 3 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 123 Ótima 3 4 3 4 14 Ótima
B64 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 142 Ótima 4 4 3 4 15 Ótima
B65 10 5 10 5 10 7 10 7 9 8 9 7 10 8 10 7 132 Ótima 4 4 3 4 15 Ótima
B66 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 140 Ótima 4 4 4 4 16 Ótima
B67 7 5 8 8 5 7 8 9 3 3 9 9 2 2 8 8 101 Boa 4 3 3 3 13 Ótima
B68 8 8 6 6 7 8 5 5 8 8 3 3 7 8 2 2 94 Boa 4 4 4 4 16 Ótima
B69 4 4 2 2 8 8 3 3 8 8 6 6 8 8 4 4 86 Boa 4 4 4 4 16 Ótima
B70 7 7 2 2 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 118 Boa 4 4 4 4 16 Ótima
B71 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 158 Ótima 4 4 4 4 16 Ótima
B72 7 7 7 7 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 76 Regular 2 1 2 1 6 Regular
B73 6 6 6 6 6 7 6 7 3 4 3 4 2 2 2 2 72 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
Pto Estabilidade barrancos Proteção vegetal Cobertura vegetal Qualidade vegetal
Total Classificação Presença
Total Classificação ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD
B74 6 6 6 6 7 7 7 7 3 3 3 3 2 2 2 2 72 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
B75 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 2 2 2 2 76 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
B76 9 9 10 10 7 7 7 7 6 6 8 8 4 3 7 7 115 Boa 2 3 3 3 11 Boa
B77 8 8 5 5 8 8 7 7 6 6 3 3 5 5 2 2 88 Boa 2 1 1 1 5 Regular
B78 5 5 7 7 4 4 6 6 2 2 2 2 1 1 2 2 58 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
B79 8 8 8 8 6 6 6 6 2 2 2 2 3 3 3 3 76 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
B80 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 76 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
B81 8 8 2 1 7 7 2 1 5 5 2 1 4 4 2 2 61 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
B82 8 8 8 8 7 7 7 7 4 4 4 4 2 2 2 2 84 Boa 1 1 1 1 4 Péssima
B83 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 3 3 3 3 92 Boa 1 3 4 4 12 Boa
B85 8 8 8 8 9 9 8 8 9 9 8 8 9 9 8 8 134 Ótima 4 4 4 4 16 Ótima
B86 9 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 157 Ótima 4 4 4 4 16 Ótima
B87 8 8 8 8 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 84 Boa 2 1 2 3 8 Regular
B88 8 8 8 8 7 7 7 7 5 5 5 5 2 2 2 2 88 Boa 1 4 1 1 7 Regular
B89 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 2 2 2 2 76 Regular 4 4 4 4 16 Ótima
B90 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 140 Ótima 4 4 4 1 13 Ótima
M2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 44 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
M3 6 6 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 3 3 3 3 78 Regular 1 2 1 1 5 Regular
M4 5 5 5 5 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 52 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
M5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 Péssima 4 1 4 1 10 Boa
M6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 Péssima 4 1 4 1 10 Boa
M7 2 5 2 5 2 7 2 7 2 4 2 4 2 4 2 4 56 Regular 3 1 3 1 8 Regular
M8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 2 2 100 Boa 1 1 1 1 4 Péssima
M9 3 3 7 7 6 6 7 7 2 2 2 2 2 2 3 3 64 Regular 2 1 3 4 10 Boa
M10 3 3 3 3 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 48 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
Pto Estabilidade barrancos Proteção vegetal Cobertura vegetal Qualidade vegetal
Total Classificação Presença
Total Classificação ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD
M11 3 3 0 0 5 5 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 26 Péssima 0 1 1 1 3 Péssima
M12 5 3 5 5 7 7 7 7 3 3 7 7 3 3 4 4 80 Regular 1 1 3 1 6 Regular
M13 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 42 Regular 0 1 1 2 4 Péssima
M14 5 5 5 3 7 7 7 7 7 7 3 3 2 2 2 2 74 Regular 1 1 1 0 3 Péssima
M15 5 8 5 5 9 9 9 9 9 9 2 2 9 9 3 3 105 Boa 3 3 1 1 8 Regular
M16 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 80 Regular 3 2 1 1 7 Regular
M17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 4 4 3 3 90 Boa 4 2 1 1 8 Regular
M18 2 2 7 7 7 7 7 7 3 3 7 7 3 3 3 3 78 Regular 4 4 1 3 12 Boa
M19 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 88 Boa 3 4 2 2 11 Boa
M20 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 60 Regular 2 1 1 1 5 Regular
M21 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 3 3 2 2 2 2 46 Regular 2 1 3 3 9 Boa
M22 3 3 3 3 7 7 4 4 7 7 3 3 6 6 2 2 70 Regular 4 3 2 1 10 Boa
M23 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 160 Ótima 4 4 4 4 16 Ótima
M26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 Péssima 1 1 1 1 4 Péssima
M29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 Regular 1 1 3 2 7 Regular
M32 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20 Péssima 4 4 1 1 10 Boa
M33 6 6 1 1 8 8 1 1 9 9 1 1 8 8 1 1 70 Regular 2 1 1 1 5 Regular
M34 3 3 2 2 8 8 2 2 8 8 1 1 6 6 1 1 62 Regular 3 3 1 1 8 Regular
M36 7 7 7 7 6 6 6 6 3 3 3 3 2 2 2 2 72 Regular 3 1 1 1 6 Regular
M37 4 6 3 6 8 8 8 8 7 7 7 7 5 5 5 5 99 Boa 1 2 3 3 9 Boa
M39 7 7 7 7 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 60 Regular 1 1 2 1 5 Regular
M40 3 3 3 2 3 3 6 6 1 1 5 5 1 1 3 3 49 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
M41 3 3 2 2 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 54 Regular 1 0 1 0 2 Péssima
M42 5 5 5 5 6 6 6 6 2 2 2 2 3 3 3 3 64 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
M43 3 3 4 4 5 5 5 5 2 2 2 2 3 3 3 3 54 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
Pto Estabilidade barrancos Proteção vegetal Cobertura vegetal Qualidade vegetal
Total Classificação Presença
Total Classificação ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD ME MD JE JD
M44 5 5 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 4 4 4 4 88 Boa 4 4 3 3 14 Ótima
M45 4 4 4 4 6 6 6 6 2 2 2 2 3 3 3 3 60 Regular 1 1 0 1 3 Péssima
M46 8 8 8 7 8 9 8 8 5 9 4 4 3 7 3 3 102 Boa 1 3 2 1 7 Regular
M47 8 8 8 8 8 8 8 8 3 3 4 4 3 3 3 3 90 Boa 1 1 1 4 7 Regular
M48 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 2 2 2 2 76 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
M49 5 5 4 4 7 7 7 7 6 6 7 7 5 5 6 6 94 Boa 2 1 1 1 5 Regular
M50 8 8 8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 3 3 3 3 88 Boa 1 2 3 4 10 Boa
M52 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 24 Péssima 4 3 1 1 9 Boa
M53 6 6 8 8 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 80 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
M54 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 4 4 3 3 3 3 86 Boa 2 1 1 1 5 Regular
M55 8 8 7 6 9 9 8 8 9 9 7 6 9 9 8 8 128 Ótima 4 4 4 1 13 Ótima
M56 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 80 Regular 4 1 4 3 12 Boa
M59 7 7 7 7 8 8 7 7 5 5 3 3 4 4 3 3 88 Boa 1 1 1 1 4 Péssima
M60 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 80 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
M61 4 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 3 3 3 3 81 Boa 1 2 1 1 5 Regular
M62 6 6 7 7 8 8 7 7 4 4 3 3 3 3 3 3 82 Boa 4 1 1 2 8 Regular
M63 8 8 8 8 7 7 8 8 3 3 4 4 3 3 5 5 92 Boa 4 1 2 4 11 Boa
M64 7 8 7 7 7 7 7 7 6 6 3 3 4 4 3 3 89 Boa 2 3 2 3 10 Boa
M66 8 8 9 9 7 7 9 9 3 3 9 9 4 4 9 9 116 Boa 3 2 4 4 13 Ótima
M67 7 7 7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 2 2 2 2 76 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
M68 3 3 3 3 6 6 6 6 3 3 5 5 4 4 3 3 66 Regular 1 1 1 1 4 Péssima
M69 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 158 Ótima 4 4 3 4 15 Ótima
M70 10 10 10 10 10 10 10 10 8 9 8 9 8 8 9 9 148 Ótima 1 3 4 4 12 Boa
M71 8 8 8 8 8 9 8 8 4 9 5 5 5 9 6 6 114 Boa 1 3 1 3 8 Regular
ME= Montante esquerda; MD= Montante direita; JE= Jusante esquerda; JD= jusante direita
APÊNDICE E
Pontuações atribuídas a cada ponto amostral para os parâmetros de integridade ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Pto Substrato de fundo Complexidade habitat Qualidade remansos
Total Classificação M J M J M J
P11 3 3 3 3 3 3 18 Péssima
P18 4 4 4 4 4 4 24 Péssima
P19 11 11 11 11 4 4 52 Regular
P20 11 11 11 11 6 6 56 Regular
P22 11 11 11 11 4 4 52 Regular
P23 18 18 18 18 16 16 104 Ótima
P24 20 20 20 20 16 16 112 Ótima
P25 20 20 20 20 20 16 116 Ótima
P26 16 20 16 20 14 14 100 Ótima
P27 18 18 18 18 11 11 94 Ótima
P28 7 7 7 7 4 4 36 Regular
P29 10 10 10 10 4 4 48 Regular
P30 16 16 16 16 7 7 78 Boa
P31 3 3 3 3 3 3 18 Péssima
P32 7 7 7 7 3 3 34 Regular
B11 11 10 10 10 10 10 61 Boa
B12 11 10 10 10 10 10 61 Boa
B41 7 7 7 7 5 5 38 Regular
B43 10 10 15 15 13 13 76 Boa
B46 10 10 9 9 3 3 44 Regular
B49 20 20 20 20 15 15 110 Ótima
B51 15 15 15 15 15 15 90 Boa
B56 18 18 18 18 18 18 108 Ótima
B57 19 19 19 19 19 19 114 Ótima
B58 19 19 19 19 19 19 114 Ótima
B59 19 19 19 19 19 19 114 Ótima
B61 17 17 17 17 17 14 99 Ótima
B62 13 13 13 13 5 6 63 Boa
B64 18 18 18 18 18 18 108 Ótima
B65 19 18 19 18 19 18 111 Ótima
B66 15 17 15 18 15 16 96 Ótima
B68 10 10 11 11 7 7 56 Regular
B69 4 3 5 5 2 2 21 Péssima
B70 3 3 5 5 2 2 20 Péssima
B71 20 20 20 20 20 20 120 Ótima
B76 16 16 17 17 17 17 100 Ótima
B77 13 9 15 9 13 9 68 Boa
B79 11 11 11 11 10 10 64 Boa
B83 11 11 11 11 7 7 58 Regular
Pto Substrato de fundo Complexidade habitat Qualidade remansos
Total Classificação M J M J M J
B85 10 10 12 12 7 7 58 Regular
B86 20 20 20 20 18 19 117 Ótima
B90 15 15 15 15 7 7 74 Boa
M3 9 9 7 7 4 4 40 Regular
M12 3 3 3 3 3 3 18 Péssima
M15 15 11 16 11 15 11 79 Boa
M23 11 18 11 16 7 3 66 Boa
M46 4 10 4 10 4 6 38 Regular
M55 12 4 12 4 10 3 45 Regular
M63 3 3 3 3 3 3 18 Péssima
M64 14 9 14 7 13 3 60 Regular
M66 14 15 14 15 13 14 85 Boa
M69 20 20 20 20 18 18 116 Ótima
M70 20 20 20 20 20 20 120 Ótima
M71 19 19 18 18 15 16 105 Ótima
M= Montante; J= Jusante
APÊNDICE F
Temperatura da água (°C) em dez pontos amostrais na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015.
Pontos amostrais
Mês/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média
Dez/14 28,5 27,2 28 26,2 26,6 24,3 25,4 22,9 23,3 26,3 25,87
Jan/15 27,9 27,3 27,7 25,8 26,8 24,6 25 23,4 23,0 25,6 25,71
Fev/15 25,0 24,8 24,3 24,7 26,3 23,3 23,9 22,1 22,2 23,8 24,04
Mar/15 25,8 25,0 24,9 24,6 25,7 23,9 23,9 22,1 21,9 23,2 24,1
Abr/15 22,8 21,6 20,5 20,6 20,5 18,6 19,8 18,8 18,3 19,7 20,12
Jun/15 18,2 19,0 17,4 18,0 18,2 17,1 17,6 17,1 16,6 17,4 17,66
Jul/15 21,1 20,2 19,6 19,0 19,6 17,3 18,1 17,5 17,1 18,0 18,75
Ago/15 21,2 20,0 18,9 18,0 17,7 16,3 17,2 16,4 16,0 17,2 17,89
Set/15 23,6 23,5 24,0 22,3 23,2 21,6 22,2 20,6 20,8 22,7 22,45
Média 23,8 23,2 22,8 22,1 22,7 20,8 21,5 20,1 19,9 21,5
Condutividade elétrica (mS/cm) em seis pontos amostrais, sem influência da maré, na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015.
Pontos amostrais
Mês/Ano 5 6 7 8 9 10 Média
Dez/14 0,093 0,05 0,07 0,07 0,05 0,068 0,067
Jan/15 0,100 0,05 0,071 0,067 0,046 0,068 0,067
Fev/15 0,092 0,045 0,069 0,061 0,044 0,066 0,063
Mar/15 0,092 0,046 0,066 0,064 0,045 0,067 0,063
Abr/15 0,081 0,042 0,062 0,061 0,045 0,065 0,059
Jun/15 0,065 0,043 0,06 0,057 0,042 0,054 0,054
Jul/15 0,081 0,044 0,051 0,057 0,035 0,061 0,055
Ago/15 0,084 0,046 0,067 0,042 0,045 0,067 0,059
Set/15 0,087 0,046 0,068 0,059 0,043 0,066 0,062
Média 0,086 0,046 0,065 0,060 0,044 0,065
Condutividade elétrica (mS/cm) em quatro pontos amostrais, com influência da maré, na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015.
Pontos amostrais
Mês/Ano 1 2 3 4 Média
Dez/14 30 10,3 9,4 0,292 12,498
Jan/15 15,9 2,61 3,12 0,249 5,470
Fev/15 6,44 0,324 0,126 0,207 1,774
Mar/15 21 2,84 4,97 0,28 7,273
Abr/15 30,8 6,77 1,08 0,217 9,717
Jun/15 9,46 1,82 0,483 0,191 2,989
Jul/15 36,8 0,254 0,194 0,158 9,352
Ago/15 15 0,641 0,327 0,212 4,045
Set/15 18,2 1,23 0,122 0,205 4,939
Média 20,40 2,977 2,202 0,223
Oxigênio dissolvido (mg/l) em dez pontos amostrais na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015.
Pontos amostrais Mês/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média
Dez/14 6,54 5,22 6,22 5,89 4,65 5,87 6,08 7,14 7,50 6,20 6,13
Jan/15 4,15 8,17 8,35 0,80 3,28 4,01 4,15 5,15 5,31 4,91 4,83
Fev/15 0,83 0,85 3,06 2,40 1,96 2,43 2,45 3,11 3,27 3,45 2,38
Mar/15 0,90 0,22 5,00 4,00 8,40 11,1 9,60 10,4 10,2 9,30 6,91
Abr/15 1,53 1,12 7,84 2,22 4,83 7,35 6,64 8,03 8,57 7,55 5,57
Jun/15 6,34 0,88 8,60 5,60 7,26 8,97 8,15 8,50 9,40 8,17 7,19
Jul/15 3,81 2,37 7,71 4,70 4,07 5,00 5,40 6,26 7,58 7,80 5,47
Ago/15 1,43 1,60 7,40 3,26 9,30 10,93 8,83 10,62 11,7 10,7 7,58
Set/15 1,72 0,92 4,30 2,41 2,95 3,33 3,51 3,70 3,90 4,53 3,13
Média 3,03 2,37 6,50 3,48 5,19 6,55 6,09 6,99 7,49 6,96
Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) (mg/l) em dez pontos amostrais na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015.
Pontos amostrais
Mês/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média
Dez/14 6,36 1,43 7,34 6,52 4,19 4,51 4,47 5,25 4,98 4,26 4,93
Jan/15 6,45 0,14 6,33 7,55 5,62 5,76 5,06 5,54 5,88 6,03 5,44
Fev/15 2,76 8,37 2,91 3,56 1,04 1,18 1,24 0,99 1,11 1,28 2,44
Mar/15 3,54 5,91 5,16 5,68 1,60 1,32 1,72 1,28 1,40 1,91 2,95
Abr/15 1,86 2,74 1,32 3,41 1,23 1,06 1,17 0,81 0,93 1,02 1,56
Jun/15 1,33 4,85 1,60 1,90 0,68 0,71 0,99 1,14 1,21 1,47 1,59
Jul/15 2,18 7,64 2,71 4,30 1,01 1,06 1,28 1,75 1,21 2,40 2,55
Ago/15 2,11 7,63 7,73 5,28 1,74 0,74 0,85 0,97 0,92 1,18 2,91
Set/15 2,33 6,95 3,99 3,65 0,91 0,57 0,72 0,51 0,41 1,11 2,11
Média 3,21 5,07 4,34 4,65 2,00 1,88 1,94 2,03 2,01 2,30
Potencial hidrogeniônico (pH) em dez pontos amostrais na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015.
Pontos amostrais Mês/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média
Dez/14 7,46 7,67 5,08 4,97 5,27 5,27 4,93 5,77 5,61 4,83 5,69
Jan/15 8,90 7,81 5,03 5,25 5,34 5,07 5,6 5,06 6,09 5,16 5,93
Fev/15 7,41 4,42 3,70 8,45 5,38 7,65 5,29 3,82 3,86 3,24 5,32
Mar/15 9,19 6,63 7,35 9,45 5,20 8,42 6,3 5,50 5,23 7,51 7,08
Abr/15 7,60 8,03 6,41 6,30 6,74 5,59 5,92 6,70 6,14 6,42 6,59
Jun/15 7,06 7,20 6,72 7,22 5,95 6,18 6,13 7,07 6,61 5,26 6,54
Jul/15 6,13 7,31 3,38 4,11 5,86 6,77 6,00 6,50 7,23 5,03 5,83
Ago/15 6,75 6,75 6,35 5,12 8,32 8,37 7,78 8,01 8,26 6,01 7,17
Set/15 8,23 8,35 8,43 8,00 8,22 8,43 8,12 8,29 8,30 8,45 8,28
Média 7,64 7,13 5,83 6,54 6,25 6,86 6,23 6,30 6,37 5,77
Turbidez (NTU) em dez pontos amostrais na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015.
Pontos amostrais
Mês/Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média
Dez/14 6,82 20,17 17,93 10,22 5,50 4,16 13,20 1,74 2,32 7,86 8,99
Jan/15 2,89 31,82 12,77 11,73 5,75 3,42 11,30 3,14 2,90 9,53 9,53
Fev/15 30,36 14,18 24,82 23,01 1,52 6,04 6,85 6,76 2,23 11,86 12,76
Mar/15 7,72 24,35 13,23 10,45 5,46 3,19 10,35 3,21 2,15 7,96 8,81
Abr/15 4,83 13,31 15,37 8,70 5,63 3,32 5,83 2,36 2,90 11,42 7,37
Jun/15 8,37 27,74 22,76 17,29 12,27 2,33 11,78 3,56 1,49 8,01 11,56
Jul/15 14,25 24,5 161,00 11,77 11,66 3,06 12,11 3,73 3,86 15,26 26,12
Ago/15 5,17 41,99 37,17 12,98 20,88 1,65 11,19 2,93 6,52 17,21 15,77
Set/15 20,68 38,97 68,00 16,05 15,33 4,65 21,59 7,62 6,81 28,57 22,83
Média 11,23 26,34 41,45 13,58 9,33 3,54 11,58 3,89 3,46 13,08
Salinidade (%) em quatro pontos amostrais na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC), de dezembro de 2014 a setembro de 2015.
Pontos amostrais
Mês/Ano 1 2 3 4 Média
Dez/14 17,40 5,80 5,30 0,10 7,15
Jan/15 9,40 1,20 1,40 0,00 3,00
Fev/15 3,40 0,10 0,00 0,00 0,88
Mar/15 11,70 1,30 2,60 0,10 3,93
Abr/15 19,00 3,06 0,50 0,00 5,64
Jun/15 5,30 0,80 0,20 0,00 1,58
Jul/15 23,40 0,10 0,00 0,00 5,88
Ago/15 7,40 0,20 0,10 0,00 1,93
Set/15 10,80 0,50 0,00 0,00 2,83
Média 11,98 1,45 1,12 0,02
APÊNDICE G
Vista montante do ponto amostral #1 localizado no Rio Camboriú, nas coordenadas S - 27°00’7,62’’ W - 48°37’6,41’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Vista jusante do ponto amostral #1 localizado no Rio Camboriú, nas coordenadas S - 27°00’7,62’’ W - 48°37’6,41’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Vista montante do ponto amostral #2 localizado no Rio Peroba, nas coordenadas S - 27°00’5,56’’ W - 48°38’7,69’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Margem estabilizada por gabiões, banco de areia e canalização de esgoto no ponto amostral #2 localizado no Rio Peroba, nas coordenadas S - 27°00’5,56’’ W - 48°38’7,69’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Vista montante do ponto amostral #3 localizado no Rio Camboriú, nas coordenadas S - 27°01’2,23’’ W - 48°39’4,52’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Plantio de mudas na margem direita do ponto amostral #3 localizado no Rio Camboriú, nas coordenadas S - 27°01’2,23’’ W - 48°39’4,52’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Vista montante do ponto amostral #4 localizado no Rio Pequeno, nas coordenadas S - 27°01’4,38’’ W - 48°38’4,75’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Plantio de mudas na margem direita do ponto amostral #4 localizado no Rio Pequeno, nas coordenadas S - 27°01’4,38’’ W - 48°38’4,75’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Vista montante do ponto amostral #5 localizado no Rio Camboriú, nas coordenadas S - 27°05’3,63’’ W - 48°41’5,80’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Vista jusante do ponto amostral #5 localizado no Rio Camboriú, nas coordenadas S - 27°05’3,63’’ W - 48°41’5,80’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Vista montante do ponto amostral #6 localizado no Ribeirão dos Macacos, nas coordenadas S - 27°07’2,30’’ W - 48°41’9,77’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Vista jusante do ponto amostral #6 localizado no Ribeirão dos Macacos, nas coordenadas S - 27°07’2,30’’ W - 48°41’9,77’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Vista montante do ponto amostral #7 localizado no Rio do Salto, nas coordenadas S - 27°07’3,63’’ W - 48°43’1,37’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Vista jusante do ponto amostral #7 localizado no Rio do Salto, nas coordenadas S - 27°07’3,63’’ W - 48°43’1,37’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Vista montante do ponto amostral #8 localizado no Louro, nas coordenadas S - 27°06’9,73’’ W - 48°44’9,50’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC) em janeiro de 2015. Presença de mata ciliar fechada sobre o riacho.
Vista montante do ponto amostral #8 localizado no Louro, nas coordenadas S - 27°06’9,73’’ W - 48°44’9,50’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC) em setembro de 2015. Mata ciliar menos presente, abertura de clareiras.
Vista montante do ponto amostral #9 localizado no Rio do Gavião, nas coordenadas S - 27°06’3,68’’ W - 48°46’3,95’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Vista jusante do ponto amostral #9 localizado no Rio do Gavião, nas coordenadas S - 27°06’3,68’’ W - 48°46’3,95’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).
Vista montante do ponto amostral #10 localizado no Rio do Braço, nas coordenadas S - 27°03’4,14’’ W - 48°42’2,43’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC). Presença de gado na margem.
Vista jusante do ponto amostral #10 localizado no Rio do Braço, nas coordenadas S - 27°03’4,14’’ W - 48°42’2,43’’, Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC).