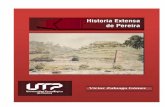a nova ortografia da língua portuguesa - osé Pereira da Silva
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of a nova ortografia da língua portuguesa - osé Pereira da Silva
1
José Pereira da Silva
A NOVA ORTOGRAFIA
DA LÍNGUA PORTUGUESA
2ª edição,
revisada e atualizada
Niterói, RJ
2010
2
“No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o
verbo era Deus.”
(João, 1:1)
“Disse Deus: haja luz. E houve luz.”
(Gênesis, 1:3)
3
Dedicatória Dedico este livro ao primeiro escritor que conheci, meu avô, José Perei-
ra Lopes (Juca Bernardo), que nunca pôde ver seu livro "em letra de
forma".
4
Agradecimentos A minha esposa, Maria Rita Pereira, pelas numerosas noites que
teve de dormir sem esperar por mim.
A meus netos, Ana Rita, Yasmin e Ítalo, que tiveram de vir muitas
vezes a minha biblioteca para me beijarem e me abraçarem.
À secretária Silvia, que vem me suportando há vários anos,
com uma carga bem pesada de trabalhos.
5
Apresentação Afrânio da Silva Garcia1
O livro do professor José Pereira prima tanto pela acuidade quan-
to pela clareza na apresentação de informações concernentes a um assun-
to de tamanha importância, a ortografia da língua portuguesa, mor-
mente neste momento, em que a aprovação de um novo Acordo Orto-
gráfico provocará sutis, mas profundas, mudanças na maneira de escre-
ver as palavras no idioma português, razão do título de sua obra: A Nova
Ortografia da Língua Portuguesa.
O livro se divide em quatro partes. Na primeira, discute-se o im-
pacto do novo Acordo sobre a ortografia e a cultura dos países membros
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), de um ponto
de vista positivo; na segunda, faz-se uma cronologia da história da orto-
grafia do português; na terceira, apresenta-se a íntegra do Acordo Orto-
gráfico da Língua Portuguesa com anotações do Autor e comentários ex-
plicativos da Comissão elaboradora do documento; na quarta, temos a
reunião de bom número de exercícios, o que facilitará a aplicação das re-
gras aos estudantes e a preparação de aulas aos professores.
A primeira parte, de autoria exclusiva do professor José Pereira,
abre com uma definição sucinta do conteúdo e do âmbito do Acordo. Se-
gue-se uma discussão bastante esclarecedora da necessidade do Acordo,
na tentativa de acabar com as discrepâncias ortográficas entre as grafias
brasileira e lusitana do português, que, embora pequenas, são frequentes
e problemáticas para a difusão internacional da língua.
Em seguida, o autor defende a reintrodução das letras k, w e y no
alfabeto, com o argumento lógico de que não é mudança, mas aceitação
da realidade, visto que elas são imprescindíveis em um mundo no qual
as relações internacionais são primordiais e desejáveis.
1 Afrânio da Silva Garcia é Professor Adjunto da UERJ e membro da Academia Brasileira de Filolo-
gia.
6
Na discussão das mudanças sofridas pela ortografia das palavras
portuguesas propriamente ditas, o autor se volta inicialmente para a acen-
tuação, explicando a supressão do trema e a perda dos acentos gráficos
dos ditongos abertos éi e ói nas paroxítonas; das letras i e u tônicas de-
pois de ditongo, também nas paroxítonas; da primeira vogal tônica dos
hiatos êem e ôo(s); do acento agudo do u tônico precedido de g ou q e
seguido de e ou i, já de uso muito restrito; e dos acentos diferenciais. O
autor, em sua busca pela perfeição e eficácia, esgota todas as exceções
possíveis, através de extensas e abundantes notas de pé de página.
Na última parte da discussão das mudanças provocadas pelo novo
Acordo Ortográfico, José Pereira discorre acerca do emprego do hífen e
das letras maiúsculas, com explicações detalhadas e farta exemplificação.
O professor acrescenta a essa discussão das mudanças decorrentes
do novo Acordo Ortográfico um estudo, Princípio básico da acentuação
gráfica do português, com base na existência de um acento natural de
intensidade, consoante a teoria que defende a acentuação gráfica em
uma só regra, defendida por muitos estudiosos contemporâneos da lín-
gua portuguesa, a qual postula terem todas as palavras do português um
padrão natural de acentuação tônica (fonética) e explica a acentuação
gráfica como um meio de identificar as palavras que não se enquadram
na acentuação natural, uma ideia bastante interessante e original, muito
bem demonstrada no presente trabalho.
Na seção seguinte, sobre a cronologia da história da ortografia, o
autor apresenta todos os passos dados em Portugal e no Brasil para uma
unificação e simplificação da ortografia a partir do início do século XX,
com a versão integral dos principais documentos relativos ao assunto,
fornecendo subsídios inestimáveis para os pesquisadores da área, seguin-
do-se a íntegra do Acordo Ortográfico de 1990.
Finalizando, o professor José Pereira faz uma compilação de
exercícios de ortografia apresentados por alguns dos maiores gramáticos
da língua portuguesa, provendo o professor com amplo material de apoio
para suas aulas de ortografia, tão necessário em tempos de mudança, se-
guidas de referências bibliográficas bastante abrangentes sobre o assunto.
7 Após um exame aprofundado do livro do professor José Pereira, venho
parabenizá-lo pela produção de uma obra muito útil e oportuna, que tanto
poderá ser usada pelo professor de português do ensino fundamental e
médio, quanto pelo pesquisador, dada a variedade e excelência dos con-teúdos nela abordados.
8
O Autor José Pereira da Silva (Dom Cavate – MG, 23/09/1946) possui
graduação em Curso da Cades pela Universidade Federal da Bahia
(1970), graduação em Letras (Português/Literatura) pela Faculdade de
Humanidades Pedro II (1976), especialização em Língua e Literatura do
Século XVI em Portugal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(1982), especialização em Metodolodia do Ensino Superior pela Univer-
sidade Estácio de Sá (1982), mestrado em Linguística e Filologia pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (1986) e doutorado em Linguís-
tica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1991). Atualmente é
professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, diretor-
presidente do Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos e
segundo secretário da Academia Brasileira de Filologia. Tem experiência
na área de Letras, atuando como docente em todos os níveis de ensino,
desde o ensino fundamental ao de pós-graduação, e, na pesquisa e produ-
ção de conhecimentos, relativamente a filologia, linguística, letras, língua
e textos. Na extensão universitária, atua principalmente como organiza-
dor de eventos e editor de livros e periódicos. Sua vasta produção aca-
dêmica pode ser resumida em 104 artigos completos publicados; 134 li-
vros como autor ou organizador; 48 capítulos de livros; 34 trabalhos
completos e 95 resumos em anais de congressos e centenas de outras
produções acadêmicas.
9
Sumário
O QUE MUDOU PARA OS BRASILEIROS COM O NOVO
ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA .......... 1
Acordo Ortográfico ........................................................................ 1
O Acordo seria necessário mesmo? ................................................ 1
No alfabeto não houve mudança, mas aceitação da realidade........... 2
As mudanças ................................................................................. 3
Trema ........................................................................................... 3
Mudanças nas regras de acentuação gráfica ................................... 3
Uso do hífen ................................................................................. 5
O caso das letras maiúsculas .......................................................... 7
Conclusão ...................................................................................... 8
PRINCÍPIO BÁSICO DA ACENTUAÇÃO GRÁFICA DO
PORTUGUÊS ................................................................................ 9
Acento natural de intensidade .............................................. 9
CRONOLOGIA DA HISTÓRIA DA ORTOGRAFIA DO PORTUGUÊS
.................................................................................................... 11
ATA DA SESSÃO DA ABL DE 11 DE JULHO DE 1907............ 15
FORMULÁRIO ORTOGRÁFICO DE 1943 ................................ 23
DECRETO NO 6.583, DE 29 DE SETEMBRO DE 2008 .............. 27
DECRETO LEGISLATIVO NO 54, DE 1995 ............................... 29
APROVAÇÃO DO ACORDO [DE 1990] PELA ASSEMBLEIA DA
REPÚBLICA [DE PORTUGAL] ................................................. 31
ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA (1990)33
10
ANEXO I – ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA
PORTUGUESA (1990) ................................................................ 35
BASE I – DO ALFABETO E DOS NOMES PRÓPRIOS
ESTRANGEIROS E SEUS DERIVADOS ................................... 36
BASE II – DO H INICIAL E FINAL ........................................... 39
BASE III – DA HOMOFONIA DE CERTOS GRAFEMAS
CONSONÂNTICOS .................................................................... 41
BASE IV – DAS SEQUÊNCIAS CONSONÂNTICAS ................ 49
BASE V – DAS VOGAIS ÁTONAS ............................................ 51
BASE VI – DAS VOGAIS NASAIS ............................................ 55
BASE VII – DOS DITONGOS .................................................... 56
BASE VIII – DA ACENTUAÇÃO GRÁFICA DAS PALAVRAS
OXÍTONAS................................................................................. 60
BASE IX – DA ACENTUAÇÃO GRÁFICA DAS PALAVRAS
PAROXÍTONAS ......................................................................... 63
BASE X – DA ACENTUAÇÃO DAS VOGAIS TÔNICAS
GRAFADAS
I E U DAS PALAVRAS OXÍTONAS E PAROXÍTONAS ........... 70
BASE XI – DA ACENTUAÇÃO GRÁFICA DAS PALAVRAS
PROPAROXÍTONAS .................................................................. 73
BASE XII – DO EMPREGO DO ACENTO GRAVE ................... 75
BASE XIII – DA SUPRESSÃO DOS ACENTOS EM PALAVRAS
DERIVADAS .............................................................................. 76
BASE XIV – DO TREMA ........................................................... 77
BASE XV – DO HÍFEN EM COMPOSTOS, LOCUÇÕES E
ENCADEAMENTOS VOCABULARES ..................................... 78
BASE XVI – DO HÍFEN NAS FORMAÇÕES POR PREFIXAÇÃO,
RECOMPOSIÇÃO E SUFIXAÇÃO ............................................ 83
BASE XVII – DO HÍFEN NA ÊNCLISE, NA TMESE E COM O
VERBO HAVER ......................................................................... 88
11 SÍNTESE DO USO DO HÍFEN ................................................... 89
BASE XVIII – DO APÓSTROFO ................................................ 90
BASE XIX – DAS MINÚSCULAS E MAIÚSCULAS ................. 94
BASE XX – DA DIVISÃO SILÁBICA ........................................ 97
BASE XXI – DAS ASSINATURAS E FIRMAS ........................ 100
SÍNTESE DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA ORTOGRAFIA
DA LÍNGUA PORTUGUESA ................................................... 101
ANEXO II – NOTA EXPLICATIVA DO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA (1990) ........................................ 105
NOTA EXPLICATIVA DO ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA
PORTUGUESA (1990) .............................................................. 106
1. Memória breve dos acordos ortográficos .......................... 106
2. Razões do fracasso dos acordos ortográficos .................... 107
3. Forma e substância do novo texto .................................... 109
4. Conservação ou supressão das consoantes c, p, b, g, m e t em
certas sequências consonânticas (Base IV) ....................... 110
4.1. Estado da questão ..................................................... 110
4.2. Justificativa da supressão de consoantes não
articuladas [Base IV, 1o, b)] ...................................... 111
4.3. Incongruências aparentes .......................................... 113
4.4. Casos de dupla grafia [Base IV, 1o, alíneas c) e d),
e 2o] .......................................................................... 114
5. Sistema de acentuação gráfica (Bases VIII a XIII) ............ 115
5.1. Análise geral da questão ............................................ 115
5.2. Casos de dupla acentuação ........................................ 117
5.2.1. Nas proparoxítonas (Base XI) ........................ 117
5.2.2. Nas paroxítonas (Base IX) ............................. 117
5.2.3. Nas oxítonas (Base VIII) ............................... 118
5.2.4. Avaliação estatística dos casos de dupla acentuação
gráfica........................................................... 118
12 5.3. Razões de manutenção dos acentos gráficos nas
proparoxítonas e paroxítonas ..................................... 119
5.4. Supressão de acentos gráficos em certas palavras
oxítonas e paroxítonas (Bases VIII, IX e X) ............... 120
5.4.1. Em caso de homografia (Bases VIII, 3o, e IX,
9o e 10o) ........................................................ 120
5.4.2. Em paroxítonas com os ditongos ei e oi na
sílaba tônica [Base IX, 4o, a)] ........................ 120
5.4.3 Em paroxítonas do tipo de abençoo, enjoo,
voo etc. (Base IX, 8o) .................................... 121
5.4.4. Em formas verbais com u e ui tônicos, precedidos de
g e q (Base X, 7o). ......................................... 122
6. Emprego do hífen (Bases XV a XVII) .............................. 122
6.1. Estado da questão ..................................................... 122
6.2. O hífen nos compostos (Base XV) ............................. 123
6.3. O hífen nas formas derivadas (Base XVI) .................. 123
6.4. O hífen na ênclise e tmese [mesóclise]
(Base XVII) .............................................................. 124
7. Outras alterações de conteúdo .......................................... 125
7.1. Inserção do alfabeto (Base I) ..................................... 125
7.2. Abolição do trema (Base XIV) .................................. 125
8. Estrutura do novo texto .................................................... 126
EXERCÍCIOS DE ORTOGRAFIA ............................................ 127
GABARITO DOS EXERCÍCIOS............................................... 146
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................ 150
O QUE MUDOU PARA OS
BRASILEIROS COM O NOVO
13
ACORDO ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA
PORTUGUESA
O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em 16 de
dezembro de 1990 por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mo-
çambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e, posteriormente, por Timor
Leste, que constituem a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), entrará efetivamente em vigor, no Brasil, no dia 1o de janeiro de
2009, conforme o Decreto assinado pelo Presidente Luís Inácio Lula da
Silva na Academia Brasileira de Letras (ABL) no dia 29 de setembro de
2008 (centenário de falecimento de Machado de Assis).
Aqui, esse Acordo foi aprovado em 18 de abril de 1995, pelo De-
creto Legislativo no 54, e poderia ter entrado em vigor a partir de 1o de
janeiro de 2007, depois que o terceiro país da CPLP o assinou e fez o de-
pósito dos instrumentos de ratificação em Portugal.
ACORDO ORTOGRÁFICO
Este é um Acordo meramente ortográfico e, portanto, restringe-se
à língua escrita, não afetando nenhum aspecto da língua falada, como
tem sido indevidamente divulgado por alguns veículos de comunicação.
Não é um acordo radical, que elimine todas as diferenças ortográ-
ficas observadas nos países que têm a língua portuguesa como idioma
oficial, mas constitui um passo importante em direção a essa pretendida
unificação.
O ACORDO SERIA NECESSÁRIO MESMO?
A língua portuguesa ainda tem um sistema ortográfico português e
um brasileiro, sendo que o português é adotado também pelos outros seis
14
países que integram a CPLP. Essa duplicidade é consequência do fracas-
so do Acordo assinado em 1945 e adotado pelos portugueses, mas recu-
sado pelos brasileiros, que preferiram manter as normas estabelecidas pe-
las Instruções para a Organização do Vocabulário Ortográfico da Lín-
gua Portuguesa aprovadas pela Academia Brasileira de Letras a
12/08/1943, adotadas oficialmente através da Lei no 2.623, de
21/10/1955, e simplificadas pela Lei no 5.671, de 18/12/1971.
As diferenças são pequenas, mas a dupla ortografia dificulta a difu-
são internacional da língua (por exemplo, os testes de proficiência têm de
ser duplicados), além de aumentar os custos editoriais, na medida em que
um livro, para circular em todos os territórios da lusofonia, precisa nor-
malmente ter duas impressões diferentes.
No Acordo assinado em 1990, estipulou-se a data de 1o de janeiro
de 1994 para a entrada em vigor da ortografia unificada, depois de ratifi-
cado pelos parlamentos de todos os países da CPLP. Contudo, por várias
razões, o processo de ratificação não se deu conforme se esperava e o
Acordo não pôde entrar em vigor.
Diante dessa situação, em 2004, decidiram que bastaria a manifes-
tação ratificadora de três dos oito países para que ele passasse a vigorar.
Por isto, como em novembro de 2006 São Tomé e Príncipe o ratificou,
fazendo o depósito do instrumento de ratificação em Portugal, em princí-
pio, está vigorando e deveríamos implementá-lo desde 1o de janeiro de
2007. No entanto, embora o Brasil tenha sido sempre o maior defensor
da unificação, só agora determinou seu calendário oficial, que irá de
2009 a 2012, tendo aguardado a decisão do governo português.
NO ALFABETO NÃO HOUVE MUDANÇA, MAS
ACEITAÇÃO DA REALIDADE
O alfabeto volta, oficialmente, a ter 26 letras, porque foram rein-
troduzidos o k, o w e o y2, que nunca deixaram de ser utilizados, apesar
2 A letra k é sempre consoante, a letra y é sempre vogal ou semivogal, mas a letra w pode ser con-
soante, vogal, semiconsoante ou semivogal, dependendo da origem e do contexto.
15
de não incluídos como letras do alfabeto: A (á), B (bê), C (cê), D (dê), E
(é), F (efe), G (gê ou guê), H (agá), I (i), J (jota), K (cá), L (ele), M
(eme), N (ene), O (ó), P (pê), Q (quê), R (erre), S (esse), T (tê), U (u), V
(vê), W (dáblio), X (xis), Y (ípsilon), Z (zê), reconhecendo-se a necessi-
dade daquelas letras em algumas situações especiais, como na escrita de
símbolos de unidades de medida: km (quilômetro), kg (quilograma), W
(watt) e na escrita de palavras e nomes estrangeiros (e seus derivados):
show, playboy, playground, William, kaiser, Kafka, kafkaniano.
AS MUDANÇAS
As poucas mudanças que ocorrem na ortografia brasileira corres-
pondem a alguns casos da acentuação gráfica, a algumas simplificações
no uso do hífen e a outras no uso obrigatório de letras iniciais maiúscu-
las; simplificando o sistema anterior nos três casos e tornando-o mais ra-
cional.
Não chega a atingir uma em cada duzentas palavras.
TREMA
Não se usa mais o trema (¨), sinal colocado sobre a letra u para
indicar que ela deve ser pronunciada nos grupos gue, gui, que, qui, de
modo que agüentar passa a ser escrito como aguentar, argüir passa a ar-
guir, bilíngüe passa a bilíngue, cinqüenta passa a cinquenta, delinqüente
passa a delinquente, eloqüente passa a eloquente, ensangüentado passa a
ensanguentado, eqüestre passa a equestre, freqüente passa a frequente,
lingüeta passa a lingueta, lingüiça passa a linguiça, qüinqüênio passa a
quinquênio, sagüi passa a sagui, seqüência passa a sequência, seqüestro
passa a sequestro.3
3 Permanece, entretanto, em palavras estrangeiras e em suas derivadas, como em Michaëllis, Mül-ler, mülleriano etc. e em textos nos quais o autor quer marcar estilisticamente a pronúncia da respec-
tiva vogal.
16
MUDANÇAS NAS REGRAS DE ACENTUAÇÃO
GRÁFICA
Não se usa mais o acento nos ditongos abertos éi e ói das palavras
paroxítonas, de modo que alcatéia passa a alcateia, assembléia passa a
assembleia, colméia passa a colmeia, Coréia passa a Coreia, epopéia
passa a epopeia, estréia passa a estreia, estréio (verbo estrear) passa a es-
treio, geléia passa a geleia, idéia passa a ideia, odisséia passa a odisseia,
platéia passa a plateia; alcalóide passa a alcaloide, andróide passa a an-
droide, apóia (verbo apoiar) passa a apoia, apóio (verbo apoiar) passa a
apoio, bóia passa a boia, celulóide passa a celuloide, clarabóia passa a
claraboia, debilóide passa a debiloide, estóico passa a estoico, heróico
passa a heroico, jibóia passa a jiboia, jóia passa a joia, paranóia passa a
paranoia, tramóia passa a tramoia etc.4
Nas palavras paroxítonas, não se usa mais o acento no i e no u tôni-
cos quando vierem depois de um ditongo, visto que, rigorosamente, não
são as segundas vogais de hiatos, pois estes consistem no encontro de duas
vogais em sílabas vizinhas. Assim, acaiúra passa a acaiura, bacaiúba pas-
sa a bacaiuba, baiúca passa a baiuca, bocaiúva passa a bocaiuva, cauíla
passa a cauila, feiúla passa a feiula, feiúra passa a feiura, guaraiúba passa
a guaraiuba, iaraiúba passa a iaraiuba, maiuíra passa a maiuira, peiúdo
passa a peiudo, seiúda passa a seiuda, tarauíra passa a tarauira.5
Não se usa mais o acento circunflexo das palavras terminadas em
eem e oo(s). Por isto, abençôo passa a abençoo, crêem (verbo crer) passa
a creem, dêem (verbo dar) passa a deem, abalrôo (verbo abalroar) passa a
abalroo, abençôo (verbo abençoar) passa a abençoo, abordôo (verbo
abordoar) passa a abordoo, acanôo (verbo acanoar) passa a acanoo, afei-
çôo (verbo afeiçoar) passa a afeiçoo, aferrôo (verbo aferroar) passa a
4 Em palavras oxítonas, entretanto, continuam sendo acentuados os ditongos éi, éu e ói, como em papéis, céu, chapéus, corrói, anzóis etc, assim como em paroxítonas terminadas em r, como Méier e
destróier.
5 Continuam sendo acentuados nas palavras oxítonas ou proparoxítonas e nas paroxítonas que não forem precedidas de ditongo, como em tuiuiú, tuiuiús, tatuí, Piauí, açaí, piíssimo, maiúsculo, cafeína, saída, saúde, viúvo, saístes, saúva.
17
aferroo algodôo (verbo algodoar) passa a algodoo, apadrôo (verbo apa-
droar) passa a apadroo, aperfeiçôo (verbo aperfeiçoar) passa a aperfei-
çoo, apregôo (verbo apregoar) passa a apregoo, dôo (verbo doar) passa a
doo, enjôo passa a enjoo, lêem (verbo ler) passa a leem, magôo (verbo
magoar) passa a magoo, perdôo (verbo perdoar) passa a perdoo, povôo
(verbo povoar) passa a povoo, vêem (verbo ver) passa a veem, vôos passa
a voos, zôo passa a zoo etc.6
Fica abolido, nas formas verbais rizotônicas (que têm o acento tô-
nico na raiz), o acento agudo do u tônico precedido de g ou q e seguido
de e ou i. (gúe, gúes, gúem, gúi, gúis, qúe, qúes, qúem). Com isto, elimi-
na-se uma regra que não tem apoio fonético, em palavras como: averi-
gúe, apazigúe e argúem, que passam a ser grafadas averigue, apazigue,
arguem; enxague, enxagues, enxaguem, delinques, delinque, delinquem.
Verbos como esses passam a admitir dupla pronúncia, sendo legítimas
também formas como averígues, apazígue, apazíguem, apazígues, averí-
gue, averíguem, enxágues, enxágue, enxáguem, delínques, delínque, de-
línquem.
Deixa de existir o acento diferencial de intensidade em palavras
como para (á), flexão do verbo parar, e para, preposição; pela(s) (é),
substantivo e flexão do verbo pelar, e pela(s), combinação da preposição
per e o artigo a(s); polo(s) (ó), substantivo, e polo(s), combinação antiga
e popular de por e lo(s); pelo (é), flexão de pelar, pelo(s) (ê), substantivo,
e pelo(s) combinação da preposição per e o artigo o(s); pera (ê), substan-
tivo (fruta), pera (é), substantivo arcaico (pedra) e pera preposição arcai-
ca.7
6 Naturalmente, palavras como herôon se acentuam graficamente porque são paroxítonas termina-das em on.
7 A palavra “forma” (fôrma) passa a ter grafia facultativa (com ou sem o acento diferencial de timbre).
Permanece o acento diferencial de timbre em pôde/pode: pôde (pretérito perfeito do indicativo) e pode (presente do indicativo). Exemplo: Ontem ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode.
Permanece o acento diferencial de intensidade em pôr/por. Pôr é verbo. Por é preposição. Exem-plo: Vou pôr o livro na estante feita por mim.
18
USO DO HÍFEN
O hífen é um sinal gráfico mal sistematizado na ortografia da lín-
gua portuguesa, cujas regras o Acordo atual tentou organizar, de modo a
tornar seu uso mais racional e simples, alterando algumas das anteriores.
As observações a seguir se referem ao uso do hífen em palavras
formadas por prefixos ou por elementos que podem funcionar como pre-
fixos, como: aero, agro, além, ante, anti, aquém, arqui, auto, circum, co,
contra, eletro, entre, ex, extra, geo, hidro, hiper, infra, inter, intra, ma-
cro, micro, mini, multi, neo, pan, pluri, proto, pós, pré, pró, pseudo, re-
tro, semi, sobre, sub, super, supra, tele, ultra, vice etc.
1) Com os prefixos, em geral, usa-se o hífen diante de palavra ini-
ciada por h8. Exemplos: anti-higiênico, anti-histórico, co-herdeiro, ma-
cro-história, mini-hotel, proto-história, sobre-humano, super-homem, ul-
tra-humano.
2) Usa-se o hífen quando o prefixo termina por uma letra (vogal
ou consoante) e o segundo elemento começa pela mesma letra.9 Exem-
plos: anti-ibérico, anti-imperialista, anti-inflacionário, anti-inflamatório,
auto-observação, contra-almirante, contra-atacar, contra-ataque, infra-
axilar; micro-ondas, micro-ônibus, semi-
-internato, semi-interno, hiper-requintado, inter-racial, inter-regional,
Permanece o acento diferencial morfológico nos verbos ter, vir e seus derivados. Exemplos: ele tem
e eles têm; ele vem e eles vêm; ele mantém e eles mantêm, ele convém e eles convêm, ele detém e eles detêm, ele intervém e eles intervêm.
Em respeito à pronúncia culta de toda a lusofonia, palavras que têm pronúncia diferenciada, princi-
palmente as vogais nasais ou nasalizadas, podem ser grafadas com acento circunflexo ou acento agudo, como as proparoxítonas econômico/económico, acadêmico/académico, as paroxítonas fê-mur/fémur, bônus/bónus e as oxítonas bebê/bebé, canapê/canapé, ou ainda metrô/metro etc.
8 8 Mantêm-se sem o hífen as palavras formadas com os prefixos des, in e re nas quais o segundo elemento perde o h inicial, como em desabilitar, desabituar, desarmonia, deserdar, desipnotizar, de-
sipotecar, desonestar, desonrar, desumano, inábil, inabitual, inóspito, inumano, reaver, reabilitar, rei-dratar, reumanizar, reomenagear, reumificar etc.
9 Quando o primeiro elemento termina em vogal e o segundo elemento começa com s ou r, estas
consoantes são duplicadas para manter o fonema representado pelas letras r e s iniciais. Ex.: antir-religioso, antissemita, contrarregra, infrassom.
19
inter-resistente, sub-base, sub-bibliotecário, sub-bloco,10 super-racista,
super-reacionário, super-resistente, super-revista, super-romântico, su-
pra-auricular.11
3) Com os prefixos além, aquém, ex, pós, pré, pró, recém, sem
e vice o hífen sempre é utilizado. Exemplos: além-mar, além- -túmulo,
aquém-mar, ex-aluno, ex-diretor, ex-hospedeiro, ex-
-prefeito, ex-presidente, pós-graduação, pós-moderno, pré-história, pré-
vestibular, pré-primário, pré-fabricado, pró-reitor; pró-europeu, recém-
casado, recém-nascido, sem-terra, sem-teto, vice-rei, vice-
-almirante etc.
4) Deve-se usar o hífen com os sufixos [ou radicais pospositivos] de
origem tupi-guarani: açu, guaçu e mirim. Exemplos: acará-açu, taman-
duá-açu, inambu-guaçu, sabiá-guaçu, anajá-mirim, Guapi-mirim etc.
5) Deve-se usar o hífen para ligar duas ou mais palavras que oca-
sionalmente se combinam, formando não propriamente vocábulos, mas
encadeamentos vocabulares. Exemplos: ponte Rio- -Niterói, eixo Rio-São
Paulo, rodovia Rio-Bahia.
6) Não se deve usar o hífen em certas palavras que perderam a
noção de composição. Exemplos: girassol, madressilva, mandachuva,
paraquedas, paraquedista, pontapé12.
7) Para clareza gráfica, se no final da linha a partição de uma pa-
lavra ou combinação de palavras coincidir com o hífen, ele deve ser repe-
10 Com o prefixo sub, usa-se o hífen também diante de palavra iniciada por r: sub-raça, sub-região, sub-
reitor, sub-repticio, sub-rogar etc., para evitar o abrandamento da pronúncia do r.
11 O prefixo co se aglutina em geral com o segundo elemento, mesmo quando este se inicia por o: coobrigar,
coobrigação, coordenar, cooperar, cooperação, cooptar, coocupante, coordenar etc.
Com os prefixos circum e pan, usa-se o hífen diante de palavra iniciada por m, n e vogal: circum-
adjacente, circum-mediterrâneo, circum-murar, circum-navegação, pan-americano, pan-helenismo, pan-mítico etc.
12 A quinta edição do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, publicado pela Academia Brasi-leira de Letras recentemente (Academia, 2009), registrou os exemplos excepcionais elencados pelo Acordo, como estes e muitos outros, mas não acrescentou outros, deixando isto para uma próxima etapa, quando for redigido o "vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa" referido no Artigo
2º do Acordo.
20
tido na linha seguinte. Exemplos: Em nossa cidade, conta-
-se que ele foi viajar. O diretor do Código Brasileiro recebeu os ex-
-alunos.
7) Para clareza gráfica, se no final da linha a partição de uma pa-
lavra ou combinação de palavras coincidir com o hífen, ele deve ser repe-
tido na linha seguinte. Exemplos: Em nossa cidade, conta-
-se que ele foi viajar. O diretor do Código Brasileiro recebeu os ex-
-alunos.
O CASO DAS LETRAS MAIÚSCULAS
O uso obrigatório de letras iniciais maiúsculas fica restrito a no-
mes próprios de pessoas (João, Maria, Dom Quixote), lugares (Curitiba,
Rio de Janeiro), instituições (Instituto Nacional da Seguridade Social,
Ministério da Educação) e seres mitológicos (Netuno, Zeus); a nomes de
festas (Natal, Páscoa, Ramadão); na designação dos pontos cardeais
quando se referem a grandes regiões (Nordeste, Oriente); nas siglas
(FAO, ONU); nas iniciais de abreviaturas (Sr., Gen, V. Exa); e nos títulos
de periódicos (Folha de S. Paulo, Gazeta do Povo).
Ficou facultativo usar a letra maiúscula nos nomes que designam
os domínios do saber (matemática ou Matemática), nos títulos (Carde-
al/cardeal Seabra, Doutor/doutor Fernandes, Santa/santa Bárbara) e nas
categorizações de logradouros públicos (Rua/rua da Liberdade), de tem-
plos (Igreja/igreja do Bonfim) e edifícios (Edifício/edifício Cruzeiro).
CONCLUSÃO
O Acordo é, em geral, positivo porque aproxima da unificação a
ortografia do português, mesmo mantendo algumas duplicidades, porque
simplifica as regras de acentuação gráfica (como mostraremos a seguir),
eliminando algumas delas, assim como as regras do hífen, tornando um
pouco mais racional o uso deste sinal gráfico, e unifica as regras para uti-
lização das letras iniciais maiúsculas.
21
PRINCÍPIO BÁSICO
DA ACENTUAÇÃO GRÁFICA
DO PORTUGUÊS
A acentuação gráfica da língua portuguesa tem uma base fonética.
Por isto, deve-se considerar que a acentuação natural de intensidade do
idioma não precisa ser marcada graficamente.
O acento circunflexo é usado para marcar uma vogal de timbre fe-
chado em destaque ou para indicar o plural em verbos.
Portanto, acentuam-se graficamente palavras em que o acento está
fora da posição natural. Por isto, é indispensável que se ensine qual o pa-
drão natural de acentuação da língua portuguesa.
Acento natural de intensidade
As palavras da língua portuguesa que terminam em a, as, e, es, o,
os, am, em ou ens têm acento natural de intensidade na penúltima sílaba e
as demais, na última.
Seguindo esta regra, podemos eliminar quase todas as demais re-
gras de acentuação gráfica destinadas a marcar a chamada sílaba tônica.
Exemplos de acentuação natural: casa, mulas, trote, posses, enjoo,
maços, andam, veem, itens; papai, mais, cantai, estudais, Macau, berim-
baus, comprei, dezesseis, vendeu, europeus, fugiu, tizius, boi, depois,
dois, trabalhou, loupacous, fui, mui, azuis, mamãe, alemães, mamão, ir-
mãos, compõe, mamões, Jacob, Isaac, David, semilog, reli, Natal, Nobel,
sutil, farol, azul, assim, marrom, algum, sedan, jaen, Tocantins, mega-
ton, megatons, bebuns, bumbuns, Novacap, Quarup, amar, Internet,
Bangu, relax, telefax, algoz.
22
ACENTUAM-SE GRAFICAMENTE, portanto, as palavras que
não se enquadram na acentuação natural.
Ou seja:
a) as que têm acento antes da penúltima sílaba: estudávamos, se-
cretária, amáveis, apazíguem.
b) os que têm acento na penúltima sílaba e terminam diferente-
mente, como em: consoante, i, is, us, om, on, ons, um, uns ou em ditongo
Exemplos: amável, hífen, repórter, clímax, tórax, bíceps, fórceps, táxi,
tênis, bônus, iândom, próton, íons, fórum, álbuns, água, águe, jóquei, vô-
lei, oblíquo.13
c) os que têm acento na última sílaba e terminam em a, as, e, es,
o, os, ditongos abertos,14 em e ens (nestes dois últimos casos, se tiverem
mais de uma sílaba). Exemplos: Pará, chá, aguarrás, más (plural de má),
jacaré, fé, vocês, três, cipó, pó, avós, cós, papéis, chapéu, céus, herói,
espanhóis, também e parabéns.
13 Os prefixos anti, arqui, circum, hiper, inter, mini, multi, pluri, semi e super também dispensam o acento gráfico, porque não constituem palavras do léxico.
O traço distintivo de timbre é privativo das vogais e e o, exceto em variantes regionais.
Observação: Normalmente, o i e o u são semivogais quando precedidos de vogais. Por isto, em vo-cábulos paroxítonos, só recebem acento gráfico quando formam hiatos, precedidos de vogais (e não
de semivogais).
14 Os ditongos são normalmente decrescentes e, por influência da semivogal, sua vogal base tem o timbre fechado,. Por isto, os chamados ditongos crescentes (exceto quando precedidos das conso-antes velares "g" e "q") são variantes de hiatos, e, quando forem oxítonos, os ditongos abertos são
acentuados graficamente.
23
CRONOLOGIA DA HISTÓRIA
DA ORTOGRAFIA
DO PORTUGUÊS
Pretende-se, aqui, dar a conhecer uma breve cronologia das re-
formas ortográficas efetuadas na língua portuguesa.
Antes do séxulo XVI, não havia qualquer normatização ortográfi-
ca da língua portuguesa, nem mesmo para uso restrito, pois cada um es-
crevia conforme ouvia, aproximando a escrita da fala o máximo possível,
de acordo com a percepção e compreensão do escriba.
Séc XVI até séc. XX – em Portugal e no Brasil a escrita praticada
era fundamentada na etimologia (procurava-se a raiz latina ou grega para
escrever as palavras), não havendo uma ortografia oficial. O cidadão es-
colhia o ortógrafo de sua simpatia ou conveniência, sem qualquer obriga-
ção de seguir à risca as normas indicadas pelo escolhido.
1907 – a Academia Brasileira de Letras começa a simplificar a es-
crita nas suas publicações.
1910 – implantada a República em Portugal, foi nomeada uma
Comissão para estabelecer uma ortografia simplificada e uniforme para
ser usada nas publicações oficiais e no ensino.
1911 – primeira Reforma Ortográfica – tentativa de uniformizar e
simplificar a escrita, mas não foi extensiva ao Brasil.
1915 – a Academia Brasileira de Letras resolve harmonizar a or-
tografia brasileira com a portuguesa.
1919 – a Academia Brasileira de Letras revoga a sua resolução de
1915.
1924 – a Academia de Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira
de Letras começam a procurar uma grafia comum.
24
1929 – a Academia Brasileira de Letras lança um novo sistema
gráfico.
1931 – aprovado o primeiro Acordo Ortográfico entre Brasil e
Portugal, o qual visava suprimir as diferenças, unificar e simplificar a or-
tografia, mas não foi posto em prática.
1938 – foram sanadas as dúvidas quanto à acentuação de palavras
e foi criada a comissão para organizar o Vocabulário Ortográfico da
Língua Portuguesa.
1943 – redigida a primeira Convenção ortográfica entre Brasil e
Portugal, que resultou no Formulário Ortográfico de 1943.
1945 – Acordo Ortográfico, que se tornou lei em Portugal, mas no
Brasil não foi ratificado pelo governo; os brasileiros continuaram a se re-
gular pela ortografia anterior, do Vocabulário de 1943.
1971 – promulgadas alterações no Brasil, reduzindo as divergên-
cias ortográficas com Portugal.
1973 – promulgadas alterações em Portugal, reduzindo ainda mais
as divergências ortográficas com o Brasil.
1975 – a Academia das Ciências de Lisboa e a Academia Brasilei-
ra de Letras elaboram novo projeto de acordo, que não foi aprovado ofi-
cialmente.
1986 – o presidente brasileiro José Sarney promove um encontro
dos sete países de língua portuguesa – Angola, Brasil, Cabo Verde, Gui-
né-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, no Rio de Ja-
neiro, no qual apresenta o Memorando Sobre o Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa.
1990 – a Academia das Ciências de Lisboa convoca novo encon-
tro juntando uma Nota Explicativa do Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa – as duas academias elaboram a base do Acordo Ortográfico
da Língua Portuguesa. O documento entraria em vigor (conforme o 3o
artigo do mesmo) no dia “1 de janeiro de 1994, após depositados todos
os instrumentos de ratificação de todos os Estados junto do Governo por-
tuguês”.
25
1996 – o último acordo foi ratificado apenas por Portugal, Brasil e
Cabo Verde.
2004 – os ministros da Educação da CPLP se reúnem em Fortale-
za, no Brasil, para propor a entrada em vigor do Acordo Ortográfico,
mesmo sem a ratificação de todos os membros.
2006 – São Tomé e Príncipe ratifica o Acordo, tornando legítima
a sua implantação, a partir de 1o de janeiro de 2007, nos países que o fi-
zeram.
2008 – Portugal e Brasil estabelecem seus cronogramas de im-
plementação do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
2009 – entra em vigor no Brasil o novo Acordo Ortográfico, com
prazo final da sua implementação estabelecido para 31 de dezembro de
2012.
26
ATA DA SESSÃO DA ABL
DE 11 DE JULHO DE 190715
Presidência do Sr. Machado de Assis
Às 4h30min da tarde, presentes os Senhores Machado de Assis,
Medeiros e Albuquerque, Lúcio de Mendonça, Salvador de Mendonça,
Oliveira Lima, João Ribeiro, Heráclito Graça, Silva Ramos, Souza
Bandeira, Graça Aranha, José Veríssimo, Araripe Júnior, Raimundo
Correa, Afonso Arinos, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Euclides da
Cunha, Artur Azevedo, Guimarães Passos, Magalhães de Azeredo e
Mário de Alencar, o Senhor Presidente abriu a sessão.
Lida e aprovada a ata16 da sessão anterior, o Senhor Presidente leu
o ofício em que o Senhor Heráclito Graça agradeceu a sua eleição de
membro da Academia e comunicou tomar posse da sua cadeira na con-
formidade do artigo 22 do Regimento Interno; e uma carta do Senhor
Afonso Celso declarando que o seu voto era favorável ao projeto do Se-
nhor Medeiros e Albuquerque. Em seguida, o Senhor Presidente declarou
que iam ser votados os projetos da reforma ortográfica.
O Senhor Salvador de Mendonça propôs, e foi aceito, que se fi-
zesse votação nominal, e divididas algumas das proposições dos projetos,
conforme indicações dos Senhores Olavo Bilac, Souza Bandeira, João
Ribeiro e Medeiros e Albuquerque, procedeu-se à votação, que deu o se-
guinte resultado:
15 Documento transcrito com atualização ortográfica e desenvolvimento das abreviaturas. Vide Livro
das Atas da Academia, primeiro volume, relativo ao período compreendido entre 1896 e 1909, fl. 53-57v. e Henriques (2000, fl. 148-156 e 2001, p. 137-146).
16 Claudio Cezar Henriques (2000) observa que, apesar de registrada a palavra “Acta” no cabeçalho, foi utilizada a grafia sem o c no corpo do documento.
27
1a proposição – Suprima-se em absoluto o h mediano, salvo nas
palavras compostas de outras que tenham o h inicial (deshonra, inhar-
monico).17
Divida em duas partes:
1a parte: Suprima-se em absoluto18 o h mediano, salvo nos gru-
pos lh, nh e ch palatino.
Responderam sim os senhores João Ribeiro, Heráclito Graça, Sil-
va Ramos, Souza Bandeira, Graça Aranha, José Veríssimo, Araripe Jú-
nior, Raimundo Correa, Afonso Arinos, Olavo Bilac, Alberto de Olivei-
ra, Artur Azevedo, Guimarães Passos, Magalhães de Azeredo, Medeiros
e Albuquerque, Machado de Assis e Mário de Alencar, ao todo 17; res-
ponderam não os Senhores Lúcio de Mendonça, Salvador de Mendonça,
Oliveira Lima e Euclides da Cunha.
2a parte: Conserve-se o h nas palavras compostas de outras que
tenham o h inicial (deshonra, inharmonico).
Responderam sim os Senhores Lúcio de Mendonça, Salvador de
Mendonça, Oliveira Lima, Heráclito Graça, Silva Ramos, José Veríssi-
mo, Raimundo Correa, Afonso Arinos, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira,
Euclides da Cunha, Artur Azevedo, Magalhães de Azeredo, Medeiros e
Albuquerque, Machado de Assis e Mário de Alencar, ao todo 16; respon-
deram não os Senhores João Ribeiro, Souza Bandeira, Graça Aranha,
Guimarães Passos e Araripe Júnior.
Aditivo do Senhor João Ribeiro: Suprima-se também o h inicial,
salvo na 3a pessoa do singular do verbo haver: ha.
Considerou-se prejudicado pela votação anterior.
2a proposição – Suprima-se em absoluto o w.
Foi aprovado unanimemente.
17 As palavras dadas como exemplos não serão atualizadas ortograficamente, pois isto descaracteri-zaria o documento.
18 Na sessão retificadora de 18 de julho, o Senhor Olavo Bilac propôs que se excluísse a expressão
“em absoluto”.
28
3a proposição – Suprima-se em absoluto o k, substituído por c an-
tes de a, o e u e por qu antes de e e i.
Responderam sim os Senhores João Ribeiro, Silva Ramos, Souza
Bandeira, Graça Aranha, Raimundo Correa, Olavo Bilac, Alberto de Oli-
veira, Guimarães Passos, Magalhães de Azeredo, Medeiros e Albuquer-
que, Machado de Assis e Mário de Alencar, ao todo 12; responderam não
os Senhores Lúcio de Mendonça, Salvador de Mendonça, Oliveira Lima,
Heráclito Graça, José Veríssimo, Araripe Júnior, Afonso Arinos, Eucli-
des da Cunha e Artur Azevedo, ao todo 9.
4a proposição – Suprima-se em absoluto o y.
Responderam sim os Senhores João Ribeiro, Heráclito Graça, Sil-
va Ramos, Souza Bandeira, Graça Aranha, José Veríssimo, Araripe Jú-
nior, Raimundo Correa, Afonso Arinos, Olavo Bilac, Alberto de Olivei-
ra, Artur Azevedo, Guimarães Passos, Magalhães de Azeredo, Medeiros
e Albuquerque, Machado de Assis e Mário de Alencar, ao todo 17; res-
ponderam não os Senhores Lúcio de Mendonça, Salvador de Mendonça,
Oliveira Lima e Euclides da Cunha.
Emenda do Senhor José Veríssimo: Conserve-se o y nos nomes
geográficos brasileiros.
Responderam sim os Senhores Lúcio de Mendonça, Salvador de
Mendonça, Oliveira Lima, Souza Bandeira, Graça Aranha, José Veríssi-
mo, Afonso Arinos, Olavo Bilac, Euclides da Cunha, Artur Azevedo,
Guimarães Passos, Medeiros e Albuquerque, Machado de Assis e Mário
de Alencar, ao todo 14; responderam não os Senhores João Ribeiro, He-
ráclito Graça, Silva Ramos, Araripe Júnior, Raimundo Correa, Alberto de
Oliveira e Magalhães de Azeredo, ao todo 7.
5a proposição – Dividida em duas partes:
1a parte: Substitua-se o ph por f, o ch com o som de k por qu an-
tes de e e i e por c antes de a, o e u.
Responderam sim os Senhores João Ribeiro, Heráclito Graça, Sil-
va Ramos, Souza Bandeira, Graça Aranha, José Veríssimo, Araripe Jú-
nior, Raimundo Correa, Afonso Arinos, Olavo Bilac, Alberto de Olivei-
ra, Artur Azevedo, Guimarães Passos, Magalhães de Azeredo, Medeiros
29
e Albuquerque, Machado de Assis e Mário de Alencar, ao todo 17; res-
ponderam não os Senhores Lúcio de Mendonça, Salvador de Mendonça,
Oliveira Lima e Euclides da Cunha.
2a parte: Substitua-se o x por cs, s, z ou ss, conforme o som que
tiver, mantendo-se-lhe apenas o som de consoante palatina como em xa-
drez, xairel etc.
Responderam não os Senhores Lúcio de Mendonça, Salvador de
Mendonça, Oliveira Lima, João Ribeiro, Heráclito Graça, Souza Bandei-
ra, Graça Aranha, Raimundo Correa, Afonso Arinos, Olavo Bilac, Alber-
to de Oliveira, Euclides da Cunha, Magalhães de Azeredo, Machado de
Assis e Mário de Alencar, ao todo 15; responderam sim os Senhores Sil-
va Ramos, José Veríssimo, Araripe Júnior, Artur Azevedo, Guimarães
Passos e Medeiros e Albuquerque, ao todo 6.
6a proposição – Suprimam-se todas as consoantes geminadas,
salvo quando ambas tiverem som, exemplo: escrever fala e não falla,
mas escrever infecção, pois que os dois cc soam distintamente.
Responderam sim os Senhores João Ribeiro, Heráclito Graça, Sil-
va Ramos, Souza Bandeira, Graça Aranha, José Veríssimo, Araripe Jú-
nior, Raimundo Correa, Afonso Arinos, Olavo Bilac, Alberto de Olivei-
ra, Euclides da Cunha, Artur Azevedo, Guimarães Passos, Magalhães de
Azeredo, Medeiros e Albuquerque, Machado de Assis e Mário de Alen-
car, ao todo 18; responderam não os Senhores Lúcio de Mendonça, Sal-
vador de Mendonça e Oliveira Lima.
7a proposição19 – Suprimam-se todas as consoantes nulas, desa-
parecendo, portanto, a 1a letra dos grupos gm, gn, pt, mn, ct, sc e outros.
Responderam sim os Senhores João Ribeiro, Heráclito Graça, Sil-
va Ramos, Souza Bandeira, Graça Aranha, Araripe Júnior, Raimundo
Correa, Afonso Arinos, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Artur Azevedo,
Guimarães Passos, Magalhães de Azevedo, Medeiros e Albuquerque,
Machado de Assis e Mário de Alencar, ao todo 17; responderam não os
19 No original manuscrito, a 8a proposição foi transcrita antes da 7a.
30
Senhores Lúcio de Mendonça, Salvador de Mendonça, Oliveira Lima e
Euclides da Cunha.
8a proposição – Dividida em 2 partes:
1a parte: Substitua-se por j o g medial, sempre que tiver o som
daquela letra.
Responderam sim os Senhores João Ribeiro, Heráclito Graça, Sil-
va Ramos, Souza Bandeira, Graça Aranha, José Veríssimo, Araripe Jú-
nior, Raimundo Correa, Afonso Arinos, Olavo Bilac, Alberto de Olivei-
ra, Euclides da Cunha, Artur Azevedo, Guimarães Passos, Medeiros e
Albuquerque, Machado de Assis e Mário de Alencar, ao todo 17; respon-
deram não os Senhores Lúcio de Mendonça, Salvador de Mendonça,
Oliveira Lima e Magalhães de Azevedo.
2a parte: Substitua-se por j o g inicial sempre que tiver o som da-
quela letra.
Responderam não os Senhores Lúcio de Mendonça, Salvador de
Mendonça, Oliveira Lima, Heráclito Graça, Silva Ramos, Souza Bandei-
ra, Graça Aranha, José Veríssimo, Afonso Arinos, Olavo Bilac, Alberto
de Oliveira, Euclides da Cunha, Artur Azevedo, Magalhães de Azeredo,
Machado de Assis e Mário de Alencar, ao todo 16; responderam sim os
Senhores João Ribeiro, Araripe Júnior, Raimundo Correa, Guimarães
Passos e Medeiros e Albuquerque.
9a proposição – Dividida em duas partes:
1a parte: Substitua-se sempre por s o ç inicial nas poucas palavras
que o conservam.
Responderam sim os Senhores João Ribeiro, Heráclito Graça, Sil-
va Ramos, Souza Bandeira, Graça Aranha, José Veríssimo, Araripe Jú-
nior, Raimundo Correa, Afonso Arinos, Olavo Bilac, Alberto de Olivei-
ra, Euclides da Cunha, Artur Azevedo, Guimarães Passos, Magalhães de
Azevedo, Medeiros e Albuquerque, Machado de Assis e Mário de Alen-
car, ao todo 18; responderam não os Senhores Lúcio de Mendonça, Sal-
vador de Mendonça e Oliveira Lima.
31
2a parte: Sempre que se encontrarem formas de grafia com s ou ç,
prefira-se s: Exemplo: dansa preferível a dança.
Responderam sim os Senhores Souza Bandeira, Graça Aranha, Jo-
sé Veríssimo, Araripe Júnior, Raimundo Correa, Afonso Arinos, Olavo
Bilac, Alberto de Oliveira, Euclides da Cunha, Artur Azevedo, Maga-
lhães de Azevedo, Guimarães Passos, Medeiros e Albuquerque, Machado
de Assis, Mário de Alencar e João Ribeiro20, ao todo 16; responderam
não os Senhores Lúcio de Mendonça, Salvador de Mendonça, Oliveira
Lima, Heráclito Graça e Silva Ramos.
10a proposição – Nos ditongos au, eu, iu, que também se escre-
vem ao, eo, io, prefiram-se as formas em u.
Foi aprovada unanimemente.
11a proposição – Substitua-se sempre por z a letra s quando o z
tiver o som, como acontece entre vogais.21
Responderam sim os Senhores Souza Bandeira, Graça Aranha, Jo-
sé Veríssimo, Araripe Júnior, Raimundo Correa, Afonso Arinos, Olavo
Bilac, Alberto de Oliveira, Euclides da Cunha, Guimarães Passos, Maga-
lhães de Azevedo, Medeiros e Albuquerque e Machado de Assis, ao todo
13; responderam não os Senhores Lúcio de Mendonça, Salvador de
Mendonça, Oliveira Lima, João Ribeiro, Heráclito Graça, Silva Ramos,
Artur Azevedo e Mário de Alencar, ao todo 8.
12a proposta – Exceção feita dos pronomes pessoais nós e vós e
dos tempos dos verbos (amarás, preferis etc.) marquem-se sempre os finais
20 Na folha 56 do manuscrito das Atas, consta ...Machado de Assis e Mário de Alencar, João Ribeiro. Na ata de 18 de julho de 1907, João Ribeiro solicita a ratificação de que seu voto fora afirmativo.
21 Na reunião retificadora de 8 de julho, ponderou “o Senhor João Ribeiro que a substituição do s in-tervocal com o som de s por z não devia aplicar-se ao prefixo des, convindo que este prefixo tivesse uniforme grafia, quer precedesse vogal quer consoante. O Senhor Medeiros e Albuquerque respon-
deu que a regra votada era absoluta e que entendia não ser possível adotar-se a exceção, nem ha-via fundamento para ela. Se algum motivo podia haver para que se conservasse o s do prefixo des era o da etimologia; mas não seria lógico atendê-lo em uma reforma que justamente desprezara as
razões da etimologia pelas da fonética, segundo estava firmado na 17a proposição e decorria das ou-tras proposições anteriores, entre outros a da supressão das letras mudas.
Na sessão de 1o de agosto de 1907, votou-se pelas seguintes “Restrições – Adota-se o s dos prefi-xos des, trans e bis: exemplos: desamor, desacompanhado, transeunte, bisavô, bisannual”.
32
agudos em az, ez, iz, oz e uz com z, reservando o s unicamente para o plural
das palavras agudas terminadas em a, e, i, o e u.22
Responderam sim os Senhores Lúcio de Mendonça, Salvador de
Mendonça, Oliveira Lima, João Ribeiro, Heráclito Graça, Souza Bandei-
ra, Graça Aranha, José Veríssimo, Raimundo Correa, Afonso Passos,
Magalhães de Azevedo, Machado de Assis, Medeiros e Albuquerque e
Mário de Alencar, ao todo 18; responderam não os Senhores Silva Ra-
mos, Araripe Júnior e Euclides da Cunha.
13a proposta – Escrevam-se as sílabas breves em ão com am (or-
gam, orgams etc.).
Responderam sim os Senhores Lúcio de Mendonça, Salvador de
Mendonça, Oliveira Lima, Heráclito Graça, Silva Ramos, José Veríssi-
mo, Raimundo Correa, Afonso Arinos, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira,
Euclides da Cunha, Artur Azevedo, Guimarães Passos, Magalhães de
Azevedo, Medeiros e Albuquerque, Machado de Assis e Mário de Alen-
car, ao todo 17; responderam não os Senhores João Ribeiro, Souza Ban-
deira, Graça Aranha e Araripe Júnior.
14a proposta – Escrevam-se as sílabas longas em ã (manhã) com
ã e as breves com an (firman23, orphan etc.).
Foi aprovada unanimemente.
15a proposta – Suprima-se o sinal de sinalefa nas contrações: des-
te, desta, naquele, naquela etc.
Foi aprovada unanimemente.
16a proposta – Escrevam-se os nomes próprios estrangeiros com
a grafia de suas línguas.24
22 Na sessão retificadora de 18 de julho, o Senhor Salvador de Mendonça propôs que esta 12a pro-posta passasse a ter a seguinte redação: “Exceção feita dos pronomes pessoais nós e vós e dos
tempos dos verbos (amarás, preferis etc.) e do plural das palavras agudas em a, e, i, o e u, escre-vam-se com z os finais agudos das palavras em az, ez, iz, oz e uz (exemplos: rapaz, pedrez, Luiz, noz, arcabuz).”
23 A palavra firman, cuja terminação an é tônica (longa e não breve, nos termos do texto), contraria a regra proposta. A falha foi apontada por Claudio Cezar Henriques na tese citada. No livro de 2001, ele substituiu a palavra firman por iman (Cf. Henriques, 2001, p. 145).
33
Aditivo do Senhor João Ribeiro: Conserve-se a grafia de todos
os nomes próprios, quer de pessoa quer de nomenclatura geográfica, que
já tenham sido adotadas na língua portuguesa.25
Foi aprovada unanimemente.
17a proposta – Tomando-se por base a boa pronúncia e, para esse
efeito especial, considerando-se boa pronúncia a das classes cultas, como
for fixada pela Academia – sempre que nos dicionários da língua portu-
guesa já se encontrarem diversos modos de escrever a mesma palavra,
prefira-se a que se aproximar mais da referida pronúncia.
Responderam sim os Senhores Souza Bandeira, Graça Aranha, Jo-
sé Veríssimo, Araripe Júnior, Raimundo Correa, Afonso Arinos, Olavo
Bilac, Alberto de Oliveira, Euclides da Cunha, Artur Azevedo, Guima-
rães Passos, Magalhães de Azevedo, Medeiros e Albuquerque e Machado
de Assis, ao todo 14; responderam não os Senhores Lúcio de Mendonça,
Salvador de Mendonça, Oliveira Lima, João Ribeiro, Heráclito Graça,
Silva Ramos e Mário de Alencar.
Deixou-se de votar o artigo 1o do projeto do Senhor Salvador de
Mendonça porque seu autor o julgou prejudicado pela votação da propo-
sição antecedente.
Terminada a ordem do dia, propôs o Senhor José Veríssimo e to-
dos concordaram que a Academia só autorizasse como definitiva a publi-
cação do resultado da votação, depois de ser esta ratificada na sessão se-
guinte.
O Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos e deu para
ordem do dia da próxima sessão26 a leitura e discussão da presente ata.
24 Na sessão de 1o de agosto, decidiu-se que “as palavras estrangeiras, inclusive gregas e latinas, não aportuguesadas, conservam a ortografia de origem: jus (e não juz), kirie (e não quirie), water-proof, boré, bis (e não biz)”.
25 João Ribeiro retifica, na sessão retificadora de 18 e julho, seu próprio Aditivo para a seguinte re-dação: “Os nomes próprios de pessoas e de lugares, desde que já tenham forma portuguesa, obe-decem às regras adotadas de simplificação ortográfica.”
26 A referida “próxima sessão” ocorreu no dia 18 de julho de 1907.
34
FORMULÁRIO ORTOGRÁFICO DE 1943
O Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa terá por base o
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa da Academia das Ciên-
cias de Lisboa, edição de 1940, consoante a sugestão do Sr. Ministro da
Educação e Saúde, aprovada unanimemente pela Academia Brasileira de
Letras em 29 de janeiro de 1942. Para a sua organização serão obedeci-
dos rigorosamente os itens seguintes:
1. Inclusão dos brasileirismos consagrados pelo uso.
2. Inclusão de estrangeirismos e neologismos de uso corrente no
Brasil e necessários à língua literária.
3. Substituição de certas formas usadas em Portugal pelas corres-
pondentes formas usadas no Brasil, consoante a pronúncia e a morfologia
consagradas.
4. Fixação da grafia de vocábulos cuja etimologia ainda não está
perfeitamente demonstrada, consignando-se em primeiro lugar a de uso
mais generalizado.27
5. Fixação das grafias de vocábulos sincréticos e dos que têm uma
ou mais variantes, tendo-se em vista o étimo e a história da língua, e re-
gistro de tais vocábulos um a par do outro, de maneira que figure em
primeira plana, como preferível, o de uso mais generalizado.
6. Evitar duplicidade gráfica ou prosódica de qualquer natureza,
dando-se a cada vocábulo uma única forma, salvo se nele há consoante
que facultativamente se profira,28 ou se há mais de uma pronúncia legiti-
mada pelo uso ou pela etimologia, casos em que se registrarão as duas
27 O Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa decidirá tais questões.
28 A variante portuguesa em oposição à variante brasileira, por exemplo.
35
formas, uma em seguida à outra, colocando-se em primeiro lugar a de
uso mais generalizado.
7. Registro de um significado ou da definição de todos os vocábu-
los homófonos não homógrafos, bem como dos homógrafos heterofôni-
cos – mas não dos homógrafos perfeitos –, fazendo-se remissão de um
para outro.
8. Registro, entre parênteses, da vogal ou sílaba tônica de todo e
qualquer vocábulo cuja pronúncia seja duvidosa,29 ou cuja grafia não
mostre claramente a sua ortoépia; não sendo, porém, indicada a sílaba tô-
nica dos infinitos dos verbos, salvo se forem homógrafos heterofônicos.
9. Registro, entre parênteses, do timbre da vogal tônica de pala-
vras sem acento diacrítico, bem como da vogal da sílaba pré-tônica ou
pós-tônica, sempre que se faça mister, em especial quando há metafonia,
tanto no plural dos nomes e adjetivos quanto em formas verbais. Não se-
rá indicado, porém, o timbre aberto das vogais e e o nem o timbre fecha-
do delas nos vocábulos compostos ligados por hífen.
10. Fixação dos femininos e plurais irregulares, que serão inscri-
tos em seguida ao masculino singular.
11. Registro de formas irregulares dos verbos mais usados em ear
e iar, especialmente das do presente do indicativo, no todo ou em parte.
12. Todos os vocábulos devem ser escritos e acentuados grafica-
mente de acordo com a ortoépia usual brasileira e sempre seguidos da in-
dicação da categoria gramatical a que pertencem.
Para acentuar graficamente as palavras de origem grega, ou in-
dicar-lhes a prosódia entre parênteses, cumpre atender ao uso brasilei-
ro: registra-se a pronúncia consagrada, embora esteja em desacordo
com a primordial;30 mas, se ela é de uso apenas em certa arte ou ciên-
cia, e ainda esteja em tempo de se corrigir, convém que seja corrigi-
da, inscrevendo-se a forma etimológica em seguida à usual.
29 É o caso, por exemplo, dos vocábulos com gue, gui, que e qui.
30 O aspecto fonético se sobrepõe ao etimológico, considerando-se o uso mais generalizado.
36
O Vocabulário conterá:
a) o formulário ortográfico, que são estas instruções;
b) o vocabulário comum;
c) registro de abreviaturas.
Vocabulário Onomástico será publicado separadamente, depois de
aprovado por decreto especial.
37
DECRETO NO
6.583,
DE 29 DE SETEMBRO DE 2008
Promulga o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lis-
boa em 16 de dezembro de 1990.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere
o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto
Legislativo no 54, de 18 de abril de 1995, o Acordo Ortográfico da Lín-
gua Portuguesa, assinado em Lisboa em 16 de dezembro de 1990;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento de rati-
ficação do referido Acordo junto ao Ministério dos Negócios Estrangei-
ros da República Portuguesa, na qualidade de depositário do ato, em 24
de junho de 1996;
Considerando que o Acordo entrou em vigor internacional em 1o de ja-
neiro de 2007, inclusive para o Brasil, no plano jurídico externo;
DECRETA:
Art. 1o O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, entre os Governos
da República de Angola, da República Federativa do Brasil, da Repúbli-
ca de Cabo Verde, da República de Guiné-Bissau, da República de Mo-
çambique, da República Portuguesa e da República Democrática de São
Tomé e Príncipe, de 16 de dezembro de 1990, apenso por cópia ao pre-
sente Decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém.
Art. 2o O referido Acordo produzirá efeitos somente a partir de 1o de ja-
neiro de 2009.
Parágrafo único. A implementação do Acordo obedecerá ao período de
transição de 1o de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2012, durante o
38
qual coexistirão a norma ortográfica atualmente em vigor e a nova norma
estabelecida.
Art. 3o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos
que possam resultar em revisão do referido Acordo, assim como quais-
quer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da
Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimô-
nio nacional.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da Re-
pública.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Celso Luiz Nunes Amorim
39
DECRETO LEGISLATIVO NO
54, DE 1995
CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Presi-
dente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regime In-
terno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO No 54, DE 1995
Aprova o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado
em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o É aprovado o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa,
assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quais-
quer atos que impliquem revisão do referido Acordo, bem como quais-
quer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarre-
tem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publica-
ção.
Senado Federal, 18 de abril de 1995.
– Senador José Sarney, Presidente.
40
APROVAÇÃO DO ACORDO
[DE 1990]
PELA ASSEMBLEIA
DA REPÚBLICA
[DE PORTUGAL]
A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164o, alínea j,
e 169o, no 5, da Constituição, aprovar, para ratificação, o Acordo Orto-
gráfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa a 16 de dezembro de
1990, que segue em anexo.
Aprovada em 4 de junho de 1991.
O Presidente da Assembleia da República Vítor Pereira Crespo.
41
ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA (1990)
Considerando que o projeto de texto de ortografia unificada da
língua portuguesa aprovado em Lisboa, em 12 de outubro de 1990, pela
Academia das Ciências de Lisboa, Academia Brasileira de Letras e de-
legações de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São
Tomé e Príncipe, com a adesão da delegação de observadores da Gali-
za, constitui um passo importante para a defesa da unidade essencial da
língua portuguesa e para o seu prestígio internacional;
Considerando que o texto do Acordo que ora se aprova resulta de
um aprofundado debate nos países signatários;
A República Popular de Angola, a República Federativa do Brasil,
a República de Cabo Verde, a República da Guiné-Bissau, a República
de Moçambique, a República Portuguesa e a República Democrática de
São Tomé e Príncipe acordam no seguinte:
Artigo 1o
É aprovado o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que
consta como anexo I ao presente instrumento de aprovação, sob a de-
signação de Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990), e vai
acompanhado da respectiva nota explicativa, que consta como anexo II
ao mesmo instrumento de aprovação, sob a designação de Nota Expli-
cativa do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (1990).
Artigo 2o
Os Estados signatários tomarão, através das instituições e órgãos
competentes, as providências necessárias com vista à elaboração, até 1o
de janeiro de 1993, de um vocabulário ortográfico comum da língua por-
42
tuguesa31, tão completo quanto desejável e tão normalizador quanto pos-
sível, no que se refere às terminologias científicas e técnicas.
Artigo 3o
O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa entrará em vigor em
1o de janeiro de 1994, após depositados os instrumentos de ratificação de
todos os Estados junto do Governo de República Portuguesa.
Artigo 4o
Os Estados signatários adaptarão as medidas que entenderem ade-
quadas ao efetivo respeito da data da entrada em vigor estabelecida no ar-
tigo 3o.
Em fé do que os abaixo-assinados, devidamente credenciados para
o efeito, aprovam o presente Acordo, redigido em língua portuguesa, em
sete exemplares, todos igualmente autênticos.
Assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990.
Pela República Popular de Angola: José Mateus de Adelino
Peixoto, Secretário de Estado da Cultura.
Pela República Federativa do Brasil: Carlos Alberto Gomes
Chiarelli, Ministro da Educação.
Pela República de Cabo Verde: David Hopffer Almada, Minis-
tro da Informação, Cultura e Desportos.
Pela República da Guiné-Bissau: Alexandre Brito Ribeiro Fur-
tado, Secretário de Estado da Cultura.
Pela República de Moçambique: Luís Bernardo Honwana, Mi-
nistro da Cultura.
Pela República Portuguesa: Pedro Miguel Santana Lopes, Se-
cretário de Estado da Cultura.
31 É evidente que este "vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa" não é o que foi publi-cado pela Academia Brasileira de Letras neste ano de 2009 em sua 5ª edição, mas outro, que ainda será elaborado em conjunto com os demais países da CPLP, na fase conclusiva do processo de im-
plementação do Acordo.
43
Pela República Democrática de São Tomé e Príncipe: Lígia
Silva Graça do Espírito Santo Costa, Ministra da Educação e Cultura.
46
BASE I
DO ALFABETO E DOS NOMES
PRÓPRIOS ESTRANGEIROS
E SEUS DERIVADOS
1o) O alfabeto da língua portuguesa é formado por vinte e seis le-
tras, cada uma delas com uma forma minúscula e outra maiúscula: a A
(á), b B (bê), c C (cê), d D (dê), e E (é), f F (efe), g G (gê ou guê), h H
(agá), i I (i), j J (jota), k K (capa ou cá)32, l L (ele), m M (eme), n N
(ene), o O (ó), p P (pê), q Q (quê), r R (erre), s S (esse), t T (tê), u U (u),
v V (vê), w W (dáblio)33, x X (xis), y Y (ípsilon)34, z Z (zê).35
Obs.: 1. Além destas letras, usam-se o ç (cê cedilhado) e os seguintes dí-
grafos: rr (erre duplo), ss (esse duplo), ch (cê-agá), lh (ele-agá), nh (ene-
32 O k representa uma consoante oclusiva velar surda, tal como o c (antes de a, o e u), o q ou o qu
(em quatro e quero).
33 O w representa o som de /u/ (vogal ou semivogal) em palavras de origem inglesa e o som conso-
nantal /v/ em palavras de origem alemã, havendo situações em que pode ter ambas as realizações, como na palavra Darwin, que pode ser pronunciada como Dáruim ou como Dárvim.
34 O y representa sempre o som de /i/, ora como vogal, ora como semivogal.
35 Passam a integrar o alfabeto da língua portuguesa as letras k K (capa ou cá), w W (dáblio) e y Y (ípsilon), apesar de já serem usadas anteriormente sem fazerem parte do alfabeto. O “acordo” de 1943 não se referia ao fato de que há letras maiúsculas ou minúsculas, apesar de haver regras es-
pecíficas para o uso de umas e de outras. Com isto, a partir de agora, os nossos dicionários incluirão tais letras, necessariamente nos seus respectivos lugares, assim como a numeração alfabética pas-sará a contar com mais estas três letras. Como se vê, corrige-se uma incoerência da legislação ante-rior, apesar de ter sido de grande valor na simplificação ortográfica daquela época.
Naturalmente, tais letras continuarão a ser usadas nos mesmos casos especiais em que já eram usadas, como se verá adiante.
Outra novidade é o fato de se sugerir nome para as letras, lembrando que se trata de meras suges-tões, admitindo-se outros nomes locais e regionais, assim como a informação de que, além destas
letras, usam-se outras letras e dígrafos.
47
agá), gu (guê-u) e qu (quê-u) [sc (esse-cê – nascer), sç (esse-cê cedilha –
nasça), xc (xis-cê – exceto) e xs (xis-esse – exsudar)].
2. Os nomes das letras acima sugeridos não excluem outras formas de as
designar.
2o) As letras k, w e y são usadas nos seguintes casos especiais:
a) Em nomes próprios de pessoas (antropônimos) originários de
outras línguas e seus derivados: Becker, Byron, byroniano; Chediak,
Franklin, frankliniano; Kafka, kafkiano; Kant, kantismo, kantista; Kar-
dec, kardecista, kardecismo; Kury, Darwin, darwinismo; Taylor, taylo-
rista; Wagner, wagneriano; Walmirio; Zyngier.
b) Em nomes próprios de lugares (topônimos) originários de ou-
tras línguas e seus derivados: Kwanza; Kuwait, kuwaitiano; Malawi, ma-
lawiano; Washington.
c) Em siglas, símbolos e mesmo em palavras adotadas como uni-
dades de medida de curso internacional: K-potássio (de kalium), KLM;
TWA, W- oeste (West); kg- quilograma, km- quilômetro, kW- kilowatt,
yd- jarda (yard); Watt.
3o) Em conformidade com o número anterior, mantêm-se nos vocá-
bulos derivados eruditamente de nomes próprios estrangeiros quaisquer
combinações gráficas ou sinais diacríticos36 não peculiares à nossa escrita
que figurem nesses nomes: (mt) comtista, de Comte; (tt) garrettiano, de
Garrett; (ff) jeffersônia, de Jefferson; (ü e ll) mülleriano, de Müller; (sh)
shakespeariano, de Shakespeare.
Os vocabulários autorizados registrarão grafias alternativas ad-
missíveis em casos de divulgação de certas palavras de tal tipo de origem
(a exemplo de fúcsia/fúchsia e derivados, bungavília/buganvílea/bou-
gainvíllea).37
36 Sinais diacríticos são os que conferem às letras ou grupos de letras um valor fonológico especial.
Os sinais diacríticos usados em português são: acento agudo (´), acento circunflexo (^), acento grave (`), cedilha (ç), til (~) e trema (¨). (Confira Azeredo, 2008, p. 27)
37 Em tais casos, é indispensável consultar o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, porque é o
único documento que oficialmente autoriza as grafias alternativas admissíveis.
48
4o) Os dígrafos finais de origem hebraica ch, ph e th podem ser
conservados em formas onomásticas da tradição bíblica, como Baruch,
Loth, Moloch, Ziph, ou então simplificados: Baruc, Lot, Moloc, Zif. Se
qualquer um destes dígrafos, em formas do mesmo tipo, é invariavelmen-
te mudo, é eliminado: José, Nazaré, em vez de Joseph, Nazareth; e se al-
gum deles, por força do uso, permite adaptação, é substituído, recebendo
uma adição vocálica: Judite, em vez de Judith.38
5o) As consoantes finais grafadas b, c, d, g e t se mantêm (ou
não), quer sejam mudas, quer proferidas, nas formas onomásticas em que
o uso as consagrou, nomeadamente antropônimos e topônimos da tradi-
ção bíblica: Bensabat/Bensabá, David/Davi, Gad, Gog, Isaac, Ja-
cob/Jacó, Job/Jó, Josafat/Josafá, Magog, Moab.
Integram-se também nesta forma: Cid, em que o d é sempre pro-
nunciado; Madrid e Valladolid, em que o d ora é pronunciado, ora não; e
Calecut, Calecute ou Calicut, em que o t se encontra nas mesmas condições.
Nada impede, portanto, que os antropônimos em apreço sejam
usados sem a consoante final Jó, Davi e Jacó.
6o) Recomenda-se que os topônimos de línguas estrangeiras sejam
substituídos, tanto quanto possível, por formas da língua portuguesa
(formas vernáculas), quando estas forem antigas (e mesmo vivas) em
português ou quando entrarem (ou puderem entrar) no uso corrente.
Exemplo: Anvers, substituído por Antuérpia; Cherbourg por Cherburgo;
Garonne por Garona; Genève por Genebra; Jutland por Jutlândia; Mi-
lano por Milão; München por Muniche ou Munique; Torino por Turim;
Zürich por Zurique etc.39
38 Fica explícito, portanto, que tais formas só permanecem quando os dígrafos ch, ph e th são pro-nunciados, podendo-se ainda ser substituídos por c, f e t. Caso não sejam pronunciados, devem ser
eliminados, nos casos de palavras como José e Nazaré, por exemplo.
Como lembra Maurício Silva (2008, p. 30), “a intenção dessa regra é apenas consagrar um uso já comum na ortografia portuguesa, embora ainda não tivesse sido definida antes do acordo”.
39 39 O aportuguesamento dos topônimos estrangeiros é aconselhado, admitindo-se as situações em
que isto não for possível, ao contrário do que se determinou em 1943, sem grande sucesso.
49
BASE II
DO H INICIAL E FINAL
1o) Emprega-se o h inicial:
a) Por força da etimologia: habere (latim) > haver, héliks (grego)
> hélice, hedera (latim) > hera, hodie (latim) > hoje, hora (latim) > hora,
homine (latim) > homem, humor (latim) > humor, assim como hábil, ha-
bitar, hábito, Habsburgo, haitiano, hálito, haplologia, harém, harmonia,
harpa, haste, haurir, hebdomadário, Hebe, hebraico, hebreu, hediondo,
Hégira, Heitor, Helênio, hemorragia, hepatite, herdar, herege, hérnia,
hesitação, heterogêneo, hiato, hibernar, hidra, hieróglifo, hífen, hilari-
ante, Hilma, hindu, hino, hípica, hirsuto, hispânico, hissope, histérico,
hodierno, holocausto, holofote, hombridade, homossexual, honra, Horá-
cio, horóscopo, horta, hosana, hóstia, hotel, humanidade, húmus.
b) Em virtude da adoção convencional: hã?, hem?, homessa!,
hum!, hurra!.
2o) Suprime-se o h inicial:
a) Quando, apesar da etimologia, a sua supressão estiver inteira-
mente consagrada pelo uso: erva, em vez de herva; e, portanto, ervaçal,
ervanário, ervoso (em contraste com herbáceo, herbanário, herboso,
formas de origem erudita); andorinha em vez de handorinha, úmido em
vez de húmido, felá em vez de felah, inverno em vez de hinverno etc.
b) Quando passar ao interior da palavra, no processo da composi-
ção, de modo que o elemento em que figura se aglutina ao precedente: bi
+ hebdomadário > biebdomadário, des + harmonia > desarmonia, des
+ humano > desumano, ex + haurir > exaurir, in + hábil > inábil, lobis
+ homem > lobisomem, re + habilitar > reabilitar, re + haver > reaver.
3o) Mantém-se o h inicial nas palavras compostas (ou derivadas por
prefixação), quando pertencer a um elemento que está ligado ao anterior
50
por meio de hífen: anti-helmíntico, anti-hemorrágico, anti-herói, anti-
higiênico, anti-histamínico, anti-horário, anti-humanista, bicho-homem,
co-herdeiro, contra-haste, extra-hepático, extra-humano, micro-habitat,
pré-habilitação, pré-helênico, pré-história, sobre-humano, super-homem.40
4o) O h final é empregado em interjeições: ah! bah! eh! eh-eh! ih!
oh! puh! uh! !41
40 Por estas razões, coexistirão duas grafias para algumas palavras, como, por exemplo bi-hebdomadário e biebdomadário, como se pode ver na Base XVI, 2o, b).
41 Não se escreve com h final a interjeição de chamamento ou apelo ó: Ó Bechara, vem nos socor-rer!... A bem da verdade, é bom que se diga que os brasileiros, em geral, não usam o timbre aberto
nessa interjeição, mas o timbre fechado. O timbre aberto é próprio dos portugueses, provavelmente.
51
BASE III42
DA HOMOFONIA43
DE CERTOS GRAFEMAS
CONSONÂNTICOS44
Dada a homofonia existente entre certos grafemas consonânticos,
torna-se necessário diferenciar os seus empregos, que fundamentalmente
se regulam pela história das palavras. É certo que a variedade das condi-
ções em que os grafemas consonânticos homófonos se fixam na escrita
nem sempre permite uma fácil diferenciação dos casos em que se deve
empregar uma determinada letra daqueles em que, diversamente, deve
ser empregada outra, ou outras, para representar o mesmo som.
Nesta conformidade, importa notar, principalmente, os seguintes
casos:
1o) Distinção gráfica entre ch e x:
a) Escrevem-se com ch: achar, achincalhar, agachar, alcachofra,
ancho, anchova, apetrecho, archote, azeviche, Bechara, Belchior, boche-
cha, borracha, brecha, bucha, bucho (estômago), cachimbo, cacho, cacho-
eira, cambalacho, cachorro, capacho, capricho, capucho, cartucheira,
cartucho (de espingarda), caruncho, chá, chácara, chacina, chacota, cha-
fariz, chalaça, chamar, chaminé, chanceler, chapinhar, charlatão, charne-
ca, charque, charuto, chato, chave, chefe, cheque, chiba, Chico, chicote,
chimpanzé, chiste, choça, chocho, chofre, chope, chorar, chorume, chouto,
42 É bom que se registre que as Bases III, IV, V, VI e VII não alteram em nada as normas ortográficas já vigentes no Brasil.
43 Homofonia é o som ou pronúncia semelhante. (Azeredo, 2008, p. 28)
44 Grafemas consonânticos são as letras ou sinais gráficos representativos dos sons que não têm
autonomia, ou seja, que dependem de uma vogal para se concretizarem na fala. (Azeredo, 2008, p. 28)
52
chuchar, chuço, chumaço, churrasco, coche, cocheiro, cochichar, cochi-
lar, cocho (vasilha), colcha, colchão, colchete, desabrochar, encher, ende-
cha, endiche, estrebuchar, facho, ficha, flecha, frincha, gancho, guincho,
iídiche (também ídiche), inchar, machado, macho, mancha, mancheia,
marchetar, mecha, Melchior, mocho (ave noturna), muchacho, murchar,
nicho, pachorra, pecha, pechincha, pedinchar, penacho, Peniche, pichel,
ponche, quíchua, rachar, rechaçar, rancho, rocha, sachar, salsicha, san-
duíche, tacha (prego, imperfeição), tachar (pregar, criticar), tacho (recipi-
ente de ferro, cobre etc.), tocha, trecho, trinchar, troncho, vulgacho;
b) Escrevem-se com x: abexi, Aleixo, almoxarife, ameixa, anexim,
atarraxar, baixel, baixela, baixio, baixo, bexiga, broxa (pincel), bruxa,
bruxulear, buxo (certo arbusto), caixeiro, caixilho, cambaxira, Cartaxo,
Cartuxo (religioso), cauixi, Caxambu, caxemira, caxinguelê, coaxar, co-
xa, coxia, coxo (manco), debuxar, debuxo, deixar, desenxabido, desleixo,
eixo, elixir, embaixada, engraxar, enxada, enxaguar, enxame, enxaque-
ca, enxergão, enxerto, enxofre, enxotar, enxoval, enxovalhar, enxovia,
enxugar, enxúndia, enxurrada, enxuto, faixa, faxina (limpeza), feixe,
freixo, frouxo, graxa, lagartixa, laxante, lixa, lixo, luxação, luxo, luxúria,
luxuriante, macaxeira, madeixa, malgaxe, maxixe (certa planta, tipo de
dança), mexer, mexerico, mexilhão (marisco), moxinifada, mixórdia, mu-
xiba, muxibento, muxoxo, pexote (melhor que pixote), pixé (mau cheiro),
oxalá, paxá, praxe, puxar, Quixote, relaxar, repuxo, rixa, rouxinol, roxo,
seixo, taxa (preço), taxativo, texugo, trouxa, trouxe (de trouxe-mouxe e
do verbo trazer), tuxaua, vexame, vexar, xá (soberano), xácara (poesia),
xadrez, xairel, xale, Xangai, xantungue, xará, xarope, xavante, xaveco,
Xavier, xenofobia, xeque (lance do jogo de xadrez), Xerazade, xerez, xe-
rife, xibiu (diamante pequeno), xibolete, xícara, xifoide, xilogravura
(gravura em madeira), xingar, Xingu, xiquexique (certo tipo de planta),
xisto, xodó, xucro.
2o) Distinção gráfica entre g, com valor de fricativa palatal, e j:
a) Escrevem-se com g: abencerrage(m), aborígene, adágio, Ádi-
ge, afugentar, Agenor, ágio, agitar, alfageme, Álgebra, algema, algeroz,
Algés, algibebe, algibeira, álgido, Almagesto, almargem, Alvorge, ama-
rugem, ambages, angina, Argel, Brígida, caligem, doge, estrangeiro, fa-
53
lange, ferrugem, frigir, fuligem, geada, geba, gêiser, geleia, gelo, gelo-
sia, gema, gemer, gêmeo, geminar, genciana, gene, genético, Genebra,
general, generalizar, genérico, gênese, genética, gengibre, gengiva, gê-
nio, genital, genitivo, genitor, genoma, genro, gente, genuflexão, genuí-
no, geolinguística, geometria, Geraldo, gerar, gerente, gergelim, gerin-
gonça, giárdia, giba, gibi, Gibraltar, giesta, gigabaite, gigante, gigolô,
gilete, ginásio, ginástica, ginecologia, ginete, ginja, girafa, girândola,
girar, girassol, gíria, girino, giz, herege, impingem, lambugem45, laringe,
longe, longínquo, Nigéria, ogiva, Orgetorige, paragoge, rabugice, ran-
ger, relógio, rígido, sege, Tânger, tangerina, tigela, vegetal, viagem
(substantivo), virgem;
b) Escrevem-se com j: adjetivo, ajeitar, ajeru (nome de planta in-
diana e de uma espécie de papagaio), alfanje, alforje, berijela (mas tam-
bém beringela), caçanje, canjerê, canjica, canjirão, cerejeira, enjeitar,
gajeiro, gorjeta, granjear, hoje, injeção, intrujice, jeca, jecoral, jegue,
jeira, jeito, jejuar, jejum, jenipapo, Jeová, jequiri, Jequié, jequitibá, je-
reba, Jeremias, jeribita, Jericó, jerimum, Jerônimo, jérsei, jesuíta, Jesus,
jetom, jiboia, jiló, jinga, jipe, jipioca, jiquipanga, jiquiró, jiquitaia, ji-
rau, jiriti, jitirana, jiu-jítsu, laje, lajem, lambujem, laranjeira, lisonjear,
lojista, majestade, majestoso, manjericão, manjerona, mucujê, ojeriza,
pajé, pajem, pegajento, projeto, rejeitar, rijeza, sabujice, sarjeta, sujeito,
sujidade, traje, trejeito, varejista, viajem (verbo), ultraje.46
3o) Distinção gráfica entre as letras s, ss, c, ç e x, que representam
sibilantes surdas:
a) Escrevem-se com s: anseio, Anselmo, ânsia, ansioso, ascensão,
aspersão, aversão, avulso, balsa, bálsamo, bolsa, busílis, cansar, catar-
se, censo (dados estatísticos demográficos), consenso, consertar (endirei-
tar), conversão, convulsão, corso (da Córsega), descanso, despretensio-
45 Com exceção dos verbos entrujir, intrugir e os terminados em JAR, só há três palavras terminadas em JEM (lajem, lambujem e pajem) e umas poucas em JE (alfanje, alforge, hoje, laje, traje, ultraje etc.).
46 Há uns quatrocentos verbos da primeira conjugação terminados em JAR que têm o presente do subjuntivo em –je, -jes, -je, -jemos, -jeis, -jem, como adejar, aleijar, alijar, almejar, alvejar, amojar,
arejar, arrojar, azulejar, beijar, bocejar, cotejar, cravejar etc.
54
so, dispersão, dissensão, entorse, épsilon, escansão, esconso, extensão,
extorsão, farsa, ganso, imenso, imersão, incenso, incursão, inserção, in-
sipiente (ignorante, insensato), insosso, interseção, inversão, mansão,
mansarda, manso, obsessão, obsidiar, obsoleto, precursor, pretensão,
propenso, recurso, remanso, salsicha, salso, Sansão, seara, seda, Seia,
sela (assento para montaria), senso (entendimento, percepção), sensual,
Sertã, Sernancelhe, serra, Sílvio, Singapura (ou Cingapura), Sintra, sisa,
siso, tarso, terso (puro, limpo), valsa;
b) Escrevem-se com ss: abadessa, Abecassis, abscesso, acessório,
acesso, acossar, admissão, agressão, alvíssaras, amassar, antisséptico
(que desinfeta), apressar (tornar rápido), arremessar, assacar, assanhar,
assar, assampatar, asse (moeda), asseado, Asseiceira, asseio, assenti-
mento, assento (móvel no qual se senta; registro), assersão, Assíria, as-
somo, atassalhar, atravessar, avesso, benesse, Bessa, bossa, bússola,
carrossel, cassa (tecido), cassar (anular, retirar), Cássia, Cassiano, Cas-
silda, cassino, cessão (de ceder), Clarissa, codesso (identicamente co-
dessal ou codassal, codesseda, codessoso etc.), compressão, consessão,
cossaco, crasso, demissão, devassar, dissenção, dissertação, dissídio,
dossel, egresso, endossar, escassez, escasso, essa (estrado), fosso, fricas-
sê, gesso, grassar, ingresso, insosso, intercessão (de interceder), lasso
(cansado, gasto), massa (pasta), molosso, mossa, musselina, Nebrissa,
necessário, Nissan, obsessão, Odessa, odisseia, pêssego, possesso, po-
tássio, premissa, presságio, pressentir, pressuroso, procissão, promessa,
promissor, recesso, regresso, remessa, remisso, repercussão, ressarcir,
sossegar, sossego, téssera, Tessalonia, travessa, vassalo;
c) Escrevem-se com c: abacial, aborrecer, acácia, acelga, acém,
acenso, acento (sinal), acerbo, acervo, alcácer, alface, alicerce, alperce,
amaciar, ancião, Aniceto, anticéptico (incrédulo), aquecer, Bacelar, ba-
cilo, cebola, Cecém, cediço, cedilha, cédula, cegonha, ceia, ceifar, Ceia,
ceitil, cela (pequeno quarto), celerado, cemitério, cenáculo, cenário,
cendal, cenho, cenoura, censo, centeio, centelha, cepilho, cereal, ceri-
mônia, ceroula, Cernache, cerração, cerro, certame, cessão (de ceder),
cetáceo, cetim, cidra, Cilene, Cinfães, Cingapura (ou Singapura), cínico,
concerto (certo tipo de obra musical), corcel, decerto, disfarce, Domício,
55
ensandecer, Escócia, facínora, Garcia, Gumercindo, incenso, incipiente
(em começo), incitar, intercessão (de interceder), lince, Macedo, maciço,
necessário, obcecar, pecíolo, percevejo, preceito, preceptor, receoso, re-
ticente, rinoceronte, Sicília, sucinto, superfície;
d) Escrevem-se com ç: ablução, acaçapar, açafata, açafate, aça-
frão, açaí, açambarcar, aço, açodar, açoite, açorda, açúcar, açucena,
açude, açular, adereço, alçapão, aliança, almaço, apreçar (indagar o
preço), araçá, asserção, atenção, avanço, baço, bagaço, balça (matagal),
beça, berço, boçal, Bragança, Buçaco, buço, cabaço, cabeça, caça, ca-
çamba, caçanje, caçarola, caiçara, caliça, carriço, castiço, caçoar, ca-
çula, camurça, cansaço, caraça, carcaça, cediço, cerração, coerção,
conciliação, contorção, corça, dançar, desavença, descalço, deserção,
Eça, enguiço, França, Gonçalves, inserção, laço (nó, vínculo), linguiça,
loução, maçã, maçada, maçar, maçarico, maçaroca, maciço, maço, ma-
çonaria, Melgaço, miçanga, Moçambique, moçárabe, monção, movedi-
ço, muçarela, muçulmano, murça, nabiça, negaça, oblação, obstrução,
paço (palácio), pança, pançudo, Paraguaçu, peça, peçonha, peliça, pi-
çarra, presunção, Proença, projeção, quiçaba, quiçaça, quiçama, qui-
çamba, ranço, recepção, redenção, regação, retenção (de reter), ruço
(pardacento), sanção (de sancionar), Seiça (grafia preferível às errôneas
Ceiça e Ceissa), Seiçal, soçobrar, Suíça, terço, terçol, tição, traça, tra-
paça, tremoçar;
e) Escrevem-se com x: auxiliar, auxílio, Maximiliano, Maximino,
máximo, morfossintaxe, próximo, sintaxe, trouxe (de trazer).
f) Escrevem-se com sc: acrescentar, acrescer, alvescer, apascen-
tar, arborescer, ascender (mover-se para cima), ascensão, ascensor, as-
censorista, ascese, asceta, ascetismo, ascite, coalescer, cognoscível,
convalescer, crescer, descer, efervescer, evanescer, florescer, imprescin-
dível, intumescer, irascível, nascer, oscilação, oscilar, oscitar, plebiscito,
presciência, presciente, prescindir, rejuvenescer, renascer, ressuscitar,
suscitar, uscense (de Uscana);
4o) Distinção gráfica entre s de fim de sílaba (inicial ou interior) e
x e z com idêntico valor fônico:
56
a) Escrevem-se com s: adestrar, astro, bisca, Biscaia, Calisto,
destro, destreza, egoísta, escavar, escusar, esdrúxulo, esgotar, especta-
dor (observador ou que assiste a espetáculo), espetáculo, esplanada, es-
plêndido, esplendor, espontâneo, espremer, esquisito, estender, estirpe,
Estremadura, Estremoz, faísca, gasto, haste, inesgotável, justapor, justa-
linear, justo, lastro, misto, misturar, nesga, osco, Páscoa, quaisquer,
rosto, sistino, Sisto, susto, triste, xisto, Zoroastro, Vasco;
b) Escrevem-se com x: contexto, exclamação, exclamar, exclu-
dente, excluir, excogitar, excomungar, excreção, excremento, excursão,
expandir, expansão, expatriar, expectador (aquele que está aguardando
algo), expectativa, expectorar, expedição, expelir, experiência, expensas,
experiência, expiação (purificação de crimes), expiar, expiratório, expli-
car, explícito, explodir, explorar, expoente, expor, expositor, exportar,
expressão, exprimir, expropriar, expugnar, expulsar, expurgar, êxtase,
extasiado (maravilhado), extenuado, extensão, exterminar, externo, ex-
tinção, extintor, extirpar, extorquir, extraordinário, extrato (resumo),
inexperto, inextricável, pretexto, sextante, sexto, sêxtuplo, têxtil, texto;
c) Escrevem-se com z: atrozmente, audazmente, capazmente, con-
tumazmente, edazmente, eficazmente, falazmente, felizmente, ferozmente,
fugazmente, incapazmente, ineficazmente, infelizmente, loquazmente,
mordazmente, nutrizmente, pertinazmente, petizmente, sagazmente, te-
nazmente, velozmente.
De acordo com esta distinção, convém notar dois casos:
a) Em final de sílaba que não seja final de palavra, o x = s muda
para s sempre que está precedido de i ou u: justapor, justalinear, misto,
sistino (conferir Capela Sistina), Sisto, em vez de juxtapor, juxtalinear,
mixto, sixtina, Sixto.
b) Só nos advérbios em mente se admite z, com valor idêntico ao
de s, em final de sílaba seguida de outra consoante (conferir capazmente
etc.); do contrário, o s toma sempre o lugar do z: Biscaia, e não Bizcaia.
5o) Distinção gráfica entre s final de palavra e x e z com idêntico
valor fônico:
57
a) Escrevem-se com s: adeus, adônis, aguarrás, aliás, aloés, am-
bos, ananás, anis, ânus, após, atrás, através, Avis, bílis, biogás, bônus,
Brás, bruços, Caifás, campos, caos, clitóris, convés, córpus, cós, cosmos,
cuscus, cútis, depois, detrás, Dinis, dois, Dóris, duzentos, escombros, fi-
nados, Garcês, gás, Gerês, grátis, gurupés, húmus, íctus, Inês, invés, íris,
Jesus, jus, lápis, Luís, mais, menos, Moisés, oásis, óculos, oitocentos,
ônibus, ônus, pélvis, país, pênis, português, práxis, púbis, pus, Queirós,
quis, réis, rés, retrós, revés, satanás, seis, seiscentos, setecentos, oitocen-
tos, sífilis, somenos, tênis, Tomás, tônus, trás, trezentos, Valdês, Vênus,
viés, vírus, zás;
b) Escrevem-se com x: apêndix, cálix, clímax, fax, Félix, Fênix,
flux, lux, ônix, pírex;
c) Escrevem-se com z: aboiz, acidez, agudez, albatroz, Albornoz,
alcatraz, alcatruz, altivez, andaluz, antraz, aprendiz, aridez, arroz, assaz,
audaz, avestruz, avidez, Beatriz, bissetriz, capataz, capaz, cariz, cartaz,
contumaz, dez, diz, doblez, eficaz, embriaguez, escassez, estupidez, falaz,
fez (substantivo e forma do verbo fazer), flacidez, fiz, Forjaz, frigidez,
fugaz, Galaaz, giz, incapaz, ineficaz, invalidez, jaez, languidez, liquidez,
loquaz, lucidez, maciez, matiz, mesquinhez, morbidez, mordaz, mudez,
nudez, palidez, paz, pequenez, perdiz, pertinaz, petiz, primaz, Queluz,
rapaz, rigidez, roaz, Romariz, sagaz, sequaz, solidez, surdez, talvez, te-
naz, tez, triz, [Arcos de] Valdevez, Vaz, veloz, veraz, verniz, vez, viuvez,
xadrez;
A propósito, é preciso observar que é inadmissível z final equiva-
lente a s em palavra não oxítona: Cádis, e não Cádiz.
6o) Distinção gráfica entre as letras interiores s, x e z, que repre-
sentam sibilantes sonoras:
a) Escrevem-se com s: abusão, abuso, aceso, Adalgisa, agasalho,
alisar (verbo), amásia, ambrosia (manjar), ambrósia (planta), amnésia,
analisar, Andresa, anestesia, apesar, apoteose, arrasar, arrevesar, arte-
são, asa, asilo, atrasar, aviso, Baltasar, basalto, Basileia, basílica, Beli-
sário, besouro, besugo, besuntar, bisão, bisar, bisonho, blasonar, blusa,
brasa, brasão, Brasil, Brasileia, brisa, [Marco de] Canaveses, canonisa,
58
casão, casimira, casulo, catequese (mas catequizar), coliseu, conciso,
coser (costurar), crase, defesa, despesa, duquesa, Éfeso, Elisa, empresa,
Ermesinde, Esposende, evasão, freguesia, frenesi ou frenesim, frisa, fri-
sar, grasa, groselha, guisa, guisado, guloseima, ileso, ilusão, improviso,
indez, isenção, jusante, lesão, lesar, liso, lousa, Lousã, Luso (nome de
lugar, homônimo de Luso, nome mitológico), malvasia, Matosinhos, Me-
neses, Narciso, Nisa, obséquio, obtuso, ousar, papisa, paralisar, parali-
sia, Pégaso, pêsame, pesquisa, portuguesa, presa, presépio, presunçoso,
raso, rasura, represa, represália, Resende, resíduo, resina, resumir, re-
tesar, sacerdotisa, Sesimbra, sinusite, siso, Sousa, subsistência, surpresa,
tisana, transe, trânsito, turquesa, vaso;
b) Escrevem-se com x:47
exabundância, exação, exacerbado, exa-
gero, exalar, exaltar, exame, exâmine, exangue, exarar, exarcado, exas-
perar, exato, exaurir, exausto, execrar, executar, exegese, exegeta,
exemplo, exéquias, exequível, exercer, exercício, exército, exibir, exigir,
exíguo, exílio, exímio, existir, êxito, êxodo, exonerar, exorbitar, exótico,
exuberante, exultar, exumar, inexato, inexorável;
c) Escrevem-se com z: abalizado, aduzir, agonizar, alazão, alfa-
zema, algazarra, alizar (guarnição de portas e janelas), alteza, amazona,
Amazonas, Andaluzia, apaziguar, aprazer, aprazível, Arcozelo, autori-
zar, azar, azedo, Azeredo, Azevedo, Azeviche, azia, aziago, ázimo, azi-
mute, azo, azorrague,azougue, azul, azulejo, Azurara, balázio, baliza,
batizar, bazar, bazófia, beleza, Belzebu, bezerro, Bizâncio, bizarro, buzi-
na, búzio, cafezal, canonizar, canzoada, catequizar (mas catequese), cer-
zir, comezinho, cozer (cozinhar), deslizar, deslize, desprezo, destreza, es-
fuziar, espezinhar, esvaziar, Ezequiel, fuzileiro, Galiza, gaze, gazeta, go-
zar, granizo, guizo, helenizar, lambuzar, lezíria, luzidio, luzir, macambú-
zio, matizar, mazorca, mazurca, Mouzinho, prazer, prazo, prezado, proe-
za, ratazana, razão, regozijo, reza, rizotônico, sazão, sazonado, sezão,
sozinho, trapézio, trazer, urze, vazar, Veneza, Vizela, vizir, Vouzela.
47 Ainda se deve considerar que o x pode ser pronunciado como /cs/: aploplexia. (Bechara, 2008b, 53)
59
BASE IV
DAS SEQUÊNCIAS CONSONÂNTICAS
1o) O c com valor de oclusiva velar, das sequências interiores48 cc
(segundo c com valor de sibilante), cç e ct, e o p das sequências conso-
nânticas interiores pc (c com valor de sibilante), pç e pt ora se conser-
vam, ora se eliminam.49
Assim:
a) Conservam-se nos casos em que são invariavelmente proferidos
nas pronúncias cultas da língua:50 compacto, convicção, convicto, ficção,
friccionar, pacto, pictural; adepto, apto, díptico, erupção, eucalipto,
inepto, núpcias, rapto.
b) Eliminam-se nos casos em que são invariavelmente mudos nas
pronúncias cultas da língua: ação, acionar, afetivo, aflição, aflito, ato,
coleção, coletivo, direção, diretor, exato, objeção; adoção, adotar, bati-
zar, Egito, ótimo.
c) Conservam-se ou se eliminam, facultativamente, quando se
proferem numa pronúncia culta, quer geral, quer restritamente, ou então
quando oscilam entre a prolação e o emudecimento51: aspecto e aspeto,
cacto e cato, caracteres e carateres, dicção e dição; facto e fato, sector e
48 Sequências consonânticas interiores são os conjuntos de duas ou mais consoantes juntas que não se encontram nem no início nem no final da palavra. (Azeredo, 2008, p. 29)
49 Neste caso, somente o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa decidirá quais serão as pa-lavras que não manterão o grupo com a oclusiva, porque ninguém poderá, individualmente, compro-var que determinada pronúncia é uniforme ou não em todo o domínio da língua portuguesa.
50 O Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa decidiu, provisoriamente, quais são as pronún-
cias consideradas cultas, visto que o Acordo só está em vigor no Brasil. Um vocabulário completo deverá ser editado quando os outros países da CPLP o implementarem.
51 Este é mais um dos casos que só serão resolvidos com o "vocabulário ortográfico comum da lín-
gua portuguesa" referido no artigo 2º do Acordo.
60
setor, ceptro e cetro, concepção e conceção, corrupto e corruto, recep-
ção e receção.
d) Quando, nas sequências interiores mpc, mpç e mpt for elimi-
nado o p de acordo com o determinado nos parágrafos precedentes, o m
passa a n, escrevendo-se, respectivamente, nc, nç e nt: assumpcionista e
assuncionista; assumpção e assunção; assumptível e assuntível; peremp-
tório e perentório, sumptuoso e suntuoso, sumptuosidade e suntuosidade.
2o) Conservam-se ou se eliminam, facultativamente, quando se
proferem numa pronúncia culta, quer geral, quer restritamente, ou então
quando oscilam entre serem pronunciadas ou não (entre a prolação e o
emudecimento): o b da sequência bd, em súbdito/súdito; o b da sequên-
cia bt, em subtil/sutil e seus derivados; o g da sequência gd, em amígda-
la/amídala, amigdalácea/amidalácea, amigdalar/amidalar, amigdala-
to/amidalato, amigdalite/amidalite, amigdalóide/amidaloide, amigdalo-
patia/amidalopatia, amigdalotomia/amidalotomia; o m da sequência
mn, em amnistia/anistia, amnistiar/anistiar, indemne/indene, indemni-
dade/indenidade, indemnizar/indenizar, omnímodo/onímodo, omnipoten-
te/onipotente, omnisciente/onisciente etc.; o t da sequência tm, em arit-
mética/arimética e aritmético/arimético.52
52 Neste caso, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa decidiu quais palavras não mantêm esses grupos consonantais. Somente o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa decidirá
para toda a lusofonia, conforme referido anteriormente.
61
BASE V
DAS VOGAIS ÁTONAS
1o) O emprego do e e do i, assim como do o e do u em sílaba áto-
na, regula-se fundamentalmente pela etimologia53 e por particularidades
da história das palavras. Assim se estabelecem variadíssimas grafias:
a) Escrevem-se com e: aborígene (também aborígine), aéreo,
afear (tornar feio), alardear, alínea, ameaça, amealhar, antecipar, ape-
ar, área (superfície), areeiro, arrear (pôr arreios), arrepiar, arrepio,
balnear, balneário, boreal, campeão, cardeal (prelado, ave, planta; dife-
rente de cardial = “relativo à cárdia”), cadeado, candeeiro, cárie, caxe-
mira, Ceará, cetáceo, côdea, coletânea, creolina, cumeada, cumeeira,
deferir (conceder), delação (denúncia), delinear, denegrir, desequilíbrio,
desfrutar, desfrute, despautério, despender, despensa (depósito, copa),
disenteria, eminência, empecilho, encarnado, engelhar, enseada, entea-
do, errôneo, escrevinhar, estrear, fêmea, Floreal, gêmeo, janeanes, leal,
leão, lêndea, Leodegário, Leonardo, Leonel, Leonor, Leopoldo, Leote,
linear, lumeeiro (de lume), meada, meão, melhor, mercearia, miscelâ-
nea, nomear, óleo, orfeão, ósseo, pâncreas, panteão, peanha, peão, Pi-
reneus, plúmbeo, quase (em vez de quási), quesito, real, rédea, róseo,
semear, semelhante, Simeão, teatino, Teodoro, térreo, umedecer, várzea;
b) Escrevem-se com i: adiante, adivinhar, adquirir, afiar (amo-
lar), Afrânio, aluvião, ameixial, Ameixieira, amial, amieiro, ária (certo
tipo de canção musical), arriar (abaixar), arrieiro, artifício, artilharia,
bastião, bílis, camoniano, capitânia, casimira, civismo, cordial (adjetivo
e substantivo), corrimão, corriola, crânio, criado, criar, crioulo, dentri-
fício, diante, difamação, diferir (diferenciar), digladiar, dilapidar, dimi-
nuir, Dinis, discorrer, dispensa (desobrigação), dispepsia, erisipela, es-
53 Etimologia é o estudo da origem e da evolução das palavras. (Confira Azeredo, 2008, p. 30)
62
cárnio, estiar (parar de chover), estropiar, fatiota, feminino, ferregial, fi-
ambre, Filinto, Filipe (e identicamente Filipa, Filipinas etc.), franquiar,
freixial, gavião, gerânio, giesta, idade, Idanha, igreja, igual, Ilídio, imi-
nência (instante), imiscuir-se, incumbência, inigualável, inquirir, invés,
itinerário, lampião, lenitivo, limiar, Lumiar, lumieiro, Mário, pátio, pião
(certo brinquedo), pilão, piolho, pior, pontiagudo, privilégio, réstia, se-
rôdio, Simeão, tiara, tigela, tijolo, verídico, verossimilhança, Vimieiro,
Vimioso, Virgílio, vizinho;
c) Escrevem-se com o: Aboim, abolição, abolir, Aloísio, alpendo-
rada, amontoar, Arcozelo, assoar, assolar, boato, borboleta, brochura,
bússola, caos, carvoeiro, coalhar, coaxar, cobiça, coentro, consoada (re-
feição à noite), consoar, costume, demolir, díscolo, doesto, embolar, êm-
bolo, engolir, epístola, esbaforir-se, esboroar, farândola, femoral, Frei-
xoeira, girândola, goela, Indostão (ou Hindustão), jocoso, joeira, má-
goa, medíocre, moeda, moela, moto (usada na expressão moto próprio),
névoa, nódoa, Noêmia, óbolo, Páscoa, Pascoal, Pascoela, polir, Rodolfo,
roído (do verbo roer), romeno, soalho, sorrateiro, sortir (prover), távoa,
tavoada, távola, toada, toalha, tômbola, torquês, torvelinho, tossir, tribo,
trovão, trovejar, veio (substantivo e forma do verbo vir);
d) Escrevem-se com u: acentuar, açular, água, alucinação, aluvi-
ão, anuviar, arcuense, assumir, automóvel, bruxulear, bugiganga, bulir,
buzina, camândulas, corrupio, crápula, cúpula, curtir, curtume, embutir,
entabular, entupir, escapulir, espórtula, estábulo, fêmur, fistula, frágua,
glândula, guapo, guloseima, íngua, ingurgitar, ínsua, insular (referente a
ilha), jucundo, légua, locupletar, Luanda, lucubração, lugar, mangual,
Manuel, míngua, mortuário, muleta, Nicarágua, peculato, pirueta, pon-
tual, pudor, puir, régua, regurgitar, ritual, Romualdo, Rômulo, rótulo,
Rufino, Samuel, samurai, sinusite, supetão, surtir (produzir), sutura, tá-
bua, tabuada, tabuleta, tintureiro, titubear, tonitruante, trégua, tremular,
turbilhão, turbulento, turíbulo, urdir, urticária, urtiga, usufruir, vesícula,
vestíbulo, virulento, vitualha, vocábulo, vulcão.
2o) Sendo muito variadas as condições etimológicas e histórico-
fonéticas em que se fixam graficamente e e i ou o e u em sílaba átona, é
evidente que só a consulta aos vocabulários ou dicionários pode indicar,
63
muitas vezes, se se deve empregar e ou i, se o ou u. Há, todavia, alguns
casos em que o uso dessas vogais pode ser facilmente sistematizado54.
Convém fixar os seguintes:
a) Escrevem-se com e, e não com i, antes da sílaba tônica, os
substantivos e adjetivos que procedem de substantivos terminados em eio
e eia, ou com eles estão em relação direta. Assim se regulam: aldeão, al-
deola, aldeota, por aldeia; areal, areeiro, areento, Areosa, por areia;
aveal, por aveia; baleal, por baleia; cadeado, por cadeia; candeeiro, por
candeia; centeeira e centeeiro, por centeio; colmeal e colmeeiro, por
colmeia; correada e correame, por correia.
b) Escrevem-se igualmente com e, antes de vogal ou ditongo da
sílaba tônica, os derivados de palavras que terminam em e acentuado (o
qual pode representar um antigo hiato: ea, ee): galeão, galeota, galeote,
de galé; coreano, de Coreia; daomeano, de Daomé; guineense, de Gui-
né; poleame e poleeiro, de polé.
c) Escrevem-se com i, e não com e, antes da sílaba tônica, os adje-
tivos e substantivos derivados em que entram os sufixos mistos de for-
mação vernácula iano e iense, os quais são o resultado da combinação
dos sufixos ano e ense com um i de origem analógica (baseado em pala-
vras nas quais ano e ense estão precedidos de i pertencente ao tema: [ho-
raciano (de Horácio), italiano (de Itália), duriense (de Douro), flaviense
(de Aquis Flaviis, atual cidade de Chaves etc.]: açoriano (de Açores),
acriano (de Acre), cabo-verdiano (de Cabo Verde), camoniamo (de Ca-
mões), dom-cavatiense (de Dom Cavate), freudiano (de Freud), georgia-
no (de George), goisiano (relativo a Damião de Góis), marciano (de
Marte), quebequiense (de Quebeque), saussuriano (de Saussure), sinien-
se (de Sines), sofocliano (de Sófocles), torriano, torriense [de Torre(s)],
zairiense (de Zaire)55.
54 Essa dificuldade resulta, em geral, do desconhecimento da origem de certas palavras. Algumas vezes, uma grafia se fixou com base em uma pseudoetimologia, sendo substituída mais tarde, mas
permanecendo como segunda e até como terceira variante gráfica.
55 Aqui está uma alteração no sistema ortográfico anterior, em que o uso se impôs à norma, pois es-tas palavras eram (ou deveriam ser) escritas com e: açoreano, acreano, amoneano, saussureano,
sineense, sofocleano, torreano, torreense.
64
d) Uniformizam-se com as terminações io e ia (átonas), em vez de
eo e ea, os substantivos que constituem variações, obtidas por ampliação,
de outros substantivos terminados em vogal: cúmio (popular), de cume;
hástia, de haste; réstia, do antigo reste; véstia, de veste.
e) Os verbos em ear podem se distinguir praticamente, em grande
número de vezes, dos verbos em iar, quer pela formação, quer pela con-
jugação e formação ao mesmo tempo. Estão no primeiro caso todos os
verbos que se prendem a substantivos em eio ou eia (sejam formados em
português ou venham já do latim). Assim se regulam: aldear, por aldeia;
alhear, por alheio; cear por ceia; encadear por cadeia; pear, por peia
etc. Estão no segundo caso todos os verbos que têm normalmente flexões
rizotônicas56 em eio, eias, eia etc.: clarear (clareio, clareias, clareia),
delinear (delineio, delineias, delineia), devanear (devaneio, devaneias,
devaneia), falsear (falseio, falseias, falseia), granjear (granjeio, gran-
jeias, granjeia), guerrear (guerreio, guerreias, guerreia), hastear (has-
teio, hasteias, hasteia), nomear (nomeio, nomeias, nomeia), semear (se-
meio, semeias, semeia) etc. Existem, no entanto, verbos em iar57, ligados
a substantivos com as terminações átonas ia ou io, que admitem variantes
na conjugação: negoceio ou negocio (conferir negócio); premeio ou pre-
mio (conferir prêmio) etc.58
f) Não é lícito o emprego do u final átono em palavras de origem
latina. Escrevem-se, por isso: moto, em vez de mótu (por exemplo, na
expressão de moto próprio); tribo, em vez de tribu.
g) Os verbos em oar se distinguem praticamente dos verbos em
uar pela sua conjugação nas formas rizotônicas, que têm sempre o na sí-
laba acentuada: abençoar com o, como abençoo, abençoas etc.; destoar,
com o, como destoo, destoas etc.; mas acentuar, com u, como acentuo,
acentuas etc.
56 Flexão rizotônica é a forma verbal em que a sílaba tônica está no radical. (Confira Azeredo, 2008, p. 30)
57 Bechara (2008a, p. 80) ensina que, embora alguns verbos como licenciar, negociar, premiar e sen-
tenciar sejam abundantes em algumas formas dialetais nas formas rizotônicas, para a norma culta brasileira deverão seguir o padrão de adiar.
58 No Brasil, é prestigiada a grafia com i, enquanto, em Portugal, há oscilação entre as duas.
65
BASE VI
DAS VOGAIS NASAIS
Na representação das vogais nasais devem ser observados os se-
guintes preceitos:
1o) Quando uma vogal nasal ocorre em fim de palavra, ou em fim
de elemento seguido de hífen, representa-se a nasalidade pelo til, se essa
vogal é de timbre a. Exemplos: afã, afegã, alemã, avelã, castelã, clã, cu-
rimã, fã, galã, grã, Grã-Bretanha, hortelã, ímã, irmã, islã, lã, maçã, ma-
racanã, ogã, órfã, pecã, picumã, romã, quartã, sã-braseiro (forma diale-
tal; o mesmo que sã-brasense = de S. Brás de Alportel, ou feminino de
são-brasense), talismã, tecelã, terçã, tobogã.
A representação pelo m ocorre quando a nasalidade possui qual-
quer outro timbre e termina a palavra. Exemplos: abordagem, aceragem,
acordeom, aipim, álbum, alecrim, alevim, algum, amarugem, amendoim,
amorim, amperagem, ancoragem, anexim, angelim, anum, aparelhagem,
assim, babugem, bandolim, benjamim, barragem, bebum, bem, boletim,
bom, cabotagem, Caim, camorim, capim, cauim, cem, clarim, com, con-
fim, contagem, coragem, cupim, cupom, curumim, desordem, em, espe-
dachim, fim, fuligem, gerzelim, hem, homem, idem, item, jardim, jovem,
latim, lobisomem, mandarim, manequim, marfim, morim, modem, nem,
nuvem, ontem, ordem, outrem, pajem, pentem, pinguim, pudim, polem,
quem, réquiem, rim, ruim, sem, serafim, sim, também, tom, totem, trem,
tuim, vacum, vem, xaxim, zepelim.
Já a representação por n se dá quando a nasalidade é de timbre di-
verso de a e está seguida de s. Exemplos: flautins, homens, jardins, or-
dens, parabéns, semitons, vinténs, zunzuns.
2o) Os vocábulos terminados em ã transmitem esta representação
do a nasal aos advérbios em mente que deles se formem, assim como a
66
derivados em que entrem sufixos iniciados por z: cristãmente, irmãmen-
te, sãmente; lãzudo, maçãzita, manhãzinha, romãzeira.
67
BASE VII
DOS DITONGOS
1o) Os ditongos orais, que tanto podem ser tônicos como átonos,
distribuem-se por dois grupos gráficos principais, conforme o segundo
elemento do ditongo é representado por i ou u: ai, ei, éi, ói, oi, ui; au, eu,
éu, iu, ou:
a) Ditongos representados com a semivogal i: (ai, ei, éi, oi, ói,
ui): adonai, baixo, braçais, caixote, gaita, haicai, pai, papai, samurai,
uai, uaiuai, confrei, deveis, eirado, frei, grei, jóquei, lei, leito, meiri-
nho,nissei, pônei, sarnei, rei, sei, vôlei, farnéis (mas farneizinhos),
alambéis, alvanéis, alugéis, anadeis, anéis, aranzéis, baixéis, batéis, be-
déis, bordéis, broquéis, buréis, donzéis, fiéis, granéis, lauréis, motéis,
novéis, painéis, papéis, quartéis, rapéis, réis, rondéis, sarapatéis, tonéis,
vergéis, xairéis, boi, foi, goivar, goivo, dodói, góis, herói, anzóis, lençóis
(mas lençoizinhos), acuicui, hui!, míxui, Rui, tafuis, ui!, uivar;
b) Ditongos representados com a semivogal u: (au, eu, éu, iu,
ou): alacrau, ararau, babau, bacalhau, bacurau, berimbau, cacau, ca-
caueiro, cambau, capiau, catatau, curaçau, curau, jirau, lacrau, lalau,
luau, Macau, manau, marau, mau, miau, mingau, nau, pau, pica-pau,
uau!, tchau!, urutau, abreu, amorreu, apogeu, ateu, breu, caldeu, deu,
endeusar, eu, europeu, galileu, hebreu, jubileu, judeu, liceu, meu, museu,
plebeu, pneu, sandeu, seu, Tadeu, teu, alvanéu (variante de alvanel), céu,
déu, escarcéu, ilhéu (mas ilheuzito), labéu, léu, mastaréu, mundéu, pi-
néu, pitéu, pixéu, povaréu, poviléu, réu, solidéu,tabaréu, troféu, véu, xa-
réu, xeréu, abiu, dábliu, floriu, mediu, pipiu, psiu, tiziu (variante de ti-
zio), xibiu (variante de xibio), xiu!, chou, grou, lupacou, ou, passou, re-
gougar.
68
Obs.: Admitem-se, todavia, excepcionalmente, à parte destes dois gru-
pos, os ditongos grafados ae (= âi ou ai) e ao (âu ou au): o primeiro, re-
presentado nos antropônimos Caetano e Caetana, assim como nos res-
pectivos derivados e compostos (caetaninha, são-caetano etc.); o segun-
do, representado nas combinações da preposição a com as formas mascu-
linas do artigo ou pronome demonstrativo o, ou seja, ao e aos.
2o) Cumpre fixar, a propósito dos ditongos orais, os seguintes pre-
ceitos particulares:
a) É o ditongo grafado ui, e não a sequência vocálica grafada ue,
que se emprega nas formas de 2a e 3a pessoas do singular do presente do
indicativo e igualmente na 2a pessoa do singular do imperativo dos ver-
bos em uir: constituis, influi, retribui. Harmonizam-se, portanto, essas
formas com todos os casos de ditongo grafado ui de sílaba final ou fim
de palavra (azuis, fui, Guardafui, Rui etc.); e ficam assim em paralelo
gráfico-fonético com as formas de 2a e 3a pessoas do singular do presente
do indicativo e de 2a pessoa do singular do imperativo dos verbos em air
e em oer: atrais (de atrair), cai (de cair), sai (de sair), móis (de moer),
remói (de remoer), sói (de soer);
b) É o ditongo grafado ui que representa sempre, em palavras de
origem latina, a união de um u a um i átono seguinte. Não divergem, por-
tanto, formas como fluido de formas como gratuito. Isso não impede que
nos derivados de formas daquele tipo as vogais grafadas u e i se separem:
fluídico, fluidez (u-i).
c) Além dos ditongos orais propriamente ditos, os quais são todos
decrescentes, admite-se, como é sabido, a existência de ditongos crescen-
tes.59 Podem considerar-se no número deles as sequências vocálicas pós-
tônicas60, como as representadas graficamente por ea, eo, ia, ie, io, oa,
59 Na verdade, o chamado ditongo crescente é uma variante fonética (ou alofone) do hiato em encon-tros vocálicos instáveis. Tanto que quando isto ocorre no final de palavra, cria-se o chamado propa-
roxítono aparente ou eventual.
60 Observe-se que as palavras pré-tônico, pós-tônico e suas flexões ainda podem ser escritas tam-bém sem a hifenização (pretônico, postônico etc.), visto que não se distinguem foneticamente em al-gumas regiões, inclusive no Brasil, sendo assegurada a dupla grafia pela 5ª edição do VOLP (Cf.
Academia, 2009, s.v.).
69
ua, ue, uo: acácia, Adélia, acédio, áurea, aéreo, alféloa, alvéloa, amên-
doa, abútua, água, ambígua, ânuo, árduo, balbúrdia, barbárie, biênio,
begoniácea, balneáreo, bilíngue, Califórnia, calúnia, calvície, cárie, cál-
cio, côdea, calcáreo, córnea, côngrua, côngruo, contíguo, contínua, con-
tínuo, Dácia, desmaio, desperdício, drágea, Emília, efígie, éreo, égua,
espádua, espécie, esteio, estátua, enxágue, exíguo, fátuo, Felícia, feio,
férrea, frágua, gávea, gênio, glúteo, hemácia, hélio, herbóreo, ígnea,
imbuia, insígnia, imundície, íngua, indivíduo, iníquo, ingênuo, jíbóia, kí-
rie, lábio, língua, maio, láctea, longínquo, máfia, mágoa, mélroa, mêns-
truo, míngua, mútuo, náusea, notícia, núncio, ócio, óleo, orquídea, oblí-
quo, paródia, paróquia, páscoa, póvoa, perpétuo, planície, progênie,
precário, profícuo, promíscuo, querência, quéchua, régia, régio, rósea,
régua, saia, sósia, série, sério, superfície, tábua, tramoia, tempérie, tê-
nue, trapézio, trégua, tríduo, trilíngue, úmbria, universitário, vaia, vo-
luntário, várzea, zagaia, zircônio.
3o) Os ditongos nasais, que na sua maioria tanto podem ser tôni-
cos como átonos, pertencem graficamente a dois tipos fundamentais: di-
tongos representados por vogal com til e semivogal61; ditongos represen-
tados por uma vogal seguida da consoante nasal m62. Eis a indicação de
uns e outros:
a) Os ditongos representados por vogal com til e semivogal são
quatro, considerando-se apenas a língua padrão contemporânea:
i) ãe (usado em vocábulos oxítonos e derivados): alemães, basti-
ães, cães, Guimarães, mãe, Magalhães, mãezinha, pães;
61 Semivogal é o i ou o u que vem depois de uma vogal na mesma sílaba, formando o ditongo. Quando ocorre o chamado “ditongo crescente”, esse elemento vocálico que antecede a vogal base
da sílaba nesse encontro vocálico instável costuma ser denominado semiconsoante, visto que a se-mivogal nunca pode ser a base da sílaba.
62 As letras m e n que seguem as vogais na mesma sílaba (bambu, andam, em, vendem, jovens, pa-
rabéns) não são consoantes, mas meras marcas de nasalidade. São consoantes apenas quando ini-ciam as sílabas seguintes (bacana, Ibama, seremos, sereno, rama, rema, rima, Roma, ruma, sana,
sena, sina, sono, suna), e, nestes casos, a nasalização só ocorre regularmente nas vogais tônicas. Vogais átonas seguidas de sílabas iniciadas com as consoantes m ou n se nasalizam apenas em al-
gumas pronúncias regionais.
70
ii) ãi (usado em vocábulos anoxítonos e derivados): cãibas, cãi-
beiro, cãibra (ou câimbra), zãibo;
iii) ão: abdicação, ablução, bênçãos, brão, canção, mão, demoli-
ção, então, fanfarrão, garanhão, homenzarrãos, ignição, junção, ladrão,
mãozinha, não, opção, padrão, refrão, quão, redenção, sótão, sotãozi-
nho, tão, união, vão, xingação, zângão, zarcão;
iv) õe: abdicações, abluções, bobões, Camões, fogões, gabões,
gibões, guarnições, indicações, junções, locuções, mutirões, noções,
orações, oraçõezinhas, põe, repões, rincões, sabões, trovões, vulcões.
Ao lado de tais ditongos pode, por exemplo, ser colocado o diton-
go ũi; mas este, embora se exemplifique numa forma popular como rũi =
ruim, é representado sem o til nas formas muito e mui, por obediência à
tradição.
b) Os ditongos representados por uma vogal seguida da consoante
nasal m são dois: am e em. Divergem, porém, nos seus empregos:
i) am (sempre átono) só é empregado em flexões verbais:63 amam,
amavam, amaram, amariam, deviam, deveram, deveriam, devam, escre-
viam, escreveram, escreveriam, escrevam, punham, puseram, poriam,
ponham;
ii) em (tônico ou átono) é empregado em palavras de categorias
morfológicas diversas, incluindo flexões verbais, e pode apresentar vari-
antes gráficas determinadas pela posição, pela acentuação ou, simultane-
amente, pela posição e pela acentuação:64 bem, Bembom, Bemposta, cem,
devem, fazem, nem, quem, sem, tem, virgem, Bencanta, Benfeito, Benfica,
benquisto, bens, enfim, enquanto, homenzarrão, homenzinho, nuvenzi-
63 Com isto, desaprova-se a variante Estevam do antropônimo Estêvão.
64 O didongo /~e y/ pode ser escrito com en, quando seguido de consoante não-bilabial (encarco, en-direitar, enfado, engolir, enjoar, enlatar, enquadrar, enroscar, ensino, entulho, enviuvar, enxaguar,
enzinabrado, bens), com én ou ên, quando tônico em última ou antepenúltima sílaba de palavras não monossilábicas, cuja acentuação gráfica se justificar por qualquer uma das regras específicas,
quando seguidas das referidas consoantes não-bilabiais (parabéns, sequência, pênsil etc.), ou ainda com ém ou êm, nas situações em que a acentuação gráfica for recomendada (além, convém, vêm, convêm).
71
nha, tens, virgens, amém (variação de ámen), armazém, convém, man-
tém, ninguém, porém, Santarém, também, convêm, mantêm, têm (plural),
armazéns, desdéns, convéns, reténs, belenzada (tentativa de golpe de Es-
tado em Portugal), vintenzinho.
72
BASE VIII
DA ACENTUAÇÃO GRÁFICA
DAS PALAVRAS OXÍTONAS
1o) Acentuam-se com acento agudo:
a) As palavras oxítonas65 terminadas nas vogais abertas grafadas
a, e ou o, seguidas ou não de s:
á(s): abadá, acolá, agá, aiatolá, Alá, amará, amarás, babá, bafafá, cá,
cajá, Canadá, Corumbá, está, estás, felá, fubá, gambá, ganzá, guaraná,
indaiá, já, jabá, jacá, Jacundá, jatubá, Jeová, jequitibá, jiquitibá, Jucá,
manacá, madarová, mangangá, Marabá, maracujá, marajá, marandová,
maricá, Maringá, olá, Pirajá, sabiá, saravá, sofá, ubá;
é(s): abaeté, abaré, acarajé, aguapé, aimoré, André, apinajé, até, Bar-
nabé, bidé, bofé, boné, boré, caburé, café, cafuné, canapé, caribé, chalé,
chaminé, chulé, coiné, coité, é, és, fé, filé, galé, Guiné, imbé, Itambé, Ita-
raré, jacaré, José, lelé, mané, maré, olé, pé, picolé, pajé, pangaré, pon-
tapé(s), ralé, rapé, ré, rodapé, rolé, sacolé, sé, sopé, Sumé, Tomé, tripé;
ó(s): abricó, após, avó, bisavó, bocó, caiapó, carijó, carimbó, caritó, ca-
timbó, chororó, cipó, cotó, curió, dó, dominós, enxó, esquimó, Feijó, filó,
fiofó, forró, gogó, goró, igapó, Itororó, Jericó, jiló, Marajó, mó, mocotó,
nó, nós, paletó, pataxó, pó, pró, rococó, rondó, Seridó, só, socó, Tapajós,
timbó, toró, totó, trenó, tripó, trololó, vós, xodó.
Obs.: Em algumas palavras oxítonas terminadas em e tônico, geralmente
provenientes do francês, esta vogal, por ser articulada nas pronúncias cul-
65 Observe que o termo oxítonas se refere a palavras com a última sílaba mais forte, independente-mente do número de sílabas.
Na língua portuguesa, o acento gráfico marca a vogal que recebe destaque fora da posição foneti-
camente natural ou indica outro fato gramatical.
73
tas ora como aberta ora como fechada, admite tanto o acento agudo como
o circunflexo: bebé ou bebê, bidé ou bidê, canapé ou canapê, caraté ou
caratê, croché ou crochê, guiché ou guichê, matiné ou matinê, nené ou
nenê, ponjé ou ponjê, puré ou purê, rapé ou rapê, cocó ou cocô, ró ou rô
(nome da letra grega).
São igualmente admitidas formas como judô, a par de judo, e me-
trô, a par de metro.
b) As formas verbais oxítonas, quando conjugadas com os pro-
nomes clíticos lo(s) ou la(s), passam a terminar na vogal aberta grafada
a, após a assimilação e perda das consoantes finais grafadas r, s ou z:
adorá-lo(s) [de adorar-lo(s)], dá-la(s) [de dar-la(s) ou dá(s)- -la(s) ou
dá(s)-la(s)], fá-lo(s) [de faz-lo(s)], fá-lo(s)-às [de far-lo(s)-ás], habitá-
la(s)-iam [de habitar-la(s)-iam], trá-la(s)-á [de trar-la(s)-á].
c) As palavras oxítonas com mais de uma sílaba terminadas no di-
tongo nasal grafado em (exceto as formas da 3a pessoa do plural do pre-
sente do indicativo dos compostos de ter e vir: advêm, provêm, retêm,
sutêm etc.) ou ens:
em: acém, advém, além, algorrém, alguém, amém, aquém, armazém, Be-
lém, detém, entretém, harém, mantém, moquém, neném, porém, provém,
recém, refém, retém, Santarém, sustém, também, vaivém, vintém, Xerém.
ens: advéns, deténs, entreténs, haréns, manténs, moquéns, nenéns, pro-
véns, parabéns, reféns, reténs, susténs, vinténs.
d) As palavras oxítonas com os ditongos abertos grafados éi, éu
ou ói, podendo estes dois últimos ser seguidos ou não de s:
éis: alambéis, alvanéis, alugéis, anadéis, anéis, aranzéis, baixéis, batéis,
bedéis, bordéis, broquéis, buréis, donzéis, farnéis (mas farneizinhos), fi-
éis, granéis, lauréis, motéis, novéis, painéis, papéis, quartéis, rapéis,
réis, rondéis, sarapatéis, tonéis, vergéis, xairéis.
éu(s): céu(s), chapéu(s), déu, escarcéu(s), ilhéu(s), (mas ilheuzito), la-
béu(s), léu(s), mastaréu(s), mundéu(s), pinéu(s), pitéu(s), pixéu(s), pova-
réu(s), poviléu(s), réu(s), solidéu, tabaréu(s), troféu(s), véu(s), xaréu(s),
xeréu(s).
74
ói(s): aerosóis, anzóis, arrebóis, atóis, bemóis, caracóis, caubói(s), ce-
róis, condói(s), corrói(s), crisóis, dói(s), dodói(s), espanhóis, faróis, gi-
rassóis, góis, herói(s), lencóis (mas lençoizinhos), mói(s), mongóis,
paióis, paróis, reinóis, remói(s), resmói(s), rói(s), rouxinóis, sói(s), ta-
róis, tersóis, urinóis.
2o) Acentuam-se com acento circunflexo:
a) As palavras oxítonas terminadas nas vogais fechadas que se
grafam e ou o, seguidas ou não de s:
ê(s): albanês, aragonês, bambolê, bebê, bengalês, berlinês, bufê, cadê,
camponês, chinês, cortês, dê, dendê, dês (de dar), dublê, escocês, etiopês,
francês, fumê, gaulês, genovês, glacê, glicê, godê, Henê, holandês, in-
glês, irlandês, Japonês, lê, lês (de ler), libanês, matinê, mercê, mês, mi-
randês, montês, nenê, norueguês, pincinê, polonês, português, quedê,
rês, sapê, siamês, três, vergê, você(s).
ô(s): agogô(s), avô(s), bandô(s), bisavô(s), bololô(s), camelô(s), cocô(s),
compôs, epô(s), flozô(s), gigolô(s), judô, metrô(s), nagô(s), pierrô(s), pi-
vô(s), platô(s), popô(s), pornô(s), pôs, robô(s), sô, sumô, tarô, tatara-
vô(s), tetravô(s), tricô(s), trisavô(s), vô, Xangô, xô!
b) As formas verbais oxítonas, quando conjugadas com os pro-
nomes clíticos lo(s) ou la(s), passam a terminar nas vogais tônicas fecha-
das que se grafam e ou o, após a assimilação e perda das consoantes fi-
nais grafadas r, s ou z: adorá-lo(s) [de adorar-lo(s)], compô-la(s) [de
compor-la(s)], dá-la(s) [de dar-la(s) ou dás-la(s)], detê-lo(s) [de deter-
lo-(s)], fá-lo(s)-ás [de far-lo(s)-ás], fazê-la(s) [de fazer-la(s)], fê-lo(s) [de
fez-lo(s)], habitá-la(s)-iam [de habitar-la(s)-iam], pô-la(s) [de por-la(s)
ou pôs-la(s)], qué-lo(s) [de quer-lo(s)], repô-la(s) [de repor-la(s)], requé-
lo(s) [de requer-lo(s)], trá-la(s)-á [de trar-la(s)-á], vê-la(s) [de ver-la(s)].
3o) É desnecessário acento gráfico para distinguir palavras oxíto-
nas homógrafas66, mas heterofônicas, do tipo de cor (ô), substantivo, e cor
66 Palavras homógrafas são aquelas que têm a mesma grafia, mas com significados distintos. Exemplos: cedo (advérbio) e cedo (verbo), selo (substantivo) e selo (verbo). (Confira Azeredo, 2008,
p. 38)
75
(ó), elemento da locução de cor; colher (ê), verbo, e colher (é), substantivo.
Excetua-se a forma verbal pôr, para distingui-la da preposição por.
76
BASE IX
DA ACENTUAÇÃO GRÁFICA DAS
PALAVRAS PAROXÍTONAS
1o) As palavras paroxítonas em geral não são acentuadas grafica-
mente:67 abençoo, angolano, avanço, brasileiro, descobrimento, enjoo,
floresta, graficamente, grave, homem, mesa, moçambicano, Tejo, vejo,
velho, voo.
2o) Recebem, no entanto, acento agudo:
a) As palavras paroxítonas que apresentam, na sílaba tônica, as
vogais abertas grafadas a, e, o e ainda i ou u e que terminam em l, n, r, x
e ps, assim como, salvo raras exceções, as respectivas formas do plural,
algumas das quais passam a proparoxítonas:
em l: amável (plural amáveis e mais de duas mil palavras terminadas
com o sufixo vel), Aníbal, arátel, cúmel, dócil (plural dóceis), dúctil (plu-
ral dúcteis), fóssil (plural fósseis), fúsel, guímel, níquel, réptil (plural rép-
teis; variante reptil, plural reptis), rímel, túnel;
em n:68 acúmen, ágmen, albúmen, alúmen, antífen, áscon, bárion, bóton,
cânon, Clínton, cáften, cármen (plural cármenes ou carmens; variante
carme, plural carmes), códon, cólon, crúmen, cerúmen, clicâmen, cúl-
men, dólman, dólmen (plural dólmenes ou dolmens), écran, éden (plural
édenes ou edens), élan, elétron, éon, fóton, fúlmen, gérmen, glúten,
67 A sílaba em destaque de uma palavra não monossilábica é, naturalmente, a penúltima, por isto dispensa a acentuação gráfica quando termina em a, as, e, es, o, os, em ou ens. Se a palavra ter-
minar diferentemente, o acento natural vai para a última sílaba. Exemplos: PAROXÍTONAS: rosa, cla-ras, dente, potes, ovo, novos, jovem, hifens; OXÍTONAS: papel, amar, telefax, telex, xerox, rapaz,
manhã, alemãs, mamão, cristãos, dispõe, limões, mamães, caqui, guaranis, nambu, obus, papai, si-nais, mingau, calhaus, troquei, dezesseis, europeu, fariseus, fugiu, pipius, depois, conclui, contribuis.
68 As paroxítonas terminadas em ens também dispensam a acentuação gráfica.
77
háden, hélicon, hífen, hímen, ílion, íon, lépton, léxicon, líquen (plural lí-
quenes), lúmen (plural lúmenes ou lúmens), mácron, nécton, néon, nêu-
tron, pécten, plúton, próton, quíton, rádon (variante rádom), sícon, tég-
men, trípton, xénon;
em r: abástor, açúcar (plural açúcares), aligátor, almíscar (plural almís-
cares), cadáver (plural cadáveres), caráter ou carácter (mas plural cara-
teres ou caracteres), ímpar (plural ímpares);
em x: ábax, ádax, Ájax, alvitórax, anticlímax, ápex, bólax, bórax, cálix,
cérvix, clímax, cóccix, códex, córdax, córtex (plural córtex; variante cór-
tice, plural córtices), dúplex, fênix, fórnix, hápax, hálux, hélix, hírax, ín-
dex (plural índex; variante índice, plural índices), látex, pírex, pólex, sí-
lex, tórax (plural tórax ou tóraxes; variante torace, plural toraces), xérox
(variante de xerox);
em ps: bíceps (plural bíceps; variante bicípite, plural bicípites), brótops,
demonórops, fórceps (plural fórceps; variante fórcipe, plural fórcipes),
girínops, multíceps, tríceps.
Obs.: Muito poucas palavras deste tipo, com a vogais tônicas grafadas
e e o em fim de sílaba, seguidas das consoantes nasais grafadas m e n,
apresentam oscilação de timbre nas pronúncias cultas da língua e, por
conseguinte, também de acento gráfico (agudo ou circunflexo): sémen
(Portugal) e sêmen (Brasil); xénon (Portugal) e xênon (Brasil); fêmur
(Brasil) e fémur (Portugal); vómer (Portugal) e vômer (Brasil); Fénix
(Portugal) e Fênix (Brasil); ónix (Portugal) e ônix (Brasil).69
b) As palavras paroxítonas que apresentam, na sílaba tônica, as
vogais abertas grafadas a, e, o e ainda i ou u e que terminam em ã(s),
ão(s), ei(s), i(s), um, uns ou us:
em ã(s): ímã(s), órfã (órfãs);
69 Veja outras palavras que, no português do Brasil, têm acento circunflexo nas vogais a, e e o, em-bora a maioria tenha acento agudo em Protugal: abdômen, âmen, ânion, cânon, brâman, certâmen,
durâmen, forâmen, iâdon (variante de iândom), ligâmen, santiâmen, tentâmen, velâmen, alcândor, apêndix, bômbix, ônix, salônis, talâmi, tênis, ubândgis, muômium, ânus, bônus, clônus, ônus, tônus, Vênus, bênção, Estêvão.
78
em ão(s): acórdão (acórdãos), Cristóvão, órgão (órgãos), sótão (só-
tãos), órfão(s).
em ei(s): amáreis (de amar), amáveis (idem), amáveis (plural de amá-
vel), cantaríeis (de cantar), fáceis (plural de fácil), fizéreis (de fazer), fi-
zésseis (idem), fósseis (plural de fóssil), hóquei, Jérsei, jóquei (jóqueis),
terríveis (plural de terrível), video;
em i(s): báli, beribéri, bílis (singular e plural), biquíni, cádi, áli, católi,
cóli, corônis, cúli, cúmbi, dovórni, fúndji, háji, híndi, índi, infúngi, jin-
vúngi, íris (singular e plural), júri, lápis, mádi, mídi, oásis (singular e
plural), óvni, páli, sífilis, tambafóli, táxi, taxifáli, uádi, uáli, uédi, vádi,
váli;
em um(uns): álbum (álbuns), árum, cádmium, cécum, factótum, fórum
(fóruns), lábrum, médium (médiuns), nátrium, óstium, parabélum, télum,
vélum, xógum;
em us: abápus, ábus, ábsus, aeróbus, bárbus, cáctus, cárus, cítrus, cró-
cus, fálus, fícus, húmus (singular e plural), ítus, lócus, lótus, lúpus,
málus, múnus, pínus, rébus, ríctus, sínus, tálus, trágus, úncus, vírus (sin-
gular e plural).
Obs. 1: Muito poucas paroxítonas deste tipo, com as vogais tônicas gra-
fadas e e o em fim de sílaba, seguidas das consoantes nasais grafadas m e
n, apresentam oscilação de timbre nas pronúncias cultas da língua, o que é
assinalado com acento agudo, se aberto, ou circunflexo, se fechado: bónus
(Portugal) ou bônus (Brasil), fémur (Portugal) ou fêmur (Brasil), Fénix
(Portugal) ou Fênix (Brasil), pónei (Portugal) ou pônei (Brasil), gónis
(Portugal) ou gônis (Brasil), ónix (Portugal) ou ônix (Brasil), pénis (Por-
tugal) ou pênis (Brasil), ténis (Portugal) ou tênis (Brasil), ónus (Portugal)
ou ônus (Brasil), sémen (Portugal) ou sêmen (Brasil), xénon (Portugal) ou
xênon (Brasil), tónus (Portugal) ou tônus (Brasil), Vénus (Portugal) ou
Vênus (Brasil) etc.
Obs. 2: Não levam acento agudo os prefixos paroxítonos terminados em
–r: inter-helênico, super-homem etc.
79
3o) Não se acentuam graficamente os ditongos representados
por ei e oi da sílaba tônica das palavras paroxítonas,70 dado que existe
oscilação em muitos casos entre o fechamento e a abertura na sua ar-
ticulação71: aboio, acaroide, adenoide, albuminoide, alcaloide, an-
droide, algoide, anciloide, antropoide, apoio (do verbo apoiar), as-
sembleia, Azoia, azuloia, azuloio, benzoica, boia, boina, boleia, can-
croide, celuloide, claraboia, clinoide, comboio (subst.), tal como
comboio, comboias etc. (do verbo comboiar), coio, coreico, coronoi-
de, dentroide, dermatoide, discoide, elipsoide, elitroide, epopeico,
eritroide, estoico, estroina, filoide dipnoica, fitoide, Frois, glenoide,
glossoide, Gois, helicoide, hematoide, heroica, heroico, ideia, introi-
to, jiboia, joia, lipoide, litoide, lambisgoia, langoia, loia, loio, mas-
toide, metaloide, moina, negroide, nematoide, omoide, onomatopeico,
paranoia, paranoico, petaloide, pinacoide, pinoia, pitecoide, prisma-
toide, prismoide, proteico, romboide, Saboia, tipoia, tramoia, trocoi-
de, Troia, xiloide, xooide, tal como já se escreve aldeia, apoio
(subst.), baleia, cadeia, cheia, meia etc.
4o) É facultativo assinalar com acento agudo as formas verbais de
pretérito perfeito do indicativo, do tipo amámos, louvámos, para distin-
gui-las das correspondentes formas do presente do indicativo (amamos,
louvamos), já que o timbre da vogal tônica é aberto naquele caso em cer-
tas variantes do português.72
5o) Recebem acento circunflexo:
70 Naturalmente não se dispensará o acento gráfico nesses ditongos quando se enquadrarem em ou-tras regras de acentuação gráfica, como ocorre nos ditongos terminados na consoante r: blêizer,
contêiner, destróier, gêiser, Méier etc. (Confira Bechara, 2008, p. 72). Semelhantemente, também se escreve com acento a variante gráfica éo, em palavras como alvéola, aréola, auréola, rubéola, ur-
céola etc.
71 Assim como em outros casos, a omissão deste acento gráfico resultou do acordo para se conse-guir maior aproximação da grafia da língua portuguesa nos oito países da CPLP, optando-se pela
forma portuguesa.
72 Como no português falado no Brasil o timbre da vogal tônica das formas verbais referidas são sempre fechadas, não se usará nunca este acento diferencial. Isto se explica pelo fato de que, em nosso País, a consoante nasal nasaliza a vogal tônica que a antecede, provocando o seu fechamen-
to, diferentemente do que ocorre em Portugal, em que não há esta nasalização.
80
a) As palavras paroxítonas que contêm, na sílaba tônica, as
vogais fechadas com a grafia a, e, o e que terminam em l, n, r, ou x,
assim como as respectivas formas do plural, algumas das quais se
tornam proparoxítonas: cônsul (plural cônsules), pênsil (plural pên-
seis), têxtil (plural têxteis), cânon, variante cânone (plural cânones),
plâncton (plural plânctons), Almodôvar, aljôfar (plural aljôfares),
âmbar (plural âmbares), Câncer, Tânger, bômbax (singular e plu-
ral), bômbix, variante bômbice (plural bômbices).
b) As palavras paroxítonas que contêm, na sílaba tônica, as vogais
fechadas com a grafia a, e, o e que terminam em ão(s), eis, i(s) ou us: bên-
ção(s), côvão(s), Estêvão, zângão(s), devêreis (de dever), escrevêsseis (de
escrever), fôreis (de ser e ir), fôsseis (idem), pênseis (plural de pênsil), têx-
teis (plural de têxtil), dândi(s), Mênfis, ânus.
c) As formas verbais têm e vêm, 3as pessoas do plural do presente
do indicativo de ter e vir, que são [na pronúncia de Portugal] fonetica-
mente paroxítonas (respectivamente /te~e~j/, /ve~e~j/ ou ainda /te~je~j/, /ve~je~j/.
Confira as antigas grafias substituídas, têem, vêem, a fim de se distingui-
rem de tem e vem, 3as pessoas do singular do presente do indicativo ou 2as
pessoas do singular do imperativo; e também as correspondentes formas
compostas, tais como: abstêm (conferir abstém), advêm (conferir advém),
contêm (conferir contém), convêm (conferir convém), desconvêm (conferir
desconvém), detêm (conferir detém), entretêm (conferir entretém), intervêm
(conferir intervém), mantêm (conferir mantém), obtêm (conferir obtém),
provêm (conferir provém), sobrevêm (conferir sobrevém).
Obs.: Também neste caso são superadas as antigas grafias detêem, inter-
vêem, mantêem, provêem etc., que passam a deteem, interveem, manteem,
proveem etc.
6o) Assinalam-se com acento circunflexo:
a) Obrigatoriamente, pôde (3a pessoa do singular do pretérito per-
feito do indicativo), que se distingue da correspondente forma do presen-
te do indicativo (pode).
b) Facultativamente, dêmos (1a pessoa do plural do presente do
subjuntivo), para se distinguir da correspondente forma do pretérito per-
81
feito do indicativo (demos); fôrma (substantivo), distinta de forma (subs-
tantivo; 3a pessoa do singular do presente do indicativo ou 2a pessoa do
singular do imperativo do verbo formar).73
7o) Não é necessário acento circunflexo nas formas verbais paro-
xítonas que contêm um e tônico oral fechado em hiato com a terminação
em da 3a pessoa do plural do presente do indicativo ou do subjuntivo,
conforme os casos: creem, deem (subjuntivo), descreem, desdeem (sub-
juntivo), leem, preveem, redeem (subjuntivo), releem, reveem, tresleem,
veem.74
8o) É igualmente dispensado o acento circunflexo para assinalar a
vogal tônica fechada com a grafia o em palavras paroxítonas como enjoo,
substantivo e flexão de enjoar; povoo, flexão de povoar; voo, substantivo
e flexão de voar etc.
9o) Dispensa-se o uso de acento gráfico (agudo e circunflexo) para
distinguir palavras paroxítonas que, tendo respectivamente vogal tônica
aberta ou fechada, são homógrafas de palavras proclíticas.75 Assim, dei-
xam de se distinguir pelo acento gráfico: para (á), flexão de parar,76 e
para, preposição; pela(s) (é), substantivo e flexão de pelar, e pela(s),
combinação de per e la(s); pelo (é), flexão de pelar, pelo(s) (é), substan-
tivo ou combinação de per e lo(s); pera (substantivo) e pera (preposição
73 “A grafia fôrma (com acento gráfico) deve ser usada apenas nos casos em que houver ambiguida-
de, como nos verbos do poema “Os sapos”, de Manuel Bandeira: “Reduzi sem danos/ A fôrmas a forma.” Diferentemente, no Cancioneiro, de Fernando Pessoa: “São as formas sem forma/ Que pas-sam sem que a dor/ As possa conhecer/ Ou as sonhar o amor” (não há acento gráfico porque não
cabe a ambiguidade). (Bechara, 2008a, p. 71)
74 A inutilidade deste acento, como a das palavras terminadas em oo(s) já era evidente, visto que pala-vras terminadas em o(s) e em têm acento natural na penúltima vogal. Não é didaticamente produtiva a
referência a um acento gráfico que não é mais usado, exceto se se tratar de uma irregularidade ou de um caso especial em que ele seria previsível.
75 Palavras proclíticas são as que se incorporam foneticamente a outras que as seguem, formando
um vocábulo fonético, como os artigos e as preposições, por exemplo.
76 Inclui-se nesta regra a forma para (do verbo parar), quando entra num composto separado por hífen, como para-água, para-balas, para-brisa, para-chispas, para-choque, para-chuva, para-costas, para-
estilhaços, para-lama, para-luz, para-mentes, para-minas, paraqueda(s), paraquedismo, para-sol, para-sol-da-china, para-tropa, para-vento.
A forma reduzida da preposição para deve ser escrita pra, sem acento e sem apóstrofo.
82
arcaica); polo(s) (ó), substantivo, e polo(s), combinação antiga e popular
de por e lo(s) etc.
10o) Prescinde-se igualmente de acento gráfico para distinguir pa-
roxítonas homógrafas heterofônicas do tipo de acerto (ê), substantivo, e
acerto (é), flexão de acertar; acordo (ô), substantivo, e acordo (ó), fle-
xão de acordar; cerca (ê), substantivo, advérbio e elemento da locução
prepositiva cerca de, e cerca (é), flexão de cercar; coro (ô), substantivo,
e coro (ó), flexão de corar; deste (ê), contração77 da preposição de com o
demonstrativo este, e deste (é), flexão de dar; fora (ô), flexão de ser e ir,
e fora (ó), advérbio, interjeição e substantivo; piloto (ô), substantivo, e
piloto (ó), flexão de pilotar etc. 78
77 Contração é a aglutinação de dois vocábulos gramaticais para formar um terceiro. Em português,
há dois tipos de contração: de algumas preposições com artigos [a + o(s) = ao(s); a + a(s) = à(s), de + a(s) = da(s), de + o(s) = do(s) etc.] e dos pronomes o, os, a, as com outros pronomes oblíquos [me + o(s) = mo(s), lhe(s) + o(s) = lho(s) etc.]. (Confira Azeredo, 2008, p. 47)
78 Estas quatro últimas regras são absolutamente inúteis, pois já estão incluídas na regra geral: “As palavras paroxítonas em geral não são acentuadas graficamente”. No ensino de ortografia da língua portuguesa não se tratará disso, a menos que seja uma aula sobre as alterações do acordo ortográ-
fico.
83
BASE X
DA ACENTUAÇÃO DAS VOGAIS
TÔNICAS GRAFADAS I E U DAS
PALAVRAS OXÍTONAS
E PAROXÍTONAS
1o) As vogais tônicas grafadas i e u das palavras oxítonas e paro-
xítonas levam acento agudo quando antecedidas de uma vogal com que
não formam ditongo e desde que não constituam sílaba com a consoante
seguinte, exceto o s: açaí, adaís (plural de adail), aí, Ataíde, atraí (de
atrair), atraíam (imperfeito de atrair), atraísse (idem), baía, cafeína, ca-
íste (de cair), daí, egoísmo, faísca, gravataí, influíste (de influir), jataí,
Jacareí jacuí, juízes, Jundiaí, Luís, Luísa, país, Paraíba, paraíso, Piraí,
raízes, recaída, ruína, saída, sanduíche, alaúde, amiúde, Araújo, baú,
balaústre, carnaúba, ciúme, Esaú, faúlha, Grajaú, graúdo, jaú, miúdo,
pitiú etc.
2o) As vogais tônicas grafadas i e u das palavras oxítonas e paro-
xítonas não levam acento agudo quando, antecedidas de vogal com que
não formam ditongo, constituem sílaba com a consoante seguinte, como
é o caso de nh79, l, m, n, r e z: bainha, moinho, rainha, adail, Caim, pa-
ul, Raul, Aboim, Coimbra, pixaim, ruim, ainda, constituinte, oriundo,
ruins, triunfo, atrair, demiurgo, afluir, aluir, arguir, atrair, atribuir,
concluir, confluir, construir, contribuir, destruir, diminuir, distrair, ex-
cluir, esvair, evoluir, fluir, incluir, influir, instruir, obstruir, poluir, pros-
79 Observamos que o dígrafo nh não forma sílaba com a vogal que o precede, mas com a seguinte. Portanto, as vogais tônicas i e u são acentuadas graficamente quando, precedidas de vogais, forma-rem sílabas sozinhas (ou seguidas de s), exceto se a sílaba seguinte começar com o dígrafo nh.
84
tituir, puir, reconstruir, restituir, retrair, retribuir, ruir, sair, trair, influ-
ir, influirmos; juiz, raiz etc.
3o) Em conformidade com as regras anteriores, leva acento agudo
a vogal tônica grafada i das formas oxítonas terminadas em r dos verbos
em air e uir, quando estas se combinam com as formas pronominais clí-
ticas lo(s), la(s), que levam à assimilação e perda daquele r: atraí-lo(s)
[de atrair-lo(s)]; atraí-lo(s)-ia [de atrair-lo(s)-[-ia]; contraí-lo(s) [de
contrair-lo(s)]; distraí-lo(s) [de distrair-lo(s)]; extraí-lo(s) [de extrair-
lo(s)]; traí-lo(s) [de trair-lo(s)], atribuí-lo(s) [de atribuir-lo(s)]; concluí-
lo(s) [de concluir-lo(s)]; construí-lo(s) [de construir-lo(s)]; despoluí-
lo(s) [de despoluir-lo(s)]; diminuí- -lo(s) [de diminuir-lo(s)]; distribuí-
lo(s) [de distribuir-lo(s)]; excluí- -lo(s) [de excluir-lo(s)]; incluí-lo(s) [de
incluí-lo(s)]; possuí-la(s) [de possuir-la(s)]; possuí-la(s)-ia [de possuir-
la(s)-ia], restituí-lo(s) [de restituir-lo(s)]; substituí-lo(s) [de substituir-
lo(s)]; usufruí-lo(s) de usufruir-lo(s)].
4o) Não é necessário o acento agudo nas vogais tônicas grafadas i
e u das palavras paroxítonas, quando precedidas de ditongo: baiuca (ta-
verna), Bocaiuva, boiuno, cauila (variante cauira), cheiinho (de cheio),
feiura (de feio), saiinha (de saia), Sauipe, tauismo80, teiideo (de teiú)
etc.81
5o) Levam, porém, acento agudo as vogais tônicas grafadas i e u
quando, precedidas de ditongo, estão em posição final seguidas ou não de
s: cacauí, peiú, Piauí, teiú, teiús, tuiuiú, tuiuiús, urutauí.
Obs.: Se, neste caso, a consoante final for diferente de s, tais vogais dis-
pensam o acento agudo: cauim, cauins.
80 A variante taoísmo, assim como a palavra eoípo, em que o i forma hiato com a vogal anterior, na pronúncia
mais corrente, o acento deverá ser marcado. Trata-se de uma situação natural, visto que o hiato é o encontro de duas vogais em sílabas vizinhas. Como o elemento vocálico do ditongo precedente é uma semivogal, rigo-rosamente, não ocorre o hiato.
81 Naturalmente a acentuação se mantém nas palavras proparoxítonas, mesmo que as vogais i e u sejam precedidas das semivogais, como em maiúsculo, feiíssimo, cheiíssimo, nisseiísimo, sanseiís-simo, capiauíssimo, curauíssimo, manauíssimo, ateuíssimo, europeuíssimo etc.
85
6o) Não é necessário o acento agudo nos ditongos tônicos grafados
iu e ui, quando precedidos de vogal: distraiu, instruiu, pauis (plural de
paul: pântano).
7o) Os verbos arguir e redarguir prescindem do acento agudo na
vogal tônica grafada u nas formas rizotônicas: arguo, arguis, argui, ar-
guem; argua, arguas, argua, arguam. O verbos do tipo de aguar, apani-
guar, apaziguar, apropinquar, averiguar, desaguar, enxaguar, obli-
quar,82 delinquir e afins, por oferecerem dois paradigmas, ou têm as for-
mas rizotônicas igualmente acentuadas no u, mas sem marca gráfica (a
exemplo de averiguo, averiguas, averigua, averiguam; averigue, averi-
gues, averigue, averiguem; enxaguo, enxaguas, enxagua, enxaguam; en-
xague, enxagues, enxague, enxaguem; delinquo, delinquis, delinqui, de-
linquem; mas delinquimos, delinquis), ou têm as formas rizotônicas acen-
tuadas fônica e graficamente nas vogais a ou i radicais (a exemplo de
averíguo, averíguas, averígua, averíguam; averígue, averígues, averí-
gue, averíguem; enxáguo, enxáguas, enxágua, enxáguam; enxágue, en-
xágues, enxágue, enxáguem; delínquo, delínques, delínque, delínquem;
delínqua, delínquas, delínqua, delínquam)83.
Obs.: Em conexão com os casos acima referidos, registre-se que os ver-
bos em ingir (atingir, cingir, constringir, infringir, tingir etc.) e em in-
guir sem prolação do u (distinguir, extinguir etc.) têm grafias absoluta-
82 Segundo Bechara (2008a, p. 78-79), “os verbos que compõem esse grupo, como se pode obser-var, rompem um princípio bastante regular da morfologia verbal do português: suas formas rizotôni-cas são, do ponto de vista do posicionamento da tonicidade, proparoxítonas aparentes, fato que leva os falantes a pronunciá-las intuitivamente como paroxítonas, avançando a tonicidade para o [u] de
[gu]: aguo /ú/, aguas /ú/ etc.
Nas formas arrizotônicas dos verbos desse grupo, o [u] do [gu] é pronunciado como semivogal sem-pre que vier seguido de [e]. Assim, tem-se enxaguei /güei/, enxaguemos /güe/, enxagueis /güeis/.”
83 Ainda segundo Bechara (2008a, p. 78), “o verbo delinquir, tradicionalmente dado como defectivo, é tratado como verbo que tem todas as suas formas. O Acordo também aceita duas possibilidades de pronúncia, quando a tradição padrão brasileira na gramática para este verbo só aceitava sua flexão
nas formas rizotônicas.
No paradigma em que a conjugação do verbo delinquir tem as formas rizotônicas acentuadas no u,
este grafema figura como vogal tônica, como em delínquo. Usualmente, na língua portuguesa, não se vê o digrama qu antecedendo vogal de outra sílaba, formando, assim, hiato. Mas nesse caso o q difere de seus dois usos mais consagrados: introduzindo dígrafo ou precedendo a semivogal /w/.”
86
mente regulares (atinjo, atinja, atinge, atingimos etc.; distingo, distinga,
distingue, distinguimos etc.).
87
BASE XI
DA ACENTUAÇÃO GRÁFICA DAS
PALAVRAS PROPAROXÍTONAS
1o) Levam acento agudo:
a) As palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba tônica as
vogais abertas grafadas a, e, o e ainda i, u ou ditongo oral começado por
vogal aberta: árabe, cáustico, Cleópatra, esquálido, exército, hidráulico,
líquido, míope, músico, plástico, prosélito, público, rústico, tétrico, último;
b) As chamadas proparoxítonas aparentes, isto é, que apresentam
na sílaba tônica as vogais abertas grafadas a, e, o e ainda i, u ou ditongo
oral começado por vogal aberta, e que terminam por sequências vocálicas
pós-tônicas praticamente consideradas como ditongos crescentes (ea, eo,
ia, ie, io, oa, ua, uo etc.): Acácia, álea, alínea, área, áurea, cactácea,
náusea, drágea, Gávea, láctea, etéreo, níveo, Adélia, Amélia, ária, enci-
clopédia, glória, barbárie, série, Inácio, lírio, prélio, secretário, mágoa,
nódoa, exígua, língua, delínquo, exíguo, vácuo, delínquis etc.
2o) Levam acento circunflexo:
a) As palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba tônica
vogal fechada ou ditongo com a vogal básica fechada: anacreôntico,
brêtema, cânfora, cômputo, devêramos (de dever), dinâmico, êmbolo,
excêntrico, fôssemos (de ser e ir), Grândola, hermenêutica, lâmpada, lô-
brego, nêspera, plêiade, sôfrego, sonâmbulo, trôpego;
b) As chamadas proparoxítonas aparentes, isto é, que apresentam
vogais fechadas na sílaba tônica84 e terminam por sequências vocálicas
84 Aigumas dessas palavras têm timbre aberto em Portugal e em outros países, onde, naturalmente, será admitido o acento agudo. Veja, a seguir, item 3º). A nasalidade da vogal tônica que antecede a
uma consoante nasal, no português do Brasil, não ocorre em Portugal e, por isto, tem sempre timbre fechado aqui, enquanto lá, pode ter timbre aberto ou fechado.
88
pós-tônicas praticamente consideradas como ditongos crescentes: amên-
doa, Antônio, argênteo, abstinência, ausência, begônia, bigâmea, castâ-
nea, coletânea, côdea, errônea, essência, fêmea, insônia, Islândia, lên-
dea, Mântua, mênstruo, serôdio, tênue.
3o) Levam acento circunflexo as palavras proparoxítonas, reais ou
aparentes, cujas vogais tônicas grafadas e ou o estão em final de sílaba e
são seguidas das consoantes nasais grafadas m ou n: acadêmico, anatô-
mico, cênico, cômodo, fenômeno, gênero, topônimo; Amazônia, Antônio,
blasfêmia, fêmea, gêmeo, gênio, tênue.85
85 Nestas situações, estas vogais tônicas nasais são sempre fechadas na pronúncia brasileira, mas em outros países da lusofonia, ora são abertas, ora são fechadas. Por isto, mantêm-se as duas gra-fias para eles, dependendo do timbre da vogal.
Todas as proparoxítonas, portanto, são acentuadas graficamente, sendo que as vogais a, e e o po-
dem ser escritas com acento agudo (quando tiverem timbre aberto) ou com acento circunflexo (quando tiverem timbre fechado), inclusive nas proparoxítonas aparentes e quando seguidas de m ou n.
89
BASE XII
DO EMPREGO DO ACENTO GRAVE
1o) Emprega-se o acento grave:
a) Na contração da preposição a com as formas femininas do arti-
go ou pronome demonstrativo a: à (de a+a), às (de a+as);
b) Na contração da preposição a com os demonstrativos aquele,
aquela, aqueles, aquelas e aquilo, ou ainda da mesma preposição com os
compostos aqueloutro e suas flexões: àquele(s), àquela(s), àquilo; àque-
loutro(s), àqueloutra(s).86
86 O professor Evanildo Bechara recomenda que também se use o acento grave nas locuções consti-
tuídas da preposição a seguida de substantivo feminino, em casos como barco à vela, desenhar à mão, ensino à distância, escrever à máquina, venda à vista etc., principalmente nas situações em
que a frase se tornar ambígua. (Confira Bechara, 2008, p. 85).
90
BASE XIII
DA SUPRESSÃO DOS ACENTOS EM
PALAVRAS DERIVADAS87
1o) Nos advérbios em mente, derivados de adjetivos com acento
agudo ou circunflexo, estes são suprimidos: avidamente (de ávida), de-
bilmente (de débil), facilmente (de fácil), habilmente (de hábil), ingenu-
amente (de ingênua), lucidamente (de lúcida), mamente (de má), somente
(de só), unicamente (de única) etc.; candidamente (de cândida), cortes-
mente (de cortês), dinamicamente (de dinâmica), espontaneamente (de
espontânea), portuguesmente (de português), romanticamente (de ro-
mântica).
2o) Nas palavras derivadas que contêm sufixos iniciados por z e
cujas formas de base apresentam vogal tônica com acento agudo ou cir-
cunflexo, estes são suprimidos: aneizinhos (de anéis), avozinha (de avó),
bebezito (de bebé), cafezada (de café), chapeuzinho (de chapéu), chazei-
ro (de chá), heroizito (de herói), ilheuzito (de ilhéu), mazinha (de má),
orfãozinho (de órfão), vintenzito (de vintém) etc.; avozinho (de avô),
bençãozinha (de bênção), lampadazita (de lâmpada), pessegozito (de
pêssego).
87 Esta regra ortográfica já vigora no Brasil desde 1971, quando a Lei nº 5.765 determina que "fica abolido o trema nos hiatos átonos; o acento circunflexo diferencial na letra e e na letra o da sílaba tônica das palavras homógrafas de outras em que são abertas a letra e e a letra o, exceção feita da
forma pôde, que se acentuará em oposição a pode; o acento circunflexo e o grave com que se assi-nala a sílaba subtônica dos vocábulos derivados em que figura o sufixo mente ou sufixos iniciados por z"; e em Portugal desde 1973.
91
BASE XIV
DO TREMA
O trema, sinal de diérese, é inteiramente suprimido em palavras
portuguesas ou aportuguesadas. Nem sequer se emprega na poesia, mes-
mo que haja separação de duas vogais que normalmente formam ditongo:
saudade, e não saüdade, ainda que tetrassílabo; saudar, e não saüdar,
ainda que trissílabo etc.
Em virtude desta supressão, abstrai-se de sinal especial, quer para
distinguir, em sílaba átona, um i ou um u de uma vogal da sílaba anterior,
quer para distinguir, também em sílaba átona88, um i ou um u de um di-
tongo precedente, quer para distinguir, em sílaba tônica ou átona, o u de
gu ou de qu de um e ou i seguintes: arruinar, constituiria, depoimento,
esmiuçar, faiscar, faulhar, oleicultura, paraibano, reunião; abaiucado,
auiqui, caiuá, cauixi, piauiense; adeque, ambiguidade, apazígue, aguen-
tar, anguiforme, arguir, bilíngue, cinquenta, consequente, delinquente,
delinquir, deságue, eloquente, enxágue, equestre, equidade, frequentar,
frequente, iniquidade, lingueta, linguista, linguístico; marigui, oblíque,
sagui, retorquir, sanguíneo, tranquilo, ubiquidade, unguento.
Obs.: Conserva-se, no entanto, o trema, de acordo com a Base I, 3o, em
palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros: hübneriano, de Hüb-
ner, mülleriano, de Müller etc.
88 Veja-se a referência ao trema na nota anterior: "fica abolido o trema nos hiatos átonos".
Este registro abolia o trema permitido na observação 2ª, alínea 12ª, tópico "Acentuação Gráfica" das "Instruções para a Organização do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa", ónde se lê: "É lí-cito o emprego do trema quando se quer indicar que um encontro de vogais não forma ditongo, mas hiato: saüdade, vaïdade (com quatro sílabas), etc."
92
BASE XV
DO HÍFEN EM COMPOSTOS,
LOCUÇÕES E ENCADEAMENTOS
VOCABULARES89
1o) Emprega-se o hífen nas palavras compostas por justaposição
sem termos de ligação, cujos elementos sejam de natureza substantiva,
adjetiva, numeral ou verbal, constituam uma unidade sintagmática e
semântica e mantenham acento próprio, podendo dar-se o caso de o
primeiro elemento estar reduzido:90 afro-asiático, afro-luso-brasilei-
ro,91 alcaide-mor, amor-perfeito, anglo-saxão, ano-luz, arcebispo-
-bispo, arco-íris, azul-escuro, boa-fé, cifro-luso-brasileiro, conta-go-
tas, decreto-lei, euro-asiático, és-sueste, finca-pé, forma-piloto, guar-
da-chuva, guarda-noturno, joão-ninguém, luso-brasileiro, má-fe, man-
da-chuva, manda-lua (chora-lua, mãe-da-lua, ave de hábitos noturnos),
mato-grossense, médico-cirurgião, mesa-redonda, norte-americano,
89 As oscilações relativas ao uso do hífen foram simplificadas e reduzidas a partir das propostas do
acordo ortográfico de 1986, levando-se em conta as críticas que a ele foram feitas. Por isto, não fora completamente simplificada sua utilização, pois resultou, sobretudo, do estudo de seu uso nos dicio-nários brasileiros e portugueses, assim como em jornais e revistas. (Confira Estrela, 1993, p. 198-199). Ou seja: não resultou de uma tendência lusitada nem de uma tendência brasileira, mas de uma
solução técnica moderada.
90 Como o Acordo não trata especificamente dos compostos formados com elementos repetidos, deve-rão ser incluídos nesta regra de composição com hifenização: blá- -blá-blá, lenga-lenga, pingue-pongue, reco-reco, tico-tico, tique-taque, trouxe-mouxe, xique-xique (cho-
calho; confira xiquexique, planta), zás-trás, zum-zum e seus derivados.
91 Adjetivos formados com os elementos reduzidos afro, anglo, ásio, euro, franco, indo, luso, sino etc. deverão continuar escritos aglutinadamente, como em afrodescendente, anglofalante, anglomaníaco, eurocêntrico, eu-
rocomunista, eurodeputado, francofone, francólatra, lusófono, sinofílico, sinologia etc.; mas quando se trata da soma de duas ou mais identidades, o hífen tem de ser empregado. Exemplos: anglo-americano, ásio-europeu, euro-africano, euro-afro-americano, franco-suíço, sino-japonês, indo-português etc.
93
porta-aviões, porta-retrato, porto-alegrense, primeiro-ministro, pri-
meiro-sargento, primo-infecção, rainha-cláudia, segunda-feira, seu-vi-
zinho, sócio-democracia, sócio-econômico, sul-africano, tenente-coro-
nel, tio-avô, vaga-lume, turma-piloto, verbo-nominal, zé-povinho.
Obs.: Certos compostos, em relação aos quais se perdeu, em certa medi-
da, a noção de composição, grafam-se aglutinadamente: girassol, ma-
dressilva, mandachuva, pontapé, paraquedas, paraquedista, paraque-
dismo, paraquedístico etc.92
2o) Emprega-se o hífen nos topônimos compostos iniciados pelos
adjetivos grã, grão, por forma verbal, ou cujos elementos estejam liga-
dos por artigo:93 Grã-Bretanha, Grão-Pará, Abre-Campo, Passa-Quatro,
Quebra-Costas, Quebra-Dentes, Traga-Mouros, Trinca-Fortes, Alberga-
ria-a-Velha, Baía de Todos-os-Santos, Entre-os-Rios, Montemor-o-Novo,
Trás-os-Montes.
Obs.: Os outros topônimos compostos se escrevem com os elementos
separados, sem hífen: América do Sul, Belo Horizonte, Cabo Verde, Cas-
telo Branco, Freixo de Espada à Cinta etc. O topônimo Guiné-Bissau é,
contudo, uma exceção consagrada pelo uso.
3o) Emprega-se o hífen nas palavras compostas que designam espé-
cies botânicas e zoológicas, estejam ou não ligadas por preposição ou
qualquer outro elemento: abóbora-menina, andorinha-grande, andorinha-
92 O Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa arbitrou sobre todas as palavras que se incluirão neste caso. O professor Evanildo Bechara lembra que a tradição lexicográfica levará à manutenção do
hífen em palavras como para-brisa(s), para-choque(s), para-lama(s) etc. e que, nesta 5ª edição manterá as formas tradicionais, exceptuadas as palavras relacionadas como exemplos no texto do Acordo.
93 Os adjetivos gentílicos derivados de topônimos compostos, com os elementos separados ou ligados por
hífen, também se escrevem com hífen, mas, sem hífen, no entanto, se os topônimos são escritos agluti-nadamente. Por exemplo: alto-rio-docense, aurorense-do-tocantins, belo-horizontino, cruzeirense-do-sul, dom-expedito-lopense, florentino-do-piauí, mato-grossense, mato-grossense-do-sul, juiz-forano e juiz-
forense, mas Guapimirim > guapimiriense, Abaetetuba > abaetetubense, Petrópoles > petropolitano, Teresópoles > teresopolitano.
O professor Bechara chama a atenção para dois casos particulares: “Escreve-se com hífen indo-chinês, quando se referir à Índia e à China, ou aos indianos e chineses, diferentemente de indochi-
nês (sem hífen), que se refere à Indochina. Da mesma forma, centro-africano, com hífen, refere-se à região central da África, e centroafricano, sem hífen, refere-se à República Centroafricana. (Confira
Bechara, 2008a, p. 94)
94
do-mar, bacaba-de-azeite, bálsamo-do-canadá, bem-me-quer (nome de
planta que também se dá à margarida e ao malmequer), bem-te-vi (nome de
um pássaro), bênção-de-deus, cobra-capelo, cobra-d’água, coco-da-baía,
couve-flor, dente-de-leão, erva-doce, erva-do-chá, ervilha-de-cheiro, fava-
de-santo-inácio, feijão-verde, formiga-branca, lesma-de-conchinha, vas-
soura-de-bruxa.
4o) Emprega-se o hífen nos compostos com os advérbios bem e
mal94, quando estes formam com o elemento que se lhes segue uma unida-
de sintagmática e semântica e tal elemento começa por vogal ou h. No en-
tanto, o advérbio bem, ao contrário de mal, pode não se aglutinar com pa-
lavras começadas por consoante. Eis alguns exemplos das várias situações:
bem-acabado, bem-aceito, bem-acondicionado, bem-amado, bem-
apessoado, bem-arranjado, bem-aventurado, bem-casado (mas malcasa-
do), bem-comportado (mas malcomportado), bem-dizer (mas maldizer),
bem-educado, bem-encarado, bem-estar, bem-humorado, bem-intenciona-
do, bem-te-vi, bem-vindo (mas malvisto); bem-criado (mas malcriado),
bem-ditoso (mas malditoso), bem-falante (mas malfalante), bem-mandado
(mas malmandado), bem-nascido (mas malnascido), bem-querer (mas
malquerer), bem-soante (mas malsoante), bem-visto (mas malvisto), mal-
afortunado, mal-agradecido, mal-amado, mal-apessoado, mal-
-apresentado, mal-assado, mal-empregar, mal-entendido, mal-estar, mal-
-humorado, mal-informado, mal-intencionado, mal-olhado, mal-ordenado,
mal-usar;
Obs.: Em muitos compostos, o advérbio bem aparece aglutinado com o
segundo elemento, quer este tenha ou não vida à parte: Bembom, Bem-
posto, bempostano, bendito, bendizer, benfazejo, benfazer, benfeito, ben-
feitor, benfeitoria, Benfica, benfiquense, benquerer, benquistar, benquis-
to etc.
94 Observe-se que o substantivo mal com o significado de “doença” forma compostos sem hífen. As-
sim, teremos mal das ancas, mal da terra, mal de amores, mal de ano, mal de bicho, mal de cadei-ras, mal de chupança, mal de coito, mal de cuia, mal de engasgo, mal de escancha, mal de ciúme, mal de franga, mal de grarapa, mal de gota, mal de lázaro, mal de luanda, mal de monte, mal de ná-
poles, mal de santa eufêmia, mal de são jó, mal de são lázaro, mal de são névio, mal de são semen-to, mal de secar, mal de sete dias, mal de terra, mal de vaso, mal do pinto, mal do sangue, mal dos chifres, mal dos peitos, mal dos quartos.
95
5o) Emprega-se o hífen nos compostos com os elementos além,
aquém, recém e sem: além-Atlântico, além-mar, além-fronteiras, além-
mundo, além-país, Além-Paraíba, além-paraibano, além-túmulo; aquém-
-fiar, aquém-fronteiras, aquém-mar, aquém-oceano, aquém-Pireneus;
recém-aberto, recém-achado, recém-admitido, recém-adquirido, recém-
-casado, recém-chegado, recém-colhido, recém-concluído, recém-
conquistado, recém-convertido, recém-criado, recém-depositado, recém-
-descoberto, recém-desvendado, recém-emancipado, recém-fabricado,
recém-falecido, recém-feito, recém-finado, recém-formado, recém-morto,
recém-nado, recém-nascido, recém-nomeado, recém-plantado, recém-
-publicado, sem-amor, sem-cerimônia, sem-cerimonioso, sem-dinheiro,
sem-família, sem-fim, sem-gracice, sem-justiça, sem-lar, sem-luz, sem-
-nome, sem-número, sem-pão, sem-par, sem-razão, sem-sal, sem-segun-
do, sem-serifa, sem-termo, sem-terra, sem-teto, sem-trabalho, sem-ventu-
ra, sem-vergonha, sem-vergonhez(a), sem-vergonhice, sem-vergonhismo.
6o) Nas locuções de qualquer tipo, sejam elas substantivas, adjeti-
vas, pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais, em geral
não se emprega o hífen,95 salvo algumas exceções já consagradas pelo
uso (como é o caso de água-de-colônia, arco-da-velha, cor-de-rosa,
mais-que-perfeito, pé-de-meia, ao deus-dará, à queima-roupa). Sirvam,
pois, de exemplo de emprego sem hífen as seguintes locuções:
a) Substantivas: cão de guarda, fim de semana, sala de jantar;96
b) Adjetivas: cor de açafrão, cor de café com leite, cor de vinho;
95 Deste modo, não se usará mais o hífen que era utilizado para distinguir o adjetivo à-toa do advér-
bio à toa e o substantivo dia-a-dia do advérbio dia a dia, assim como nas locuções: arco e flecha, calcanhar de aquiles, comum de dois, general de divisão, tão somente, ponto e vírgula etc.
Também devemos deixar de utilizar o hífen em unidades fraseológicas como deus nos acuda, salve-
se quem puder, faz de conta, disse me disse, maria vai com as outras, bumba meu boi, tomara que caia etc. (Confira Bechara, 2008a, p. 96)
96 Somente quando substantivadas, as expressões latinas do tipo ab initio, ab ovo, ad immortalita-tem, ad hoc, data venia, de cujus, carpe diem, causa mortis, habeas corpus, pari passu, ex libris etc. devem ter seus elementos separados por hífen, mas não deverão ter hifens quando forem utilizadas
como tais.
96
c) Pronominais: cada um, ele próprio, nós mesmos, quem quer
que seja;
d) Adverbiais: à parte (note-se o substantivo aparte), à vontade,
de mais (locução que se contrapõe a de menos; note-se demais, advérbio,
conjunção etc.), depois de amanhã, em cima, por isso;
e) Prepositivas: abaixo de, acerca de, acima de, a fim de, a par
de, à parte de, apesar de, debaixo de, enquanto a, por baixo de, por cima
de, quanto a;
f) Conjuncionais: afim de que, ao passo que, contanto que, logo
que, por conseguinte, visto que.
7o) Emprega-se o hífen para ligar duas ou mais palavras que oca-
sionalmente se combinam, formando não propriamente vocábulos, mas
encadeamentos vocabulares (tipo: a divisa Liberdade-Igualdade-Frater-
nidade, a ponte Rio-Niterói, o percurso Lisboa-Coimbra-Porto, a ligação
Angola-Moçambique, e bem assim nas combinações históricas ou ocasi-
onais de topônimos (tipo: Áustria-Hungria, Alsácia-Lorena, Angola-Bra-
sil, Tóquio-Rio de Janeiro etc.).
97
BASE XVI
DO HÍFEN NAS FORMAÇÕES POR
PREFIXAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO97
E
SUFIXAÇÃO
1o) Nas formações com prefixos (como ante, anti, circum, co, con-
tra, entre, extra, hiper, infra, intra, pós, pré, pró, sobre, sub98, super, su-
pra, ultra99 etc.) e em formações por recomposição, isto é, com elementos
não autônomos ou falsos prefixos100, de origem grega e latina (tais como
97 Recomposição é o processo de formação de palavras que envolve um elemento que, embora na
origem seja um radical, mudou seu significado na língua moderna e passou a funcionar como um falso prefixo. Exemplo: aero em aeromoça. (Confira Azeredo, 2008, p. 44).
98 Apesar de não estar explícito no Acordo, na página 102 de A Nova Ortografia, o professor Bechara lembra
que é necessário o uso do hífen “quando o 1o elemento termina por b (ab, ob, sob, sub) ou d (ad) e o 2o ele-mento começa por r”. Vejam-se os exemplos seguintes: ab-reação, ab-reagir, ab-reptício, ab-repto, ab-rogar,
ab-rupção (mas também abrupto), ab-ruptela, ab-rupto, ad-renal, ad-retal, ad-rogação, ad-rogar, ad-rostral, ob-repção, ob-reptício, ob-rogar, sob-roda, sob-rojar, sub-raça, sub-ramo, sub-região, sub-regional, sub-reino, sub-reitor, sub-reitoria, sub-remunerado, sub-repassar, sub-repção, sub-reptício, sub-rogação, sub-rogado,
sub-rostrado, sub-rotina, sub-rotundo. Apenas nesses casos o r dos grupos br ou dr não representa uma vi-brante velar, como em abrasileirado e desidratar.
É interessante a observação de que somente os prefixos pre e re podem se justapor a in, na língua portuguesa, formando palavras como impremeditado, impressentido, imprevidência, imprevisão; irre-batível, irreclamável, irreconhecível, irrecorrível, irredutível, irreelegível, irreformável, irremunerável,
irrenunciável, irreparável, irrequieto etc. Por isto, estamos de acordo que também o prefixo re admita a omissão do hífen, apesar de não previsto no Acordo (conferir Azeredo, 2008, p. 131).
99 Além dos prefixos relacionados no Acordo, é bom atentar-se para os seguintes, que também são bastante produtivos na formação de palavras no idioma: a, ab, abs, ad, ambi, an, aná, anfi, apó, ar-ce, arci, arque, arqui, ben, bene, bi, bis, catá, cis, com, con, de, des, di, diá, dis, e, ecto, endo, entre, epi, es, eu, ex, hemi, hipó, i, im, in, inter, intro, justa, metá, o, ob, pará, pene, per, peri, pos, post, pre,
preter, pro, re, retro, semi, sin, trans, tras, tres, vice, vis, vizo e muitos outros.
100 Falso prefixo, pseudoprefixo ou prefixóide são termos controvertidos que os linguistas ainda não definiram com segurança, apesar de serem referidos em diversos contextos e por numerosos auto-
res e utilizados como sinônimos.
98
aero, agro, arqui, auto, bio, eletro, geo, hidro, inter, macro, maxi, micro,
mini, multi, neo, pan, pluri, proto, pseudo, retro, semi, tele etc.), só se em-
prega o hífen nos seguintes casos:
a) Nas formações em que o segundo elemento começa por h: ab-
dômino-histerotomia, adeno-hipófise, alfa-hélice, ante-histórico, anti-
herói, anti-hemofílico, anti-higiênico, arqui-hipérbole, auto-
-hipnose, beta-hemolítico, bio-histórico, circum-hospitalar, contra-
-harmônico, contra-haste, deca-hidratado, eletro-higrômetro, entre-
-hostil, extra-hepático, extra-humano, foto-heliografia, geo-história, giga-
hertz, hétero-hemorragia, hidro-homopericárdio, infra-homem, inter-
hemisférico, neo-helênico, pan-helenismo, poli-hidite, pré-
-história, semi-histórico, semi-hospitalar, sob-roda, sub-hepático, sub-
humano, super-homem, tri-hídrico, ultra-hiperbólico.
Obs.: Não se usa, no entanto, o hífen em formações que contêm em geral
os prefixos [an, des, in [e re] e nas quais o segundo elemento perdeu o h
inicial: anemoterapia, anepágico, anídrico, desabilitar, desabitar, desa-
churar, desabituar, desalogenar, desarmonia, desarmonizar, desastear,
desaurir, desegemonizar, deselenizar, desematizar, desemodialisar, de-
serdar, deserborizar, deseroificar, deseterogeneizar, desiatizar, desiber-
nar, desidratar, desidrogenar, desidronizar, desierarquizar, desifenizar,
desilarizar, desipnotizar, desipostenizar, desispanizar, desispidar-se, de-
solandizar, desomiziar, desomogeneizar, desonestar, desonorar, deson-
rar, desorripilar, desorrorizar, desumano, desumidificar, inábil, inabitá-
vel, inerbívoro, inerdável, inesitante, inumano, reabilitar, reabitar, rea-
bituar, reachurar, rearmonizar, rearpejar, reaurir, reastear, reaver,
reebraizar, reelenizar, reematizar, reemodialisar, reemoli-
sar,reerborizar, reeroificar, reesitar, reibernar, reidratar, reifenizar,
reiperbolizar, reipnotizar, reipotecar, reispanizar, reomologar, reones-
tar, reonorificar, reospedar, reostilizar, reumanizar, reumificar, reumi-
lhar, reumorizar etc.;
99
b) Nas formações em que o prefixo ou pseudoprefixo termina na
mesma vogal com que se inicia o segundo elemento:101 anti-ibérico, anti-
infeccioso, anti-inflamatório, arqui-inteligente, arqui-irmandade, auto-ob-
servação, contra-almirante, eletro-ótica, infra-axilar, micro-onda, neo-or-
todoxo, semi-interno, sobre-edificar, sobre-elevar, sobre-estadia, sobre-es-
timar, sobre-exceder, supra-auricular.
Obs.: Nas formações com o prefixo co, este se aglutina em geral com o
segundo elemento, mesmo quando iniciado por o: coabitar, coautor, co-
edição, coemitente, coenzima, coerdeiro, coobrigação, coocupante, co-
ordenar, cooperação, cooperar etc.;
c) Nas formações com os prefixos circum e pan, quando o se-
gundo elemento começa por vogal, m ou n (além de h, caso já conside-
rado atrás na alínea a): circum-adjacência, circum-ambiente, circum-
anal, circum-articular, circum-escolar, circum-hospitalar, circum-
mediterrâneo, circum-meridiano, circum-murado, circum-navegação,
circum-oral, circum-orbital, circum-uretral; pan-africano, pan-america-
no, pan-eslavismo, pan-harmônico, pan-helênico, pan-hispânico, pan-
iconografia, pan-mágico, pan- -negritude, pan-oftalmite;
d) Nas formações com os prefixos hiper, inter e super, quando
combinados com elementos iniciados por r: hiper-rancoroso, hiper-rea-
lismo, hiper-requintado, hiper-rugoso, inter-racial, inter-regional, inter-
-relação, inter-resistente, super-reação, super-real, super-representação,
super-resfriado, super-revista.
e) Nas formações com os prefixos ex (com o sentido de estado an-
terior ou cessamento), sota, soto, vice e vizo: ex-almirante, ex-amigo, ex-
deputado, ex-diretor, ex-hospedeira, ex-noiva, ex-marido, ex-presidente,
101 Incluem-se neste princípio geral os prefixos e pseudoprefixos terminados por vogal: agro, albi, an-te, ântero, anti, arqui, auto, beta, bi, bio, contra, eletro, euro, ínfero, infra, íntero, iso, macro, mega, mul-
ti, poli, póstero, pseudo, súpero, neuro, orto, neo, semi, sobre, supra etc.
Bechara lembra que o encontro de vogais iguais tem facilitado o aparecimento de formas reais ou pos-síveis com crase, possibilitando o surgimento de duplas grafias do tipo alfaglutinação e alfa-aglutinação;
ovadoblongo e ovado-oblongo. Atendendo-se, porém, à regra geral de hifenizar o encontro de vogais iguais, é preferível evitar a crase, exceto nos casos já consagrados pelo uso, como telespectador e radi-ouvinte, por exemplo.
100
ex-primeiro-ministro, ex-rei; sota-almirante, sota-capitânia, sota-
capitão, sota-comitre, sota-embaixador, sota-general, sota-mestre, sota-
ministro, sota-piloto, sota-proa, sota-vento, sota-voga; soto-almirante,
soto-capitães, soto-mestre, soto-piloto-mor, soto-pôr (mas sobrepor), so-
to-posto, soto-soberania; vice-almirante, vice-campeão, vice-
comandante, vice-diretor, vice-presidente, vice-rei, vice-reitor, vice-tute-
la, vizo-rei.
f) Nas formações com os prefixos tônicos acentuados graficamen-
te pós, pré e pró, quando o segundo elemento tem vida à parte (ao con-
trário do que acontece com as correspondentes formas átonas que se
aglutinam com o elemento seguinte)102: pós--graduação, pós-tônicos
(mas pospor); pré-escolar, pré-história, pré-natal (mas prever), pré-
requisito; pró-africano, pro-ativo, pró- -europeu (mas promover).
2o) Não se emprega, pois, o hífen:103
a) Nas formações em que o prefixo ou falso prefixo104 termina em
vogal e o segundo elemento começa por r ou s, devendo estas consoantes
duplicar-se, prática, aliás, já generalizada em palavras deste tipo perten-
centes aos domínios científico e técnico. Assim: antessala, antirreligio-
so, antissemita, antissocial, autorregulamentação, biorritmo, biossatéli-
te, contrarregra, contrassenha, cosseno, eletrossiderurgia, extrarregu-
lar, infrarrenal, infrassom, microrradiografia, microssistema, minissaia,
102 Assim como o prefixo co, os prefixos átonos pro, pre e re se aglutinam com o segundo elemento,
mesmo quando iniciado por o ou e: preeleito, preembrião, preeminência, preenchido, preesclerose, preestabelecer, preexistir, procônsul, proembrião, proeminente, prolepse, propor, reedição, reedifi-
car, reelaborar, reeleição, reeducação, reelaborar, reenovelar, reentrar, reescrita, irreelegível.
103 Também não se emprega o hífen com a palavra não e com a palavra quase – com função prefixal:
não agressão, não beligerante, não cooperação, não fumante, não participação, não periódico, não vio-lência, quase crime, quase estrela, quase nada, quase posse, quase renda etc.
"Está claro que, para atender as especiais situações de expressividade estilística com a utilização de re-
cursos ortográficos, se pode recorrer ao emprego do hífen nestes e em todos os outros casos que o uso permitir". (Academia, 2009, p. II).
104 Falso prefixo é o radical de origem grega ou latina que assume o sentido global de um vocábulo do qual antes era elemento componente. Exemplo: auto é radical grego que significa “por si mesmo,
próprio”. Com esse sentido, entra na formação de palavras como automóvel: “veículo movido por si mesmo”. Com esse novo sentido, funcionando como primeiro elemento ou falso prefixo, entra na formação de outras palavras: autoestrada, autoescola. (Confira Azeredo, 2008, p. 44)
101
neorrinoplastina, neorromano, protossatélite, pseudossigla, semirrígido,
sobressaia, suprarrenal, ultrassonografia.
b) Nas formações em que o prefixo ou pseudoprefixo termina em
vogal e o segundo elemento começa por vogal diferente, prática esta em
geral já adotada também para os termos técnicos e científicos. Assim: ae-
roespacial, agroindustrial, anteaurora, antiaéreo, autoajuda, autoa-
prendizagem, autoestrada, coadministrar, coautor, coeducação, contra-
escritura, contraespionar, contraindicação, contraofensiva, extraescolar,
extraoficial, extrauterino, hidroelétrico, infraestrutura, infraordem, in-
frauterino, neoafricano, neoimperialismo, plurianual, protoariano,
pseudoalucinação, pseudoepígrafe, retroalimentação, retroiluminar, se-
miárido, sobreaquecer, supraesofágico, supraocular, ultraelevado.
3o) Nas formações por sufixação, o hífen só é empregado nos vo-
cábulos terminados por sufixos [ou radicais pospositivos]de origem tupi-
guarani que representam formas adjetivas, como açu, guaçu e mirim,
quando o primeiro elemento acaba em vogal acentuada graficamente ou
quando a pronúncia exige a distinção gráfica dos dois elementos: açaí-
mirim, acará-guaçu, aí-mirim, amoré-guaçu, anajá-mirim, andá-açu,
andirá-açu, arumã-açu, caeté-mirim, cajá-mirim, capim-açu, cambará-
guaçu, candiru-açu, carandaí-guaçu, Ceará-Mirim, curumim-açu, in-
daiá-mirim, ingá- -mirim, jabuticaba-açu, juá-mirim, jararaca-mirim,
maracanã- -açu, maracujá-mirim, mutum-açu, paraíba-mirim, paraná-
mirim, peroba-açu, sabiá-guaçu, socó-mirim, tamanduá-açu, tangará- -
guaçu, teiú-açu, tucum-açu.
102
BASE XVII
DO HÍFEN NA ÊNCLISE, NA TMESE E
COM O VERBO HAVER
1o) Emprega-se o hífen na ênclise105 e na mesóclise (tmese):106
amá-lo, dá-se, deixa-o, partir-lhe; amá-lo-ei, enviar-lhe-emos.
2o) Não se emprega o hífen nas ligações da preposição de às for-
mas monossilábicas do presente do indicativo do verbo haver: hei de, hás
de, hão de etc.107
Obs.: 1. Embora estejam consagradas pelo uso (em Portugal) as formas
verbais quer e requer, dos verbos querer e requerer, em vez de quere
e requere, estas últimas formas se conservam, no entanto, nos casos de
ênclise: quere-o(s), requere-o(s). Nestes contextos, as formas (legítimas,
aliás) qué-lo e requé-lo são pouco usadas.
2. Usa-se também o hífen nas ligações de formas pronominais en-
clíticas à palavra eis (eis-me, ei-lo) e ainda nas combinações de formas
pronominais do tipo no-lo, vo-las, quando em próclise (por ex.: espera-
mos que no-lo comprem).
105 Ênclise é a incorporação, na pronúncia, de um vocábulo átono ao que o antecede, subordinando-se o átono ao acento tônico do outro. Exemplo: pequei-o. (Confira Azeredo, 2008, p. 46)
106 Tmese ou mesóclise é a colocação do pronome oblíquo átono entre o tema e a desinência das formas verbais do futuro do presente e do futuro do pretérito. Exemplo: amá-la-ia. (Confira Azeredo, 2008, p. 46).
107 Isto não é novidade para nós, brasileiros, mas apenas para os usuários da grafia lusitana.
103
SÍNTESE DO USO DO HÍFEN
EMPREGA-SE O HÍFEN QUANDO
O primeiro elemento é O segundo elemento
é Exemplos Exceções
Prefixo (ou falso prefixo) ter-
minado em vogal (aero, agro,
alfa, ante, anti, arqui, auto,
beta, bi, bio, contra, di, ele-
tro, entre, extra, foto, gama, geo, giga, hetero, hidro, hipo,
homo, infra, intra, iso, lacto,
lipo, macro, maxi, mega, me-
so, micro, mini, mono, morfo,
multi, nefro, neo, neuro, pa-
leo, peri, pluri, poli, proto,
pseudo, psico, retro, semi,
sobre, supra, tele, tetra, tri,
ultra etc.)
iniciado por h ou por
vogal igual à do final
do primeiro elemen-
to.
anti-higiênico,
neo-helênico,
semi-interno,
auto-
observação
O prefixo co sempre se
aglutina ao segundo
elemento.
Não ocorre hífen se o
primeiro elemento for
des- ou in-. Exemplo:
desumano.
Prefixo que termina em r (hi-
per, inter, super) iniciado por h ou r.
hiper-
requintado, su-
per-homem
Prefixo terminado em b (ab,
ob, sob, sub)
iniciado por h, b ou
r.
ab-rupto, sub-
reptício
Prefixo terminado em d (ad) iniciado por h, d ou
r.
ad-renal, ad-
rogar
Prefixos circum e pan iniciado por vogal, h,
m ou n.
circum-
navegação
Pan diante de b e p
passa a pam.
Circum aceita formas
aglutinadas como circu
e circun. Exemplos:
circumurar, circu-
navegar
Prefixo co iniciado por h.
Prefixos além, ântero, aquém,
ex (= condição anterior), pós,
pré, pró, recém, sem, sota, soto, supero, vice- e vizo-
qualquer elemento
ex-professor,
vice-diretor,
pré-vestibular
As formas átonas pos,
pre e pro sempre se
aglutinam ao segundo
elemento. Exemplo:
predestinado.
Elemento terminado por vogal
acentuada graficamente ou
quando a pronúncia o exige
sufixos açu, guaçu e
mirim
teiú-açu, Pará-
guaçu, Ceará-
Mirim
Verbo pronome pessoal do
caso oblíquo átono
amá-lo(s), pe-
dir-lhe(s)
Nos futuros do indicati-
vo, admite-se a mesó-
clise, em que o pronome
fica entre o tema e a de-
sinência, separado por
hifens. Exemplos: amá-
lo-ei, amá-las-íeis.
104
BASE XVIII
DO APÓSTROFO
1o) São os seguintes os casos de emprego do apóstrofo:
a) Faz-se uso do apóstrofo para separar graficamente uma contra-
ção ou aglutinação108 vocabular, quando um elemento ou fração respecti-
va pertence propriamente a um conjunto vocabular distinto: d’Os Lusía-
das, d’Os Sertões; n’Os Lusíadas, n’Os Sertões; pel’Os Lusíadas, pel’Os
Sertões. Nada obsta, contudo, a que estas escritas sejam substituídas por
empregos de preposições íntegras, se o exigir razão especial de clareza,
expressividade ou ênfase: de Os Lusíadas, em Os Lusíadas, por Os Lusí-
adas etc.
As divisões indicadas são análogas às dissoluções gráficas que se
fazem, embora sem emprego do apóstrofo, em combinações da preposi-
ção a com palavras pertencentes a conjuntos vocabulares imediatos: a A
Relíquia, a Os Lusíadas (exemplos: importância atribuída a A Relíquia;
recorro a Os Lusíadas). Em tais casos, como é óbvio, entende-se que a
dissolução gráfica nunca impede na leitura a combinação fonética: a A =
à, a Os = aos etc.
b) Pode ser dividida por meio do apóstrofo uma contração ou
aglutinação vocabular, quando um elemento ou fração respectiva é forma
pronominal e se lhe quer dar realce com o uso de maiúscula: d’Ele,
n’Ele, d’Aquele, n’Aquele, d’O, n’O, pel’O, m’O, t’O, lh’O, casos em
que a segunda parte, forma masculina, é aplicável a Deus, a Jesus etc.;
d’Ela, n’Ela, d’Aquela, n’Aquela, d’A, n’A, pel’A, tu’A, t’A, lh’A, casos
em que a segunda parte, forma feminina, é aplicável à mãe de Jesus, à
108 Aglutinação é a perda de delimitação vocabular entre duas formas que se reúnem por composi-ção ou derivação e passam a constituir um único vocábulo fonético. Exemplo: aguardente (água +
ardente). (Confira Azeredo, 2008, p. 47)
105
Providência etc. Exemplos frásicos: confiamos n’O que nos salvou; esse
milagre revelou-m’O; está n’Ela a nossa esperança; pugnemos pel’A
que é nossa padroeira.
À semelhança das divisões indicadas, uma combinação da prepo-
sição a com uma forma pronominal realçada pela maiúscula pode ser dis-
solvida graficamente, sem o apóstrofo: a O, a Aquele, a Aquela (enten-
dendo-se que a dissolução gráfica nunca impede na leitura a combinação
fonética: a O = ao, a Aquela = àquela etc.). Exemplos frásicos: a O que
tudo pode, a Aquela que nos protege.
c) Emprega-se o apóstrofo nas ligações das formas santo e santa
a nomes do hagiológio109, quando importa representar a elisão110 das vo-
gais finais o e a: Sant’Ana, Sant’Iago etc. É, pois, correto escrever:
Calçada de Sant’Ana. Rua de Sant’Ana; culto de Sant’Iago, Ordem de
Sant’Iago. Mas, se as ligações deste gênero, como é o caso destas mes-
mas Sant’Ana e Sant’Iago, se tornam perfeitas unidades mórficas, os dois
elementos se aglutinam: Fulano de Santana, ilhéu de Santana, Santana
de Parnaíba; Fulano de Santiago, ilha de Santiago, Santiago do Cacém.
Em paralelo com a grafia Sant’Ana e congêneres, emprega-se
também o apóstrofo nas ligações de duas formas antroponímicas, quando
é necessário indicar que na primeira se elide um o final: Nun’Álvares,
Pedr’Eanes.
Note-se que nos casos referidos, as escritas com apóstrofo, indica-
tivas de elisão, não impedem, de modo algum, as escritas sem apóstrofo:
Santa Ana, Nuno Álvares, Pedro Álvares etc.
d) Emprega-se o apóstrofo para assinalar, no interior de certos
compostos, a elisão do e da preposição de, em combinação com substan-
tivos: borda-d’água, cobra-d’água, copo-d’água, estrela- -d’alva, gali-
nha-d’água, mãe-d’água, pau-d’água, pau-d’alho, pau- -d’arco, pau-
d’óleo.
109 Hagiológio é o livro ou tratado sobre santos, ou a lista de nomes de santos. (Confira Houaiss,
2001)
110 Elisão é a modificação fonética decorrente do desaparecimento da vogal final átona diante da ini-
cial vocálica da palavra seguinte. (Confira Azeredo, 2008, p. 48)
106
2o) São os seguintes os casos em que não se usa o apóstrofo:
Não é admissível o uso do apóstrofo nas combinações das prepo-
sições de e em com as formas do artigo definido, com formas pronomi-
nais diversas e com formas adverbiais (excetuado o que se estabelece nas
alíneas 1o) a) e 1o) b) ). Tais combinações são representadas:
a) Por uma só forma vocabular, se constituem, de modo fixo, uni-
ões perfeitas:
i) do, da, dos, das; dele, dela, deles, delas; deste, desta, destes,
destas, disto; desse, dessa, desses, dessas, disso; daquele, daquela, da-
queles, daquelas, daquilo; destoutro, destoutra, destoutros, destoutras;
dessoutro, dessoutra, dessoutros, dessoutras; daqueloutro, daqueloutra,
daqueloutros, daqueloutras; daqui; daí; dali; dacolá; donde; dantes (=
antigamente);
ii) no, na, nos, nas; nele, nela, neles, nelas; neste, nesta, nestes,
nestas, nisto; nesse, nessa, nesses, nessas, nisso; naquele, naquela, na-
queles, naquelas, naquilo; nestoutro, nestoutra, nestoutros, nestoutras;
nessoutro, nessoutra, nessoutros, nessoutras; naqueloutro, naqueloutra,
naqueloutros, naqueloutras; num, numa, nuns, numas; noutro, noutra,
noutros, noutras, noutrem; nalgum, nalguma, nalguns, nalgumas, nal-
guém.
b) Por uma ou duas formas vocabulares, se não constituem, de
modo fixo, uniões perfeitas (apesar de serem correntes com esta feição
em algumas pronúncias): de um, de uma, de uns, de umas, ou dum, duma,
duns, dumas; de algum, de alguma, de alguns, de algumas, de alguém,
de algo, de algures, de alhures, ou dalgum, dalguma, dalguns, dalgumas,
dalguém, dalgo, dalgures, dalhures; de outro, de outra, de outros, de ou-
tras, de outrem, de outrora, ou doutro, doutra, doutros, doutras, dou-
trem, doutrora; de aquém ou daquém; de além ou dalém; de entre ou
dentre.
De acordo com os exemplos deste último tipo, tanto se admite o
uso da locução adverbial de ora avante como do advérbio que representa
a contração dos seus três elementos: doravante.
107
Obs.: Quando a preposição de se combina com as formas articulares ou
pronominais o, a, os, as, ou com quaisquer pronomes ou advérbios co-
meçados por vogal, mas acontece de essas palavras integradas estarem
em construções de infinitivo, não se emprega o apóstrofo, nem se funde a
preposição com a forma imediata, escrevendo-se estas duas separada-
mente: a fim de ele compreender; apesar de o não ter visto; em virtude
de os nossos pais serem bondosos; o fato de o conhecer; por causa de
aqui estares.111
111 Segundo Bechara (2008a, p. 111), “quando se trata de forma pronominal que funciona como obje-to direto, a tradição da língua escrita, quer em Portugal quer no Brasil, é não se juntar a preposição ao pronome átono o, a, os, as nas circunstâncias anteriormente indicadas: apesar de o não ter visto;
o fato de o conhecer”.
Há protestos de linguistas e gramáticos em relação a esta regra ortográfica, não só por normatizar em questão de sintaxe, mas por se opor à tradição em algumas frases populares como "Chegou a
hora da onça beber água".
108
BASE XIX
DAS MINÚSCULAS E MAIÚSCULAS
1o) A letra minúscula inicial é usada:
a) Ordinariamente, em todos os vocábulos da língua nos usos cor-
rentes.
b) Nos nomes dos dias, meses, estações do ano: segunda-feira;
outubro; primavera.
c) Nos bibliônimos112 (após o primeiro elemento, que é com mai-
úscula, os demais vocábulos podem ser escritos com minúscula, salvo
nos nomes próprios nele contidos, tudo em grifo)113: O Senhor do Paço
de Ninães ou O Senhor do paço de Ninães, Menino de Engenho ou Me-
nino de engenho, Árvore e Tambor ou Árvore e tambor.
d) Nos usos de fulano, sicrano, beltrano.
e) Nos pontos cardeais (mas não nas suas abreviaturas): norte, sul
(mas SW sudoeste).
f) Nos axiônimos114 e hagiônimos115 (opcionalmente, neste116 ca-
so, também com maiúscula), exceto nas abreviaturas, conforme o item h,
112 Bibliônimo é o nome, título designativo ou intitulativo de livro impresso ou obra que lhe seja equiparada. (Confira Houaiss, 2001)
113 Considerando-se a prática moderna de uso mais generalizado, é preferível que se escreva com inicial maiúscula apenas o primeiro elemento e os nomes próprios contidos no título, mas o uso das
iniciais maiúsculas nos biblônimos pode ser importante destaque, no corpo do texto. Observe-se, no entanto, que há normatização específica para referência bibliográfica em trabalhos acadêmicos. (Cf. ABNT, NBR 6023 de 2002).
114 Axiônimo é a forma cortês de tratamento ou expressão de reverência. Ex.: Sr., Dr., Vossa Santi-
dade etc. (Confira Azeredo, 2008, p. 30)
115 Hagiônimo é a designação comum aos nomes sagrados e aos nomes próprios referentes a cren-
ças religiosas. Exemplos: Alá, Deus, Jeová, Ressurreição etc. (Confira Azeredo, 2008, p. 50)
109
no item 2o, a seguir: senhor doutor Joaquim da Silva, bacharel Mário
Abrantes, o cardeal Bembo, santa Filomena (ou Santa Filomena).
g) Nos nomes que designam domínios do saber, cursos e discipli-
nas (opcionalmente, também com maiúscula): português (ou Português),
matemática (ou Matemática); línguas e literaturas modernas (ou Lín-
guas e Literaturas Modernas).
2o) A letra maiúscula inicial é usada:
a) Nos antropônimos, reais ou fictícios:117 Pedro Marques, Bran-
ca de Neve, D. Quixote.
b) Nos topônimos, reais ou fictícios: Lisboa, Luanda, Maputo, Rio
de Janeiro; Atlântida, Hespéria.
c) Nos nomes de seres antropomorfizados ou mitológicos: Ada-
mastor; Netuno.
d) Nos nomes que designam instituições: Instituto de Pensões e
Aposentadorias da Previdência Social.
e) Nos nomes de festas e festividades: Natal, Páscoa, Ramadão,
Todos os Santos.
f) Nos títulos de periódicos, que conservam o itálico: O Primeiro
de Janeiro, O Estado de São Paulo (ou S. Paulo).
g) Nos pontos cardeais ou equivalentes, quando empregados abso-
lutamente: Nordeste, por nordeste do Brasil, Norte, por norte de Portugal,
116 O uso do demonstrativo “este” trouxe ambiguidade para esta norma, pois há quem interprete o
pronome como referindo-se ao “caso” dos “axiônimos e hagiônimos” e os que entendem que só se trata do último item (hagiônimos). (Conferir Azeredo, 2008, p. 100; Bechara, 2008a, p. 113; Estrela, 1993, p. 179 e Silva, 2008, p. 33)
117 Os nomes próprios de qualquer natureza (antropônimos, topônimos etc.) que entram na formação
de palavras só devem ser escritos com letra inicial maiúscula quando mantêm o seu significado pri-mitivo, como em além-Brasil, aquém-Atlântico, doença de Chagas, mal de Alzheimer, sistema Didot, Anel de Saturno. Mas deverão ser escritas com minúsculas quando a nova palavra se afasta do sen-
tido primitivo, como em água- -de-colônia, joão-de-barro, erva-de-santa-maria, folha-de-flandres, negócio-da-china, melão-de-são-caetano, pão-do-chile, pão-de-são-joão.
110
Meio-Dia, pelo sul da França ou de outros países, Ocidente, por ocidente
europeu, Oriente, por oriente asiático.118
h) Em siglas, símbolos ou abreviaturas internacionais ou nacio-
nalmente reguladas com maiúsculas, iniciais ou mediais ou finais ou o
todo em maiúsculas: FAO, NATO, ONU; H2O, Sr., V. Exa.
i) Opcionalmente, em palavras usadas reverencialmente, aulica-
mente ou hierarquicamente119, em início de versos, em categorizações de
logradouros públicos: (rua ou Rua da Liberdade, largo ou Largo dos
Leões), de templos (igreja ou Igreja do Bonfim, templo ou Templo do
Apostolado Positivista), de edifícios (palácio ou Palácio da Cultura, edi-
fício ou Edifício Azevedo Cunha).
Obs.: As disposições sobre os usos das minúsculas e maiúsculas não
obstam a que obras especializadas observem regras próprias, provindas
de códigos ou normalizações específicas (terminologias antropológica,
geológica, bibliológica, botânica, zoológica etc.), procedentes de entida-
des científicas ou normalizadoras, reconhecidas internacionalmente.
118 Não se usa inicial maiúscula, portanto, nos nomes de idiomas (tupi, português, latim, inglês etc.) e nos adjetivos pátrios (latino, brasileiro, tupi, xavante etc.), exceto nas situações técnicas exigidas em
trabalhos de Etnografia, Antropologia etc. O uso indiscriminado de iniciais maiúsculas, nestes casos, é estrangeirismo gráfico intolerável.
119 É isto que justifica a utilização de inicial maiúscula em palavras como "Acadêmico", presentes em documentos das academias, e "Professor", nos documentos dos sindicatos desta categoria profissi-
onal, por exemplo.
111
BASE XX
DA DIVISÃO SILÁBICA
A divisão silábica, que em regra se faz pela soletração (a-ba-de,
bru-ma, ca-cho, lha-no, ma-lha, ma-nha, má-xi-mo, ó-xi-do, ro-xo, tme-
se) e na qual, por isso, não tem de atender aos elementos constitutivos
dos vocábulos segundo a etimologia (a-ba-li-e-nar, bi-sa-vó, de-sa-pa-
re-cer, di-sú-ri-co, e-xâ-ni-me, hi-pe-ra-cús-ti-co, i-ná-bil, o-bo-val, o-
bo-voi-de, o-bum-brar, su-bo-cu-lar, su-pe-rá- -ci-do), obedece a vários
preceitos particulares, que rigorosamente cumpre seguir, quando se tem
de fazer em fim de linha, mediante o emprego do hífen, a partição de
uma palavra:
1o) São indivisíveis no interior de palavra, tal como inicialmente,
e formam, portanto, sílaba para a frente as sucessões de duas consoantes
que constituem perfeitos grupos,120 ou (com exceção dos compostos cu-
jos prefixos terminam em b ou d121: ab-legação, ad-ligar, ob-cecar, ob-
ducente, ob-jurgação, ob-nubilar, ob-rogar, ob-sidiar, ob-star, ob-
stringir, ob-struir, ob-temperar, ob-turar, ob-viar, sob-roda, sub-lunar
etc., em vez de a-blegação, a-dligar, o-brogar, so-broda, su-blunar etc.)
aquelas sucessões em que a primeira consoante é uma labial, uma velar,
uma dental ou uma labiodental e a segunda um l ou um r: a-blução, cele-
brar, du-plicação, re-primir, a-clamar, de-creto, de-glutição, re-grado,
a-tlético, cáte-dra, períme-tro, a-fluir, a-fricano, ne-vrose.
2o) São divisíveis no interior da palavra as sucessões de duas con-
soantes que não constituem propriamente grupos e igualmente as suces-
120 Os referidos encontros ou grupos consonantais perfeitos (bl, br, cl, cr, dr, fl, fr, gl, gr, pl, pr, tl, tr
e vr) são indivisíveis.
121 Os referidos prefixos terminados em b e d, que não admitem formar grupos com a consoantes seguintes, são: ab, ad, ob, sob e sub.
112
sões de m ou n, com valor de nasalidade, e uma consoante: ab-dicar, Ed-
gar-do, op-tar, ab-soluto, ad-jetivo, af-ta, bet-samita, íp-silon, ob-viar,
des-cer, dis-ci-plina, flores-cer, nas-cer, res-cisão, ac-ne, ad-mirável,
Daf-ne, dia-frag-ma, drac-ma, ét-nico, rit-mo, sub-meter, am-nésico, in-
teram-nen-se, bir-reme, cor-roer, pror-rogar, as-segurar, bis-secular,
sos-segar, bis-sex-to, con-tex-to, ex-citar, atroz-men-te, capaz-men-te,
in-feliz-men-te, am-bição, desen-ganar, en-xame, man-chu, Mân-lio etc.
3o) As sucessões de mais de duas consoantes ou de m ou n, com o
valor de nasalidade, e duas ou mais consoantes são divisíveis por um de
dois meios: se nelas entra um dos grupos que são indivisíveis (de acordo
com o preceito 1o), esse grupo forma sílaba para diante, ficando a conso-
ante ou consoantes que o precedem ligadas à sílaba anterior; se nelas não
entra nenhum desses grupos, a divisão se dá sempre antes da última con-
soante. Exemplos dos dois casos: cam-braia, ec-tlip-se, em-blema, ex-
plicar, in-cluir, ins- -crição, subs-crever, trans-gredir; abs-ten-ção, disp-
neia, in-ters-telar, lamb-dacis-mo, sols-ticial, Terp-sícore, tungs-tênio.
4o) As vogais consecutivas que não pertencem a ditongos decres-
centes (as que pertencem a ditongos deste tipo nunca se separam: ai-
roso, cadei-ra, insti-tui, ora-ção, sacris-tães, traves-sões) podem, se a
primeira delas não é u precedido de g ou q, e mesmo que sejam iguais,
separar-se na escrita: ala-úde, áre-as, arei-a, cinco- -enta, co-apeba, co-
ordenar, correi-o, do-er, flu-idez, perdo-as, vo-os. O mesmo se aplica
aos casos de contiguidade de ditongos, iguais ou diferentes, ou de diton-
gos e vogais: cai-ais, caí-eis, ensai-os, flu-iu.
5o) Os dígrafos gu e qu nos quais o u não se pronuncia nunca se
separam da vogal ou ditongo imediato (ne-gue, ne-guei; pe-que, pe-quei,
do mesmo modo que as combinações gu e qu nas quais o u é pronuncia-
do: á-gua, ambí-guo, averi-gueis; longín-quos, lo-quaz, quais-quer. [Não
se tratando do dígrafo nem de ditongos, o u dos grupos gu e qu pode ser
separado da vogal seguinte. Ex.: a-gu-e, a-gu-es, a-gu-em, ar-gu-em, a-
ve-ri-gu-e etc.].
113
6o) Na translineação122 de uma palavra composta ou de uma com-
binação de palavras em que há um ou mais de um hífen, se a partição
coincide com o final de um dos elementos ou membros, deve, por clareza
gráfica, repetir-se o hífen no início da linha imediata: serená-los- -emos
ou serená- -los-emos, ex- -alferes, vice- -almirante, ex-vice- -rei ou ex- -
vice-rei etc.
122 Translineação é o ato de passar de uma linha para a outra, na escrita ou na impressão, ficando
parte da palavra na linha superior e o resto na de baixo. (Confira Azeredo, 2008, p. 52)
114
BASE XXI
DAS ASSINATURAS E FIRMAS
Para ressalva de direitos, cada qual pode manter a escrita que, por
costume ou registro legal, adote na assinatura do seu nome.
Com o mesmo fim, a grafia original de quaisquer firmas comerci-
ais, nomes de sociedades, marcas e títulos que estejam inscritos em regis-
tro público pode ser mantida.123
123 Mesmo sendo o próprio que assine o nome, não está obrigado a fazê-lo conforme consta no re-gistro, caso não esteja conforme as normas ortográficas, apesar de ser preferível para evitar trans-tornos burocráticos ou explicações desnecessárias. O professor Bechara é registrado como Evanildo
Cavalcante Bechara, mas assina como Evanildo Bechara; o professor Leodegário é registrado como Leodegário Amarante de Azevedo Filho, mas assina como Leodegário A. de Azevedo Filho. Nin-guém está obrigado a escrever Amós Coêlho da Silva, com acento em Coelho, nem Carlos Eduardo
Falcão Uchôa, com acento em Uchoa, mas pode.
Naturalmente, ninguém deve reclamar de outra pessoa que tenha usado a grafia correta para escre-
ver o seu nome ou o nome de sua empresa, caso este esteja incorreto no registro.
115
SÍNTESE DAS PRINCIPAIS
ALTERAÇÕES NA ORTOGRAFIA DA
LÍNGUA PORTUGUESA
O alfabeto passa a ter 26 letras, acrescentando-se o k, o w e o y.
Deixaram de ser assinalados com acento gráfico:
a) os ditongos éi e ói de palavras paroxítonas, como estreia, pana-
ceia, ideia, jiboia, apoio (verbo) e heroico.
b) as formas verbais creem, deem, leem, veem e seus derivados:
descreem, desdeem, releem, reveem etc., e o hiato oo(s) em palavras
como voo e enjoo.
c) palavras homógrafas como para (verbo/preposição), pela(s)
[substantivo/verbo/per+la(s)/per+lo(s)] etc., mantida a exceção para pôde
(pretérito, em oposição ao presente) e pôr (verbo, em oposição à prepo-
sição).
d) as palavras paroxítonas cujas vogais tônicas i e u são precedi-
das de ditongo. Exemplos: baiuca, boiuna, feiura.
e) o u tônico de formas rizotônicas de arguir e redarguir. Exem-
plos: arguis, argui.
O trema é totalmente eliminado: delinquir, cinquenta, tranquilo,
exceto em algumas palavras aportuguesadas.
Passa a ter dupla grafia facultativa o substantivo fôrma (substan-
tivo)/forma (substantivo ou verbo).
Alguns verbos terminados em iar, como premiar e negociar,
passam a admitir variantes (premio e premeio, negocio e negoceio).
Substantivos como hástia e véstia, que são variantes de haste e de
veste, apresentam terminação uniformizada em ia e io.
116
Verbos como aguar, apaziguar, apropinquar, delinquir passam
a ter dois paradigmas, um com o u tônico em formas rizotônicas sem
acento gráfico (averiguo, ague) e outro com o a ou o i dos radicais acen-
tuados graficamente (averíguo, águe).
Emprega-se o hífen quando o primeiro elemento da palavra é
formado por prefixo (ou falso prefixo) e o segundo elemento é iniciado
por h ou por letra igual à do final do primeiro elemento. Exemplos: anti-
higiênico, neo-helênico, semi-interno, auto- -observação, circum-
hospitalar, circum-mediterrâneo, super-homem, super-real, inter-
hemisférico, inter-racial.
Não se emprega o hífen se a palavra é formada por prefixo ou fal-
so prefixo terminado em vogal e o segundo elemento é iniciado por r ou
s (consoantes que serão duplicadas) ou por outra letra diferente daquela
em que termina o primeiro elemento. Exemplos: cosseno, contrarregra,
antiaéreo.
São escritas aglutinadamente as palavras nas quais o falante con-
temporâneo perdeu a noção de composição: paraquedas, mandachuva.
Nos topônimos, emprega-se o hífen quando: a) iniciados por Grã
e Grão. Exemplo: Grão-Pará; b) iniciados por verbo. Exemplo: Passa-
Quatro; c) seus elementos forem ligados por artigo. Exemplo: Baía de
Todos-os-Santos. Com exceção de Guiné-Bissau, os demais topônimos
compostos são escritos separados e sem hífen. Exemplo: Rio de Janeiro.
Emprega-se o hífen em palavras compostas que designam espé-
cies botânicas e zoológicas: couve-flor, bem-ti-vi.
Emprega-se o hífen para ligar duas ou mais palavras que ocasio-
nalmente se combinam, formando encadeamentos vocabulares: ponte
Rio-Niterói.
Emprega-se o hífen nas palavras formadas com os prefixos ex (=
condição anterior), sota, soto, vice e vizo. Exemplos: ex- -presidente.
Emprega-se o hífen nas palavras cujo primeiro elemento é o pre-
fixo circum ou pan e o segundo elemento é iniciado por vogal, h, m ou
n. Exemplo: circum-navegação.
118
NOTA EXPLICATIVA DO ACORDO
ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA
PORTUGUESA (1990)
1. MEMÓRIA BREVE DOS ACORDOS
ORTOGRÁFICOS
A existência de duas ortografias oficiais da língua portuguesa, a
lusitana e a brasileira, tem sido considerada como largamente prejudicial
para a unidade intercontinental do português e para o seu prestígio no
mundo.
Tal situação remonta, como é sabido, a 1911, ano em que foi ado-
tada em Portugal a primeira grande reforma ortográfica, mas que não foi
extensiva ao Brasil.
Por iniciativa da Academia Brasileira de Letras, em consonância
com a Academia das Ciências de Lisboa, com o objetivo de se minimiza-
rem os inconvenientes desta situação, foi aprovado em 1931 o primeiro
acordo ortográfico entre Portugal e o Brasil. Todavia, por razões que não
importa mencionar, este acordo não produziu, afinal, a tão desejada uni-
ficação dos dois sistemas ortográficos, fato que levou mais tarde à Con-
venção Ortográfica de 1943. Perante as divergências persistentes nos Vo-
cabulários publicados pelas duas Academias, que punham em evidência
os parcos resultados práticos do Acordo de 1943, realizou-se, em 1945,
em Lisboa, um novo encontro entre representantes daquelas duas agremi-
ações, o qual conduziu à chamada Convenção Ortográfica Luso-
Brasileira de 1945. Mais uma vez, porém, este Acordo não produziu os
almejados efeitos, já que foi adotado em Portugal, mas não no Brasil.
Em 1971, no Brasil, e em 1973, em Portugal, foram promulgadas
leis que reduziram substancialmente as divergências ortográficas entre os
119
dois países. Apesar destas louváveis iniciativas, continuavam a persistir,
porém, divergências sérias entre os dois sistemas ortográficos.
No sentido de as reduzir, a Academia das Ciências de Lisboa e a
Academia Brasileira de Letras elaboraram, em 1975, um novo projeto de
Acordo que não foi, no entanto, aprovado oficialmente, por razões de or-
dem política, sobretudo vigentes em Portugal.
E é neste contexto que surge o encontro do Rio de Janeiro, em
maio de 1986, no qual se encontram, pela primeira vez na história da lín-
gua portuguesa, representantes não apenas de Portugal e do Brasil, mas
também dos cinco novos países africanos lusófonos emergidos da desco-
lonização portuguesa.
O Acordo Ortográfico de 1986, conseguido na reunião do Rio de
Janeiro, ficou, porém, inviabilizado pela reação polêmica contra ele mo-
vida sobretudo em Portugal.
2. RAZÕES DO FRACASSO DOS ACORDOS
ORTOGRÁFICOS
Perante o fracasso sucessivo dos acordos ortográficos entre Portu-
gal e Brasil, abrangendo o de 1986 também os países lusófonos de Áfri-
ca, importa refletir seriamente sobre as razões de tal malogro.
Analisando sucintamente o conteúdo dos acordos de 1945 e de
1986, a conclusão que se colhe é a de que eles visavam impor uma unifi-
cação ortográfica absoluta.
Em termos quantitativos e com base em estudos desenvolvidos
pela Academia das Ciências de Lisboa, com base num corpus de cerca de
110.000 palavras, conclui-se que o Acordo de 1986 conseguia a unifica-
ção ortográfica em cerca de 99,5% do vocabulário geral da língua. Mas
tal unificação era conseguida, sobretudo, à custa da simplificação drásti-
ca do sistema de acentuação gráfica, pela supressão dos acentos nas pala-
120
vras proparoxítonas e paroxítonas, o que não foi bem aceito por uma par-
te substancial da opinião pública portuguesa.
Também o Acordo de 1945 propunha uma unificação ortográfica
absoluta que rondava os 100% do vocabulário geral da língua, mas tal
unificação assentava em dois princípios que se revelaram inaceitáveis pa-
ra os brasileiros:
a) Conservação das chamadas consoantes mudas ou não articuladas,
o que correspondia a uma verdadeira restauração destas
consoantes no Brasil, uma vez que elas tinham há muito sido
abolidas;
b) Resolução das divergências de acentuação das vogais tônicas e e
o, seguidas das consoantes nasais m e n, das palavras paroxítonas
(ou esdrúxulas) no sentido da prática portuguesa, que consistia em
grafá-las com acento agudo e não circunflexo, conforme a prática
brasileira.
Assim se procurava, pois, resolver a divergência de acentuação
gráfica de palavras como António e Antônio, cómodo e cômodo, género e
gênero, oxigénio e oxigênio etc., em favor da generalização da acentua-
ção com o diacrítico agudo. Esta solução estipulava, contra toda a tradi-
ção ortográfica portuguesa, que o acento agudo, nestes casos, apenas as-
sinalava a tonicidade da vogal e não o seu timbre, visando assim a resol-
ver as diferenças de pronúncia daquelas mesmas vogais.
A inviabilização prática de tais soluções nos leva à conclusão de
que não é possível unificar por via administrativa divergências que as-
sentam em claras diferenças de pronúncia, um dos critérios, aliás, em que
se baseia o sistema ortográfico da língua portuguesa.
Nestas condições, há de procurar uma versão de unificação orto-
gráfica que acautele mais o futuro do que o passado e que não receie sa-
crificar a simplificação também pretendida em 1986, em favor da máxi-
ma unidade possível. Com a emergência de cinco novos países lusófo-
nos,124 os fatores de desagregação da unidade essencial da língua portu-
124 Hoje são seis, pois o Timor Leste (ex-colônia da Indonésia) passou a integrar também a Comuni-
dade dos Países de Língua Portuguesa.
121
guesa far-se-ão sentir com mais acuidade e também no domínio ortográ-
fico. Neste sentido importa, pois, consagrar uma versão de unificação or-
tográfica que fixe e delimite as diferenças atualmente existentes e previna
contra a desagregação ortográfica da língua portuguesa.
Foi, pois, tendo presentes estes objetivos que se fixou o novo tex-
to de unificação ortográfica, o qual representa uma versão menos forte do
que as que foram conseguidas em 1945 e 1986, mas ainda assim suficien-
temente forte para unificar ortograficamente cerca de 98% do vocabulá-
rio geral da língua.
3. FORMA E SUBSTÂNCIA DO NOVO TEXTO
O novo texto de unificação ortográfica agora proposto contém al-
terações de forma (ou estrutura) e de conteúdo, relativamente aos anterio-
res. Pode-se dizer, simplificando, que em termos de estrutura se aproxi-
ma mais do Acordo de 1986, mas que em termos de conteúdo adota uma
posição mais de acordo com o projeto de 1975, já mencionado.
Em relação às alterações de conteúdo, elas afetam sobretudo o ca-
so das consoantes mudas ou não articuladas, o sistema de acentuação grá-
fica, especialmente das paroxítonas, e a hifenização.
Pode-se dizer ainda que, no que diz respeito às alterações de con-
teúdo, dentre os princípios em que assenta a ortografia portuguesa, o cri-
tério fonético (ou da pronúncia) foi privilegiado com certo detrimento pa-
ra o critério etimológico.
É o critério da pronúncia que determina, aliás, a supressão gráfica
das consoantes mudas ou não articuladas, que se têm conservado na or-
tografia lusitana essencialmente por razões de ordem etimológica.
É também o critério da pronúncia que nos leva a manter certo
número de grafias duplas do tipo de carácter e caráter, facto e fato,
sumptuoso e suntuoso etc.
122
É ainda o critério da pronúncia que conduz à manutenção da dupla
acentuação gráfica do tipo de económico e econômico, efémero e efême-
ro, género e gênero, génio e gênio, ou de bónus e bônus, sémen e sêmen,
ténis e tênis, ou ainda de bebé e bebê, ou metro e metrô etc.
Explicitam-se em seguida as principais alterações introduzidas no
novo texto de unificação ortográfica, assim como a respectiva justificação.
4. CONSERVAÇÃO OU SUPRESSÃO DAS
CONSOANTES C, P, B, G, M E T EM CERTAS
SEQUÊNCIAS CONSONÂNTICAS (BASE IV)
4.1. Estado da questão
Como é sabido, uma das principais dificuldades na unificação da
ortografia da língua portuguesa reside na solução que se deve adotar para
a grafia das consoantes c e p em certas sequências consonânticas interio-
res, já que existem fortes divergências na sua articulação.
Assim, há casos em que estas consoantes são invariavelmente pro-
feridas em todo o espaço geográfico da língua portuguesa, conforme su-
cede em compacto, ficção, pacto; adepto, aptidão, núpcias etc.
Neste caso, não existe qualquer problema ortográfico, já que tais
consoantes não podem deixar de ser grafadas [ver Base IV, 1o, a)].
Noutros casos, porém, dá-se a situação inversa da anterior, ou se-
ja, tais consoantes não são proferidas em nenhuma pronúncia culta da
língua, como acontece em acção, afectivo, direcção, adopção, exacto,
óptimo etc. Neste caso existe um problema: na norma gráfica brasileira
há muito estas consoantes foram abolidas, ao contrário do que sucede na
norma gráfica lusitana, em que tais consoantes se conservam. A solução
que agora se adota [ver Base IV, 1o, b)] é a de suprimi-las, por uma ques-
tão de coerência e de uniformização de critérios (vejam-se as razões de
tal supressão adiante, em 4.2).
123
As palavras afetadas por tal supressão representam 0,54% do vo-
cabulário geral da língua, o que é pouco significativo em termos quanti-
tativos (pouco mais de 600 palavras em cerca de 110.000). Este número
é, no entanto, qualitativamente importante, já que compreende vocábulos
de uso muito frequente (como, por exemplo, acção, actor, actual, colec-
ção, colectivo, correcção, direcção, director, electricidade, factor, factu-
ra, inspector, lectivo, óptimo etc.).
O terceiro caso que se verifica relativamente às consoantes c e p
diz respeito à oscilação de pronúncia, a qual ocorre umas vezes no interi-
or da mesma norma culta (conferir, por exemplo, cacto e cato, dicção ou
dição, sector ou setor etc.), outras vezes entre normas cultas distintas
(conferir, por exemplo, facto, receção em Portugal, mas fato, recepção
no Brasil).
A solução que se propõe para estes casos, no novo texto ortográfi-
co, consagra a dupla grafia [ver Base IV, 1o, c)].
A estes casos de grafia dupla devem ser acrescentadas as poucas
variantes, como súbdito e súdito, subtil e sutil, amígdala e amídala, am-
nistia e anistia, aritmética e arimética, nas quais a oscilação da pronún-
cia se verifica quanto às consoantes b (da sequência bd), g (da sequência
gd), m (da sequência mn) e t (da sequência tm) (ver Base IV, 2o).
O número de palavras abrangidas pela dupla grafia é de cerca de
0,5% do vocabulário geral da língua, o que é pouco significativo (ou seja,
pouco mais de 575 palavras em cerca de 110.000), embora nele se inclu-
am também alguns vocábulos de uso muito frequente.
4.2. Justificativa da supressão de consoantes não
articuladas [Base IV, 1o, b)]
As razões que levaram à supressão das consoantes mudas ou não
articuladas em palavras como ação (acção), ativo (activo), diretor (direc-
tor), ótimo (óptimo) foram essencialmente as seguintes:
124
a) O argumento de que a manutenção de tais consoantes se justifica
por motivos de ordem etimológica, permitindo assinalar melhor a
similaridade com as palavras congêneres das outras línguas româ-
nicas, não tem consistência. Por um lado, várias consoantes eti-
mológicas foram se perdendo na evolução das palavras ao longo
da história da língua portuguesa. Vários são, por outro lado, os
exemplos de palavras deste tipo pertencentes a diferentes línguas
românicas que, embora provenientes do mesmo étimo latino, re-
velam incongruências quanto à conservação ou não das referidas
consoantes.
É o caso, por exemplo, da palavra objecto, proveniente do latim
objectu-, que até agora conservava o c, ao contrário do que sucede
em francês (conferir objet) ou em espanhol (conferir objeto). Do
mesmo modo, projecto (de projectu-) mantinha até agora a grafia
com c, tal como acontece em espanhol (conferir proyecto), mas
não em francês (conferir projet). Nestes casos, o italiano dobra a
consoante, por assimilação (conferir oggetto e progetto). A pala-
vra vitória há muito se grafa sem c, apesar do espanhol victoria,
do francês victoire ou do italiano vittoria. Muitos outros exemplos
poderiam ser citados. Aliás, não tem qualquer consistência a ideia
de que a similaridade do português com as outras línguas români-
cas passa pela manutenção de consoantes etimológicas do tipo
mencionado. Confrontem-se, por exemplo, formas como as se-
guintes: português latim espanhol francês italiano
acidente accidente- accidente accident accidente
dicionário dictionariu- diccionario dictionnaire dizionario
ditar dictare dictar dicter dettare
estrutura structura- estructura structure struttura etc.
Em conclusão, as divergências entre as línguas românicas, neste
domínio, são evidentes, o que não impede, aliás, o imediato reco-
nhecimento da similaridade entre estas formas. Tais divergências
levantam dificuldades à memorização da norma gráfica, na apren-
dizagem destas línguas, mas não é com certeza a manutenção de
125
consoantes não articuladas em português que irá facilitar aquela
tarefa;
b) A justificativa de que as ditas consoantes mudas travam o fecha-
mento da vogal precedente também é de fraco valor, já que, por um
lado, se mantêm na língua palavras com vogal pré-tônica aberta,
sem a presença de qualquer sinal diacrítico, como em corar, padei-
ro, oblação, pregar (= fazer uma prédica) etc., e, por outro, a con-
servação de tais consoantes não impede a tendência para o ensurde-
cimento da vogal anterior em casos como accionar, actual, actuali-
dade, exactidão, tactear etc.;
c) É indiscutível que a supressão deste tipo de consoantes vem facili-
tar a aprendizagem da grafia das palavras em que elas ocorriam.
De fato, como é que uma criança de 6-7 anos pode compreender
que em palavras como concepção, excepção, recepção a consoan-
te não articulada é um p, ao passo que em vocábulos como cor-
recção, direcção, objecção tal consoante é um c?
Só à custa de um enorme esforço de memorização que poderá ser
vantajosamente canalizado para outras áreas da aprendizagem das
línguas;
d) A divergência de grafias existente neste domínio entre a norma
lusitana (que teimosamente conserva consoantes que não se arti-
culam em todo o domínio geográfico da língua portuguesa) e a
norma brasileira (que há muito suprimiu tais consoantes) é in-
compreensível para os lusitanistas estrangeiros, nomeadamente
para professores e estudantes de português, já que lhes cria difi-
culdades suplementares, nomeadamente na consulta aos dicioná-
rios, uma vez que as palavras em causa vêm em lugares diferentes
da ordem alfabética, conforme apresentem ou não a consoante
muda;
e) Uma outra razão, esta de natureza psicológica, embora nem por
isso menos importante, consiste na convicção de que não haverá
unificação ortográfica da língua portuguesa se tal disparidade não
for resolvida;
126
f) Tal disparidade ortográfica só se pode resolver suprimindo da es-
crita consoantes não articuladas, por uma questão de coerência, já
que a pronúncia as ignora, e não tentando impor a sua grafia àque-
les que há muito não as escrevem, justamente por elas não se pro-
nunciarem.
4.3. Incongruências aparentes
A aplicação do princípio, baseado no critério da pronúncia, de que
as consoantes c e p em certas sequências consonânticas se suprimem,
quando não articuladas, conduz a algumas incongruências aparentes, con-
forme sucede em palavras como apocalítico ou Egito (sem p, já que este
não se pronuncia), a par de apocalipse ou egípcio (visto que aqui o p se
articula); noturno (sem c, por este ser mudo), ao lado de noctívago (com
c, por este se pronunciar) etc.
Tal incongruência é apenas aparente. De fato, baseando--se a con-
servação ou supressão daquelas consoantes no critério da pronúncia, o
que não faria sentido seria mantê-las, em certos casos, por razões de pa-
rentesco lexical. Se se abrisse tal exceção, o usuário, ao ter de escrever
determinada palavra, teria de recordar previamente, para não cometer er-
ros, se não haveria outros vocábulos da mesma família que se escreves-
sem com este tipo de consoante.
Aliás, divergências ortográficas do mesmo tipo das que agora se
propõem já foram aceitas nas bases de 1945 (ver Base VI, último pará-
grafo)125, que consagraram grafias como assunção ao lado de assumpti-
vo; cativo a par de captor e captura; dicionário, mas dicção etc. A razão
então aduzida foi a de que tais palavras entraram e se fixaram na língua
125 O referido parágrafo é o seguinte: “Prescinde-se da congruência gráfica referida no último núme-ro, quando determinadas palavras, embora afins, divergem nas condições em que entraram e se fi-
xaram no português. Não há, por isso, que harmonizar: assunção com assumptivo; assunto, subs-tantivo, com assumpto, adjetivo; cativo com captor ou captura; dicionário com dicção; vitória com vic-trice etc. (Apud Bechara, 2008a, p. 129, nota).
127
em condições diferentes. A justificativa da grafia com base na pronúncia
é tão nobre como aquela razão.
4.4. Casos de dupla grafia [Base IV, 1o, alíneas c) e d), e
2o]
Sendo a pronúncia um dos critérios em que assenta a ortografia da
língua portuguesa, é inevitável que se aceitem grafias duplas naqueles
casos em que existem divergências de articulação quanto às referidas
consoantes c e p e ainda em outros casos de menor significação. Torna-
se, porém, praticamente impossível enunciar uma regra clara e abrangen-
te dos casos em que há oscilação entre o emudecimento e a prolação da-
quelas consoantes, já que todas as sequências consonânticas enunciadas,
qualquer que seja a vogal precedente, admitem as duas alternativas: cacto
e cato, caracteres e carateres, dicção e dição, facto e fato, sector e setor;
ceptro e cetro; concepção e conceção, recepção e receção; assumpção e
assunção, perremptório e perentório, suptuoso e suntuoso etc.
De modo geral, pode-se dizer que, nestes casos, o emudecimento
da consoante (exceto em dicção, facto, sumptuoso e poucos mais) é veri-
ficado, sobretudo, em Portugal e nos países africanos, enquanto no Brasil
há oscilação entre prolação e o emudecimento da mesma consoante.
Também os outros casos de dupla grafia (já mencionados em 4.1),
do tipo de súbdito e súdito, subtil e sutil, amígdala e amídala, omniscien-
te e onisciente, aritmética e arimética, muito menos relevantes em ter-
mos quantitativos do que os anteriores, se verificam sobretudo no Brasil.
Trata-se, afinal, de formas divergentes, isto é, do mesmo étimo. As
palavras sem consoante, mais antigas e introduzidas na língua por via po-
pular, já foram usadas em Portugal e se encontram nomeadamente em es-
critores dos séculos XVI e XVII.
Os dicionários da língua portuguesa, que passarão a registrar as
duas formas em todos os casos de dupla grafia, esclarecerão, tanto quanto
128
possível, sobre o alcance geográfico e social desta oscilação de pronún-
cia126.
5. SISTEMA DE ACENTUAÇÃO GRÁFICA
(BASES VIII A XIII)
5.1. Análise geral da questão
O sistema de acentuação gráfica do português atualmente em vi-
gor [até 2012], extremamente complexo e minucioso, remonta essenci-
almente à Reforma Ortográfica de 1911.
Tal sistema não se limita, em geral, a assinalar apenas a tonicida-
de das vogais sobre as quais recaem os acentos gráficos, mas distingue
também o timbre destas.
Tendo em conta as diferenças de pronúncia entre o português eu-
ropeu e o do Brasil, era natural que surgissem divergências de acentuação
gráfica entre as duas realizações da língua.
Tais divergências têm sido um obstáculo à unificação ortográfica
do português.
É certo que em 1971, no Brasil, e em 1973, em Portugal, foram
dados alguns passos significativos no sentido da unificação da acentua-
ção gráfica, como se disse atrás. Mas mesmo assim, subsistem divergên-
cias importantes neste domínio, sobretudo no que respeita à acentuação
das paroxítonas.
Visto que a solução fixada na Convenção Ortográfica de 1945 não
obteve viabilidade prática, conforme já foi referido, duas soluções foram
apresentadas para se procurar resolver esta questão.
126 Neste caso, por exemplo, o Dicionário Aurélio está à frente em relação ao Dicionário Houaiss, apesar de ainda não ter elementos suficientes para informar a abrangência de todas as variantes
gráficas.
129
Uma era conservar a dupla acentuação gráfica, o que constituía
sempre um espinho contra a unificação da ortografia.
Outra era abolir os acentos gráficos, solução adotada em 1986, no
Encontro do Rio de Janeiro.
Esta solução, já preconizada no I Simpósio Luso-Brasileiro sobre
a Língua Portuguesa Contemporânea (conferir Simpósio, 1968), realizado
em 1967 em Coimbra, tinha sobretudo a justificá-la o fato de a língua
oral preceder a língua escrita, o que leva muitos usuários a não emprega-
rem na prática os acentos gráficos, visto que não os consideram indispen-
sáveis à leitura e compreensão dos textos escritos.
A abolição dos acentos gráficos nas palavras proparoxítonas e pa-
roxítonas, preconizada no Acordo de 1986, foi, porém, contestada por
uma larga parte da opinião pública portuguesa, sobretudo por tal medida
ir contra a tradição ortográfica, e não tanto por estar contra a prática or-
tográfica.
A questão da acentuação gráfica tinha, pois, de ser repensada.
Neste sentido, desenvolveram-se alguns estudos e foram feitos vá-
rios levantamentos estatísticos com o objetivo de se delimitarem melhor
e quantificarem com precisão as divergências existentes nesta matéria.
5.2. Casos de dupla acentuação
5.2.1. Nas proparoxítonas (Base XI)
Verificou-se assim que as divergências, no que respeita às propa-
roxítonas, circunscrevem-se praticamente, como já foi destacado, ao caso
das vogais tônicas e e o, seguidas das consoantes nasais m e n127, com as
quais aquelas não formam sílaba (ver Base XI, 3o).
127 As vogais tônicas seguidas de consoantes nasais foram nasalizadas, na evolução do latim para o português, como se pode ver em palavras como limão < limõe < lemone, cão < cãe < cane ou irmão < irmano < germanu etc., sofrendo desnasalização em alguns casos. A nasalização permaneceu, quando não houve o desaparecimento dessas consoantes, exceto em Portugal, onde a deriva não
encontrou o ambiente propício que as línguas indígenas e africanas ofereceram ao português do
130
Estas vogais soam abertas em Portugal e nos países africanos, rece-
bendo, por isso, acento agudo, mas são do timbre fechado em grande parte
do Brasil, grafando-se por conseguinte com acento circunflexo: académi-
co/acadêmico, cómodo/cômodo, efémero/efêmero, fenómeno/fenômeno,
génio/gênio, tónico/tônico etc.
Existe uma ou outra exceção a esta regra, como, por exemplo,
cômoro e sêmola, mas estes casos não são significativos.
Costuma-se, por vezes, referir que o a tônico das proparoxítonas,
quando seguido de m ou n com que não forma sílaba, também está sujei-
to à referida divergência de acentuação gráfica. Mas tal não acontece, po-
rém, já que o seu timbre soa praticamente sempre fechado nas pronúncias
cultas da língua, recebendo, por isso, acento circunflexo: âmago, ânimo,
botânico, câmara, dinâmico, gerânio, pânico, pirâmide.
As poucas exceções a este princípio são os nomes próprios de ori-
gem grega Dánae/Dânae e Dánao/Dânao.
Note-se que se as vogais e e o, assim como a, formam sílaba com
as consoantes m ou n, o seu timbre é sempre fechado em qualquer pro-
núncia culta da língua, recebendo, por isso, acento circunflexo: êmbolo,
amêndoa, argênteo, excêntrico, têmpera, anacreôntico, cômputo, recôn-
dito, cânfora, girândola, Islândia, Lâmpada, sonâmbulo etc.
5.2.2. Nas paroxítonas (Base IX)
Também nos casos especiais de acentuação das paroxítonas ou
graves (ver Base IX, 2o) algumas palavras que contêm as vogais tôni-
cas e e o em final de sílaba, seguidas das consoantes nasais m e n,
apresentam oscilação de timbre nas pronúncias cultas da língua.
Brasil, que preservou essa nasalização. E, preservando a nasalização, essas vogais tônicas manti-
veram também o timbre fechado.
O acento circunflexo, no português do Brasil, não é para indicar timbre, nas vogais nasais ou nasali-zadas, mas, para indicar a tonicidade nelas. Como em Portugal não se preservou a nasalidade, há vogais abertas acentuadas com acento agudo (génio, tónico) e vogais fechadas acentuadas com
acento circunflexo (cômodo, sêmola, âmago).
131
Tais palavras são assinaladas com acento agudo, se o timbre da
vogal tônica é aberto, ou com acento circunflexo, se o timbre é fechado:
fémur (Portugal) ou fêmur (Brasil), Fénix (Portugal) ou Fênix (Brasil),
ónix (Portugal) ou ônix (Brasil), sémen (Portugal) ou sêmen (Brasil),
xénon (Portugal) ou xênon (Brasil), bónus (Portugal) ou bônus (Brasil),
ónus (Portugal) ou ônus (Brasil), pónei (Portugal) ou pônei (Brasil), ténis
(Portugal) ou tênis (Brasil), Vénus (Portugal) ou Vênus (Brasil) etc. No
total, estes são pouco mais de uma dúzia de casos.
5.2.3. Nas oxítonas (Base VIII)
Encontramos igualmente nas oxítonas [ver Base VIII, 1o, a) Obs.]
algumas divergências de timbre em palavras terminadas em e tônico, so-
bretudo provenientes do francês. Se esta vogal tônica soa aberta, recebe o
acento agudo; se soa fechada, grafa-se com acento circunflexo. Também
aqui os exemplos pouco ultrapassam as duas dezenas: bebé ou bebê, ca-
raté ou caratê, croché ou crochê, guiché ou guichê, matiné ou matinê,
puré ou purê etc. Existe também um caso ou outro de oxítonas termina-
das em o ora aberto ora fechado, como sucede em cocó ou cocô, ró ou rô.
A par de casos como este, há formas oxítonas terminadas em o fe-
chado, às quais se opõem variantes paroxítonas, como acontece em judô
e judo, metrô e metro, mas tais casos são muito raros.
5.2.4. Avaliação estatística dos casos de dupla acentuação
gráfica
Tendo em conta o levantamento estatístico que se fez na Aca-
demia das Ciências de Lisboa com base no já referido corpus de cerca
de 110.000 palavras do vocabulário geral da língua, verificou-se que
os casos citados de dupla acentuação gráfica abrangiam aproximada-
mente 1,27% (cerca de 1.400 palavras). Considerando que tais casos
se encontram perfeitamente delimitados, como se referiu atrás, sendo
132
assim possível enunciar a regra de aplicação, optou-se por fixar a du-
pla acentuação gráfica como a solução menos onerosa para a unifica-
ção ortográfica da língua portuguesa.
5.3. Razões de manutenção dos acentos gráficos nas
proparoxítonas e paroxítonas
Resolvida a questão dos casos de dupla acentuação gráfica, como
se disse atrás, já não tinha relevância o principal motivo que levou em
1986 a abolir os acentos nas palavras proparoxítonas e paroxítonas. Em
favor da manutenção dos acentos gráficos nestes casos, ponderaram-se,
pois, essencialmente as seguintes razões:
a) Pouca representatividade (cerca de 1,27%) dos casos de dupla
acentuação;
b) Eventual influência da língua escrita sobre a língua oral, com a
possibilidade de, sem acentos gráficos, se intensificar a tendência
para a paroxitonia, ou seja, deslocamento do acento tônico da an-
tepenúltima para a penúltima sílaba, lugar mais frequente de colo-
cação do acento tônico em português;
c) Dificuldade em apreender corretamente a pronúncia de termos de
âmbito técnico e científico, muitas vezes adquiridos através da
língua escrita (leitura);
d) Dificuldades causadas, com a abolição dos acentos, à aprendiza-
gem da língua, sobretudo quando esta se faz em condições precá-
rias, como no caso dos países africanos, ou em situação de autoa-
prendizagem;
e) Alargamento, com a abolição dos acentos gráficos, dos casos de
homografia, do tipo de análise (substantivo)/ analise (verbo), fá-
brica (substantivo)/ fabrica (verbo), secretária (substantivo)/ se-
cretaria (substantivo e verbo), vária (subs-tantivo, adjetivo e pro-
nome)/ varia (verbo) etc., casos que, apesar de dirimíveis pelo
contexto sintático, levantariam por vezes algumas dúvidas e cons-
133
tituiriam sempre problema para o tratamento informatizado do lé-
xico;
f) Dificuldade em determinar as regras de colocação do acento tôni-
co em função da estrutura mórfica da palavra. Assim, as proparo-
xítonas, segundo os resultados estatísticos obtidos da análise de
um corpus de 25.000 palavras, constituem 12%, cerca de 30% são
falsas proparoxítonas (conferir gênio, água etc.). Dos 70% restan-
tes, que são verdadeiras proparoxítonas (conferir cômodo, gênero
etc.), aproximadamente 29% são palavras que terminam em –ico/-
ica (conferir ártico, econômico, módico, prático etc.). Os 41%
restantes de verdadeiras proparoxítonas se distribuem por cerca de
200 terminações diferentes, em geral de caráter erudito (conferir
espírito; ínclito; púlpito; filólogo; esôfago; epíteto; pássaro; pê-
sames; facílimo; lindíssimo; parênteses etc.).
5.4. Supressão de acentos gráficos em certas palavras
oxítonas128
e paroxítonas (Bases VIII, IX e X)
5.4.1. Em caso de homografia (Bases VIII, 3o, e IX, 9
o e 10
o)
O novo texto ortográfico estabelece que deixem de se acentuar
graficamente palavras do tipo de para (á) (flexão de parar), pelo (ê)
(substantivo), pelo (é) (flexão de pelar) etc., as quais são homógrafas,
respectivamente, das proclíticas para (preposição), pelo (contração de
per e lo) etc.
As razões pelas quais se suprime, nestes casos, o acento gráfico
são as seguintes:
a) Em primeiro lugar, por coerência com a abolição do acento gráfi-
co já consagrado pelo Acordo de 1945, em Portugal, e pela Lei no
5.765, de 18 de dezembro de 1971, no Brasil, em casos semelhan-
tes, como, por exemplo: acerto (ê) (substantivo) e acerto (é) (fle-
128 Observe que também os monossílabos tônicos estão incluídos no termo "oxítonas".
134
xão de acertar); acordo (ô) (substantivo) e acordo (ó) (flexão de
acordar); cor (ô) (substantivo) e cor (ó) (elemento da locução de
cor); sede (ê) e sede (é) (ambos substantivos) etc.
b) Em segundo lugar, porque, tratando-se de pares cujos elementos
pertencem a classes gramaticais diferentes, o contexto sintático
permite distinguir claramente tais homógrafas.
5.4.2. Em paroxítonas com os ditongos ei e oi na sílaba
tônica [Base IX, 4o, a)]
O novo texto ortográfico propõe que não se acentuem graficamen-
te os ditongos ei e oi tônicos das palavras paroxítonas. Assim, palavras
como assembleia, boleia, ideia, que na norma gráfica brasileira se escre-
vem com acento agudo, já que o ditongo soa aberto, passarão a ser escri-
tas sem acento, tal como aldeia, baleia, cheia etc.
Do mesmo modo, palavras como comboio, dezoito, estroina etc.,
em que o timbre do ditongo oscila entre a abertura e o fechamento, passa-
rão a ser grafadas sem acento.
A generalização da supressão do acento nestes casos se justifica
não apenas por permitir eliminar uma diferença entre a prática ortográfi-
ca brasileira e a lusitana, mas ainda pelas seguintes razões:
a) Tal supressão é coerente com a já consagrada eliminação do acen-
to em casos de homografia heterofônica (ver Base IX, 10o, e, neste
texto, em 5.4.1), como sucede, por exemplo, em acerto (substan-
tivo) e acerto (flexão de acertar); acordo (substantivo) e acordo
(flexão de acordar); fora (flexão de ser e ir) e fora (advérbio)
etc.;
b) No sistema ortográfico português não se assinala, em geral, o tim-
bre das vogais a, e e o das palavras paroxítonas, já que a língua
portuguesa se caracteriza pela sua tendência para a paroxitonia. O
sistema ortográfico não admite, pois, a distinção entre, por exem-
plo: cada (â) e fada (á); para (â) e tara (á); espelho (ê) e velho (é);
135
janela (é) e janelo (ê); escrevera (ê) (flexão de escrever) e prima-
vera (é); moda (ó) e toda (ô); virtuosa (ó) e virtuoso (ô) etc.
Então, se não se torna necessário, nestes casos, distinguir pelo
acento gráfico o timbre da vogal tônica, por que se há de usar o diacrítico
para assinalar a abertura dos ditongos ei e oi nas paroxítonas, tendo em
conta que o seu timbre nem sempre é uniforme e a presença do acento
constituiria um elemento perturbador da unificação ortográfica?
5.4.3. Em paroxítonas do tipo de abençoo, enjoo, voo etc.
(Base IX, 8o)
Por razões semelhantes às anteriores, o novo texto ortográfico
consagra também a abolição do acento circunflexo, vigente no Brasil, em
palavras paroxítonas como abençoo (flexão de abençoar), enjoo (subs-
tantivo e flexão de enjoar), moo (flexão de moer), povoo (flexão de po-
voar), voo (substantivo e flexão de voar) etc.
O uso do acento circunflexo não tem aqui qualquer razão de ser,
já que ele ocorre em palavras paroxítonas cuja vogal tônica apresenta a
mesma pronúncia em todo o domínio da língua portuguesa. Além de não
ter qualquer vantagem nem justificativa, constitui um fator que perturba a
unificação do sistema ortográfico.
5.4.4. Em formas verbais com u e ui tônicos, precedidos
de g e q (Base X, 7o).
Não há justificativa para se acentuarem graficamente palavras
como apazigue, arguem etc., já que estas formas verbais são paroxítonas
e a vogal u é sempre articulada, qualquer que seja a flexão do verbo res-
pectivo.
No caso de formas verbais como argui, delinquis etc., também
não há justificativa para o acento, pois se trata de oxítonas terminadas no
ditongo tônico ui, que como tal nunca é acentuado graficamente.
136
Tais formas só serão acentuadas se a sequência ui não formar di-
tongo e a vogal tônica for i, como, por exemplo, arguí (1a pessoa do sin-
gular do pretérito perfeito do indicativo).
6. EMPREGO DO HÍFEN (BASES XV A XVII)
6.1. Estado da questão
No que respeita ao emprego do hífen, não há propriamente diver-
gências assumidas entre a norma ortográfica lusitana e a brasileira. Ao
consultarmos, porém, os dicionários portugueses e brasileiros e ao ler-
mos, por exemplo, jornais e revistas, deparam-se- -nos muitas oscilações
e um largo número de formações vocabulares com grafia dupla, ou seja,
com hífen e sem hífen, o que aumenta desmesurada e desnecessariamente
as entradas lexicais dos dicionários. Estas oscilações se verificam sobre-
tudo nas formações por prefixação e na chamada recomposição, ou seja,
em formações com pseudoprefixos de origem grega ou latina.
Eis alguns exemplos de tais oscilações: ante-rosto e anterrosto,
co-educação e coeducação, pré-frontal e prefrontal, sobre-saia e sobres-
saia, sobre-saltar e sobressaltar, aero-espacial e aeroespacial, auto-
apendizagem e autoaprendizagem, agro-industrial e agroindustrial,
agro-pecuária e agropecuária, alvéolo-dental e alveolodental, bolbo-
raquidiano e bolborraquidiano, geo-história e geoistória, micro-ondas e
microondas etc.
Estas oscilações são, sem dúvida, devidas a certa ambiguidade
e falta de sistematização das regras que foram consagradas no texto
de 1945 sobre esta matéria. Tornava-se, pois, necessário reformulá-
las de modo mais claro, sistemático e simples. Foi o que se tentou fa-
zer em 1986.
A simplificação e redução operadas nessa altura, nem sempre bem
compreendidas, provocaram igualmente polêmica na opinião pública por-
tuguesa, não tanto por uma ou outra incongruência resultante da aplica-
137
ção das novas regras, mas sobretudo por alterarem bastante a prática or-
tográfica neste domínio.
A posição que agora se adota, muito embora tenha tido em conta
as críticas fundamentadas ao texto de 1986, resulta, sobretudo, do estudo
do uso do hífen nos dicionários portugueses e brasileiros, assim como em
jornais e revistas.
6.2. O hífen nos compostos (Base XV)
Sintetizando, pode-se dizer que, quanto ao emprego do hífen nos
compostos, locuções e encadeamentos vocabulares, se mantém o que foi
estatuído em 1945, apenas se reformulando as regras de modo mais claro,
sucinto e simples.
De fato, neste domínio não se verificam praticamente divergên-
cias nem nos dicionários nem na imprensa escrita.
6.3. O hífen nas formas derivadas (Base XVI)
Quanto ao emprego do hífen nas formações por prefixação e tam-
bém por recomposição, isto é, nas formações com pseudoprefixos de ori-
gem grega e latina, apresenta-se alguma inovação. Assim, algumas regras
são formuladas em termos contextuais, como sucede nos seguintes casos:
a) Emprega-se o hífen quando o segundo elemento da formação co-
meça por h ou pela mesma vogal ou consoante com que termina o
prefixo ou pseudoprefixo (por exemplo: anti- -higiênico, contra-
almirante, hiper-resistente);
b) Emprega-se o hífen quando o prefixo ou falso prefixo termina em
m e o segundo elemento começa por vogal, h, m ou n (por exem-
plo: pan-helênico, circum-navegação, circum-murado, pan-
africano).
As regras restantes são formuladas em termos de unidades lexi-
cais, como acontece com oito delas (ex, sota e soto, vice e vizo, pós, pré e
pró).
138
Noutros casos, porém, uniformiza-se o não emprego do hífen, do
seguinte modo:
a) Nos casos em que o prefixo ou o pseudoprefixo termina em vogal
e o segundo elemento começa por r ou s, estas consoantes se du-
plicam, como já acontece com os termos técnicos e científicos
(por exemplo: antirreligioso, microssistema);
b) Nos casos em que o prefixo ou o pseudoprefixo termina em vogal
e o segundo elemento começa por consoante ou por vogal diferen-
te daquela, as duas formas se aglutinam, sem hífen, como já suce-
de igualmente no vocabulário científico e técnico (por exemplo:
antiaéreo, aeroespacial, antipirético).
6.4. O hífen na ênclise e tmese [mesóclise] (Base XVII)
Quanto ao emprego do hífen na ênclise e na mesóclise (tmese),
mantêm-se as regras de 1945, exceto no caso das formas hei de, hás de,
há de etc., em que o hífen passa a ser suprimido. Nestas formas verbais o
uso do hífen não tem justificativa, já que a preposição de funciona ali
como mero elemento de ligação ao infinitivo com que se forma a perífra-
se verbal (conferir hei de ler etc.), na qual de é mais proclítica do que en-
clítica (apoclítica)129.
7. OUTRAS ALTERAÇÕES DE CONTEÚDO
7.1. Inserção do alfabeto (Base I)
Uma inovação que o novo texto de unificação ortográfica apresen-
ta, logo na Base I, é a inclusão do alfabeto, acompanhado das designa-
ções que usualmente são dadas às diferentes letras. No alfabeto português
passam a incluir-se também as letras k, w e y, pelas seguintes razões:
129 Apoclítico é o vocábulo que, não tendo acento próprio, se subordina ao acento da palavra ante-
rior. Portanto, é sinônimo de enclítico. (Cf. Aulete, 1970)
139
a) Os dicionários da língua já registram estas letras, pois existe um
razoável número de palavras do léxico português iniciado por
elas;
b) Na aprendizagem do alfabeto é necessário fixar qual a ordem que
elas ocupam;
c) Nos países africanos de língua oficial portuguesa existem muitas
palavras que se escrevem com elas.
Apesar da inclusão no alfabeto das letras k, w e y, mantiveram- -
se, no entanto, as regras já fixadas anteriormente quanto ao seu uso restri-
tivo, pois existem outros grafemas com o mesmo valor fônico daquelas.
Se, de fato, fosse abolido o uso restritivo daquelas letras, introduzir-se-ia
no sistema ortográfico do português mais um fator de perturbação, ou se-
ja, a possibilidade de representar, indiscriminadamente, por aquelas letras
fonemas que são transcritos por outras.
7.2. Abolição do trema (Base XIV)
No Brasil, só com a Lei no 5.765, de 18 de dezembro de 1971, o
emprego de trema foi largamente restringido, ficando apenas reservado
às sequências gu e qu prepostas a e ou i, nas quais o u se pronuncia (con-
ferir aguentar, aguente, eloquente, equestre etc.).
O novo texto ortográfico propõe a supressão completa do trema,
já acolhida, aliás, no Acordo de 1986, embora não figurasse explicita-
mente nas respectivas bases. A única ressalva, neste aspecto, diz respeito
a palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros com trema (conferir
mülleriano, de Müller etc.).
Generalizar a supressão do trema é eliminar mais um fator que
perturba a unificação da ortografia portuguesa.
140
8. ESTRUTURA DO NOVO TEXTO
Na organização do novo texto de unificação ortográfica optou--se
por conservar o modelo de estrutura já adotado em 1986. Assim, houve a
preocupação de reunir, numa mesma base, matéria afim, dispersa por di-
ferentes bases de textos anteriores, donde resultou a redução destas a 21.
Através de um título sucinto, que antecede cada base, dá-se conta
do conteúdo nela consagrado. Dentro de cada base foi adotado um siste-
ma de numeração (tradicional) que permite uma melhor e mais clara ar-
rumação da matéria ali contida.
141
EXERCÍCIOS DE ORTOGRAFIA130
1) As palavras abaixo estão divididas em suas sílabas, mas um deles se
separaria diferentemente na translineação. Identifique-a: a) abs-tra-
ção; b) fic-ção; c) re-ssu-sci-tar; d) aus-cul-tar; e) con-sig-na-ção.
2) Identifique a afirmação incorreta e assinale-a: a) O acento grave assi-nala a crase; b) Nunca se usa ç antes de e; c) A nasalidade das vogais
sempre se assinala com o til; d) Nenhuma palavra escrita pode rece-
ber mais de um acento gráfico; e) O acento agudo nem sempre indica
timbre aberto.
3) Somente uma das afirmações seguintes está errada. Assinale-a: a) Em
cada sílaba não pode haver mais de uma vogal; b) A semivogal nunca
pode receber o acento gráfico; c) No tritongo ocorrem três vogais; d)
Nem todas as semivogais se representam na escrita; e) A semivogal u pode ser transcrita com a letra o.
4) Identifique a afirmação errônea: a) A letra h é a sexta consoante do
alfabeto português; b) A letra h não corresponde a nenhuma consoan-
te portuguesa; c) A letra h faz parte de alguns dígrafos; d) A letra h
figura no fim de certos vocábulos portugueses; e) A letra h, embora
sem valor fonético, por motivos históricos, figura no início de nume-
rosos vocábulos portugueses.
5) Empregue, no espaço em branco, e ou i, conforme convier:
1. Trajava um terno de cas__mira.
2. Os amigos alarde__aram a vitória antes do tempo.
130 Para a organização deste conjunto de exercícios, utilizamos alguns livros de colegas da Acade-
mia Brasileira de Filologia, indicados nas referências bibliográficas: Ortografia, de Adriano da Gama Kury (1992, p. 55-59); Gramática Escolar, de Evanildo Bechara (2001, p. 625-641) e Nova Gramáti-ca, de Manoel Pinto Ribeiro, (2007, p. 90-118), fazendo as devidas adaptações.
142 3. As respostas não foram __gua__s.
4. Os qu__sitos foram quas__ todos resolvidos.
5. Tiradentes foi vítima de d__lação.
6. Gostei da blusa __ncarnada.
7. O professor comparava o crân__o humano com o dos outros ani-
mais.
8. O carro queimava bastante ól__o.
9. O criado pediu d__spensa do serviço.
10. Sentia arr__pios de frio.
11. Sábado haverá festa de cum__eira.
12. Tinham arr__ado a bandeira às seis horas.
13. Admirava a primeira ár__a da ópera.
14. O secretário d__f__riu o abaixo-assinado.
15. As opiniões pouco d__feriam do que eu havia prenunciado.
16. O elogio foi um escárn__o à opinião pública.
17. O Correio Aér__o muito tem trabalhado para a Pátria.
18. Os garotos brincavam no corr__mão da escada enquanto eu os es-
perava no pát__o.
19. Inaugurou-se outro baln__ár__o.
20. Tais ideias ainda estavam __ncubadas.
21. O caso foi de arr__piar os cabelos.
22. Onde está a chave da d__spensa?
23. A c__r__mônia foi belíssima.
24. A um__dade fez um__decer a parede.
25. Os exercícios estão quas__ prontos, mas não a d__scrição.
26. Bem podia d__scorrer sobre outros assuntos.
27. Os comentários não passaram de uma d__famação criminosa.
28. Desempenhou-se bem da __ncumbência.
29. O professor mandou calcular a ár__a do quadrado.
30. As roupas estavam secando na ár__a.
31. O candidato vai d__sfrutar de excelente bolsa de estudos.
32. Nem todos os qu__sitos da prova foram fáceis.
33. Morava no andar térr__o.
143 34. O resfriado estava __ncubado.
35. A missa foi celebrada pelo card__al.
6) Empregue, no espaço em branco, o ou u, de acordo com o caso:
1. A notícia ainda não vei__.
2. Dizem que o garoto eng__li__ o botão.
3. Nas feiras há muita b__giganga.
4. O inseto pir__etou e foi cair adiante.
5. O inverno atacava-lhe a sin__site.
6. A praça reg__rgitava de gente.
7. A búss__la foi uma notável invenção.
8. A igreja pedia ób__l__ para terminar sua construção.
9. A criada começou a t__ssir.
10. O guerreiro voltou à trib__.
11. Por morar na ilha, tinha o apelido de ins__lano.
12. Ainda não ficara bom da __rticária.
13. Man__el feriu-se com a táb__a.
14. Ficou doente à míng__a de recursos.
15. Não pôde eng__lir a píl__la.
16. Quando bebia água, ouvia-se um r__ído na g__ela.
17. O carv__eiro andara meia lég__a.
18. Não tit__beou na resposta.
19. Vendiam-se t__m__los nas esquinas.
7) Complete as lacunas, quando necessário, com o h:
1. __ontem começou a estudar __arpa.
2. Ó__ José, cuidado com o teu __ombro.
3. Sobrava-lhe __ombridade nas atitudes.
4. A noite estava muito __úmida.
5. O __espanhol estudava assuntos __ispânicos.
6. Nos dias de sol passeava no __iate.
7. Fazíamos uso de pedra __ume.
144 8. Não __esitou em defender a __umanidade.
9. Os egípcios utilizavam __ieróglifos na escrita.
10. Nos tempos __odiernos a __espanha progride a passos largos.
11. A toalha __umedeceu o móvel.
12. A __alucinação acabou em __ilaridade.
13. A bandeira fora __asteada.
14. Não __auriu tantos conhecimentos.
15. A __erva-mate é medicinal.
16. Gostavam de __ombrear-se conosco.
17. O __ermitão entrou na __ermida.
18. Gritaram __urra! quando as equipes entraram em campo.
19. Não fizera operação de __érnia.
20. Os ditongos são mais comuns que os __iatos neste trecho.
21. Era um des__umano.
22. Diante do caso, encolhe os __ombros.
23. A __umidade era prejudicial à sua sinusite.
24. Por __ora, só restava esperar.
25. De __ora em __ora Deus melhora.
26. __ora bolas!
27. A casa estava des__abitada.
28. Aquele era um ato in__umano.
29. Gostava de ler as histórias de Super-__omem.
30. Palavra de __onra que a coisa é assim.
31. O bicho soltava grun__idos.
32. __em? Que dizes?
33. Recebeu de __erança uma grande __erdade.
34. Travou-se um ren__ido combate entre o homem e a fera.
35. O sítio estava __ermo e solitário.
36. Quem só come __ervas é __erbívoro.
37. Aquele comarada é um __erege, por isso não conhece a sublimi-
dade da __óstia.
38. O __indu é o natural da Índia.
39. Todos cantaram o __ino nacional.
145 40. A __igiene protege a saúde.
41. __á cinco anos que cheguei aqui.
42. Daqui __a cinco anos será realizada a construção.
43. A cidade fica __a trezentos quilômetros daqui.
44. Ele ficou __esitante quanto ao __êxito da fábrica.
45. Via-se nele aquela __abitual __umildade.
46. As paredes da geladeira __umedeceram rápido.
47. Há que obedecer-se à __ierarquia.
48. __ui! gritou a moça.
49. Acenderam-se os __olofotes dos carros e ouviu-se uma gargalha-
da __omérica.
8) Complete os espaços em branco com s, ss, c, ç ou x conforme a con-
veniência:
1. Os pa__arinhos cantavam in__e__antemente.
2. Quase abusava da autoridade, ca__ando-lhe a palavra.
3. A prome__a tinha de ser cumprida.
4. A ginástica sem métodos provocava a contor__ão dos músculos.
5. Parecia que havia uma intromi__ão de sua parte.
6. A desaven__a ficou logo desfeita.
7. O can__a__o provoca uma irrita__ão natural.
8. O a__anhamento demonstrava a inten__ão.
9. Os navios so__obraram por lhes faltar o au__ílio ne__e__ário.
10. O an__ião descan__ava com o a__entimento do profi__ional.
11. Depois ado__ou a expre__ão de severidade do seu rosto.
12. Entrou dan__ando, piruetou na sala com uma gra__a inimitável.
13. O espetáculo grandioso impre___ionou aquela imaginação vivaz.
14. Ela ficou absorta no meio da harmonia grave do órgão
con__ertando divinas composições.
15. A fronte calva do pregador a__omou no púlpito; a voz po__ante
encheu o vasto âmbito do templo.
16. A palavra inspirada do apóstolo de Cristo caiu como a chuva de
fogo no monte __inai.
17. Minguaram as po__es; foi-se a abastân__ia.
146 18. Santo fervor brotava-lhe do coração opre__o.
19. Prouve__e a Deus!
20. À tarde ela sentou-se no terra__o, descan__ando, refazendo-se do
can__a__o.
21. A última badalada do sino re__oava ainda pelo espa__o.
22. Havia nele a obstina__ão heróica das grandes paixões.
23. Sentia minguar-lhe a vida à propor__ão que essa voz desfalecia.
24. A memina trave__a era agora uma dama séria e prudente.
25. O rapaz pensava nos embara__os que daí podiam surgir.
26. Que via ele nesse pre__entimento?
27. A sua ambi__ão iria deva__ar mundos ignotos.
28. Havia nos seus lábios um esca__o sorriso de ternura.
29. Para que, do__ura minha, trou__este o presente?
30. __ingiu com o bra__o a __intura da donzela.
31. Para que este disfar__e, se não estou disfar__ando?
32. Um vulto embu__ado apare__eu no terreiro e avan__ou a pa__o e
pa__o.
33. O resultado lhe trou__e alegria.
34. Quando a comida está sem sal, diz-se in__o__a.
35. Ele ficava __ismado com tudo o que eu dizia.
36. Só precisava de muita compreen__ão.
37. Era grande a isen__ão de seu erro.
38. Tal con__e__ão foi-nos de grande valia.
39. Na se__ão de segunda-feira da Câmara, votou-se uma ce__ão de
empréstimo.
40. A a__istência social deve expandir-se.
41. Apre__aram-se em conhecer as inten__ões dele.
42. Era perito na arte de __imula__ão.
43. Era de ver-se como o an__ião estava an__ioso.
44. O rapaz seguia um tanto re__abiado do que ouvira.
45. A tia Eufrásia o escutava com aten__ão religiosa, descrevendo
uma elip__e.
147 9) Empregue c ou sc no espaço em branco, conforme o caso:
1. Pulava o galho o la__ivo passarinho.
2. Ainda não amanhe__eu.
3. Com a chegada da primavera flore__em os campos.
4. Restam remini__ências desse fato.
5. Sua resposta foi muito su__inta.
6. O fato su__itou muitos comentários.
7. O su__edido a todos entriste__eu.
8. Seus olhos eram um fa__ínio.
9. Ele é um homem de muita con__iência.
10. Este romance foi inicialmente publicado em fa__ículos.
11. O alferes fez um sinal de aquie__ência para a pergunta su__itada.
12. Com a queda, ficou uns segundos incon__iente.
13. A sala deitava para o na__ente.
14. As estatísticas provam o cre__imento e a__endência do Brasil.
15. Houve coin__idência na flore__ência naqueles sentimentos.
16. Estava presente o corpo do__ente e o di__ente.
17. Ainda não na__eu quem fosse displi__ente.
18. O fa__ínora foi preso ontem, quando de__ia a ladeira.
19. O quo__iente é oito.
10) Empregue s, z ou x no espaço em branço, conforme o caso, na repre-
sentação do fonema /z/:
1. Conhecia todas as sutile__as e disfarces.
2. Espero que me ajudeis com o vosso avi__ado parecer.
3. O jui__ lia e e__aminava todos os documentos.
4. Os seis je__uítas inclinaram-se em sinal de assentimento.
5. Era natural que todos ficassem surpre__os.
6. Tudo era de ouro e prata e de proporções desme__uradas.
7. Os vastos salões ficaram completamente de__ertos.
8. Havia seis anos que redu__ira os fero__es aimorés da capitania.
9. Qui__estes guardar segredo.
10. Elvira fe__ Cristóvão sentar-se.
148 11. Uma lu__ interior bruxuleou, aparecendo e de__aparecendo, per-
correu qua__e toda a ca__a até parar em uma sala.
12. Nunca tinha re__ado re__as tão comoventes.
13. Acudiu a tia Eufrá__ia arrastando uma saia de fa__enda desbota-
da, fa__endo uma me__ura ao te__oureiro da fa__enda pública.
14. O acidente de__agradável era produ__ido, naquela oca__ião, por
vo__es furio__as e volumo__as.
15. A gente ameaçava esmagar o e__íguo talhe do jurista.
16. Tinha as faces crestadas de nódoas e co__idas de cicatri__es; o nariz vermelho disforme revelava o longo u__o da embriague__.
17. Os juí__es interpu__eram sua autoridade e finali__aram o
de__afio.
18. Tudo está apra__ado para reali__ar-se antes de terminar sua curta
e__istência.
19. Não seja descortês; a descorte__ia provoca um e__ército de quei-
xas.
20. Uma sombra desli__ava pela fronte dando-lhe um cunho miste-
rio__o.
21. A espora ligeira que mordia o salto do bor__equim e a cruz da es-
pada eram de aço.
22. E__aminou minucio__amente a letra e o selo.
23. Foi com alga__arra que receberam o chefe do ba__ar.
24. A ami__ade deve ser cultivada como as flores.
25. O arro__al foi destruído com a chuva de grani__o.
26. A proe__a dos nossos jogadores assombrou os paí__es vi__inhos.
27. Chegara o pra__o de destruir a bali__a.
28. Não dão cami__a a ninguém os jogos de a__ar.
29. Depois do e__ame, passou a e__ercer melhores funções.
30. Queria vencer so__inho o e__ército inimigo.
31. E__ibiu com ê__ito a ra__ão da defe__a lu__itana.
11 Empregue x, ch ou s no espaço em branco, conforme o caso, na re-
presentação do fonema /x/:
1. A pergunta não era de pra__e.
149 2. Ouviu-se na multidão um mu__o__o indelicado.
3. Bru__uleavam as luzes do pátio.
4. Fora tida na conta de bru__a.
5. As pai__ões incontidas en__em a pessoa de ve__ames.
6. Nunca dei__ou de pu__ar a brasa para sua sardinha.
7. O e__plendor daquele rosto iluminava-se e__pontaneamente.
8. Todos estavam na e__pectativa do começo do e__petáculo.
9. E__piou no jejum e penitência os erros da mocidade desregrada.
10. A natureza, por uma misteriosa coincidência, capri__ara em re-
produzir a grande e__tensão de seu talhe.
11. Aproveito para enviar-lhe meu abraço saudoso, e__tensivo a toda
a família.
12. A comi__ão da noite fê-lo acordar e__tremunhado.
13. Suas opiniões e__tremadas e__pontavam a todo instante.
14. E__primia-se com certo lu__o de linguagem.
15. Na hora e__trema dava-se a e__trema-unção.
16. A carta e__traviou-se.
17. Nóbrega e An__ieta plantaram a cruz nos desertos brasileiros.
18. No outro dia, havia um buraco na mo__ila.
19. Apenas me era possível en__ergar o a__teca.
20. Os músculos frou__os me pu__avam.
21. Nas en__ergas, não havia col__ões.
22. O __erife quis fi__ar os presos.
23. Os co__i__os __iavam pelo corredor.
24. Estava de cabeça bai__a, segurando o ar__ote.
25. Sem lu__o, o __á visitou o __adrez.
26. O __eque foi depositado no banco, na agência de Ca__ambi.
27. Não dei__e me__er na __ícara!
28. __ingava de trou__a a todos que condenavam seu deslei__o.
29. Com a en__ada, traga o li__o para essa fai__a.
30. Pu__ava a ta__a que há pouco segurava o quadro.
31. Meu __ará en__otou os animais e foi falar com o dono da __ácara
imensa.
150 32. Gostava de ta__ar os outros de incompetentes.
33. O capu__inho tomou o ar__ote e foi prendê-lo numa bre__a da
parede.
34. Assinou o talão de __eques, comprou fi__as e foi adquirir
pe__in__as.
35. Co__i__ou ao ouvido do pa__orrento almo__arife, evitando uma
ri__a provocada por me__ericos e __istes de engraçadinhos.
36. As frou__as e desen__abidas respostas fizeram-no passar por um
grande ve__ame.
37. Quando rela__ava a limpeza, o escritório ficava uma mi__órdia.
38. O__alá as pró__imas en__urradas não en__am a cidade.
39. O rou__inol trou__e alegria àquele frou__o pôr do sol.
40. A pra__e era tomar o eli__ir ou o __arope para não mur__ar a es-
perança de uma saúde de ferro.
41. Foi com __iste que respondeu à pe__a de pa__orrento.
42. A ta__a do telegrama foi tão alta que teve de preen__er um
__eque.
43. O__alá leia o Dom Qui__ote.
44. Aga__ou-se para apanhar a fi__a que lhe caíra das mãos quando
tentava abrir uma bre__a para saltar do ônibus.
45. O li__eiro, depois da fa__ina, levou os fei__es de capim para o estábulo.
46. Chegando ao __adrez, o policial rela__ou a prisão do jovem.
47. A fazenda se e__tendia por grande e__tensão do Estado.
48. O e__tranho caso impressionou deveras o e__trangeiro.
49. Achavam-se e__gotadas as edições do e__plêndido livro.
50. As empresas tê__teis e__pontaneamente deram o aumento a seus
empregados.
51. A sal__icha estava com um gosto e__quisito.
52. Havia em tudo um mi__to de alegria e tristeza.
53. Com de__treza, o aluno terminou a tradução ju__talinear.
54. Aquela era a se__ta vez que o homem se e__cusava.
55. A prete__to de colaboração, propôs uma ju__ta medida para
e__tinção dos aborrecimentos.
151 56. Essas foram as suas palavras te__tuais.
57. A educação proporciona às pessoas que se integrem no conte__to
social a que aspiram.
58. A e__pectativa aumentava à medida que se aproximava o início
do e__petáculo.
12) Empregue j ou g no espaço em branco, conforme o caso, na represen-
tação do fonema /j/:
1. Havia uma laran__eira no quintal.
2. É monumental a construção de Ribeirão das La__es.
3. Dava de presente umas bu__igangas.
4. As gor__etas estão tabeladas em 10%.
5. É importante o conhecimento da __íria.
6. O pa__é não estava presente à cerimônia.
7. As aves que aqui gor__eiam não gor__eiam como lá.
8. A ma__estade do rei resplandecia.
9. A praça regur__itava de espectadores.
10. O hábito não faz o mon__e.
11. Ainda que via__em bem, sempre a via__em é cansativa.
12. Suas respostas gran__earam várias amizades.
13. A sin__eleza de seus atos encantava todos.
14. O banheiro é todo la__eado.
15. A __iboia alcança tamanhos colossais.
16. Com o suco do __enipapo, muitos índios enegreciam o rosto e o
corpo.
17. Comprou uma blusa de __érsei.
18. Não há __eito de fazer isso?
19. Pegue o __iz e escreva.
20. O pa__em havia fu__ido.
21. Tinha um __esto gracioso.
22. Deixe de fazer tre__eitos.
23. A construção obedecia a rigoroso pro__eto.
24. A in__eção doía pouco, quando in__etada lentamente.
152 25. Com um ramo molhado asper__ia os crentes.
26. Mantinham-na em constante vi__ilância.
27. O reló__io do estran__eiro era valioso.
28. Ninguém tolerava mais suas rabu__ices.
29. Não tu__iu nem mu__iu.
30. O adá__io dizia que o a__iota não metia mão na al__ibeira.
31. Os reló__ios de al__ibeira foram substituídos com vanta__em pe-los de pulso.
32. O mon__e rea__iu às críticas do here__e.
33. A in__eção foi aplicada com pouco __eito no lo__ista.
34. O pro__eto de __eremias era reforçar a la__e.
35. Na feira, as bu__igangas e as ti__elas estavam su__as.
36. O si__ilo e a discrição de __estos são lison__eados pelos filóso-
fos.
37. Na ma__estosa passa__em do castelo, via-se uma dama de
an__elical fisionomia.
38. O estran__eiro usava um tra__e que denunciava sua ori__em an-
tes mesmo de falar.
39. A criança re__eitava qualquer noção de hi__giene.
40. O __iló, a berin__ela e a va__em não agradam a todos os palada-
res.
41. O a__iota dera uma risada frenética.
42. O adá__io ensinava a evitar o contá__io com pessoas de educação
hetero__ênea.
43. A população re__eitou o ultra__e.
44. O __e__um não gran__eia adeptos entre os doentes.
45. O __inete se chamava Pa__é.
13) Assinale a única forma incorreta de cada grupo:
1. a) Inês; b) Teresa; c) Munis; d) Dinis; e) Resende.
2. a) Aluísio; b) Brás; c) Queirós; d) Luísa; e) Izabel.
3. a) deslizar; b) frizar; c) catequizar; d) preconizar; e) cristalizar.
4. a) rezar; b) narureza; c) proeza; d) repreza; e) fineza.
5. a) burguês; b) cortês; c) freguês; d) pedrês; e) embriaguês.
153 6. a) cortesia; b) felismente; c) brasão; d) besouro; e) artesão.
7. a) freguesia; b) analisar; c) cosinhar; d) extravasar; e) usina.
8. a) altesa; b) baronesa; c) marquesa; d) consulesa; e) duquesa.
9. a) gasolina; b) querosene; c) esvasiar; d) pesquisar; e) paralisar.
10. a) Satanás; b) aguarrás; c) ananás; d) camponês; e) xadrês.
11. a) estranjeiro; b) jirau; c) trejeito; d) pajem; e) sarjeta.
12. a) gorjeta; b) jeringonça; c) alforge; d) brejeiro; e) granjear.
13. a) desinteria; b) esquisito; c) meritíssimo; d) inigualável; e) ume-
decer.
14. a) machadiano; b) camoniano; c) euclidiano; d) açoriano; e) anti-
diluviano.
15. a) baleeira; b) cumieira; c) lumeeiro; d) femeeiro; e) catraieiro.
16. a) dilapidar; b) casimira; c) cumeada; d) digladiar; e) escárneo.
17. a) dissemelhante; b) frontispício; c) incorporar; d) intumescer; e)
terebentina.
18. a) destilar; b) empecilho; c) confessionário; d) envólucro; e) des-
pautério.
19. a) sequer; b) quépi; c) parêntese; d) irrequieto; e) encarnação.
20. a) burburinho; b) entabular; c) mágua; d) elucubração; e) bruxule-ante.
21. a) concurrência; b) rebuliço; c) juá; d) curtume; e) chuviscar.
22. a) molambo; b) goela; c) mocambo; d) óbolo; e) jaboti.
23. a) engolir; b) cotia; c) moleque; d) rebotalho; e) estripolia.
24. a) abscesso; b) rescender; c) intumescido; d) enrubescer; e) côns-
cio.
25. a) consciente; b) prescindir; c) resplandescer; d) obsceno; e) res-
suscitar.
26. a) esdrúxulo; b) destra; c) esplêndido; d) espontâneo; e) pretesto.
27. a) asteca; b) escusar; c) escavação; d) estensão; e) expectativa.
28. a) justapor; b) misto; c) escursão; d) estender; e) Sistina (Capela).
29. a) exceção; b) excitar; c) excerto; d) néscio; e) exudar.
30. a) capichaba; b) chuchu; c) chimarrão; d) flecha; e) pixe.
31. a) fuxicar; b) muxoxo; c) carrapixo; d) paxá; e) atarraxar.
154 14) Assinale as alternativas em que está errada a acentuação gráfica:
1. a) item; b) itens; c) hífen; d) hífens; e) ritmo.
2. a) arguo; b) arguis; c) argui; d) arguimos; e) arguís; f) arguem.
3. a) ecoa; b) coa; c) perdoe; d) perdôo; e) magoa (Formas verbais).
4. a) moo; b) móis; c) mói; d) moemos; e) moeis; f) móem.
5. a) bilíngue; b) mínguem; c) delínquem; d) desagúem; e) delínque.
6. a) di-lo-ei; b) fá-lo-ia; c) pô-las-emos; d) retê-lo-ás; e) deduzí-la-íamos.
7. a) harém; b) refém; c) recem-findo; d) reveem; e) contêm (pl.)
8. a) caía; b) contribuía; c) atribuíu; d) saísse; e) raízes.
9. a) córtex; b) têxtil; c) âmbar; d) canon; e) fórceps.
10. a) cáqui; b) caqui (fruta); c) ônus; d) bênção; e) cuscús.
15) Em cada grupo há um vocábulo indevidamente acentuado. Assinale-
o:
1. a) para; b) por (v.); c) sede; d) polo; e) pera.
2. a) magoo; b) coas (v.); c) ser (subst.); d) por (v.); e) pêlo (subst.).
3. a) creem; b) leem; c) deem; d) veem; e) convêm (singular).
4. a) pôde; b) fôrma; c) apoio; d) voo; e) idéia.
5. a) arruíno; b) atraímos; c) atribuíste; d) destrúo; e) destrói.
6. a) reúne; b) reiuno; c) feiura; d) Meier; e) Inhaúma.
7. a) eu apoio; b) comboio; c) arcáico; d) nucleico; e) Nicolau.
8. a) onomatopáico; b) gratuito; c) fluido; d) abençoe; e) continue.
9. a) sobrepôr; b) o desfecho; c) acervo; d) sobre-humano; e) texto.
10. a) abençoo; b) enjoo; c) perdoo; d) coa; e) constróem (verbos).
16) Somente em um dos vocábulos de cada grupo falta o acento devido. Assinale-o:
1. a) mercancia; b) pegada; c) celtibero; d) algaravia; e) Carpatos.
2. a) algarvio; b) Salonica; c) Balcãs; d) Sisifo; e) Gilbraltar.
3. a) avaro; b) libido; c) Niagara; d) ciclope; e) decano.
4. a) barbarie; b) Madagascar; c) blasfemo; d) macabro; e) efebo.
5. a) transfuga; b) estalido; c) homizio; d) inaudito; e) perito.
155 6. a) pudico; b) rubrica; c) pletora; d) recorde; e) exodo.
7. a) geleia; b) assembleia; c) paranoia; d) estoico; e) papeis (subst.).
8. a) tabu; b) obus; c) tupi; d) onus; e) Dinis.
17) Assinale o vocábulo que se acentua em virtude do hiato:
a) cáustico; b) propedêutico; c) Níobe; d) diluísse; e) faríeis.
18) Assinale o único vocábulo de cada grupo cuja sílaba tônica é a penúl-
tima e que, portanto, leva um acento indevido:
1. a) álacre; b) estratégia; c) Antióquia; d) crisântemo; e) azáfama.
2. a) azíago; b) barbárie; c) quadrúmano; d) trânsfuga; e) autódromo.
3. a) ádvena; b) cátodo; c) ínterim; d) prógnato; e) maquinária.
4. a) hieróglifo; b) protótipo; c) reóstato; d) quiromância; e) pólipo.
5. a) gárrulo; b) filântropo; c) lêvedo; d) ômega; e) zênite.
19) Acentue graficamente o que for necessário nas frases abaixo:
1. Não conheço ninguem como voce.
2. Cesar e Roberto vem sempre aqui.
3. Se fores a Niteroi, conquistaras, com paciencia, a Vanderleia.
4. Carmen possui varios albuns de figurinhas.
5. Saude e dinheiro fazem mal a alguem?
6. Trouxeste isso para que?
7. Para que trouxeste isso?
8. Por que?
9. Amanhã mudaras para o Andarai, Grajau, Nova Iguaçu ou Bangu?
10. “Acento e o meio de que se vale uma lingua para por em relevo
uma das silabas de uma palavra”.
20) Acentue graficamente as palavras abaixo, se for necessário. Se houver
dupla pronúncia, assinale-as:
1. avaro 2. recem 3. pegada 4. decano
5. gratuito 6. masseter 7. cotiledone 8. reptil
9. refem 10. batavo 11. Dario 12. batega
13. crisantemo 14. cafila 15. interim 16. ibero
156 17. erudito 18. Niagara 19. levedo 20. rubrica
21) Acentue graficamente, se necessário, os seguintes vocábulos:
1. urubu 2. caju 3. vez 4. ves
5. armazem 6. vintens 7. hifen 8. hifens
9. juri 10. imã 11. album 12. perito
13. recem 14. bonus 15. torax 16. pegada
17. rubrica 18. rispido 19. orgãos 20. orgão
21. eter 22. carater 23. caracteres 24. textil
25. virus 26. joquei 27. magoa 28. filantropo
29. ama-lo-as 30. ve-lo-emos 31. pu-lo 32. fi-lo
33. fa-lo 34. vende-lo-ieis 35. po-lo-ia 36. eden
37. biceps 38. beriberi 39. lapis 40. Cristovão
22) Acentue graficamente, quando necessário:
1. la (adv.) 2. sabias (subst.) 3. sabias(v) 4. sabias (adj.)
5. elas vem 6. ela vem 7. filosofia 8. ele tem
9. sacis 10. America 11. mistério 12. agua (subst.)
13. saci 14. via 15. voces 16. ele ve
17. eles veem 18. ia 19. ruido 20. saia (v. pret.)
21. ideia 22. patroa 23. perseguem 24. quis
25. frequencia 26. virus 27. Xingu 28. Grajau
29. enjoo 30. heroi 31. apoio (v.) 32. apoio
(subst.)
33. sauva 34. coroa 35. heroina 36. hifen
37. hifens 38. raiz 39. raizes 40. moinho
23) Acentue graficamente, quando necessário:
1. ve-lo-emos 2. fa-lo-ei 3. retribuiu 4. linguiça
5. enguiça 6. quinquenio 7. arguo 8. saiu
9. arguis (sing.) 10. arguis (pl.) 11. aquem 12. arguimos
(pres.)
157 13. quociente 14. pauis 15. faixa 16. ruim
17. caiu 18. ruins 19. perdoo 20. ele contem
21. eles contem 22. abotoo 23. uai! 24. tainha
25. Raul 26. saiu 27. corroi (pres.) 28. vendeu
29. ideia 30. patroa 31. coroa 32. apropinque
33. ele detem 34. eles detem 35. eles reveem 36. po-lo-as
37. indica-lo-eis 38. indica-lo-ieis 39. tramoia 40. indica-lo-iamos
24) Acentue graficamente, quando necessário:
1. ibero 2. sanscrito 3. hangar 4. rubrica
5. impudico 6. maquinaria 7. senior 8. alguem
9. totem 10. totens 11. impar 12. ariete
13. avaro 14. aziago 15. tatu 16. novel
17. movel 18. tui 19. are 20. res (gado)
21. res (raso) 22. aurora 23. cruel 24. zenite
25. da-lo 26. sabe-lo 27. fariamos 28. cor
29. mel 30. fe (crença) 31. va 32. vas
33. de (prep.) 34. de (v.) 35. bem 36. bens
37. outrem 38. tu 39. ti 40. me (pron.)
25) Acentue graficamente, quando necessário:
1. o (interj.) 2. so (somente) 3. jilo 4. e (v.)
5. jaca (fruta) 6. jaca (cesto) 7. liquen 8. liquens
9. revolver (subst.) 10. revolver (v.) 11. audaz 12. borax
13. borace 14. index 15. indice 16. canon
17. canones 18. germen 19. germens 20. germe
21. silex 22. leucocito 23. habitat 24. deficit
25. gracil 26. provem (sing.) 27. edens 28. imã (mag-
neto)
29. provem (pl.) 30. provisorio 31. sutil 32. o suplicio
33. eu suplicio 34. jacare-açu 35. ele pos 36. compo-lo
37. orfão 38. provido (cheio) 39. provido (previdente)
158 26) Acentue graficamente, quando necessário:
1. perito 2. fuzil 3. edredom 4. efigie
5. alcool 6. alcoolico 7. quis 8. fiz
9. ha 10. eter 11. polen 12. nivel
13. itens 14. apoia 15. hidraulico 16. amendoa
17. coroo 18. europeia 19. fogareu 20. degrau
21. alibi 22. exercito (v.) 23. folego 24. ninguem
25. harens 26. juri 27. textil 28. projetil
29. anatema 30. estrategia 31. saida 32. fluido
(subst.)
33. veiculo (v.) 34. ele argui 35. tu arguis 36. frequencia
37. tranquilo 38. serie 39. timido 40. tremulo
(adj.)
27) Assinale os vocábulos em que o uso do hífen não está de acordo com
as normas ortográficas vigentes:
1. a) anterrosto; b) anteontem; c) antissemita; d) auto-didata.
2. a) contraindicação; b) infras-som; c) extranumerário; d) semiári-
do.
3. a) extrafino; b) neo-latino; c) supracitado; d) pseudocientífico.
4. a) antiaéreo; b) sobreaviso; c) arqui-irmandade; d) malagradecido.
5. a) pan-germânico; b) bem-soante; c) subchefe; d) subperíodo.
6. a) pré-figurar; b) pressentir; c) coirmão; d) co-herdeiro.
7. a) bissemanal; b) audiovisual; c) hidro-solúvel; d) termoelétrico.
28) Empregue o hífen, quando necessário. Quando os elementos forem
escritos juntos, faça a junção:
1. couve flor 2. pé de moleque 3. guarda roupa 4. galinha
d’angola
5. pé de meia 6. bel prazer 7. el rei 8. a desoras
9. a fim de 10. luso brasileiro 11. fio dental 12. greco roma-
no
13. anajá mirim 14. fim de semana 15. extra oficial 16. auto
educação
159 17. ante histórico 18. vice diretor 19. pré escolar 20. contra almi-
rante
29) Empregue o hífen, quando necessário. Quando os elementos forem
escritos juntos, faça a junção:
1. ex diretor 2. ab rogar 3. sub rogar 4. super humano
5. pan brasileiro 6. pan americano 7. pre anunciar 8. sem vergonha
9. sem cerimônia 10. pré escolar 11. supra renal 12. bem humo-
rado
13. mal humorado 14. pro helênico 15. pro consul 16. arqui milioná-
rio
17. além túmulo 18. co irmão 19. co proprietário 20. néo re-
publicano
30) Empregue o hífen, quando necessário, ou junte os elementos, se for o caso:
1. contra ordem 2. anti nacional 3. contra aviso 4. contra produ-
cente
5. auto suficiente 6. pan hispânico 7. proto mártir 8. pseudo revela-
ção
9. ex prefeito 10. ante sala 11. super herói 12. anti escrava-
gista
13. re inaugurar 14. anti eufônico 15. super lotar 16. extra terrestre
17. super sônico 18. anti histórico 19. sub raça 20. ultra marino
21. anti revolução 22. anti aéreo 23. anti rábico 24. extra curricu-
lar
25. re criar 26. anti tóxico 27. co réu 28. infra verme-
lho
29. ante braço 30. recém vindo 31. bem vindo 32. arqui milio-
nário
33. super sensível 34. semi árido 35. semi culto 36. supra hepáti-
co
37. dá lhe 38. retro agir 39. semi sábio 40. pseudo ma-
chão
160
31) Empregue o hífen, quando necessário, ou junte os elementos, se for o
caso:
1. bem ditoso 2. inter europeu 3. terça feira 4. extra hospita-
lar
5. super bacana 6. hidro avião 7. ab rogar 8. afro brasileira
9. auto sugestão 10. supra sumo 11. bem fazejo 12. pan cromá-
tico
13. intra ocular 14. pos tônico 15. pre tônico 16. extra legal
17. pre dizer 18. amarelo ouro 19. pan asiático 20. água de co-
lônia
21. pós graduação 22. pré nupcial 23. semi aberto 24. pré operató-
rio
25. luso brasileiro 26. bel prazer 27. gira sol 28. mal educado
29. semi círculo 30. treme treme 31. grão duque 32. infra assina-do
33. ultra uterino 34. multi colorido 35. inter pôr 36. auto admi-
ração
37. co autoria 38. pré vestibular 39. super feliz 40. pro pugnar
32) Em algumas palavras dos períodos seguintes, aparecem minúsculas em lugar de maiúsculas ou vice-versa. Emende, quando for preciso:
1. Na idade média, os povos da América do Sul não tinham laços de
amizade com a Europa.
2. Diz o provérbio Árabe: “a agulha veste os outros e vive nua”.
3. A Avenida Afonso pena, em Belo Horizonte, foi ornamentada na
época de Natal.
4. As abelhas se alvoroçaram e foi um Deus-nos-acuda!
5. Já estamos em pleno mês de Dezembro.
6. Os Americanos também cultuam a memória de seus vultos histó-
ricos.
7. Percorremos o país de Norte a Sul.
8. Toda a história do homem sobre a Terra constitui permanente es-forço de comunicação.
161 9. A Primavera, o Verão, o Outono e o Inverno têm durações dife-
rentes.
10. No hemisfério Sul, as estações são opostas às do hemisfério Nor-te.
11. A primeira ferrovia Brasileira foi inaugurada em 1854, pelo Vis-
conde de Mauá.
12. Quem nasce em D. Pedro (Maranhão) é dom-Pedrense.
13. Existe uma planta com o nome de espinho-de-São-João.
14. O espinafre-da-Guiana pode ser cultivado em jardineiras.
15. Olímpio e Mauricélia são Nordestinos.
16. Aproveitamos o feriado da sexta-feira santa para uma excursão ao
nordeste.
17. Hoje não mais se justifica o seu exagerado romantismo.
18. O renascimento foi buscar seus modelos na antiguidade clássica.
19. A nave espacial voyager, dos estados unidos da América, revelou-
nos aspectos insuspeitados de saturno, o planeta dos anéis.
20. O renascimento da democracia trouxe júbilo geral.
21. Cansado da terra, procura o homem conquistar outros planetas.
22. A rua do ouvidor, no rio de janeiro, conserva seu nome tradicio-
nal.
23. Um pensador já disse: “o romantismo, mais do que uma escola, é
um estado de espírito da época”.
24. Dentre as obras de Machado de Assis, tenho especial estima pelos
livros de contos chamados histórias sem data e várias histórias.
25. O jornal do Brasil é editado no rio de janeiro.
26. A união brasileira de escritores, sob a presidência de Edir Meire-
les, é uma instituição que defende os direitos do escritor nacional.
27. A igreja, a partir do pontificado do papa João XXIII, vem se mo-
dernizando.
28. A lei do ventre livre contribuiu para a extinção da escravatura.
29. A lei no 5.765, de 18 de dezembro de 1971, simplificou a acentua-
ção gráfica no Brasil.
30. Efetivamente, o acordo ortográfico da língua portuguesa de 1990 entra em vigor no Brasil no dia 1o de janeiro de 2009.
31. O presidente da república visitará vários países da África.
162 32. Todos aplaudiram o chefe da nação.
33. O chanceler Osvaldo Aranha teve papel saliente na criação do es-
tado de Israel.
34. Num regime parlamentarista há um primeiro-ministro como chefe
do governo.
35. Aguardavam ansiosos os feriados da páscoa.
36. Embora formado em direito, trabalha como vendedor.
37. Os diplomatas precisam conhecer bem o direito internacional.
38. Aos europeus, agrada muito o clima dos trópicos.
39. O trópico de Câncer, que passa ao norte da ilha de Cuba, corta o
México e uma ponta da península da Califórnia.
40. O latim era uma das numerosas línguas da península itálica.
41. A reforma do ensino praticamente extinguiu, entre outras discipli-
nas, o latim e a filosofia.
42. A idade moderna se inicia com a revolução francesa e com as
grandes navegações.
43. O rei Ricardo I da Inglaterra era cognominado “coração de leão”.
44. O presidente Roosevelt, mesmo numa cadeira de rodas, consa-
grou-se como grande estadista.
45. O duque de Caxias é o patrono do exército brasileiro.
163
GABARITO DOS EXERCÍCIOS
1) c.
2) c.
3) c.
4) a.
5) 1i, 2e, 3i i, 4e e, 5e, 6e, 7i, 8e, 9i, 10e, 11e, 12i, 13i, 14e e, 15i, 16i,
17e, 18i i, 19e i, 20i, 21e, 22e, 23e i, 24i e, 25e e, 26i, 27i, 28i, 29e,
30e, 31e, 32e, 33e, 34i, 35e.
6) 1o, 2o u, 3u, 4u, 5u, 6u, 7o, 8o o, 9o, 10o, 11u, 12u, 13u u, 14u,
15o u, 16u o, 17o u, 18u, 19ú u.
7) 1–h, 3h, 5–h, 8h h, 9h, 10h–, 12–h, 13h, 14h, 18h, 19h, 20h, 25h h,
29h, 30h, 31h, 32h, 33h h, 34h, 36–h, 37h h, 38h, 39h, 40h, 41h,
44h–, 45h h, 47h, 48h, 49h h.
8) 1ss c ss, 2ss, 3ss, 4s, 5ss, 6ç, 7s ç ç, 8ss ç, 9ç x c ss, 10c s ss ss, 11ç
ss, 12ç ç, 13ss, 14c, 15ss ss, 16s, 17ss c, 18ss, 19ss, 20ç s s ç, 21ss
ç, 22ç, 23ç, 24ss, 25ç, 26ss, 27ç ss, 28ss, 29ç x, 30c ç c, 31c ç, 32ç
c ç ss ss, 33x, 34s ss, 35c, 36s, 37ç, 38c ss, 39ss ss, 40ss, 41ss ç,
42s ç, 43c s, 44ss, 45ç s.
9) 1sc, 2c, 3sc, 4sc, 5c, 6sc, 7c c, 8sc, 9sc, 10sc, 11sc sc, 12sc, 13sc,
14sc sc, 15c sc, 16c, sc, 17sc c, 18sc sc, 19c.
10) 1z, 2s, 3z x, 4s, 5s, 6s, 7s, 8z z, 9s, 10z, 11z s s s, 12z z, 13s z z s s
z, 14s z s z s s, 15x, 16s z s z, 17z s z s, 18z z x, 19s x, 20z s, 21z,
22x s, 23z z, 24z, 25z z, 26z s z, 27z z, 28s z, 29x x, 30z x, 31x x z
s s.
164
11) 1x, 2x x, 3x, 4x, 5x ch x, 6x x, 7s s, 8x s, 9x, 10ch x, 11x, 12ch s,
13x s, 14x x, 15x x, 16x, 17ch, 18ch, 19x s, 20x x, 21x ch, 22x ch,
23ch ch ch, 24x ch, 25x x x, 26ch, x, 27x x x, 28x x x, 29x x x, 30x
ch, 31x x ch, 32x, 33ch ch ch, 34ch ch ch ch, 35ch ch ch x x x ch,
36x x x, 37x x, 38x x x ch, 39x x, 40x x x ch, 41ch ch ch, 42x ch
ch, 43x x, 44ch ch ch, 45x x x, 46x x, 47s x, 48s s, 49s s, 50x s, 51s
s, 52s, 53s s, 54x s, 55x s x, 56x, 57x, 58x s.
12) 1j, 2j, 3g, 4j, 5g, 6j, 7j j, 8j, 9g, 10g, 11jg, 12j, 13g, 14j, 15j, 16j,
17j, 18j, 19g, 20j g, 21g, 22j, 23j, 24j j, 25g, 26g, 27g g, 28g, 29g g,
30g g g, 31g g g, 32g g g, 33j j j, 34j j j, 35g g j, 36g g j, 37j g g,
38g j g, 39j g, 40j g g, 41g, 42g g g, 43j j, 44j j j, 45g j.
13) 1c, 2a, 3b, 4d, 5e, 6b, 7c, 8a, 9c, 10e, 11a, 12b, 13a, 14e, 15b, 16e,
17e, 18d, 19b, 20c, 21a, 22a, 23e, 24b, 25c, 26e, 27d, 28c, 29e, 30e,
31c.
14) 1d, 2d, 3d, 4f, 5d, 6e, 7c, 8c, 9d, 10e.
15) 1b, 2e, 3e, 4e, 5d, 6d, 7c, 8a, 9a, 10e.
16) 1e, 2d, 3c, 4a, 5a, 6e, 7e, 8d.
17) d.
18) 1d, 2a, 3e, 4d, 5b.
19) 1.ninguém você; 2.César vêm; 3.Niterói conquistarás paciência;
4.Cármen vários álbuns; 5.saúde alguém; 6.quê; 8.quê; 9.mudarás
Andaraí Grajaú; 10.é língua pôr sílabas.
20) 2.recém, 5.(gratuíto), 7.cotilédone, 8.(réptil), 9.refém, 12.bátega,
14.cáfila, 15.ínterim, 18.Niágara, 19.(lêvedo).
21) 4.vês, 5.armazém, 6.vinténs, 7.hífen, 9.júri, 10.ímã, 11.álbum,
13.recém, 14.bônus, 15.tórax, 18.ríspido, 19.órgãos, 20.órgão,
21.éter, 22.caráter, 24.têxtil, 25.vírus, 26.jóquei, 27.mágoa, 29.amá-
lo-ás, 30.vê-lo-emos, 33.fá-lo, 34.vendê-lo-íeis, 35.pô-
-lo-ia, 36.éden, 37.bíceps, 38.beribéri, 39.lápis, 40.Cristóvão.
165
22) 1.lá, 2.sabiás (subst.), 3.sábias (adj.), 5.elas vêm, 10.América,
11.mistério, 12.água, 15.vocês, 16.ele vê, 19.ruído, 20.saía,
25.frequência, 26.vírus, 28.Grajaú, 30.herói, 33.saúva, 35.heroína,
36.hífen, 39.raízes.
23) 1.vê-lo-emos, 2.fá-lo-ei, 6.quinquênio, 10.arguís (pl.), 11.aquém,
12.arguímos (pres.), 20.ele contém, 21.eles contêm, 27.corrói
(pres.), 33.ele detém, 34.eles detêm, 36.pô-lo-ás, 36.indicá-lo-eis,
37.indicá-lo-íeis, 40.indicá-lo-íamos.
24) 2.sânscrito, 7.sênior, 8.alguém, 11.ímpar, 12.aríete, 17.móvel,
18.tuí, 20.rês (gado), 21.rés (raso), 25.dá-lo, 27.faríamos, 30.fé
(crença), 31.vá, 32.vás, 34.dê (v.).
25) 1.ó, 2.só, 3.jiló, 4.é, 6.jacá (cesto), 7.líquen, 9.revólver (subst.),
12.bórax, 14.índex, 15.índice, 16.cânon, 17.cânones, 18.gérmen,
21.sílex, 22.leucócito, 23.hábitat, 24.déficit, 25.grácil, 26.provém
(sing.), 28.ímã (magneto), 29.provêm (pl.), 30.provisório, 32.o
suplício, 34.jacaré-açu, 35.ele pôs, 36.compô-lo, 37.órfão,
39.próvido (previdente).
26) 4.efígie, 5.álcool, 6.alcoólico, 9.há, 10.éter, 11.pólen, 12.nível,
15.hidráulico, 16.amêndoa, 19.fogaréu, 21.álibi, 23.fôlego,
24.ninguém, 25.haréns, 26.júri, 27.têxtil, 29.anátema, 31.saída,
36.frequência, 38.série, 39.tímido, 40.trêmulo.
27) 1e, 2b, 3b, 4d, 5d, 6a, 7c.
28) 1.couve-flor, 3.guarda-roupa, 4.galinha-d’angola, 6.bel-
-prazer, 10.luso-brasileiro, 12.greco-romano, 13.anajá-mirim,
15.extraoficial, 16.autoeducação, 17.ante-histórico, 18.vice-
-diretor, 19.pré-escolar, 20.contra-almirante.
29) 1.ex-diretor, 2.ab-rogar, 3.sub-rogar, 4.super-humano,
5.pambrasileiro, 6.pan-americano, 7.preanunciar, 8.sem-
-vergonha, 9.sem-cerimônia, 10.pré-escolar, 11.suprarrenal,
12.bem-humorado, 13.mal-humorado, 14.pró-helênico,
166
15.procônsul, 16.arquimilionário, 17.além-túmulo, 18.coirmão,
19.coproprietário, 20.neorrepublicano.
30) 1.contraordem, 2.antinacional, 3.contra-aviso, 4.contraproducente,
5.autossuficiente, 6.pan-hispânico, 7.protomártir,
8.pseudorrevelação, 9.ex-prefeito, 10.antessala, 11.super-herói,
12.antiescrevagista, 13.reinaugurar, 14.antieufônico, 15.superlotar,
16.extraterrestre, 17.supersônico, 18.anti-histórico, 19.sub-raça,
20.ultramarino, 21.antirrevolução, 22.antiaéreo, 23.antirrábico,
24.extracurricular, 25.recriar, 26.antitóxico, 27.corréu,
28.infravermelho, 29.antebraço, 30.recém-vindo, 31.benvindo,
32.arquimilionário, 33.supersensível, 34.semiárido, 35.semiculto,
36.supra-hepático, 37.dá-lhe, 38.retroagir, 39.semissábio,
40.pseudomachão.
31) 1.bem-ditoso, 2.intereuropeu, 3.terça-feira, 4.extra-hospitalar,
5.superbacana, 6.hidroavião, 7.ab-rogar, 8.afro-brasileira,
9.autossugestão, 10.suprassumo, 11.bem-fazejo, 12.pancromático,
13.intraocular, 14.postônico, 15.pretônico, 16.extralegal,
17.predizer, 18.amarelo-ouro, 19.pan-asiático, 20.água-de-colônia,
21.pós-graduação, 22.pré-nupcial, 23.semiaberto, 24.pré-
operatório, 25.luso-brasileiro, 26.bel-prazer, 27.girassol, 28.mal-
educado, 29.semicírculo, 30.treme-treme, 31.grão-duque, 32.infra-
assinado, 33.ultrauterino, 34.multicolorido, 35.interpor,
36.autoadmiração, 37.coautoria, 38.pré-vestibular, 39.superfeliz,
40.propugnar.
32) 1.Idade Média, 2.árabe, 3.Pena, 4.deus-nos-acuda, 5.dezembro,
6.americanos, 7.norte sul, 9.primavera verão outono inverno, 10.sul
norte, 11.brasileira, 12.dom-pedrense, 13.são-joão, 14.guiana,
15.nordestinos, 16.Sexta-Feira Santa Nordeste, 18.Renascimento
Antiguidade Clássica, 19.Voyager Estados Unidos Saturno,
21.Terra, 22.Ouvidor Rio de Janeiro, 23.Romantismo, 24.Histórias
Várias, 25.Jornal Rio de Janeiro, 26.União Brasileira de Escritores,
27.Igreja, 28.Lei do Ventre Livre, 29.Lei, 30.Acordo, 35.Páscoa,
167
40.Península Itálica, 42.Idade Moderna Revolução Francesa,
43.Coração de Leão 45. Exército Brasileiro.
169
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ACADEMIA Brasileira de Letras. Vocabulário ortográfico da língua
portuguesa. 5. ed. São Paulo: Global, 2009.
AULETE, Caldas. Dicionário contemporâneo da língua portuguêsa. 2.
ed. Rio de Janeiro: Delta, 1970, 5 vol.
AZEREDO, José Carlos de (coord.). Escrevendo pela nova ortografia:
como usar as regras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa.
1. ed. Instituto Antônio Houaiss / Coordenação e assistência técnica de
José Carlos de Azeredo. São Paulo: Publifolha, 2008.
BECHARA, Evanildo. A nova ortografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira
(Lucerna), 2008a.
––––––.Gramática escolar da língua portuguesa: Para o ensino médio e
cursos preparatórios. 1. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001.
––––––. O que muda com o novo acordo ortográfico. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira (Lucerna), 2008b.
ESTRELA, Edite. A questão ortográfica: Reforma e acordos da língua
portuguesa. Lisboa: Notícias, 1993.
GARCIA, Afrânio da Silva. História da ortografia do português do Bra-
sil. Tese de doutorado em Língua Portuguesa. Rio de Janeiro:
UFRJ/Faculdade de Letras, 1996, 172 fl. + 2 p. não numeradas.
HENRIQUES, Claudio Cezar. Actas da Academia Brazileira de Lettras,
sendo Prezidente o Sr. Machado de Assis (1896-1908). Rio de Janeiro:
UERJ, 2000. Tese de concurso para professor titular de Língua Portugue-
sa. 267 fl. + 184 fl. não numeradas.
––––––. Atas da Academia Brasileira de Letras: Presidência Machado
de Assis (1896-1908). Apresentação de Evanildo Bechara. Rio de Janei-
ro: Academia Brasileira de Letras, 2001, 290 p. ilustradas.
170
––––––. A nova ortografia: o que muda com o acordo ortográfico. São
Paulo: Campus, 2008.
HOUAISS, Antônio. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portugue-
sa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
KURY, Adriano da Gama. Ortografia, pontuação, crase. 2. ed. 5. tir. Rio
de Janeiro: FAE, 1992.
LUFT, Celso Pedro. Grande manual de ortografia Globo. Porto Alegre:
Globo, 2008.
PROENÇA FILHO, Domício. Nova ortografia da língua portuguesa:
guia prático. Rio de Janeiro: Record, 2009.
RIBEIRO, Manoel Pinto. Gramática aplicada da língua portuguesa. 17.
ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Metáfora, 2007.
____. O novo acordo ortográfico: soluções, dúvidas e dificuldades para
o ensino. Rio de Janeiro: Metáfora, 2008.
SACCONI, Luiz Antônio. Novíssima gramática ilustrada Sacconi. Ilus-
trações de Adolar Mendes e Jean Galvão. São Paulo: Nova Geração,
2008.
SILVA, Maurício. O novo acordo ortográfico da língua portuguesa: o
que muda, o que não muda. São Paulo: Contexto, 2008.
____.Ortografia da língua portuguesa: história, discurso, representa-
ções. São Paulo: Contexto, 2009.
SIMPÓSIO Luso-Brasileiro sobre a Língua Portuguesa Contemporânea,
1o, 1968. Coimbra: [s.n.e], 1968, 13 + 332 p. ilust.
TUFANO, Douglas. Guia prático da nova ortografia. Saiba o que mu-
dou na nova ortografia. [s.l.] Melhoramentos, 2008. Disponível em
www.fidusinterpres.com/images/Guia_Reforma_Ortografica_CP.pdf.
Acessado em 01/10/2008.