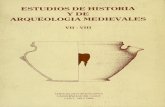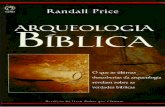Clássicos da Arqueologia Brasileira vol. II livro 1 Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do...
Transcript of Clássicos da Arqueologia Brasileira vol. II livro 1 Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do...
ISB
N 9
78
-85
-60
96
7-4
1-4
9788560967414
José Luiz de Morais é professor do quadro docente da Universidade de São Paulo desde 1978. Geógrafo de formação, é Mestre (1978), Doutor (1980) e Livre-Docente (1999) em Arqueologia Brasileira. É Diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde ocupa o cargo de Professor Titular, Professor Honorário do Instituto Politécnico de Tomar - Portugal (2007) e Professor Colaborador da Escola Superior de Advocacia da OAB-SP (2006); foi Professor Visitante na Universidad Católica de Asunción, Paraguai (1984-85). Presidiu a SAB - Sociedade de Arqueologia Brasileira entre 2001 e 2003.
Começou a carreira de arqueólogo investigando temas relacionados com a produção de pedra lascada na Pré-História da bacia do rio Paranapanema. Hoje, sua área de atuação transita entre a Arqueologia da Paisagem e a Gestão do Patrimônio Arqueo-lógico. É coordenador e consultor técnico de vários projetos de Arqueologia Preventiva relacionados com o licenciamento ambiental, especialmente de usinas hidrelétricas e linhas de transmissão.
Credenciado no Programa de Pós-Graduação de Arqueologia da USP desde 1982, já orientou mais de trinta mestres e doutores. Na administração pública foi Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente de Piraju, sua cidade natal, onde idealizou e implantou o Sistema Municipal de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural.
Preside a Associação ProjPar, organiza-ção não governamental instituída a partir das bases acadêmicas e técnico-científicas do Projeto Paranapanema, programa regional de investigações arqueológicas e ambientais que atua nos municípios paulistas da bacia do rio Paranapanema.
Este livro reproduz o trabalho produzido
por José Luiz de Morais em 1999, para obtenção
do grau de Livre-docente, pela Universidade de
São Paulo, USP.
José Luiz de Morais é professor do quadro docente da Universidade de São Paulo desde 1978. Geógrafo de formação, é Mestre (1978), Doutor (1980) e Livre-Docente (1999) em Arqueologia Brasileira. É Diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde ocupa o cargo de Professor Titular, Professor Honorário do Instituto Politécnico de Tomar - Portugal (2007) e Professor Colaborador da Escola Superior de Advocacia da OAB-SP (2006); foi Professor Visitante na Universidad Católica de Asunción, Paraguai (1984-85). Presidiu a SAB - Sociedade de Arqueologia Brasileira entre 2001 e 2003.
Começou a carreira de arqueólogo investigando temas relacionados com a produção de pedra lascada na Pré-História da bacia do rio Paranapanema. Hoje, sua área de atuação transita entre a Arqueologia da Paisagem e a Gestão do Patrimônio Arqueo-lógico. É coordenador e consultor técnico de vários projetos de Arqueologia Preventiva relacionados com o licenciamento ambiental, especialmente de usinas hidrelétricas e linhas de transmissão.
Credenciado no Programa de Pós-Graduação de Arqueologia da USP desde 1982, já orientou mais de trinta mestres e doutores. Na administração pública foi Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente de Piraju, sua cidade natal, onde idealizou e implantou o Sistema Municipal de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural.
Preside a Associação ProjPar, organiza-ção não governamental instituída a partir das bases acadêmicas e técnico-científicas do Projeto Paranapanema, programa regional de investigações arqueológicas e ambientais que atua nos municípios paulistas da bacia do rio Paranapanema.
Este livro reproduz o trabalho
produzido por José Luiz de Morais em
1999, para obtenção do grau de Livre-
docente, pela Universidade de São Paulo,
USP.
IMPRESSO NO BRASIL PRINTED IN BRAZIL
M827p Morais, José Luiz de
Perspectivas geoambientais da Arqueologia do Paranapanema
Paulista/ José Luiz de Morais. – Erechim, RS : Habilis, 2011.
168 p. ; 21 x 28 cm. – (Clássicos da Arqueologia )
ISBN 978-85-60967-41-4
1. Arqueologia da paisagem 2. Geoarquelogia 3. São Paulo
– Parapanema I. Título II. Série
C.D.U.: 902(815.6)
Catalogação na fonte: bibliotecária Sandra Milbrath CRB 10/1278
Todos os direitos reservados pela SAB-Sociedade de Arqueologia Brasileira.Proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma e por qualquer meio mecânico ou eletrônico, inclusive através de fotocópias e de gravações,sem a expressa permissão do autor.
Preparação de originais e Revisão técnica: Tânia Tomázia do Nascimento
Editoração: Darcy Rudimar Varella Elen Luci da Gama
Capa: José Alfredo Abrão Gabi Cavion
Organizadores: Rossano Lopes Bastos Erika M. Robrahn-González
APRESENTAÇÃO
Quatro anos após o primeiro volume da série “Clássicos” da arqueo-logia brasileira, que visa publicizar trabalhos de excelência e relevância, publicados nos últimos cinquenta anos na arqueologia brasileira, vimos através de um congresso conjunto – XVI Congresso da Sociedade Bra-sileira de Arqueologia e XVI Congresso Mundial da UISPP – apresentar, o segundo volume da série.
Ressaltamos que os critérios de seleção dos trabalhos ora apre-sentados, pautaram-se na excelência, inovação e persistência das obras escolhidas. Enquanto secretário geral do XVI Congresso Mundial da UISPP é uma honra apresentar os autores que abrilhantaram o segundo volume da série: Pedro Ignácio Schmitz, Tom Oliver Miller Junior e José Luiz de Morais.
Arqueólogos que dedicaram suas vidas para a arqueologia, e con-tribuíram para delimitar e marcar os cânones da arqueologia nacional. E embora a arqueologia brasileira, hoje, passe por grandes transformações, com a inserção de métodos, teorias e novas áreas de atuação, advindas com a modernidade, quaisquer trabalho atual estará ligado à matriz arqueológica começada pelos precursores.
Visando divulgar para as gerações presentes e futuras as obras: “Sítios de Pesca Lacustre em Rio Grande, RS, Brasil” de Pedro Ignácio Schmitz, “Duas Fases Paleoindígenas da Bacia de Rio Claro, E. S. Paulo: um Estudo em Metodologia” de Tom Oliver Miller Junior, e “Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista” de José Luiz de Morais, esperamos contribuir com o fácil acesso e democratização do conhecimento, através da publicação do trabalho de pesquisadores que colaboraram para o reconhecimento da arqueologia brasileira em cenário nacional e mundial.
Rossano Lopes BastosSecretário Geral do XVI Congresso Mundial da UISPP
PREFÁCIO
Minha satisfação não encontra paralelos em poder fazer a apre-sentação deste volume, que integra a série “Clássicos” da arqueologia brasileira. Neste trabalho da lavra de um dos arqueólogos mais abertos da academia, Prof. Dr. José Luiz de Morais, a alegria também encontra lugar, pois além de meu mestre, tornou-se meu amigo.
O trabalho aborda uma arqueologia também plural e diversa, sob a chancela da arqueologia da paisagem, faz provocações e apresenta uma metodologia de compreensão da construção do passado bastante atual. Sua escrita é fácil e não violenta, de fácil entendimento e um deslizamento pouco comum.
Não é fácil nas searas da academia inovar sem provocar a polêmica e mesma a ira dos colegas. A universidade tem a pecha de perpetrar as maiores crueldades humanas, e disto todos serão, mais cedo ou mais tarde, vítimas. Enquanto esse tempo não chega, os leitores terão a sa-tisfação de ter em mãos um texto bem construído, ilustrado e de grande apuro técnico-científico.
Tem certas obras que falam muito sobre quem as produz; falam da generosidade, da capacidade de compreensão da vida, falam do mundo e da relação entre as pessoas. É assim que vejo a obra do Prof. Dr. José Luiz de Morais, um homem aberto ao novo, às novas idéias, às práticas inovadoras, compondo o perfil de um pesquisador à altura do seu tempo.
Dessa forma, fico com a impressão que este prefácio talvez seja pequeno, ficando aquém do que deveria ser. Portanto, ao mesmo tempo em que me regozijo, fico em dúvida se realmente estive à altura da tarefa. Se não estive, espero contar com o perdão dos amigos.
Rossano Lopes Bastos Florianópolis, setembro de 2011
CARO LEITOR
É com muita honra que vejo publicada, após doze anos de sua apresentação, minha tese de livre-docência intitulada “ Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista”. Defendida na minha instituição, o Museu de Arqueologia e Etnologia da Universi-dade de São Paulo em 1999, o texto reflete minhas ideias e inquietações daquela época. Assim, o amigo Leitor deve estar atento para a época em que ele foi elaborado; de fato, embora reflita meu modo de pensar a arqueologia ainda no final do século XX, ele deve ser compreendido no contexto das mudanças que ocorreram na passagem para o século XXI.
De 1999 para cá, muita coisa mudou (e vem mudando): as investi-gações arqueológicas avançaram, colocando novos problemas decorren-tes das situações as mais variadas. Na medida do possível, como qualquer pesquisador, procurei acompanhar tais mudanças, embora o cerne das questões até permaneça o mesmo. Entendam que este trabalho sintetiza o início das minhas investidas neste subcampo maravilhoso e riquíssimo que é a arqueologia da paisagem. Como disse, muito coisa mudou, refle-xo dos avanços do modo de encarar os assuntos relacionados com este tema. Por exemplo, lidar com os sistemas regionais de povoamento do Paranapanema, sem descartar as rotinas e os suportes anteriores (como as tradições já consolidadas, por exemplo) é algo que evoluiu bastante. Cito, como exemplo, as questões relacionadas com Umbu e Humaitá. Embora ambas compareçam em várias situações neste trabalho, é fato que Humaitá tem sido repensada (e, mesmo, questionada) e isto tem sido objeto de reavaliação em textos mais recentes de minha autoria.
Outro assunto que destaco: alguma coisa apresentada em ter-mos de planejamento e gestão do patrimônio arqueológico por aquela ocasião — cito, como exemplo, assuntos relacionados com o Engenho dos Erasmos, foi plenamente executada e consta em publicações mais recentes. De qualquer maneira, porém, creio que o texto continua ple-
namente válido, mesmo considerando sua idade, posto que retratou um determinado momento de minha vida como investigador acadêmico.
Na pessoa do grande colega e amigo Rossano Lopes Bastos, gostaria de externar meus sinceros agradecimentos à Comissão Organizadora do Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira e do Congresso Mundial da UISPP, que acontecem em Florianópolis, pela oportunidade da publicação deste trabalho.
A todos, muito obrigado
José Luiz de Morais
Sumário
Introdução............................................................ . 11
Capítulo.1O fatOr geO na arqueOlOgia .................................... 23
Capítulo.2acerca dO planejamentO arqueOlógicO ................... 37
Capítulo.3O fatOr geO na arqueOlOgia rOtineira .................... 55
Capítulo.4O fatOr geO nO resgate arqueOlógicO 115.............. 87
Capítulo.5acerca da gestãO dO patrimôniO arqueOlógicO ............................................................ 109
Conclusão............................................................. . 133
Anexos.................................................................. . 139
Bibliografia........................................................... . 157
INTRODUÇÃO
The “geo” component concentrates upon the landscape, defined in the broadest sense to include the intricatelly related aspects of surface form and morphogenetic systems.
(Bruce G. Gladfelter, 1977)
12
José Luiz de Morais
Palavras.iniciais
“perspectivas geOambientais da arqueOlOgia dO paranapanema paulista” foi o título que escolhemos para esta tese de livre docência apresentada ao Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, neste ano de 1999. Sendo um trabalho reflexivo, ela acaba por consolidar vinte anos de pesquisa arqueológica no trecho paulista da bacia do Rio Paranapanema, iniciado em 1978, quando apresentamos nossa dissertação de mestrado.
Como não poderia deixar de ser, é um trabalho de cunho absolu-tamente pessoal. De fato, os problemas, as hipóteses e as afirmações de cunho técnico e científico são prontamente assumidas como iniciativa nossa (o que certamente não invalida outras). Todavia, uma coerência com a natureza da Arqueologia fêz-se manifestar corriqueiramente: as-sim, não abrimos mão das sugestões e da colaboração de colegas e alunos que, nas diferentes etapas das empreitadas de campo e de laboratório, marcaram forte presença. Embora capitulativo e analítico, o texto pro-cura ir além da mera sistematização, formulando problemas, construindo hipóteses e operacionalizando variáveis, como será explicitado adiante.
Na elaboração desta tese, além da linguagem escrita narrativa, privilegiamos um outro meio de informação que consideramos da mais alta relevância — a cartografia — entendida não como um mero apên-dice ilustrativo mas, sim, como uma fonte inteligente de informações (há quem diga, hoje, que na era da ciência computacional, os mapas são dados, não desenhos). De fato, os mapas são modelos conceituais que contêm a essência de generalizações da realidade (Board, 1975). São instrumentos analíticos úteis que proporcionam a visão do mundo real sob nova luz, permitindo visões inteiramente novas da realidade. São verdadeiros veículos para o fluxo de informações, hoje apresentados nas modalidades digital, analógica ou tátil.
O ideal seria inserir os mapas no âmbito de um sistema de informa-ções geográficas, mais conhecidos por SIG, que não são simples sistemas gráficos ou de mapeamento pois interrelacionam, manipulam e analisam uma variedade de dados geograficamente distribuídos. Além de mapear,
este sistema providencia o armazenamento, o gerenciamento, o resgate, a exibição e a criação de dados referenciados geograficamente. As inves-tigações arqueológicas realizadas pela USP na bacia do Paranapanema caminham rapidamente para a adoção de um sistema de informações geográficas que tenha capacidade de interrelacionar dados pertinentes a diferentes variáveis e/ou diferentes lapsos de tempo (Kathleen et al, 1990). Neste momento, já contamos com vários produtos digitais prontos para tal inserção.
Colocadas as premissas iniciais com relação à virtual paridade entre as mídias que veiculam nossas idéias, cumpre-nos iniciar as dis-cussões que convergirão para a formulação do problema e a construção da hipótese desta tese.
** ** **
Este trabalho seria inútil se não partisse de uma problemática pré-definida, a direcionar a construção da hipótese e a formulação dos objetivos. Assim, como objeto de discussão que proporcione corpo a uma problemática arqueológica para a região do Paranapanema, poderiam ser formuladas as seguintes questões:
Em que medida a interdisciplinaridade “Arqueologia / Geografia / Geomorfologia / Geologia” é imprescindível para a consecução da investigação arqueológica, especialmente aquela de caráter regional, como é o caso do Paranapanema paulista?
Em que medida, os fatores de ordem ambiental colaborarão para a compreensão dos padrões de estabelecimento e para a carac-terização sócio-econômica e cultural do povoamento indígena na bacia do Paranapanema?
Em que medida os fatores geoambientais contribuirão para a consolidação de esquemas de gestão do patrimônio arqueológico evidenciado na bacia do Paranapanema?
13
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
As proposições testáveis que poderão vir a ser solução da proble-mática definida formalizam-se na seguinte hipótese:
No ambiente do Paranapanema paulista, a Arqueologia Regional e seus possíveis desdobramentos inter e intra-sítios, não pode prescindir da parceria com a Geografia, a Geomorfologia e a Geologia em todas as suas etapas operacionais, sob risco da ve-rificação de lacunas e lapsos irreparáveis, frente às necessárias intervenções no registro arqueológico. Os fatores de ordem geoambiental (aqui entendidos o meio ambiente físico-biótico e sócio-econômico) constituem os alicerces para a compreensão e o mapeamento das características sócio-econômicas e culturais das populações indígenas, contribuindo expressivamente para os esquemas de manejo e gestão do patrimônio arqueológico delas herdado.
Isto posto, ficam estabelecidos os seguintes objetivos para este trabalho:
Objetivo.geral:
Ressaltar o grau de significância das possibilidades de relações disciplinares entre a Arqueologia, a Geografia, a Geomorfologia e a Geologia, a partir da definição de uma entidade denominada “fator geo”, tendo como enfoque as pesquisas arqueológicas realizadas no trecho paulista da bacia do Rio Paranapanema.
Objetivos.específicos:
Definir o “fator geo” e sua importância no conteúdo da disciplina arqueológica e seu planejamento.
Avaliar a aplicação do fator geo na prática da arqueologia roti-neira, focalizando o quadro geral das ocupações de caçadores-
coletores e horticultores pré-coloniais e de contato na bacia do Paranapanema paulista.
Avaliar a aplicação do fator geo nas práticas de resgate arque-ológico, a partir de estudo de caso da bacia do Paranapanema paulista.
Avaliar a contribuição do fator geo nos esquemas de gestão do patrimônio arqueológico, com exemplos da arqueologia paulista.
A.região.nuclear
O trecho paulista da bacia do Rio Paranapanema constitui a região nuclear de uma experiência científica, chamada Projeto Paranapanema (ver definição adiante). Afluente da bacia do Rio Paraná superior, o Paranapanema nasce na Serra dos Agudos Grandes, nome regional da Serra de Paranapiacaba, Município de Capão Bonito, não muito distante do litoral. Seu traçado geral obedece, na secção superior, o sentido geral SSE-NNW infletindo, na altura do final do remanso do reservatório da UHE Jurumirim, para o sentido geral L-W, até ser interceptado pelo canal do Rio Paraná, em uma região conhecida por Pontal do Paranapanema (desenho G-PP1).
O Paranapanema forma uma das grandes bacias do Sul-Sudeste brasileiro. São 58.193 km2 no Estado do Paraná e 47.635 km2 no Estado de São Paulo, totalizando 105.828 km2. O comprimento total do canal é 986 km, com declividade média de 0,67 m/km. A amplitude altimétrica é 665 m (a nascente situa-se na cota 903 m snm e a foz em 238 m snm). No Estado de São Paulo, os segmentos da curva de confrontação com as bacias hidrográficas adjacentes estão assim distribuídos: com bacias secundárias do Rio Paraná, na região do Pontal: 154 km; com a bacia do Rio Santo Anastácio: 87 km; com a bacia do Rio do Peixe: 248 km; com a bacia do Rio Aguapeí: 13 km; com a bacia do Rio Tietê: 421 km; com a bacia do Rio Ribeira (somente trecho paulista): 330 km.
14
José Luiz de Morais
Os principais afluentes paulistas do Paranapanema são os rios Taquari (270 km), Pardo (263 km), Itararé (261 km), Itapetininga/Turvo (238 km) e Apiaí-Guaçu (220 km). O sistema de gerenciamen-to das bacias hidrográficas paulistas, instituído pela administração do Estado de São Paulo, divide a bacia do Paranapanema em três secções: bacia superior (21.263 km2), bacia média (14.423 km2) e bacia inferior (11.789 km2).
A partir do final dos anos 30, começaram a ser implantados em-preendimentos hidrelétricos de grande porte por toda a extensão do canal do Rio Paranapanema. De montante para a jusante, são estas as usinas hidrelétricas já implantadas: Jurumirim (1962), Paranapanema (1936), Xavantes (1970), Salto Grande (1958), Canoas 2 (1998); Ca-noas 1 (1998), Capivara (1977), Taquaruçu (1991) e Rosana (1987). Estão projetadas as usinas de Confluência (a montante de Jurumirim) e Piraju (entre Jurumirim e Paranapanema). Na maior parte dos casos, a implantação das hidrelétricas não foi precedida de resgate do patrimônio arqueológico.
Pode-se afirmar que, apenas no caso das hidrelétricas do Complexo Canoas e da UHE Taquaruçu, foi feita uma pesquisa completa (no caso da UHE Salto Grande, Chmyz trabalhou apenas na faixa de depleção do reservatório em formação; no caso da UHE Xavantes, o salvamento foi parcial).
No sentido geológico e geomorfológico, o Paranapanema atravessa todos os grandes compartimentos do relevo paulista e suas respectivas litologias, exceto a planície litorânea. Originário das alturas cristalinas do Planalto Atlântico, o grande rio vence sua primeira percée logo após o contato do cristalino com a Depressão Periférica Paulista. Após atra-vessar os sedimentos antigos da depressão, vence a linha de Cuestas Arenito-Basálticas junto à percée de Jurumirim. Após vencer o planalto vulcânico em curvas sinuosas, subordinadas às fraturas do basalto da região de Piraju, adentra as ondulações do Planalto Ocidental, até a sua foz no Rio Paraná.
O território da bacia é cortado pelo Trópico de Capricórnio o que fatalmente o coloca na faixa de transição entre o tropical e o temperado, mais precisamente entre o tropical e o subtropical. Os climas mesotér-micos prevalecem, com suas várias nuances:
Cwa — clima mesotérmico úmido, com verão quente (tempe-ratura média acima de 220 C) e inverno ameno, tendendo a seco (temperatura média abaixo de 180 C e menos de 30 mm de chuva no mês mais seco).
Cfa — clima subtropical úmido, com verão quente (temperatura média acima de 220 C) e inverno ameno, tendendo a úmido (temperatura média abaixo de 180 C e menos de 30 mm de chuva no mês mais seco).
Cfb — clima subtropical úmido, com verão ameno (tempe-ratura média abaixo de 220 C) e inverno acentuado e úmido (temperatura média abaixo de 180 C e mais de 30 mm de chuva no mês mais seco).
O panorama fitogeográfico do trecho paulista da bacia do Para-napanema resume-se na seguinte situação:
Floresta Ombrófila Densa ou Floresta Tropical Pluvial, que cor-responde à cobertura do quadrante oriental da bacia. Hoje surge como manchas de vegetação secundária (a maior parte do seu antigo território foi tomada por atividades agrícolas e pastoris). Vastos trechos de mata primária ainda permanecem na encosta atlântica. Ocorre sob clima ombrófilo, sem período biologicamente seco durante o ano e, excepcionalmente, com dois meses de umidade escassa (neste caso, porém, há grande umidade concentrada nos ambientes dissecados das serras. Os solos são de baixa fertilidade, ora álicos ou distróficos. Na Serra de Paranapiacaba caracteriza-se pelos agrupamentos de Octea, Euterpe e Talauma.
Floresta Ombrófila Mista ou Floresta de Araucárias, com vegeta-ção secundária (hoje quase totalmente substituída por ativida-des agrícolas). Ocorre sob clima ombrófilo, com temperatura média de 18o C, mas com alguns meses bastante frios (três a seis meses com médias inferiores a 15o C. Nela se encontram duas floras específicas: a tropical afro-brasileira e a temperada
15
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
020 20 40
kmo25
o53
o25
o45
o20
o53
o20
o45
o25
o49
o23
o48
o22
o50
o23
o53
t a d oE s d eM i n a s
Ge
r ai s
Estado do
Rio de Janeiro
ocitnâltAonaecO
E s t a d o
d o
P a r a n á
ed
od
atsE
lu
So
do
ssor
Gota
M
B a c i a d o P a r a n a p a n e m
aP a u l i s t a
E s t a d o d e S ã o P a u l o
São Paulo
0 100km
Gi o rR a n d e
ánar
aP
oiR
P a ro aR i n a p a n e m
a
Ri o
Ita r a r é
Roi i r aR i b e
Pres. Prudente
MaríliaBauru
Botucatu
Avaré
Sorocaba
Piraju
Itapeva
Ourinhos
Assis
Echaporã
Teod. Sampaio
PirapozinhoParaguaçu Pta.
Sta.Cruz do R.Pardo
Registro
Rib.Grande
Capão Bonito
Campina do M.Alegre
Guareí
Itatinga
Cerq.César
Itararé
Itaí
Timburi
Sarutaiá
Tejupá
Chavantes
Salto Grande
Ibirarema
Palmital
Cand.Mota
C.Novos Pta.
Florínia
IepêNantes
Taciba
Narandiba
Sandovalina
11
12
13
14
15
16
17
212223
24313233
divisas das mesorregiõesdivisas do ProjPardivisas estaduais
mesorregiões
municípios com registro desítios arqueológicos
23
outros municípios
Oceano Atlântico
epaugIed
ariebiRoiRB a c oi a d
B a c i a
d o
R i o
T i e t ê
B a c i a doR i o A g u a p e í
B a c i a d o R i od o
P e i x e
latnoPod
saicaB
UHEPorto Primavera
UHE Rosana UHE Taquaruçu
UHE Capivara
Complexo CanoasUHE 1 UHE 2
UHES.Grande
UHE Ourinhos(proj.)
UHE Chavantes
UHE Jurumirim
UHE Piraju (proj.)
UHEParanapanema
Ilha Comprida
Ilha de Cananéia
Ilha do Cardoso
RioPardo
o Ri ibR eiraUHE Tijuco Alto(em implantação)
RioItapirapuã
luS
odossorGotaM
ánaraP
S.Paulo
luSodossorG
otaM
oluaP.S
ánaraPoiR
a n P a ri o aR ap a n e m
ohnizo
pariP
oR i aravipaCai o dR
ira
Po
doi
R
ovo
Noi
R
ovruToiR
odri o aR P
íerauGoiR
R i o I t a p e at gi nn i
Itapetininga
Angatuba
Ri o
Pa r a n a p
an
em a
uç
au
G-íaipA
oiR
mir iM-í
aip
AoiR
R i o
T a q u a r i
R i oV e r d e
Ri o
I t ar a r é
ánaraP
ol uaP.S
louaP.S na áraP
Organização Regional do Projeto Paranapanema
Região 1 - Bacia Superior11JRM - Jurumirim12ITP - Itapetininga13APR - Alto Paranapanema14API - Apiaí-Guaçu15TQI - Taquari16ITR - Itararé17APP - Alto Paranapanema de Piraju
Região 2 - Bacia Média21PTV - Pardo-Turvo22MPO - Médio Paranap. de Ourinhos23CNS - Canoas24CPL - Capivara Leste
Região 3 - Bacia Inferior31CPO - Capivara Oeste32TQR - Taquaruçu33PPR - Pontal do Paranapanema
Bacia Superior
Bacia SuperiorBacia MédiaBa
cia
Infe
rior
Baci
a M
édia
Baci
a In
ferio
rBa
cia
Méd
iaBacia Média
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
pr
ojp
ar
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
desenho # G-PP11999
PROJPAR PROJETO PARANAPANEMA
PROJETOPARANAPANEMA
*CONEXÕES GEOGRÁFICAS
ARQUEOLOGIA DA PAISAGEMCENAS DO PARANAPANEMA PAULISTA
(DA PRÉ-HISTÓRIA AO CICLO DO CAFÉ)APOIO : FAPESP
16
José Luiz de Morais
austro-brasileira, com seus dominantes gregários, quais sejam a conífera Araucaria angustifolia (pinheiro-do-paraná) e a lau-rácea Ocotea porosa (imbuia).
Floresta Estacional Semidecidual ou Floresta Tropical Subca-ducifólia (com vegetação secundária e atividades agrícolas). Relaciona-se com o clima de duas estações, úmida e seca. Na bacia do Paranapanema o período seco é curto, acompanhado de acentuada baixa térmica. Com efeito, ocorre a estaciona-lidade foliar dos elementos arbóreos dominantes, que estão adaptados à estação desfavorável (seca e fria). A porcentagem de árvores caducifólias do conjunto florestal situa-se entre 20 e 50%. Dominam os gêneros neotropicais Tabebuia, Swietenia, Paratecoma e Cariniana, dentre outros, em mistura com os gêneros paleotropicais Terminalia e Erythrina e com os gêneros australásicos Cedrela e Sterculia.
Cerrado ou Savana (com atividades agrícolas). São formações campestres com vegetação gramíneo-lenhosa baixa, árvores isoladas, capões florestados e galerias florestais ao longo dos rios. Apresenta grande variabilidade estrutural e, conseqüen-temente, grandes diferenças de porte e densidade. Sua distri-buição espacial está preferencialmente ligada aos solos álicos e distróficos, arenosos lixiviados e litólicos. Ocorre em diversos tipos de clima, subsistindo tanto nos climas estacionais (com período seco e baixa térmica), como nos ombrófilos (sem perí-odo biologicamente seco).
Áreas de Tensão Ecológica: Quando duas regiões fitoecológicas se contactam (savana / floresta ombrófila e savana / floresta estacional), justapondo-se ou interpenetrando-se. No primeiro caso, formam-se encraves, onde cada mosaico de vegetação guarda a sua identidade florística e fisionômica sem se misturar, permitindo a definição da formação ou subformação dominante. No segundo, formam-se ecotonos, quando a identidade florís-tica passa a ser no nível das espécies, não se determinando a dominância de uma região sobre outra.
Quanto às ocupações humanas, o povoamento deve ter surgido por volta dos oito mil anos antes do presente, conforme diagnosticam
as datações do sítio arqueológico mais antigo já descoberto — Brito — situado no Município de Sarutaiá, trecho médio-superior da bacia. A partir deste episódio, hordas de caçadores-coletores passaram a percorrer o território, até por volta de mil anos antes do presente. A partir daí, ocorre a ocupação maciça de grupos horticultores, até os primeiros con-tatos com os jesuítas espanhóis.
A política colonial das coroas ibéricas no período da conquista, bem como a formação da sociedade nacional alteraram profundamente os padrões de ocupação indígena. Expedições bandeirantes provindas do território colonial português aniquilaram, em meados dos anos seiscen-tos, as missões jesuíticas do Paranapanema, provocando a vigência de um verdadeiro deserto humano que se prolongou até meados do século passado (neste intervalo, kaingangs e ofaiés passaram a percorrer a área).
Os sertões do Paranapanema passaram a ser foco da ação de posseiros a partir do início do século passado quando, decadentes as atividades minerárias na Província de Minas Gerais e as plantações de cana no médio Rio Tietê, muitos posseiros vieram em busca das terras devolutas no Paranapanema. Fazendo debandar os escassos aglomera-dos indígenas, as frentes de posseiros deram de encontro com as hordas messiânicas guaranis, que se deslocavam do território sul-matogrossense na procura da terra-sem-mal. Teve início nova fase da implantação de aldeamentos indígenas, desta vez liderados por padres capuchinhos. Tais aldeamentos, porém, nunca progrediram. A invasão dos cafezais acabou por consolidar a ocupação dita da “sociedade nacional”, substituindo o tecido vegetal nativo pela agricultura extensiva e afastando o que restava das ocupações indígenas (desenho PP1).
Pode-se dizer que, hoje, o stock indígena remanescente do Para-napanema está concentrado na Reserva de Araribá, Município de Avaí, Região de Bauru.
Conceitos.e.definições
Em seguida, serão colocados conceitos e definições (muitos dos quais para os exclusivos efeitos deste trabalho) necessários para melhor posicionamento do autor e para melhor compreensão dos leitores.
17
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
.
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
Prancha # PP11999
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanema
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
O Projeto Paranapanema foi idealizado porLuciana Pallestrini em 1968.
ARQUEOLOGIA DA PAISAGEMCENAS DO PARANAPANEMA PAULISTA
(DA PRÉ-HISTÓRIA AO CICLO DO CAFÉ)APOIO : FAPESP
CENASDO
PARANAPANEMA PAULISTA
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
pr
ojp
ar
CENAS DO PARANAPANEMA PAULISTA
A ponte de Itororó do Paranapanema derrubada na cheiade 1983, quando a lâmina d’água subiu 12 metros. Ao
lado o relevo colinar da Depressão Periférica, em Fartura.
O Saltinho do Paranapanema, entre Burie Campina do Monte Alegre (acima) e a primeira
cachoeira do Salto Simão, em Piraju (abaixo).No futuro, ambos ficarão afogados pelo
remanso de novas hidrelétricas, tal como a Usina de Jurumirim
(entre Piraju e Cerqueira César)
Três culturas do Paranapanemapré-colonial: gravura Umbu (Narandiba),
fogueira Humaitá (Almeida) e urna Guarani (Alves).
Dois momentos do reservatório da Usina Paranapanema (Piraju):com capacidade plena, desde 1936 e vazio, para reparos na barragem,após cinqüenta anos de submersão (nota-se que houve muito pouca
sedimentação no leito).
Testemunhos do vulcanismo de 130 milhões de anos (Serrada Fartura): dique cortando arenitos e disjunção coluna
de basalto, pré-forma para mãos-de-pilão.
18
José Luiz de Morais
Fator.Geo
Primeiramente, será adotada a definição de Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira para a expressão “fator”. Fator é aquilo que concorre para um resultado. De modo simples, diz-se que as contribuições da (Geo)grafia, da (Geo)morfologia e da (Geo)logia para a Arqueologia constituem o fator geo. A contribuição poderá ser entendida em “dupla mão-de-direção”, caracterizando uma verdadeira interdisciplinaridade. Associa-se ao fator geo o uso das geotecnologias, aqui entendidos o sistema de posicionamento global — GPS, o sistema de informações geográficas — SIG, o sistema de sensoriamento remoto — SSR, a modelagem digital de terreno — MDT e os softwares do sistema CAD (computer aided design) e CAM (computer aided mapping) (desenho E-CDP1).
Sítio.Arqueológico
Em 1958, Willey & Phillips definiram o sítio arqueológico como sendo a menor unidade do espaço a ser trabalhada pelo arqueólogo, po-dendo ir do pequeno acampamento à grande cidade. Para Deetz, final dos 70, a possibilidade de investigar é a determinante do sítio arqueológico. Plog & Hill consideram sítio qualquer localização de artefatos, mesmo que se trate de um, apenas. Mazurowski (citado por Victor Dias, no Cy-berarqueólogo Português) “acrescentou às anteriores definições, a importância que tem a localização dos objectos por se poder teoricamente discernir através desta, o caráter intencional ou não dos achados.”
O fato é que não existe uma única definição de sítio arqueológico. Qualquer uma é válida, desde que se ajuste a determinado propósito para solucionar determinado problema. Neste caso, esta tese considerará aspectos particulares das definições acima propostas, adicionando a idéia do “local de interesse arqueológico”.
Assim, seria de bom alvitre definir sítio arqueológico à maneira das idéias de Willey & Phillips — “a menor unidade do espaço” — complementada por Deetz — “passível de investigação” — por Plog &
Hill — “contendo objetos culturais” — e por Mazurowski — “portanto intencionais”. Para os efeitos exclusivos da problemática e dos objetivos definidos neste trabalho, “sítio arqueológico é a menor unidade do espaço passível de investigação, dotada de objetos intencionalmente produzidos ou rearranjados, que testemunham as ações de sociedades do passado.”
Plog & Hill dão a base do que será chamado “local de interesse arqueológico”: a descoberta isolada. Adicionalmente, por conta da pro-posta em tela, à descoberta isolada serão adicionadas outros componen-tes físicos da paisagem: uma cascalheira de litologia diversificada, um dique de arenito silicificado, um pavimento detrítico (matérias-primas de boa fratura conchoidal), um barreiro (o barro bom para a cerâmica), um compartimento topomorfológico adequado a determinado tipo de assentamento, etc. Todos esses elementos comporão o que se propõe serem os “parâmetros do modelo locacional”, de caráter preditivo, tão útil para os reconhecimentos de área e os levantamentos extensivos. Tais parâmetros permitem o mapeamento de locais potencialmente favoráveis ao encontro de sítios e locais de interesse arqueológico.
Projeto.Paranapanema
O Projeto Paranapanema — prOjpar — é um programa interdis-ciplinar e interinstitucional, cujo propósito é identificar e analisar os cenários das ocupações humanas e seu meio ambiente. Foi criado por Luciana Pallestrini, em 1968. A partir de 1993, com redirecionamento dos seus propósitos, consolidaram-se os enfoques interdisciplinares referentes ao tema território, desenvolvimento & meio ambiente. Passaram a ser caracterizados cenários sócio-econômicos e culturais cronologicamente delimitados. As ações do prOjpar, preferencialmente embasadas nas evidências materiais da cultura, passaram a abranger momentos que vão da pré-história à atualidade, englobando assuntos tais como as estratégias de sobrevivência das populações indígenas ou as formas de urbanização. Os subprogramas assumem como principal objeto de enfoque, as coisas relativas ao patrimônio natural e cultural da bacia do Rio Paranapanema, englobando o patrimônio arqueológico, o patrimônio arquitetônico e urbanístico e o patrimônio ambiental e paisagístico. Assim, o prOjpar,
19
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
LOCAL DE INTERESSE ARQUEOLÓGICO PRJ670321
desenho # E-CDP11999
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
ARQUEOLOGIA DA PAISAGEMCENAS DO PARANAPANEMA PAULISTA
(DA PRÉ-HISTÓRIA AO CICLO DO CAFÉ)APOIO : FAPESP
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DOMUNICÍPIO DE PIRAJU - SP
LOCAL DE INTERESSE ARQUEOLÓGICO
PRJ670321
LOCAL DE INTERESSE ARQUEOLÓGICO PRJ670321
Bairro CodespauloE = 0.667.076 m; N = 7.432.128 m
NATUREZA DO INTERESSE ARQUEOLÓGICO
afloramentos de arenito silicificado com prováveismarcas de lascamento e escórias de processamen-
to da matéria-prima lítica.
PARÂMETROS LOCACIONAIS ASSOCIADOS
pavimento detrítico
INSERÇÃO REGIONAL NO PROJPAR
Região 1 Bacia SuperiorMesorregião 17 Alto Paranapanema de Piraju
Microrregião 172 Piraju SulMicrobacia 172.2 Piraju Urbana
INTERVENÇÕES
registro e avaliação em 1984, J.L.Morais; levantamento e reavaliação em 1999, J.L.Morais
0 20 40 60 80 100
metros
escala numérica 1:2.000 (na digitalização original, formato A2)
Base Cartográfica: IGC-SP,fotointerpretação e levantamentos de campo
Sigla da Coleção: CDP
São Paulo
SITUAÇÃO DO LOCAL NO ESTADO
digitalização original, 1999
E=6
67.
00
0m
E=6
66
.90
0m
E=6
66
.80
0m
E=6
66
.70
0m
E=6
67.
100
m
N=7.432.000m
N=7.432.100m
N=7.432.200m
N=7.432.300m
N=7.432.400m
E=666840mN=7.432.028m
E=666.778mN=7.432.197m
1
2
E=666.947mN=7.432.264m
E=667.005mN=7.432.192m
E=667.076mN=7.432.128m
5
E=667.086mN=7.432.030m
E=666.808mN=7.432.282m
Acesso à SP-270
7
590
600
610
Morro daBoa Vista
3
4
6
Afloramentos de arenitosilicificado intertrapiano,com escórias e evidências
de lascamento por caçadores-coletores e horticultores
em vários períodos.
espalhamentomáximo das escórias de
arenito silicificado
Ponto de Ônibus
SarutaiáFartura
TaguaíTejupá
ItapetiningaSorocabaSão Paulo
Av. S. Sebastião
Av. Humberto Martignoni
Rio Paranapanema
RioParanapanema
zona rural
zona rural
zona deexpansão urbana
zona deexpansão urbana
zona deexpansão urbana
zona deexpansão urbana
zona deexpansão urbana
centro
zona rural
zona rural
zona rural
zona rural
zona rural
3000 600 900metros
MANCHA URBANADE PIRAJU
ESTADO DE SÃO PAULO
situação do local de interesse
arqueológico
N=7.436.000m
N=7.434.000m
N=7.432.000m
E=6
68
.00
0m
E=6
66
.00
0m
Rodovia SP-287
Praça João de Morais
PIRAJU
580
20
José Luiz de Morais
hoje, pretende estudar generalidades e particularidades do meio ambien-te físico-biótico e do meio ambiente sócio-econômico das comunidades locais e regionais, de forma interligada, em intervalos de tempo previa-mente definidos. Resumindo, o prOjpar atua por meio de um conjunto de ações que tem por objetivo a definição, análise e síntese dos cenários da ocupação humana da Bacia do Rio Paranapanema, nos respectivos contextos ambientais.
Núcleos.de.solo.antropogênico
Conhecidos também por manchas de terra-preta, correspondem aos remanescentes dos fundos de habitação das aldeias guaranis do Pa-ranapanema pré-colonial. Foram primeiramente observadas por Luciana Pallestrini, quando das escavações do Sítio Fonseca, no Município de Itapeva, e do Sítio Jango Luís, Município de Campina do Monte Alegre, no final dos anos 60 (desenho E-JGL1). O conjunto de núcleos de solo antropogênicos, entendidos como remanescentes de uma aldeia, forma um único sítio arqueológico. A arqueologia feita no Estado do Paraná por Igor Chmyz, ao estilo prOnapa, considera cada núcleo de solo an-tropogênico um “sítio-habitação”.
Intervenções.no.registro.arqueológico
Consideram-se intervenções no registro arqueológico quaisquer atitudes que proporcionem o desmonte do sítio: coletas comprobatórias; abertura de sondagens, trincheiras ou cortes; tradagens; decapagens; retificação de barrancos. Enfim, qualquer ação de responsabilidade de um profissional que provoque alteração física no registro (as ações exe-cutadas por não profissionais, casuais ou intencionais, são consideradas fatores de destruição do registro). Inserções no sistema de posiciona-mento global, levantamentos plani-altimétricos e registros fotográficos não constituem intervenções no registro arqueológico.
21
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
desenho # E-JGL11999
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
SÍTIO ARQUEOLÓGICO JANGO LUÍSCMA-JGL558928-1.11.115-115.1
E = 0.755.809; N = 7.392.837 m
CLASSIFICAÇÃO GENÉRICA
sítio de horticultores indígenas anteriores a 1500 dC, produtores de cerâmica.
FILIAÇÃO ARQUEO-ETNOLÓGICA
Tradição Guarani
PARÂMETROS LOCACIONAIS ASSOCIADOS
terraço, vertente, barreiro, afloramento de rocha
CLASSE DE TIPOLOGIA TOPOMORFOLÓGICA
sítio em colina
CLASSE DE CONSERVAÇÃO
2DAdmissível após as intervervenções (classe 2), quando as
estruturas foram parcialmente resgatadas (recomponíveis por meio dos registros documentais) e mantidos testemunhos
classificáveis na categoria D (sítio mal conservado).
INSERÇÃO REGIONAL NO PROJPAR
Região 1 Bacia SuperiorMesorregião 11 Jurumirim
Microrregião 115 Santa HelenaMicrobacia 115.1 Jurumirim Superior
INTERVENÇÕES
escavações em 1969, L. Pallestrini vistoria e reavaliação em 1999, J.L.Morais
escala numérica 1:1.000 (na digitalização original, formato A2)
metros
0 10 20 30 40 50
São Paulo
SITUAÇÃO DO SÍTIO NO ESTADO
ARQUEOLOGIA DA PAISAGEMCENAS DO PARANAPANEMA PAULISTA
(DA PRÉ-HISTÓRIA AO CICLO DO CAFÉ)APOIO : FAPESP
versão digitalizada do desenho deLuciana Pallestrini, 1975,
com atualizações
600598
596
594
592
E = 755.850 mE = 755.800 mE = 755.750 mE = 755.700 mE = 755.650 mE = 755.600 mE = 755.550 m
N = 7. 392.950 m
N = 7. 392.900 m
N = 7. 392.850 m
N = 7. 392.800 m
N = 7. 392.750 m
N = 7. 392.700 m
A
Burna 3
D
E
urna 2
F
X
Z
Yurna 1 W
C
oirerraBodoãriebiR
várzea(barro bom para cerâmica)
várzea
núcleos de solo antropogênico
(fundos de habitação)
ALDEIA GUARANIano 740 d.C.(1.210 anos ap)
afloramentos de diabásio(pedra boa para polimento)
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DOMUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP
SÍTIO ARQUEOLÓGICOJGL558928
JANGO LUÍS
SÍTIO ARQUEOLÓGICO CMA-JGL558928 JANGO LUÍS
Base Cartográfica: IGC-SP,fotointerpretação e levantamentos de campo
Sigla da Coleção: JGL
24
José Luiz de Morais
A literatura estrangeira, principalmente a de língua inglesa, tem proporcionado ótimos enfoques relativos ao fator geo na Arqueologia, realizados em diversas partes do mundo, desde o território metropolita-no dos Estados Unidos, até os países da África intertropical. No Brasil, todavia, a situação é bem diferente: há pouco o que dizer sobre o estado d’arte da Geoarqueologia ou da Arqueologia da Paisagem no país.
A literatura arqueológica brasileira é paupérrima em comunicações onde o fator geo se revela como o enfoque principal. Tal situação decorre da manutenção de vários lapsos, relativos à prática da interdisciplina-ridade no ambiente acadêmico. As vozes têm sido sempre bem altas e contundentes: “a interdisciplinaridade é imprescindível ... a Arqueologia é um campo interdisciplinar por excelência ... uma equipe de Arqueologia deve ser constituída por arqueólogos (!), geógrafos, botânicos, geomorfólogos, zo-ólogos, etc ...” Tão falada, mas tão mal exercida, a interdisciplinaridade, principalmente com as geociências, vem caminhando tropegamente no bojo de muitos projetos (alguns bastante expressivos, até), aumentando desnecessariamente o número de páginas de relatórios, artigos, disser-tações e teses acadêmicas, com capítulos relativos ao “Meio Ambiente da Área Estudada”, “Geologia e Geomorfologia da Região Pesquisada”, etc.
Comentou certa vez um geólogo, na condição de membro de uma comissão examinadora, algo parecido com: “numa tese de Arqueologia, é absolutamente desnecessário ao arqueólogo preocupar-se tanto com o item ‘Geologia da Área Pesquisada’ quando tratado de maneira isolada pois, além dele não servir como subsídio para a pesquisa do qual faz parte, nunca será referência para os próprios geólogos”. Esta frase, dita há mais de quinze anos, ainda espelha a situação corriqueira no meio científico da Arque-ologia Brasileira.
A.produtividade.no.âmbito.do.fator.geo
Quanto à produção científica, há poucos artigos publicados, além de alguns relatórios técnico-científicos. Ao que parece, o forte são os trabalhos acadêmicos (mestrados e doutorados), principalmente aque-
les vinculados a projetos de resgate do patrimônio arqueológico, todos concentrados da USP.
Nos últimos anos, são três mestrados concluídos, abrangendo as seguintes regiões:
A Bacia do Rio Grande, situada no nordeste do Estado de São Paulo, envolvendo o Rio Pardo médio-inferior, de responsabi-lidade de Marisa Coutinho Afonso, arqueóloga do MAE-USP.
A Bacia do Rio Paranapanema inferior, no oeste do Estado de São Paulo, envolvendo a área de influência da UHE Taquaruçu, de responsabilidade de Emília Mariko Kashimoto, arqueóloga da Universidade Católica Dom Bosco, Mato Grosso do Sul.
A Bacia do Rio Paranapanema superior, no sul do Estado de São Paulo, envolvendo o Rio Taquari, de responsabilidade de Astolfo G. Melo Araújo, arqueólogo da Prefeitura do Município de São Paulo.
Há, também, três doutorados recentemente concluídos abrangen-do as seguintes regiões:
A Bacia do Rio Tietê, na região central do Estado de São Paulo, envolvendo a micro-bacia do Ribeirão das Conchas, de respon-sabilidade de Marisa Coutinho Afonso.
A Bacia do Rio Paraná, nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, envolvendo a área de influência da UHE Porto Prima-vera, de responsabilidade de Emília Mariko Kashimoto.
A Bacia do Rio Paranapanema inferior, no oeste do Estado de São Paulo, envolvendo a área de influência da UHE Capivara, de responsabilidade de Neide Barrocá Faccio, arqueóloga da unesp, campus de Presidente Prudente.
Dois doutorados encontram-se em andamento:
25
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
A Bacia do Rio Paraná, no oeste do Estado de São Paulo, en-volvendo a área de influência da UHE Porto Primavera, de responsabilidade de Rosângela C. Cortéz Thomaz, arqueóloga da unesp, campus de Presidente Prudente.
A Bacia do Rio Paranapanema, no sul do Estado de São Paulo, envolvendo a sub-bacia do Rio Taquari, de responsabilidade de Astolfo G. Melo Araújo.
No Estado de Goiás, o subprograma Geoarqueologia da Serra da Mesa (de responsabilidade do Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás) inaugurou este tipo de abordagem na Região Centro-Oeste, com perspectivas muito boas de manutenção e continuidade em outro projeto, relativo à Usina Hidrelétrica de Canabrava. Isto se deve ao ambiente propício ditado pelas condições operacionais, administrativas e acadêmicas vigentes.
O.fator.geo.como.plataforma.de.estudos.arqueológicos
Investigações científicas têm a função de estabelecer, dentre outros, alinhamentos direcionais que subsidiem a implementação de todos os procedimentos relativos às interfaces possíveis entre a práxis arqueológica e as ciências da terra, com ênfase especial na Geografia, Gemorfologia e Geologia. O uso das chamadas geotecnologias, pela natureza dos seus procedimentos, também se insere neste quadro.
O fator geo se distribui no âmbito de, pelo menos, dois subcampos bem consolidados da Arqueologia: a Geoarqueologia e a Arqueologia da Paisagem. No caso da Geoarqueologia, percebe-se uma identidade bem marcada, enquanto abordagem interdisciplinar. A Arqueologia da Paisagem, tem se desdobrado em, pelo menos, dois enfoques: um de ins-piração norte-americana, ligado à pesquisa de antigos jardins e outro, de inspiração européia, que se fundamenta exatamente na interface Arqueologia / Geografia (observar o trabalho realizado pela Lancaster University Archaeological Unit em http://www.lanc.ac.uk).
Na busca da otimização de uma postura interdisciplinar, há de se reiterar o postulado de que os antigos cenários de ocupação humana são revivenciados pelo concurso das várias disciplinas inseridas no contexto das ciências humanas e sociais (especialmente a Arqueologia, a História, a Geografia Humana, a Etnologia, a Antropologia e a Sociologia), das ciências naturais (principalmente a Geografia Física, Geologia, Geomor-fologia, Biologia e Botânica) e das ciências exatas e tecnológicas (Física, Química, Matemática, Informática).
Na Arqueologia Brasileira (e em algumas outras, também), a cons-trução da interdisciplinaridade — entendida como o máximo aproveita-mento das potencialidades de intercomunicação entre duas ou mais discipli-nas, no encalço de objetivos comuns — tem sido encaminhada de modo canhestro. Mormente faz parte de uma arqueografia per se ou, no ensejo de um rótulo “sistêmico” apenas no nível do discurso, atitude igualmente claudicante pois desprovida daquela salutar plataforma proporcionada pela arqueografia classificatória e historicista.
Assim, com algumas exceções, a literatura arqueológica do país tem contado apenas com exaustivas descrições morfológicas, seguidas de infundadas e desconexas afirmações funcionais, corroboradas por complexos exercícios estatísticos, tudo isso introduzido (como afirma-do anteriormente) por desnecessários capítulos rotulados de “Aspectos Geográficos da Área Investigada” ou “Geologia e Geomorfologia da Região” ou, ainda (acompanhando jargões mais atuais), “Aspectos Ambientais da Região Pesquisada”. Isso contribuiu muito pouco para as reflexões concer-nentes às fontes de recursos culturais (no caso, o registro arqueológico), sem dizer aos importantes aspectos sociais das comunidades responsáveis por esse registro.
Todavia, muitas das assertivas consagradas por qualquer linha de pensamento que direciona o exercício da disciplina são ainda válidas e convém revisitá-las. Grosso modo, a Arqueologia é a disciplina que tem por finalidade o estudo dos modos de vida de comunidades antigas que deixaram suas marcas em ambientes específicos, identificados como sítios arqueológicos. Se o propósito final é o estudo dos diferentes aspectos so-ciais, econômicos e culturais das comunidades, considerando suas formas, funções e mudanças, os meios para analisá-los são os objetos produzidos
26
José Luiz de Morais
por elas, tais como permanecem no registro arqueológico. Tais objetos foram importantes na criação e recriação do universo social, devendo ser entendidos como meio de comunicação e expressão (Bezerra de Meneses, 1988).
Mormente o registro arqueológico está contido em pacotes sedimen-tares, formando camadas antropogênicas identificáveis na estratificação natural dos depósitos. Muitas vezes, porém, o registro arqueológico pode estar presente em pisos e paredes rupestres ou ser constituído por estru-turas edificadas (no caso brasileiro, trata-se da Arqueologia Histórica). Os arranjos espaciais são, muitas vezes, detectados por evidências latentes ou intangíveis. A técnica arqueológica, concretizada nos modos de intervenção de campo, incumbe-se de proporcionar os meios necessários para a recuperação, a notificação, a leitura, a descrição e a classificação dos materiais arqueológicos em seus respectivos contextos (não há de se ignorar, porém, que a Arqueologia da Paisagem, enquanto subcampo da arqueologia que postula, em boa parte dos seus procedimentos, a não intervenção de campo).
De modo geral, o registro arqueológico dos ambientes tropicais é pobre em termos de remanescentes orgânicos e as permanências concretas acabam ficando por conta dos materiais inorgânicos, portanto de suporte mineral. Neste caso, incluem-se os artefatos de pedra (abrangendo eles próprios e os detritos decorrentes da sua fabricação, entendidos em deter-minados contextos espaciais) e os utensílios de cerâmica, obtidos por meio da apropriação de certas formas, a partir da plasticidade das argilas. Desse modo, tais tipos de evidências concretas, que se traduzem em aspectos materiais da cultura, assumem importância capital no reconhecimento dos modos de vida e das estratégias de interação entre o homem e o meio, considerando-se o universo das comunidades pretéritas.
À vista desta postura, a interdisciplinaridade assume, de fato, importância estratégica na verificação do design dos antigos cenários das ocupações de caçadores-coletores e de horticultores pré-coloniais. Assim, o imbricado campo da intersecção dos procedimentos interdis-ciplinares direcionam as possibilidades potenciais de interpretação dos aspectos sócio-econômicos e culturais dos grupos responsáveis pela produção do registo arqueológico (Sotchava, 1977; Neustupný, 1993).
Mencionou-se anteriormente que o registro arqueológico está contido em pacotes sedimentares sujeitos aos processos erosivos e de-posicionais comandados enfaticamente pelas variações climáticas. Mencionou-se também que a maior parte do registro arqueológico é composta por evidências inorgânicas processadas a partir das reservas minerais. Assim, reconhece-se a importância dos fatores naturais na ordem econômica e social dos grupos humanos, principalmente no que toca àquelas populações mais antigas. Tais fatos, dentre outros, reite-ram importância crucial das possíveis interfaces entre a Arqueologia, a Geografia, a Geomorfologia e a Geologia — isto é, o fator geo — na parte que lhes compete, relativamente ao levantamento dos cenários das ocupações humanas do passado.
A eficácia de um estudo de Arqueologia Regional (Johnson, 1977; Clarke, 1977; Fish; Kowalewski, 1990; Cameron; Tomka, 1996) se registra na medida que sua estrutura bem focaliza, dentre outros, o fator geo. Assim, esta estrutura contemplará itens relativos ao contexto da abor-dagem e aos objetivos específicos do trabalho arqueológico, além de uma síntese metodológica relativa aos procedimentos da interface com o fator geo. Discrimina, no seu desenvolvimento, o modus faciendi dos aportes interdisciplinares, especialmente com a Geografia, a Geomorfologia e a Geologia. Permeia pela aquisição da documentação visual da paisagem e pelo mapeamento automatizado, armazenado em ambiente magnético. Inclui um corpo final com conclusões e perspectivas de encaminhamento futuro, incluindo as mídias ligadas ao potencial de informatização do processo, com o uso das geotecnologias.
No caso das investigações realizadas no âmbito do prOjpar, o fator geo, juntamente com os demais processos interdisciplinares apontam, tentativamente, para amplas possibilidades de interpretação no nível da demarcação territorial das comunidades do passado, procedimento que apenas tem sido entendido com o aporte dos demais subcampos, como a cadeia operatória da tecnologia lítica e cerâmica.
O.fator.geo.e.a.problemática.arqueológica
Bem afirmou Colin Renfrew “... because archaeology recovers almost all of its basic data by excavation, every archaeological problem starts as a
27
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
problem in geoarchaeology.” Assim, a partir da verificação do contexto do prOjpar em suas vertentes logístico-administrativa, teórico-meto-dológica e regional, a formulação de planos de investigação científica tem se preocupado em definir algumas questões preliminares a serem respondidas com o apoio vital do fator geo no contexto da arqueologia in totum. “Como?”, “qual?”, “quando?” e “por que?” são perguntas aplicáveis tanto ao universo da arqueologia (entenda-se a “prática” da disciplina arqueológica), como ao universo da pré-história (entenda-se o “momento pretérito”, à época do assentamento). Sem prejuízo de indagações resul-tantes de outros desdobramentos, têm sido elencadas algumas perguntas relativas aos antigos cenários das ocupações humanas pré-coloniais e de contato do Paranapanema paulista, a saber:
Como as populações indígenas, enquanto comunidades, inte-gravam-se no meio ambiente e com ele interagiam?
Como as populações indígenas adequavam as estratégias de captação de recursos da fauna e da flora em função dos vários nichos ecológicos regionais?
Por que as comunidades indígenas preferiam certos locais em detrimento de outros e em que medida fatores de ordem am-biental determinavam (ou influenciavam) a escolha?
Quando ocorreram e quais os limites temporais das sucessivas ocupações indígenas marcadas no registro arqueológico?
A relação de dependência homem / meio foi mais intensa nas sociedades de caçadores-coletores, por causa da constante busca de matérias-primas aptas para o lascamento (atividade minerária)?
Como definir e localizar áreas de ocorrências litológicas favo-ráveis à obtenção de matérias-primas de uso potencial pelas sociedades indígenas?
Quais foram os agentes responsáveis pelos processos erosivos e deposicionais que atuaram no sítio arqueológico a partir do seu abandono definitivo ou temporário?
Como os fatores de ordem geográfica, principalmente parâ-metros definidos no subcampo da geografia humana, podem contribuir para a localização de sítios arqueológicos?
Como a implementação das técnicas próprias das geociências podem corroborar os níveis interpretativos da disciplina ar-queológica?
De que forma os estudos laboratoriais de amostras de sedi-mentos (ou de solos) podem consubstanciar as tentativas de reconstituição do paleoambiente à época de uma ocupação específica?
Para tentar responder (sem o conseguir, muitas vezes) estas e outras perguntas são necessários aportes interdisciplinares corretos no contexto do fator geo. A natureza do questionamento não permite que se assuma uma simples multidisciplinaridade com sínteses geográficas, geológicas e geomorfológicas a suportar respostas genéricas. Há de se permear os caminhos da parceria, com dupla mão de direção no complexo campo interdisciplinar.
Comentando.objetivos.implícitos
A leitura das questões elencadas permite vislumbrar objetivos implícitos no seu conjunto. Convém fazer uma tentativa de explicitá-los neste ponto, não sem antes inseri-los no contexto ambiental do Projeto Paranapanema.
Como ventilado na introdução deste trabalho, o contexto ambien-tal do prOjpar é concretizado pela bacia do Rio Paranapanema, em suas vertentes paulistas, parcialmente integradas no Planalto Atlântico (trecho da secção superior) e no Planalto Meridional. Rochas mais antigas servem de substrato aos pacotes sedimentares recentes — alúvios e colúvios — que eventualmente incluem os restos de ocupações humanas indígenas pré-coloniais e de contato.
A transição entre os climas tropicais (com características con-tinentais, no oeste, e atlânticas, no leste) e subtropicais, associadas às
28
José Luiz de Morais
condições pedológicas, permitiu o surgimento e a manutenção de uma massa florestal (floresta estacional semidecidual, floresta ombrófila densa e floresta ombrófila mista), com alguns trechos de vegetação arbustiva do tipo savana, mais conhecida por “cerrado”.
Tais condições ambientais parecem ter sido bastante favoráveis ao estabelecimento das populações indígenas do passado, até a invasão dos posseiros (meados do século 19) e dos cafezais (primeira década deste século), afirmação corroborada pela densidade de sítios arqueológicos nos vários compartimentos ambientais.
Relembrado o contexto ambiental e com base no corpo de questões aventado anteriormente, acabam por se explicitar os objetivos ligados ao fator geo em determinado estudo arqueológico realizado no âmbito do prOjpar:
Promover abordagens de caráter ambiental, com o propósito de subsidiar a tentativa de identificação das estratégias de so-brevivência das comunidades indígenas do passado.
Este objetivo tem sentido bastante genérico, permeando pelas possíveis interfaces entre as especialidades que concorrem para as abordagens ambientais. Trata-se, por exemplo, de verificar (em asso-ciação com a botânica) a possibilidade de identificação dos possíveis manejos da flora, representada pela floresta tropical ou pelas manchas de cerrado. A recorrência de certas espécies de uso medicinal ou para alimentação, associada aos encontros fortuitos de implementos líticos, comprovadamente associados ao trabalho agrícola (eventualmente descartados), pode diagnosticar o manejo da floresta. Certamente, no presente estágio da investigação, esta afirmação tem caráter altamente especulativo e depende dos estudos realizados nos raros remanescentes de floresta primária.
Organizar o quadro de parâmetros locacionais relativo aos as-sentamentos indígenas, com o propósito de subsidiar um modelo locacional de caráter preditivo que direcione os levantamentos arqueológicos sistemáticos.
Este propósito foi plenamente alcançado, com a definição de parâmetros locacionais de assentamentos indígenas pré-coloniais apre-sentados e comentados no decorrer do próximo capítulo (Elbert, 1988; Kipnis, 1996).
Determinar e avaliar os processos erosivos e deposicionais na-turais e artificialmente induzidos, responsáveis pela degradação ou agradação dos pacotes sedimentares que contêm o registro arqueológico, colaborando para a determinação do estado de conservação dos sítios e encaminhando, se for o caso, a verifi-cação dos graus de bioturbação.
A implementação de técnicas específicas dos campos da Geomor-fologia e da Geologia tem permitido a aquisição de dados interessantes a respeito desta abordagem. Verificações pontuais alimentaram sínteses regionais considerando, principalmente, o grande eixo fluvial que é o Paranapanema: isto permitiu diagnosticar diferenças marcantes entre secções longitudinais e transversais do vale , no que toca à gênese, à situação topomorfológica e à degradação de colinas e terraços cujos sedimentos mascaram importantes dados do registro arqueológico. No caso da bioturbação, os procedimentos estão sendo encaminhados a partir da necessária coleta de dados (Mello Araújo, 1994).
Identificar as fontes de matéria-prima utilizadas pelas comunidades pré-coloniais, colaborando para o mapeamento dos possíveis marcos e fronteiras dos territórios de captação de recursos, no que concerne às atividades minerárias, englobando minerais e rochas de boa fratura conchoidal (líticos) e argilas (cerâmicas).
Colaborar nos procedimentos de leitura dos objetos e conjuntos líticos e cerâmicos enquanto documentos arqueológicos, recompondo a seqüência de gestos técnicos utilizada no processamento da matéria-prima.
Estes dois objetivos se prendem às cadeias operatórias relativas ao processamento dos implementos líticos e cerâmicos pelas comunidades pré-coloniais e, possivelmente, de contato com as frentes de colonização
29
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
ibérica e brasileira. Esta cadeia, em síntese, envolve a busca da matéria-prima (a pedra lascável ou o barro bom), as técnicas de processamento (muito particulares em cada caso), o uso do instrumental (que acaba por tipificar as funções do assentamento ou de setores dos assentamentos) e o seu descarte. Tanto na análise dos materiais líticos, como dos cerâ-micos, tem sido crucial o aporte do fator geo na qualificação das fontes de matérias-primas ou na interpretação da sua distribuição pela área de pesquisa (Vilhena-Vialou, 1980; Caldarelli, 1983; Morais, 1983; 1988; Afonso, 1985).
Contribuir para o desenvolvimento de aspectos teóricos, metodoló-gicos e técnicos dos subcampos Geoarqueologia e Arqueologia da Paisagem.
Contribuir para a definição dos cenários de ocupação indígena da bacia do Paranapanema paulista, adicionando dados à me-mória regional e nacional.
Os dois objetivos podem ser comentados conjuntamente, na me-dida que tratam dos possíveis avanços em várias vertentes, decorrentes da aplicação dos procedimentos do fator geo. E, neste caso, o comentário é remetido ao conteúdo global desta tese. Generalidades e, quando for o caso, especifidades decorrentes do questionamento proposto serão retomadas durante o texto.
A partir daqui serão pontuados separadamente discursos relati-vos à metodologia dos subcampos que alavancam o fator geo, ou seja a Geoarqueologia e a Arqueologia da Paisagem.
Geoarqueologia
Geoarqueologia é um termo relativamente recente na literatura arqueológica. Grosso modo, refere-se às possibilidades de relação dis-ciplinar entre a Arqueologia e as chamadas geociências. Bastante con-solidada, principalmente nas investigações de origem ou de inspiração anglo-americana, a Geoarqueologia deverá ser considerada subcampo da Arqueologia in totum. Ela não existe enquanto disciplina autônoma,
posto que constitui parte da disciplina arqueológica (Hassan, 1979; Gladfelter, 1981; Butzer, 1982; Wagstaff, 1987; Leach, 1992; Waters, 1992; Rapp; Hill, 1998).
Assim, a figura do geoarqueólogo jamais se confundirá com a do geó-logo ou do geomorfólogo enquanto profissionais agregados a um programa de Arqueologia, em caráter transitório. Do geoarqueólogo (que rotinei-ramente tem seu nascedouro acadêmico na Geografia ou na Geologia) se exige, antes de tudo, formação específica em Arqueologia, o que inclui sólida base teórica, metodológica e técnica. Do geólogo e do geomorfólogo (o último sempre originário de um curso de Geografia) se exige, antes de tudo, feeling para as coisas da Arqueologia, qualidade corroborada na formação específica nas respectivas áreas. Entenda-se, porém, que a Geoarqueologia só será possível com o concurso dos três profissionais.
A Geoarqueologia atua exatamente na intersecção disciplinar, respondendo às questões formuladas pela Arqueologia. Certamente a recíproca pode se tornar verdadeira quando, além dos avanços obtidos pela própria Arqueologia, existirem respostas plausíveis para os cam-pos das geociências envolvidos no conjunto. É o que acontece, com certa freqüência, nos estudos geológicos e geomorfológicos relativos ao Quaternário, quando a presença do registro arqueológico pode indicar cronologias seqüenciais concernentes à gênese e ao desenvolvimento dos pacotes sedimentares.
O termo Geoarqueologia foi introduzido por Butzer já no início dos anos 70. Em um de seus textos, este autor dá uma conotação ecológica ao termo: “Geo-archaeology contributes far more than stratigraphic informa-tions. In the ideal case it is basic for the identification of micro-environments (...) When the practitioner is sufficiently attuned to and allowed to partici-pate in excavation strategy and implementation, geo-archaeology can resolve further aspects at the research inteface; burial, preservation, and contextual factors critical to the recognition of primary, semi-primary or secundary sites. It can further be argued that a functional classification of Stone Age sites into categories such as quarry/workshop, kill/butchery, or camp/living can only be properly made with the close collaboration of a geo-archaeologist. Finally, the geo-archaeologist can probably contribute significant information on the availability and limitation of environmental resources, or help generate higher-
30
José Luiz de Morais
level interpretations such as cultural adaptations of adaptative radiation.” (Butzer, 1982)
Renfrew vai mais adiante, chegando a considerar a geoarqueolo-gia uma verdadeira disciplina: “This discipline employs the skills of the geological scientist, using his concern for soils, sediments, and landforms to focus these upon the archaeological ‘site’, and to investigate the circunstances which governed its location, its formation as a deposit and its subsequent pre-servation and life history. This new discipline of geoarchaeology is primarily concerned with the context in which archaeological remains are found. And since archaeology, or at least prehistoric archaeology, recovers almost all its basic data by excavation, every archaeological problem starts as a problem in geoarchaeology.” (Renfrew, 1976)
A propósito do termo Geoarqueologia, Bruce G. Gladfelter co-menta: “The contributions of the earth sciences, particularly geomorphology and sedimentary petrography, to the interpretation and environmental re-construction of archaeological contexts is called ‘geoarchaeology’ (...) For the archaeologist, prone to focus narrowly on human adaptations to environment, evaluation of prehistoric behavior must also include reconstruction of the ‘physical’ surroundings, by implementing contributions from the earth sciences and other disciplines. Such an approach to man’s past that focuses upon the geomorphological context of artifacts is what is mean by ‘geoarchaeology’. This designation by itself implies a need to integrate data from many, often diverse, fields and to emphasize that both the ‘man’ and the ‘land’ elements as well as their interrelationships are important for understanding prehistoric activity and associations. The ‘geo’ component concentrates upon the landscape, defined in the broadest sense to include the intricatelly related aspects of surface form and morphogenetic systems.” (Gladfelter, 1977)
Outro autor, Fekri Hassan, define o termo da seguinte maneira: “Geoarchaeology is the contribution from earth sciences to the resolution of geology-related problems in archaeology.” (Hassan, 1979)
Além do comentário transcrito, este último autor enfatiza que a esfera de ação da Geoarqueologia é extensa, abrangendo:
A localização de sítios arqueológicos por meio de diversas téc-nicas específicas do campo das geociências.
A avaliação das paleopaisagens em termos das possibilidades de assentamento.
Os estudos da estratigrafia regional e da microestratigrafia local.
A análise de sedimentos para a compreensão dos processos de formação dos sítios arqueológicos.
As análises paleoambientais envolvendo estudos geomorfológi-cos, estratigráficos e sedimentares com o estudo dos solos, dos remanescentes da flora e da fauna e dos pólens.
O estudo tecnológico dos artefatos com o propósito de se determinar práticas de manufatura associadas às fontes de matérias-primas.
A avaliação da dinâmica das relações entre as atividades hu-manas e a paisagem.
A conservação e a preservação de sítios arqueológicos.
A geocronologia e a arqueometria (Lambert, 1997).
Gladfelter (1981) também afirma que, para o geoarqueólogo, o contexto ambiental se estende dos fatores locacionais específicos de cada sítio, até as implicações zonais mais amplas, sendo que o contexto físico pode ser identificado em várias escalas. Por exemplo, um sítio arqueológico situado junto a um antigo canal fluvial será analisado sob os seguintes aspectos:
O ambiente geomórfico imediato ou micro-ambiente deposicio-nal, quer seja um banco de cascalhos ou de areia, um terraço ou uma planície de inundação abandonada.
A paisagem circundante (ou entorno de ambientação), quer seja uma extensa planície aluvial ou um vale encaixado.
O ambiente morfogenético regional em macro-escala.
Mais recentemente, Leach afirmou que: “Archaeologists work in a geologic medium. Their interests lie in a particular subjet of the geologic realm — the surficial subset — directly affecting and affected by human
31
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
actions. The archeologist’s initial extraction of information from the medium is by geologic means, althouth the information itself may be nongeological. Therefore, in this restricted sense of the respective sciences, that is, in terms of its techniques, archaeology may be considered as a subset of geology. The archaeological subfield of geoarchaeology explicitly claim ties with both geology and archaeology, and claims itself to be the intermeshing of the two fields.” (Leach, 1992). De fato, esta arqueóloga de Minnesota tenta, no seu tex-to, definir objetivos de significância antropológica para este subcampo, relacionados, primeiramente, com a cultura material (o objeto resulta de um suporte geológico — por exemplo, a pedra), com as atitudes culturais (o caso do estatuto simbólico do ocre), com os padrões de subsistência (o papel da geografia no desenvolvimento sustentável, o manejo dos solos, etc) e, finalmente, com os padrões de assentamento (a correlação do estabelecimento de caçadores-coletores com as fontes de matéria-prima lítica, por exemplo).
Arqueologia.da.Paisagem
“Não há necessidade de repetir que sob o termo ‘arqueologia da pai-sagem’ nós entendemos basicamente a união de duas ciências: Geografia e Arqueologia.” Com estas palavras, Gennadii Afanasiev, da Academia de Ciências da Rússia, abriu a sessão por ele dirigida no âmbito do Primeiro Encontro Anual da Associação Européia de Arqueólogos, realizada entre 20 e 24 de setembro de 1995, em Santiago de Compostela, Espanha. De fato, uma afirmação feliz, que satisfaz não apenas aos arqueólogos com formação em Geografia (ou com algum feeling para esta disciplina), bem como diagnostica de forma simples, mas com profundidade, o elevado teor interdisciplinar desta linha de pesquisa em Arqueologia, pois é verdade que ambas — Geografia e Arqueologia — são interdisciplinares na sua essência (para melhores detalhes desta reunião, acessar http://www-gtarpa.usc.es).
Nascida britânica, a Arqueologia da Paisagem — landscape ar-chaeology — milita na intersecção de vários ramos de núcleos discipli-nares, recorrendo aos dados da Biogeografia, Geocartografia, Geografia Humana e Econômica, Geopolítica, Geoarqueologia, Zooarqueologia, Arqueobotânica, bem como aos de outras disciplinas, tais como História,
Antropologia, Sociologia, Arquitetura, Urbanismo e Ecologia. Entender a Geografia e o Meio Ambiente de uma determinada área é, assim, um importante aspecto da pesquisa arqueológica. Permite, outrossim, que um olhar isolado no passado possa ser inserido em um contexto amplo e melhor compreensível.
Em uma perspectiva mais recente, a arqueologia da paisagem aproxima-se bastante do contexto do Desenho Ambiental. A expressão Desenho Ambiental corresponde ao termo inglês environmental design. No dizer de M.A.Ribeiro Franco trata-se de uma ação integradora de conhecimento e experiência, não apenas junto às áreas de Planejamento e Arquitetura, mas também de uma atividade de comunicação e diálogo entre aquelas e as demais áreas do conhecimento, envolvendo o meio cultural em que vivemos. De fato, o desenho ambiental não envolve apenas a idéia do projeto mas também (e principalmente) a idéia de um processo. Para isso, o desenho ambiental pressupõe o conceito ecossis-têmico em que a ação antrópica esteja incluída (Ribeiro Franco, 1993).
Inevitáveis também são as ligações da Arqueologia da Paisagem com as coisas do patrimônio, considerando seus vários componentes (arqueológico, ambiental e paisagístico, arquitetônico e urbanístico). “Os resultados das investigações no arcabouço da Arqueologia da Paisagem introduzem uma extraordinária contribuição ao problema de organização da preservação da herança arqueológica européia”, continua Afanasiev, no seu discurso de introdução. De fato, eles permitem perceber melhor os problemas ligados com a organização e o gerenciamento da herança arqueológica (Bruno, 1995).
Por outro lado, com o advento e a crescente consolidação da legis-lação brasileira de proteção ao meio ambiente, a Arqueologia da Paisagem vem à tona mais uma vez. Haja vista a sua inserção temática nos estudos e relatórios de impacto ambiental relativos às obras e empreedimentos potencialmente lesivos ao meio ambiente.
Andrew Fleming, da University of Wales, Reino Unido (hipertexto, tópico III, bibliografia), permeia pelo conceito de Arqueologia da Paisa-gem: “Landscape Archaeology is a term once used to describe a narrowly-defined set of field methods, such a field-walking, air photo interpretation or the identification and recording of earthworks — essentially the Field
32
José Luiz de Morais
Archaeology of O.G.S.Crawford (1953). These methods retain their validity, but finding ‘sites’, reconstructing ‘settlement patterns’, and exploring a site’s surroundings are now seen to represent a rather limited agenda. Archaeologists are beginning to discuss the meanings of past landscapes, and to think about the choices which they face in landscape interpretation. They are starting to explore the recursive relationships between the cultural landscape (at varying scales), social action and perceptions of the world. This perspective in turn stimulates new approaches, often originating within other disciplines. A cynic might argue that the use of the term ‘landscape’ by archaeologists is now so broad and diffuse that it has became meaningless, but it could also be argued that is precisely the breadth of the concept which gives the value, bringing together many of our current theoretical preoccupations...”
Martin Kuna, da Academia de Ciências de Praga, República Tche-ca, afirma que “a distribuição espacial de sítios arqueológicos pertence aos níveis cruciais da explanação em arqueologia, particularmente neste ramo da disciplina chamado ‘arqueologia da paisagem.”
(hipertexto, tópico III, bibliografia).
Um outro ramo da Arqueologia se avizinha bastante da Arqueo-logia da Paisagem. Trata-se da Arqueologia Ambiental — environmental archaeology — definida pela Associação de Arqueologia Ambiental como “o campo geral de aplicação das ciências naturais à arqueologia”. Este ramo, de certa forma, é abrangido pela Arqueologia da Paisagem, posto que a Geografia, enquanto parceira da Arqueologia, costuma tratar com competência o meio ambiente físico-biótico.
Pela natureza de sua metodologia e técnicas aplicáveis — que perpassam pelo uso quase abusivo das geotecnologias — a Arqueologia da Paisagem é uma arqueologia “não destrutiva”. A propósito, explica Martin Gojda (hipertexto, tópico III, bibliografia), ao relatar o desenvolvimento de um extenso projeto de levantamento na Boêmia, República Tcheca: “Acredita-se que uma das coisas mais importantes a ser feita neste período de atividades de construção em larga escala, é o levantamento da paisagem his-tórica da Boêmia de modo a identificar a quantidade e a distribuição espacial dos sítios arqueológicos. É a combinação de dois ‘approaches’ não destrutivos dos assentamentos antigos — o reconhecimento aéreo e a prospecção por terra
(‘plough-walking’) que nós aplicamos em áreas cuidadosamente selecionadas (‘landscape transects’).”
Assim, a Arqueologia da Paisagem, sem desmerecer a atividade de escavação, faz justiça ao levantamento arqueológico (Schiffer, 1978; Dunnel; Dancey, 1983). A obrigatoriedade de se definir graus de significância aplicáveis aos sítios a serem escavados tem consolidado a idéia dos “levantamentos de área”, fato corroborado pelos recentes avanços no campo das geotecnologias. E a fidelidade do levantamento arqueológico tem mexido com o próprio conceito de sítio arqueológico, como foi discutido na introdução desta tese.
A boa qualidade da pesquisa no campo da arqueologia da paisagem depende do uso das geotecnologias, técnicas modernas para estabelecer, registrar e gerenciar paisagens e seus componentes. O uso do GPS (global positioning system), do SIG (sistema de informação geográfica), dos SGBDs (sistemas de gerenciamento de banco de dados), dos SSRs (sistemas de sensoriamento remoto), dos softwares do sistema CAD (computer aided design) e CAM (computer aided mapping), maximiza os resultados pretendidos pelo profissional que escolhe percorrer esse caminho. Estes instrumentos digitais de levantamento, ligados ao esboço e à modelagem de relevo, permitem produção de alta qualidade com economia.
A política de prestação de serviços da Unidade Arqueológica da Universidade de Lancaster, Reino Unido (hipertexto, tópico III, bibliogra-fia), tem por base o seguinte pressuposto: “Our historically important landscapes are more than just a collection of archaeological sites, they are a living historical documentary that provide a sense of place to local communi-ties. The recognition and analysis of such landscapes is a requirement of any development which is likely to lead to widespread environmental and habitat change. Historic landscape recording and analysis is a prerequiste of any plan to conserve landscape qualities and manage change within a landscape.”
Assim, entender o entorno de ambientação onde se insere um sítio arqueológico, construído e reconstruído em função do uso e da ocupação do solo, ajuda na tarefa de entender a vida pregressa e a cultura.
Robin Boast, da Cambridge University, Reino Unido (hipertexto, tó-pico III, bibliografia), levanta uma crítica bastante pertinente, ao enfoque
33
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
puramente “natural” das paisagens que, na realidade, são produtos de algumas relações importantes, como homem/meio ou homem/homem: “Landscapes studies have long focused on the location and function of activities over space and time, focusing on sites, their catchments and economies. In other words, landscape archeology has had very little to do with landscapes — with landscapes as social space ... The landscape does not exist passively as a plataform on which social functions take place nor simply as a resource to be exploited, rather the built landscape is socially constructed.”
Pouco praticada em terras brasileiras, a Arqueologia da Paisagem começa a se despontar timidamente no âmbito do universo acadêmico e na iniciativa privada (arqueologia “de contrato”). No primeiro caso, cumpre destacar as idéias de Tânia Andrade Lima, arqueóloga do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro que, com a veemência que lhe é peculiar, vem alardeando a possibilidade de novas abordagens em Arqueologia Brasileira, incluindo aí a Arqueologia da Paisagem. Por outro lado, a arqueóloga Solange Caldarelli, da empresa Scientia Con-sultoria Científica, em caráter pioneiro, propôs recentemente o tema “registro arqueológico da paisagem” como um dos programas de mitigação dos impactos ambientais aos sítios arqueológicos na área de influência da Usina Piraju, no Rio Paranapanema (eia/rima da Usina Hidrelétrica Piraju).
Em termos bibliográficos (como pôde se perceber nas referências), imperdoável seria não percorrer os caminhos da Internet que, em cente-nas de home pages, oferece farto material de apoio ao desenvolvimento do tema. Assim, no item “Bibliografia”, são apresentadas várias fontes, com as respectivas URLs ou e-mails, destacando-se a produção da Uni-versidade de Santiago de Compostela, que mantém várias páginas com os papers do First Annual Meeting da European Association of Archaeologists.
Adentrando questões ligadas aos aspectos metodológicos, o pri-meiro a ser ressaltado é a tentativa de adoção da perspectiva holística no desenvolvimento das investigações arqueológicas do Paranapanema, sob a ótica da Arqueologia da Paisagem, partilhando da crescente iniciativa de uma corrente científica que, baseada nos preceitos da Declaração de Veneza (1986), enfatiza a premissa “a unidade do universo, famosa visão holística, é, definitivamente, a que associa ciência e tradição” (Randon, 1991).
Esta postura vem consolidando o enfoque patrimonial da Arqueologia. De fato, o conhecimento científico chegou aos seus confins e, por isso, é hora dele começar a dialogar com outras formas de conhecimento. Assim, reconhecendo as diferenças fundamentais entre ciência e tradi-ção, pode-se frisar não a sua oposição mas, sim, a sua complementari-dade (Declaração de Veneza, Unesco, 1986). E a ótica patrimonial — o patrimônio da comunidade como bem de uso comum do povo — acaba por ganhar sentido.
A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade que têm orientado a investigação no Paranapanema são, em si, uma aplicação holística, pois refletem a intenção de construir pontes sobre as fronteiras disciplinares, bem como entre as disciplinas e a tradição. Neste caso, convém notar que transdisciplinaridade, de acordo com Basarab Nicolescu (citado por Ribeiro Franco, 1987), significa “o encontro da ciência moderna com a tradição (esta última entendida como transmissão da sabedoria). A transdis-ciplinaridade vai além da inter, pluri e multidisciplinaridade, as quais apenas integram as várias disciplinas do ramo do conhecimento. Transdisciplinaridade significa união entre os ramos da ciência com os caminhos vivos da espiritu-alidade, a qual não prescinde a interação hemisférica do cérebro humano.”
A mesma Declaração de Veneza anteriormente citada continua afirmando que: “De certa forma, essa abordagem transdisciplinar está es-crita em nosso próprio cérebro através da interação dinâmica entre seus dois hemisférios. O estudo conjunto da natureza e do imaginário, do universo e do homem poderia, assim, aproximar-se melhor do real e permitir-nos enfrentar melhor os diferentes desafios de nossa época ... Recomendamos a urgência da pesquisa de novos métodos de educação, capazes de levar em conta os avanços da ciência que agora se hamonizam com as grandes tradições culturais, cuja preservação e cujo estudo mais profundo parecem fundamentais.” (Declaração de Veneza, Unesco, 1986)
O paradigma holístico está vinculado à concepção sistêmica, enten-dida como a maneira de ver todos os fenômenos ou eventos de um todo coordenados entre si, de modo que funcionem como uma estrutura organizada. “Em resposta à crise global da consciência humana, surge uma nova cosmovisão baseada numa holoepistemologia (holos, do grego totalidade), que integra e vai além da epistemologia cartesiana e da concepção dialética
34
José Luiz de Morais
clássica. O novo paradigma holístico que desponta desenvolveu-se a partir de uma concepção sistêmica na qual a abordagem dos fenômenos e eventos se dá de maneira inter-relacionada e interdependente.” (Ribeiro Franco, 1997)
Tal postura acompanha a abordagem sistêmica do mundo no qual todos os elementos, inclusive as sociedades humanas, interagem em uma imensa rede de relações. Num sentido metafórico, trata-se de uma gigantesca “wide world web, a www internetiana”. Assim, natureza e sociedade fundem-se em uma totalidade organizada. Visão ecossistêmica e holística se integram e interagem na medida que tratam de relações e de totalidade. Em uma abordagem ambiental, concluímos que os recursos da Terra não são inesgotáveis e que, portanto, é mais que desejável a união das sociedades humanas entre si e com a natureza, em sistema de cooperação e não de competição. “A visão evolutiva da dinâmica entre os pólos da competição e da cooperação nasceu da Teoria dos Ecossistemas e se transforma agora, na década de 1990, numa teoria transdisciplinar conheci-da como a busca da ‘Qualidade Total’, a qual está sendo testada por vários sistemas organizacionais no mundo, desde pequenas empresas, até empresas multinacionais. No campo da arquitetura, nota-se hoje, especialmente nos EUA e no Japão, uma tendência na busca da integração das disciplinas, tais como o planejamento territorial, urbanismo, paisagismo e o próprio desenho do edifício numa forma de trabalho cooperativo que se chama ‘Arquitetura Total’. Essa tendência faz parte das transformações conceituais derivadas da visão ecossistêmica e da Hipótese de Gaia e pode ser considerada como ver-tente holística no processo de criação arquitetônica.” (Ribeiro Franco, 1997)
Mais especificamente, explanações sobre métodos e técnicas em Arqueologia da Paisagem passam, necessariamente, pelos conceitos de sítio arqueológico, local de interesse arqueológico e levantamento arqueológico (assunto já ventilado na introdução desta tese).
Se bem que nunca formalmente explicitado, o conceito de sítio sempre esteve muito preso ao ato de escavar (Clark, 1996). Todavia, vários fatores, especialmente de ordem econômica (a escavação é onero-sa), técnica (há instrumentos modernos que rastreiam os assentamentos, sem tocá-los) e preservacionista (a escavação desmonta o sítio), vêm colaborando para que se firme a idéia da “fidelidade” do levantamento (ou da prospecção, como entendem alguns). A Arqueologia da Paisagem pouco intervém no registro arqueológico, esforçando-se para mostrar
que é possível reconstituir concretamente a maneira como as populações organizaram o seu espaço.
A abordagem da paisagem (Dollfus, 1982; Santos, 1985; 1996; Santos; Souza, 1986; Santos et al, 1994) ou dos entornos de ambientação de sítios e locais de interesse arqueológico vem se firmando cada vez mais com o uso dos modernos instrumentos hoje disponíveis: sistemas de sensoriamento remoto (imagens de satélites e a “velha” foto aérea), SIGs, GPSs (incluindo as total stations), SGBDs, etc. E assim, o conceito de sítio, sempre em mudança, vem se alargando cada vez mais (sobre o conceito de sítio arqueológico, relembrar definição específica, no item “Introdução”).
Talvez a melhor proposta metodológica da Arqueologia da Pai-sagem seja a do staff da Lancaster University Archaeological Unit, que se inspira em três níveis de registro da paisagem.
Nível.1.-.Levantamentos.Estimativos
Corresponde à fase inicial do projeto, sendo a mais elementar forma de levantamento. Objetiva localizar e promover um levantamento básico estimativo de sítios e locais de interesse arqueológico anteriormente iden-tificados, sob a ótica da Arqueologia da Paisagem; cobre áreas extensas. O ponto central e vários outros pontos do sítio são registrados com o auxílio de total stations. Descrições sumárias para a base de dados serão elaboradas. Este levantamento proporciona subsídios para o estabeleci-mento de esquemas preliminares e genéricos de manejo, proporcionando a elaboração de MDTs (modelagens digitais de terreno) de pequena escala. Fotografias aéreas e imagens de satélite são utilizadas.
Nível.2.-.Levantamentos.Avaliatórios
Correspondem à fase de identificação. Os levantamentos avalia-tórios definem a extensão e a forma dos sítios e dos locais de interesse arqueológico individualmente, relacionando-os com a topomorfologia, considerando os parâmetros do modelo locacional. Proporciona regis-
35
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
tros mais detalhados para análises acadêmicas do desenvolvimento da paisagem; cobre áreas menores. Atividades específicas de geoarqueologia deverão ser encaminhadas. O levantamento avaliatório deve ser proje-tado para gradativamente alcançar o nível 3, promovendo a aquisição de pontos e dados adicionais. Neste nível é possível registrar cenas e paisagens notáveis, demonstrando o desenvolvimento e o crescimento de atividades e ações humanas em determinados locais. MDTs mais pontuais poderão ser elaboradas (entornos de ambientação).
Nível.3.-.Levantamentos.Mitigatórios.
Correspondem à fase de manejo ou gerenciamento. Representam o registro paisagístico mais compreensivo de um sítio ou um local de interesse arqueológico, quando as geotecnologias são usadas em sua maior profundidade. A geração de modelagens digitais de terreno é em escala grande. O produto é o mapeamento na forma de construções isométricas do terreno, o mapeamento bidimensional de detalhe ou a construção de maquetes. A fase 3 provê um arcabouço que permite ati-var o gerenciamento detalhado dos registros arqueológicos identificados nos levantamentos. Nesta fase decide-se, por exemplo, se o sítio será preservado in situ ou se a sua preservação far-se-á por meio do registro de suas estruturas. A preservação in situ é preferível em função da na-tureza finita dos bens arqueológicos enquanto recurso cultural. Resta trabalhar, então, a comunidade detentora do patrimônio arqueológico em tela para que esta herança seja preservada.
Corroborando as iniciativas ligadas à Arqueologia da Paisagem, deverão ser ativados procedimentos próprios da arqueometria, especial-mente as datações. Justifica-se tal incremento em função da necessidade de se obter referências cronológicas mais apuradas, com o propósito de esclarecer o quadro das migrações humanas em períodos pré-coloniais e históricos.
No caso da pasta de cerâmica, podem ser utilizados métodos nucleares não destrutivos. Segundo Appoloni et al. (1997), as análises densitométricas determinam parâmetros de tecnologia cerâmica como homogeneidade, presença de cacos moídos ou outros antiplásticos. Além
disso, a composição da pasta de cerâmica pode identificar a região onde a argila foi coletada por meio da investigação de depósitos próximos aos sítios arqueológicos.
O.fator.geo.no.Paranapanema
O fator geo, conforme definido na introdução desta tese, estará presente em todos os momentos da vida do planejamento de investigação arqueológica inserido no prOjpar. Neste caso, os pesquisadores têm se valido das seguintes possibilidades de interface (Hassan, 1979; Gladfelter, 1981; Goudie, 1987):
Organização territorial da área a ser pesquisada, adotando-se como ponto de partida a delimitação das microbacias hidro-gráficas. Opcionalmente, poderão ser definidos e delimitados módulos de levantamento arqueológico, a partir da fixação de coordenadas planas de referência (coordenadas do Sistema UTM).
Estudos litoestratigráficos regionais, abrangendo o cinturão envoltório dos conjuntos de sítios arqueológicos. Como poderá ser verificado nos próximos capítulos, esta medida é bastante útil no sentido de se localizar e mapear fontes de matérias-primas enquanto locais para o desenvolvimento de atividades mineratórias (Andrefsky, 1994).
Registro e análise das evidências arqueológicas de atividades de extração (minerais, vegetais e animais) e de produção (agri-cultura) (Higgs; Vita-Finzi, 1972; Holliday, 1992).
Análises petrográficas de matérias-primas (por exemplo, ce-râmicas e líticos), com o propósito de se elucidar a cadeia de gestos técnicos necessários para a obtenção de artefatos, as possibilidades de comércio e rede de troca, bem como os limites das áreas de captação de recursos litológicos (Higgs; Vita-Finzi, 1972; Hayden, 1979; Morais, 1981/82; 1983; 1987; Caldarelli, 1983; Kelly, 1988; Afonso, 1995) .
36
José Luiz de Morais
Estudos geomorfológicos, climáticos e hidrológicos regionais, de grande importância para a compreensão dos processos que de-terminaram o enterramento do registro arqueológico (Ab’Sáber, 1969a;1969b; 1989; Rick, 1976; Schiffer, 1987; Dunnel, 1988; Larson, 1992; Kuehn, 1993; Will; Clark, 1996; Waters; Camilli, 1998).
Conservação do registro arqueológico in situ, a partir da seleção e adoção de medidas mitigatórias que minimizem os impactos naturais e antrópicos sobre ele (Rick, 1976; Stafford et al, 1992; Shelley, 1993; McFaul et allii, 1994; Pärssinen et allii, 1996; Wa-ters; Kuehn, 1996; Walker et allii, 1997; Guccione et al, 1998).
Análises sedimentológicas dos depósitos arqueológicos, que colaborarão nos procedimentos de reconstrução dos paleoam-bientes e de algumas características das atividades humanas (verificação de resíduos microscópicos, por exemplo) (Bertrand, 1972).
Verificação das relações possíveis homem / meio, de crucial importância no tratamento da articulação dos sistemas culturais com o meio ambiente circundante (Delpoux, 1974; Shackley, 1981; Butzer, 1982; Mooers; Dobbs, 1993).
Identificação de parâmetros locacionais como base para a defi-nição de um modelo locacional de caráter preditivo, de absoluta utilidade na fase de levantamento arqueológico (Chorley; Hag-gett, 1974; 1975a; 1975b; Redman, 1973; Board, 1975; Hodder, 1976; Gorenflo; Ambler, 1984; Gale, 1990; Kipnis, 1996).
Registro das mudanças nos padrões de estabelecimento locais e a amplitude de seus reflexos em termos ambientais regionais (Chang, 1972; Carr, 1984; Roberts, 1987; De Blasis, 1996).
Análise das relações entre os padrões de assentamento e deta-lhes das formas de uso da terra, bem como das evidências de degradação da paisagem e erosão do solo (Cremeens et al, 1998).
Detecção da qualidade e intensidade do uso da terra, suge-ridas pela presença de itens da cultura material nos registros arqueo-lógicos (Gallay, 1986; Camilli, 1988; Holliday, 1992).
Verificação da “produção de paisagens” por populações indí-genas pré-coloniais e de contato (Johson, 1977; Galicia, 1990; Rougerie; Beroutchachvili, 1991; Rossignol; Wandsnider, 1992).
Estudo dos primórdios da urbanização: desenho urbano e ciclos econômicos da apropriação do espaço, em termos de arqueo-logia histórica (Wagstaff, 1987; Funari, 1997).
Estudo da implantação e do desenvolvimento de rotas (siste-mas locais e interregionais) e suas relações com as mudanças de padrões de povoamento pré-coloniais e coloniais (Hodder, 1991; Rochefort, 1998).
No próximo capítulo serão retomadas algumas assertivas quando da sua aplicação nas situações da arqueologia rotineira do Paranapanema paulista.
38
José Luiz de Morais
A relevância do fator geo no planejamento arqueológico se justi-fica com bastante facilidade, posto que as ligações da Geografia com o Planejamento (principalmente o territorial) são marcantes. Com algum entusiasmo, poder-se-ia afirmar que este se inclui naquela. Desta feita, porém, não se coloca propriamente a relevância do fator geo no planeja-mento arqueológico mas, sim, a sua inserção na estrutura organizacional do prOjpar, o que permitirá avaliar a densidade da sua importância.
Seria redundante afirmar que o exercício da Arqueologia, enquan-to atividade racional e sistemática, exige ações desenvolvidas ao longo de um processo. É justo dizer que o planejamento constitui a primeira fase da investigação, quando são formulados os problemas, construídas as hipóteses e definidos os seus objetivos, dentre outros. Isto posto, o planejamento da pesquisa poderá ser definido como um processo sistema-tizado, por meio do qual se pode conferir maior eficiência à investigação para, em determinado prazo, alcançar o conjunto de metas estabelecidas (Gil, 1996). O projeto é o expediente que formaliza e explicita as ações a serem desenvolvidas ao longo do processo da investigação científica. Deve, portanto, especificar o objetivo da pesquisa, salientando a jus-tificativa para a sua realização e determinando os procedimentos de coleta e análise de dados. Cronograma, recursos humanos e financeiros também serão indicados.
Se um projeto formaliza ações, um plano diretor de pesquisa cons-titui um complexo de normas e diretrizes técnico-científicas para o desenvolvimento global e constante de uma modalidade (que pode ser um ou vários núcleos temáticos), em determinado território. O plano diretor é a expressão das aspirações técnico-científicas de uma equipe quanto à práxis de certas modalidades, preferencialmente vistas a partir do universo das suas intersecções. Deve constituir instância superior com relação aos projetos, funcionando como catalizador e direcionador das ações individuais ou coletivas, posto que tem um objetivo bastante amplo: interferir em todo o processo, de modo a compatibilizar anseios e otimizar metas.
Nos últimos anos, o Projeto Paranapanema rearticulou-se, amplian-do o seu espectro de atuação. A verdade é que, cada vez mais, a inves-
tigação arqueológica alinha-se às preocupações de ordem ambiental e patrimonial, adequando-se às realidades do final do milênio, onde se revigoram as iniciativas ligadas ao meio ambiente físico-biótico e sócio-econômico. De fato, ao mesmo tempo que se impõe selvagemente, a globalização encontra na valorização das comunidades locais uma contra-partida digna de nota. A partir de preocupações desta natureza, a coor-denação do prOjpar houve por bem provocar a releitura de sua história e, considerando a experiência acumulada no decorrer de trinta anos de ações em prol da Arqueologia Brasileira, organizou um plano diretor de pesquisa. Neste caso, o plano diretor de pesquisa pode ser encarado como um instrumento que, ao indicar caminhos e traçar rumos, coloca aos partipantes o desafio de atuar não apenas como simples programadores e executores de atividades, mas como agentes encarregados da ampliação do horizonte científico objeto do prOjpar. Assim, o PDP-prOjpar — Plano Diretor de Pesquisa do Projeto Paranapanema — constitui a esfera maior do sistema de planejamento característico do programa pois, além de estabelecer instrumentos, objetivos estratégicos e subprogramas, de-fine, no sentido político, uma “missão”, na tentativa de reunir preceitos ligados à investigação científica e acadêmica e a extensão de serviços à comunidade.
O.Plano.Diretor
É incomum um programa de investigação científica, de caráter acadêmico como é o Projeto Paranapanema, organizar-se na forma de um plano diretor de pesquisa, imitando o que é próprio das estruturas institucionais. Contudo, um plano diretor para o prOjpar se justifica plenamente pelas características que lhe são peculiares. Primeiramente, porque sua proposta, em termos de extensão territorial, é muito audacio-sa: são quase 47 mil quilômetros quadrados, correspondentes ao trecho paulista da bacia do Rio Paranapanema (desenho G-PP1). Assim, o mínimo que se exige para cobrir eficientemente tão vasto território é a existência de uma organização explícitamente assumida pela equipe de pesquisadores que, aliás, constitui a segunda característica que justifica a adoção do plano diretor. De fato, o número de pesquisadores do prOjpar tem sido bastante expressivo em todas as suas etapas, o que pode ser
39
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
verificado em uma simples consulta ao corpo da produção acadêmica (teses e dissertações) decorrente total ou parcialmente das pesquisas arqueológicas efetuadas no Paranapanema paulista.
Finalmente, há de se considerar a diversidade que atualmente permeia o espectro temático do programa: a releitura das diferentes fases pelas quais passou o Projeto Paranapanema resultou na consolidação de um temário atual, embasado nas ações recíprocas relativas ao território, desenvolvimento e meio ambiente, em cenários de ocupação humana bem definidos, onde os elementos da cultura material adquirem expressão máxima (apesar do evidente caráter multi e interdisciplinar, cada uma das especialidades envolvidas se reveste, porém, de tonalidades peculia-res, corroboradas pelas experiências individuais dos membros da equipe de pesquisadores).
Assim, além de fixar preceitos de ordem conjuntural, o Plano Di-retor de Pesquisa do prOjpar organiza e explicita um esquema aberto às possíveis adesões e uma distribuição de competências entre os seus vários participantes. Ao mesmo tempo que considera as liberdades pessoais, posto que foi organizado a partir delas, constitui uma peça aglutinadora, de caráter coletivo, em torno da qual orbitam os projetos individuais.
Explicitamente inspirado no Plano Diretor de Pesquisa do CENA — Centro de Energia Nuclear para a Agricultura da Universidade de São Paulo, o PDP-prOjpar adiantou-se à elaboração do plano diretor da própria instituição-sede, ou seja, o MAE-USP. O propósito desta atitude foi nada mais que testar a possibilidade do aproveitamento de um bom esquema de planejamento já implantado, em outra instituição do campo das ciências humanas e sociais, que é o museu, proporcionando, pela sua revisão crítica, subsídios para o emprendimento do seu próprio plano institucional. Voltando às palavras iniciais, um plano diretor, apesar de ser uma peça de planejamento própria das estruturas institucionais, é muito conveniente para programas de caráter multi e interdisciplinar, que congregam diversos parceiros institucionais.
Neste ponto, seria interessante tomar conhecimento do Plano Diretor de Pesquisa do Projeto Paranapanema, com o intuito de melhor compreender a inserção e a importância do fator geo na sua estrutura.
Organização
O Plano Diretor de Pesquisa do ProjPar foi elaborado a partir da definição de uma estrutura apropriada ao seu escopo, abrangendo uma parte inicial, que procura contextualizá-lo, definindo a sua missão, instrumentos e território de ação, e uma segunda parte, que é o plano diretor propriamente dito.
No Plano Diretor são definidos os objetivos estratégicos, os sub-programas e as linhas de pesquisa atualmente adotadas para o prOjpar.
Breve.Histórico.do.ProjPar
A história do Projeto Paranapanema ultrapassa um quarto de século. Foi idealizado em 1968, no âmbito do Museu Paulista da USP, pela arqueóloga Dra. Luciana Pallestrini, sua coordenadora até 1987 (Pallestrini, 1970; 1975). Nesse período, o objetivo estratégico do pro-grama consistia no desenvolvimento de métodos e técnicas de campo para o estudo de sítios arqueológicos do interior paulista. Esta postura privilegiou o exercício da práxis arqueológica intra-sítio, com forte dose interdisciplinar. Assim, o Projeto Paranapanema proporcionou grande avanço na interiorização da arqueologia paulista, praticamente restrita, até aquela época, às investigações dos sambaquis do litoral (Vilhena-Via-lou, 1980; 1984). Pela primeira vez foram levantados e estudados grandes assentamentos de comunidades indígenas pré-coloniais, especialmente ceramistas-horticultores, por meio da evidenciação e cartografação dos conjuntos de núcleos de solo antropogênico correspondentes a aldeias indígenas antigas, além de urnas funerárias de cerâmica (Morais, 1981).
Entre 1987 e 1992, sob a direção de José Luiz de Morais, inau-guraram-se os grandes levantamentos arqueológicos e ambientais por toda a extensão da bacia do Paranapanema paulista, culminando com a implementação de vários projetos especiais de salvamento arqueológico nas áreas impactadas por empreendimentos hidrelétricos. O objetivo es-tratégico inicial foi ampliado para contemplar as ligações possíveis entre a arqueologia e as questões ambientais e paisagísticas. A nova postura,
40
José Luiz de Morais
além de fomentar o enfoque das relações inter-sítios, privilegiou o reco-nhecimento e a analise das estratégias de exploração, conservação e de-gradação do meio ambiente pelas comunidades indígenas pré-coloniais, no decorrer dos ciclos de desenvolvimento sócio-econômico, cultural e tecnológico. Nesse período, o ambiente institucional do Projeto Para-napanema sofreu substancial alteração: em 1989, com a integração dos acervos arqueológicos e etnográficos da USP no novo Museu de Arque-ologia e Etnologia, ele foi deslocado para esta instituição. Por outro lado, para a consecução dos novos objetivos estratégicos, foram importantes as parcerias firmadas com a UNESP (Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente) e com a CESP (empresa estatal empreendedora dos programas energéticos) (Kunzli, 1991; Faccio, 1992; 1998; Kashimoto, 1992; 1998; Thomaz, 1995). Além disso, consolidaram-se as relações com os governos locais, especialmente a Prefeitura do Município de Piraju.
A partir de 1993, o prOjpar começa definir formalmente a sua missão, enquanto programa multi e interdisciplinar e interinstitucional. Aos objetivos estratégicos anteriores somaram-se outros, ampliando o seu espectro temático e temporal. Consolidaram-se os enfoques interdisciplinares referentes ao tema “território, desenvolvimento e meio ambiente”. Passaram a ser caracterizados cenários sócio-econômicos e culturais cronologicamente delimitados. As ações do prOjpar, prefe-rencialmente embasadas nas evidências materiais da cultura, passaram a abranger momentos que vão da pré-história à atualidade, englobando assuntos tais como as estratégias de sobrevivência das populações in-dígenas ou as formas de urbanização. Os subprogramas assumem como principal objeto de enfoque, as coisas relativas ao patrimônio natural e cultural da bacia do Rio Paranapanema, englobando o patrimônio arqueológico, o patrimônio arquitetônico e urbanístico e o patrimônio ambiental e paisagístico.
Assim, o prOjpar, hoje, pretende estudar generalidades e particu-laridades do meio ambiente físico-biótico e do meio ambiente sócio-econômico das comunidades locais e regionais, de forma interligada, em intervalos de tempo previamente definidos. Resumindo, o prOjpar atua por meio de um conjunto de ações que tem por objetivo a definição, análise e síntese dos cenários da ocupação humana da Bacia do Rio Paranapanema, nos respectivos contextos ambientais.
Missão.do.ProjPar
A partir da sua contextualização histórica e da ampliação de seus propósitos, foi possível definir formamalmente a missão do Projeto Paranapanema, cuja premissa reforça o seu caráter social. De fato, com esta opção, pensou-se enfatizar a extensão de serviços à comunidade. Isto posto, a missão ficou assim definida:
“Criar condições favoráveis para o estudo, a proteção e a divulgação do patrimônio arqueológico, do patrimônio arquitetônico e urbanístico e do patrimônio ambiental e paisagístico, enquanto bens de uso comum do povo, colaborando para o desenvolvimento social das comunidades da bacia do Rio
Paranapanema, pelo incentivo à participação coletiva.”
Instrumentos.do.ProjPar
A definição formal da missão do projeto exigiu, na seqüência, a definição de seus instrumentos, que são os seguintes:
A mobilização da sociedade em torno das políticas públicas relativas ao patrimônio arqueológico, ao patrimônio arquite-tônico e urbanístico e ao patrimônio ambiental e paisagístico.
estímulo ao cumprimento da função social nos assuntos rela-tivos ao patrimônio da comunidade, à distribuição justa dos benefícios e encargos decorrentes da sua proteção, à participa-ção comunitária e à prevalência dos interesses coletivos sobre os individuais.
A valorização científica, funcional e estética do patrimônio.
A produção e a divulgação de conhecimentos e informações relativas ao patrimônio.
41
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
A elaboração e implementação de subprogramas que contem-plem o patrimônio arqueológico, o patrimônio arquitetônico e urbanístico, o patrimônio ambiental e paisagístico e a educação ambiental e patrimonial.
O.território.do.projeto
A área geográfica nuclear do prOjpar corresponde à bacia do Rio Paranapanema no Estado de São Paulo, delimitada pelos seus diviso-res de águas. Em caráter não prioritário, as ações do prOjpar poderão alcançar espaços externos aos limites da bacia hidrográfica, dentro do território brasileiro.
Para a concretização da missão anteriormente definida, o prOjpar adota, na área geográfica nuclear, uma organização territorial compatí-vel com os seus propósitos. Esta organização territorial tem, por menor unidade de pesquisa, as microbacias hidrográficas (ver melhor detalha-mento nos Anexos).
A.arquitetura.do.programa
O Plano Diretor de Pesquisa do prOjpar é a peça de planejamento necessária e ajustada a um extenso programa de pesquisa regional, multi e interdisciplinar e interinstitucional, que é o Projeto Paranapanema. Seu propósito inicial é dar maior coerência, estabilidade e visibilidade ao programa, direcionando a aquisição de recursos humanos para a sua equipe e facilitando a captação de recursos financeiros.
O PDP-prOjpar será periodicamente revisado, com o propósito de mantê-lo sempre atualizado. Sua estrutura atual contempla objetivos estratégicos, definidos em consonância com a missão e os instrumentos do programa. Cada objetivo estratégico é desdobrado em subprogramas que congregam linhas de pesquisa definidoras de projetos individuais ou em equipe.
Considerando a produção científica em andamento e em conso-nância com a missão do prOjpar e seus instrumentos, estão definidos os seguintes objetivos estratégicos (os dígitos codificam o objetivo):
1. Demarcação Espacial e Temporal dos Cenários de Ocupação Humana
2. Desenvolvimento de Métodos e Técnicas de Pesquisa
3. Valorização e Instrumentalização das Comunidades
Cada objetivo estratégico inclui subprogramas, que constituem ações objetivas, multi e interdisciplinares e de execução coletiva (para melhor compreensão da estrutura organizacional, ver o desenho E-ORG, na página seguinte). Estão definidos os seguintes subprogramas (os dígitos codificam os subprogramas, inserindo-os nos objetivos estratégicos):
11. Arqueologia Pré-Colonial e Histórica
12. Ambiente, Paisagem e Território
21. Processos Interdisciplinares
22. Salvamento Arqueológico
23. Sistema de Informações Georreferenciadas
31. Patrimônio e Legislação
32. Patrimônio e Musealização
Os subprogramas desdobram-se em linhas de pesquisa que definem os projetos individuais e coletivos. Estes terão objetivos específicos, me-tas, plano de trabalho e cronogramas particularmente definidos.
Estão definidas as seguintes linhas de pesquisa (a codificação as inse-re nos subprogramas; por exemplo: o primeiro dígito significa a inserção no objetivo estratégico, o segundo significa a inserção no subprograma e o terceiro, a ordenação):
111. Caçadores-Coletores
112. Horticultores
42
José Luiz de Morais
113. Sociedade Nacional
121. Registro da Paisagem
122. Ordenamento do Território
123. Patrimônio Edificado
211. Geoarqueologia
212. Arqueologia da Paisagem
213. Etnoarqueologia
214. Antropologia Física
215. Arqueometria
221. Resgate do Patrimônio Arqueológico
222. Resgate do Patrimônio Histórico-Cultural
231. Gerenciamento de Banco de Dados
232. Mapeamento Automatizado
311. Regulamentação Edilícia e Ambiental
321. Museus de Cidade
ObjetivO estratégicO 1:
Demarcação.espacial.e. temporal.dos.cenários.de.ocupação.humana
Prende-se à inserção territorial das populações, compreendida em determinado intervalo de tempo. Permeia pela forma, função e mudança dos grupos sociais. Trata da demografia e das estratégias de desenvolvimento sustentável das populações, identificando e analisando os seus signos, sua produção e as correlações de ordem sócio-econômica e cultural.
Subprograma.ProjPar.11.
arqueOlOgia Pré-cOlOnial e Histórica
A Arqueologia é a disciplina que tem por finalidade o estudo dos modos de vida de comunidades antigas que deixaram suas marcas em ambientes específicos, identificados como sítios arqueológicos. Se o propósito final é o estudo dos diferentes aspectos sociais, econômicos e culturais das comunidades, considerando formas, funções e processos, os meios para analisá-los são os objetos produzidos por elas, que permanece-ram no registro arqueológico. Este registro comumente está contido em pacotes sedimentares, formando camadas antropogênicas identificáveis na estratificação natural. Muitas vezes, porém, o registro arqueológico pode estar presente em pisos e paredes rupestres ou ser constituído por estruturas edificadas. Os arranjos espaciais são, muitas vezes, detectados por evidências latentes ou intangíveis. Os antigos cenários de ocupação humana são revivenciados com o concurso de outras áreas de conhe-cimento como a Geografia, a Arquitetura, o Urbanismo, a História, a Etnologia, as ciências naturais e as exatas. No caso do prOjpar, apesar da diversidade temática atual, suas origens e boa parte do seu percurso referem-se ao exercício da disciplina arqueológica. Assim, esta prática constituiu, por bom tempo, seu único pilar, fato que ainda lhe confere elevado grau de importância.
linHas de Pesquisa dO subPrOgrama PrOjPar 11:
111. Caçadores-Coletores
Objetivos: Identificar os cenários das ocupações de caçadores-co-letores pré-coloniais, por meio da cultura material (especialmente materiais líticos) contida no registro arqueológico (especialmente evidências de antigos acampamentos). Processar e incorporar as informações à memória local e regional, contribuindo para o avanço da arqueologia nacional.
43
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
Situação Atual: As pesquisas arqueológicas relativas aos caçadores-coletores se desenvolvem em todos os trechos da bacia do Para-napanema paulista. Na Região 1 Bacia Superior concentram-se no alto curso do Rio Taquari e, principalmente nos territórios dos municípios de Piraju, Sarutaiá, Timburi e Tejupá; na Região 2 Ba-cia Média são desenvolvidos na área de influência do Complexo Hidrelétrico Canoas; na Região 3 Bacia Inferior ocorrem princi-palmente nas áreas de influência dos reservatórios de Taquaruçu e da Capivara.
Perspectivas: Esta linha de pesquisa tende a se incrementar na medida que se consolidam dois fatores: o desenvolvimento de projetos de salvamento arqueológico e a definição de parâmetros locacionais regionais indicadores do potencial arqueológico de determinadas áreas, com o aporte da Geoarqueologia e da Ar-queologia da Paisagem.
112. Horticultores
Objetivos: Identificar os cenários das ocupações de horticultores pré-coloniais por meio da cultura material (especialmente objetos de cerâmica) contida no registro arqueológico (especialmente evidências de antigas aldeias). Processar e incorporar as informa-ções à memória local e regional, contribuindo para o avanço da arqueologia nacional.
Situação Atual: O estudo de aldeias de populações horticultoras pré-coloniais teve grande ênfase na primeira fase do Projeto Pa-ranapanema, quando L. Pallestrini idealizou métodos e técnicas apropriadas à identificação de núcleos de solo antropogênico (remanescentes de antigas habitações) componentes das grandes aldeias guaranis descobertas na bacia média-superior. Os estudos efetuados por ocasião das pesquisas de salvamento arqueológico na área de influência da UHE Taquaruçu proporcionaram a aquisição de novos dados a respeito das ocupações horticultoras na Região 3 Bacia Inferior. Na Região 1 Bacia Superior, sub-bacia do médio Rio Taquari, estão sendo desenvolvidos estudos relativos a assenta-
mentos superpostos na foz do Ribeirão do Caçador, Município de Itaí. Na Região 2 Bacia Média, o resgate arqueológico do Complexo Canoas está evidenciando várias situações similares.
Perspectivas: Como na situação anterior, a incrementação das pes-quisas relativas aos horticultores se registra quando da realização de projetos de resgate arqueológico. Na perspectiva da arqueologia rotineira, de caráter puramente acadêmico, está prevista a reto-mada e a releitura dos dados anteriormente coletados (plantas das aldeias e materiais cerâmicos), com o aporte da etnoarqueologia.
113. Sociedade Nacional
Objetivos: Identificar os cenários das ocupações do período pós-conquista européia, contidas no registro arqueológico histórico, compreendendo, dentre outros: as comunidades indígenas sob influência da Igreja Católica (missões e aldeamentos); os assen-tamentos ligados ao bandeirismo e demais ciclos pioneiros de desenvolvimento econômico regional; os primórdios do proces-so de urbanização e as vias de circulação do passado (peabirus). Processar e incorporar as informações à memória local e regional, contribuindo para o avanço da arqueologia nacional.
Situação Atual: Os sítios guaranis sob influência jesuítica, situados na margem direita do Paranapanema médio-inferior, principal-mente nos entornos das reduções de Nossa Senhora de Loreto e de Santo Inácio Menor estão sendo estudados. No Paranapane-ma médio-superior, estão sendo encaminhados estudos ligados ao aldeamento do Pira’Yu’ e suas relações com o núcleo de São Sebastião do Tijuco-Preto, povoado que deu origem à cidade de Piraju. O Aldeamento do Pira’Yu’, dirigido por padres capuchinhos, foi destivado em 1912, por decisão do governo do Estado que, na ocasião, incumbiu Kurt Nimuendajú de transferir os guaranis restantes para a reserva de Araribá, nas proximidades de Bauru. Na Região 2 Bacia Média estão sendo levantados os remanescentes de aldeias guarani e kaingang históricos.
44
José Luiz de Morais
Perspectivas: Além do encaminhamento de estudos concernentes à questão índios/posseiros do Paranapanema médio-superior, prevê-se o aprofundamento da abordagem da influência jesuítica na margem direita que estendeu-se até a altura dos atuais muni-cípios de Palmital e Ibirarema. Concomitantemente, deverão ser iniciados enfoques de caráter arqueológico nos sítios e edificações históricas do ciclo do café, especialmente no entorno da cidade de Piraju. Nova frente está sendo planejada, envolvendo testemunhos do ciclo de mineração do ouro que ligou o alto Paranapanema ao porto de Iguape (Casa Grande e Encanados do Rio das Almas, no Município de Ribeirão Grande).
Subprograma.ProjPar.12.
ambiente, Paisagem e territóriO
O significado das coisas ambientais e paisagísticas é muito forte entre as comunidades da bacia do Paranapanema. O fato deste rio ser, ainda, pouquíssimo afetado por agentes poluidores industriais tem sido motivo de orgulho entre as populações locais. A característica de região não industrializada chega a ser colocada como vantagem, em termos de qualidade de vida, apesar de a estagnação econômica decorrente gerar graves problemas sociais. À vista disso, o ambiente e a paisagem são documentos regionais que precisam ser lidos adequadamente e o resultado da leitura deve ser devolvido à comunidade na perspectiva de se encontrar alternativas que anulem a estagnação econômica, sem prejuízo da qualidade de vida. Documentos, depoimentos e a própria vivência local indicam os vários elementos ambientais e paisagísticos de significância para as comunidades locais do Paranapanema. Cabe resgatá-los como elementos da cultura material, por meio de meto-dologias adequadas. O território resulta da ordena ção do espaço e da regulação das funções sociais do campo e da cidade; é o espaço regional habitável, parte do ecúmeno planetário. Normas técnicas relacionam-se com o planejamento, a cons trução e os arranjos regionais, de acordo com interfaces disciplinares que envolvem a Geografia, o Urbanismo, a História, a Antropologia, a Sociologia, a Po lítica, a Economia, a Enge-nharia, a Arquitetura e a Estética, dentre outras.
linHas de Pesquisa dO subPrOgrama PrOjPar 12:
121. Registro da Paisagem
Objetivos: Registrar, do ponto de vista das diversas especialidades, o ambiente que serviu como assentamento, território de captação e de processamento de recursos das populações. Recuperar, na medida do possível, os processos que levaram à transformação da paisagem local.
Situação Atual: As profundas e sucessivas transformações ocorridas na bacia do Paranapanema prejudicam a leitura e o entendimen-to dos cenários da ocupação humana, especialmente aqueles do passado remoto. Assim, têm sido enfocados itens paisagísticos que foram importantes para os diversos tipos de assentamento, com o registro gradual em mapas geoambientais de diferentes escalas, além da elaboração de memórias visuais pertinentes. Essa ação contempla, de modo geral, todo o território da bacia do Parana-panema.
Perspectivas: São bastante promissoras, na medida que se imple-mentam etapas de reconhecimento e definição da compartimenta-ção da paisagem, com a evidenciação dos elementos físico-bióticos e sócio-econômicos de valor como, por exemplo, as cenas notáveis, as marcas antrópicas rurais e urbanas, dentre outros enfoques. Todos esses aspectos tendem a crescer nas áreas contempladas por projetos específicos.
122. Ordenamento do Território
Objetivos: Levantar e sintetizar o estado d’arte dos arranjos ter-ritoriais implantados na bacia do Paranapanema. Recuperar e entender os processos que levaram à configuração atual da rede de cidades e a sua hierarquia. Identificar os fatores geográficos, históricos, sociais e econômicos que nortearam os contornos e a divisão administrativa do território.
45
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
Situação Atual: Trata-se de uma linha de pesquisa nova no prOjpar, implantada com design tentativo sujeito, portanto, a revisão crítica quando do término da primeira fase. Abrange uma área-piloto, que é a porção noroeste da Região 1 Bacia Superior, especialmente o Município de Piraju, criado em 1880. Em sua conformação original, este município abrangia os antigos distritos de Sarutaiá, Tejupá, Timburi e Manduri, além de partes de vários outros municípios vizinhos. O primeiro produto concreto deste trabalho foram os estudos que delinearam os contornos da Política Municipal de Urbanismo de Piraju, aprovada pela Lei Municipal 2.058, de 2 de dezembro de 1996.
Perspectivas: As potencialidades desta linha de pesquisa são imen-sas e de elevado caráter social, devendo ser estendida a outros municípios da bacia. Neste instante, prevê-se a ampliação das ações para os municípios da microrregião polarizada por Piraju.
123. Patrimônio EdificadoObjetivos: Elaborar o inventário de bens patrimoniais edificados do ambiente urbano e rural das comunidades do Paranapanema. Identificar e analisar os ciclos de desenvolvimento social, econô-mico e cultural que os produziram. Sugerir medidas de valorização, conservação e uso do patrimônio edificado.Situação Atual: Também se trata de uma ação nova no âmbito do programa, com as mesmas características da linha de pesquisa anterior. Neste caso, está sendo desenvolvido um projeto relativo ao ciclo do café no Paranapanema, cujos componentes edificados tipificam o ecletismo na arquitetura, característica presente em vá-rios pontos do Estado, ligada à cafeicultura e à imigração italiana.Perspectivas: Além das releituras e do aprofundamento com rela-ção ao ciclo do café, poderão ser enfocadas novas áreas e novos ciclos, na medida da adesão de especialistas ao programa. Uma das possibilidades potenciais é o estudo do patrimônio construído no ciclo de mineração do ouro no alto Paranapanema. Desnecessário frisar a importância da parceria com a arqueologia do ambiente urbano e rural e com as investigações ligadas ao ordenamento do território.
ObjetivO estratégicO 2:
Desenvolvimento.de.Métodos.e.Técnicas.de.Pesquisa
Relaciona-se com a invenção, importação e adaptação de mé-todos e técnicas relacionados com o desenvolvimento da pesquisa e a otimização da interdisciplinaridade (invenções e aprimoramento de métodos e técnicas de pesquisa em meio tropical poderão ser exportá-veis para ambientes extra-nacionais semelhantes). Há de se considerar peculiaridades dos aportes interdisciplinares, muitas vezes revestidos de características particulares que facilitam ou dificultam a delimitação das interfaces possíveis. O armazenamento e a manipulação de dados em meio eletrônico permite agilidade e melhor qualidade de resultados. Este objetivo estratégico proporciona suporte para os demais.
Subprograma.ProjPar.21
PrOcessOs interdisciPlinares
É irrefutável o elevado caráter interdisciplinar do espectro te-mático assumido pelo prOjpar. Assim, há de se destacar o potencial interdisciplinar em um subprograma individualizado que, porém, está presente e subsidia todos os demais. A interdisciplinaridade se faz sentir muito forte nas áreas de Arqueologia e de Urbanismo, dois focos de atenção do programa. No atual estágio de desenvolvimento do Projeto Paranapanema, estão consolidados vários processos interdisciplinares na área de arqueologia.
linHas de Pesquisa dO subPrOgrama PrOjPar 21:
211. Geoarqueologia
Objetivos: Enfocar as relações interdisciplinares possíveis entre a Arqueologia e as ciências da terra. Definir parâmetros locacionais dos cenários de ocupação humana do período pré-colonial e tipo-
46
José Luiz de Morais
logias topomorfológicas. Correlacionar as atividades mineratórias e processo de produção de artefatos nas comunidades indígenas pré-coloniais e históricas.
Situação Atual: Importantes trabalhos foram recentemente conclu-ídos nesta modalidade (Alto Taquari, Reservatório de Taquaruçu e Alto Paranapanema de Piraju). O design desta linha de pesquisa consolidado no prOjpar, tem sido transladado para outras regiões, como a Bacia do Alto Paraná, do Médio Moji-Guaçu e do Alto Tocantins.
Perspectivas: Como linha de pesquisa em franca atividade, as perspectivas de continuidade e aprofundamento são promissoras, especialmente no Reservatório da Capivara (Região 3 Bacia Infe-rior), no Alto Paranapanema de Piraju (Região 1 Bacia Superior) e no Alto Rio Taquari (Região 1 Bacia Superior).
212. Arqueologia da Paisagem
Objetivos: Enfocar as relações interdisciplinares possíveis entre a Arqueologia e a Geografia. Identificar os principais traços intro-duzidos na paisagem pelas ocupações humanas, os sistemas de uso e ocupação do solo e seus efeitos no meio ambiente regional, provendo bases arqueológicas sólidas para a compreensão dos assentamentos pré-coloniais e históricos inseridos no seu recorte ambiental. Identificar e registrar sítios e locais de interesse ar-queológico pré-coloniais e históricos, procurando recompor os principais traços da paisagem à época das ocupações. Identificar e registrar os fatores de risco que afetam os sítios e locais de interesse arqueológico, propondo medidas para a mitigação dos impactos aos quais estão sujeitos. Propor ações de gerenciamento e manejo das áreas de interesse arqueológico e paisagístico do Paranapane-ma paulista, mapeando os seus componentes. Otimizar o uso das geotecnologias para localizar, registrar e gerenciar as paisagens e seus componentes.
Situação Atual: No final de 1998, a Fapesp proporcionou apoio financeiro para o início da implantação desta linha de pesquisa em
todo o território do projeto. Trechos das regiões 1, 2 e 3, respec-tivamente bacias Superior, Média e Inferior estão sendo enfocados nas interfaces possíveis entre a Arqueologia e a Geografia.
Perspectivas: Como linha de pesquisa nova, as perspectivas de im-plantação e aprofundamento são promissoras em todo o território da bacia do Paranapanema, com possibilidades de translado para outras áreas do país.
213. Etnoarqueologia
Objetivos: Enfocar as relações interdisciplinares possíveis entre a Arqueologia e a Etnologia. Reconhecer os cenários de ocupações indígenas do período histórico (época colonial ou diversas frentes pioneiras do século 19 e princípios do século 20), confrontando-os com dados do registro arqueológico, para possíveis comparações no nível da reciprocidade de informações.
Situação Atual: Foi recentemente concluída uma pesquisa a res-peito da influência jesuítica nas ocupações guaranis na margem direita do Paranapanema, no entorno da Missão de Nossa Senhora de Loreto. Do mesmo modo, desenvolvem-se investigações a pro-pósito das migrações messiânicas guaranis do século 19, em busca da “terra sem mal”, e suas implicações com o nascente núcleo urbano de Piraju, entre 1860 e 1912.
Perspectivas: Há o propósito, a ser alcançado a médio e longo prazo, de se mapear os cenários de ocupação indígena sub-recente na bacia do Rio Paranapanema, especialmente os territórios guarani, kaingang e ofaié-xavante. Direcionamentos nesse sentido têm sido operacionalizados, principalmente com o aporte das novas aqui-sições em termos de equipe.
214. Antropologia Física
Objetivos: Promover o tratamento técnico de restos esqueletais humanos recuperados nas escavações arqueológicas. Organizar os respectivos inventários, encaminhando as observações e aná-
47
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
lises pertinentes. Recomendar os encaminhamentos básicos de conservação.
Situação Atual: O registro arqueológico do Paranapanema é paupérrimo em se tratando de restos humanos. Verões quentes e úmidos, associados às condições pedológicas insatisfatórias, pre-judicam a manutenção de vestígios orgânicos. Restos esqueletais, quando encontrados, inserem-se em contextos funerários de cerca de mil anos antes do presente, com sepultamentos primários em urnas de cerâmica correspondendo, sempre, às comunidades de horticultores. Foram recentemente concluídas as análises dos res-tos esqueletais recuperados no desenvolvimento dos projetos de resgate arqueológico da UHE Taquaruçu e do Complexo Canoas.
Perspectivas: Prevê-se a retomada das atividades desta linha de pesquisa a partir da aquisição de novos materiais esqueletais, com o andamento das intervenções de campo no resgate arqueológico do Complexo Canoas.
215. Arqueometria
Objetivos: Proceder análises de materiais de construção, com o propósito de identificar as fontes de matérias-primas, com o concurso de análises petrográficas e mineralógicas. Decompor e analisar materiais de alvenaria, materiais cerâmicos e outros ma-teriais de construção com técnicas de microscopia petrográfica e difratometria de raios-X, dentre outras. Processar amostras para a obtenção de datações radiométricas tais como o carbono-14 e a termoluminescência, dentre outros.
Situação Atual: Os trabalhos pioneiros da equipe do Prof. Shigueo Watanabe (IF-USP) no campo das datações por termolumines-cência, realizados no final dos anos 60 e início dos 70, tiveram como ponto de partida amostras de fragmentos de cerâmica recuperadas nas escavações do Projeto Paranapanema, quando foram feitas muitas análises. No presente estágio, esta modalidade está desativada.
Perspectivas: Além da retomada das datações por C-14 e TL, de-verão ser adotados encaminhamentos no sentido de enfatizar a importância da análise de materiais de construção, tendo em vista a necessidade de serem selecionados materiais específicos desti-nados às obras de restauração do patrimônio edificado da região.
Subprograma.ProjPar 22
salvamentO arqueOlógicO
Exceto no que concerne às condições operacionais, nenhuma distinção poderá ser feita, no nível da substância, entre a pesquisa ar-queológica rotineira e o salvamento arqueológico (ref. artigo publicado na Revista Dédalo, MAE-USP, 1990, pp. 195-205, Morais, J.L. “Arqueo-logia de Salvamento no Estado de São Paulo”). Por condições operacionais entende-se a delimitação da área a ser afetada pelo fator que produz risco e o prazo derivado deste mesmo fator. Isto posto, o projeto de salvamento arqueológico terá design claro e consistente, explicitamente embasado nas etapas da metodologia científica da arqueologia rotineira, reforçando a obtenção de informações por meio da observação sistemática. A defini-ção de um esquema conceitual (suposições), o levantamento de questões, o teste de hipóteses, a recuperação e análise de dados, a formulação da síntese, resultados e críticas, constituem estágios de encaminhamento do plano de trabalho de salvamento arqueológico.
linHas de Pesquisa dO subPrOgrama PrOjPar 22:
221. Resgate do Patrimônio Arqueológico
Objetivos: Obter informações sobre os cenários das ocupações pré-coloniais por meio da cultura material contida no registro arqueológico das áreas direta ou indiretamente afetadas pelos empreendimentos potencialmente lesivos ao meio ambiente. Processar e incorporar as informações à memória local, regional e nacional, antes que as obras comprometam irreversivelmente as evidências.
48
José Luiz de Morais
Situação Atual: O prOjpar vem atuando no setor há dez anos. O desenvolvimento desta linha de pesquisa tem proporcionado a consolidação de metodologia e técnicas altamente eficientes, transladadas para outras áreas (ref. Projeto de Salvamento Ar-queológico Pré-Histórico da UHE Serra da Mesa, Goiás; Projeto de Salvamento Arqueológico da PCH Moji-Guaçu, SP). Foram concluídos recentemente o Projeto de Salvamento Arqueológico da UHE Taquaruçu, que proporcionou a elaboração de uma tese de doutorado e quatro dissertações de mestrado (ver produção acadêmica da equipe do prOjpar). Foram também concluídos os estudos relativos à elaboração do EIA-RIMA da UHE Ourinhos e dos pequenos empreendimentos do Rio Turvo, no Município de Santa Cruz do Rio Pardo, por solicitação da CESP.
Perspectivas: Estão sendo encaminhadas as tratativas para os pro-cedimentos de resgate arqueológico da UHE Piraju (Companhia Brasileira de Alumínio). Encontram-se em fase final os trabalhos de resgate do patrimônio arqueológico do Complexo Canoas, mediante contrato com o Consórcio CESP/Companhia Brasileira de Alumínio.
222. Resgate do Patrimônio Histórico-Cultural
Objetivos: Resgatar os bens culturais, não abrangidos pelo resgate do patrimônio arqueológico pré-colonial, cujo significado para a comunidade regional ou local considere seus valores cognitivos, formais, afetivos e pragmáticos. Resgatar os valores culturais re-gionais ou locais (cenas do cotidiano, do saber-fazer, do registro gráfico existente, etc.). Registrar os usos e costumes (festas, muti-rões, tradições, linguajar, hábitos de vida, etc.). Elaborar inventário de propriedades rurais, das construções e monumentos urbanos e rurais, de seu agenciamento e uso atual.
Situação Atual: Até a presente etapa, os projetos de salvamento arqueológico do prOjpar restringiram-se, por força dos acordos institucionais (que consideraram as recomendações dos estudos e relatórios de impacto ambiental), ao resgate do patrimônio
arqueológico pré-colonial e dos assentamentos indígenas sob influência jesuítica.
Perspectivas: Na oportunidade da retomada dos trabalhos relativos à UHE Piraju, esta modalidade deverá ser ativada.
Subprograma.ProjPar.23..
sistema de infOrmações geOrreferenciadas
A implantação de um SIG-Arqueologia é idéia recente, que deverá se consolidar a partir da definição dos encaminhamentos necessários para a sua adoção. Na perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar do prOjpar, o SIG será utilizado como tecnologia para a coleta, sistematiza-ção, cruzamento e visualização de dados espaciais com o uso de softwares específicos existentes no mercado (ref. artigo publicado nos Anais da VIII Reunião Científica da Sociedade de Arqueologia Brasileira, Porto Alegre, 1995, pp. 519-538, Morais, J.L. “SIG-Arqueologia: Perspectivas de Aplicação em Programas de Pesquisa”). Relacionados ao SIG estão o gerenciamento de banco de dados, com acesso automatizado, e o mapeamento automatizado, que é a cartografia auxiliada por computador.
linHas de Pesquisa dO subPrOgrama PrOjPar 23:
231. Gerenciamento de Banco de Dados
Objetivos: Armazenar o grande número de dados angariados pelo prOjpar com os possíveis graus de automação, utilizando editores de texto, planilhas eletrônicas, listagens e formulários on-line. Promover o tratamento e armazenamento das imagens produzidas em meio magnético e em unidades de disco óptico (CD-ROM).
Situação Atual: Todos os textos produzidos a partir de dois anos estão armazenados em meio magnético. Do mesmo modo, foram organizados formulários eletrônicos para o registro dos sítios arqueológicos e dos bens patrimoniais edificados, tomando por
49
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
projpar
Territ Instr
MISSÃO
OBJETIVOSESTRATÉGICOS
1.ARQ 2.APT
3.SAL 4.LEG
7.MUS
NÚCLEO BÁSICO
NÚCLEO ESPECIAL
DESENVOLVIMENTO
MÍDIA
6.SIG5.DIS
11
12
13
21
22
23
61
62
41
31
32
71
51
52
53
54
55
56
Subprogramas:1. ARQ - Arqueologia Pré-Colonial e Histórica
2. APT - Ambiente, Paisagem e Território3. SAL - Salvamento Arqueológico
4. LEG - Patrimônio e Legislação5. DIS - Processos Interdisciplinares
6. SIG - Sistema de Informações Georreferenciadas7. MUS - Patrimônio e Musealização
Linhas de Pesquisa:11. Caçadores-Coletores; 12. Horticultores; 13. Sociedade Nacional21. Estudos da Paisagem; 22. Ordenamento do Território; 23. Patrimônio Edificado31. Resgate do Patrimônio Arqueológico; 32. Resgate do Patrimônio Histórico-Cultural41. Regulamentação Edilícia e Ambiental51. Geoarqueologia; 52. Arq. da Paisagem; 53. Arq. da Edificação; 54. Etnoarqueologia; 55. Antropologia Física; 56. Arqueometria 61. Gerenciamento de Banco de Dados; 62. Mapeamento Automatizado71. Museus de Cidade
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
desenho # E-ORG1999
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanema
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
O Projeto Paranapanema foi idealizado porLuciana Pallestrini em 1968.
ARQUEOLOGIA DA PAISAGEMCENAS DO PARANAPANEMA PAULISTA
(DA PRÉ-HISTÓRIA AO CICLO DO CAFÉ)APOIO : FAPESP
PROJPARPROJETO PARANAPANEMA
*
ARQUITETURA DO
PROGRAMA
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
pr
ojp
ar
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROJPAR
Missão do ProjPar:
Criar condições favoráveis para o estudo ea proteção do patrimônio arqueológico, dopatrimônio arquitetônico e urbanístico edo patrimônio ambiental e paisagísticoenquanto bens de uso comum do povo, colaborando para o desenvolvimento socialdas comunidades da bacia do Rio Paranapanema, pelo incentivo à participaçãocoletiva.
Instrumentos:
1. A mobilização da sociedade em torno daspolíticas públicas relativas ao patrimônio arqueológico, ao patrimônio arquitetônicoe urbanístico e ao patrimônio ambiental epaisagístico.2. O estímulo ao cumprimento da função socialnos assuntos relativos ao patrimônio dacomunidade, à distribuição justa dos benefícios e encargos decorrentes da suaproteção, à participação comunitária e àprevalência dos interesses coletivos sobre os individuais.
3. A valorização científica, funcional e estéticado patrimônio.4. A produção e a divulgação de conhecimentose informações relativas ao patrimônio.5. A elaboração e implementação de sub-programas que contemplem o patrimônioarqueológico, o patrimônio arquitetônico eurbanístico e o patrimônio ambiental epaisagístico e a educação patrimonial.
Território do ProjPar:
Bacia do Rio Paranapanema, no Estado deSão Paulo.
Objetivos Estratégicos:
1. Demarcação Espacial e Temporal dosCenários de Ocupação Humana.2. Valorização e Instrumentalização das comunidades.3. Desenvolvimento de Métodos e Técnicasde Pesquisa.
50
José Luiz de Morais
base cada município abrangido pelo prOjpar. Um pequeno lote de imagens fotográficas mais antigas, especialmente dos projetos relativos ao resgate arqueológico e inventário do patrimônio arquitetônico e urbanístico, foi transferido para meio magnético (scanner) e processado em meio eletrônico, com o uso de softwares para o tratamento de imagens.
Perspectivas: A adoção plena dos recursos da área de informática no armazenamento de dados obtidos pelo prOjpar, avança na medida da obtenção dos recursos necessários em termos de har-dware e software, bem como da capacitação dos recursos humanos do programa.
232. Mapeamento Automatizado
Objetivos: Organizar e elaborar a produção cartográfica do prOjpar com a adoção plena dos recursos de computação gráfica disponí-veis, usando dispositivos do sistema CAD/CAM (Computer Aided Design & Computer Aided Mapping), softwares para o tratamento de imagens e outros.
Situação Atual: A linha de pesquisa está em fase de consolidação. Às primeiras experiências com o uso de aplicativos bastante sim-ples, seguiram-se outras com softwares mais complexos como o Autocad, Winsurf e Idrisi. Para o acabamento das peças cartográfi-cas têm sido utilizados o Corel-Draw em suas versões atualizadas.
Perspectivas: A adoção plena da cartografia eletrônica está prevista para breve, a partir da aquisição de hardwares e sofwares adequados e do treinamento na área de recursos humanos.
ObjetivO estratégicO 3:
Valorização.e.instrumentalização.das.comunidades..
O fortalecimento das comunidades locais e regionais é estratégia planetária para o final de milênio. Pensar globalmente e agir localmen-
te significa assumir a participação coletiva e, portanto, o exercício da cidadania. Antes de ser bem comum da nação, o bem patrimonial é, primordialmente, uma referência local. Há de se apresentar sugestões de devolução social dos bens estudados, por meio da organização de lugares de memória (o uso para fins turísticos é uma possibilidade adicional). No sistema federativo brasileiro, de caráter cooperativo, cabe à União editar normas (entenda-se legislação) gerais, aos Estados Federados, nor-mas regionais e aos Municípios, normas locais. Compete às instituições acadêmicas supra-locais (no caso as universidades públicas, geralmente sediadas nos grandes centros) investir na instrumentalização técnico-jurídica das comunidades menores.
Subprograma.ProjPar.31.
PatrimôniO e legislaçãO
Instrumentalizar as municipalidades regionais na área legislativa, especialmente aquelas de médio e pequeno porte, tem sido uma das mais contundentes preocupações do prOjpar. A regulamentação edilícia é aquela que se refere ao urbanismo e ao ambiente urbano e, neste caso, ficam abrangidas todas as questões de ordem patrimonial da cidade (seus monumentos arquitetônicos, seus modos de vida, seus arranjos espaciais). Em matéria de urbanismo, cabe aos municípios editar nor-mas de atuação urbanística para o seu território, provendo assuntos que se relacionem com os seguintes tópicos: organização físico-territorial; zoneamento de uso e ocupa ção e parcelamento do solo urbano; desen-volvimento, renovação e estética da cidade; meio ambiente urbano; controle das edificações; sistema viário e equipamentos urbanos. A zona rural, mais afeita às normas gerais editadas pela União, sujeita-se, todavia, aos interesses locais das municipalidades, especialmente em termos de proteção ambiental, universo das competências comuns entre todos os entes federativos.
51
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
linHa de Pesquisa dO subPrOgrama PrOjPar 31:
311. Regulamentação Edilícia e Ambiental
Objetivo: Suprir os municípios atendidos pelo prOjpar com estudos de anteprojetos de leis e regulamentos relativos à área urbanística e de gestão ambiental e cultural, fomentando a participação da coletividade no processo de discussão e elaboração dos dispositivos legais.
Situação Atual: Está sendo encaminhado, desde 1994, um plano de ação junto ao Município de Piraju. Tais encaminhamentos resultaram na elaboração de um trabalho relativo à Política Mu-nicipal de Urbanismo, aprovada pela Câmara Municipal e editada por meio da Lei Municipal 2.058, de 2 de dezembro de 1996. Esta lei encontra-se, atualmente, em fase de regulamentação, tendo sido expedidos, dentre outros, decretos municipais reconhecendo o território do Município de Piraju como área de relevante interesse arqueológico e reconhecendo o Centro Regional de Pesquisas Ar-queológicas, extensão do MAE-USP, como instituição de utilidade pública municipal.
Perspectivas: Além do prosseguimento da etapa de regulamentação da Política Municipal de Urbanismo de Piraju, está sendo encami-nhada a elaboração do Código Municipal de Meio Ambiente deste município. Gestões iniciais estão sendo encaminhadas junto às prefeituras de Ribeirão Grande (Região 1 — Bacia Superior) e Timburi (Região 2 — Bacia Média), para ações semelhantes.
Subprograma.ProjPar.32.
PatrimôniO e musealizaçãO
Grandes e pequenos museus vêm experimentando novas estraté-gias de aproximação com a população, sustentando-se em uma atuação comunitária, procurando superar o aspecto de depósitos de objetos, passando a servir a coletividade. Consolidam-se, assim, os museus de
cidade, principalmente nos pequenos e médios núcleos, voltados para a preservação das estruturas, das referências e das formas de uma comuni-dade urbana. Esse modelo museológico procura ser o local privilegiado para o povo encontrar ali as suas marcas patrimoniais e conhecer as suas tradições e rupturas culturais. São museus para a população se ver, como também para ser vista por pessoas de outros lugares, pois reúne vestígios do processo de urbanização, dos ciclos econômicos que sustentaram a consolidação da cidade, das famílias que formaram a população, entre outras referências. Os museus de cidade preservam um patrimônio que possa garantir a identidade do espaço circunscrito de uma cidade e a vivência cultural partilhada por sua população.
linHa de Pesquisa dO subPrOgrama PrOjPar 32:
321. Museus de Cidade
Objetivos: Proporcionar educação objetiva e subjetiva nas áreas de patrimônio cultural e meio ambiente, renunciando às implicações doutrinárias, propiciando faculdades específicas e situações que le-vem à reflexão e ao desenvolvimento do raciocínio e contribuindo para a educação libertadora. Proporcionar informações científicas por meio de exposições, palestras e outros eventos que represen-tem o desfecho de um trabalho iniciado com a coleta sistemática de materiais, sua posterior catalogação e análise. Contribuir, na perspectiva dos museus de cidade, com as instituições públicas e privadas já implantadas nos municípios da bacia do Paranapane-ma, coletando subsídios para a implantação de banco de dados no âmbito do subprograma prOjpar 32.
Situação Atual: Estão sendo encaminhadas gestões para a consoli-dação do projeto Museu da Cidade de Piraju, a partir de uma reali-dade concreta que é o Centro Regional de Pesquisas Arqueológicas Mario Neme, constituído por quatro núcleos temáticos: Arqueolo-gia Regional: os vestígios do passado; Rio Paranapanema: a alma da cidade; Tradição e Progresso: o café e a evolução da cidade e Famílias: as pessoas de Piraju. Outro projeto está promovendo
52
José Luiz de Morais
um levantamento sistemático amplo das coleções arqueológicas presentes nos diferentes museus das cidades comprendidas pelo prOjpar.
Perspectivas: À vista do elevado caráter social preconizado na fusão dos seus objetivos, corroborado pelo fato de o museu poder contri-buir efetivamente para a educação informal da comunidade, esta vem se consolidando como uma das linhas de pesquisa de grande expressão no âmbito do prOjpar.
** ** **
Avaliação.e.impacto.na.sociedade
A principal característica do sistema de planejamento adotado no prOjpar é, de acordo com o jargão comum da área, a gerência por objetivos. Isto significa trabalhar com diversas linhas de pesquisa, a fim de se obter determinada produtividade (isto no âmbito das metas); a produção evidenciará se se alcançou o pretendido (objetivos específicos do planejamento), para efetivamente contribuir na solução de um problema.
Nesse sistema, tem sido muito importante a avaliação, enquanto processo que permite dimensionar em que medida estão sendo atingidos as metas e os objetivos do programa. Considere-se, como exemplo, um projeto coletivo implementado segundo as diretrizes do PDP-prOjpar: a avaliação acompanhará cada etapa da implementação, não devendo ser feita exclusivamente ao final das atividades. Há de se ter absoluto controle pari passu, o que permitirá saber se, cumpridas as metas e al-cançados os objetivos, foram efetivamente solucionados os problemas previamente diagnosticados. Esta atitude possibilita avaliar se o plano de trabalho foi adequado e realizado conforme o programado.
Não se discute, nesta oportunidade, o impacto do prOjpar junto ao público especializado — arqueólogos ou instituições especializadas em arqueologia. Neste caso, sempre haveria impacto, positivo ou negativo. Colocam-se, sim, os possíveis impactos nas sociedades locais, geralmente as pequenas e médias comunidades que se distribuem ao longo da bacia
do Paranapanema paulista. Na medida do possível, os impactos têm sido dimensionados, possibilitando conhecer de que forma o projeto tem contribuído para o bem estar-social ou a melhoria da qualidade de vida, no sentido mais amplo destas expressões. São dimensionadas a sua eficácia, eficiência e efetividade. No primeiro caso — eficácia — tem-se considerado a importância qualitativa e quantitativa das transformações que o ProjPar opera no meio comunitário de pequenas cidades. No segundo caso — eficiência — tem-se levado em conta a economia de tempo e a aplicação de recursos (humanos e financeiros) na consecução dos objetivos. E, finalmente, no terceiro caso — efetividade — mede-se o grau de aceitação que o programa obteve na sociedade, na medida em que esta incorpora os produtos, multiplicando os seus conteúdos.
Certamente, os melhores exemplos de impacto junto a comuni-dades do interior está em Piraju, cidade com quase 27 mil habitantes, situada no Paranapanema médio-superior. Lá, as ações do prOjpar são absolutamente marcantes, podendo ser elencadas de forma sintética:
Centro Regional de Pesquisas Arqueológicas Mario Neme, extensão do MAE-USP lá implantado deste 1972: este núcleo acadê-mico mantém mostras permanentes e temporárias do acervo regional, laboratório, reserva técnica, arquivo documental do projeto e biblioteca. Ações educativas em colaboração com as redes de ensino básico e secundário estão consolidadas, qualificando o Centro como uma referência institucional de expressão regional.
Ações ligadas à proteção do patrimônio arqueológico, arquitetônico e urbanístico, ambiental e paisagístico, especialmente a formulação de diplomas jurídicos e outras normas técnicas. Analisados e assumidos pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Patri-mônio Cultural, tais expedientes acabam por ser editados em leis municipais. De fato, o Município de Piraju é, nos dias de hoje, um dos melhor aparelhados em legislação ambiental e de patrimônio cultural do Estado de São Paulo.
Ações ligadas ao uso social do patrimônio da comunidade, es-pecialmente os bens arquitetônicos de valor histórico e as paisagens
53
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
notáveis. Nesse caso, o levantamento e a delimitação de roteiros, como o das fachadas ecléticas edificadas no auge do período cafeeiro (primeira década deste século), por exemplo, poderá viabilizar o turismo de fundamentação patrimonial e ambiental (isto é um fator de extrema importância, pois o Município de Piraju definiu o turismo como uma de suas opções econômicas mais importantes).
56
José Luiz de Morais
No âmbito do Projeto Paranapanema, entende-se por arqueologia rotineira aquela que prima pela pesquisa básica, exercida na rotina aca-dêmica, sem a pressão de fatores que a coloquem sob regime especial, como é o caso do resgate arqueológico (a ser visto no capítulo seguinte). É o caso da maior parte dos projetos universitários na área de Arqueologia.
Princípios.que.regem.a.investigação.rotineira
Alguns princípios regem os enfoques relativos ao patrimônio arque-ológico e a sua investigação rotineira, no âmbito do prOjpar. São eles:
patrimônio arqueológico é bem da União regido por legisla-ção específica e sua investigação necesssita de autorização do IPHAN — Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A solicitação ao órgão é regulamentada pela Portaria 07/87.
O patrimônio arqueológico é bem de uso comum do povo brasileiro e, sem dúvida, o segmento mais interessado é a comu-nidade que detém este patrimônio no seu território. Cabe aos pesquisadores esclarecer seus propósitos junto às comunidades locais em linguagem apropriada, estimulando o reconhecimento e a valorização dos bens arqueológicos.
A postura das equipes perante os proprietários ou ocupantes das terras onde se insere o registro arqueológico será a mais cordial possível. Os melhores esclarecimentos deverão ser vei-culados em linguagem adequada, com o propósito de minimizar quaisquer níveis de desconfiança ou ansiedade. Recomendação importante: não há porque fazer estragos em plantações ou equipamentos pertencentes aos agricultores; qualquer traço resultante das necessárias intervenções deverão ser suprimidos pela recomposição do terreno.
As relações entre os membros da equipe deverão alcançar níveis máximos de otimização. A cooperação é atitude a ser cultivada
a cada momento do trabalho em campo. Comportamentos e posturas corretas, desde o uso de vestimentas adequadas, até cuidados com o equipamento de pesquisa, serão devidamente observados.
A Arqueologia não precisa de heróis e, sim, de bons pesqui-sadores. Portanto, níveis adequados de segurança individual e coletiva deverão ser criteriosamente respeitados.
Inovações técnicas serão benvindas, desde que devidamente ex-plicitadas e documentadas. Todavia, jamais colocarão em risco a integridade do sítio arqueológico ou as formas de seu registro.
A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade que subsidiam a elaboração e desenvolvimento da investigação arqueológica do prOjpar são, em si, uma aplicação holística, pois refletem a intenção de construir pontes sobre as fronteiras disciplinares e a tradição. O paradigma holístico está vinculado à concepção sistêmica, entendida como a maneira de ver todos os fenômenos ou eventos de um todo coordenados entre si, de modo que funcionem como uma estrutura organizada.
O paradigma ecossistêmico também subsidiará a a investigação arqueológica, acompanhando a abordagem sistêmica do mundo, no qual todos os elementos, inclusive as sociedades humanas, interagem em uma imensa rede de relações, uma espécie de wide world web. Assim, natureza e sociedade fundem-se em uma totalidade organizada. Visão ecossistêmica e holística se integram e interagem na medida que tratam de relações e de totalidade.
Finalmente, há de se considerar que os recursos arqueológicos são finitos e a ordem é preservá-los. Para isto vislumbram-se duas opções: a evidenciação, leitura e registro das ocorrências arqueológicas ou a sua manutenção in situ, definida uma medida de proteção adequada. Alguns fatores, especialmente de ordem econômica (a escavação é onerosa), técnica (há instrumentos modernos que rastreiam os assentamentos, sem tocá-los) e preservacionista (a escavação desmonta o sítio), vêm colabo-rando para que se firme a idéia da “fidelidade” de certos tipos
57
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
de intervenção além da escavação. Linhas de pesquisa como a Arqueologia da Paisagem pouco intervêm no registro arqueo-lógico, esforçando-se para mostrar que é possível reconstituir concretamente a maneira como as populações organizaram o seu espaço com o mínimo de intervenção. A abordagem da paisagem ou dos entornos de ambientação de sítios e locais de interesse arqueológico vem se firmando cada vez mais com o uso dos modernos instrumentos hoje disponíveis: sistemas de sensoriamento remoto (imagens de satélites e a “velha” foto aérea), SIGs, GPSs (incluindo as total stations), SGBDs, etc.
Primórdios.da.investigação.rotineira
À Luciana Pallestrini (1975) deve ser creditado o mérito da visão regional interdisciplinar, em termos de organização da práxis arqueoló-gica na bacia do Paranapanema. Ao idealizar o Projeto Paranapanema (desenho # G-PP1), definiu como sua missão a “cobertura arqueológica dos sítios ao longo do Rio Paranapanema e seus afluentes, num sentido ao mesmo tempo global e específico em seus seus detalhes. O sentido global se prende à visão arqueo-etnológica do conjunto de sítios escavados e prospec-tados pelo projeto, considerando-se a homogeneidade dos mesmos dentro da classificação genérica de ‘sítios lito-cerâmicos’ colinares de interior. O senti-do específico se refere à pesquisa sistemática destes sítios através da análise apurada de suas supra e infra-estruturas, cuja interpretação arqueológica só pode decorrer de escavações inteligentemente planejadas e bem conduzidas até o fim, através de técnicas especializadas. Tais técnicas, aplicadas desde o início do projeto, não só revelaram constantemente sua eficácia, como levaram à seqüência de operações a uma amplitude que requer, cada vez mais, uma atividade multidisciplinar”.
Ao contrário de outros pesquisadores que atuaram no Paranapa-nema, Pallestrini, talvez em face da sua formação acadêmica (história natural), privilegiou a interdisciplinaridade com as ciênciais ambientais, optando por adaptar metodologias européias às condições tropicais bra-sileiras (o Mestre Leroi-Gourhan foi seu grande mentor). Isso levou-a a assumir a escavação como a prática arqueológica por excelência consi-
derando, sempre, a visão do assentamento pré-colonial em seu conjunto. Assim, Pallestrini levantou e cartografou aldeias pré-históricas, onde cada núcleo de solo antropogênico correspondia a uma estrutura habitacional componente de um conjunto pré-urbano (desenho # E-JGL1). A linha prOnapa, então vigente no Paranapanema, ao contrário, induzia a uma visão fragmentada de tais conjuntos, ao considerar cada núcleo de solo antropogênico um “sítio-habitação”.
Esta nova acepção revolucionou a Arqueologia paulista. Além de promover a sua interiorização, permitiu o início da formação de uma escola que, definitivamente, consolidou a Arqueologia no Estado de São Paulo. Na esteira desta ação, outras iniciativas foram adotadas, completando a situação que se evidencia hoje. Neste ponto, convém pontuar a metodologia rotineiramente adotada nas pesquisas do Projeto Paranapanema.
A linha metodológica adotada nas ações do prOjpar privilegia a investigação de caráter regional, com a exploração máxima das possí-veis ligações entre os diversos itens abordados. Assim, o rastreamento dos sistemas de assentamento tem proporcionado dados relevantes no que concerne às formas, funcionamento e mudanças nas ocupações humanas, bem como aos modos de interação homem/meio, no âmbito da Paleogeografia regional.
No caso do prOjpar, as investigações rotineiras, de caráter acadê-mico, firmaram-se, primeiramente, nos princípios inspirados em Charles Redman. Hoje a metodologia já adota características bastante próprias, a saber:
A utilização explícita do raciocínio indutivo e dedutivo na formulação do design da pesquisa e nos estágios posteriores de análise.
Retroalimentação programática e analítica entre as diferentes fases da investigação.
Seleção de amostras.
Formulação de técnicas de análise que sejam apropriadas às hipóteses e objetivos.
58
José Luiz de Morais
A partir da definição destes princípios, a estrutura organizacional da pesquisa tem sido organizada nas seguintes fases:
Atividades.de.Gabinete
Levantamento, aquisição, leitura, análise e seleção da biblio-grafia essencial à complementação do arcabouço teórico e me-todológico necessário à implementação desta fase de trabalho.
Levantamento, aquisição e produção da documentação carto-gráfica e aerofotogramétrica disponível.
Manipulação e interpretação de dados.
Composição de sínteses e elaboração de relatórios técnicos e textos científicos.
Atividades.de.Campo
Desenvolvimento das intervenções a partir do mecanismo de multi-estágios, que se concretiza pelo cumprimento das seguintes tarefas:
Reconhecimento de área, quando universo e amostra se confun-dem pela abrangência de toda a área a ser investigada. Materiais e métodos ligados à Geoarqueologia, Arqueologia da Paisagem e demais subcampos afins, com substancial exploração da do-cumentação cartográfica e aerofotogramétrica, fornecerão os subsídios necessários ao estudo ambiental geral e à observação preliminar do potencial arqueológico.
Levantamento (survey). Esta etapa de campo partirá do universo estabelecido no estágio anterior setorizado, tendo como amos-tra alguns setores delimitados. O detalhamento ambiental, o aprofundamento da observação do potencial arqueológico e o conseqüente levantamento e registro de sítios, com coletas comprobatórias, serão os resultados proporcionados pela adoção
de materiais e métodos ligados à Geoarqueologia, Aerofotoar-queologia, Arqueologia da Paisagem e demais subcampos afins.
Prospecção (coletas sistemáticas). Neste estágio, o universo será constituído de todos os sítios levantados anteriormente. A amostra será organizada a partir da escolha de alguns sítios de cada tipo (aí entra a questão da significância, que depende dos resultados do cruzamento de diversas variáveis). Métodos e técnicas ligadas às intervenções de pequeno porte — coletas superficiais cartografadas, sondagens, cortes e pequenas decapagens — proporcionarão o detalhamento ambiental local e, princi-palmente, coletas sistemáticas intensivas.
Escavação (evidenciação de estruturas). Esta tem sido considerada a prática arqueológica por excelência. Seu universo constituirá do conjunto de sítios prospectados e a amostra será organizada a partir da escolha de alguns sítios, em função das questões le-vantadas. A abertura dos sítios componentes da amostra poderá ser parcial ou total. Métodos e técnicas ligadas à escavação por superfícies amplas e/ou escavação etnográfica proporcionarão a visão do contexto tridimensional das estruturas arqueológicas, possibilitando análises acuradas das relações intra-sítio.
Atividades.de.Laboratório
Análise e aproveitamento da documentação cartográfica e aerofotogramétrica (fotointerpretação, fotogrametria, etc).
Produção de peças cartográficas digitalizadas, no âmbito do Plano Cartográfico do Projeto Paranapanema (ver anexos, no final desta tese).
Análise dos materiais arqueológicos (líticos, cerâmicas e ou-tros).
Análises laboratoriais de materiais não arqueológicos (sedimen-tos, datações radiométricas e outros).
59
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
Ultimamente, os preceitos da Arqueologia da Paisagem têm direcio-nado a retomada das pesquisas arqueológicas no Paranapanema paulista. De fato, esta linha de pesquisa pela sua elevada conotação interdiscipli-nar, lida com grande número de dados. Seria, portanto, bastante difícil trabalhar com tais dados sem fazer uso de um complexo de procedi-mentos oferecidos pela tecnologia computacional. Citando novamente Afanasiev, pode-se afirmar que a ocorrência de novas informações e tecnologias analíticas mudou radicalmente a imagem da Arqueologia enquanto disciplina. Tais oportunidades produzem significativas con-tribuições para a causa da preservação da herança arqueológica. Neste caso, o Sistema de Informação Geográfica, o Sistema de Posicionamento Global por satélites, os Sistemas de Base de Gerenciamento de Dados e os Sistemas de Sensoriamento Remoto são muito importantes. Para este pesquisador da Academia de Ciências da Rússia, o principal significado de tais instrumentos são:
“Eles permitem armazenar informações em base de dados sobre extensas regiões.
Tornam possível acumular e distribuir dados entre regiões, paisagens, com apresentação em diversos tipos de mapas.
Permitem o estudo de dados por métodos de análises estatísticas espaciais.
Com a sua ajuda é possível introduzir informações de senso-riamento remoto.
Eles ajudam criar os modelos de sistemas de paisagem arque-ológica.”
Cumpre destacar a inovação da tecnologia dos satélites, possibili-tando o uso de técnicas locacionais (total stations, no sistema GPS), que tornou possível expandir economicamente levantamentos da paisagem sobre áreas bastante extensas. Pode-se dizer que o uso do GPS vem revolucionando as atividades de levantamento, permitindo o registro primário de vastas áreas. Assim, é possível examinar acuradamente o potencial arqueológico de significativas proporções das microbacias hidrográficas delimitadas.
O uso desses procedimentos tornam as pesquisas mais rentáveis em termos de pessoal e infraestrutura. Permitem, além disso, a partir da recuperação e da releitura dos dados propor e responder novas questões.
A.Arqueologia.da.Paisagem.no.Paranapanema.paulista
Formulando questões similares para cada segmento da bacia do Paranapanema, tem sido possível entender um conjunto de relações homem/meio até agora problemático devido à imprecisão da análise da paisagem ou dos próprios levantamentos de campo. Este esquema pode não ser considerado a panacéia do assunto, posto que sujeito a alterações no decorrer da sua aplicação. Todavia, os tópicos sugeridos podem ser considerados um arcabouço seguro como ponto de partida:
Mudanças nos padrões de assentamento locais e amplitude de seus reflexos em termos ambientais regionais.
Qualidade e intensidade do uso da terra, sugeridas pela presença de itens da cultura material nos registros arqueológicos.
Relações entre os padrões de assentamento e detalhes das for-mas de uso da terra, bem como das evidências de degradação da paisagem e erosão do solo.
Povoamento pré-colonial: da predação à produção (caçadores-coletores e horticultores produzindo paisagens).
Evidências arqueológicas de atividades de extração (minerais, vegetais e animais) e de produção (agricultura incipiente).
Das missões jesuíticas aos bandeirantes: primeiros contatos das comunidades indígenas com ibéricos e instituições de conquista já tidas como brasileiras (ciclo bandeirista); o Paranapanema sem índios.
Contatos tardios entre índios e posseiros no período da con-solidação da ocupação definitiva da Bacia do Paranapanema (migrações messiânicas dos guaranis, em busca da mítica yvy marane’y terra sem mal).
60
José Luiz de Morais
Primórdios da urbanização: desenho urbano e ciclos econômicos da apropriação do espaço (o breve ciclo do ouro; o pequeno ciclo da cana e os tropeiros; o grande ciclo do café).
A implantação e o desenvolvimento de rotas (sistemas locais e interregionais) e suas relações com as mudanças de padrões de povoamento (dos peabirus à ferrovia).
Tais problemas genéricos convergem para situações e locais espe-cíficos, considerados estudos de caso no desenvolvimento da Arqueologia da Paisagem no Paranapanema paulista. A pontuação destas situações atende não apenas às expectativas da investigação propriamente dita, mas também às sugestões bastante contundentes das comunidades locais, posto que alguns sítios e áreas arqueológicas têm significativa relevância para elas:
O Sítio Arqueológico Histórico Casa Grande e seu entorno, pro-vavelmente ligado ao ciclo dos tropeiros (Município de Ribeirão Grande, bacia do Rio das Almas médio-inferior).
Os sítios arqueológicos históricos Encanados, possivelmente ligados ao breve ciclo de mineração do ouro no Paranapane-ma superior (Município de Ribeirão Grande, bacia do Rio das Almas médio).
O Complexo Caçador e seu entorno, ligado a uma sucessão de ocupações de horticultores (Município de Itaí, bacia do Taquari médio).
O entorno de ambientação dos sítios arqueológicos registrados no Rio Taquari superior, ligados ao povoamento de caçadores-cole-tores pré-históricos (municípios de Itapeva e Nova Campina).
Sítios arqueológicos pré-históricos de caçadores-coletores e de hor-ticultores e respectivos entornos de ambientação (municípios de Piraju, Tejupá, Sarutaiá e Timburi, bacia do Paranapanema médio-superior).
O sítio urbano da cidade de Piraju, as alterações territoriais des-de a criação do município em 1871, até a fixação do desenho
urbano no auge do ciclo cafeeiro, passando pelos contatos posseiros/guaranis, entre 1850 e 1912 (Aldeamento do Piraju).
Sítios arqueológicos de horticultores pré-coloniais e outros de influência jesuítica e seus respectivos entornos de ambientação, numa tentativa de reconhecer os limites orientais da Compa-nhia de Jesus espanhola na margem direita do Paranapanema médio-inferior (bacia do Paranapanema médio-inferior).
Consolidação.do.fator.geo
Um dos melhores meios de se compreender as paisagens do passado é tentar recompô-las e, neste caso, o fator geo se faz marcar acentuadamente. Se for possível vislumbrar o que as comunidades do passado vivenciaram, estar-se-á bem próximo de entender as suas ações. Como foi dito anteriormente, entender a paisagem que rodeia um sítio ou um local de interesse arqueológico ajuda na tarefa de se reconstruir o passado cultural.
Com o reconhecimento de componentes das paleopaisagens por meio das análises polínicas (que permitem a reconstituição da cobertura vegetal), da Geomorfologia (observando os processos físicos que atuam na paisagem atual), bem como as referências à paisagem moderna, poder-se-á tentar reconstituir cenários antigos de ocupação humana.
O aporte do fator geo faz parte da rotina da investigação arqueoló-gica do Paranapanema paulista, podendo ser vislumbrado nos seguintes desdobramentos temáticos, relativos ao enfoque de conjuntos de sítios (macro-escalas de abordagem):
Estudos genéricos, baseados na literatura disponível, relativos às formas de relevo (descrição, origem, composição e desenvol-vimento).
Estudos geológicos gerais, com abordagens litoestratigráficas.
Estudos ambientais, com abordagens extensivas, envolvendo dados geomorfológicos, estratigráficos, sedimentológicos, pe-
61
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
dológicos, faunísticos, florísticos e polínicos.
Estudos geomorfológicos, com a identificação dos comparti-mentos do relevo do entorno de ambientação (interflúvios, vertentes e planícies aluviais).
Estudos geológicos, com a identificação e descrição das forma-ções geológicas do entorno de ambientação, suas características estratigráficas e sedimentares.
Estudos ambientais, com a definição e descrição de zonas arqueo-ambientais, considerando os dados e as interrelações previstas no macro-nível.
Estudos topomorfológicos, envolvendo análises locais nos campos da Geologia, da Estratigrafia, da Sedimentologia e do Meio Ambiente.
Estudos tecnológicos de artefatos, especialmente aqueles oriun-dos de matrizes minerais (líticos/cerâmicas).
Estudos de conservação e preservação, ligados a sítios especí-ficos ou a sistemas locais.
Datações (geocronologia), com coletas locais de amostras passíveis de datações radiométricas.
Especificamente, as abordagens no micro-nível, prendem-se aos seguintes desdobramentos:
Análises pedológicas, com o propósito de confirmar a delimitação dos núcleos de solo antropogênico.
Análises geomorfológicas no âmbito do sítio, com o propósito de avaliar os efeitos dos processos erosivos e deposicionais na densidade e distribuição dos remanescentes arqueológicos.
Estudos microestratigráficos que, em conjunto com as análises geomorfológicas e sedimentológicas, contribuem para a com-preensão dos processos de formação dos sítios, bem como do funcionamento das áreas de atividades.
Análises sedimentológicas locais, de grande significância para a reconstrução da história da formação de um sítio arqueológico, isto é, da proporção de deposição e padrões de acumulação ou remoção dos depósitos arqueológicos.
Análises ambientais locais, que permitem reconstruir o ambiente local de sedimentação — fluvial ou eólico, por exemplo (dados geomorfológicos, estratigráficos e sedimentares) — bem como permitem reconstruir o ambiente climático e morfogenético (tropical, por exemplo), além da paleogeografia pré-histórica.
Análises tecnológicas de artefatos líticos e cerâmicos, com a finalidade de elucidar as técnicas de manufatura, bem como as fontes de matérias-primas disponíveis, no âmbito do modelo “cadeia operatória”. O estabelecimento da cadeia de gestos téc-nicos necessários para o lascamento da pedra, em conformidade com a rocha de fratura conchoidal localmente disponível, é um exemplo no universo das sociedades de caçadores-coletores. No caso dos ceramistas, a confecção de lâminas petrográficas de seções delgadas de cerâmica, associada à análise granulométrica e morfoscópica de argilas, poderá elucidar questões a respeito dos locais de coleta do “barro bom”.
Construção de modelos regionais a partir das situações locais como, por exemplo, o estabelecimento de classes de tipologia topomorfológica.
Finalmente, a obtenção de datações radiométricas, rotineira-mente atribuídas ao subcampo da Geocronologia, tais como o carbono 14 e a termoluminescência.
Um.modelo.preditivo.para.o.Paranapanema:.parâmetros.do.modelo.locacional
Os parâmetros do modelo locacional, que permitem o mapeamento das áreas potencialmente favoráveis ao encontro de sítios arqueológicos, foram fixados a partir de algumas situações de ordem universal, relativas aos padrões de estabelecimento, corroboradas por várias situações locais
62
José Luiz de Morais
e regionais. Reforçam, outrossim, um esquema preditivo, a subsidiar o encaminhamento das etapas de reconhecimento geral e levantamento arqueológico.
A definição inicial de parâmetros do modelo locacional para a Ar-queologia do Paranapanema Paulista, de grande valia nos processos de levantamento de sítios arqueológicos pré-coloniais, requer uma releitura e reavaliação, para que oportunamente possam ser incorporadas situa-ções outras relativas ao período pós-conquista européia, quando a ordem econômica e social das comunidades indígenas foi bruscamente alterada.
Até o presente estágio da investigação arqueológica do Parana-panema paulista, foram definidos os seguintes parâmetros locacionais — compartimentos e ocorrências topomorfológicas — de assentamentos pré-coloniais que subsidiam um modelo preditivo:
1.-.Ligados.à.Função.Morar
Terraços fluviais: acumulações fluviais com superfícies planas, levemente inclinadas, com diferentes graus de retrabalhamento, alçadas por ruptura de declive em alguns metros com relação ao nível da lâmina d’água ou às várzeas recentes, suficientemente extensos para terem suportado, no passado, assentamentos de grupos indígenas (mais freqüentemente, caçadores-coletores e, excepcionalmente, horticultores).
Vertentes: planos de declive que enquadram os vales, com morfo-logia e amplitude variadas. As de convexidade suave (menos de 10% de declividade) eventualmente suportaram assentamentos de grupos indígenas, mais freqüentemente os horticultores.
Patamares de vertentes: rupturas de declive mais ou menos ho-rizontais, geralmente situadas na meia encosta das vertentes. Eventualmente suportaram assentamentos de grupos indígenas caçadores-coletores ou horticultores.
Cabeceiras de nascentes: planos de declive em anfiteatro, ge-ralmente moldados por erosão remontante, que enquadram nichos de nascentes (mananciais). Alguns ainda permanecem
florestados por força da legislação de proteção ambiental. No passado suportaram, com certa freqüência, assentamentos indígenas pré-coloniais.
Topos de interflúvios: lineamentos (espigões) que separam bacias hidrográficas. Existem registros de sítios arqueológicos em al-guns trechos mais rebaixados (colos) desses divisores de águas, confirmando serem locais de passagem entre ambientes local-mente distintos, envolvendo diferentes bacias hidrográficas.
Escarpas: desníveis abruptos, de subverticais a verticais, de origem tectônica ou erosiva, podendo conter abrigos ou grutas resultantes de desmoronamentos ou de dissolução, eventual-mente suportando ambientes favoráveis à ocupação de grupos indígenas, mais freqüentemente caçadores-coletores.
2.-.Ligados.às.Atividades.Extrativas
2.1.-.Mineração
Cascalheiras: depósitos de seixos rolados, compondo litologias homogêneas ou diversificadas, acumuladas nos leitos ou nas margens, com elementos de porte utilizável no processo de lascamento para a obtenção de artefatos de pedra lascada. In-clui rochas e minerais de boa fratura conchoidal para o talhe, debitagem e retoque ou de dureza suficiente para a percussão.
Diques clásticos: estruturas intratrapianas resultantes do depósito de areias finas, provavelmente empapadas de água, nas fissuras da lava vulcânica (rocha basáltica), em fase de resfriamento, na Era Mesozóica. Situação típica da Geologia do Paranapanema médio (Formação Serra Geral), no trecho correspondente à província geomorfológica das Cuestas Basálticas. No passado, os diques de arenito silicificado, de excelente fratura conchoidal, atraíram grupos de caçadores-coletores que os utilizavam como fonte de matéria-prima para o processamento de instrumentos líticos.
63
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
Disjunções colunares: estruturas hexagonais resultantes do res-friamento de rocha vulcânica, resultando em colunas de basalto (popularmente conhecidas como “mina de palanquinhos”). São ocorrências relativamente raras. A importância arqueológica deste fato geológico situa-se no fato de terem sido utilizadas, no passado, como pré-formas para a elaboração de artefatos poli-dos, principalmente as chamadas mãos-de-pilão. Mormente são encontradas colunas de basalto em vários estágios de polimento.
Pavimentos detríticos: depósitos de materiais grosseiros, de gra-nulometria variada, resultantes do intemperismo mecânico, dispostos em vertentes ou acumulados nas partes basais de declives, na forma de depósitos rudáceos, com elementos utili-záveis no processo de lascamento para a obtenção de artefatos de pedra. Inclui rochas e minerais de boa fratura conchoidal para o talhe, debitagem e retoque ou de dureza suficiente para a percussão ou textura adequada para o polimento.
Barreiros: ocorrências inseridas em ambientes de acumulação fluvial (várzeas periodicamente inundáveis), com sedimentos argilosos ou areno-argilosos, fontes de matéria-prima para o processamento e a produção de artefatos cerâmicos.
2.2.-.Pesca
Corredeiras, cachoeiras, saltos: desníveis gradativamente abrup-tos dos leitos fluviais, provocando quedas d’água que dificultam as migrações sazonais da ictiofauna, constituindo locais para fácil apanha de peixes migratórios.
Classes.de.tipologia.topomorfológica.de.sítios.arqueológicos
Tem sido possível definir padrões de escolha de compartimentos para o estabelecimento de populações indígenas pré-coloniais, conside-radas as prerrogativas do fator geo. Isto permitiu a definição de classes de tipologia topomorfológica de sítios arqueológicos do Paranapanema paulista, a saber:
1.-.Sítio.em.Piso.Basáltico.
Situado sobre afloramentos do substrato basáltico com diques clásticos (arenitos silicificados intratrapianos). Encontra-se alçado al-guns metros sobre a lâmina d’água, normalmente livre de inundações. Sem estratificação antropogênica, o arranjo dos materiais arqueológicos (líticos de arenito silicificado e, muito raramente, fragmentos de cerâ-mica) obedece aos processos físicos atuantes no conjunto de detritos, misturando-se às escórias da rocha dominante. Excepcionalmente o elemento antrópico marcador é a presença de inscrições rupestres. Via de regra trata-se de local favorável para as atividades mineratórias (coleta de matrizes de boa fratura conchoidal), apresentando indícios da fabricação de pré-formas de artefatos líticos. Constitui a típica oficina lítica ou, como na segunda situação, um locus cerimonial, com inscrições no piso basál-tico. Sítio-tipo (oficina lítica): fOz dO neblina 2 (FN2626362), situado no Município de Piraju, Região 1 Bacia Superior. Sítio-tipo (cerimonial): narandiba (NRD421927), situado no Município de Narandiba, Região 3 Bacia Inferior.
2.-.Sítio.em.Pavimento.Detrítico.
Situado em vertente ou patamar mais ou menos plano, recoberto por escórias de basalto, arenito silicificado ou outra rocha aproveitável para a fabricação de artefatos líticos. Trata-se de ocorrência comum nas faixas limítrofes entre a Região 1 Bacia Superior e a Região 2 Bacia Média, em áreas onde aflora o substrato basáltico localmente rico em diques clásticos (arenito silicificado). Mormente área de atividades mineratórias com oficinas líticas, pode apresentar localmente capeamento de colúvio contendo estruturas antropogênicas inseridas, aventando a ocorrência de possíveis acampamentos de caçadores-coletores ou, mesmo, de hor-ticultores. Sítio-tipo: fecapi (FCP645354), situado no Município de Piraju, Região 1 Bacia Superior.
64
José Luiz de Morais
3.-.Sítio.em.Cascalheira
Neste caso, o sítio arqueológico do tipo “oficina lítica” insere-se em depósitos de cascalheiras com litologia diversificada, fato comum na seção inferior do Rio Paranapanema. Estratos antropogênicos são confusos, em face da hidrodinâmica fluvial. Materiais líticos, obtidos a partir da pré-forma seixo rolado, misturam-se aos seixos sem marcas de processamento ou de uso. Apesar disso, as cascalheiras constituem um importante marco para a delimitação de territórios de captação de recursos minerais ligados ao processamento da matéria-prima lítica. Foram, sem dúvida, de grande importância para os grupos de caçadores-coletores pré-coloniais. Sítio-tipo: pesqueirO (PQR942073), situado no Município de Sandovalina, Região 3 Bacia Inferior.
4.-.Sítio.em.Terraço.Fluvial
associado a afloramentos do substrato basáltico rico em diques clásticos ou a cascalheiras marginais, alçado entre, aproximadamente, 2 e 15 metros sobre a referência de nível local (que pode ser um córrego ou, mais freqüentemente, o próprio Paranapanema). O enterramento das estruturas antropogênicas deu-se por coluviamento e, principalmente, pelo depósito de aluviões, durante cheias excepcionais. Eventualmente, diques marginais da várzea inferior provocam o aparecimento de brejos alongados, acompanhando o sentido da corrente. Mormente verifica-se a presença de cascalheiras de litologia diversificada e de bancos de argila, onde se desenvolveram atividades mineratórias; outra fonte de matéria-prima lítica são os diques de arenito silicificado, encaixados em grandes matações ou nos afloramentos basálticos circundantes. Via de regra são detectadas camadas arqueológicas em sequência estratigráfica, desde os caçadores-coletores antigos, até as ocupações indígenas coloniais, passando por horticultores pré-históricos. Sítio-tipo (acampamento de caçadores-coletores: camargO (CMG627385), situado no Município de Piraju, Região 1 Bacia Superior. Sítio-tipo (aldeia de horticultores): alvim (AVI223992), situado no Município de Pirapozinho, Região 3 Bacia Inferior.
5.-.Sítio.em.Terraço.e.Baixa.Vertente
É uma situação típica dos sítios multicomponenciais, com várias camadas. A mais superficial (e extensa), percorre o trecho inferior da vertente, ultrapassando o contato com o terraço fluvial. Nela poderão ser encontradas as estruturas de aldeia de horticultores. As camadas enterradas (mormente duas ou três), inserem-se no pacote colúvio-aluvial do terraço, e correspondem a um ou vários acampamentos de caçadores-coletores. O barro para a produção da cerâmica veio dos bancos de argila existentes junto ao canal de escoamento perene (geral-mente um ribeirão). A pedra de boa fratura conchoidal foi proveniente de matacões ou de afloramentos de arenito silicificado das proximidades. Sítio-tipo: almeida (ALM692226), situado no Município de Tejupá, Região 1 Bacia Superior.
6.-.Sítio.em.Colina
implantado na vertente média-superior de colina ampla. A ampli-tude local é de, no máximo, 50 metros e a declividade ao redor de 7 %. Trata-se do compartimento topomorfológico típico das aldeias de hor-ticultores e, eventualmente, de acampamentos de caçadores-coletores que lascavam a pedra. As estruturas antropogênicas estão recobertas por capa de colúvio pouco espessa (muitas vezes estão afloradas por processos erosivos, provocados por desmatamento ou pela ação de implementos agrícolas). A referência de nível local pode ser um canal fluvial perene de magnitude variada, com depósitos marginais de argila, fonte de matéria-prima para a fabricação de objetos de cerâmica. Sítio-tipo: caçadOr (CCD940816), situado no Município de Itaí, Região 1 Bacia Superior.
7.-.Sítio.em.Cabeceira.de.Nascente
Ocupa largo anfiteatro resultante da erosão remontante provocada pelo escoamento difuso ou concentrado. Tais compartimentos, muitas vezes, constituem colos de transposição de relevos escarpados, como a
65
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
Serra da Fartura ou a Serra de Botucatu, que delimitam as fronteiras ambientais entre a depressão periférica e o planalto ocidental paulista. Assim, os sítios em cabeceiras de nascente costumam marcar rotas de passagem, fato que é corroborado pela presença de matérias-primas (no caso das indústrias líticas) alienígenas. Tais assentamentos se referem, principalmente, a acampamentos de caçadores-coletores. Sítio-tipo: bOa vista (BVT566214), situado no Município de Sarutaiá, Região 1 Bacia Superior.
8.-.Sítio.em.Topo.de.Interflúvio
Situa-se no alto de espigões grandes ou pequenos, preferencia-mente inserido no contexto de rebaixamentos verificados em alguns pontos dos divisores de água, denominados colos. Geralmente não há nenhum outro atrativo para o assentamento, exceto a própria situação topomorfológica. A matéria-prima da indústria lítica foi trazida do entorno distante, bem como o barro bom para a produção de artefatos de cerâmica. Os processos erosivos no microambiente local superam os deposicionais, acentuando a dispersão das estruturas arqueológicas. Sítio-tipo: ipiranga (IPR664293), situado no Município de Piraju, Região 1 Bacia Superior.
9.-.Sítio.em.Topo.de.Escarpa
situado no reverso de escarpa arenítica, quase junto à cornija, topograficamente bastante elevado em relação à referência de nível local, distante de fontes de água. Apresenta eventualmente camadas antropogênicas estratificadas em pacotes rasos, de partículas grossas. Contém muitas pré-formas robustas, lascadas em arenitos silicificados intertrapianos. A presença de estrutras de combustão pode estar ligada ao aquecimento prévio da matéria-prima e, adicionalmente, ao aqueci-mento do ambiente durante os rigores do inverno. Na maior parte das vezes, relaciona-se com acampamentos de caçadores-coletores e, even-tualmente, a oficinas líticas. Sítio-tipo: mOnte santO (MST619298), situado no Município de Piraju, Região 1 Bacia Superior.
10.-.Sítio.em.Abrigo.
Ocupa reentrâncias existentes na frente escarpada de paredões de rocha arenítica. Em alguns pontos da Região 1 Bacia Superior, nos limites com a bacia do Ribeira de Iguape, os abrigos poderão ocorrer como resultado da dissolução da rocha calcárea. Além de material lítico (eventualmente, cerâmico), são registradas inscrições rupestres, tipificando sítios multicomponenciais (acampamentos de caçadores-coletores, de horticultores e locais cerimoniais). No atual estágio das pesquisas no Paranapanema, registram-se poucos sítios em abrigos. Sítio-tipo: abrigO itapeva (ITV061372), situado no Município de Itapeva, Região 1 Bacia Superior.
11.-.Sítio.em.Gruta..
Quando houve a ocupação de reentrâncias mais profundas exis-tentes na rocha arenítica ou calcárea. Ainda não foram detectadas ocupações humanas pré-coloniais em grutas da bacia do Paranapanema. No caso da Gruta da Água Virtuosa, situada no Município de Tejupá, detectou-se uma ocorrência arqueológica nas suas proximidades (Água virtuOsa, AVT126656)
12.-.Sítio.em.Depressão
Implantado em topo de colina ou em platôs, ocupa depressão circular ou ovalada, escavada no solo. A estrutura habitacional fica-va, assim, semi-enterrada, protegida dos rigores do inverno. Trata-se da típica “casa subterrânea”, com certa freqüência na Região 1 Bacia Superior, especialmente na sub-bacia do Rio Taquari médio-superior. A identificação da depressão poderá, eventualmente, ser prejudicada pelo preenchimento posterior por sedimentos ou matéria orgânica (neste último caso, principalmente nas áreas florestadas, quando o local se transforma em uma verdadeira depressão de compostagem de resíduos vegetais). Materiais líticos e estruturas de combustão costumam ser freqüentes. Sítio-tipo: caçadOr 3 (CC3926799), situado no Município de Itaí, Região 1 Bacia Superior.
66
José Luiz de Morais
Introdução.à.síntese.do.povoamento.indígena.do.Paranapanema.Paulista
Antes de tudo, convém relembrar alguns conceitos básicos da disciplina arqueológica que fundamentam os preceitos da Arqueologia Regional do Paranapanema. São eles a análise espacial, o padrão de estabe-lecimento, o sistema regional e o sistema local ou subsistema.
As análises espaciais têm seu nicho na Geografia moderna. De fato, o ponto de partida tem sido o uso de mapas de distribuição de sítios ou de artefatos, associado ao exercício de rigorosas técnicas matemáticas e estatísticas (Chorley; Haggett, 1974; 1975a; 1975b; Hodder, 1976; Clarke, 1977). Traduz-se no estudo sistemático dos padrões espaciais dos dados arqueológicos.
Padrão de estabelecimento é a distribuição de sítios arqueológicos em determinada área geográfica, refletindo as relações das comunidades com o meio ambiente e as relações entre elas próprias no seu contexto ambiental (Champion, 1980; Yoffee; Sherratt, 1997). Estratégias de subsis-tência, estruturas políticas e sociais e densidade da população são fatores que podem influenciar os padrões de estabelecimento em certas regiões.
Quando se percebe uma coordenação entre conjuntos de sítios de determinada região, por contemporaneidade, similaridade ou com-plementaridade, define-se um sistema regional. Um conjunto de sítios coordenados entre si constitui um sistema local ou subsistema regional (Johnson, 1977; Binford, 1988).
Assim, pode-se definir grandes sistemas regionais que perduraram por pouco mais de um milênio, como no caso dos horticultores, ou por muitos milênios, como no caso dos caçadores-coletores. Neste caso, consideram-se fatores de ordem econômica e social nas suas grandes linhas. Partindo deste pressuposto, serão definidos pelo menos dois grandes sistemas de grande abrangência regional, refletindo os dois mo-mentos das ocupações humanas pré-coloniais do Paranapanema paulista. Primeiramente, trata-se do sistema regional de caçadores-coletores que, segundo as datações absolutas disponíveis, perdurou no tempo entre aproximadamente 6.000 a.C. e 450 d.C. A partir dessa última data,
impôs-se nova ordem social e econômica, concretizando um novo sis-tema regional, o dos horticultores, que perdurou até a conquista ibérica, nos primórdios do século 16 (desenho # E-PAD1).
Quanto à definição do sistema local ou subsistema, o exercício da práxis arqueológica do prOjpar registra a tendência de considerar como variável não mais as questões de ordem econômica e social mas, sim a proximidade geográfica dos componentes do registro arqueológico. Assim, dois registros arqueológicos geograficamente próximos, embora distantes no tempo (um de caçadores-coletores e outro de horticultores), comporiam um sistema local ou subsistema. A coordenação viável entre eles seria, por exemplo uma fonte de matéria-prima.
Os sítios arqueológicos de contato, como o Taquaruçu (guaranis versus jesuítas), ou arqueológicos históricos (como os sítios com pederneiras estudados por Maximino, em 1985) fazem parte do sistema nacional. Sob a ótica da proxêmica, cada um deles integrará um subsistema ou sistema local, com seus vizinhos mais próximos.
Os sistemas regionais pré-coloniais do Paranapanema paulista in-cluem identidades sócio-culturais já definidas, umas mais e outras menos consolidadas. Certamente o grande sistema regional de horticultores tem bases conceituais mais sólidas, posto que suas maiores identidades sócio-culturais foram objeto de pesquisas mais intensas. Desta forma despontam as conhecidas Tradição Guarani (anteriormente Tupiguarani) e a Tradição Itararé. Esta última é definitivamente vinculada à etnia Kain-gang embora seus inventores tenham se valido de um topônimo regional para identificá-la. A prevalecer o bom senso de melhor aproximação com a Etnologia, seria interessante pensar-se em Tradição Kaingang (a Arqueologia Brasileira, na ânsia de reinventar ou por insegurança, tem sido relutante em usar termos etnograficamente consagrados no âmbito da pesquisa que aborda o passado recente).
O grande sistema regional de caçadores-coletores é de caracterização bem mais complexa em face da sua longevidade. A literatura arqueológica proveniente dos estados do sul, principalmente o Rio Grande do Sul e o Paraná (Schmitz, 1981; Kern, 1982; Chmyz, 1982) tem consolidado idéias em torno da existência de duas grandes tradições de caçadores-coletores — Umbu e Humaitá — que se permeiam no tempo e se estendem até as latitudes do território paulista.
67
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
PADRÕES DE ESTABELECIMENTO
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
PADRÕES DEESTABELECIMENTO
*MODELOS GENÉRICOS DO
PARANAPANEMAPAULISTA
desenho # E-PAD11999
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
ARQUEOLOGIA DA PAISAGEMCENAS DO PARANAPANEMA PAULISTA
(DA PRÉ-HISTÓRIA AO CICLO DO CAFÉ)APOIO : FAPESP
PADRÕES DE ESTABELECIMENTO REMANESCENTESDewar & McBride, 1992
MODELO DE TRÊS DIFERENTES SEQÜÊNCIAS DE OCUPAÇÕES EM UMA PLANÍCIE ALUVIAL:
Em cada uma, nove ocupações sequenciais e distintas são mostradas nos três croquis da esquerda.
Os croquis da extrema direita mostram o padrão remanescenteque inclui toda a seqüência ocupacional
(esta situação, todavia, só poderá ser recuperada a partirde condições peculiares, tais como a perfeita preservação
do sítio e a realização de levantamentos exaustivos).
12
47
8
9
5
63
1
2
47
8
9
5
63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
244
4
5
5
2
3
3
bacia inferior
bacia superior
1
244
4
5
5
2
3
3
bacia inferior
bacia superior
1
244
4
5
5
2
3
3
bacia inferior
bacia superior
A + B = C
CAÇADORES-COLETORES HORTICULTORES
COMPLEXIDADE DO REGISTRO ARQUEOLÓGICO
O registro arqueológico remanescente resultada soma da situação A (padrão típico dos caça-
dores-coletores do Paranapanema) com a situação B (padrão típico dos horticultores).
Há de se considerar situações específicas,como aquelas apontadas por Dewar &
McBride. A definição de um sistema regionalresulta do levantamento e da análise desta
complexidade.
Parâmetros Locacionais Genéricos:
1- Terraços elevados, de grande extensão, comunsno trecho inferior da bacia, associados a cascalheiras.
2- Terraços baixos, de menor extensão, comuns notrecho médio-superior da bacia, principalmente junto
às desembocaduras, eventualmente associados acascalheiras.
3- Planícies aluviais encaixadas no vale médio-superiordos afluentes.
4- Afloramentos de rocha (basaltos + arenitos), situadosna calha dos rios principais.
5- Manchas de solos férteis (terras-roxas, por exemplo)
acampamentosde caçadores-coletores
aldeias de horticultores
acampamentos dehorticultores
68
José Luiz de Morais
Neste caso, o território de São Paulo seria uma faixa de fronteira (ou interação) entre as tradições líticas meridionais e centro-orientais do subcontinente (é interessante que o mesmo pode ser afirmado com o sistema de horticultores).
Sirlei Hoeltz (1997), pesquisadora gaúcha afirma que a Arqueologia Brasileira desenvolve seus trabalhos em função de dois conceitos básicos: tradição e fase. Todavia, nem todos os arqueólogos do país militam na esfera desses conceitos, haja vista o que se tem desenvolvido no próprio Paranapanema paulista ou naqueles estados em que o prOnapa não vingou. Embora considerando que o conceito “tradição” e sua aplicação em epígrafe — Umbu e Humaitá — careçam de melhor solidez, há de se defini-las, neste momento, como identidades sócio-culturais compo-nentes de dois grandes sistemas regionais, a saber: caçadores-coletores e horticultores, estes últimos compostos pela tradições Guarani e Itararé ou, melhor ainda, Kaingang (prancha # PP2).
Umbu.&.Humaitá
Arno Kern transcreve o pensamento pronapiano relativamente aos conceitos de fase e tradição, considerados senão unidades arqueoló-gicas artificiais que não podem ser confundidas com culturas, levando em conta que, na maioria dos sítios arqueológicos pré-cerâmicos, as condições climáticas reduziram a cultura original dos grupos caçadores a raros vestígios. Realmente, isto pode ser válido, a partir do momento em que se define tais identidades por meio de características muitas vezes não antrópicas, como a espessura da camada arqueológica, como bem expressou Caldarelli, em 1983. Ou, erroneamente, por meio de certos marcadores, como o famoso utensílio típico tomado como uma espécie de “fóssil-guia”. De fato, as indústrias líticas são importantes traços culturais a serem considerados mas, isso vem sendo feito de modo canhestro, com base em tipologias mal embasadas. Sirlei Hoeltz, em sua dissertação de mestrado, tentou satisfatoriamente fazer entender que é um lapso caracterizar Umbu e Humaitá por jargões tradicionais como, por exemplo “as pontas-de-projétil caracterizam a Tradição Umbu e os grandes artefatos bifaciais caracterizam a Tradição Humaitá.” De
fato, a organização tecnológica das indústrias líticas das duas tradições, apenas perceptível pela adoção do modelo de análise tecnotipológica chamado “cadeia operatória”, é que permite vislumbrar o tom das dife-renças culturais (pelo menos quanto à produção de objetos) entre as duas comunidades. Pensar que a ausência de pontas-de-projétil pode diagnosticar Humaitá é falho quando se imagina que as pontas não fo-ram produzidas para permanecer no registro arqueológico, para o futuro deleite dos arqueólogos. Certamente, na visão da cadeia operatória, resíduos e micro-resíduos de lascamento poderão levar à “ponta” que, efetivamente, está ausente no registro arqueológico.
Partindo-se da assertiva de que as tradições Umbu e Humaitá integram o grande sistema de caçadores-coletores do Paranapanema paulista, há que se atentar para os parâmetros que permitem a definição de tais identidades sócio-culturais nos cenários das ocupações humanas regionais.
Em primeiro lugar, registra-se o que a literatura vigente consagra sobre a Tradição Umbu. Segundo ela, esta tradição integra sítios arque-ológicos de caçadores-coletores onde a ponta-de-projétil lítica constitui um traço diagnóstico (Mentz Ribeiro, 1979; 1990; Kern, 1981; 1989; Schmitz, 1984; 1987). De acordo com estes arqueólogos gaúchos, os sítios desta tradição são muito numerosos na borda sul do Planalto Meridional Brasileiro, abrangendo principalmente as bacias dos rios Caí, Taquari, dos Sinos, Pardo e Jacuí. São sítios a céu aberto, podendo também existir em abrigos, quando disponíveis; os assentamentos distribuem-se na margem de rios, arroios, na orla de banhados ou de lagoas.
Os artefatos típicos são as pontas-de-projétil pedunculadas com aletas, triangulares ou foliáceas, lâminas, facas bifaciais, raspadores médios a pequenos de todos os subtipos (terminais, laterais, circulares, etc.), furadores, pequenos bifaces e percutores. A principal caracterís-tica física das indústrias é o seu porte pequeno. As matérias-primas são bastante diversificadas, de acordo com a oferta local. Os sítios tendem a ser multifuncionais, servindo como locais de moradia e ateliês de lasca-mento. Tem-se tradicionalmente como limite setentrional da Tradição Umbu a bacia do Rio Paranapanema, cujo traçado formaria uma curva
69
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
Prancha # PP21999
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanema
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
O Projeto Paranapanema foi idealizado porLuciana Pallestrini em 1968.
ARQUEOLOGIA DA PAISAGEMCENAS DO PARANAPANEMA PAULISTA
(DA PRÉ-HISTÓRIA AO CICLO DO CAFÉ)APOIO : FAPESP
MATERIAISARQUEOLÓGICOS
DOPARANAPANEMA
PAULISTA
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
pr
ojp
ar
MATERIAIS ARQUEOLÓGICOS
CERÂMICA PINTADA
TALHADOR
MACHADO SEMILUNAR(INTRUSÃO KAINGANG)
CALIBRADOR
TEMBETÁ
VASILHAMES CERÂMICOSRASPADORES ROBUSTOS DE LASCA
LESMAS E PONTAS-DE-FLECHA
0 5
cm
UMBU GUARANI
GUARANIHISTÓRICO
HUMAITÁ
70
José Luiz de Morais
de confrontação com as tradições de pontas do Sudeste, concretizadas pelas ocorrências registradas em Rio Claro e na região de Lagoa Santa. As comunidades tidas como da Tradição Umbu teriam vivido em áreas de campo aberto, hábito herdado dos caçadores nômades mais antigos. De acordo com Kern (1981), a grande dispersão das comunidades Umbu leva a duas hipóteses talvez complementares:
Os portadores da tradição são grupos de caçadores de tradi-ções distintas que trocaram técnicas e idéias ao freqüentarem ambientes semelhantes.
Ou são a mesma população que migra para o interior de ambien-tes diferentes, adaptando-se a cada um deles com um mínimo de modificações na cultura material perceptível.
A Tradição Humaitá, de acordo com os mesmos pesquisadores gaúchos, compreende um conjunto de sítios onde as pontas-de-projétil líticas estão ausentes. Os artefatos são geralmente robustos, geralmente sobre blocos, onde se destacam os tipos biface, talhadores, lascas pesa-das com ou sem retoques. A matéria-prima predominante é o arenito silicificado (o sílex, o quartzo e a calcedônia são menos utilizados).
Ao contrários dos Umbu, as comunidades ditas Humaitás viviam em regiões de mata densa, principalmente nas margens dos rios. Regis-tra-se uma contemporaneidade entre as duas tradições: ambas teriam surgido por volta do sétimo milênio antes do presente, perdurando até a ocupação dos respectivos territórios por ceramistas horticultores. A bacia do Paranapanema também é considerada o seu limite setentrio-nal, de acordo com esta literatura. A grande maioria dos sítios é a céu aberto (alguns deles são nitidamente ateliês de lascamento). Geralmente situam-se ao longo de rios ou na orla de banhados.
Mais recentemente, alguns trabalhos acadêmicos têm procura-do dar novo tônus às questões ligadas a estas tradições (Schmidt Dias, 1994; Hoeltz, 1997). As discussões que se seguem contemplam velhas e novas posturas, tentando entendê-las no cenário do Paranapanema paulista. Isto é de vital importância em face da condição deste território,
tradicionalmente encarado como fronteira setentrional de tais episódios crono-culturais.
Discussão.1:.acerca.da.inserção.dos.sítios.do.Paranapanema
Os pesquisadores do prOjpar, exceto no caso da antiga Tradição Tupiguarani, não se preocuparam com a filiação cultural dos sítios líticos estudados pelo projeto. Embora pesquisadores como Arno Kern e Igor Chmyz houvessem tentado inserir sítios como o Camargo e o Almeida na Tradição Humaitá, tal iniciativa pouco repercutiu no ambiente uspiano.
Kern, em sua tese de doutorado, coloca os níveis líticos Sítio Al-meida, cujas indústrias líticas foram estudadas por Águeda Vilhena-Vialou, na Tradição Humaitá. Este sítio, situado no Município de Tejupá, trecho médio-superior da bacia, apresentou quatro camadas arqueológicas datadas, sucessivamente, de 1480 d.C. (nível lito-cerâmico), 1020 d.C. (primeiro nível lítico), 450 a.C. (segundo nível lítico) e 1650 a.C. (ter-ceiro nível lítico). Do mesmo modo este pesquisador qualifica os níveis lítico do Sítio Camargo, cujas indústrias líticas foram estudas, no seu conjunto, por José Luiz de Morais. Este sítio, situado no Município de Piraju, trecho médio-superior da bacia, apresentou quatro camadas ar-queológicas datadas, sucessivamente, de 1450 d.C. (nível lito-cerâmico), 920 d.C. (primeiro nível lítico), 110 a.C. (segundo nível lítico) e 2700 a.C. (terceiro nível lítico).
Chmyz tem uma postura diferente com relação ao terceiro nível lítico do Sítio Camargo. Pelo fato deste registro arqueológico ter apre-sentado duas pontas-de-projétil, o pesquisador paranaense qualifica este estrato como sendo da Tradição Umbu, embora Kern atribua as duas pontas a uma “intrusão” Umbu em camada Humaitá.
Isto exposto, seria de bom alvitre emitir uma postura formal quanto à inserção crono-cultural do registro arqueológico de caçadores-coletores do Paranapanema paulista, o que é feito a partir das seguintes afirmações:
A inserção do registro arqueológico de caçadores-coletores do Paranapanema paulista nas tradições definidas para o Sul
71
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
do Brasil poderá ser acolhida a partir do momento em que se vislumbra a possibilidade efetiva de comparação entre as res-pectivas indústrias líticas. Esta possibilidade se inaugura pela apresentação de análises tecnotipológicas (e não simplesmente tipológicas) de sítios localizados no Rio Grande do Sul (Schmidt Dias, 1994; Hoeltz, 1997).
Comparando as seqüências da cadeia operatória no que se refere à produção, uso e descarte de objetos de pedra lascada em sítios de São Paulo e do Rio Grande do Sul, é possível inferir que o terceiro nível lítico do Sítio Camargo (2700 a.C.) integra-se à Tradição Umbu, nem tanto pela efetiva presença de duas pontas-de-projétil no registro arqueológico in situ, mas pelas condições topomorfológicas do assentamento, diversificação da matéria-prima utilizada e características da cadeia operatória evidenciada nos bolsões de lascamento analisados por Morais no início dos anos 80 (Morais, 1983).
O segundo nível lítico do Camargo (110 a.C.) e o segundo e terceiro níveis líticos do Almeida (450 a.C. e 1650 a.C.) são da Tradição Humaitá, apesar de o último apresentar uma diversidade maior de matéria-prima (mais de 30% de sílex). Hipoteticamente, a maior diversidade de matéria-prima seria característica Umbu. O primeiro e o segundo nível de ambos os sítios seriam da Tradição Guarani, apesar de, em ambos os casos, o segundo nível não apresentar cerâmica (isto será me-lhor discutido abaixo, quando da abordagem desta tradição).
A descoberta e análise de outros sítios ainda não publicados reforça a postura anterior, a saber:
Sítio Boa Vista (estrato III), situado no Município de Sarutaiá, trecho médio-superior da bacia (ainda sem data) j Tradição Umbu, pela topomorfologia e propriedades tecnotipológicas da sua indústria lítica;
Sítio Alvim (estrato IV), situado no Município de Pirapozinho, tre-cho inferior da bacia (ainda sem data) j Tradição Umbu, pela
topomorfologia e propriedades tecnotipológicas da sua indústria lítica;
Sítio Água Sumida (estrato II), situado no Município de Pirapozi-nho, trecho inferior da bacia (ainda sem data) j Tradição Umbu, pela topomorfologia e propriedades tecnotipológicas da sua indústria lítica;
Sítio Ipiranga (estrato único), situado no Município de Piraju, trecho médio-superior da bacia (ainda sem data) j Tradição Umbu, pela topomorfologia e propriedades tecnotipológicas da sua indústria lítica;
O Sítio Brito, situado no Município de Sarutaiá, trecho médio-superior da bacia, tem quatro estratos antropogênicos datados: estrato I, 1980 a.C.; estrato II, 2310 a.C.; estrato III, 3.130 a.C. e estrato IV, 5070. Este sítio, escavado por Águeda e Denis Vialou, apresentou apenas líticos que ainda estão sendo estuda-dos. Certamente os resultados da análise poderão direcionar a inserção das suas camadas nas tradições em epígrafe.
Pelos dados obtidos até o presente estágio das pesquisas, pode-se aventar que as comunidades Umbu avançaram pelo território do Paranapanema paulista, nele permanecendo até por volta do ano 2000 a.C. As comunidades Humaitá, ao que parece, adentraram o Paranapanema na seqüência, permanecendo até por volta de 450 d.C., quando foram substituídos pelas comu-nidades Guarani, nas vertentes ocidentais do Paranapanema, e pelas comunidades Kaingang, nas vertentes orientais, próximas do divisor com o Ribeira de Iguape.
Discussão.2:.acerca.dos.limites.setentrionais.das.tradições
Discussão interessante a ser pontuada são os limites setentrionais dessas duas tradições de caçadores-coletores. Tradicionalmente colocada na bacia do Paranapanema, a fronteira norte destas comunidades deve ser estendida mais para latitudes menores, de acordo com novos dados obtidos pela arqueologia paulista.
72
José Luiz de Morais
De fato, Solange Caldarelli já afirmara em 1983, com base em forte argumentação, que “dentro das atuais informações sobre a Pré-História do Brasil Meridional, nada há que incompatibilize a área arqueológica do vale médio do Tietê com a Tradição Umbu, ao menos do ponto de vista dos traços diagnósticos que serviram para caracterizá-la. Se esses traços diagnósticos forem consistentes, a área do Tietê deve ser considerada como fazendo parte da Tradição Umbu. Se, ao contrário, as pesquisas demostrarem sua incon-sistência, a tradição deverá, então, ser redefinida com base em elementos culturalmente mais expressivos.” Tal afirmação, prevalecendo a questão dos “traços diagnósticos consistentes”, joga a fronteira Umbu mais para o norte, um pouco além da bacia do Rio Tietê.
Tais afirmações são corroboradas pelo Sítio Caiuby, escavado pelo Museu Paulista da USP, em princípios dos anos 80. Este sítio, situado numa das margens do Rio Piracicaba (afluente do Tietê), forneceu uma indústria em sílex absolutamente comparável com aquilo que caracteriza a Tradição Umbu no sentido tecnotipológico da suas indústrias líticas e no sentido topormorfológico dos assentamentos. A data da ocupação foi aproximadamente 3400 a. C., o que o coloca na faixa temporal desta tradição.
Por outro lado, Arno Kern coloca o Sítio Jataí, situado no Município de Luís Antônio, bacia do Pardo/Moji-Guaçu (trecho inferior), como a mais setentrional expressão Humaitá. Este sítio foi pesquisado por Niède Guidon nos idos de 1964 quando, inclusive, esta pesquisadora notificou a presença de pontas-de-projétil nos arredores. Há de se registrar, porém, a dificuldade de sua inserção em face da não abordagem tecnotipológica daquelas indústrias.
À vista dos dados arqueológicos recentes e da releitura dos resulta-dos anteriores, pode-se afirmar que o território paulista é meridional em todos os sentidos, apesar de a organização regional brasileira, fundamen-tada em preceitos da sociedade moderna, tê-lo colocado numa unidade convencional denominada “Sudeste”. Assim, se tradições arqueológicas qualificadas como “tradições do sudeste” existem, certamente não abran-gerão o território paulista (neste caso, tem razão Solange Caldarelli). De fato, separar duas tradições em territórios contíguos no tempo e no espaço, com base no perfil de pedúnculos de pontas-de-projétil, perde
sentido na medida que se observa o conjunto das indústrias envolvidas sob a ótica da “cadeia operatória” e da inserção topomorfológica, ambas prerrogativas do fator geo.
Concluindo, convém sintetizar alguns parâmetros já definidos para os assentamentos Umbu e Humaitá no Paranapanema paulista.
Morfologia.e.função.do.assentamento
Fala-se em acampamentos com funções habitacionais ou onde se realizavam atividades mineratórias. Todos constituem sítios a céu aberto. A determinante para a escolha do sítio foi, sem dúvida, a fonte de matéria-prima, geralmente cascalheiras de litologia diversificada ou afloramentos de arenito silicificado.
Materiais
Os líticos constituem o traço característico de ambas as tradições. O elemento separador de ambas as tradições, a partir do olhar sobre as indústrias líticas, é a tecnologia do processamento da matéria-prima, diagnosticável por meio da adoção do modelo “cadeia operatória”.
Seria interessante rever um pouco da abordagem tecnológica: ela objetiva a leitura, análise e classificação de todos os objetos líticos que integram o encadeamento massa inicial (matéria-prima) / talhe / debita-gem / retoque / artefato (uso). A tecnologia lida com o processamento da matéria-prima. A tipologia, sempre inserida no contexto da tecnologia, classifica o artefato de acordo com a tecnomorfologia do retoque ou, ainda, à apropriação de uma forma funcional mentalmente concebida, a partir do talhe da massa primordial. Estará sempre incluída no espectro maior da tecnologia, posto que depende de importantes pré-requisitos identificados ao longo da cadeia operatória de processamento dos ma-teriais líticos. A cadeia operatória é constituída pelos diferentes estágios da produção de um artefato lítico, desde a aquisição da matéria-prima (Umbu e Humaitá do Paranapanema coletavam matérias-primas nos mesmos locais), a tecnologia da sua produção (aí residem diferenças entre Umbu e Humaitá do Paranapanema), o seu uso e, finalmente, o abandono final
73
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
do objeto desejado ou usado. De fato, reconstituindo-se a seqüência operacional, serão reconhecidas as escolhas feitas pelo artesão; a recor-rência delas permite a caracterização das técnicas tradicionais de um determinado grupo social. De fato, a cultura está expressa nas escolhas que são feitas na seqüência operacional identificada.
A tecnologia lítica, importante estágio da cadeia operatória, é com-posta pela redução primária, pela redução secundária e pela tipologia. A redução primária engloba toda a tecnologia necessária para transformar um bloco ou um seixo em núcleo: a escolha de um percutor duro e pe-sado, o preparo dos planos de percussão, a técnica da percussão direta ou indireta, a escolha de uma bigorna (no caso da percussão indireta). A redução primária conta, no mínimo, com o concurso de um percutor e um bloco (ou seixo); o produto é o núcleo e as lascas de descorticamento ou preparatórias do núcleo são resíduos potencialmente descartáveis. Umbu do Paranapanema produziam núcleos pequenos, do qual retiravam lascas leves para a produção de artefatos. Humaitá do Paranapanema produziam núcleos robustos, lapidados para se transformarem no próprio objeto. Grandes lascas de descorticamento eram retocadas (retiradas profundas, amplas) para a produção de artefatos. Em ambos os casos, mormente os artefatos não estão presentes no registro arqueológicos, restando os resíduos da sua produção em bolsões de lascamento (Morais, 1983).
A redução secundária engloba a produção de pré-formas de artefa-tos, o que inclui as lascas (lâminas e lamelas são geneticamente lascas). A escolha de percutores menos robustos (duros ou macios) se insere no âmbito desta etapa. As técnicas de percussão direta e indireta também se associam a esta etapa. A redução secundária conta, no mínimo, com o concurso de um percutor e um núcleo; os produtos são lascas, lâminas e lamelas, potencialmente suportes para a confecção de artefatos reto-cados. No caso do Paranapanema, Umbu produzia lascas, lâminas e lamelas como suporte para artefatos bifaciais ou unifaciais de pequeno porte. Humaitá produzia lascas e lâminas robustas para a fabricação de artefatos maiores.
A tipologia se relaciona com a produção de artefatos, englobando as técnicas de retoque, que resultam nas suas características marcantes.
Apesar de um notório desvio desta característica marcante, há de se considerar como artefatos aqueles objetos talhados a partir de um bloco, seixo ou núcleo ainda no âmbito da redução secundária, retocados ou não (caso freqüente com Humaitá). Por definição, todavia, tais produtos da redução secundária serão classificados tipologicamente. Erroneamente se tem valorizado a tipologia per se. Tal atitude contrasta vivamente com os procedimentos identificatórios da cadeia operatória no processamen-to do instrumental lítico. A tipologia per se, entendida como ponto de partida, concentra-se no produto final isolado (objeto talhado, retocado ou polido), opondo-se ao entendimento do processo como um todo, fato comum nos esquemas classificatórios praticados por boa parte dos arqueólogos brasileiros. Todavia, a classificação tipológica cabe em uma pequena porcentagem dos objetos resgatados, constituindo uma etapa final do processo de leitura sistemática do conjunto de documentos lí-ticos. De fato, a menor parcela do acervo lítico resgatado é constituída por objetos retocados, como bem demonstraram os sítios arqueológicos do Projeto Paranapanema.
Como se frisará adiante, o entendimento do lítico lascado guarani vem sendo consolidado nestes últimos anos. Assim, muitos sítios líticos (ou estratos líticos de sítios multicomponenciais) atribuídos erronea-mente a caçadores-coletores (pela ausência de cerâmica) são, de fato, acampamentos guaranis, verdadeiras “oficinas” de lascamento. No Pa-ranapanema médio-superior, os estratos I (aldeia do ano 1450 d.C) e II (acampamento do ano 920 d.C.) do Sítio Camargo são Tradição Guarani; o estrato III (acampamento do ano 110 a.C.) é Tradição Humaitá; o es-trato IV (acampamento do ano 2700 a.C.) é Tradição Umbu..Todos estão vinculados à presença de importantes ocorrências de arenito silicificado, quer na forma de diques clásticos aflorantes ou cascalheiras. No sítio Camargo 3, nas proximidades, misturam-se evidências de lascamento Umbu, Humaitá e Guarani sobre piso basáltico com abundantes diques e escórias de arenito silicificado.
Altimetria
Acampamentos distribuem-se por todas as cotas altimétricas regionais.
74
José Luiz de Morais
Hidrografia
Há ocorrências de acampamentos Umbu e Humaitá tanto nas calhas fluviais grande ou pequenas, como em colinas, colos e platôs mais interiorizados.
Geomorfologia./.Geologia
Os acampamentos tendem a se localizar junto a afloramentos ou depósitos de matérias-primas aptas para o lascamento.
Tipologia.Topomorfológica
Os acampamentos se inserem nas classes “sítio em piso basáltico”, “sítio em pavimento detrítico” e “sítio em cascalheira”, “sítio em terraço flu-vial”, “sítio em terraço e baixa vertente”, “sítio em cabeceira de nascente”, “sítio em topo de interflúvio”, “sítio em topo de escarpa” e “sítio em abrigo”. Incluem-se nesta categoria, tanto locais de atividades mineratórias, como locais de habitação.
Fitoecologia
A territorialidade dos grupos Umbu e Humaitá no Paranapanema dependeu menos das adaptações ambientais que do distanciamento das áreas nucleares situadas mais ao sul. Ambas as tradições, em termos de Paranapanema, ocuparam os mesmos locais, como comprovam os sítios multicomponenciais. Ao que parece, a expansão Umbu teria alcançado antes o Paranapanema pré-colonial, ultrapassando-o até as vertentes setentrionais da bacia do Tietê. Humaitá teria vindo depois, não ul-trapassando o Paranapanema. Certamente, pequenos ciclos de climas quentes e localmente mais secos, ocorrentes entre os anos 3050 e 2050 a.C. (Ab’Sáber, 1989) tenham refreado a expansão Umbu para o norte.
Parâmetros.Locacionais
Mormente, os sítios Umbu e Humaitá se encontram associados aos seguintes parâmetros locacionais: “terraços”, “patamares de vertentes”,
“cabeceiras de nascentes” e “topos de interflúvios” (ligados à função morar) e “cascalheiras” e “diques clásticos” e “pavimentos detríticos” (atividade extrativa mineral / líticos) e “corredeiras, cachoeiras e saltos” (atividade extrativa animal / pesca).
Nas páginas seguintes serão apresentadas algumas pranchas com situações relativas à distribuição de sítios das tradições Umbu e Humaitá no Paranapanema paulista.
Guarani.&.Itararé
Novas observações, principalmente aquelas feitas por arqueólogos do Sul do Brasil (Brochado, Noelli, Soares, dentre outros), têm provocado bases sólidas para a consolidação da chamada Tradição Guarani, que resulta do desdobramento daquilo que foi a “Tradição Tupiguarani” (o outro componente vem sendo identificado como Tradição Tupinambá). Acolhendo os últimos preceitos, neste trabalho será adotado o novo termo, salientando que se trata da perspectiva melhor consolidada em termos de filiação cultural.
As ocupações que resultaram nos sítios arqueológicos da Tradição Guarani, no trecho paulista da bacia do Paranapanema, estão datadas entre 1.210 e 470 anos antes do presente, o que corresponde ao lapso cronológico 740 / 1480 d.C. (Sítio Arqueológico Jango Luís — Município de Campina do Monte Alegre / Sítio Arqueológico Almeida (camada I) — Município de Piraju).
75
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
BAIXO NEBLINA MÓDULO 1NBL
MUNICÍPIO DE PIRAJU*
AMBIENTAÇÃOAEROFOTOARQUEOLÓGICA
desenho # T-NBL11999
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
MÓDULO 1NBL BAIXO NEBLINA
ARQUEOLOGIA DA PAISAGEMCENAS DO PARANAPANEMA PAULISTA
(DA PRÉ-HISTÓRIA AO CICLO DO CAFÉ)APOIO : FAPESP
N = 7.437.000 m
N = 7.436.000 m
E = 662.000 m E = 663.000 m
Base Aerofotogramétrica: IBC, Foto 32.056escala 1:25.000, 1972
Módulo 1ARS Baixo Neblina
vértices do polígono:1 - E=0.659.280 m; N=7.437.350 m2 - E=0.663.880 m; N=7.437.350 m3 - E=0.663.880 m; N=7.435.230 m4 - E=0.659.280 m; N=7.435.230 m
fuso 22, zona F
0 100 200 300 400 500
metros
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
sítios de caçadores-coletores indígenasanteriores a 1000 dC, produtores de pedralascada;
sítios de horticultores indígenas anterioresa 1500 dC, produtores de cerâmica;
sítios indígenas integrados ao sistemacolonial ou controlados pelas frentespioneiras da sociedade nacional;
sítios históricos (estruturas representati-vas da sociedade nacional, de significâncialocal);
sítios multicomponenciais
sítios multiusuários
outros locais de interesse arqueológico
3
21
4
FN2FNB
PDC
BNB
FN4
BN5
480 m
BNB
MTT
BN2BN3
6
3
3
3
3
2
22
1
15
SUBSISTEMA BAIXO NEBLINA
A - Sítios Motta, Foz do Neblina e Pedro Cândido: seqüências estratificadas em terraços colúvio-aluviais, ocupados porcaçadores-coletores Umbu e Humaitá.
B - Sítios Foz do Neblina 2, Baixo Neblina, Baixo Neblina 2 e 3: oficinas líticas sem estratificação, misturadas às escórias debasalto e arenito silicificado, com pré-formas e utensílios correlacionáveis a Umbu, Humaitá e Guarani.
C - Locais de Interesse Arqueológico (Baixo Neblina 4 e 5): ocorrências fortuitas de utensíllios atribuíveis às atividadesantrópicas.
Parâmetros locacionais associados ao sistema:1 - corredeiras; 2 - terraços; 3 - afloramentos de basalto com diques de arenito silicificado; 4 - ilhas e ilhotes rochosos e 5 -remanescentes de floresta estacional semidecidual que anteriormente recobria a região; 6 - cascalheiras.
Ribeirão da Neblina
Rio Paranapanema
São Paulo
SITUAÇÃO DO MÓDULO NO ESTADO
480m
482m
484m
0 2 4 6 8 10 12 metros
basaltocom diques clásticos
escórias de basalto + arenito
Rio Paranapanema
OFICINA LÍTICA PADRÃOfreqüentada por grupos
Umbu, Humaitá e Guarani
76
José Luiz de Morais
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
BAIXO CACHOEIRA MÓDULO 1CCH
MUNICÍPIO DE PIRAJU*
AMBIENTAÇÃOAEROFOTOARQUEOLÓGICA
desenho # T-CCH11999
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
MÓDULO 1CCH BAIXO CACHOEIRA
ARQUEOLOGIA DA PAISAGEMCENAS DO PARANAPANEMA PAULISTA
(DA PRÉ-HISTÓRIA AO CICLO DO CAFÉ)APOIO : FAPESP
Base Aerofotogramétrica: IBC, Foto 32.056escala 1:25.000, 1972; Instituto Agronômico
de Campinas, escala 1:25.000, 1962.
Módulo 1ARS Baixo Neblina
vértices do polígono:1 - E=0.657.560 m; N=7.432.330 m2 - E=0.660.180 m; N=7.432.330 m3 - E=0.660.180 m; N=7.440.330 m4 - E=0.657.560 m; N=7.440.330 m
fuso 22, zona F
0 125 250 375 500 625
metros
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
sítios de caçadores-coletores indígenasanteriores a 1000 dC, produtores de pedralascada;
sítios de horticultores indígenas anterioresa 1500 dC, produtores de cerâmica;
sítios indígenas integrados ao sistemacolonial ou controlados pelas frentespioneiras da sociedade nacional;
sítios históricos (estruturas representati-vas da sociedade nacional, de significâncialocal);
sítios multicomponenciais
sítios multiusuários
outros locais de interesse arqueológico
SUBSISTEMA ENSEADA (hipotético)
A - Sítio Enseada: oficina lítica sem estratificação, misturada às escórias de basalto e arenito silicificado, com pré-formas eutensílios correlacionáveis a Umbu, Humaitá e Guarani.
B - Sítio Enseada 2: seqüência estratificada em terraços colúvio-aluvial, ocupado por caçadores-coletores Umbu, Humaitá eGuarani.
Parâmetros locacionais associados ao sistema:1 - corredeiras; 2 - terraços; 3 - afloramentos de basalto com diques de arenito silicificado; 4 - ilhas e ilhotes rochosos e 5 -remanescentes de floresta estacional semidecidual que anteriormente recobria a região; 6 - cascalheiras.
N=7.442.000 m
E=660.000 m E=660.000 mE=659.000 m E=659.000 mE=658.000 m E=658.000 m
N=7.441.000 m
1962 1972Município de Bernardino de Campos
Município de Bernardino de Campos
Município de Piraju
Município de Piraju
514
4
1
3
2
3
Rio Paranapanema Reservatório de XavantesRio Paranapanema
4 4
Enseada
3 3
2 2
Água do PadreRib. da Cachoeira
Água do PadreRib. da Cachoeira
1 1
São Paulo
SITUAÇÃO DO MÓDULO NO ESTADO
77
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
SALTO SIMÃO MÓDULO 1SSM
MUNICÍPIO DE PIRAJU*
AMBIENTAÇÃOAEROFOTOARQUEOLÓGICA
desenho # T-SSM11999
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
São Paulo
SITUAÇÃO DO MÓDULO NO ESTADO
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
MÓDULO 1SSM SALTO SIMÃO
ARQUEOLOGIA DA PAISAGEMCENAS DO PARANAPANEMA PAULISTA
(DA PRÉ-HISTÓRIA AO CICLO DO CAFÉ)APOIO : FAPESP
N = 7.438.000 m
N = 7.439.000 m
E = 666.000 mE = 665.000 m E = 667.000 m
1 2
34
Base Aerofotogramétrica: IBC, Foto 32.057escala 1:25.000, 1972
Módulo 1SSM Salto Simão
vértices do polígono:1 - E=0.664.380 m; N=7.439.770 m2 - E=0.667.050 m; N=7.439.770 m3 - E=0.667.050 m; N=7.437.370 m4 - E=0.664.380 m; N=7.437.370 m
fuso 22, zona F
0 100 200 300 400 500
metros
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
sítios de caçadores-coletores indígenasanteriores a 1000 dC, produtores de pedralascada;
sítios de horticultores indígenas anterioresa 1500 dC, produtores de cerâmica;
sítios indígenas integrados ao sistemacolonial ou controlados pelas frentespioneiras da sociedade nacional;
sítios históricos (estruturas representati-vas da sociedade nacional, de significâncialocal);
sítios multicomponenciais
sítios multiusuários
outros locais de interesse arqueológico
Rio Paranapanema Rodovia SP270Rodovia SP287
SUBSISTEMA SALTO SIMÃO
Sítios do Salto Simão (de A a K): oficinas líticas sem estratificação, misturadas às escórias de basalto e arenito silicificado,com pré-formas e utensílios correlacionáveis a Umbu, Humaitá e Guarani. Local do Engenho de Cana da Fazenda dos Aranhas (L);mapeado em 1886 por Teodoro Sampaio, da Comissão Geográfica e Geológica da Província de São Paulo.
Parâmetros locacionais associados ao sistema:1 - corredeiras; 2 - terraços; 3 - afloramentos de basalto com diques de arenito silicificado; 4 - ilhas e ilhotes rochosos e 5 -remanescentes de floresta estacional semidecidual que anteriormente recobria a região; 6 - cascalheiras.
5
A
B
C
D
E
F
G
HI
J
K
L
1
4
Terceiro Salto
Primeiro Salto
T
2
4
3
3
2
6
Segundo Salto
Guarani
Guarani
Humaitá
Humaitá
Umbu
Umbu
Rio Paranapanema
cascalheira(atividade minerária)
afloramento(atividade minerária)
2
4
6
8 metros
10203040506070metros
basalto comdiques intrapp
sedimentos arenosos+ cascalheira
SUBSISTEMA SALTO SIMÃOÁREA DE EXPLORAÇÃO
DE ARENITO SILICIFICADOregistro arqueológico
sem estratificação
registro arqueológicosem estratificação
78
José Luiz de Morais
Luciana Pallestrini (1975) descobriu o que hoje são os sítios da Tra-dição Guarani da bacia do Paranapanema paulista. Já no final dos anos 60, esta pesquisadora havia inaugurado uma série de levantamentos e escavações de sítios arqueológicos por ela denominados “lito-cerâmicos colinares do interior”, cujos itens fundamentais foram assim descritos:
Vestígios representados por testemunhos cerâmicos e líticos.
Distribuição dos vestígios segundo planos espaciais com zonas diferenciadas, representadas por manchas escuras, quase negras.
Localização dos conjuntos escuros em áreas de ápice de colinas com declives suaves.
Existência constante de um rio na base da colina.
Fitogeografia regional representada pelo cerrado, manchas de floresta tropical e palmeiras sobre solos latossólicos averme-lhados.
Conceituação geral dos sítios como sendo correspondentes a aldeias pré-históricas situadas em colinas próximas a rios, cujos habitantes eram ceramistas embora conservando ainda a técnica do trabalho da pedra.
Inserção dos sítios arqueológicos no tempo, graças às datações por termoluminescência, abrangendo faixas cronológicas de mil anos.
A grande contribuição de Pallestrini no que toca aos sítios gua-ranis pré-coloniais foi, de fato, sua visão do conjunto intra-sítio. Longe de considerar cada uma das manchas pretas um “sítio-habitação”, como faziam os pesquisadores do prOnapa, a pesquisadora inaugurou a pers-pectiva da aldeia como categoria de assentamento, fazendo comparecer precupações de ordem etnográfica. Para tanto, definiu uma sequência operacional de trabalhos de campo que pode ser reconhecida de acordo com seu próprio texto (Pallestrini, 1975):
Caracterização ecológica, com análises do contexto botânico, geológico, pedológico e geomorfológico.
Limpeza da área arqueológica, com o propósito de se obter áreas suficientemente claras para as futuras decisões a serem tomadas, tais como trincheiras, cortes e setores.
Topografia e quadriculamento, que representam a operação fun-damental de amarração do sítio arqueológico.
Ataque em profundidade e superfície, por meio de perfis indica-dores da estratigrafia e decapagens horizontais.
A continuidade das pesquisas na área do Paranapanema paulista levaram à localização e mapeamento de outras aldeias guaranis pré-coloniais, bem como alguns acampamentos a elas subordinados. O presente estágio das investigações arqueológicas permite estabelecer o seguinte quadro para as ocupações guaranis pré-coloniais que concre-tizam a Tradição Guarani, por meio de sítios e acampamentos.
Morfologia.e.função.do.assentamento
Aldeias e acampamentos constituem sítios a céu aberto. No primeiro caso, enquanto sítio de moradia, há preocupações de ordem locacional, marcadamente defensiva: o sítio colinar caracteriza um posi-cionamento em acrópole (isto também é válido para o alto terraço), o que permite um amplo domínio visual da skyline. No caso dos acampamentos, predomina outra variável estratégica: a fonte para atividades extrativas.
MateriaisO traço arqueológico característico da Tradição Guarani é a pre-
sença marcante da cerâmica. Os remanescentes das aldeias fornecem milhares de fragmentos de cerâmica e algumas vasilhas inteiras (inclusive urnas funerárias de sepultamento primário). Os líticos que constituem o traço característico são os polidos, principalmente lâminas de ma-chado e mãos-de-pilão provenientes de pré-formas selecionadas nas “minas de palanquinhos”. A importância do lítico lascado guarani vem
79
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
sendo descoberta nestes últimos anos. Muitos sítios “líticos” atribuídos erroneamente a caçadores-coletores (pela ausência de cerâmica — o tal traço diagnóstico) são, de fato, acampamentos guaranis, verdadei-ras “oficinas” de lascamento. No Paranapanema médio, a camada II do Sítio Camargo, do ano 920 d.C., associada a abundantes afloramentos de arenito silicificado, não apresentou nenhum caco de cerâmica. O lascamento, todavia, tem todas as características tecno-morfológicas de sítios lito-cerâmicos como o Alves, situado a menos de 10 km, cuja ocupação é do ano 930 d.C. Isto leva a crer que a camada II do Camar-go é, de fato, o registro arqueológico de uma oficina guarani. O mesmo ocorre com o Camargo 2, localizado na calha do Paranapanema. Lá foi recuperada grande quantidade de líticos com “características Humaitá”, associados a meia dúzia de fragmentos de cerâmica guarani, atribuíveis a data semelhante a do Sítio Alves..
Altimetria
Aldeias e acampamentos não ultrapassam a cota de 700 metros sobre o nível do mar.
Hidrografia
No trecho médio-superior da bacia, as aldeias se localizam junto aos pequenos tributários (tanto do Paranapanema, como de seus grandes afluentes, o Taquari, por exemplo); acampamentos tendem a se localizar na calha dos grandes rios. No trecho médio-inferior (a jusante da confluên-cia Paranapanema/Pardo) aldeias e acampamentos comparecem principal-mente na calha do Paranapanema, embora não possam ser descartadas ocorrências junto a pequenos afluentes.
Geomorfologia./.Geologia
As aldeias distribuem-se por grandes unidades geomórficas, desde a Depressão Periférica até o Planalto Ocidental, passando pelas Cuestas Basálticas, o que inclui rochas sedimentares e de origem vulcânica que
se decompõem em solos geralmente aptos para a agricultura. Os acam-pamentos tendem a se localizar junto a afloramentos ou depósitos de matérias-primas aptas para o lascamento.
Tipologia.Topomorfológica
As aldeias se inserem nas classes “sítio em terraço fluvial” (na calha inferior do Paranapanema), “sítio em terraço e baixa vertente” e “sítio em colina”. Os acampamentos podem se enquadrar nas categorias “sítio em piso basáltico” e “sítio em pavimento detrítico” (locais de atividades mineratórias).
Fitoecologia
As aldeias e acampamentos se distribuem pelos domínios da floresta estacional semidecidual, relacionada com o clima Cwa (mesotérmico com inverno tendendo a seco) e terras com bom potencial agrícola.
Capacidade.de.uso.da.terra
As aldeias se localizam em terras de média a alta produtividade agrícola, com declividade inferior a 20%, embora sujeitas a problemas de conservação do solo. No trecho inferior da bacia, apesar de boa parte das aldeias se situar em altos terraços marginais, comparecem manchas de solo hidromórfico de boa sustentabilidade para atividades agrícolas.
Parâmetros.Locacionais
Mormente, as aldeias se encontram associadas aos seguintes pa-râmetros locacionais: “terraços” e “vertentes” (ligados à função morar) e “barreiros” (atividade extrativa mineral / cerâmica). Os acampamentos poderiam se associar a “cascalheiras”, “diques clásticos”, “pavimentos detrí-ticos” (atividade extrativa mineral / lítico lascado), “disjunções colunares” (atividade extrativa mineral / lítico polido) e “corredeiras, cachoeiras e saltos” (atividade extrativa animal / pesca).
80
José Luiz de Morais
Cronologia
Entre os anos 740 e 1480 d.C. (cronologia absolutas; lato sensu o lapso de tempo deverá situar-se entre os anos de 450 a 1600 d.C.).
Seria de bom alvitre pontuar algumas situações interessantes en-volvendo sítios arqueológicos onde comparece a Tradição Guarani. É o caso do Complexo Alves / Nunes, do Complexo Caçador, do Sítio Jequitibá e das camadas subsuperficiais dos sítios Alvim, Camargo e Almeida.
Complexo.Alves./.Nunes
O Complexo Alves / Nunes começou a ser estudado em 1969, quando Luciana Pallestrini iniciou as escavações do Sítio Alves, situado no Município de Piraju. Em 1986, novas escavações foram feitas, desta vez na contravertente, abrangendo propriedade da Família Nunes. Na realidade, Alves e Nunes, pela proximidade geográfica, poderão ser agrupados em uma única entidade, posto que percebe-se coalescência entre os dois conjuntos. As situações são bastante semelhantes, inclu-sive o material cerâmico encontrado. Há, até o presente momento, duas datações para o complexo, tomadas por termoluminescência de alguns fragmentos cerâmicos de ambos os componentes, entre 930 d.C. e 1070 d.C. O complexo se destacou pelo número de urnas e vasilhas recuperadas in situ e em bom estado de conservação: ao todo, seis urnas, uma das quais pintada e as demais de cerâmica lisa (simples). Na urna pintada (com 318 cm de circunferência máxima e 82 cm de altura) havia restos esqueletais que não puderam ser recuperados. Nas demais havia recepientes menores no interior (vasos de pescoço curto, gamelas e ti-gelas). Na única urna de cerâmica simples sem vasilhas internas, foram encontrados restos esqueletais.
Complexo.Caçador
O Complexo Caçador foi inicialmente denominado Sítio Prassé-vichus. Situa-se no Município de Itaí, na margem direita do Ribeirão do Caçador, não muito longe de sua desembocadura no Rio Taquari, afluente da margem esquerda do Paranapanema. Insere-se no patrimônio
arqueológico do Município de Itaí, no sudoeste paulista. Prassévichus foi escavado entre 1981 e 1982 por Luciana Pallestrini e José Luiz de Morais. Naquela ocasião foram evidenciados vários núcleos de solo antropogêni-co, além de urnas funerárias, compondo o design de uma aldeia guarani bastante extensa. Entre 1998 e 1999 o sítio foi retomado, oportunidade em que foi possível mapear novos núcleos de solo antropogênico que se evidenciavam no solo arado. Esta segunda etapa começou a evidenciar a complexidade da distribuição espacial do assentamento. Recente contato com o arqueólogo André Prous, da Universidade Federal de Minas Gerais, trouxe ao conhecimento da equipe atual que, em meados dos anos 70, este pesquisador (então no Instituto de Pré-História da USP) havia feito levantamentos na área do médio Rio Taquari. Algumas áreas levantadas haviam sido previamente fotointerpretadas, inclusive o local que seria, no futuro, registrado como Sítio Prassévichus. Na fotointerpretação Prous notou a existência de marcas na vegetação que indicavam “fundos de habitação” em coalescência. Na época, o pasto alto talvez tenha impedido o encontro dos fragmentos de cerâmica comprovadores da existência do sítio arqueológico. Em 1981/82 a terra arada permitiu a descoberta do sítio anteriormente vislumbrado (desenho # T-CCD1, adiante).
Sítio.Jequitibá
O Sítio Jequitibá foi inicialmente identificado como “Salto Grande do Paranapanema”. Localiza-se na bacia média, no Município de Salto Grande, logo a jusante do Salto Grande dos Dourados, o maior acidente do leito do rio, hoje comprometido pela usina hidrelétrica ali construída no final dos anos 50. De montante para jusante, é o primeiro registro de aldeia guarani pré-colonial situado em terraço marginal do Parana-panema, contrariando o status quo até então vigente (os sítios até então detectados eram colinares). Jequitibá forneceu grande número de vasilhas e fragmentos cerâmicos, poucos líticos lascados e algum lítico polido. Um sepultamento em urna, muito bem conservado, foi recuperado e anali-sado. (Piedade, 1994). A pesquisa arqueológica foi bastante dificultada pelo fato de o registro arqueológico estar distribuído entre lotes urbanos da periferia da cidade (pelo menos uma urna teria sido deixada junto aos alicerces de uma das edificações do terreno). Este sítio arqueológico
81
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
inclui-se no projeto de resgate arqueológico do Complexo Canoas, a ser discutido no capítulo seguinte.
Alvim,.Camargo.&.Almeida
Trata-se de três sítios multicomponenciais, isto é, com várias cama-das de ocupação, indo do pré-cerâmico ao cerâmico. O Sítio Alvim situa-se no Município de Pirapozinho, na secção inferior da bacia. Foi escavado na última metade dos anos 80, durante quatro anos. Demonstrou uma seqüência-tipo bastante interessante, com três ocupações de caçadores-coletores (como visto atrás) e, pelo menos duas de horticultores: uma da Tradição Guarani, soterrada por cerca de cinqüenta centímetros de sedimento, acontecida por volta de 1.030 d. C.; a outra se constituiu da existência de alguns testemunhos espalhados na superfície erodida do terraço, correspondentes à passagem de guaranis históricos, com influ-ência jesuítica (a Redução de Santo Inácio Menor fica quase defronte, na margem esquerda do Paranapanema). Os sítios Camargo (desenho T-ARS1, adiante) e Almeida situam-se no trecho médio-superior, muni-cípios de Piraju e Tejupá, respectivamente. Ambos apresentam camadas subsuperficiais caracterizadas como “lito-cerâmicas”, com núcleos de solo antropogênico bem marcados no sedimento (tais núcleos correspondem a fundos de unidades de habitação), correspondendo aos remanescen-tes de aldeias guaranis pré-históricas cronologicamente próximas do início da conquista européia (as datas situam-se entre 1390 d.C e 1480 d.C.). As camadas II de ambos os sítios, caracterizadas como “líticas” têm data entre 920 d.C. e 1.020 d.C., igual à do conjunto Alves / Nunes (930 d.C.), o mais espetacular exemplo de aldeia guarani pré-histórica da região, situado a 3 km do Almeida e a 12 km do Camargo. Como a contemporaneidade é fato concreto, a ausência de cerâmica nas ca-madas II-Camargo e II-Almeida não indicaria uma população diferente que desconhecesse a cerâmica; seriam, de fato, ateliês de lascamento dos guaranis, em face da notável presença de arenito silicificado nos seus ambientes envoltórios, corroborados pela ausência desta rocha lascável no locus do conjunto Alves / Nunes que, ao contrário, assenta-se sobre fértil solo de terra-roxa. As ocupações da Tradição Guarani têm inserção cronológica muito bem marcada no Paranapanema (entre 740 d.C. e
1480 d.C.), desenho G-CNS2, adiante. Portanto, seria de melhor alvitre considerar os sítios “líticos” com idade ao redor de 950 d.C. (ou, mesmo, as camadas “líticas” desta idade, no caso dos sítios multicomponenciais), acampamentos guaranis onde se produziam artefatos de pedra lascada ou, pelo menos as pré-formas de objetos a serem melhor lapidados na aldeia.
Kaingang.em.cena
Se anteriormente foi possível colocar em dúvida a afirmação pro-napiana de que tradições e fases são unidades arqueológicas artificiais, relativamente ao caso dos caçadores-coletores, no caso dos horticultores, há de se convir que pelo menos o conceito de tradição claramente se confunde com cultura, haja vista a necessidade de desdobramento da “artificial” Tradição Tupiguarani em duas outras, mais “etnográficas”, Guarani e Tupinambá.
Nesta linha de pensamento, não há porque manter o topônimo “Itararé” para o que seria uma verdadeira Tradição Kaingang, de filiação Jê. Os portadores desta tradição também se instalam nos primeiros séculos da era cristã nas formações florestais ombrófilas mistas com araucárias, nos pontos mais elevados do Planalto Meridional, chegando a beirar o litoral. A literatura tradicional notifica que parte dos sítios está distante dos rios. Algumas unidades habitacionais são semi-enterradas (casas subterrâneas). Os fragmentos de cerâmica correspondem a vasilhas pequenas, intensamente utilizadas sobre o fogo.
A Tradição Itararé se faz presente no Paranapanema paulista de duas maneiras: compondo sítios próprios da tradição ou pela presença de materiais kaingang em sítios da Tradição Guarani (prancha # PP2). No primeiro caso, o avanço das pesquisas para a bacia superior, nas suas vertentes atlânticas, já tem demonstrado a existência de sítios tipica-mente kaingang, atribuíveis à Tradição Itararé. No momento, todavia, há poucos dados a respeito.
Materiais kaingang comparecem com freqüência em sítios da Tradi-ção Guarani (prancha #PP2), principalmente no trecho médio-inferior, o que comprova certos tipos de contato entre as duas etnias.
82
José Luiz de Morais
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
SUBSISTEMACAÇADOR
PADRÃO DE ESTABELECIMENTODE UMA SEQÜÊNCIA DE OCUPAÇÕES
GUARANIS PRÉ-COLONIAIS
*
MUNICÍPIO DE ITAÍESTADO DE SÃO PAULO
desenho # T-CCD11999
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
São Paulo
SITUAÇÃO DO MÓDULO NO ESTADO
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
SUBSISTEMA CAÇADOR
ARQUEOLOGIA DA PAISAGEMCENAS DO PARANAPANEMA PAULISTA
(DA PRÉ-HISTÓRIA AO CICLO DO CAFÉ)APOIO : FAPESP
Núcleos de solo antropogênicofotointerpretados por André Prous,
em 1974
Núcleos de solo antropogênico (fundos de habitação)mapeados em campo durantes as pesquisas
de 1982 (Pallestrini & Morais) e de 1999 (Morais)
19821999
618
614
E=693.000m
N=7.383.000m
N=7.384.000m
0 metros 500
limite da planície aluvial
Ribeirão do Caçador
núcleos de solo antropogênicovisíveis pela alteração de textura
da vegetação, em 1962
várzeaRibeirão do Caçador
600
600 600
600
600
625
625
concentrações reincidentesde núcleos de solo antropogênico
Ribeirão do Caçador
várzea
vertente decl. 6%
575
585
595
605
615
625
0 500 1000 metros
A
B
CORTE A-B
83
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
desenho # T-ARS11999
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
São Paulo
SITUAÇÃO DO MÓDULO NO ESTADO
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
MÓDULO 1ARS BAIXO ARARAS
ARQUEOLOGIA DA PAISAGEMCENAS DO PARANAPANEMA PAULISTA
(DA PRÉ-HISTÓRIA AO CICLO DO CAFÉ)APOIO : FAPESP
N = 7.438.000 m N = 7.438.000 m
N = 7.439.000 m N = 7.439.000 m
E = 662.000 m
E = 662.000 m
E = 663.000 m
E = 663.000 m
1 2
34Base Aerofotogramétrica: IBC, Foto 32.056
escala 1:25.000, 1972
Módulo 1ARS Baixo Araras
vértices do polígono:1 - E=0.661.370 m; N=7.439.450 m2 - E=0.663.510 m; N=7.439.450 m3 - E=0.663.510 m; N=7.437.730 m4 - E=0.661.370 m; N=7.437.430 m
fuso 22, zona F
0 100 200 300 400 500
metros
2
5
5
A
C
Ribeirãodas Araras
Rio Paranapanema
1
4
Rodovia Sp270acesso a Piraju
SUBSISTEMA BAIXO ARARAS
A - Sítio Camargo: seqüência estratificada em terraço colúvio-aluvial, ocupado por caçadores-coletores entre 2700 aC (Umbu) e110 aC (Humaitá); a última ocupação indígena, datada de 1550 dC, é da Tradição Guarani, precedida de outra ocupação tambémGuarani, datada de 920 dC.
B - Sítio Camargo 2: oficina lítica sem estratificação, misturada às escórias de basalto e arenito silicificado, com pré-formas eutensílios correlacionáveis a Umbu, Humaitá e Guarani.
C - Local de Interesse Arqueológico: ocorrências fortuitas de utensíllios atribuíveis às atividades antrópicas e à hidrodinâmica doRio Paranapanema.
Parâmetros locacionais associados ao sistema:1 - corredeiras; 2 - terraços; 3 - afloramentos de basalto com diques de arenito silicificado; 4 - ilhas e ilhotes rochosos e 5 -remanescentes de floresta estacional semidecidual que anteriormente recobria a região.
B
3
A-Guarani, 1550 dCB-Guarani, 920 dC
C-Humaitá, 110 aCD-Umbu, 2700 aC
Rio Paranapanema
terraço(função morar)
afloramento(atividade minerária)
2
4
6
8 metros
10203040506070metros
basalto comdiques intrapp
sedimentosareno-argilosos
homogêneos
SUBSISTEMA BAIXO ARARASPADRÃO DE ASSENTAMENTO
Camargo
Camargo 2
AB
CD
estratosantropogênicos
registro arqueológicosem estratificação
BAIXO ARARAS MÓDULO 1ARS
MUNICÍPIO DE PIRAJU*
AMBIENTAÇÃOAEROFOTOARQUEOLÓGICA
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
sítios de caçadores-coletores indígenasanteriores a 1000 dC, produtores de pedralascada;
sítios de horticultores indígenas anterioresa 1500 dC, produtores de cerâmica;
sítios indígenas integrados ao sistemacolonial ou controlados pelas frentespioneiras da sociedade nacional;
sítios históricos (estruturas representati-vas da sociedade nacional, de significâncialocal);
sítios multicomponenciais
sítios multiusuários
outros locais de interesse arqueológico
84
José Luiz de Morais
300m
350m
400m
km570km578km586km594km602km610km618km626km634km642km650
degr
au a
ltim
étric
o 37
0m
snm
degr
au a
ltim
étric
o 36
5m s
nm
degr
au a
ltim
étric
o 36
0m
snm
degr
au a
ltim
étric
o 35
5m s
nm
degr
au a
ltim
étric
o 35
0m
snm
degr
au a
ltim
étric
o 34
5m s
nm
degr
au a
ltim
étric
o 34
0m
snm
degr
au a
ltim
étric
o 33
5m s
nm
UHESALTO GRANDEUHE CANOAS IIUHE CANOAS I
remanso doreserv. da Capivara
travessia 1Salto Grande
travessia 2Cebolão
travessia 3Bilota
travessia 4Vermelho
travessia 5Ilha Grande
travessia 6Figueirinha
travessia 7Três Ilhas
travessia 8Água Preta
travessia 9Cascalho
travessia 10Palmital
travessia 11Raposa
travessia 12Pari
travessia 13Macuco
travessia 14Guatambu
travessia 15Balaio
travessia 16Cinzas
W E
Prováveis locais de travessia docanal do Paranapanema noperíodo de vazante (maio/setembro),determinados pela conjunção de condições favoráveis (ilha, cachoeiraou corredeira, baixio ou lajedo e fozde tributário).
sentido geral da dispersão guaranipela calha do Paranapanema
UHE CANOAS I
comprimento da barragem: 678mcota da barragem: 353,5mcota a jusante da barragem: 334,2m
2área inundada: 30,8kmnível máximo: 351mnível máximo excepcional: 353m(fonte: EIA-RIMA)
UHE CAPIVARA
comprimento da barragem: 1.500mcota da barragem: 339mcota a jusante da barragem: 283,9m
2área inundada: 645kmnível máximo: 331mnível máximo excepcional: 336m(fonte: CESP)
UHE CANOAS II
comprimento da barragem: 623mcota da barragem: 368,5mcota a jusante da barragem: 351,3m
2área inundada: 22,5kmnível máximo: 366mnível máximo excepcional: 368m(fonte: EIA-RIMA)
UHE SALTO GRANDE
comprimento da barragem: 1.009,3mcota da barragem: 387,2mcota a jusante da barragem: 373m
2área inundada: 12,2kmnível máximo: 385mnível máximo excepcional: 386,2m(fonte: CESP)
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
pr
ojp
ar
São Paulo
SITUAÇÃO DO TRECHO NO ESTADO
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
RESGATE ARQUEOLÓGICO DO
COMPLEXO CANOASCONTRATO USP-CESP
DISPERSÃOGUARANI PELA
CALHA DO PARANAPANEMA
desenho # G-CNS21999
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
DISPERSÃO GUARANI PELA CALHA DO PARANAPANEMA
85
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
O.contato
As frentes de expansão colonial das potências ibéricas na bacia do Paranapanema seguiram caminhos opostos: de fato, o Meridiano de Tordesilhas cortava este território na sua porção média, deixando para os portugueses a metade oriental e, aos espanhóis, a metade ocidental. No limiar da conquista, o Paranapanema era povoado por guaranis que se distribuíam em aldeias e acampamentos, compondo um sistema de ocupação territorial bastante característico (para melhor compreensão do assunto, leia-se Soares, 1997). Desta forma foram encontrados por espanhóis e portugueses; cada qual, porém, adotou um modo diferente de submetê-los. De modo simples (não é objetivo deste trabalho apro-fundar este aspecto), é possível sintetizar o contato em sentido genérico colocando, em seguida, um caso específico de contato mais recente.
O Tratado de la Capitulación y la Partición de Mar Oceano, firmado em Tordesilhas, Espanha, sob os auspícios da Santa Sé, deixara a metade oeste do Paranapanema àquele país. Assim, a partir de Asunción, os jesuítas espanhóis começaram a implantar as primeiras missões, exata-mente as do Paranapanema, fundando duas importantes no início do século 17: Santo Inácio Menor e Nossa Senhora de Loreto. Certamente, durante o período em que floresceram, a influência dos padres espanhóis extrapolou os núcleos originais, aproximando-se bastante do trecho mé-dio, conforme testemunham recentes pesquisas arqueológicas na região de Canoas (entre as cidades de Assis e Ourinhos). Descontentes com a política das potências ibéricas, os bandeirantes paulistas passaram a atacar as reduções para apresar índios como escravos para o trabalho nas plantações de cana do litoral e do planalto oriental paulista. Tais ataques resultaram na transferência das missões jesuíticas espanholas centenas de quilômetros a jusante, pela calha do Rio Paraná, resultando em um território praticamente despovoado por dois séculos.
A nominação do rio é deveras interessante pois, parana’pane’ma significa “água grande azarada”, “água que não presta”. Como pode um rio extremamente rico em peixes não prestar? Por ter sido o caminho dos bandeirantes na rota da destruição da ordem jesuítica entre os guaranis? Talvez.
O repovoamento dos sertões do Paranapanema recrudesceu no século 19. A imagem do índio será considerada um dos piores desafios para os posseiros, que se viam aterrorizados, atacados, roubados e até assassinados. Duas soluções foram viabilizadas: exterminar os índios ou catequizá-los. Tais atitudes travestiam, de fato, um outro objetivo: o esbulho das terras indígenas. Nesta época, três grupos indígenas mar-cavam presença nos sertões do Paranapanema:
Os kaingangs, conhecidos como “coroados”, que ocupavam as vertentes setentrionais da bacia.
Os guaranis, conhecidos como “caiuás”, que estavam percor-rendo a bacia, na procura da “terra-sem-mal”.
Os xavantes, ocupando os interflúvios entre os afluentes do Paranapanema.
Neste momento, será pontuado o caso do trecho médio como exemplo desta fase de contato, envolvendo índios e posseiros. É o caso de Piraju, onde o povoamento indígena pré-colonial ou guarani histó-rico tem efetiva participação na herança cultural da cidade. Sabe-se que dentre as nações indígenas do território brasileiro, os guaranis se destacam pela religiosidade e pelo misticismo. Egon Schaden chamou-os de “teólogos sul-americanos”, haja vista os cento e cinqüenta anos vividos nas missões jesuíticas, após a conquista ibérica (Clastres, 1978). Isto tem um pouco a ver com a história da fundação de Piraju, que envolve uma imagem de São Sebastião pertencente a um grupo de índios aldeados.
O ato da fundação da cidade, perdido nas névoas dos meados do século passado (há quem diga que aconteceu em 20 de janeiro de 1862), foi certamente imbuído de algum espírito místico. Posseiros vindos do leste em busca de nova vida, depararam com hordas messiânicas guaranis vindas do oeste, na procura da mítica yvy marane’y, a “terra sem mal, onde não mais se morre”. Um dos encontros foi na região onde é a cidade, na época conhecida pelos exploradores do sertão por Tijuco-Preto, corrup-tela da expressão indígena teyque’pe’, o “caminho da entrada”, a “boca do sertão”. De fato, neste trecho, o Rio Paranapanema vence uma barreira
86
José Luiz de Morais
de escarpas (cuestas arenito-basáticas), atravessando-as em estreito afunilamento, com um traçado sinuoso que acompanha as fraturas do basalto, sugerindo que, em alguns trechos, o rio corre “para trás”.
As migrações messiânicas guaranis foram lentas e supervisiona-das pela administração da província: acampamentos e aldeias foram implantados pelo caminho e, em pleno Tijuco-Preto, instalaram-se dois aldeamentos: o do Tijuco-Preto e o do Pira’yu’ (Piraju), cujos pa-tronos eram padres capuchinhos. Pira’yu’, em língua guarani, significa “peixe-dourado”, clara referência a um importante elemento da fauna ictiológica presente nos rios da região, o dourado (Salminus maxilosus). O amarelo dourado, a cor do sol, diferentemente do amarelo comum, tinha significado especial na mitologia guarani.
Os posseiros vinham do Tietê médio e do Sul de Minas Gerais e começaram a assentar-se na região, fundando os núcleos iniciais das cidades (o solo é de grande fertilidade). Sua base econômica era a agri-cultura, principalmente o plantio de cana-de-açúcar e algodão. Esses núcleos eram conhecidos como “patrimônios”. Piraju nasceu desta forma, a partir de uma gleba doada por três famílias de posseiros — Arruda, Graciano e Faustino — onde foi levantada uma capela sob a invocação de São Sebastião.
Assim, as origens e o processo histórico de Piraju orbitam entre o sagrado e o profano. Entre uma antiga imagem de São Sebastião, presente dos capuchinhos aos índios, deles tomada pelos posseiros e por várias vezes recuperada (conforme descrito por Constantino Leman, historiógrafo local).
Hélène Clastres relata a versão indígena deste contato: “... Enquanto Guiracambi seguia as margens do Paranapanema, Nimbiarapoñi chegava pelo vale do Tietê até o oceano. Algum tempo depois convencendo-se da impossibilidade de atravessá-lo, acreditou haver localizado erroneamente a terra-sem-mal, que uma tradição diversa situava no centro da Terra: arre-piou caminho. No trajeto, uma epidemia de rubéola matou toda a sua gente, exceto duas pessoas. Ele acabou atravessando sozinho o Rio Paraná, sempre esperançoso de descobrir a terra-sem-mal. Morreu em 1905, no alto Ivaí. Seu sucessor, o pajé Tangará, conduziu de novo sua gente para leste: primeiro até o Rio Verde, e daí até Piraju, onde Nimuendajú conseguiu, em 1912, que os
sobreviventes do grupo (trinta e três pessoas) se instalassem na Reserva de Araribá. No mesmo ano, Tangará morreu na reserva. O breve relato dessas migrações dos guaranis para a terra-sem-mal basta para mostrar, também aí, a originalidade de uma tradição religiosa que nem os maiores abalos conseguiram enfraquecer. Nenhum sincretismo existe aqui. E, ao contrário do que se dá com os movimentos messiânicos, não deparamos com nenhuma ressonância política: não se trata de revoltas; nenhuma reinvidicação política ou territorial acompanha ou provoca as migrações. É, ao contrário, e como antigamente, o abandono do território e a passagem à vida nômade.”
Os descendentes dos guaranis contemporâneos da fundação de Piraju permanecem ainda hoje na Reserva de Araribá, hoje situada no Município de Avaí, proximidades de Bauru.
88
José Luiz de Morais
Em terras brasileiras, o resgate arqueológico ou a Arqueologia de Salvamento (salvage, rescue ou conservation archaeology), como é mais conhecida, é uma modalidade ainda carente de consolidação em ter-mos de sistemática metodológica. Desde há algumas décadas ela tem sido tropegamente implementada segundo várias práxis sendo, por isso, bastante suscetível a lacunas e críticas das mais variadas, a maior parte delas totalmente pertinente.
O aspecto quantitativo tem prevalecido (quanto mais materiais arqueológicos coletados e quanto maior o número de sítios descobertos, “me-lhor” terá sido o resultado da pesquisa). Ocorre que, na ânsia de perseguir a quantidade, estruturas arqueológicas conexas (como, por exemplo, os núcleos de solo antropogênico que marcam as antigas habitações de uma aldeia) são consideradas individualmente, cada qual como um sítio arqueológico individualizado, o famoso “sítio-habitação”. Ou, pior, materiais arqueológicos são coletados sem nenhum contexto vertical ou horizontal. Mormente isso leva à aquisição de dados inconsistentes, na maior parte das vezes falsos, comprometendo a interpretação do design do assentamento humano. Elocubrações um pouco mais aprimoradas, como a definição preliminar de questões a serem respondidas, têm pas-sado ao largo das preocupações da maior parte dos pesquisadores dito “especialistas” em salvamento arqueológico.
A Arqueologia, enquanto ciência social (Jorge, 1987; Tilley, 1993; Hodder et al, 1995), pode ser definida como o estudo das sociedades hu-manas que enfatiza a interação do comportamento humano e artefatos (Rathje; Schiffer, 1982). Artefatos de pedra lascada, de pedra polida e vasilhas de cerâmica são objetos dos mais rotineiros recuperados pela arqueologia praticada no Brasil. Comportamento humano é tudo o que as pessoas fazem: em tempos pré-coloniais, por exemplo, lascava-se a pedra para a produção de pontas-de-projétil para a caça ou moldava-se a argila para a obtenção de vasilhas onde os alimentos eram cozidos.
A Arqueologia difere das demais disciplinas do campo das huma-nidades por situar sua ênfase nos artefatos e no comportamento humano, considerados de forma conjunta e interativa. A perspectiva arqueológica
enfoca o comportamento humano por meio dos artefatos, ou melhor, a inferência das atitudes comportamentais depende da observação e da análise dos atributos dos artefatos. A tentativa de interpretação páleo-etnográfica se fundamenta na recuperação e na leitura dos objetos, considerando a sua natureza e contexto (Leroi-Gourhan, 1964; 1965; 1971; 1973).
Bezerra de Menezes (1988) lançou idéias significativas a propósito da Arqueologia de Salvamento. Além de considerar esta modalidade no círculo da investigação rotineira, permeou pela análise crítica da arqueologia de salvamento no Brasil. De fato, exceto no que concerne às condições operacionais, “nenhuma distinção pode ser feita no nível da substância” entre a pesquisa arqueológica rotineira e o salvamento. Por condições operacionais se entende a delimitação da área a ser afetada pelo fator que produz o risco e o prazo derivado do mesmo fator de risco. Na maior parte dos casos, o fator que produz risco tem sido um empre-endimento hidrelétrico e o prazo prende-se ao cronograma da obra.
O.resgate.e.a.lei
A legislação brasileira que normatiza as coisas do patrimônio cultu-ral, inclusive o arqueológico, é relativamente antiga, datando da terceira década deste século (Caldarelli, 1996). A análise dessa legislação será inserida no capítulo 5, adiante. Neste momento, será feita uma rápida inserção, concernente às coisas do resgate arqueológico.
Se o Decreto-Lei no 25, de 30 de novembro de 1937, define o pa-trimônio histórico e artístico nacional, a edição da Lei Federal no 3.924, de 26 de julho de 1961, foi um excepcional avanço no que toca à definição e edição das normas de proteção ao patrimônio arqueológico (Bruno, 1995). Este diploma, além de definir alguns conceitos básicos, delineia as competências institucionais relativas à pesquisa de sítios arqueológicos, sistematizando um esquema de autorizações e comunicações prévias ao órgão federal competente, hoje o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional — iphan.
A partir dos anos 80, a legislação ambiental brasileira que, dentre outros instrumentos, passou a contar com a Política Nacional do Meio
89
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
Ambiente (Lei Federal 6.938/81), exige o licenciamento ambiental dos empreendimentos potencialmente lesivos ao meio ambiente incluindo, nesse caso, as usinas hidrelétricas com potência superior a 10 mega-watts. O Conama — Conselho Nacional do Meio Ambiente — emitiu uma série de normas relativas à elaboração e aprovação de estudos de impacto ambiental (EIAs) e relatórios de impacto ambiental (RIMAs), instrumentos necessários para o licenciamento de empreendimentos dessa natureza. No caso do Estado de São Paulo, o órgão licenciador ambiental é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, assessorada pelo Consema — Conselho Estadual do Meio Ambiente. O órgão federal com-petente, Ibama, age em caráter supletivo, exceto no caso das águas da União, quando é responsável pelo licenciamento. Os órgãos municipais de meio ambiente, quando existem, assessoram os órgãos supra locais nos assuntos de natureza domésticos.
No caso do resgate arqueológico, são dignas de nota a Resolução 001, de 23 de janeiro de 1986 (Caldarelli, 1996), que “estabelece as de-finições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da avaliação de impacto ambiental como um dos ins-trumentos da Política Nacional do Meio Ambiente” e a Resolução 006, de 16 de setembro de 1987, que dispõe sobre o “licenciamento ambiental de obras de grande porte, especialmente do setor de operação de energia elétrica”, ambas do cOnama.
O Art. 6o da primeira determina que o estudo de impacto ambien-tal desenvolverá, no mínimo, diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando o meio físico, o meio biótico e os ecossistemas naturais, além do meio sócio-econômico. À Arqueologia interessa o meio sócio-econômico, definido na resolução como“o uso e a ocupação do solo, os usos da água e a sócio-economia, destacando os sítios e os monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos”.
O empreendedor mandará elaborar, por suas próprias expensas, programas de mitigação e de monitoramento dos impactos ambientais
negativos. Daí a obrigatoriedade da pesquisa de salvamento arqueoló-gico para o licenciamento de uma usina hidrelétrica, consolidando os preceitos estabelecidos pela Lei Federal 3.924/61.
O.fator.geo.no.planejamento.do.resgate.arqueológico
O fator geo, objeto do enfoque desta tese, marca forte presença nos projetos de resgate arqueológico. Para melhor esclarecer esta participação nas pesquisas realizadas no Paranapanema paulista, não seria demasiado recuperar algumas posições elementares, porém significativas.
Tem havido preocupação de se repensar os projetos de salvamento arqueológico, dotando-os de um design claro e consistente, explicitamen-te calcado na metodologia científica da arqueologia rotineira, reforçando a obtenção de informações por meio da observação sistemática. A defini-ção de um esquema conceitual (suposições), o levantamento de questões, o teste de hipóteses, a recuperação e a análise de dados, a formulação de sínteses, resultados e críticas, constituem os estágios do encaminhamento dos projetos de salvamento arqueológico contextualizados no prOjpar (Morais, 1990; 1995).
O fator geo, na sua modalidade física ou humana, estará presente em todos os momentos da vida de um plano de resgate arqueológico. No caso do prOjpar, os projetos de resgate em curso têm se valido das seguintes possibilidades da interface:
Organização territorial da área a ser pesquisada, adotando-se como ponto de partida a delimitação das áreas de influência direta e indireta do empreendimento e a definição de módulos espaciais de pesquisa.
Estudos litoestratigráficos regionais, abrangendo o cinturão envoltório dos sistemas de sítios arqueológicos.
Estudos geomorfológicos, climáticos e hidrológicos regionais, de grande importância para a compreensão dos processos que determinaram o enterramento do registro arqueológico.
90
José Luiz de Morais
Análises sedimentológicas dos depósitos arqueológicos, que colaborarão nos procedimentos de reconstrução dos paleoam-bientes e de algumas características das atividades humanas.
Análises petrográficas de matérias-primas (por exemplo, cerâ-micas e líticos).
Verificação das relações possíveis homem/meio, de crucial im-portância no tratamento da articulação dos sistemas culturais com o meio ambiente circundante.
Conservação do registro arqueológico in situ, a partir da seleção e adoção de medidas mitigatórias que minimizem os impactos naturais e antrópicos sobre ele.
Identificação de parâmetros locacionais como base para a definição de um modelo locacional de caráter preditivo, de absoluta utilidade na fase de levantamento arqueológico.
Tais possibilidades de interface foram melhor discutidas no capítulo 1, quando se colocaram as bases teóricas e metodológicas das relações possíveis entre a Geografia e a Arqueologia.
O.resgate.arqueológico.no.Paranapanema.paulista
Convém recuperar um pouco dos procedimentos de resgate ar-queológico efetuados no Paranapanema paulista, desde a época em que foi implantada a Usina Hidrelétrica de Salto Grande (Usina Prof. Lucas Nogueira Garcez), entre os municípios de Salto Grande, SP, e Ribeirão Claro, PR. Na época, o empreendedor era uma empresa estatal chamada uselpa — Usinas Elétricas do Paranapanema, hoje integrada à cesp — Companhia Energética de São Paulo. O empreendimento, inaugurado em 1958, não teve resgate arqueológico prévio. O trabalho foi feito na faixa de depleção do reservatório, a partir de 1964 (Chimyz, 1967; 1972).
O reservatório de Salto Grande inundou 12,2 km2 da calha do Paranapanema, em um trecho potencialmente importante para a
Arqueologia regional, pois exatamente no ponto em que o rio deixa o compartimento das cuestas arenito-basálticas para adentrar as ondulações do planalto ocidental paulista. O marco desta passagem é o Salto Grande dos Dourados, o maior acidente do leito do Paranapanema, hoje com-prometido pelo barramento.
O desenho SGD2, apresentado na página seguinte, mostra a descrição do Salto Grande dos Dourados como cena notável, feita por Teodoro Sampaio, em 1886. A partir da digitalização da planta daquele acidente geográfico, foi possível inserir o patrimônio arqueológico re-gistrado nas adjacências. Certamente, muito do registro arqueológico se encontra submerso.
O responsável pelas pesquisas de resgate arqueológico foi Igor Chmyz, arqueólogo da Universidade Federal do Paraná, trabalhando, na maior parte do tempo, sob os auspícios do prOnapa — Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (acordo CNPq/Smithsonian Institution), cuja metodologia básica prevê as seguintes etapas de campo:
Verificação de eventuais indícios superficiais no terreno.
Delimitação definitiva do sítio arqueológico, com coletas su-perficiais setorizadas.
Execução de cortes estratigráficos com coleta por níveis arbi-trários.
Caracterização do padrão de implantação.
Em 1972, o pesquisador paranaense defendeu tese de doutorado na USP, intitulada “Pesquisas paleetnográficas efetuadas no vale do Rio Para-napanema, Paraná / São Paulo”, onde expôs a consolidação das pesquisas realizadas ao longo da década de 60, no eixo do grande rio. Em 1964, com o apoio de algumas lideranças locais, Chmyz iniciou uma série de levantamentos nas margens do reservatório de Salto Grande, eviden-ciando alguns sítios semi-submersos. A partir de 1965, já no âmbito do prOnapa, foi incluído o eixo do Rio Itararé, que seria afetado por outro barramento do Paranapanema, em Chavantes (o que ocorreu em 1972).
91
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
Cidade deSalto Grande
Rio Novo Rib. dos Bugres
Reservatório de Salto Grande
barragem
INSTALAÇÕES
DA CESP
Salto Grande dos Dourados(seco)
o49 59'
o22 54'
o50 00'
1972
"No Salto Grande, também denominado dos Dourados, seis quilômetros abaixo da barra do rioPardo, o Paranapanema forma a princípio larga bacia três vezes mais ampla do que a anteriorlargura do leito, recebe aí as águas do ribeirão dos Bugres e do rio Novo, pela margem direita, ondeergue-se o povoado do Salto, e divide-se em dois braços desiguais que envolvem a ilha Grande, com1,5 km de comprido, conduzindo o maior salto ou queda principal com a altura de 9,5 m, abaixo daqual se forma uma profunda bacia, seguida de estreitíssimo canal entre altas penedias já noextremo inferior da ilha; e o segundo braço, o da direita,conhecido por canal paulista, mais estreito,porém mais acessível, apesar da forte cachoeira que tem na boca superior e do grande salto emque termina ao juntar-se com o braço maior.
O salto, propriamente dito, é uma queda d'água do mais belo efeito, no tempo da vazante, quandoos grandes rochedos, que formam a linha de queda, mostram-se descobertos em pitorescocontraste com os novelos de espuma alvíssima que irrompem por uma infinidade de canais detodas as dimensões. Vista de certa distância, como da ponta rochosa que termina a ilha Grandeda parte de baixo, a linha de queda, cujo comprimento é de 295 metros, simula uma grande muralha,de altura uniforme, lavada, aqui por possantes jorros d'água, acolá à direita, por tênues fios denotável brancura entre as pontas negras de pedra. Na época das enchentes o maior volume d'água,fazendo desaparecer toda essa beleza de contrastes, dá todavia ao salto um efeito imponente"(Comissão Geográfica e Geológica da Província de São Paulo - Relatório sobre os estudos efetuados nos riosItapetininga e Paranapanema, 1866.
Jauvá
Jataí
Jacaratiá
Povoado do Salto Grande
estrada paraSanta Cruz
estrada paraCampos Novos pastagens
roças
capoeiras
canaviais
matasmatas
ilhote
salto
fazenda
porto
serguBsod.biR
Rio Novo
rochas
Rio Paranapanema
Ilha Grande
quedaprincipal
9,5 m
XXXVII pouso20-7-1886
o50 00'o49 59'
o22 54'
1886(versão livre do croqui elaborado pela Comissão Geográfica e Geológica da Província de S.Paulo, em 1886)
SALTO GRANDE DOS DOURADOS
Jauvá
Jataí
Jacaratiá
A UHE Prof. Lucas Nogueira Garcez (Salto Grande),da CESP, foi inaugurada em 1959. A imagem ao lado
foi produzida pelo IBC, em 1972.
Base Catográfica: IBGE, Carta do BrasilFolha de Marília, esc. 1:250.000
Plano Cartográfico do Projeto Paranapanema
0 2,5 2,5 5,0
km
divisas distritais
divisas municipais
disvisas estaduais
rodovias estaduais
rodovias municipais
patrimônio arqueológico
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
SALTO GRANDE DOS DOURADOS
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanema
fontes: IBGE, IGC-SP e Prefeituras Municipais
responsável técnico-científico:
JOSÉ LUIZ DE MORAIS
Prof.Dr. / MAE-USP
PROGRAMA DE RESGATE ARQUEOLÓGICO DO
COMPLEXO CANOASCONTRATO USP-CESP
SALTO GRANDEESTADO DE SÃO PAULO
ÁREA ARQUEOLÓGICADO SALTO GRANDE
1886/1972
desenho # SGD2sigla do município SGD
LEGISLAÇÃO CORRELATA:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
depósitos legais: IPHAN-CONDEPHAAT
Província de São PauloProvíncia do Paraná
São Paulo
Situação no Estado de São Paulo
92
José Luiz de Morais
Na continuidade da investigação, foram organizadas zonas de pesquisa, a saber:
Zona 1 — Confluência do Paranapanema/ItararéZona 2 — Bacia de Salto GrandeZona 3 — Trecho da Ilha GrandeZona 4 — Confluência do Paranapanema/CinzasZona 5 — Confluência Paranapanema/TibajiZona 6 — Tibaji Médio-Inferior
Com este trabalho na bacia do Paranapanema, Chmyz inaugurou a criação de um grande número de fases. “As fases que apontavam para uma mesma origem cultural eram agrupadas em tradições. Estas, segundo os traços diagnósticos, podiam ser desmembradas em subtradições.” (1972). À vista dessa opção metodológica foram criadas as seguintes fases para o vale do Paranapanema, nas áreas abrangidas pelos resgates arqueoló-gicos: Fase Timburi, compreendendo sítios de caçadores-coletores; Fase Andirá, também compreendendo sítios de caçadores-coletores e Fase Cambará, compreendendo sítios de horticultores.
A Fase Timburi apresenta os seguintes traços diagnósticos:
Sítios-habitação e sítios-acampamento.Proximidades de grandes rios.Topograficamente alçados, livres de enchentes.Material lítico proveniente de diques clásticos.Lascamento por percussão direta.Estruturas de combustão tipo “forno polinésio”.Subsistência baseada em coleta, caça e pesca.Material lítico: 60,04 % de lascas residuais e retocadas; 16,37%
de núcleos esgotados, com sinais de uso e retocados; fragmen-tos atípicos totalizaram 23,23%; largo predomínio do arenito silicificado.
A Fase Andirá apresenta os seguintes traços diagnósticos:
Localização em terraços aluviais e/ou junto a cascalheiras, na confluência do Paranapanema com um córrego.
Elevados entre 10 e 20 m sobre a lâmina d’água.
Extensão entre 100 e 1.500 m2.
Indústria lítica sobre seixos de litologia diversificada.
Subsistência ligada à coleta, caça e pesca (esta última corrobo-rada pela situação dos sítios junto a corredeiras, locais de fácil apanha de peixes migratórios).
Material lítico: 58,42% de lascas residuais; 6,46% de lascas retocadas; 21,78% de núcleos esgotados; 4,57% de núcleos utilizados e 4,94% de núcleos retocados. Matéria-prima pre-dominante: sílex, seguido de quartzito e de arenito silicificado.
A Fase Cambará apresenta os seguintes traços diagnósticos:
Presença de sítios-habitação, sítios-acampamento e sítios-oficina.
Situação topográfica em topos ou flancos de elevações, entre as cotas de 7 e 120 m acima da linha d’água, preferencialmente junto a corredeiras.
Afastamento dos cursos d’água entre 10 e 1.500 m.
Presença de áreas pantanosas entre os depósitos e os cursos d’água.
Material arqueológico: presença marcante de cerâmica simples e decorada, temperada com areia, fragmentos de rocha, hemati-ta, cerâmica triturada e carvão vegetal; predominância do tipo simples; pintura em vermelho sobre engobo branco. Líticos poli-dos, principalmente lâminas de machado (predominantemente em diabásio), e lascados, principalmente raspadores robustos (predominantemente em arenito silicificado).
93
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
Finalizando o assunto, convém lembrar que, em 1964, realizou-se o “Seminário de Ensino e Pesquisa em Sítios Cerâmicos”, patrocinado pela capes e pela Fulbright Commission, dirigido pelos pesquisadores norte-americanos Clifford Evans e Betty Meggers. Neste evento, que incluia treinamento de laboratório, foram utilizadas as coleções cerâmicas do Paranapanema paulista. É interessante destacar que nessa oportunida-de foram realizados os debates que resultaram na criação do prOnapa. A partir daí, Sílvia Maranca, que também havia aderido ao programa, passou a fazer levantamentos arqueológicos rotineiros em alguns afluen-tes do Parapanema superior, principalmente os rios Itararé e Verde (Maranca, 1969). As incursões do prOnapa no Paranapanema paulista cessaram quando o Museu Paulista, por intermédio de Luciana Palles-trini, idealizou o Projeto Paranapanema, lá introduzindo ações bastante diferenciadas. Em 1978, com a anuência da coordenação do Projeto Paranapanema, Maranca acabou por realizar levantamentos na área do Pontal do Paranapanema, contratada pelo Escritório de Ruy Othake, quando da elaboração dos estudos de impacto ambiental do Complexo Paraná / Paranapanema (que englobava as UHEs de Porto Primavera, Rosana e Taquaruçu). Os resultados, todavia, não foram divulgados.
Hoje, o resgate arqueológico na bacia do Rio Paranapanema encontra-se repartido entre a USP, com o prOjpar e a Universidade Federal do Paraná, ainda apegada ao estilo prOnapa. Uma síntese das implicações decorrentes será apresentada adiante, nas conclusões do capítulo.
Em seguida será apresentado o encaminhamento de uma das três situações de resgate arqueológico do Paranapanema paulista (cada qual teve problemática e objetivos específicos previamente definidos). Trata-se do caso do Complexo Canoas, cujo objetivo específico foi apli-car novos arranjos metodológicos e novas tecnologias (especialmente geotecnologias), no intuito de angariar subsídios para a elaboração de parte desta tese.
Os outros dois casos serão melhor comentados adiante. A UHE Piraju, empreendimento em fase encaminhamento, será retomada nas conclusões da tese, com o propósito de se apresentar modos de rela-cionamento entre arqueólogos acadêmicos e da iniciativa privada. No
caso da UHE Taquaruçu (1986/1991), abordada no final deste capítulo, além do objetivo genérico de se promover o levantamento e o resgate do patrimônio arqueológico, firmou-se o objetivo específico que afunilava na elaboração de quatro monografias acadêmicas envolvendo a equipe da unesp de Presidente Prudente, então em vias de formação (Kunzli, 1991; Faccio, 1992; Kashimoto, 1992; Thomaz, 1995).
Complexo.Canoas
1..Antecedentes
As usinas Canoas I e Canoas II integram o Complexo Canoas, empreendimento do setor hidrelétrico de responsabilidade da cesp — Companhia Energética de São Paulo. As usinas localizam-se no Rio Pa-ranapanema, no seu trecho médio, segmento onde o rio serve de divisa entre os estados de São Paulo e Paraná.
As principais características dos barramentos foram divulgadas no reletório de impacto ambiental:
No eixo Canoas I, a barragem tem 607,5 metros de compri-mento. As alturas máximas são 29 metros (barragem de terra) e 48,5 metros (barragem de concreto). O reservatório, no nível máximo operacional, está na cota de 351 metros sobre o nível do mar. A área inundada é de 30, 85 km2 (8,91 km2 correspondem à superfície atual do canal do Paranapanema).
No eixo Canoas II, a barragem tem 552,5 metros de compri-mento. As alturas máximas são 27 metros (barragem de terra) e 45,5 metros (barragem de concreto). O reservatório, no nível máximo operacional, está na cota de 366 metros sobre o nível do mar. A área inundada é de 22,51 km2 (8,10 km2 correspondem à superfície atual do canal do Paranapanema).
O eia data de maio de 1990, tendo sido elaborado pela engevix. Dentre os programas de controle ambiental e de usos múltiplos insere-
94
José Luiz de Morais
se o Programa de Salvamento do Patrimônio Arqueológico, cujos objetivos, definidos pela empresa consultora, são transcritos em seguida:
Obter informações arqueológicas sobre as populações que ocuparam a região e reconstituir cronologicamente o processo de ocupação da área.
Identificar as diversas culturas através do reconhecimento dos seus traços diagnósticos característicos, dispostos nas informa-ções arqueológicas.
Desvendar a cadeia de relações históricas das culturas entre si e com o ambiente natural circundante, através das informações arqueológicas.
Por outro lado, há uma referência aos “sítios arqueológicos iden-tificados anteriormente” (acredita-se que sejam aqueles levantados por Chymz, nos anos 60, mesmo porque o teor dos objetivos definidos está bem próximo daqueles normalmente previstos pelo pesquisador). O rima prevê uma sequência de procedimentos, que também são transcritos em seguida:
Elaboração de projeto.
Pesquisa de fontes secundárias: levantamento bibliográfico, geomorfológico, cartográfico, aerofotogramétrico, etc.
Pesquisa de campo — intervenções através de várias modali-dades: levantamento, prospecção e escavação.
Processamento laboratorial do material arqueológico e/ou afins.
Análise e conclusões sobre a ocupação regional, produzindo amarração entre os sítios arqueológicos, expressas em relatórios técnicos e acadêmicos.
Repasse das informações obtidas para a comunidade local.
Existe também a recomendação de que o programa de salva-mento arqueológico seja implantado concomitantemente às obras de
engenharia. Adicionalmente, o estudo apresentado aos órgãos licen-ciadores dos estados envolvidos indica o MAE-USP e o CEPA-UFPR para o desenvolvimento dos levantamentos. Todavia, na elaboração e implementação dos projetos específicos, os objetivos e metodologia dos trabalhos da USP divergiram bastante daqueles mencionados no rima e adotados por Chymz na margem paranaense.
As obras do Complexo Canoas foram interrompidas em 1995, em função de problemas econômicos. Isto provocou a existência de duas fases bem definidas no resgate arqueológico: a primeira, entre 1992 e 1994, e a segunda, entre 1996 e 1998.
Em 1996, iniciou-se o processo de retomada das construções, agora com a injeção de recursos da iniciativa privada, no caso a Companhia Brasileira de Alumínio, do Grupo Votorantim. Acertado o reinício da implantação, foram feitas novas tratativas com as universidades en-volvidas nos trabalhos de resgate arqueológico. No caso do MAE-USP, firmou-se contrato de prestação de serviços com a cesp, tendo em vista o prosseguimento dos trabalhos na margem direita.
A primeira fase do resgate arqueológico teve início em 1992, a partir da apresentação do texto relativo ao PBA-Arqueologia (Projeto Básico Ambiental — Arqueologia); os trabalhos de resgate se efetivaram em compasso com as obras de implantação do empreendimento. Nesse momento, as pesquisas se concentraram na área do canteiro de obras da UHE Canoas I, associadas a pequenas incursões em outros locais mais distantes. Em seguida, as operações de campo se concentraram nas futuras bacias de acumulação (Canoas I e II). O canteiro de obras da UHE Canoas II concentra-se na margem paranaense, de responsa-bilidade da UFPR.
2..Pesquisas.anteriores.realizadas.na.área.de.Canoas
A literatura e a documentação a propósito do patrimônio arqueo-lógico da bacia do Rio Paranapanema registram a presença marcante dos levantamentos realizados por dois pesquisadores — Igor Chymz e Luciana Pallestrini — da Universidade Federal do Paraná e da Universidade de São Paulo, respectivamente. Ambos trabalharam em largos trechos da
95
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
bacia. O primeiro atuou apenas durante os anos 60, sob o patrocínio do prOnapa — Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas; a segunda iniciou, em 1968, o Projeto Paranapanema, extenso programa interdis-ciplinar que se prolonga até os dias de hoje, com sede na Universidade de São Paulo (primeiramente no Museu Paulista e, depois, no Museu de Arqueologia e Etnologia, sob a coordenação de José Luiz de Morais).
Também não devem ser esquecidas as informações etno-históricas referentes aos “índios” do Paranapanema. Sem tentar ir a fundo ou exaurir a literatura pertinente, foram registradas duas figuras importantes, liga-das a situações e momentos diferentes: primeiramente, Teodoro Sampaio e, depois, Kurt Nimuendajú. Antes, porém, convém lembrar a saga do guarani reduzido nas missões jesuíticas espanholas do século 17, mais precisamente Santo Inácio Menor e Nossa Senhora de Loreto, ambas na margem direita do Paranapanema, na direção do Pontal. Estudadas por pesquisadores como I. Chymz e O. Blasi, foram retomadas pelo primeiro pesquisador, quando do resgate arqueológico na margem paranaense da área de influência da UHE Taquaruçu. No lado paulista, foram estudados alguns assentamentos de índios guaranis situados na esfera de influência dos jesuítas de Loreto e Santo Inácio (Thomaz, 1995).
Teodoro.Sampaio
O engenheiro Teodoro Sampaio organizou os mapas (desenho SGD2) e o relatório de estudos do Rio Paranapanema, realizados pela então Comissão Geográfica e Geológica da Província de São Paulo, em 1886 (São Paulo, Prov., 1889; 1890). Apesar da sua formação em engenharia, Teodoro Sampaio sempre demonstrou ter marcante sensibilidade para investigações na área de humanidades, especialmente aquelas relativas aos índios. De fato, dentre os vários relatórios que a Comissão organizou, apenas naqueles pertinentes ao Paranapanema (o único trabalho que contou com a presença de T.S.), os índios têm um tratamento condigno; em alguns outros, eles são tratados em conjunto com a fauna e a flora.
Por volta de meados do século passado, o Paranapanema era um vasto sertão desconhecido. Apenas algumas rotas, no eixo Itapetininga / Itapeva / Itararé eram frequentadas por tropas de muares, em direção ao
Sul. Índios guaranis, kaingangs e ofaiés-xavantes percorriam a extensão da bacia, freqüentando peabirus já consolidados há muito. Os mapeamentos realizados por Teodoro Sampaio no âmbito da Comissão, colocam dados importantes a respeito da posição de alguns aldeamentos indígenas como, por exemplo, o do Piraju. E, a propósito deste, foi lá que esse pesquisador contratou os três índios que lhes forneceram as informações necessárias para redigir o conhecido vocabulário português-caiuá.
Kurt.Nimuendajú
Nimuendajú elaborou o consagrado Mapa Etno-Histórico do Brasil e, no caso da bacia do Paranapanema, registrou precisamente os principais grupos indígenas ali existentes em passado recente. Assim, na área do Complexo Canoas, há registro da presença de kaingangs, kaiguás, guaranis, ofaié-xavantes e otis-xavantes, atestando a importância do povoamento indígena até o início deste século.
A atuação de Nimuendajú no Paranapanema não se restringiu ao registro cartográfico dos grupos indígenas citados. Em 1912, por exemplo, por determinação do governo do Estado de São Paulo, ele comandou a transferência dos últimos índios guaranis do Aldeamento do Piraju para a reserva de Araribá, nas proximidades de Bauru (convém notar que esses índios eram os últimos remanescentes das migrações messiânicas na procura da “terra sem mal”, realizadas pelos guaranis no século pas-sado) (Clastres, 1978).
4..Organização.territorial.da.pesquisa.e.método.de.trabalho
Acompanhando as premissas correntes nos estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios, são considerados dois universos de atuação para o desenvolvimento do resgate arqueológico: a área de in-fluência indireta, subdividida em meio físico-biótico e meio sócio-econômico e a área de influência direta, constituída pelos canteiros de obras e pelas bacias de acumulação dos reservatórios. Via de regra, a área de influência indireta do meio físico-biótico abrange as bacias hidrográficas tributárias da
96
José Luiz de Morais
seção do canal a ser transformada em reservatório. No caso do Complexo Canoas, esta área é balizada pela barragem de Canoas I, a jusante, e pela barragem de Salto Grande, a montante.
A área de influência indireta do meio sócio-econômico é constituída pelos territórios dos municípios afetados pelo empreendimento. No caso, foram abrangidos os municípios paulistas de Cândido Mota, Palmital, Ibirarema e Salto Grande. Todavia, os levantamentos de campo consi-deraram também os municípios de Campos Novos Paulista e Florínia, pelos seguintes motivos: o primeiro, além de se situar parcialmente na área de influência do meio físico-biótico do Complexo Canoas, apresenta pelo menos um sítio arqueológico de significância para a compreensão do sistema regional; o segundo, apesar de não se inserir na área de in-fluência, é limítrofe e apresenta interessantes situações de amarração.
Na elaboração e implementação do Programa de Resgate Arqueoló-gico do Complexo Canoas, foi considerada metodologia baseada em alguns princípios operacionais, acadêmicos e científicos, que têm norteado o subprograma ProjPar 3 — Salvamento Arqueológico (desenho E-ORG). Os princípios são os seguintes:
Elaboração e desenvolvimento de uma metodologia específica para a modalidade, diferenciada da maior parte das ações de salvamento arqueológico vigentes até o momento em outros projetos desenvolvidos no país. Encarada como atividade espe-cial, o resgate arqueológico assume os mesmos níveis de apro-fundamento e detalhamento da pesquisa acadêmica rotineira.
Produção de trabalhos científicos de conteúdo adequado e suficiente para o encaminhamento da produção acadêmica (teses e dissertações) de responsabilidade do pessoal da equipe evitando-se, ao máximo, a mera produção de relatórios des-critivos, destinados às necessidades formais de licenciamento da obra.
Envolvimento das municipalidades e de representantes da comunidade local, com o propósito de fomentar o federalismo cooperativo preconizado na norma constitucional.
Na ocasião do replanejamento, que aconteceu por ocasião da retomada dos trabalhos (segunda fase do resgate arqueológico), foram explicitados os seguintes objetivos para as investigações de Canoas:
Resgatar, por meio de intervenções sistemáticas de campo, o patrimônio arqueológico situado nas áreas direta ou indireta-mente impactadas pelas obras de implantação do Complexo Canoas analisando, sob a ótica crono-espacial, os objetos da cultura material recuperados na investigação.
Recompor, por meio dos processos interdisciplinares, a trama de relações sociais e as estratégias de desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas do passado, analisando formas, fun-ções e mudanças nos sistemas de assentamento pré-coloniais e de contado, identificados no Paranapanema médio.
Adicionar os dados obtidos à memória regional e nacional.
Tais objetivos se firmam na missão do prOjpar, definida no seu plano diretor de pesquisa (capítulo 2). Nessa ocasião, ficou reiterada a definição do objeto de investigação, ou seja, as populações indígenas pré-coloniais e de contato da sub-bacia do Paranapanema médio. De fato, as informações arqueológicas, tanto do período pré-colonial, como histórico, a respeito do vale do Paranapanema, são bastante densas. Estão centradas em três tipos de comunidades que, sumariamente podem ser assim caracterizadas:
Comunidades de caçadores-coletores pré-coloniais que, entre dez mil e mil anos atrás se deslocavam pelas terras do Para-napanema e afluentes, estabelecendo-se principalmente nos terraços marginais alçados poucos metros em relação à lâmina d’água ou junto a afloramentos de rochas aptas ao lascamento (produziam utensílios de pedra lascada). Grande número de acampamentos e oficinas líticas foi detectado pela pesquisa aca-dêmica rotineira e nos projetos de resgate arqueológico. Trata-se dos grupos filiados às tradições Umbu e Humaitá (Mentz
97
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
Ribeiro, 1979; 1990; Kern, 1981; 1989; Schmitz, 1984; 1987; Schmidt Dias, 1994).
Comunidades de horticultores pré-coloniais (principalmente guaranis) que, ao redor de mil anos atrás, estabeleceram suas aldeias em vertentes suaves de colinas. Os depósitos de argila próximos eram conditio sine qua non, pois constituíam fonte de matéria-prima para a fabricação de vasilhas de cerâmica de uso doméstico ou cerimonial. A ocupação dos relevos colinosos do Paranapanema médio-superior se contrapõe ao assentamento nos expressivos terraços do trecho inferior do rio. A pressão demográfica e o sedentarismo exigiram espaços mais amplos para a edificação das aldeias (Brochado, 1984; 1989; Caldarelli, 1988; Noelli, 1993; Soares, 1997).
Grupos indígenas (principalmente guaranis históricos): os gua-ranis reduzidos pelos jesuítas espanhóis nas primeiras missões do Paranapanema — Santo Inácio Menor e Nossa Senhora de Loreto — situavam-se na margem esquerda do Paranapanema que, parece, era uma “fronteira” entre a Paracuaria (a “república” jesuítica/guarani) e os domínios lusos. Na margem direita, hoje paulista, ficavam índios fortemente influenciados pelos padres e pela nova ordem social imposta. Mais recentemente (meados do século 19), novas hordas guaranis (muitas vezes em confronto com os kaigangs e com os posseiros), percorreram a região, na procura da terra sem mal.
A regionalização das pesquisas de resgate arqueológico exigiu a diversificação das linhas de ação pela aquisição e adaptação de novos modelos. O desenvolvimento de pesquisas geoarqueológicas e de arque-ologia da paisagem (ambas linhas de pesquisa do subprograma ProjPar 5 — Processos Interdisciplinares; desenho E-ORG), de inspiração anglo-americana, têm reforçado a expansão das ações regionais por meio do estabelecimento de atividades de reconhecimento de área e de levan-tamento arqueológico.
Assim, o resgate do patrimônio arqueológico se fez de modo estra-tificado, definido por etapas de pesquisa. A estrutura organizacional das abordagens ligou-se às etapas de gabinete, campo e laboratório.
A etapa de gabinete contou com as seguintes atividades típicas:
Levantamento e análise da literatura técnico-científica relativa aos temas correlatos às pesquisas, quais sejam: Arqueologia Geral (teoria e método), Arqueologia de Salvamento (metodo-logia e estudos de caso), patrimônio arqueológico, patrimônio ambiental e paisagístico, geociências, Direito Ambiental e demais disciplinas da área do meio ambiente.
Levantamento e análise da legislação aplicável aos temas, pro-duzida nas esferas de governo federal, estadual e municipal (no último caso, entenda-se os municípios de Cândido Mota, Palmital, Ibirarema e Salto Grande), inseridos na área de influ-ência indireta do meio sócio-econômico do empreendimento.
Levantamento das etapas do povamento humano regional, com ênfase no período pré-colonial e nos contatos entre indígenas e as diversas frentes pioneiras coloniais e brasileiras, com o pro-pósito de definir os cenários da ocupação e do desenvolvimento sócio-econômico da bacia do Paranapanema médio.
Definição dos parâmetros locacionais destinados ao mapeamen-to das áreas potencialmente favoráveis ao encontro de sítios arqueológico pré-coloniais.
Levantamento, recuperação, releitura e readaptação dos re-sultados das pesquisas arqueológicas previamente realizadas na área de influência do Complexo Canoas, entre 1964 e 1972, pela Universidade de São Paulo e pela Universidade Federal do Paraná.
Recuperação e análise da cartografia (mapas de ocorrências arqueológicas e plantas de sítios) produzida no mesmo período.
Organização da memória técnica relativa às atividades de pesquisa, incluindo a produção arquivística, com a edição dos formulários de registro legalmente exigíveis.
Tratamento da memória visual adquirida nas pesquisas.
98
José Luiz de Morais
Elaboração e edição de relatórios técnicos e científicos relativos à consolidação das diversas etapas de campo, com o propósito de possibilitar uma visão detalhada do andamento das pesquisas e do estado d’arte do patrimônio arqueológico regional.
Os trabalhos de campo foram realizados a partir do mecanismo de estágios (Redman, 1973; 1987), que se concretizou pelo cumprimento das seguintes tarefas:
Primeiro.Estágio:.Reconhecimento.de.área
Notificação preliminar das ocorrências arqueológicas nos mu-nicípios definidos como área de influência indireta do meio sócio-econômico do empreendimento (Cândido Mota, Palmital, Ibirarema e Salto Grande), por meio do rastreamento e registro das coleções institucionais e particulares (trabalho realizado por Selma Ires Chiari, membro do projeto).
Aquisição in situ de parâmetros para a definição do risco arqueológico enquanto possibilidade iminente de alterações, comprometimentos e/ou destruição dos registros arqueológicos regionais.
Registro e avaliação do meio ambiente regional enquanto pa-râmetro ligado à definição do potencial arqueológico (fatores associados que apontam para as probabilidades da ocorrência de sítios), com vistas à aquisição dos fundamentos de uma arque-ologia da paisagem (ver item “fontes eletrônicas”, bibliografia).
Reavaliação dos sítios arqueológicos existentes no entorno do canteiro de obras da UHE Canoas I (margem direita), no mo-mento do reinício das obras de engenharia (segunda fase do resgate arqueológico).
Avaliação de terreno na área afetada pela implantação do can-teiro de obras de Canoas II e na futura bacia de acumulação dos reservatórios (margem direita).
Segundo.Estágio:.Levantamentos
Levantamentos extensivos (surveys) e coletas comprobatórias nas áreas de influência indireta do meio físico-biótico (bacia de contribuição) e do meio sócio-econômico do empreendimento, com ênfase nos estudos ambientais e paisagísticos necessários para o reconhecimento das estratégias de sobrevivência e permanência dos grupos indígenas pré-coloniais e do período de contato (Redman; Watson, 1970; Redman, 1973; Plog et al, 1978).
Levantamentos sistemáticos nas bacias de acumulação dos re-servatórios de Canoas I e II (áreas de influência direta), com o propósito de organizar o inventário dos sítios sujeitos a inter-venções posteriores (Wandsnider; Camilli, 1992).
Avaliação da significância (caráter informativo, grau de visibi-lidade e preservação dos registros) dos sítios descobertos nas áreas de influência direta, com o propósito de definir aqueles a serem prospectados e escavados.
Terceiro.Estágio:.Prospecções
Pequenas intervenções de superfície e de subsuperfície nos sítios localizados nas áreas de influência direta, com maior ou menor exposição das camadas antropogênicas, conforme o potencial avaliado ou o estado de conservação do sítio. A prospecção envolveu técnicas de evidenciação do registro arqueológico, tais como a limpeza e o estaqueamento do terreno, sondagens, retificação de barrancos, etc.
Refinamento dos critérios para a escolha dos sítios a serem escavados, de acordo com o grau de significância.
99
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
Quarto.Estágio:.Escavações
Intervenções de porte no registro arqueológico, mediante a adoção de metodologia e técnicas previamente definidas. Em alguns caso, aplicou-se o método das superfícies amplas, por meio das suas técnicas rotineiras (limpeza superficial e levantamento planialtimétrico do terreno, registro tridimensional extensivo das evidências arqueológicas, incluindo os núcleos de solo antropogênico, áreas de processamento das indústrias líticas e de confecção de cerâmica, enterramentos, etc (Pallestrini, 1975; Leroi-Gourhan, 1983). Em outros casos (ou concomitan-temente), aplicou-se o método etnográfico, por meio da técnica de decapagens em níveis de solo naturais, com a manutenção das evidências in situ, até o registro fotográfico e cartográfico (Leroi-Gourhan, 1983).
Os trabalhos de laboratório apresentaram as seguintes tarefas típicas:
Interpretação dos produtos de sensoriamento remoto (fotos aéreas e imagens de satélite), com o propósito de consolidar a definição e promover a delimitação das áreas potencialmente favoráveis para a localização de sítios arqueológicos.
Digitalização eletrônica de peças cartográficas (mapas, cartas e plantas) organizadas ou obtidas a partir das intervenções.
Tratamento de imagens (fotos e imagens de satélites) em ambiente eletrônico.
Análise preliminar (primeira triagem) dos materiais arqueológi-cos obtidos nas coletas comprobatórias realizadas nos estágios de reconhecimento e área e levantamento arqueológico.
Análise tecnotipológica, baseada no modelo cadeia operatória, de materiais arqueológicos (líticos e cerâmica).
Análise e inventário dos restos esqueletais e faunístico (Piedade, 1994).
Análises laboratoriais correlatas (sedimentos, restos florísticos, datações e outros).
Como frisado anteriormente, no caso dos empreendimentos hidre-létricos as ações de salvamento arqueológico consideram os universos territoriais definidos nos EIAs-RIMAs, quais sejam:
A área de influência indireta do meio físico-biótico, que corresponde à bacia de contribuição para o futuro reservatório, ou seja, o território drenado por todos os tributários que desaguam no trecho inundado pela formação do reservatório. Concretiza uma unidade balizada predominantemente por fatores da Geografia Física.
A área de influência indireta do meio sócio-econômico, que é constituída pelos territórios (in totum) dos municípios afetados. Neste caso, o universo tem conotação Geopolítica.
A área de influência direta, que é aquela que sofre a ação direta das obras (canteiros e bacia de inundação).
Os estágios de campo têm a ver com a demarcação dessas áreas. O reconhecimento e o levantamento abrangem tanto as duas áreas de in-fluência indireta, como a de influência direta. A prospecção e a escavação se restringem à terceira, em face das prioridades da pesquisa, ditadas pela sua condição especial. No caso do Complexo Canoas, a área de influência direta foi organizada em módulos. Considerou-se como área de influência indireta do meio físico-biótico toda a área de drenagem tribu-tária do reservatório, na margem direita, cujos canais principais, além do Paranapanema, são o Ribeirão do Pau d’Alho, o Ribeirão do Palmital, o Rio do Pari (com seus afluentes ribeirões Pirapitinga e Taquaral), o Ribeirão do Macuco e o Ribeirão da Queixada.
No caso da área de influência indireta do meio sócio-econômico, fo-ram considerados os territórios dos municípios Cândido Mota, Palmital,
100
José Luiz de Morais
Ibirarema e Salto Grande. Nos estudos de impacto ambiental, foi con-siderada como área de influência indireta do meio sócio-econômico o núcleo urbano de Assis, cidade que comanda a rede local. O projeto de resgate arqueológico, todavia, excluiu o Município de Assis.
Como área de influência direta, foram considerados todos os ter-renos sujeitos à intervenção direta do empreendimento, quais sejam, os canteiros de obras (concentrados na margem direita, no caso de Canoas I) e as faixas situadas abaixo das cotas 351 m (Canoas I) e 366 m (Canoas II), a serem inundadas pela formação dos lagos. Foram consideradas também as faixas de depleção dos reservatórios, correspondentes à oscilação das lâminas d’água durante a operação das usinas, do nível mínimo operacional, até o maximo maximorum.
5..Resultados.do.Resgate.de.Canoas
Os resultados do desenvolvimento do Programa de Resgate Arqueo-lógico do Complexo Canoas já se evidenciam. Dentre eles, primeiramente cumpre destacar um, de caráter metodológico, que foi a organização territorial do projeto, cuja sistematização final vale a pena comentar.
A organização territorial aplicada ao Projeto de Resgate Arqueo-lógico do Complexo Canoas — SP tem por plataforma aquela definida para a área geográfica abrangida pelo prOjpar — Projeto Paranapanema. Contudo, em se tratando, de um projeto especial, houve a necessidade de serem adotados alguns parâmetros adicionais, considerando que as áreas de influência direta e indireta foram previamente definidas pelo empreendedor, no momento da elaboração do eia/rima.
Assim, o Projeto de Resgate Arqueológico do Complexo Canoas — SP partiu da definição das áreas de influência direta e indireta do empreen-dimento que resultou na implantação das UHEs Canoas I e Canoas II, vinculando esta organização às etapas metodológicas da investigação de resgate arqueológico. Ficaram assim identificadas as áreas de influência direta (ou área diretamente afetada) e indireta do empreendimento considerando-se, neste caso, apenas o território paulista:
Áreas de influência direta
Canteiros de obras das barragens, situados nos municípios de Cândido Mota (Canoas I) e Palmital (Canoas II).
Bacias de acumulação dos reservatórios, nas cotas de 351 metros snm (Canoas I) e 366 metros snm (Canoas II), mais uma faixa de proteção de 50 metros a partir da curva de enchimento, abrangendo os municípios de Cândido Mota, Palmital, Ibirarema e Salto Grande.
Áreas de influência indireta
Bacia hidrográfica de contribuição dos reservatórios, desde a bar-ragem de Salto Grande, a montante, até a barragem da UHE Canoas I, a jusante, delimitando a área de influência indireta do meio físico-biótico.
Territórios dos municípios de Cândido Mota, Palmital, Ibirarema e Salto Grande, delimitando a área de influência indireta do meio sócio-econômico.
Os mecanismos da interface “etapas metodológicas” x “áreas de influência” verificaram-se conforme este esquema:
Procedimentos de reconhecimento geral e levantamento extensivo se aplicaram às áreas de influência indireta do meio físico-biótico e do meio sócio-econômico. O propósito, no caso, foi angariar subsídios para contextualizar o resgate propriamente dito, que foi levado a efeito na área diretamente afetada — ADA.
Procedimentos de levantamento intensivo, prospecção e escavação se aplicaram à ADA, com o propósito de identificar e resgatar informações e materiais arqueológicos situados nos canteiros de obras, bacias de acumulação e faixas de depleção dos reser-vatórios.
101
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
Para otimizar os procedimentos relativos às operações arqueológi-cas na ADA, foram delimitadas módulos (desenho G-CNS1) identifica-dos pelos principais eixos inferiores das drenagens afluentes da margem direita do Paranapanema. Trata-se, na realidades, de onze sub-unidades geográficas circunscritas em polígonos irregulares, balizados pelo Para-napanema e por linhas convencionais identificadas por coordenadas UTM. Tais polígonos, entendidos como módulos, são:
Módulo 1 — Ribeirão da Queixada: situa-se no Município de Cândido Mota (distritos de Frutal do Campo e Santo António do Paranapanema). Inclui a barragem da UHE Canoas I e o iní-cio do seu remanso, na cota de 351 metros (desenho T-CNS1).
Módulo 2 — Ribeirão do Barranco Vermelho: situa-se no Muni-cípio de Cândido Mota (Distrito de Santo António do Parana-panema). Inclui o remanso de Canoas I, na cota de 351 metros.
Módulo 3 — Ribeirão do Macuco: situa-se no Município de Cândido Mota (Distrito de Santo António do Paranapanema e Distrito-Sede). Inclui o remanso de Canoas I, na cota de 351 metros.
Módulo 4 — Rio do Pari: situa-se nos municípios de Cândido Mota (Distrito-Sede) e Palmital (Distrito de Suçui). Inclui o remanso de Canoas I, na cota de 351 metros.
Módulo 5 — Ribeirão do Palmital: situa-se no Município de Palmital (Distrito de Suçui e Distrito-Sede). Inclui o remanso de Canoas I, na cota de 351 metros.
Módulo 6 — Ribeirão das Três Ilhas I: situa-se no Município de Palmital (Distrito-Sede). Inclui o final do remanso de Canoas I, na cota de 351 metros, a barragem da UHE Canoas II e o início do seu remanso na cota de 366 metros (desenho T-CNS2).
Módulo 7 — Ribeirão das Três Ilhas II: situa-se no Município de Palmital (Distrito-Sede). Inclui o remanso de Canoas II, na cota de 366 metros.
Módulo 8 — Ribeirão do Pau-d’Alho — situa-se nos municípios de Palmital (Distrito-Sede) e Ibirarema (Distrito-Sede). Inclui o remanso de Canoas II, na cota de 366 metros.
Módulo 9 — Ribeirão do Cedro — situa-se no Município de Ibirarema (Distrito-Sede). Inclui o remanso de Canoas II, na cota de 366 metros.
Módulo 10 — Ribeirão Vermelho — situa-se nos municípios de Ibirarema (Distrito-Sede) e Salto Grande (Distrito-Sede). Inclui o remanso de Canoas II, na cota de 366 metros.
Módulo 11 — Ribeirão da Bilota — situa-se no Município de Salto Grande (Distrito-Sede). Inclui o final do remanso da UHE Canoas II, na cota de 366 metros e a barragem da UHE Salto Grande.
No caso do resgate arqueológico do Complexo Canoas, os módu-los constituíram as menores unidades de gerenciamento do patrimônio arqueológico, inseridos nos territórios municipais, que são as unidades de gerenciamento um nível acima. Esta definição, compatível com outros projetos de planejamento e gestão, irá adquirir caráter de suma importância, quando da implantação do Plano Diretor de Uso Múltiplo dos Reservatórios do Complexo Canoas, que incluirá esquemas de monito-ramento permanente da orla dos futuros lagos (esta matéria será melhor discutida no capítulo 5).
Em termos de prOjpar, a área geográfica abrangida pelo Projeto de Resgate Arqueológico do Complexo Canoas — SP insere-se na Mesorre-gião CNS23 — Canoas, uma das divisões da Região 2 — Bacia Média (desenho G-PP1).
Outro resultado importante foi, sem dúvia, a possibilidade de crescimento da informação em uma secção ainda carente de dados arqueológicos. De fato, o que antes era um vazio, revelou-se bastante rico em termos de número de sítios, principalmente aldeias e acampa-mentos da Tradição Guarani, bem como a presença de remanescentes de assentamentos guarani históricos. No total são quarenta e sete sítios registrados: uma pequena minoria corresponde a assentamentos de ca-çadores coletores da Tradição Humaitá e a significativa maioria se refere a assentamentos da Tradição Guarani (destes um sítio — o Peroba — é de guaranis históricos). Alguns sítios guarani, como o Araruva, apresen-tam objetos isolados de etnia Kaingang (desenho ARR1) (ver o último anexo desta tese).
102
José Luiz de Morais
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
MÓDULOS DE LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanema
fontes: IBGE, IGC-SP, CESP e Prefeituras Municipais
responsável técnico-científico:
José Luiz de MoraisProf.Dr. / MAE-USP
PROGRAMA DE RESGATE ARQUEOLÓGICO DO
COMPLEXO CANOASCONTRATO USP-CESP
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO COMPLEXO CANOAS
ARRANJO GERAL DOS MÓDULOS
DE LEVANTAMENTOARQUEOLÓGICO
desenho # G-CNS1
LEGISLAÇÃO CORRELATA:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
depósitos legais: IPHAN-CONDEPHAAT
Arq. Barrado Cinzas
Ilha do Fogo
Ilha do Balaio
1QXQUEIXADA
2BVBARRANCO VERMELHO
Cajarana
Brejaúva
Guatambu
Marolo
Guadacaio
Pajeú
Peroba
Figueira
Caraguatá
Cedro
Araticum
Angico-BrancoAngico-Vermelho
Copaíba
Mata da Figueira
Barbatimão
Araruva
o22 55'
o50 30'
o22 55'
o50 25'
Curupiá
Patrimônio S. Benedito
Sto. António do Paranapanema
Porto Almeida
Porto Galvão
3MCMACUCO
Município de Andirá
Município de Palmital
o22 55'
o50 20'
Cascalho
4PAPARI
5PTPALMITAL
Ilha Barra do Palmital
Arq. do Cascalho
Ilha Barra do Pari
UHE VALE DO PARANAPANEMA
Porto Marinho
Espanholada
São PauloParaná
São PauloParaná
UHE CANOAS I
São Paulo
Situação no Estado de São Paulo
COMPLEXO HIDRELÉTRICO CANOASRIO PARANAPANEMA, SÃO PAULO / PARANÁ
UHE CANOAS IConcessionária: Companhia Energética de São PauloInício da Operação: 1998Barragem = comprimento: 678 m; cota coroam.: 353,5m; cota jusante: 334,2 m
2Reservatório = área 30,8 km (17,2/SP e 13,6/PR); nívelmín.: 351 m; nível máx.: 351 m; nível máx. excep.: 351 mLocalização: Cândido Mota, SP / Itambaracá, PR
UHE CANOAS IIConcessionária: Companhia Energética de São PauloInício da Operação: 1998Barragem = comprimento: 623 m; cota coroam.: 368,5m; cota jusante: 351,3 m
2Reservatório = área: 22,5 km (10,2/SP e 12,3/PR); nívelmín.: 366 m; nível máx.: 366 m; nível máx excep.: 366 mLocalização: Palmital, SP / Andirá, PR
patrimônio arqueológico
adensamento de chácaras de recreio
bairros rurais
cidades
0 1 2 3 4 5
km
escala numérica 1:100.000(no formato original, A2)
Município de Andirá
Município de Palmital
o22 55'
o50 15'
o22 55'
o50 10'
Três Ilhas
6TITRÊS ILHAS I
8PDPAU D'ALHO
9CDCEDRO
7TLTRÊS ILHAS II
BarreirãoCambuí
SarãGuarantã
Figueira-Branca
Arq. das Três IlhasIlha da Anta
Porto Pereira
Porto BarbosaTaiúva
IpêPau d’ Alho
Município de Cambará
Município de Ibirarema
o50 00'
10VEVERMELHO
11BIBILOTA São Paulo
Paraná
São PauloParaná
Porto do Cedro
JataíJacaratiá
ImbiraUHE SALTO GRANDE
UHE CANOAS II
o22 55'
Jauvá
Jequitibá
Vila dos Pescadores
Ilha Grande
Ilha da Bilota
Indaiá
Rio Novo
Cidade deSalto Grande
Res. de Salto Grande
Município de Salto Grande
Rib. da BilotaRib. Vermelho
Rib. das Três Ilhas
Rib. do Pau d’Alho
Rib. do CedroPeroba-Rosa
Cedro-Vermelho
Japecanga
CarobaChimbuva
o22 55'
o50 05'
Rio Paranapanema
Município de Itambaracá
Município de Cândido Mota
Rio do Pari
Rib. do Macuco
Rib. do BarrancoVermelho
Rib. daQueixada
Rio das Cinzas
Rio Paranapanema
Angico
Embaúba
Cabreúva-Parda
Canafístula
Imbuia
103
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
RESGATE ARQUEOLÓGICO DO
COMPLEXO CANOASCONTRATO USP-CESP
RIBEIRÃODA QUEIXADA
MÓDULO 1QX*
AMBIENTAÇÃOAEROFOTOARQUEOLÓGICA
desenho # T-CNS11999
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
São Paulo
SITUAÇÃO DO MÓDULO NO ESTADO
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
N = 7.464.000 m
N = 7.462.000 m
E = 550.000 m E = 552.000 m
E = 554.000 m
E = 556.000 m
N = 7.466.000 m
Caraguatá
Figueira
Araticum
Araruva
BarbatimãoAngico-Vermelho
Angico-BrancoAngico
Cedro
MaroloPajeúGuadacaio
ESTADO DO PARANÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ
Peroba
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA
1 2
43
7
10
11
UHE CANOAS I
5 6
8
9 10
CopaíbaMata da Figueira
Módulo 1QX: Ribeirão da Queixadavértices do polígono:
1 - E=0.548.540 m; N=7.465.000 m2 - E=0.552.000 m; N=7.465.000 m3 - E=0.552.000 m; N=7.465.500 m4 - E=0.552.500 m; N=7.465.500 m5 - E=0.552.500 m; N=7.467.000 m6 - E=0.553.500 m; N=7.467.000 m7 - E=0.553.500 m; N=7.464.750 m8 - E=0.555.000 m; N=7.464.750 m9 - E=0.555.000 m; N=7.464.000 m10 - E=0.556.500 m; N=7.464.000 m11 - E=0.556.500 m; N=7.462.940 m
Fuso 22, Zona F
Foz do Rio das Cinzas
Arq. Barrado Cinzas (#15)
MÓDULO 1QX QUEIXADA
Ribeirão da Queixada
Córrego da Onça
Ilha do Balaio (#14)
amenapanaraPoiR
Cota do Reservatório de Canoas I: 351 m
Base Aerofotogramétrica: IBC, Fotos 9303/05escala 1:25.000, 1971
0 500 500 1000
metros
Cachoeira doFogo (#27)
Cachoeira dasCinzas (#26)
Cachoeira daPeroba (#25)
Cachoeira doBagre (#24)
104
José Luiz de Morais
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
pr
ojp
ar
São Paulo
SITUAÇÃO DO MÓDULO NO ESTADO
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
RESGATE ARQUEOLÓGICO DO
COMPLEXO CANOASCONTRATO USP-CESP
RIBEIRÃODAS TRÊS ILHAS 1
MÓDULO 6TI*
AMBIENTAÇÃOAEROFOTOARQUEOLÓGICA
desenho # T-CNS21999
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
MÓDULO 6TI TRÊS ILHAS 1
Cota do Reservatório de Canoas II: 366 m
Base Aerofotogramétrica: IBC, Fotos 9303/05escala 1:25.000, 1971
0 500 500 1000
metros
E =
578
.00
0 m
E =
580
.00
0 m
3
Cambuí
Figueira-BrancaSarã
MUNICÍPIO DE ANDIRÁ
E = 7.464.000 m
1
2
45
6 7
N = 7.462.000 m
8 9
10 11
12
MUNICÍPIO DE PALMITAL
Guarantã
Arq. das Três Ilhas (#10)
UHE CANOAS II
Ipê
Módulo 6TI: Ribeirão dasTrês Ilhas I
vértices do polígono:1 - E=0.576.500 m; N=7.463.470 m2 - E=0.576.500 m; N=7.464.000 m3 - E=0.578.250 m; N=7.464.000 m4 - E=0.578.250 m; N=7.463.500 m5 - E=0.578.000 m; N=7.463.500 m6 - E=0.578.000 m; N=7.462.500 m7 - E=0.579.000 m; N=7.462.500 m8 - E=0.579.000 m; N=7.463.000 m9 - E=0.580.500 m; N=7.463.000 m10- E=0.580.500 m; N=7.462.750 m11- E=0.581.000 m; N=7.462.750 m12- E=0.581.000 m; N=7.462.300 m
fuso 22, zona F
ESTADO DE SÃO PAULO
ESTADO DO PARANÁ
32
Cachoeira da Água Preta (#14)
Cachoeira dasTrês Ilhas (#13)
amenapanaraPoiR
350m
360m
370m
0 20 40 60 80 100 120 metros
RESERVATÓRIO DE CANOAS IIRio Paranapanema
SITUAÇÃO HIPOTÉTICADE SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS SUBMERSOS
ilha submersaterraço submerso
colina submersa
antigo leito
antigonível do rio
registro arqueológico submerso
rocha vulcânica
latossolo
solo areno-argiloso
antigo canal paulistaantigo canal paranaense
nível da lâmina d’água do reservatório
novo ambiente de sedimentação
105
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
Outra situação digna de registro é o péssimo estado de conservação dos sítios arqueológicos da área de Canoas. Na década de 60, Chmyz registrara que a maior parte das evidências arqueológicas estava com-prometida pelas práticas agrícolas. Trinta anos após, a situação tornou-se bem mais grave. Praticamente todos os sítios estão destruídos pela agricultura altamente mecanizada (a região é um dos “celeiros” do Estado de São Paulo). Para melhor esclarecimento da situação, seria válido apresentar trecho de um laudo técnico emitido pelo Eng. Agron. José O. Franco Pereira, a propósito da ação do subsolador, implemento intensamente utilizado na área de Canoas.
“Com a agricultura mecanizada de grãos — soja, milho, feijão, trigo e outros — houve um aumento muito grande na produção e na produtividade agrícola. Isso intensificou, todavia, danos físicos ao solo decorrentes, princi-palmente, da sua gradual compactação. O uso de máquinas agrícolas pesadas, principalmente em solos argilosos, tem acarretado a formação de uma camada adensada e impermeável no subsolo, dificultando a penetração da água, dos nutrientes minerais e das raízes das plantas.O subsolador, implemento agrícola recomendado pelos ténicos, tem por função romper a camada de impedimento que existe entre 40 e 50 cm de profundidade, formada durante anos de tra-balho no solo com equipamentos pesados tais como a grade aradora, a grade niveladora, as plantadeiras, os pulverizadores e os cultivadores. O subsolador não desloca horizontalmente porções solo; suas hastes cortantes, que pene-tram a uma profundidade de 40 a 60 cm, rompendo a camada compactada, provocam, todavia, deslocamentos verticais, misturando porções superiores e inferiores.
Considerando a sua utilidade para a agricultura, as suas principais vantagens são: otimizar a estrutura do solo arável, tornando-o mais poroso, facilitando a sua drenagem; facilitar a penetração das raízes, evitando que a planta sofra com deficiências hídricas (o solo armazenará mais umidade em seu perfil); evitar a ocorrência de erosão laminar; melhorar o aproveitamento dos nutrientes minerais pelas plantas ao permitir que o sistema radicular explore maiores trechos do subsolo; melhorar a aeração do solo, facilitando a ação de microorganismos na decomposição da matéria orgânica.
A recomendação do uso do subsolador será feita a partir de diagnóstico obtido com o uso do penetrômetro, equipamento que indica a profundidade
exata da camada de impedimento. Quando necessário, o uso do subsolador deverá ser feito no inverno, quando o nível de umidade do solo é baixo. A cada dois ou três anos o agricultor deverá repetir a operação, de acordo com as exigências de maior produtividade.
Há no mercado várias marcas e modelos de subsoladores, sendo as principais Maschietto, Kamaq, Baldan e Tatu. Os mais modernos são os de desarme automático, que permitem maior controle da haste, evitando danos ao trator quando o equipamento depara com grandes rochas ou raízes. O número de hastes dos subsoladores varia entre três e sete; o espaçamento poderá variar entre 500 e 600 mm. A profundidade média de alcance das hastes é de 550 mm. O peso do subsolador se situa entre 200 e 900 kg.
À vista dos esclarecimentos anteriores, quaisquer corpos existentes no subsolo serão danificados em maior ou menor grau pelo subsolador. No caso de materiais arqueológicos, as vasilhas inteiras serão fatalmente fragmentadas. Fragmentos maiores serão refragmentados. Dificilmente, porém, tais materiais serão deslocados horizontalmente, dadas as características da ação do subso-lador. Há de se considerar, certamente, deslocamentos verticais provocados pelas hastes curvas de alguns implementos.”
Isto posto, há de se notar que o registro arqueológico pouco será alterado no sentido horizontal. Núcleos de solo antropogênico, corres-pondentes aos fundos de habitações, poderão ser mapeados sem muito prejuízo. Em contrapartida, a estratificação das camadas arqueológicas ficará totalmente destruída, o mesmo podendo se afirmar com relação à integridade física das peças arqueológicas.
Conclusões.do.Capítulo
O prOjpar, procurando cumprir a sua missão institucional, vem centralizando esforços em algumas áreas, pautando-se pelo binônio “urgência / facilidades operacionais”. Tal atitude adequa-se à expectativa geral ditada pela falta de recursos acadêmicos destinados à pesquisa básica (nesse âmbito, todavia, a política de apoio ao desenvolvimento das pesquisas acadêmicas implementada pela fapesp — Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo — vem suprir muitas das ne-cessidades crônicas).
106
José Luiz de Morais
Se as “facilidades operacionais” ficam por conta do estabelecimento de algumas parcerias envolvendo níveis governamentais (prefeituras, por exemplo), a “urgência” decorre da necessidade empresarial (pública ou privada) em implantar empreendimentos potencialmente lesivos ao meio ambiente sujeitos, portanto, ao esquema de licenciamento ambiental. Neste caso, cumpre destacar a qualidade da parceria estabelecida entre a universidade e a empresa.
Assim, as pesquisas na área de Canoas se enquadraram na segunda condição, ou seja, a urgência. Geograficamente ela se insere entre duas áreas onde foram implementadas ações pautadas pelo caráter emergencial (resgate arqueológico da UHE Taquaruçu) e pelas facilidades operacionais (Piraju).
O resgate arqueológico realizado na área de influência da UHE Taquaruçu, situada mais a jusante, proporcionou o levantamento de um patrimônio arqueológico importante em termos regionais. Permitiu, de fato, a aquisição e a interpretação de dados relativos aos cenários das ocupações humanas de caçadores-coletores, de horticultores e de grupos guaranis sob influência da Companhia de Jesus, no século 17. Adicional-mente, a ação do prOjpar na área de Taquaruçu, além dos dados cientí-ficos obtidos, proporcionou a formação de uma equipe local, sediada na unesp, campus de Presidente Prudente. Professores e estagiários locais elaboraram e defenderam trabalhos acadêmicos conforme citado ante-riormente. Três projetos intra-sítio e um regional foram satisfatoriamente implementados. Dois foram temas inéditos: o primeiro referiu-se às ins-crições rupestres (piso basáltico) de Narandiba (desenho E-NRD1), fato bastante raro no Paranapanema (para maiores informações, consultar a tese de doutorado de Ruth Kunzli); o segundo tratou de um sítio da margem direita do Paranapanema, situado na influência geopolítica da Missão de Nossa Senhora de Loreto (ver a dissertação de mestrado de Rosângela C. Cortez Thomaz). O Sítio Alvim, uma magnífica seqüência de ocupações Umbu, Humaitá, Guarani e Guarani histórico foi estudado por Neide B. Faccio em sua dissertação de mestrado. O estudo regional ficou por conta da dissertação de Emilia M. Kashimoto, com uma análise geoarqueológico desta secção do Paranapanema.
Na região de Piraju, trecho médio-superior da bacia, as pesquisas vêm desde a época de Luciana Pallestrini. O apoio logístico e operacional proporcionado pelo Município de Piraju tem sido constante desde a cria-ção do Centro Regional de Pesquisas Arqueológicas Mário Neme, extensão do MAE-USP com sede naquela cidade. As facilidades locais, associadas ao ritmo acadêmico das pesquisas, têm proporcionado a aquisição de um conjunto expressivo de dados que balizam todas as demais ações do prOjpar. Disso tudo resultou o registro, pelo MAE, e o cadastro, pelo iphan, de mais de sessenta sítios arqueológicos apenas no Município de Piraju, entre aldeias de horticultores, acampamentos de caçadores-coletores pré-coloniais e conjuntos arquitetônicos históricos.
Assim, a pesquisa de Canoas veio funcionar como um elo de ligação entre dois trechos bem estudados. E a realização dos trabalhos, entre 1992 e 1998, confirmou o elevado potencial e a significância do patrimônio arqueológico in situ, apesar do péssimo estado de conservação do registro arqueológico.
Chymz, assim como Maranca, atuaram no trecho paulista da bacia apenas nos anos 60. Além disso, ambos têm em comum o fato de terem trabalhado sob os auspícios do prOnapa, programa de pesquisas arqueológicas inspirado nos ensinamentos do casal Evans, pesquisadores da Smithsonian Institution americana. Os objetivos do prOnapa, como ob-servado na literatura produzida, firmavam-se no levantamento do maior número possível de sítios arqueológicos, com pequenas intervenções nas estruturas descobertas (poços-teste ou cortes estratigráficos), especial-mente a partir do registro de informações orais. Com base em algumas características observáveis nos conjuntos de sítios (traços-diagnósticos), organizavam-se fases arqueológicas. Muitas vezes criticado pela super-ficialidade das ações — a consistência dos dados obtidos a partir das intervenções de campo seria frágil para o estabelecimento de fases — o prOnapa, todavia, teve algum mérito: alertar para o elevado potencial arqueológico do País.
As diretrizes metodológicas do Projeto Paranapanema sempre se diferenciaram daquelas do prOnapa. Assim, observa-se que a própria Luciana Pallestrini levantou e cartografou aldeias pré-históricas, onde cada núcleo de solo antropogênico correspondia a uma estrutura habitacional
107
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
SUBSISTEMA NARANDIBA
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanema
fontes: IBGE, IGC-SP, CESP e Prefeituras Municipais
responsável técnico-científico:
José Luiz de MoraisProf.Dr. / MAE-USP
PROGRAMA DE RESGATE ARQUEOLÓGICO DA
UHE TAQUARUÇUCONTRATO USP-CESP
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA
UHE TAQUARUÇU
SUBSISTEMANARANDIBA
desenho # E-NRD1
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
depósitos legais: IPHAN-CONDEPHAAT
São Paulo
Situação no Estado de São Paulo
Narandibagravuras rupestresem piso basáltico
(centro cerimonial)
Narandiba 3caçadores-coletoresda Tradição Humaitá
Narandiba 2horticultores da Tradição Guarani
313 m
286 m288 m
288 m
cotas do reservatório:mínima 282 mmáxima 284 mmáx. excep. 285,7 m
E=442.000mE=440.000mE=338.000m
0 m 1000
N=7.490.000m
Rio Paranapanema
N=7.492.000m
Reservatório de Taquaruçu
ESTADO DE SÃO PAULO
ESTADO DO PARANÁsítios parcialmente submersos pelo
enchimento do reservatório
108
José Luiz de Morais
componente de um conjunto pré-urbano. A linha prOnapa, ao contrá-rio, induzia a uma visão fragmentada de tais conjuntos, ao considerar cada núcleo de solo antropogênico um “sítio-habitação”.
Tal atitude tem reflexos até hoje: no caso de Canoas, por exemplo, houve a necessidade de se fazer uma releitura e um rearranjo dos sítios levantados por Chymz na margem paulista do Complexo Canoas. Assim, muitos sítios com a sigla SP-AS (1, 2, 3, etc.) foram reagrupados em uma única aldeia, como foi o caso do Sítio Peroba, localizado no canteiro de obras de Canoas I.
110
José Luiz de Morais
Em 1995, a museóloga Cristina Bruno (Bruno, 1995), elaborou sua tese de doutorado a respeito das potencialidades do prOjpar na inter-face Arqueologia / Patrimônio. Na tentativa de selecionar um projeto de pesquisa arqueológica a fim de analisar a sua realidade patrimonial, para apresentar propostas de modelos de musealização, Bruno comentou que “o Projeto Paranapanema apresentou-se como um adequado objeto de estudo para a aplicação destes modelos, pois o seu desenvolvimento já está alcançando trinta anos de esforços concentrados, no sentido de evidenciar e entender a ocupação pré-colonial e colonial da região, como também tem uma histórica cumplicidade com a instituição museu. Deve ser sublinhado que este projeto conta com uma organização científica e documental — rara entre os projetos brasileiros — que não só facilitou os estudos, mas que já evidenciou preocupações de ordem patrimonial.”
Patrimônio.e.Musealização:.as.bases.da.gestão
Traduzir o registro arqueológico como patrimônio e eleger o museu como sua principal mídia é reforçar as bases da sua gestão. De fato, o Subprograma prOjpar 32 — Patrimônio e Musealização disciplina esta matéria na estrutura organizacional do prOjpar. Vale a pena relembrar a sua linha de pesquisa, intitulada “Museus de Cidade” (desenho E-ORG).
Como objetivos desta linha de pesquisa prevalecem os seguintes:
Proporcionar educação objetiva e subjetiva nas áreas de patri-mônio cultural e meio ambiente, renunciando às implicações doutrinárias, propiciando faculdades específicas e situações que levem à reflexão e ao desenvolvimento do raciocínio e contribuindo para a educação libertadora.
Proporcionar informações científicas por meio de exposições, palestras e outros eventos que representem o desfecho de um trabalho iniciado com a coleta sistemática de materiais, sua posterior catalogação e análise.
Contribuir, na perspectiva dos museus de cidade, com as insti-tuições públicas e privadas já implantadas nos municípios da bacia do Paranapanema, coletando subsídios para a implantação de banco de dados no âmbito do subprograma prOjpar 32.
Assim, desde há alguns anos, o prOjpar está comprometido com as coisas patrimoniais, conforme definidas pelas normas acadêmicas e pela legislação. Encarar a Arqueologia como disciplina a serviço do patrimônio da comunidade dá-lhe uma conotação social ímpar.
Valorizando.a.comunidade.local
O fortalecimento das comunidades locais e regionais é estraté-gia planetária para o final de milênio. O prOjpar adere a esta atitude definindo, como um dos seus objetivos estratégicos a valorização e ins-trumentalização das comunidades. Pensar globalmente e agir localmente significa assumir a participação coletiva e, portanto, o exercício da cidadania. Antes de ser bem comum da nação, o bem patrimonial é, primordialmente, uma referência local. Portanto, a academia tem uma tarefa comunitária importante: apresentar sugestões de devolução social dos bens estudados, por meio da organização de lugares de memória.
Por outro lado, no sistema federativo brasileiro, de caráter coope-rativo, cabe à União editar normas (entenda-se legislação) gerais, aos Estados Federados, normas regionais e aos Municípios, normas locais. Compete às instituições acadêmicas supra-locais (no caso as universida-des públicas, geralmente sediadas nos grandes centros) investir na instru-mentalização técnico-jurídica das comunidades menores. Desta forma, a legislação se coloca como um dos intrumentos de gestão ambiental.
A.lei.como.instrumento.de.gestão
Entenda-se por gestão, o ato de gerir, administrar, dirigir, regular. É atribuição do Estado Brasileiro o poder regulatório sobre os bens de seu domínio patrimonial (Meirelles, 1992), mesmo quando localizados em
111
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
terrenos particulares, como é o caso do registro arqueológico. A Carta da República atribuiu a todas as entidades estatais o dever de preservá-los para estudos e uso social da comunidade (artigo 23, III). Prossegue a norma constitucional: A competência para legislar sobre a matéria é concorrente à União e aos Estados (art. 24, VII), cabendo aos municípios a legislação de caráter local e suplementar (art. 30, I e II).
O Subprograma prOjpar 31 — Patrimônio e Legislação tem por escopo instrumentalizar as municipalidades regionais na área legislativa, especialmente aquelas de médio e pequeno porte. A regulamentação edilícia é aquela que se refere ao Urbanismo e ao ambiente urbano e, neste caso, ficam abrangidas todas as questões de ordem patrimonial da cidade (seus monumentos arquitetônicos, seus sítios arqueológicos históricos, seus modos de vida, seus arranjos espaciais).
Em matéria de Urbanismo, cabe aos municípios editar normas de ação urbanística para o seu território, provendo assuntos que se relacio-nem com os seguintes tópicos: organização físico-territorial; zoneamento de uso e ocupa ção e parcelamento do solo urbano; desenvolvimento, renovação e estética da cidade; meio ambiente urbano; controle das edificações; sistema viário e equipamentos urbanos. A zona rural, mais afeita às normas gerais editadas pela União, sujeita-se, todavia, aos interesses locais das municipalidades, especialmente em termos de proteção ambiental, universo das competências comuns entre todos os entes federativos.
A “Regulamentação Edilícia e Ambiental” é a linha de pesquisa que direciona as ações no âmbito deste subprograma. Dentre seus objetivos específicos destaca-se aquele que visa suprir os municípios atendidos pelo prOjpar com estudos de anteprojetos de leis e regulamentos rela-tivos à área urbanística e de gestão ambiental e cultural, fomentando a participação da coletividade no processo de discussão e elaboração dos dispositivos legais. Como caso concreto, pode-se citar que está sendo encaminhado, desde 1994, um plano de ação junto ao Município de Piraju. Tais encaminhamentos resultaram na elaboração de um traba-lho relativo à Política Municipal de Urbanismo, aprovada pela Câmara Municipal e editada por meio da Lei Municipal 2.058, de 2 de dezembro de 1996. Esta lei encontra-se, atualmente, em fase de regulamentação,
tendo sido expedidos, dentre outros, decretos municipais reconhecendo o território do Município de Piraju como área de relevante interesse arque-ológico e reconhecendo o Centro Regional de Pesquisas Arqueológicas, extensão do MAE-USP, como instituição de utilidade pública municipal.
A legislação brasileira que normatiza as coisas do patrimônio cultural (Santos, 1996), inclusive o arqueológico, é relativamente an-tiga, datando da terceira década deste século (Silva, 1996). De fato, o Decreto-Lei no 25, de 30 de novembro de 1937, define o patrimônio histórico e artístico nacional:
Art. 1o. - Constitui patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação aos fatos memoráveis da História do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.
Um excepcional avanço foi a edição da Lei Federal no 3.924, de 26 de julho de 1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos, inspirada nas idéias preservacionistas de Paulo Duarte (Bruno, 1995). Este diploma, além de definir alguns conceitos básicos, delineia as competências institucionais relativas à pesquisa de sítios arqueológicos, sistematizando um esquema de autorizações e comunicações prévias ao órgão federal competente, hoje o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional — iphan. Todavia, as tentativas de regulamentação desta lei se resumiram na edição de uma norma infra-legal, a Portaria n. 07/87, da antiga SPHAN. Com algumas lacunas conceituais no nível da atuação institucional (talvez pelo fato de se preocupar demasiadamente com a então emergente Arqueologia “de contrato”) apresenta, contudo, este mérito imbatível: foi a primeira (e até agora única) norma a regula-mentar a lei federal, adequando-a a situações e terminologia mais atuais.
O.federalismo.cooperativo
A promulgação da Constituição de 1988 trouxe novidades com relação ao patrimônio arqueológico, provocando a necessidade de se repensar seu estatuto frente ao federalismo cooperativo instituído pela
112
José Luiz de Morais
Carta Magna (Custódio, 1996). Enumerados dentre os bens da União (art. 20, X, CF), os sítios arqueológicos e pré-históricos têm sua proteção definida no âmbito das competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e do Municípios (art. 23, III, CF).
Assim, apesar de a clara lição constitucional determinar que os sítios arqueológicos são bens da União, o diploma jurídico máximo tam-bém fixou uma gestão participativa entre os entes federados nos assuntos de sua proteção. Muitas vezes, porém, os limites entre as competências comuns da União, dos Estados e dos Municípios — isto é, onde termina uma e começa outra e, mesmo, a existência de uma faixa de superposição — é assunto que pode alçar níveis de controvérsia a serem resolvidos por instrumentos jurídicos menores. O fato é que a promulgação de uma constituição explicitamente “municipalista” e “ambientalista” deu nova ordem ao federalismo brasileiro. Pela primeira vez, as jurisdições locais — Municípios — são explicitados como entes federados (art. 1º, caput, CF).
O.patrimônio.arqueológico.na.legislação.ambiental
No caso da matéria ambiental, o cap. VI, com seu art. 225, concretiza, talvez, a mais completa menção à preservação ambiental dentre as constituições da comunidade planetária. Nesse contexto, o patrimônio arqueológico, enquanto evidência concreta do ambiente sócio-econômico, tem sido tratado no rol das preocupações ambientais pelos instrumentos legais menores. E não poderia deixar de ser, posto que a própria Carta da República o associa sempre à envergadura ampla das coisas ambientais e culturais vinculadas ao conceito de patrimônio. Senão observe-se:
Art. 20 - São bens da União:
.......................................................
X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos;
......................................................
Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: .......................................................III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor his-tórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;.....................................................Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memó-ria dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:.....................................................V - os conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.....................................................
A legislação ambiental brasileira que, dentre outros instrumentos, passou a contar com uma Política Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal 6.938/81), exige o licenciamento ambiental dos empreendimentos po-tencialmente lesivos ao meio ambiente incluindo, nesse caso, as usinas hidrelétricas com potência superior a 10 megawatts. O CONAMA — Conselho Nacional do Meio Ambiente — emitiu uma série de normas rela-tivas à elaboração e aprovação de estudos de impacto ambiental (EIAs) e relatórios de impacto ambiental (RIMAs), instrumentos necessários para o licenciamento de empreendimentos dessa natureza. No caso do Estado de São Paulo, o órgão licenciador ambiental é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, assessorada pelo CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente (o órgão federal competente, IBAMA, age em caráter supletivo; os órgãos municipais de meio ambiente, quando existem, assessoram o órgão estadual nos assuntos de natureza local).
Como frisado no capítulo anterior, são dignas de nota a Resolução 001, de 23 de janeiro de 1986, que “estabelece as definições, as responsa-bilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação
113
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
da avaliação de impacto ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente” e a Resolução 006, de 16 de setembro de 1987, que dispõe sobre o “licenciamento ambiental de obras de grande porte, especialmente do setor de operação de energia elétrica”, ambas do CONAMA.
O Art. 6º da primeira determina que o estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas intera-ções, tal como existem de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando o meio físico, o meio biótico e os ecossistemas naturais, além do meio sócio-econômico. À Arqueologia interessa o meio sócio-econômico, definido na resolução como“o uso e a ocupação do solo, os usos da água e a sócio-economia, destacando os sítios e os monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos”.
Finalmente, o empreendedor mandará elaborar, por suas próprias expensas, programas de mitigação e de monitoramento dos impactos ambientais negativos. Daí a obrigatoriedade da pesquisa de salvamento arqueológico para o licenciamento de uma usina hidrelétrica, consoli-dando os preceitos estabelecidos pela Lei Federal 3.924/61.
A.cartografia.digitalizada.como.instrumento.de.gestão
Hoje todos concordam que mapas são dados, não simples dese-nhos. Tratar mapas como dados significa dar forma numérica ao espaço ao associar, a cada localização, um valor que representa a grandeza em estudo. O “Gerenciamento de Banco de Dados” é outra linha de pesquisa do prOjpar que permeia pelas questões da gestão do patrimônio arqueo-lógico (Antenucci et al, 1991). Seus objetivos incluem o armazenamento do grande número de dados angariados pelo prOjpar com os possíveis graus de automação, utilizando editores de texto, planilhas eletrônicas, listagens e formulários on-line, além do tratamento e armazenamento das imagens produzidas em meio magnético e em unidades de disco óptico (CD-ROM).
Assim, todos os textos produzidos pela equipe, desde há dois anos, estão armazenados em meio magnético (a médio prazo, estarão disponí-veis na Internet). Do mesmo modo, foram organizados formulários ele-trônicos para o registro dos sítios arqueológicos e dos bens patrimoniais edificados, tomando por base cada município abrangido pelo prOjpar. Um pequeno lote de imagens fotográficas mais antigas, especialmente dos projetos relativos ao resgate arqueológico e inventário do patrimô-nio arquitetônico e urbanístico, foi transferido e processado em meio eletrônico, com o uso de softwares para o tratamento de imagens.
O mapeamento automatizado (Montufo, 1997), tem por propó-sito organizar e elaborar a produção cartográfica do prOjpar com a adoção plena dos recursos de computação gráfica disponíveis, usando dispositivos do sistema CAD/CAM (Computer Aided Design e Computer Aided Mapping) e softwares para o tratamento de imagens. Os mapas são importantes instrumentos de gestão na medida que podem ser considerados modelos icônicos (ou representativos) e conceituais, cons-tituindo tentativas estruturadas oriundas do ensejo do ser humano em comunicar aos seus semelhantes algo da natureza do mundo real (Board, 1975). A linha de pesquisa “Mapeamento Automatizado” está em fase de consolidação e a adoção plena da cartografia eletrônica está prevista para breve, a partir da aquisição de hardwares e sofwares adequados e do treinamento na área de recursos humanos. Um dos produtos disponíveis são os “mapas municipais de cadastro arqueológico”, alguns exemplos dos quais são mostrados neste capítulo.
Gestão.patrimonial:.a.parceria.USP/IPHAN
Não é propósito deste trabalho exaurir aspectos históricos do papel do iphan enquanto órgão técnico da União, na gestão do patrimônio ar-queológico. Mas, é importante frisar a carência de uma política nacional de patrimônio arqueológico, fato que tem provocado descompassos nas relações entre as superintendências regionais do órgão e as instituições acadêmicas que realizam pesquisas. Ingredientes para esta política pode-riam ser pinçados da própria legislação federal em vigor, especialmente aquela que estabelece as diretrizes nas coisas do meio ambiente (Lei
114
José Luiz de Morais
Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981). Neste caso, não poderiam faltar a definição de uma missão, princípios, objetivos e instrumentos, como na proposta que é apresentada em seguida.
Missão
A Política Nacional do Patrimônio Arqueológico — PNPA, tem a seguinte missão:
Criar condições favoráveis para a identificação, estudo, prote-ção e divulgação do patrimônio arqueológico enquanto bem da Nação e, portanto, de uso comum do povo brasileiro, colaboran-do para o desenvolvimento social das comunidades regionais, pelo incentivo à educação patrimonial e à participação coletiva.
Definição
Para os exclusivos efeitos da Política Nacional do Patrimônio Ar-queológico, entende-se por patrimônio arqueológico brasileiro “as ma-nifestações tangíveis, tomadas individualmente ou em conjunto, presentes no registro arqueológico, organizadas em coleções ou dispersas, portadoras de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”.
Princípios
Os princípios que regem a Política Nacional do Patrimônio Arque-ológico são os seguintes:
1. Os sítios arqueológicos e seus conteúdos de valor cultural são teste-munhos de processos sociais envolvendo comunidades do passado formadoras da identidade nacional brasileira.
2. O interesse nacional justifica plenamente sua inserção como bem da nação, neste caso representada pela União, com características de uso comum do povo brasileiro.
3. No sistema federativo cooperativo cabe à União, aos Estados Fede-rados, ao Distrito Federal e aos Municípios, por meio de seus órgãos, a proteção dos bens arqueológicos nas suas respectivas jurisdições.
4. Gestão participativa e co-responsável dos bens arqueológicos, com o estabelecimento de sistemas efetivos de parceria entre os entes federativos que compõem o Estado brasileiro.
5. Incentivo à iniciativa privada como parceira nas ações institucionais ligadas à identificação, estudo, proteção e divulgação do patrimônio arqueológico, na forma da lei.
6. Consolidação, ampliação e regulamentação da legislação de proteção dos bens arqueológicos, de modo a compor um compêndio adequa-do às realidades sócio-econômicas do país; incentivos aos Estados, Municípios e Distrito Federal no que concerne à edição de legislação supletiva, no âmbito de suas respectivas jurisdições.
Objetivos
São objetivos da Política Nacional do Patrimônio Arqueológico:
1. Compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preser-vação da integridade do patrimônio arqueológico.
2. A definição de ações estratégicas que promovam a identificação, estudo, proteção e divulgação do patrimônio arqueológico.
3. O estabelecimento de padrões de qualidade inerentes à identificação, estudo, proteção e divulgação do patrimônio arqueológico.
4. O desenvolvimento de pesquisas e tecnologias orientadas para o uso racional do patrimônio arqueológico, considerados recursos finitos presentes no registro ambiental.
5. A formação de uma consciência pública sobre a necessidade de proteção do patrimônio arqueológico.
6. A restauração dos recursos patrimoniais de natureza arqueológica, com vistas a sua utilização racional e disponibilidade permanente para pesquisa, docência e extensão de serviços à comunidade.
115
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
7. A imposição das penalidades ao predador do patrimônio arqueoló-gico, com a obrigação da recuperação ou da indenização dos danos causados, na forma da lei.
Instrumentos
São instrumentos da Política Nacional do Patrimônio Arqueológico:
1. A mobilização da sociedade em torno das políticas públicas relativas ao patrimônio arqueológico.
2. O estímulo ao cumprimento da função social nos assuntos relativos ao patrimônio arqueológico, à distribuição justa dos benefícios e encargos decorrentes da sua proteção, à participação comunitária e à prevalência dos interesses coletivos sobre os individuais.
3. A valorização científica, funcional e estética do patrimônio arque-ológico.
4. A produção e a divulgação de conhecimentos e informações relativas ao patrimônio arqueológico.
5. A elaboração e implementação de iniciativas que contemplem a identificação, o estudo, a proteção e a divulgação do patrimônio arqueológico.
A regulamentação desta política, de conteúdo bastante genérico, seria regulamentada com a participação das bases, por meio da Sociedade de Arqueologia Brasileira, o órgão de categoria. Tal atitude fomentaria, de modo eficente, relações entre parceiros naturais.
Também não é propósito historiar as relações iphan/USP no que se refere ao patrimônio arqueológico. O fato é que, nos dias de hoje, na esteira do preceito constitucional em vigor, há de se fomentar e valorizar quaisquer ações que resultem de parcerias institucionais.
A realidade marca que, nos últimos anos, as relações caminham por trilhas tortuosas, mormente ásperas, o que é de todo nocivo para o patrimônio arqueológico. Na maior parte das vezes, as atitudes do órgão federal se restringem à concessão de autorizações e ao exercício
de atividades fiscalizatórias, no âmbito da sua prerrogativa de polícia administrativa. Isso tem fragilizado a instituição pois, na carência de uma política patrimonial para a arqueologia, proliferam atitudes casuísticas, muitas vezes revestidas de características de ordem competitiva entre a universidade e o órgão técnico.
Como frisado anteriormente, o patrimônio arqueológico (o que inclui sítios e acervo) é um bem da União (art. 20, X). Assim, cabe à União, por meio de seus órgãos (neste caso, o Iphan), gerir o que é seu. In limine, são inqüestionáveis as prerrogativas deste órgão quanto ao gerenciamento e o poder de polícia administrativa por ele exercido. Entretanto, a União, são todos os que formam a nação brasileira. Como “todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido” (também um princípio constitucional), caberá ao povo brasileiro estabelecer as regras para a gestão daquilo que é do país, iclusive o patrimônio arqueológico. Daí o preceito constitucional firmar as bases da parceria entre os entes federativos, quais sejam a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Assim, é competência comum deles proteger o patrimônio arqueológico (art. 23, III).
Ao Estado de São Paulo, juntamente com a União, compete proteger o patrimônio arqueológico existente no seu território. E isto será feito por meio de seus órgãos especializados. O cOndephaat, por exemplo, teria atribuições semelhantes às do iphan na circunscrição do estadual. A USP, autarquia estadual, é especializada na pesquisa arqueológica. Portanto, as ações da universidade far-se-ão em nome da competência que é do Estado de São Paulo: o exercício da investigação científica serve à proteção do patrimônio arqueológico nacional situado em território paulista. Certamente, tal prerrogativa não anula a ação permissionária e fiscalizatória do iphan, em relação à investigação científica. Porém, em situações de iminente risco ao patrimônio arqueológico localizado em território paulista, a USP, enquanto instituição pública especializa-da, avocará, sob pena de omissão, as competências constitucionais do Estado de São Paulo, encaminhando ações emergenciais, no sentido de preservar o patrimônio em risco. E isto independerá de autorização do IPHAN. Será seu dever, contudo, comunicar o fato à Superintendência do órgão federal em São Paulo. Se for o caso, a pesquisa subseqüente pleiteará a autorização do IPHAN.
116
José Luiz de Morais
A partir de tais premissas, ambas as instituições se articularão no sentido de somar esforços no propósito de melhor proteger o patrimônio arqueológico enquanto bem de uso comum do povo brasileiro. E o iphan será estimulado ao exercício de efetiva participação (e não apenas fisca-lização) na proteção do patrimônio arqueológico situado no território do Estado. O desenho E-CPN1, mostrado na página seguinte, resulta de um esquema informal de cooperação entre o MAE-USP e o iphan, 9ª Supe-rintedência de São Paulo. Quando da implantação de um loteamento na cidade de Campina do Monte Alegre, área do ProjPar, foi casualmente encontrada uma urna funerária da Tradição Guarani pelos operários. A Delegacia de Polícia local lavrou boletim de ocorrência, cuja cópia foi encaminhada ao MAE. De pronto, a superintendência local do iphan foi comunicada e para lá se dirigiu a Arq. Maria Lúcia Pardi que, usando das prerrogativas de polícia administrativa, embargou a obra. Por solicitação do iphan, a equipe do MAE-USP para lá se dirigiu, promovendo o resgate do material arqueológico. Assim, o órgão federal suspendeu o embargo e as obras puderam continuar satisfatoriamente. Na oportunidade, além do trabalho específico no Sítio Arqueológico Campina, foi possível iniciar a elaboração do Mapa Municipal de Cadastro Arqueológico do Município de Campina do Monte Alegre (desenho E-CMA1, adiante).
Após o desenho E-CPN1, mostrado na página seguinte, serão mos-trados desenhos correspondentes aos Mapas Municipais de Cadastro do Patrimônio Arqueológico de vários municípios atendidos pelo prOjpar.
Gestão.de.monumento.arqueológico:.um.caso.externo
Interrompendo momentaneamente o universo territorial deste trabalho, seria apropriado colocar, como estudo de caso, proposta ins-pirada nos preceitos do ProjPar, colocada para uma situação externa ao seu espaço geográfico. Trata-se da problemática arqueológica do Engenho São Jorge dos Erasmos, de propriedade da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, situado no Município de Santos. O caso se enquadra plenamente na esfera temática da tese ora apresentada. Aí está:
“Engenho São Jorge dos Erasmos: um Estudo de Arqueologia da Pai-sagem” é o título de uma proposta conceitual e metodológica em estudo na Comissão de Patrimônio Cultural da USP. A abordagem do engenho sob as diretrizes da arqueologia da paisagem justifica-se, pois, à vista da conjuntura (inclusive administrativa) na qual se encontra inserido este patrimônio histórico-arquitetônico, abordá-lo sob esta ótica é mais que oportuno, em face das características operacionais desta linha de pes-quisa que, antes de tudo, preconiza níveis de preservação in situ, com o mínimo de intervenções (Fowler, 1982).
Por outro lado, não há porque tratar a problemática arqueológica dos Erasmos de forma isolada. Ideal seria definir uma estrutura orgâni-ca que, a partir de um “carro-chefe”, aglutinasse módulos de pesquisa interligados por dupla mão-de-direção, compondo um sistema de proje-tos. Apesar do fluxo recíproco, os projetos manteriam suas identidades próprias.
Ao que parece, a Prefeitura de Santos estaria propensa a planejar um “parque municipal” que conteria os Erasmos, o principal recurso cultu-ral a ser preservado. Seria de melhor alvitre, talvez, a adoção de um tipo de unidade de conservação que possibilitasse maior cobertura de área e com disciplina flexível o suficiente para abranger trechos urbanizados. À luz da legislação ambiental brasileira, o planejamento e a implemen-tação de uma unidade de conservação do tipo APA — Área de Proteção Ambiental, mais precisamente uma APA urbana, é viável em situações dessa natureza. De fato, além de preconizar uma melhor qualidade de vida para as comunidades locais, uma área de proteção ambiental dis-ciplina o uso e a ocupação do solo de forma inteligente, de acordo com os graus de significância das parcelas territoriais componentes.
Por outro lado, juridicamente, a APA poderá abranger espaços públicos e privados. O zoneamento previsto para esse tipo de unidade de conservação poderá prever a criação de “parques” nas áreas de do-mínio público. Os parques seriam o ambiente adequado para conter as diversas ações de integração das referências patrimoniais da comunida-de. A parcela de solo onde se implanta o Engenho poderia ser um dos segmentos do parque. A APA, como um todo, funcionaria como um cinturão envoltório, com uso e ocupação disciplinados.
117
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
desenho # E-CPN11999
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
SÍTIO ARQUEOLÓGICO CAMPINACMA-CPN575890-1.15.115-115.1
E = 0.757.519 m; N = 7.389.016 m
CLASSIFICAÇÃO GENÉRICA
sítio de horticultores indígenas anteriores a 1500 dC, produtores de cerâmica.
FILIAÇÃO ARQUEO-ETNOLÓGICA
Tradição Guarani
PARÂMETROS LOCACIONAIS ASSOCIADOS
terraço, vertente, barreiro
CLASSE DE TIPOLOGIA TOPOMORFOLÓGICA
sítio em colina
CLASSE DE CONSERVAÇÃO
2EAdmissível após as intervervenções (classe 2), quando as
estruturas foram parcialmente resgatadas (recomponíveis por meio dos registros documentais) e mantidos testemunhos
classificáveis na categoria E (sítio destruído).
INSERÇÃO REGIONAL NO PROJPAR
Região 1 Bacia SuperiorMesorregião 11 Jurumirim
Microrregião 115 Santa HelenaMicrobacia 115.1 Jurumirim Superior
INTERVENÇÕES
vistoria e avaliação em 1999, M.L.F. Pardi levantamento e reavaliação em 1999, J.L.Morais
escala numérica 1:1.000 (na digitalização original, formato A2)
metros
0 10 20 30 40 50
São Paulo
SITUAÇÃO DO SÍTIO NO ESTADO
ARQUEOLOGIA DA PAISAGEMCENAS DO PARANAPANEMA PAULISTA
(DA PRÉ-HISTÓRIA AO CICLO DO CAFÉ)APOIO : FAPESP
Base Cartográfica: IGC-SP,fotointerpretação e levantamentos de campo
Sigla da Coleção: CPN
alevantamento inicial: IPHAN, 9 SRdigitalização original, 1999
E = 757.700 mE = 757.650 mE = 757.600 mE = 757.550 mE = 757.500 mE = 757.450 mE = 757.400 m
N = 7. 389.250 m
N = 7. 389.200 m
N = 7. 389.150 m
N = 7. 389.100 m
N = 7. 389.050 m
N = 7. 389.000 murna 1
SEPULTAMENTO GUARANI
S 05
S 04
S 08S 03
S 02
S 01
S 09S 06
S 07
S 10
sondagens S11 / S20no interior do Ginásio de Esportes
Córrego da Cruza aproximadamente 500 m
+ várzea(barro bom para cerâmica)
N = 7.389.000 m
N = 7.388.000 m
N = 7.387.000 m
E = 757.000 m E = 758.000 mE = 756.000 m
Córrego da Cruz
600
Sítio Arqueológico
600602
604605
RioParanap amena
Rio Itapetininga
CAMPINA DOMONTE ALEGRE
0 500m
loteamentoem implantação
(CDHU)
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DOMUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE - SP
SÍTIO ARQUEOLÓGICOCPN575890
CAMPINA
SÍTIO ARQUEOLÓGICO CMA-CPN575890 CAMPINA
118
José Luiz de Morais
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
MUNICÍPIO DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
CAMPINA DOMONTE ALEGRE
ESTADO DE SÃO PAULO
MAPA MUNICIPAL DE CADASTRO
ARQUEOLÓGICOdesenho # E-CMA1
1999
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
INSERÇÃO REGIONAL NO PROJPARRegião 1 BACIA SUPERIORMesorregião 11 JurumirimMicrorregião 115 Santa Helena Microbacia:115.1 Bacia de Jurumirim SuperiorMesorregião 12 ItapetiningaMicrorregião 123 Baixo ItapetiningaMicrobacia:123.1 Itapetininga InferiorMesorregião 13 Alto ParanapanemaMicrorregião 134 Alto ParanapanemaInferiorMicrobacia:134.1 Paranapanema Superior, trecho C
divisas distritaisdivisas municipaisdivisas estaduaislimite regionallimite mesorregionallimite microrregionalmicrobacias hidrográficasrodovias estaduaisrodovias municipais
ARQUEOLOGIA DA PAISAGEMCENAS DO PARANAPANEMA PAULISTA
(DA PRÉ-HISTÓRIA AO CICLO DO CAFÉ)APOIO : FAPESP
Base Cartográfica: IBGE, Carta do BrasilFolha de Itapetininga, esc. 1:250.000
Referências Bibliográficas:PALLESTRINI, L. Interpretação de Estruturas
Arqueológicas em Sítios do Estado de São Paulo. Tese de Livre-Docência, 1975.
MORAIS, J.L. Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista.
Tese de Livre-Docência, 1999.
São Paulo
SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO
2área: 184,6 kmpopulação: 4.906 habitantes
km
escala numérica 1:75.000 (na digitalização original, formato A2)
0 1,5 3,0 4,5
Eng. Hermilo
Capão da Onça
Ligiana
Laranjal
FazendaMunicipal
Aleixos
Salto
o23 35’
o23 40’
o48 25’
o48 30’
o23 38’
CAMPINA DOMONTE ALEGRE
Município de Angatuba
Município de Itapetininga
Município de Buri
Município de Angatuba
115.1
123.1
134.1
Salto do Paranapanema
Jango Luís
Sant’Ana
Campina
Estação Eng.HermiloGalpões da Fepasa
Monte Alegre
Fepa
sa
AracaçuBuri
Itapetininga
Itapetininga
Itapetininga
Itapetininga
Itapetininga
Itapetininga
Estação AngatubaItapetininga
AngatubaItapetininga
AngatubaItapetininga
PirajuOurinhos
AssisPres.Prudente
Paranapanema
BuriItapevaItararéO Morro da Fazenda Mandaçaia,
historicamente conhecido como“Monte Alegre”, apesar de situar-se
no Distrito de Aracaçu, Municípiode Buri, é de interesse histórico-cultural para a comunidade de
Campina do Monte Alegre,em função de alguns episódios
ligados à RevoluçãoConstitucionalista de 1932.
Rio Paranapanem
aRio Paranapanema
agninitepatIoiR
odraP-odaeVod.biR
ovruT-odaeVod.biR
nda Daise yzaFad.róC
Cór. d ao riereP
anaigiL.róC
açnOadoãpaCod.biR
Arrozais
Cór. da Fo ar hq liu
Água da Fazenda Leda
ohnil oj noM
od. bi R
ocnarB-ovroCod.róC
Cór. Santana
lajnaraLod.róC
iroerraBod.ibR
aip aT ad.r óC
Água da OlariaLagoa do Papagaio
Campina
amarGad.róC
Santana
Barreiro
arreSd abe utagA n
Corvo-Branco
Perdizes
Retiro do Pereira
SP
270
SP
189
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
sítios de caçadores-coletores indígenasanteriores a 1000 dC, produtores de pedralascada;
sítios de horticultores indígenas anterioresa 1500 dC, produtores de cerâmica;
sítios indígenas integrados ao sistemacolonial ou controlados pelas frentespioneiras da sociedade nacional;
sítios históricos (estruturas representati-vas da sociedade nacional, de significâncialocal);
sítios multicomponenciais
sítios multiusuários
outros locais de interesse arqueológico
119
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
Reservatório de Canoas I
UHE Valedo Paranapanema
Rio Paranapanema
iraPodoiR
iraPodoiR
asnaM
arraB.róC
Cór. do Cateto
Cór. do Jacu
Rib. Pirapitinga
Ág. da
Mutuca
Cór. do Pavão
Ág. daFaxina
Ág. do Pica-Pau
Cór. da Laje
Ág. daJacutinga
ocucaMod.biR
sardePs ad.gÁ
Cór. Porto Seguro
iãocaBoÁ dg.
ari eugnatiPad.gÁ
aogaLad.gÁ
Ág. da P drae
osíaraPod.gÁ
Agüinha
Rib. doM
acuco
ohlemreVocnarraB
od.biRÁg. do Arenga
Ág. do Barranqui nho
oi al aBo d.róC
adaxieuQad.biR
ogoFod.gÁ
Ág. do Frutal
oçomlAod.gÁ
Cór. do Sapo
a G. dÁg uarita
avoN.gÁ
Ág. doVeado
Ág. Sumida
Cór.daPinguela
adaxieuQad.biR
uçur auq aT.róC
ohnizu çurauqaT.róC
ohnirierraB.róC
o22 40'
o22 45'
o22 50'
o22 55'
o50 15'
o50 20'o50 25'o50 30'
o50 35'
FRUTAL DO CAMPO
S.Benedito
Veado Macuco
Barranquinho Macuco de Baixo
Bacião
Porto Galvão
Porto Almeida
Pica-Pau
Laje
Paraíso
Pavão
Pinguela
Fepasa
PalmitalIbiraremaSalto GrandeOurinhosPirajuSorocabaS.Paulo
AssisParaguaçu Pta.Pres. PrudentePres. Epitácio
Assis
Assis
Palmital
Palmital
Palmital
Porto Marinho
Florínia
Tarumã
Mesorregião 24Capivara Leste
Mesorregião 23Canoas
Município de Platina
Município de Florínia
Município de Santa Mariana
Município de Itambaracá
393-MDC
CDM-030
CDM-020
072/924-PS
271-MDC
CDM-252
04-0MDC
461-
M DC
563-
MDC
Curupiá
Embaúba
Cajarana
Brejaúva
Araruva GuatambuBarbatimão
Ang.VermelhoAng.BrancoAngico
Mata da Figueira
Copaíba
Araticum
CedroCaraguatá
Pajeú
Guadacaio
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
PROGRAMA DE RESGATE ARQUEOLÓGICO DO
COMPLEXO CANOASCONTRATO USP-CESP
CÂNDIDO MOTAESTADO DE SÃO PAULO
MAPA MUNICIPAL DE CADASTRO
ARQUEOLÓGICO
desenho # E-CMT11999
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
Município de Tarumã
Município de Assis
Município de Palmital
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
INSERÇÃO REGIONAL NO PROJPARIRegião 2 BACIA MÉDIAMesorregião 23 CanoasMicrorregião 231 Canoas NorteMicrobacias:231.2 Pari Médio231.3 PirapitingaMicrorregião 232 Canoas SulMicrobacias:232.3 Pari Inferior232.4 Macuco232.5 QueixadaMesorregião 24 Capivara Leste242 Microrregião Alto Capivara de ParaguaçuMicrobacia:242.2 Capivara Médio-Superior243 Microrregião Capivara SulMicrobacia:243.2 Dourado
escala numérica 1:125.000 (na digitalização original, formato A2)
km
0 2,5 5,0 7,5
SP270
SP266
UHE CANOAS IConcessionária: Companhia Energética de São PauloInício da Operação: 1998Barragem = comprimento: 678 m; cota coroam.: 353,5m; cota jusante: 334,2 m
2Reservatório = área 30,8 km (17,2/SP e 13,6/PR); nívelmín.: 351 m; nível máx.: 351 m; nível máx. excep.: 351 mLocalização: Cândido Mota, SP / Itambaracá, PR
UHE CAPIVARAConcessionária: Companhia Energética de São PauloInício da Operação: 1977Barragem = comprimento: 1.500,1 m; cota coroam.:339 m; cota jusante: 283,9 m
2Reservatório = área: 645 km (270/SP e 375/PR); nívelmín.: 321 m; nível máx.: 331 m; nível máx excep.: 336 mLocalização: Taciba, SP / Porecatu, PR
STO. ANTÓNIO DO PARANAPANEMA
Almoço
CÂNDIDO MOTA
232.3232.4
232.5243.2
242.2
231.2231.3
Pari-Veado
NOVA ALEXANDRIA
UHE Canoas I
Foz do Rio das Cinzas
Reservatório da Capivara
Figueira
Peroba
Marolo
Trecho levantado porChmyz, nos anos 60.
Base Cartográfica: IBGE, Carta do BrasilFolha de Marília, esc. 1:250.000
Referências Bibliográficas:CHMYZ, I. Pesquisas Paleetnográficas Efetuadas no
Vale do Rio Paranapanema, Paraná/São Paulo.Tese de Doutorado, 1972.
MORAIS, J.L. Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista.
Tese de Livre-Docência, 1999.
divisas distritaisdivisas municipaisdivisas estaduaislimite regionallimite mesorregionallimite microrregionalmicrobacias hidrográficasrodovias estaduaisrodovias municipais
SÃO PAULO
PARANÁ
São Paulo
SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO
2área: 597,5 kmpopulação: 30.056 habitantes
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
sítios de caçadores-coletores indígenasanteriores a 1000 dC, produtores de pedralascada;
sítios de horticultores indígenas anterioresa 1500 dC, produtores de cerâmica;
sítios indígenas integrados ao sistemacolonial ou controlados pelas frentespioneiras da sociedade nacional;
sítios históricos (estruturas representati-vas da sociedade nacional, de significâncialocal);
sítios multicomponenciais
sítios multiusuários
outros locais de interesse arqueológico
120
José Luiz de Morais
Reservatório de Canoas II
amenaR pio anPa ar
o22 45'
o22 50'
o22 55'
o22 40'
o50 00'o50 05'o50 10'
Mesorregião 23Canoas
Mesorregião 22Médio Paranap. de Ourinhos
Indaiá
Ilha Grande
Município de Platina
Município de Ribeirão do Sul
asapeF
Água do Cedro
Água da Barra
Pau d'Alho
Gabiroba
Rib.Vermelho
açnOad.róC
osíaraP.róC
asnaMarraB.róCotetaCod.róC
Rib. SantaRosa
ovoNoiR
Cór. F oo sr om
Rib. Azul
Rib. Vermelho
Cór. daG
abirobaCór. da Barra
olhemreV.biRCór. Jaborandi
ordeCod.róC
ohlA'd
uaPod.biR
açiügniLad.róC
Caad s. cg aÁ vel
rasdÁ eg P. d sa
atinoBarraBad.róC
ojerBod.gÁ
ohlA' d
uaPod.biR
Campos NovosPta.
Palmital
PalmitalCândido Mota
AssisPres. PrudentePres. Epitácio
Palmital
Palmital
Palmital
Palmital
Porto do Cedro
Salto Grande
C.Novos Pta.
C.Novos Pta.
Rib.do Sul
Salto GrandeOurinhosPirajuSorocabaS.Paulo
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
MUNICÍPIO DE IBIRAREMA
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
PROGRAMA DE RESGATE ARQUEOLÓGICO DO
COMPLEXO CANOASCONTRATO USP-CESP
IBIRAREMAESTADO DE SÃO PAULO
MAPA MUNICIPAL DE CADASTRO
ARQUEOLÓGICO
desenho # E-IBR11999
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
Município de Cambará
Município de Palmital
Município de Campos Novos Paulista
Município de Salto Grande
INSERÇÃO REGIONAL NO PROJPARRegião 2 BACIA MÉDIAMesorregião 22 MÉDIO PARANAPANEMADE OURINHOSMicrorregião 223 Salto GrandeMicrobacias:223.1 Bacia de Salto Grande223.5 Novo Médio InferiorMesorregião 23 CANOASMicrorregião 232 Canoas SulMicrobacia:232.1 Pau d’Alho
UHE CANOAS IIConcessionária: Companhia Energética de São PauloInício da Operação: 1998Barragem = comprimento: 623 m; cota coroam.: 368,5m; cota jusante: 351,3 m
2Reservatório = área: 22,5 km (10,2/SP e 12,3/PR); nívelmín.: 365 m; nível máx.: 365 m; nível máx excep.: 365 mLocalização: Palmital, SP / Andirá, PR
Base Cartográfica: IBGE, Carta do BrasilFolha de Marília, esc. 1:250.000
Referências Bibliográficas:CHMYZ, I. Pesquisas Paleetnográficas Efetuadas no
Vale do Rio Paranapanema, Paraná/São Paulo.Tese de Doutorado, 1972.
MORAIS, J.L. Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista.
Tese de Livre-Docência, 1999.
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
Caroba
IBIRAREMA
232.1
223.5
223.1
JapecangaCedro-Vermelho
Chimbuva
ahnirieugiFad.r ó C
Trecho levantado porChmyz, nos anos 60.
SP270
escala numérica 1:125.000 (na digitalização original, formato A2)
km
0 2,5 5,0 7,5
divisas distritaisdivisas municipaisdivisas estaduaislimite regionallimite mesorregionallimite microrregionalmicrobacias hidrográficasrodovias estaduaisrodovias municipais
SÃO PAULO
PARANÁSão Paulo
SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO
2área: 229,1 kmpopulação: 5.810 habitantes
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
sítios de caçadores-coletores indígenasanteriores a 1000 dC, produtores de pedralascada;
sítios de horticultores indígenas anterioresa 1500 dC, produtores de cerâmica;
sítios indígenas integrados ao sistemacolonial ou controlados pelas frentespioneiras da sociedade nacional;
sítios históricos (estruturas representati-vas da sociedade nacional, de significâncialocal);
sítios multicomponenciais
sítios multiusuários
outros locais de interesse arqueológico
121
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
Reservatório de Canoas I
UHE Vale do Paranapanema
UHE Canoas II
Mesorregião 23Canoas
Mesorregião 22Médio Paranapanema de Ourinhos
Município de Itambaracá
Município de Cambará
Taiúva
Pau d’Alho
Sarã
Guarantã
Cambuí
IpêImbuia
CanafístulaCabreúva-Parda
Reservatório de Canoas I I
Município de Andirá
Rio Paranapanema
Ilha das AntasArq. das Três Ilhas
Ilha Barra do Palmital
Ilha Barra do Pari
Cândido MotaAssis
Paraguaçu Pta.Pres. PrudentePres. Epitácio
IbiraremaSalto GrandeOurinhosPirajuSorocabaS.Paulo
i raPodoiR
seraCór o. do S
oinótnA.otS.róC
reiro asMsod.róC
Cór. od Pito Aceso
samuhnAsad.róC
naturoFad.gÁ
Cór. da Laje
Ág. Boa atisV
iraPod
oiR
a Ad ra. nhr aóC
Ág. da Tiriva
Ág. gd e aNa
da Fig. ueig raÁ
Ág. doM
atão
l.b d ai o tP iR alm
Ág. do Pavão
Ág. dosEspanhóis
aci rixea Md.gÁ
aiedlA
a d.róC
Ág. doP
inico
sedradnAsod.gÁ
Ág. do Tronco
osuoPod.gÁ
séomTsodÁg.
Ág. daCanela
Ág. do Fa iocríb
ociréo Amd.gÁ
éfaCÁ og. d
sorietnoM
sod.gÁ
Ág. doElias
l atiml aP
od.bi R
oãrierraBo d.gÁ
sahlIsêrT
sad.biR
Ág.daCorredeira
Ág. M
aria Venância
Ág. do Meio
ohlA'duaP
od.biR
Ág. Bonita
Ág. Sum ida
Água
Nova
odaejaLod. g Á
Água Parada
Cór. Capixingüi
avoNaug
Á
odahl aM. r óC
ohl A' duaPod.biR
Figueira-Branca
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
MUNICÍPIO DE PALMITAL
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
PROGRAMA DE RESGATE ARQUEOLÓGICO DO
COMPLEXO CANOASCONTRATO USP-CESP
PALMITALESTADO DE SÃO PAULO
MAPA MUNICIPAL DE CADASTRO
ARQUEOLÓGICO
desenho # E-PMT11999
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
Município de Ibirarema
Município de Platina
Município de Cândido Mota
SP270
SP
375
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
INSERÇÃO REGIONAL NO PROJPARRegião 2 BACIA MÉDIAMesorregião 22 MÉDIO PARANAPANEMADE OURINHOSMicrorregião 223 Salto GrandeMicrobacia:223.5 Novo Médio InferiorMesorregião 23 CANOASMicrorregião 231 Canoas NorteMicrobacias:231.2 Pari Médio231.3 PirapitingaMicrorregião 232 Canoas SulMicrobacia:232.1 Pau d’Alho232.2 Palmital232.3 Pari Inferior
UHE CANOAS IConcessionária: Companhia Energética de São PauloInício da Operação: 1998Barragem = comprimento: 678 m; cota coroam.: 353,5m; cota jusante: 334,2 m
2Reservatório = área 30,8 km (17,2/SP e 13,6/PR); nívelmín.: 351 m; nível máx.: 351 m; nível máx. excep.: 351 mLocalização: Cândido Mota, SP / Itambaracá, PRUHE CANOAS IIConcessionária: Companhia Energética de São PauloInício da Operação: 1998Barragem = comprimento: 623 m; cota coroam.: 368,5m; cota jusante: 351,3 m
2Reservatório = área: 22,5 km (10,2/SP e 12,3/PR); nívelmín.: 365 m; nível máx.: 365 m; nível máx excep.: 365 mLocalização: Palmital, SP / Andirá, PR
Base Cartográfica: IBGE, Carta do BrasilFolha de Marília, esc. 1:250.000
Referência Bibliográfica:
MORAIS, J.L. Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista.
Tese de Livre-Docência, 1999.
PALMITAL
223.5231.2
231.3
232.3
232.2232.1
km
escala numérica 1:125.000 (na digitalização original, formato A2)
0 2,5 5,0 7,5
divisas distritaisdivisas municipaisdivisas estaduaislimite regionallimite mesorregionallimite microrregionalmicrobacias hidrográficasrodovias estaduaisrodovias municipais
Ilha Barra do Cascalho
Porto Barbosa
São Paulo
SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO
2área: 550,3 kmpopulação: 20.404 habitantes
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
sítios de caçadores-coletores indígenasanteriores a 1000 dC, produtores de pedralascada;
sítios de horticultores indígenas anterioresa 1500 dC, produtores de cerâmica;
sítios indígenas integrados ao sistemacolonial ou controlados pelas frentespioneiras da sociedade nacional;
sítios históricos (estruturas representati-vas da sociedade nacional, de significâncialocal);
sítios multicomponenciais
sítios multiusuários
outros locais de interesse arqueológico
122
José Luiz de Morais
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
ARQUEOLOGIA DOS CENÁRIOS DAS OCUPAÇÕES INDÍGENAS DA
CAPIVARACONVÊNIO USP-UNESP
PARAGUAÇU PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULOa
MAPA MUNICIPAL DE CADASTRO
ARQUEOLÓGICO
desenho # E-PPT11999
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
050 40´
050 45´
050 50´
050 35´ 050 30´ 050 25´
022 30´
022 35´
022 40´
022 25´
022 20´
SAPEZAL
CONCEIÇÃO DO MONTE ALEGRE
PareciÁgua
do Sapé
Campinho
Mumbuca
Cardoso de Almeida
Roseta
CaviúnaSaltinho
São Mateus
Matusalém
TaquaralSão Mateus
de Cima
SP421
SP421
SP270
suetaM.SoiR
ãoatMdoaugÁ
Cór. do Barreirinho
ahniügA
mfinoBdouaÁg
laraCór qu. do Ta
Água Grande
Água do Cágado
Água
do
Matusalém
pi aa v rC aadoiR
Reservatórioda Capivara
Cór. do Cancã
ohnitlaSod.róC Cór. do Barreiro
Águada
Lagoa
Água
do Limoeir o
Cór. da Roseta
Rio da aC ra ivap
ovreCod.ibR
Cór. do PousoAlegre
Rib. dasAnt as
ua do RetirogÁ
Ág. daM
umbuca
e dnarG.biR
ergelA
od. bi R
Cór. doM
eio
ahnitnoPad.róC
Riod o Sapé
oçoPod.róC
Fepasa
Fepasa
Pres.PrudentePres.Epitácio
QuatáRancharia
MartinópolisPres.PrudentePres. Epitácio
BoráHerculândiaTupãPompéia
LutéciaOscar BressaneMaríliaBauru
AssisSão Paulo
AssisCândido MotaOurinhosPirajuItapetiningaSorocabaSão Paulo
IepêNantes
Porecatu
Regente FeijójPres.Prudente
PirapozinhoPres. BernardesPres. Venceslau
Pres.Epitácio
Município de João Ramalho
Município de Quatá Município de Borá
Município de Lutécia
Município de Assis
Município de Maracaí
Municípiode Rancharia
oiguBod.biR
AD
Locais de conflito entre índios kaingang epioneiros, no início deste século (fonte: MuseuHistórico Municipal):1- Rib. do Bugio 2- Rib. Alegre3- Rib. das Mortes 4- Rib. do Brejão5- Rib. Grande
S.Mateus
S.Francisco
Ág.do Pote
Ág.do Cágado
Brumado
Pareci
Alegre
Ág.da Bomba
Figueira
Ág.do Cancã
Ág.da Aldeia
Papagaio
Pote
setroM
sadaugÁ
Águada
Ca choeira
C
E
B
241.2
242.4
241.3
241.5
241.1
242.2
242.1
242.3
divisor Peixe/Paranapanema
INSERÇÃO REGIONAL NO PR0JPARRegião 2 BACIA MÉDIAMesorregião 24 CAPIVARA LESTEMicrorregião 241 Capivari-S.MateusMicrobacias:241.1 Capivara Médio-Inferior241.2 S.Mateus Superior241.3 S.Mateus Inferior241.5 Capivari InferiorMicrorregião 242 Alto Capivarade ParaguaçuMicrobacias:242.1 Capivara Superior242.2 Capivara Médio-Superior242.3 Alegre242.4 Sapé
0 5 10km
escala numérica 1:167.000 (na digitalização original, formato A2)
limite do ProjPar
UHE CAPIVARAConcessionária: Companhia Energética de São PauloInício da Operação: 1977Barragem = comprimento: 1.500,1 m; cota coroam.:339 m; cota jusante: 283,9 m
2Reservatório = área: 645 km (270/SP e 375/PR); nívelmín.: 321 m; nível máx.: 331 m; nível máx excep.: 336 mLocalização: Taciba, SP / Porecatu, PR
divisas distritaisdivisas municipaisdivisas estaduaislimite regionallimite mesorregionallimite microrregionalmicrobacias hidrográficasrodovias estaduaisrodovias municipais
PARAGUAÇU PAULISTASP
274
Base Cartográfica: IBGE, Carta do BrasilFolha de Marília, esc. 1:250.000
a
Referências Bibliográficas:FACCIO, N.B. Arqueologia dos Cenários das Ocupações
Horticultoras da Capivara, Baixo Paranapanema, SP.Tese de Doutorado, 1998.
MORAIS, J.L. Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista.
Tese de Livre-Docência, 1999.
São Paulo
SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO
2área: 1.003,6 kmpopulação: 39.887 habitantes
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
sítios de caçadores-coletores indígenasanteriores a 1000 dC, produtores de pedralascada;
sítios de horticultores indígenas anterioresa 1500 dC, produtores de cerâmica;
sítios indígenas integrados ao sistemacolonial ou controlados pelas frentespioneiras da sociedade nacional;
sítios históricos (estruturas representati-vas da sociedade nacional, de significâncialocal);
sítios multicomponenciais
sítios multiusuários
outros locais de interesse arqueológico
123
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
MUNICÍPIO DE PIRAJU
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
PIRAJUESTADO DE SÃO PAULO
MAPA MUNICIPAL DE CADASTRO
ARQUEOLÓGICO
desenho # E-PRJ11999
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
INSERÇÃO REGIONAL NO PROJPAR
Região 1 BACIA SUPERIORMesorregião 15 TaquariMicrorregião 153 Baixo TaquariMicrobacias:153.2 Taquari InferiorMesorregião 17 Alto Paranapanema de PirajuMicrorregião 171 Piraju NorteMicrobacias:171.2 Virado-Funil171.3 São Bartolomeu171.4 Douradinho-Tibiriçá171.5 Araras171.6 Douradão-CachoeiraMicrorregião 172 Piraju SulMicrobacias:172.1 Monte Alegre-Funil172.2 Piraju Urbana172.3 Neblina172.4 Lajeado/Cágado172.5 Palmital
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
divisas distritaisdivisas municipaisdivisas estaduaislimite regionallimite mesorregionallimite microrregionalmicrobacias hidrográficasrodovias estaduaisrodovias municipais
km
escala numérica 1:100.000 (na digitalização original, formato A2)
0 2 4 6
ARQUEOLOGIA DA PAISAGEMCENAS DO PARANAPANEMA PAULISTA
(DA PRÉ-HISTÓRIA AO CICLO DO CAFÉ)APOIO : FAPESP
São Paulo
SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO
2área: kmpopulação: habitantes
UHE PIRAJUConcessionária: Companhia Brasileira de AlumínioInício da Operação: usina projetadaBarragem = comprimento: 650 m; cota coroam.: 504m; cota jusante: 490,2 m
2Reservatório = área: 1,5 km (100% SP); nível mín.: 501m; nível máx.: 531,5 m; nível máx excep.: 503 mLocalização: Piraju, SP
Base Cartográfica: IBGE, Carta do BrasilFolha de Itapetininga e Corn.Procópio, esc. 1:250.000
Referências Bibliográficas:PALLESTRINI, L. Interpretação de Estruturas
Arqueológicas em Sítios do Estado de São Paulo. Tese de Livre-Docência, 1975.
MORAIS, J.L. Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista.
Tese de Livre-Docência, 1999.
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
sítios de caçadores-coletores indígenasanteriores a 1000 dC, produtores de pedralascada;
sítios de horticultores indígenas anterioresa 1500 dC, produtores de cerâmica;
sítios indígenas integrados ao sistemacolonial ou controlados pelas frentespioneiras da sociedade nacional;
sítios históricos (estruturas representati-vas da sociedade nacional, de significâncialocal);
sítios multicomponenciais
sítios multiusuários
outros locais de interesse arqueológico
049 15'
049 15'
049 20'
049 20'
049 25'
049 25'
049 30'
049 30'
023 05'023 05'
023 10'023 10'
023 15'023 15'
023 20'023 20'
F A R T U R A
S A R U T A I ÁT E J U P Á
I T A Í
C E R Q U E I R AC É S A R
M A N D U R I
Ó L E O
B E R N A R D I N OD E C A M P O S
I P A U Ç U
T I M B U R I
Reservatóriode Xavantes
Rio Paranapane ma
en ma apanaraPoiR
UHE Jurumirim
Ilha de Jurumirim
PedrinhaPrainha
Aeroporto
Reservatóriode Jurumirim
Rio Taquari
Ilha do Zoraido
Lot.Nova Piraju
Lot. Faz.Sto.António
Lot.Enseada Piraju
UHE Piraju(proj.)
UHE ParanapanemaCerq.CésarÁg.de Sta.BárbaraAranduAvaré
ItapetiningaSorocaba
S.Paulo
Tejupá
TejupáTaquarituba
Sarutaiá
Sarutaiá
Sarutaiá
SarutaiáFartura
Sarutaiá
Cágado
Timburi
Bern.de Campos
OurinhosBauru
MaríliaAssis
Pres.Prudente
Bern.de Campos
ManduriÁg.de Sta.BárbaraÓleo
ManduriCerq.César
Cerq.César
Sta.Cruz
Estiva
Mourão
L.Varjão
Boa Vista
Barra Grande
Sarutaiá
S e tr ur r a a rd a F a
Ipê
Cocchi
Coqueiros
Monte Alegre
Funil
Sta.Lúcia
Sta.Lúcia
Pousada Jurumirim
Félix Bentos
TaquariGarças
Pereiras
Enxovia do Pavão
Rippe
Porto da Bananeira
DouradinhoS.Berto
Chapada
Salto Simão
Horto
GuarirobaCachoeira de Baixo
Água do Padre
Sta.Lú aic
lajnaraL
oinótnA.otS
xliéF
Estiva
oãvaP
Enxovia
oniF-mipaC
Araponga
ergelAetno
M
Nathan
eiru oq soC
ahBa nrri
N. S.Aparecida
ourodebeB
Funil
airgnuH
atsiVaoB
Res.Paranapanema
aracáhC
asereT.at S
Sertão zinho
ruaT u ça q u
Encoberto
osordeP
Saltoda Neblina
ardePed
aciB
Bica de Pedra
anil be N
Lajeadinho
Estiva
Fazenda Grande
Lajea doda ogáC
oruOedopmaC
Lajeadinho
arieohcaC
Matinha
erdaPodau gÁ
sararA
Guariroba
Caracol
oh ni daruoD
uemolot r aB.S
oãtaM
oãjerB ohni coP
odariVacnarB
augÁ
S.Luís
Salto do Piraju
172.1
171.2
171.3171.4
171.5
171.6
153.2
172.2
172.3
172.4
172.5
SP
287
SP
270
SP
303
SP
270
SP
261
SP
287
SP
85
Bittar
Palmital
Usina
S.Palm.2Rodrig.2
S.Palm.3S.Palmital
Rodrigues
Rodr.3Sede 2Sede
MorácioCascata
Nunes
Alves
ArrudaVetroni
Cury
Cury 2Golf. 2
Golfieri
B.Pedra
B.Pedra 2B.Pedra 3
Monte Santo
Ceres
Ipiranga
Colina
Codespaulo
Duron
PiavaFoz S.Bart.
Cascavel
Bananeira
Bebedouro
Foz M.Alegre
Tabarana
Brejão
Funil
Funil 2
S.Simão Oeste
S.Simão LesteSL2
SL3
SL4SO2SO3
SO5SO4
SO6
SO7SO8Camargo
Camargo 3
DouradoCamargo 2
Tibiriçá
Fec.2Fecapi
Pira’Yu’ Barragem
B.Nebl.5
B.Nebl.3
B.Nebl.2 B.Nebl.4B.Nebl.
MottaP.Când.
F.Nebl.F.Nebl.2
UHE JURUMIRIMConcessionária: Companhia Energética de São PauloInício da Operação: 1962Barragem = comprimento: 483,7 m; cota coroam.: 570m; cota jusante: 531,3 m
2Reservatório = área: 546 km (100% SP); nível mín.:559,7 m; nível máx.: 568 m; nível máx excep.: 569,5 mLocalização: Piraju, SP / Cerqueira César, SP
UHE XAVANTESConcessionária: Companhia Energética de São PauloInício da Operação: 1970Barragem = comprimento: 500 m; cota coroam.: 479m; cota jusante: 397,5 m
2Reservatório = área: 400,3 km (143,0/SP e257,3/PR); nível mín.: 465,2 m; nível máx.: 474,0 m; nívelmáx excep.: 475,5 mLocalização: Chavantes, SP / Ribeirão Claro, PR
UHE PARANAPANEMAConcessionária: Companhia Luz e Força Santa CruzInício da Operação: 1936Barragem = comprimento: 145 m; cota coroam.: 504 m;cota jusante: 490,2 m
2Reservatório = área: 1,5 km (100% SP); nível mín.: 501m; nível máx.: 502 m; nível máx excep.: 503 mLocalização: Piraju, SP
124
José Luiz de Morais
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO GRANDE
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
ProjPar
ARQUEOLOGIA DA PAISAGEMCENAS DO PARANAPANEMA PAULISTA
(DA PRÉ-HISTÓRIA AO CICLO DO CAFÉ)APOIO : FAPESP
RIBEIRÃO GRANDEESTADO DE SÃO PAULO
MAPA MUNICIPAL DE CADASTRO
ARQUEOLÓGICO
desenho # E-RGD11999
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
INSERÇÃO REGIONAL NO PROJPAR
Região 1 BACIA SUPERIORMesorregião 13 ALTO PARANAPANEMAMicrorregião 133 Alto ParanapanemaSuperiorMicrobacias:133.2 Rio das Almas Superior133.3 Rio das Almas Médio
Base Cartográfica: IBGE, Carta do BrasilFolha de Itararé, esc. 1:250.000
Referência Bibliográfica:
MORAIS, J.L. Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista.
Tese de Livre-Docência, 1999.
km
escala numérica 1:125.000 (na digitalização original, formato A2)
0 2,5 5,0 7,5
divisas distritaisdivisas municipaisdivisas estaduaislimite regionallimite mesorregionallimite microrregionalmicrobacias hidrográficasrodovias estaduaisrodovias municipais
Machados
Rodrigues
Cachoeira
Queirós
Cruz
RIBEIRÃO GRANDE
Urucuba Lagoa
Capoeira
S.Pedro Barreiro
Cristais Freguesia Velha
Itabira
Boituva
Carioca
Batéias
Jabaquara
Rio dasAl mas
serehluMsad.róC
Batéias
sad.róC
ednarG.biR
sarierreFsod.róC
ednarG.biR
samlA
sadoiR
Riodas
Conchas
aonaCad.r óC
C uó ér p. ahd Co
Cór.S.Pedro
Cór.Barreiro
oriehCod.róC
seuqraM
sod.róC
ohniuqnaTod.róC
Cór. Jabaquara
açnOad.róC
iséciaMsod.róC
arieopaCad.róC
Cór.do Mato Dentro
Sítio Velho
133.3
133.2
Limites do ProjPardivisor Ribeira/Paranapanema
Limites do ProjPardivisor Ribeira/Paranapanema
Município de IporangaMunicípio de Eldorado
Município de Capão Bonito
Município de Capão Bonito
Município de Guapiara
Capão BonitoItapetininga
São Paulo
o24 15'
o24 20'
o24 10'
o24 05'
o48 25'o48 20' o48 15’
sednarGsodug
AS e r sr oa d
São Paulo
SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO
2área: 332,8 kmpopulação: 7.520 habitantes
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
sítios de caçadores-coletores indígenasanteriores a 1000 dC, produtores de pedralascada;
sítios de horticultores indígenas anterioresa 1500 dC, produtores de cerâmica;
sítios indígenas integrados ao sistemacolonial ou controlados pelas frentespioneiras da sociedade nacional;
sítios históricos (estruturas representati-vas da sociedade nacional, de significâncialocal);
sítios multicomponenciais
sítios multiusuários
outros locais de interesse arqueológico
Encanados 2
Encanados
Lusitânia
Casa Grande
125
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
Reserv. de Salto Grande
Rio Paranapanema o22 55'
o22 55'
o22 50'
o22 45'
o50 00'o50 05' o49 55' o49 50'
Mesorregião 23Canoas
Mesorregião 22Médio Paranapanema de Ourinhos
Jacaratiá
Município de Jacarezinho
Município de São Pedro do Turvo
SALTO GRANDE
Ilha da Bilota Jataí
Peroba-Rosa
Jequitibá
anailisarbsnarTaiV
351-RB
Vila dos Pescadores
Rio Novo
Paulista
Cateto
Guaraiúva
Sta. Teresa
Fazenda Velha
Cascavel
S.Pedro do TurvoRib. do Sul
Rib. do Sul
Ibirarema
IbiraremaPalmital
Cândido MotaAssis
Pres. PrudentePres. Epitácio
Ibirarema
Ibirarema
S.Pedro do Turvo
S.Pedro do Turvo
OurinhosPirajuItapetiningaSorocabaS.Paulo
OurinhosItapetiningaSorocabaS.Paulo
olhemreV.biRatoliB
ad . bi R
Cór. Guar aiúva
acnarBr. Pe aó rdC
ariemiLad.róC
opaSod.gÁ
ahleVadnezaFad.róC
Cór. Sta. Teresa
atsiluaPod.róC
serguBsod.biR
anatnaS.biR
ovoNoiR
Cór. Azul
Rio Pardo
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
MUNICÍPIO DE SALTO GRANDE
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
ProjPar
PROGRAMA DE RESGATE ARQUEOLÓGICO DO
COMPLEXO CANOASCONTRATO USP-CESP
SALTO GRANDEESTADO DE SÃO PAULO
MAPA MUNICIPAL DE CADASTRO
ARQUEOLÓGICO
desenho # E-SGD11999
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
Município de CambaráMunicípio de Ourinhos
Município de Ribeirão do Sul
Município de Ibirarema
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
224.3
223.1
223.5
223.2
232.1
INSERÇÃO REGIONAL NO PROJPARRegião 2 BACIA MÉDIAMesorregião 22 MÉDIO PARANAPANEMADE OURINHOSMicrorregião 223 Salto GrandeMicrobacias:223.1 Bacia de Salto Grande223.2 Turvo Inferior223.5 Novo Médio-InferiorMicrorregião 224 Ourinhos SulMicrobacia:224.3 Ourinhos UrbanaMesorregião 23 CANOASMicrorregião 232 Canoas SulMicrobacia:232.1 Pau d’Alho
Base Cartográfica: IBGE, Carta do BrasilFolha de Marília, esc. 1:250.000
Referências Bibliográficas:CHMYZ, I. Pesquisas Paleetnográficas Efetuadas no
Vale do Rio Paranapanema, Paraná/São Paulo.Tese de Doutorado, 1972.
MORAIS, J.L. Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista.
Tese de Livre-Docência, 1999.
Jauvá
UHESalto Grande
Imbira
O entorno doReservatório da UHE
Salto Grande foi levantadopor Chmyz, nos anos 60.
SP270
km
escala numérica 1:125.000 (na digitalização original, formato A2)
0 2,5 5,0 7,5
divisas distritaisdivisas municipaisdivisas estaduaislimite regionallimite mesorregionallimite microrregionalmicrobacias hidrográficasrodovias estaduaisrodovias municipais
UHE SALTO GRANDE (Prof. Lucas Nogueira Garcez)Concessionária: Companhia Energética de São PauloInício da Operação: 1958Barragem = comprimento: 1.009,3 m; cota coroam.:387,2 m; cota jusante: 373 m
2Reservatório = área: 12,2 km (8,7/SP e 3,5/PR); nívelmín.: 381,2 m; nível máx.: 385 m; nível máx excep.: 386,2mLocalização: Salto Grande, SP / Cambará, PR
SÃO PAULO
PARANÁFepasa
CambaráJacarezinho
São Paulo
SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO
2área: 211,1 kmpopulação: 6.945 habitantes
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
sítios de caçadores-coletores indígenasanteriores a 1000 dC, produtores de pedralascada;
sítios de horticultores indígenas anterioresa 1500 dC, produtores de cerâmica;
sítios indígenas integrados ao sistemacolonial ou controlados pelas frentespioneiras da sociedade nacional;
sítios históricos (estruturas representati-vas da sociedade nacional, de significâncialocal);
sítios multicomponenciais
sítios multiusuários
outros locais de interesse arqueológico
126
José Luiz de Morais
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
MUNICÍPIO DE SARUTAIÁ
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
SARUTAIÁESTADO DE SÃO PAULO
MAPA MUNICIPAL DE CADASTRO
ARQUEOLÓGICO
desenho # E-SRT11999
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
INSERÇÃO REGIONAL NO PROJPAR
Região 1 BACIA SUPERIORMesorregião 17 Alto Paranapanema de PirajuMicrorregião 172 Piraju SulMicrobacias:172.3 Neblina172.4 Lajeado-Cágado172.5 Palmital
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
divisas distritaisdivisas municipaisdivisas estaduaislimite regionallimite mesorregionallimite microrregionalmicrobacias hidrográficasrodovias estaduaisrodovias municipais
Base Cartográfica: IBGE, Carta do BrasilFolhas de Cornélio Procópio e Itapetininga
esc. 1:250.000a
Referência Bibliográfica:
MORAIS, J.L. Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista.
Tese de Livre-Docência, 1999.
km
escala numérica 1:75.000 (na digitalização original, formato A2)
0 1,5 3,0 4,5
ARQUEOLOGIA DA PAISAGEMCENAS DO PARANAPANEMA PAULISTA
(DA PRÉ-HISTÓRIA AO CICLO DO CAFÉ)APOIO : FAPESP
São Paulo
SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO
2área: 141,8 kmpopulação: 3.308 habitantes
Município de Piraju
Município de Timburi
Município de Fartura
172.3
172.4
172.5
SARUTAIÁPalanquinhos
Brito
Boa Vista 2
Boa Vista
Roda d’Água
SP
303
SP287
O Sítio Brito corresponde ào c u p a ç ã o m a i s a n t i g a d oParanapanema (aproximadamente8 mil anos antes do presente).
latimlaPod.biR
Cór.doQuatiguá
Cór. Sta.Rosa
Rib. doLajeadooniF-
mipaCod.biR
airaM.atS.róC PCH Boa Vista
oãjerBod.róC
Cór. Maria Cecília
atsiVCór. aBo
Água doPadre
odaejaLod. bi R
ohlemreV-ocnarraBod.biR
erdaPodaugÁ aiC rór la. d Oa
edadrebiLad.róC
Rib. daNeblina
anilbeNad.biR
Se r r a
d a
F a r t u r aS e r r a
d a
F a r t u r a
FarturaCarlópolisTaguaí
Fartura
Timburi
Timburi
Timburi
Timburi
CágadoPirajuBernardino de Campos
CágadoPirajuBernardino de Campos
Piraju
Piraju
Piraju
Piraju
Piraju
PirajuTejupá
PirajuTejupá
PirajuTejupá
Barra Grande
LiberdadeJacutinga
Boa Vista
Britos
Barrinha
Sta.Virgínia
Sta. Maria
Sta.Marina
Tanquinho
Brejão
Boa Vista
Palmital
Santana
Quatiguá
Bela Vista
agnitucaJad.biR
Rib. doLajeado
arraBad
augÁ
APA CUESTAS BASÁLTICAS(Perímetro Tejupá)
APA CUESTAS BASÁLTICAS(Perímetro Tejupá)
o23 15’
o23 20’
o49 25’o49 30’o49 35’
o23 10’PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
sítios de caçadores-coletores indígenasanteriores a 1000 dC, produtores de pedralascada;
sítios de horticultores indígenas anterioresa 1500 dC, produtores de cerâmica;
sítios indígenas integrados ao sistemacolonial ou controlados pelas frentespioneiras da sociedade nacional;
sítios históricos (estruturas representati-vas da sociedade nacional, de significâncialocal);
sítios multicomponenciais
sítios multiusuários
outros locais de interesse arqueológico
127
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
MUNICÍPIO DE TIMBURI
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
TIMBURIESTADO DE SÃO PAULO
MAPA MUNICIPAL DE CADASTRO
ARQUEOLÓGICO
desenho # E-TBR11999
Legislação Correlata:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
INSERÇÃO REGIONAL NO PROJPAR
Região 1 BACIA SUPERIORMesorregião 17 Alto Paranapanema de PirajuMicrorregião 172 Piraju SulMicrobacias:172.5 Palmital172.6 Timburi-Palmeiras
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanemafontes:
IBGE, IGC-SP, Prefeituras Municipaislevantamentos de campo e aerofotointerpretação
responsável técnico-científico:
Prof. Dr. José Luiz de Moraisarqueólogo / MAE-USP
depósitos legais: IPHAN & CONDEPHAAT
divisas distritaisdivisas municipaisdivisas estaduaislimite regionallimite mesorregionallimite microrregionalmicrobacias hidrográficasrodovias estaduaisrodovias municipais
UHE XAVANTESConcessionária: Companhia Energética de São PauloInício da Operação: 1970Barragem = comprimento: 500 m; cota coroam.: 479m; cota jusante: 397,5 m
2Reservatório = área: 400,3 km (143,0/SP e257,3/PR); nível mín.: 465,2 m; nível máx.: 474,0 m; nívelmáx excep.: 475,5 mLocalização: Chavantes, SP / Ribeirão Claro, PR
Base Cartográfica: IBGE, Carta do BrasilFolha de Cornélio Procópio, esc. 1:250.000
a
Referência Bibliográfica:
MORAIS, J.L. Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista.
Tese de Livre-Docência, 1999.
ARQUEOLOGIA DA PAISAGEMCENAS DO PARANAPANEMA PAULISTA
(DA PRÉ-HISTÓRIA AO CICLO DO CAFÉ)APOIO : FAPESP
São Paulo
SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ESTADO
2área: 197,6 kmpopulação: 2.645 habitantes
km
escala numérica 1:75.000 (na digitalização original, formato A2)
0 1,5 3,0 4,5
o23 15’
o23 10’
o49 35’
o49 40’
Reservatório de XavantesRio Paranapanema
Reservatório de XavantesRio Itararé
Município de Ribeirão Claro
Município de Chavantes
Município de Ipauçu
Município de Piraju
Município de Sarutaiá
Município de Fartura
172.5
172.6
São Paulo
Paraná
Cór. S. Francisco
oinotnA.otS.róC
Rib. dasPalm
eiras
aialamiH.róC
açnOad.róC
oniF-mipaCod.róC
latimlaPod.biR
Rib. doPalm
ital
atsuguA.atS.róCoãjerBod.róC
aiduálC.atS.róC
atsiluaPaug
Á
S. do aRib ltinho
ohnilojnoMod.róCafutsE
ad.róC
Água do Triângulo
Rib. do Timburi
Mirante
Sta. Rosa
Bela Vista 2
Bela Vista
Baixo Palmital
Baixo Palmital 2Amorim
Amorim 2Amorim 3
SP
303
Bairro do CágadoPirajuBernardino de Campos
PirajuSarutaiá
PirajuSarutaiá
Sarutaiá
SarutaiáFarturaTejupá
Sarutaiá
TIMBURI
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
sítios de caçadores-coletores indígenasanteriores a 1000 dC, produtores de pedralascada;
sítios de horticultores indígenas anterioresa 1500 dC, produtores de cerâmica;
sítios indígenas integrados ao sistemacolonial ou controlados pelas frentespioneiras da sociedade nacional;
sítios históricos (estruturas representati-vas da sociedade nacional, de significâncialocal);
sítios multicomponenciais
sítios multiusuários
outros locais de interesse arqueológico
128
José Luiz de Morais
Por outro lado, juridicamente, a APA poderá abranger espaços públicos e privados. O zoneamento previsto para esse tipo de unidade de conservação poderá prever a criação de “parques” nas áreas de do-mínio público. Os parques seriam o ambiente adequado para conter as diversas ações de integração das referências patrimoniais da comunida-de. A parcela de solo onde se implanta o Engenho poderia ser um dos segmentos do parque. A APA, como um todo, funcionaria como um cinturão envoltório, com uso e ocupação disciplinados.
O planejamento e a implantação da unidade de conservação, atribuição da Prefeitura do Município de Santos, seria o “carro-chefe” a integralizar os projetos modulares co-irmãos. Estes teriam, no mínimo, duas categorias: projetos mitigatórios e projetos de ações múltiplas.
Projetos.Mitigatórios
Nesta primeira categoria estariam inseridas iniciativas já pensadas e absolutamente necessárias para que aconteça o uso social deste patri-mônio histórico-arquitetônico que é o Engenho São Jorge dos Erasmos. São projetos bem delimitados no tempo e no espaço. Destacam-se:
Ações emergenciais, com o propósito de interromper ou retardar os crescentes níveis de degradação das ruínas (escoramentos, recuperação do telhado e estrutura de apoio, proteção do talude noroeste) (cf. Plano de Infra-Estrutura e Serviços Emergenciais da Prefeitura de Santos). Responsabilidade: USP, em parceria com a iniciativa privada.
Projeto Mínimo de Infra-Estrutura, com propostas urbanísticas para o cinturão envoltório e manutenção permanente da área (cf. Plano de Infra-Estrutura e Serviços Emergenciais da Pre-feitura de Santos). Responsabilidade: prefeitura, em parceria com a iniciativa privada.
Consolidação das ruínas, com a recuperação do que for possível, atitude ditada pela densidade da documentação disponível, incluindo a construção da cobertura necessária para assegurar a estabilidade dos remanescentes arquitetônicos (cf. projeto USP,
de novembro de 1996). Responsabilidade: USP, em parceria com a prefeitura e o iphan (que deixaria de ser apenas um órgão fiscalizador, investido nas atividades de polícia administrativa, participando de ações efetivas, como nos anos 60); seriam alocados recursos financeiros de fontes governamentais e da iniciativa privada.
Salvamento Arqueológico. Em função da urgência no que toca à implementação e concomitância de ações múltiplas, a pro-blemática arqueológica adquire feições de resgate, nos termos preconizados por Ulpiano T. Bezerra de Menezes em 1988, no âmbito de seminário organizado pela antiga SPHAN: “nenhu-ma distinção pode ser feita no nível da substância entre a pesquisa arqueológica rotineira e a de salvamento, exceto no que concerne às condições operacionais. Por condições operacionais entende-se a delimitação da área a ser afetada pelo fator que produz o risco, além do prazo derivado do mesmo fator de risco.” Resta escolher o modus operandi da práxis arqueológica e, ao que parece, a arqueologia da paisagem é a linha de pesquisa que melhor atende às necessidades do momento, conforme será explicado adiante. Responsabilidade: USP, com o apoio financeiro da fapesp.
Projetos.de.Ações.Multiplas
Caracterizam-se pelo caráter permanente. Nesta categoria es-tariam inseridos os projetos museológicos, com seus vários desdobra-mentos, tais como as ações expositivas e as ações educacionais para todos os níveis da comunidade. Estariam aí também incluídas as ações de manutenção e de apoio operacional, todas de caráter permanente. Responsabilidade: USP, unisantOs e Prefeitura de Santos, por meio dos seus órgãos culturais.
Arqueologia.da.Paisagem
Nascida britânica, a arqueologia da paisagem — landscape archa-eology — milita na intersecção de vários ramos de núcleos disciplinares, recorrendo aos dados da biogeografia, geocartografia, geografia humana
129
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
e econômica, geopolítica, geoarqueologia, zooarqueologia, arqueobotâni-ca, bem como aos de outras disciplinas, tais como história, antropologia, sociologia, arquitetura, urbanismo e ecologia. Entender a geografia e o meio ambiente de uma determinada área é, assim, um importante aspecto da pesquisa arqueológica. Permite, outrossim, que um olhar isolado no passado possa ser inserido em um contexto amplo e melhor compreensível.
Em uma perspectiva mais recente, a arqueologia da paisagem pode inserir-se no contexto do desenho ambiental. A expressão desenho am-biental corresponde ao termo inglês environmental design. Trata-se de uma ação integradora de conhecimento e experiência, não apenas junto às áreas de planejamento e arquitetura, mas também de uma atividade de comunicação e diálogo entre aquelas e as demais áreas do conhecimento, envolvendo o meio cultural em que vivemos. De acordo com a mesma autora, “o desenho ambiental se distancia do paisagismo quando envolve a idéia não apenas do projeto, mas a idéia de um processo. Para isso, o desenho ambiental pressupõe o conceito ecossistêmico em que a ação antrópica esteja incluída” (ribeiro Franco, 1993).
Inevitáveis também são as ligações da arqueologia da paisagem com as coisas do patrimônio, considerando seus vários componentes (arqueológico, ambiental e paisagístico, arquitetônico e urbanístico). “Os resultados das investigações no arcabouço da arqueologia da paisagem introduzem uma extraordinária contribuição ao problema de organização da preservação da herança arqueológica européia” (Afanasiev, 1995). De fato, eles permitem perceber melhor os problemas ligados com a organização e o gerenciamento da herança arqueológica.
Com o advento e a crescente consolidação da legislação de pro-teção ao meio ambiente, a arqueologia da paisagem vem à tona mais uma vez. Haja vista a sua inserção temática nos estudos e relatórios de impacto ambiental relativos às obras e empreedimentos potencialmente lesivos ao meio ambiente. Assim, a arqueologia da paisagem, sem desmerecer a atividade de escavação, faz justiça ao levantamento arqueológico. A obri-gatoriedade de se definir graus de significância aplicáveis aos sítios a serem escavados tem consolidado a idéia dos “levantamentos de área”, fato corroborado pelos recentes avanços no campo das geotecnologias. E
a fidelidade do levantamento arqueológico tem mexido com o próprio conceito de sítio arqueológico.
A boa qualidade da pesquisa no campo da arqueologia da paisagem depende do uso das geotecnologias, técnicas modernas para estabelecer, registrar e gerenciar paisagens históricas e seus componentes. O uso do GPS (global positioning system), do SIG (sistema de informação geográfica), dos SGBDs (sistemas de gerenciamento de banco de dados), dos SSRs (sistemas de sensoriamento remoto), dos softwares do sistema CAD (computer aided design) e CAM (computer aided mapping), maximiza os resultados pretendidos pelo profissional que escolhe percorrer esse ca-minho. Estes instrumentos digitais de levantamento ligados ao esboço e à modelagem de relevo permitem produção de alta qualidade com economia (Allen et al, 1990).
A política de prestação de serviços da Unidade Arqueológica da Universidade de Lancaster, Reino Unido (ver fontes eletrônicas, item biblio-grafia), tem por base o seguinte pressuposto: “Our historically important landscapes are more than just a collection of archaeological sites, they are a living historical documentary that provide a sense of place to local communi-ties. The recognition and analysis of such landscapes is a requirement of any development which is likely to lead to widespread environmental and habitat change. Historic landscape recording and analysis is a prerequiste of any plan to conserve landscape qualities and manage change within a landscape.” Assim, entender o entorno de ambientação onde se insere um sítio arque-ológico, construído e reconstruído em função do uso e da ocupação do solo, ajuda na tarefa de entender a vida pregressa e a cultura.
Design.da.Pesquisa.proposta.para.os.Erasmos
1..Escopo.Genérico:
“Reconstituição dos cenários das ocupações humanas da Baixada Santista,
da pré-história aos dias de hoje”
130
José Luiz de Morais
O propósito é consolidar a idéia de que a ocupação humana regio-nal é um ato contínuo de longa data, não tendo começado e terminado com o Engenho, enfocando as seguintes cenas:
Cenas pré-coloniais e de contato indígena/colonizador
operacionalização: recompilação e releitura dos dados existentes a respeito da pré-história e dos sítios de contato da Baixada Santista, principalmente os sambaquis.
Cenas coloniais
operacionalização: retomada das investigações arqueológicas na área do engenho, sob a ótica da arqueologia da paisagem.
Cenas do Império e da República Velha
operacionalização: recompilação e releitura dos dados existentes a respeito da história da Baixada, especialmente a participação das lideranças regionais no movimento da independência e a importância do porto no escoamento da produção de café.
Cenas da Metropolização
operacionalização: recompilação e releitura dos dados geográficos e urbanísticos que conduziram o processo de metropolização da Baixada Santista; caberá aqui um espaço para reflexão do tipo “o que fomos, o que somos, e o futuro?”
2..Enfoque.principal
Linhas de pesquisa que poderão concorrer para o desenvolvimento das investigações arqueológicas no Engenho dos Erasmos:
Sociedade Nacional
Estudos da Paisagem
Ordenamento do Território
Patrimônio Edificado
Resgate do Patrimônio Histórico-Cultural
Regulamentação Edilícia e Ambiental
Arqueologia Industrial
Geoarqueologia
Etnoarqueologia
Arqueometria
Gerenciamento de Banco de Dados
Mapeamento Automatizado
Museus de Cidade
3..Problemas
Dentre outros, ficam preliminarmente definidos os seguintes pro-blemas a serem resolvidos pela pesquisa arqueológica, com o concurso dos aportes interdisciplinares:
Mudanças nos padrões de assentamento locais e amplitude de seus reflexos em termos ambientais regionais.
Qualidade e intensidade do uso da terra, sugeridas pela presença de itens da cultura material nos registros arqueológicos.
Relações entre os padrões de assentamento e detalhes das for-mas de uso da terra, bem como das evidências de degradação da paisagem e erosão do solo.
Evidências arqueológicas de atividades de extração e produção.
Primórdios da urbanização: desenho urbano e ciclos econômicos da apropriação do espaço.
A implantação e o desenvolvimento de rotas (sistemas locais e interregionais) e suas relações com as mudanças de padrões de povoa-mento.
131
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
4..Objetivos.específicos.do.projeto:
1. Subsidiar o reconhecimento e a análise das mudanças nos padrões de assentamentos humanos da Baixada Santista em relação ao meio ambiente físico-biótico, da pré-história ao início da metropolização.
2. Identificar os principais traços introduzidos pelo povoamento hu-mano na paisagem, os sistemas de uso e ocupação do solo e seus efeitos no meio ambiente regional, provendo bases arqueológicas sólidas para a compreensão dos assentamentos coloniais inseridos no seu recorte ambiental.
3. Organizar, em caráter tentativo, o quadro de parâmetros locacionais relativo aos assentamentos humanos coloniais, com o propósito de subsidiar um modelo locacional para o litoral brasileiro.
4. Identificar e registrar sítios e locais de interesse arqueológico cor-relatos, procurando recompor os principais traços da paisagem à época das ocupações.
5. Identificar e registrar os fatores de risco que afetam os sítios e locais de interesse arqueológico, propondo medidas para a mitigação dos impactos aos quais estão sujeitos.
6. Propor ações de gerenciamento e manejo das áreas de interesse arqueológico e paisagístico da Baixada Santista, mapeando os seus componentes.
7. Otimizar o uso das geotecnologias para localizar, registrar e gerenciar as paisagens e seus componentes.
8. Retomar os procedimentos ligados às técnicas arqueométricas, principalmente as análises físico-químicas de materiais, tentando correlacioná-las com as técnicas de produção.
5..Estrutura.metodológica.tentativa
nível 1 - levantamentOs estimativOs
Corresponde à fase inicial do projeto, sendo a mais elementar for-ma de levantamento. Objetiva angariar os levantamentos estimativos
anteriormente realizados, agora sob a ótica da arqueologia da paisagem. A área do levantamento estimativo deverá ser ampliada. O ponto central e vários outros pontos do sítio serão registrados com o auxílio de total stations. Descrições sumárias para a base de dados serão elaboradas. Este levantamento proporciona subsídios para o estabelecimento de esque-mas preliminares e genéricos de manejo, proporcionando a elaboração de MDTs (modelagens digitais de terreno) de pequena escala. Fotografias aéreas e imagens de satélite são utilizadas.
nível 2 - levantamentOs avaliatóriOs
Correspondem à fase de identificação. Os levantamentos avaliató-rios definem a extensão e a forma do sítio, relacionando-o com a topo-morfologia, considerando parâmetros do modelo locacional. Proporciona registros mais detalhados para análises acadêmicas do desenvolvimento da paisagem; cobre áreas menores. Atividades específicas de geoarque-ologia deverão ser encaminhadas. O levantamento avaliatório deve ser projetado para gradativamente alcançar o nível 3, promovendo a aquisição de pontos e dados adicionais. Neste nível é possível registrar cenas e alterações paisagísticas, demonstrando o desenvolvimento e o crescimento de atividades e ações humanas no local. MDTs mais pon-tuais poderão ser elaboradas.
nível 3 - levantamentOs mitigatóriOs
Correspondem à fase de manejo ou gerenciamento. Representam o re-gistro paisagístico mais compreensivo do sítio, quando as geotecnologias são usadas em sua maior profundidade. A geração de modelagens digitais de terreno será em escala grande. O produto é o mapeamento na forma de construções isométricas do terreno, o mapeamento bidimensional de detalhe ou a construção de maquetes. A fase 3 provê um arcabouço que permite ativar o gerenciamento detalhado dos registros arqueológicos identificados nos levantamentos (nesta fase decide-se, por exemplo, se trechos do sítio serão preservado in situ ou se a sua preservação far-se-á por meio do registro de suas estruturas). A preservação in situ é preferível
132
José Luiz de Morais
em função da natureza finita dos bens arqueológicos enquanto recurso cultural. Resta trabalhar, então, a comunidade detentora do patrimônio arqueológico em tela para que esta herança seja preservada.
6..Legislação.e.Competências
Primeiramente há que se definir o estatuto do Engenho São Jorge dos Erasmos: inequivocadamente, trata-se de um bem patrimo-nial de significância nacional, estadual e municipal. Isto faz com que, em tese, o Engenho deva ser uma preocupação a envolver os três níveis governamentais da Federação. O que vai em seguida, não tem caráter de crítica infundada, mas o fato é que as ruínas estão como estão. A União é detentora dos bens arqueológicos da nação; portanto, há um nível de responsabilidade do IPHAN, com relação à proteção do mo-numento. Aos entes federativos infra-nacionais (Estado de São Paulo e Município de Santos) cabem, por meio dos seus órgãos técnicos e de pesquisa, proteger o monumento em parceria com a União. O interesse do Estado de São Paulo é imediato, posto que detém, por meio da USP, a propriedade do imóvel onde se localiza o Engenho. O interesse do Município de Santos é inequívoco, posto que o monumento se localiza no seu território municipal, integrado à comunidade local.
À vista do interesse multiplo, cabem aqui, ao pé-da-letra, os pre-ceitos constitucionais que consolidaram o federalismo cooperativo para as coisas do patrimônio arqueológico. Há de se definir e bem delimitar competências executivas nos três níveis de governo, por meio de seus órgãos especializados. Ao iphan, ao ibama (há aspectos ambientais en-volvidos), ao cOndephaat e ao cOndepasa adicionam-se as prerrogativas de autorização e fiscalização, no âmbito das respectivas circunscrições.
Outro preceito legal bastante enfático nos dias de hoje é o envol-vimento da comunidade, por meio da iniciativa privada. Seria de bom alvitre a exploração máxima desta interface.
Sintetizando, a palavra de ordem para os Erasmos é a multiparce-ria de todos os órgãos e instituições envolvidos: a União, por meio do iphan e do ibama, o Estado de São Paulo, por meio do cOndephaat, da
USP e da fapesp e o Município de Santos, por meio de sua Prefeitura, do cOndepasa e das universidades locais, especialmente a unisantOs.
134
José Luiz de Morais
Ao encerrarmos este trabalho reiteramos todas os princípios nele estabelecidos, desde a sua introdução. Acreditamos ter podido sintetizar as etapas de uma investigação que vem sendo realizada, desde meados dos anos 70, na bacia do Paranapanema paulista. Não apenas isso, cremos que foi possível dar-lhe um caráter diferenciado, posto que a partir de reflexões solidamente sustentadas, definimos uma problemática perti-nente a nossa práxis e a nossa formação acadêmica. A partir daí, não foi difícil construir uma hipótese de trabalho e fixar os objetivos necessários; assim, cremos ter conseguido nossos propósitos.
O fator geo, resultante da competitividade (falamos no sentido da boa competitividade) entre a Arqueologia, a Geografia, a Geomorfologia e a Geologia, demonstrou, no nosso entender, ser plenamente viável e, mesmo, imprescindível no universo da investigação arqueológica. Par-tindo do entendimento de que seria a hora de rendermos o justo crédito a esta interface, levamos adiante esta tarefa que, de certo modo, vem coroar (e não exaurir) nossas incursões neste campo.
Teve razão Bruce Gladfelter quando destacou a importância do “componente geo” na então nascente Geoarqueologia, lá por meados dos anos 70. O componente geo, que melhor entendemos como fator geo está aí, bem marcado nos projetos e no desenvolvimento da investigação arqueológica, não só no Paranapanema paulista, como também na de outras regiões. Todavia, os arqueólogos, ao explicitarem suas fontes e inspirações bibliográficas, têm se esquecido de dar crédito àquilo que vem da Geografia, principalmente da Geografia Humana. Bem chamou a atenção Sara Champion, em seu Dicionário de Termos e Técnicas em Arqueologia, a propósito da definição de análises locacionais, um dos baluartes da Arqueologia contemporânea: “ ... a set of techniques borrowed from geography.(grifo nosso) to study the relationships between sites and between a site and its environment.” Assim, as famosas nearest-neighbour analysis, network analysis, rank-size rule, central place theory e a site catch-ment analysis, tão a gosto de processualistas e pós-processualistas, têm seu ninho na Geografia.
É tempo de a Arqueologia Brasileira lançar mão de preceitos teóri-cos e metodológicos de uma Geografia in totum, incluindo preocupações
de ordem locacional e, mesmo, percorrendo trabalhos de geógrafos brasileiros da qualidade de Milton Santos, como vem ocorrendo com o não menos importante Ab’Sáber.
As respostas às questões definidas na introdução desta tese cremos, foram respondidas no decorrer do seu conteúdo. Imaginamos que não seria necessário pontuá-las novamente para afirmarmos o que, à vista do exposto, nos parece óbvio. Senão vejamos:
Sim, a interdisciplinaridade “Arqueologia / Geografia / Geomor-fologia / Geologia” é imprescindível para a consecução da inves-tigação arqueológica, especialmente aquela de caráter regional. De fato, não há como fazê-la sem os aportes do fator geo.
Sim, a colaboração dos fatores de ordem ambiental para a compre-ensão dos padrões de estabelecimento e para a caracterização sócio-econômica e cultural do povoamento indígena na bacia do Paranapanema tem sido muito bem marcada. Os resultados das investigações, expressos em inúmeras monografias acadê-micas e artigos especializados estão aí para comprovar.
Sim, os fatores geoambientais contribuem para a consolidação de esquemas de gestão do patrimônio arqueológico evidenciado na bacia do Paranapanema, principalmente quando se adotam os instrumentos proporcionados pelas geotecnologias.
Quanto à hipótese elaborada, ela se confirma. De fato, no ambien-te do Paranapanema paulista (como em qualquer outro), a Arqueologia Regional e seus possíveis desdobramentos inter e intra-sítios, não pode prescindir da parceria com a Geografia, a Geomorfologia e a Geologia em todas as suas etapas operacionais, sob risco da verificação de lacunas e lapsos irreparáveis, frente às necessárias intervenções no registro ar-queológico. Os fatores de ordem geoambiental (aqui entendidos o meio ambiente físico-biótico e sócio-econômico) constituem os alicerces para a compreensão e o mapeamento das características sócio-econômicas e culturais das populações indígenas, contribuindo expressivamente para os esquemas de manejo e gestão do patrimônio arqueológico delas herdado.
135
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
Cremos também ter alcançado o objetivo geral proposto no iní-cio do trabalho, pois conseguimos ressaltar o grau de significância das possibilidades de relações disciplinares entre a Arqueologia, a Geografia, a Geomorfologia e a Geologia, a partir da definição de uma entidade de-nominada “fator geo”, tendo como enfoque as pesquisas arqueológicas realizadas no trecho paulista da bacia do Rio Paranapanema. O mesmo pode ser afirmado com relação aos objetivos específicos:
Definimos o “fator geo” e sua importância no conteúdo da disciplina arqueológica e seu planejamento.
Pudemos avaliar a aplicação do fator geo na prática da arque-ologia rotineira, focalizando o quadro geral das ocupações de caçadores-coletores e horticultores pré-coloniais e de contato na bacia do Paranapanema paulista.
Pudemos avaliar a aplicação do fator geo nas práticas de resgate arqueológico, a partir de estudo de caso da bacia do Parana-panema paulista.
E, finalmente, pudemos avaliar a contribuição do fator geo nos esquemas de gestão do patrimônio arqueológico, com exemplos da arqueologia paulista.
** ** **
Neste ponto, seria interessante avaliarmos os impactos do Projeto Paranapanema em três vertentes passíveis de avaliação: a primeira se refere aos especialistas, a segunda aos nossos alunos e a terceira à co-munidade regional não especializada.
Impactos.junto.aos.especialistas
Na nossa posição, estes comentários serão, sempre, unilaterais. Comecemos pelo vizinho mais próximo, ou seja, a bacia do Paranapa-
nema paranaense, onde Igor Chmyz vem desenvolvendo, desde meados dos anos 60, pesquisas ao estilo prOnapa. Certamente, duas escolas absolutamente diferentes se confrontam de modo pacífico em ambas as margens. Uma areolar, de caráter extensivo, preocupada em estabelecer seqüências crono-culturais a partir de intervenções mínimas, enfatizando abordagens de superfície: esta, salvo melhor juízo, tem sido a arqueologia da margem paranaense.
A arqueologia paulista foi, em princípio, pontual, de caráter intra-sítio, preocupada em estabelecer seqüências crono-espaciais a partir de intervenções exaustivas, enfatizando abordagens por superfícies amplas na escala do sítio. Com base na experiência acumulada, partiu para abordagens de caráter regional, de fundamentação ambiental. Seria possível a acolhida bilateral de dados obtidos de maneiras tão diferen-tes? Diríamos que, da nossa parte, de início não houve problema, em função da ignorância total a respeito daquilo que se fazia do lado de lá. A partir do momento que sentimos necessidade de expandir propostas, enfrentamos o problema, tentando descobrir algumas “chaves de con-versão”. Difícil, mas não impossível. Assim,, conseguimos estabelecer bilateralmente modos de traduzir dados de lá para cá e daqui para lá. O caso aldeias / núcleos de solo antropogênico / sítios-habitação talvez seja aquele que melhor ilustre este caso. Hoje é possível trabalharmos com certa tranqüilidade os dados provenientes de ambas as margens, con-forme pôde ser observado no capítulo 3.
No caso dos demais vizinhos, a situação demonstra ser um pouco diferente, em face de realidades institucionais (os arqueólogos são da mesma USP). Com a Arqueologia do Ribeira, as relações são, hoje, de complementaridade, apesar de uma fase inicial bastante diferenciada onde, no nosso entender, as pesquisas de lá funcionavam com uma base teórica filiada à escola processual, com práticas de campo que mais se aproximavam da escola Evans. A Arqueologia do Tietê não tem demonstrado ultimamente uma organização regional. As pesquisas leva-das a efeito na bacia inferior sempre tiveram uma conotação prOnapa. No trecho médio, iniciou-se no final dos anos 70, um projeto regional, envolvendo a contravertente do Paranapanema, na região de Guareí, bastante semelhante àquilo que se fazia no Projeto Paranapanema. Hoje, a tendência é promover a integração das pesquisas do Tietê médio com as do Paranapanema, sob os auspícios da Arqueologia da Paisagem.
136
José Luiz de Morais
No que se refere às demais regiões, desde a atuação de Pallestrini, as idéias oriundas do Paranapanema têm sido exportadas e aceitas em vários estados brasileiros. Sítios do Piauí, como o Aldeia da Queimada Nova, do Litoral do Rio de Janeiro, como os sambaquis do Forte e de Camboinhas, bem como outras investigações regionais realizadas em Goiás e no Triângulo Mineiro, inspiraram-se naquilo que se fazia no Para-napanema paulista. Convém destacar que, nos anos 80, implantou-se no Paraguai o Projeto Leroi-Gourhan, nos mesmos moldes do Paranapanema de Luciana Pallestrini.
Impactos.junto.aos.alunos
O impacto entre os alunos (hoje pesquisadores) tem sido muito marcante, posto que, neste caso, complementam-se duas ações: o de-senvolvimento do projeto per se e as atividades de pós-graduação. Deste modo, os alunos têm funcionado como agentes multiplicadores daquilo que se faz em termos de Arqueologia no Projeto Paranapanema. Isso ocorre desde a época de Luciana Pallestrini, que formou arqueólogos das mais diversas partes do Brasil (Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina). Hoje, podemos afirmar que há equipes regionais bas-tante consolidadas, atuando no Estado de Goiás (Universidade Federal de Goiás), no Estado de Mato Grosso do Sul (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Universidade Católica Dom Bosco) e no próprio Estado de São Paulo, junto à unesp de Presidente Prudente.
Impactos.junto.à.comunidade
Este assunto já foi ventilado anteriormente. Convém completá-lo, todavia. Há ações envolvendo a comunidade nos municípios de Campina do Monte Alegre, Angatuba e Piraju, especialmente neste último. Lá a Uni-versidade de São Paulo mantém, desde 1970, o Centro Regional de Pesquisas Arqueológicas Mario Neme, que, além de manter mostra permanente do acervo arqueológico do Paranapanema, funciona como apoio logístico às operações de campo. O projeto tem sido muito atuante com relação aos movimentos locais em prol do meio ambiente. Convém salientar
o caso da Usina Hidrelétrica Piraju, que teve a sua primeira alternativa descartada por motivos de ordem ambiental que envolviam a supressão de trecho do canal e a destruição de remanescentes de sítios arqueoló-gicos importantes, como o Sítio Camargo, o mais antigo do Município de Piraju, discutido no capítulo 3 desta tese.
O.futuro.do.fator.geo.no.Paranapanema
As perspectivas do fator geo continuam em alta no âmbito do Projeto Paranapanema. Recentemente, foi proposto e aprovado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo um projeto que se fundamenta na linha de pesquisa “Arqueologia da Paisagem”, abrangendo os cenários do Paranapanema paulista, da pré-história ao ciclo do café. Desse modo, o fator geo será exercitado por mais algum tempo, na busca de novos matizes, tentando consolidar-se cada vez mais a partir das investidas no âmbito das geotecnologias. Encerramos este trabalho com seu fluxograma de inserção na arquitetura do prOjpar.
Projeto
“arqueOlOgia da paisagem: cenas dO paranapanema paulista
(da pré-história aO ciclO dO café)”
identidade principal:
(subprograma)
5dis — Processos Interdisciplinares
(linha de pesquisa)
52 — Arqueologia da Paisagem
137
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
enfOques:
(linhas de pesquisa)
11 — Caçadores-Coletores
12 — Horticultores
13 — Sociedade Nacional
supOrtes:
(linhas de pesquisa)
21 — Estudos da Paisagem
22 — Ordenamento do Território
23 — Patrimônio Edificado
51 — Geoarqueologia
53 — Etnoarqueologia
instrumentOs:
(linhas de pesquisa)
41 — Regulamentação Edilícia e Ambiental
55 — Arqueometria
61 — Gerenciamento de Banco de Dados
62 — Mapeamento Automatizado
71 — Museus de Cidade
ANEXOS
Em seguida, a título de complementação e para melhor enten-dimento de alguns assuntos ventilados nesta tese, são apresentadas al-gumas normas componentes dos “Protocolos do Paranapanema”, Volume
1 — Arqueologia.
140
José Luiz de Morais
sistema de siglagem dOs sítiOs arqueOlógicOs dO PrOjPar
O sistema de siglagem dos sítios arqueológicos do Projeto Parana-panema admite duas versões:
Uma simplificada, que tem por base as coordenadas plano-retangulares do ponto central de cada sítio, conhecidas como coordenadas UTM (estas coordenadas, presentes nas cartas de grande e média escalas, formam um quadriculado relacionado à Projeção Universal Transversa de Mercator, daí o nome UTM).
Outra completa, que inclui, adicionalmente, parâmetros da organização regional do Projeto (municípios, regiões, mesor-regiões, microrregiões e microbaciais hidrográficas).
sObre O sistema utm
O sistema UTM surgiu em 1947, com a finalidade de determinar as coordenadas retangulares nas cartas militares em todo o mundo (Oliveira, 1988; Santos, 1989). No caso, a Terra foi dividida em 60 fusos de seis graus de longitude cada (numerados de 1 a 60), iniciando no antemeridiano de Greenwich (180o), seguindo de oeste para leste. Em latitude, os fusos são limitados pelos paralelos 80oS e 84oN, divididos em faixas paralelas de 4o de latitude. Cada faixa forma uma zona iden-tificada por letras. Tanto os fusos como as zonas determinam o sistema de referência da Carta Internacional do Mundo e, conseqüentemente, a cartografia produzida no Brasil.
A origem das medidas lineares do quadriculado é o cruzamento do meridiano central de cada fuso com o Equador. Convencionou-se atribuir arbitrariamente os seguintes valores: para o meridiano central, 500.000 m (quinhentos mil metros), determinando distâncias crescentes no sentido oeste-leste; para o Equador, 10.000.000, determinando distâncias
decrescentes para o sul. Ou seja, as coordenadas de origem são 500.000 metros na direção leste de cada fuso e 10.000.000 de metros na direção norte. Assim, para se determinar a longitude local, basta adicionar aos 500.000 metros, a distância do ponto em relação ao meridiano central. O mesmo ocorre com relação às medidas em latitude, quando o valor atribuído ao Equador (10.000.000 de metros) decresce paulatinamente em direção ao sul.
A bacia do Rio Paranapanema é abrangida por dois fusos. O fuso oriental (entre 42oW e 48oW), de número 23, tem como meridiano central o de 45oW, incluindo apenas um pequeno trecho do seu extremo leste. O fuso ocidental (entre 48oW e 54oW), de número 22, abrange a maior parte da bacia, tendo como meridiano central o de 51oW. As zonas também são duas: a setentrional, delimitada pelos paralelos 20oS e 24oS, é identificada pela letra F e a meridional, delimitada pelos paralelos 24oS e 28oS, pela letra G.
siglagem dOs sítiOs arqueOlógicOs
A maior parte dos projetos de arqueologia brasileira tem adotado o sistema PRONAPA para a siglagem de sítios arqueológicos. Em que pese o mérito da iniciativa, de grande valia nos anos 60, sua prática tem demonstrado as deficiências da norma então criada. As lacunas ocorrem por dois motivos principais:
A base cartográfica adotada (folhas da Carta do Brasil ao Milio-nésimo, base para a elaboração dos mapas estaduais quadricu-lados) se tornou insuficiente para suportar o crescente volume de informações decorrentes dos levantamentos. Além do que, em face da escala pequena da base cartográfica, muitos sítios situados junto às divisas das quadrículas (AS, PI, QR, etc), acabaram sendo localizados de modo impreciso.
a numeração complementar (AS1, 2, 3 ...) demonstrou ser um grande problema pois, com o passar do tempo, perdeu-se totalmente o controle da seqüência.
141
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
Os avanços havidos na cartografia brasileira não justificam mais uma siglagem que tenha por base uma escala inadequada. A existência de normas internacionais de localização de pontos sobre a superfície do planeta — no caso, o sistema UTM — é, de fato, o parâmetro ideal para um sistema de siglagem de sítios arqueológicos. E o prOjpar adotou esta iniciativa há quase uma década.
A versão simplificada da siglagem de sítios arqueológicos do Projeto Paranapanema, mais comumente utilizada, define-se como um sistema alfanumérico, formado por dois segmentos: o primeiro, alfabé-tico, compõe-se de três letras retiradas do nome do sítio; o segundo, numérico, é composto por seis números relativos às coordenadas UTM (leste e norte). Como exemplo, coloca-se o caso do Sítio Camargo, situado no Município de Piraju, cujas coordenadas UTM são:
Sítio Camargo E = 662.727,0 m N = 7.438.520,0 m
A norma cartográfica determina que apenas três dígitos de cada coordenada — E e N — comporão o código de localização. Nas folhas topográficas da Carta do Brasil, estes números aparecem grafados com fontes maiores (como neste exemplo). Assim, a sigla alfanumérica do Sítio Camargo é:
CMG627385
A versão completa (utilizada apenas em ocasiões específicas), inclui componentes da organização regional do prOjpar. Retomando o exemplo do Sítio Camargo, sua sigla completa é:
PRJ-CMG627385-1.17.171-171.5
Onde: PRJ é a sigla do Município de Piraju; CMG627385 é a sigla simplificada do sítio arqueológico; 1.17.171 são, respectivamente, a identificação codificada da Região 1 — Bacia Superior, Mesorregião 17 — Alto Paranapanema de Piraju, Microrregião 171 — Piraju Nor-te; finalmente, 171.5 é a identificação da Microbacia Hidrográfica do Ribeirão das Araras.
vantagens dO sistema de siglagem baseadO nas utms:
A repetição de siglas é praticamente impossível. É pouquís-simo provável que haja duas situações exatamente idênticas envolvendo dois ou mais fusos. Na remota possibilidade, o componente alfabético determinaria a diferença.
O componente alfabético permite fácil memória da identifica-ção codificada.
Nunca haverá a preocupação com quaisquer seqüências nu-méricas.
É possível ressiglar todos os sítios anteriormente siglados no sistema PRONAPA, desde que se consiga a sua exata posição em foto aérea ou em carta de escala grande.
** ** **
OrganizaçãO territOrial dO PrOjPar
A área geográfica nuclear do prOjpar corresponde à bacia do Rio Paranapanema no Estado de São Paulo, delimitada pelos seus divisores de águas. Em caráter não prioritário, as ações do prOjpar poderão alcançar espaços externos aos limites da bacia hidrográfica, dentro do território brasileiro.
As ações do prOjpar têm por base dois tipos de organização territorial, quais sejam:
micrObacias HidrOgrÁficas
A microbacia hidrográfica, pelas suas características intrínsecas, relaciona-se com as ações de natureza ambiental físico-biótica. Assim, as microbacias hidrográficas são consideradas as menores
142
José Luiz de Morais
unidades para o levantamento arqueológico. As microbacias hidrográficas definidas para a área territorial do prOjpar estão elencadas na Norma 10. Além disso, também funcionam como base para a organização das unidades territoriais do projeto — regiões, mesorregiões e microrregiões.
municíPiOs
Os municípios constituem a base político-administrativa para as ações ligadas ao gerenciamento e à proteção do patrimônio arqueológico, conforme preceitua a Constituição Federal de 1988, em sistema de federalismo cooperativo. Assim, uma das metas permanentes do prOjpar é organizar mapas municipais de inventário arqueológico, que constituem instrumentos im-prescindíveis para o gerenciamento do patrimônio. Os mapas municipais contemplam, além dos sítios arqueológicos, o pa-trimônio histórico-cultural edificado da área urbana de cada município.
a bacia dO riO ParanaPanema em númerOs
O Paranapanema, afluente do Rio Paraná pela margem esquerda, nasce na Serra dos Agudos Grandes, denominação local da Serra de Paranapiacaba, no Município de Capão Bonito, Estado de São Paulo. No que se refere às províncias geomorfológicas do território paulista, percorre o Planalto Atlântico, a Depressão Periferérica, as Cuestas Ba-sálticas e o Planalto Ocidental.
bacia dO riO paranapanema
Áreas e perímetrOs
1 — Áreas km2 %Estado do Paraná 58.193 55
Estado de São Paulo 47.635 45
Total 105.828 100
2 — Perímetros km
Estado do Paraná 1.315
Estado de São Paulo 1.253
Linha Divisória Interestadual 729
Curva envolvente 2.568
bacia dO riO paranapanema
dadOs planialtimétricOs dOs principais riOs
rios compr (km) alt (nasc) alt (foz) amp (m) decl (m/km)Paranapanema 986 903 238 665 0,67
Taquari 270 1.042 533 509 1,88
Pardo 263 990 380 610 2,32
Itararé 261 1.015 398 617 2,33
Itapetininga/Turvo 238 1.131 581 550 2,31
Apiaí-Guaçu 220 1.038 575 443 2,01
Verde 185 1.170 433 737 3,99
Turvo 167 679 393 286 1,71
Capivara 148 654 292 362 2,44
Pirapozinho 102 478 262 216 2,11
Almas 94 972 599 373 3,96
Novo 91 677 379 298 3,30
Pari 88 701 345 357 4,06
Guareí 83 750 558 192 2,31
143
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
bacia dO riO paranapanema
segmentOs da curva de cOnfrOntaçãO cOm as bacias delimitantes
bacias hidrográficas kmvertentes do Rio Paraná 154bacia do Santo Anastácio 87bacia do Peixe 248bacia do Aguapeí 13bacia do Tietê 421bacia do Ribeira de Iguape 330divisa interestadual 729
unidades regiOnais dO PrOjPar
A área geográfica nuclear do projeto admite uma organização regional em três níveis: regiões, mesorregiões e microrregiões.
No caso do primeiro nível — regiões — a base adotada foram as “Unidades Hidrográficas de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo”, definidas pela Secretaria de Estado de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras e mapeadas pelo Intituto Geográfico e Cartográfico, órgão da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento. Na bacia do Paranapanema, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, considera o Alto Paranapanema (Unidade 14), o Médio Paranapanema (Unidade 17) e o Pontal do Paranapanema (Unidade 22), incluindo aí as vertentes do Rio Paraná da região do Pontal (a bacia do Rio Santo Anastácio e outras menores), que foram excluídas da área do prOjpar.
No caso das mesorregiões e das microrregiões, na ausência de reco-mendações governamentais, prevaleceram critérios do próprio projeto.
unidade regiOnal 1 — bacia superiOr
Compreende 7 mesorregiões e 24 microrregiões.
mesOrregiãO 11 jrm — jurumirim
microrregiões:111 — Jurumirim Norte112 — Santo Inácio113 — Alto Guareí114 — Médio Guareí115 — Santa Helena116 — Jurumirim Sul
mesOrregiãO 12 itP — itaPetininga
microrregiões:121 — Alto Itapetininga122 — Médio Itapetininga123 — Baixo Itapetininga
mesOrregiãO 13 aPr — altO ParanaPanema
microrregiões:131 — Alto Paranapanema de São Miguel132 — Guapiara-Turvo133 — Alto Paranapanema Superior134 — Alto Paranapanema Inferior
mesOrregiãO 14 aPi — aPiaí
microrregiões:141 — Apiaí-Mirim142 — Apiaí-Guaçu143 — Baixo Apiaí
144
José Luiz de Morais
mesOrregiãO 15 tqi — taquari
microrregiões:151 — Alto Taquari152 — Médio Taquari153 — Baixo Taquari
mesOrregiãO 16 itr — itararé
microrregiões:161 — Alto Itararé162 — Médio Itararé163 — Médio Verde de Itaporanga
mesOrregiãO 17 aPP — altO ParanaPanema de Piraju
microrregiões:171 — Piraju Norte172 — Piraju Sul
unidade regiOnal 2 — bacia média
Compreende 4 mesorregiões e 14 microrregiões.
mesOrregiãO 21 Ptv — PardO-turvO
microrregiões:211 — Alambari212 — Alto Turvo213 — Rio Claro214 — Pardo-Novo215 — Médio Pardo
mesOrregiãO 22 mPO — médiO ParanaPanema de OurinHOs
microrregiões:221 — Campos Novos222 — Ourinhos Norte223 — Salto Grande224 — Ourinhos Sul
mesOrregiãO 23 cns — canOas
microrregiões:231 — Canoas Norte232 — Canoas Sul
mesOrregiãO 24 cPl — caPivara leste
microrregiões:241 — Capivari-São Mateus242 — Alto Capivara de Paraguaçu243 — Iepê-Florínia
unidade regiOnal 3 — bacia inferiOr
Compreende 3 mesorregiões e 6 microrregiões.
mesOrregiãO 31 cPO — caPivara Oeste
microrregiões:311 — Laranja Doce-Jaguaretê312 — Anhumas
mesOrregiãO 32 tqr — taquaruçu
microrregiões:321 — Tombo-Rebojo322 — Pirapozinho
145
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
mesOrregiãO 33 ppr — pOntal dO paranapanema
microrregiões:331 — Rosana Leste332 — Rosana Oeste
** ** **
classes de cOnservaçãO de sítiOs arqueOlógicOs dO ParanaPanema
classe 1
Admissível à época do primeiro registro e das vistorias subseqüentes, na ausência de qualquer tipo de intervenção (exceto a amarração geográfica); classificável em quaisquer das
variantes, de A a G
classe 2
Admissível após as intervenções, quando as estruturas foram suficiente-mente resgatadas (sendo recomponíveis por meio dos registros
documentais) e mantidos blocos-testemunhos classificáveis em quaisquer das variantes, de A a G
a - sítiO Praticamente intactO
As estruturas arqueológicas enterradas estão pouco perturbadas por eventos naturais ou antrópicos. A camada superficial apresenta algum retrabalhamento de pequena intensidade.
b - sítiO bem cOnservadO
A maior parte das estruturas arqueológicas está inalterada, espe-cialmente nas camadas subsuperficiais. A camada superficial tende a apresentar grau mais elevado de perturbação.
c - sítiO razOavelmente cOnservadO
Parte das estruturas arqueológicas é passível de recuperação in situ. A camada superficial apresenta alterações significativas. As cama-das mais profundas são afetadas por sulcos de erosão, por bioturbação ou pela ação de implementos agrícolas ou outras atividades antrópicas.
d - sítiO mal cOnservadO
Está muito perturbado por retrabalhamento local de caráter natu-ral ou antrópico. A perturbação intensa compromete, em grau elevado, tanto a estratificação, como a distribuição horizontal das estruturas e os demais registros arqueológicos.
e - sítiO destruídO
Está totalmente alterado por intenso retrabalhamento natural ou antrópico. A estratificação, a distribuição horizontal das estruturas e os demais registros arqueológicos estão irremediavelmente comprometi-dos. O sítio é diagnosticado apenas pela presença caótica de evidências arqueológicas ou por informações fidedignas.
f - sítiO de faixa da dePleçãO de reservatóriOs
Está sujeito a um tipo especial de perturbação artificialmente induzida pela ação antrópica: nos reservatórios das usinas hidrelétri-cas, a oscilação da lâmina d’água e o embate das ondas afetam os sítios arqueológicos alcançados pelo soerguimento da lâmina d’água. Deslo-camentos e rearranjos de materiais ocorrem em função do movimento turbilhonar das águas e pelo solapamento de barrancos, que provoca desmoronamentos. Por outro lado, ocorre o soterramento de objetos arqueológicos pela deposição de sedimentos, principalmente nos braços assoreados, correspondentes aos vales alagados dos afluentes menores.
146
José Luiz de Morais
g - sítiO submersO
Também está sujeito a um tipo de perturbação induzida pela ação antrópica: não se sabe exatamente o que acontecerá com os sítios arqueológicos afogados pelo enchimento de reservatórios de usinas hidrelétricas. Correntes de fundo, ao erodir o novo leito, dispersarão evidências arqueológicas, redepositando-as em outros locais. Ou, ain-da, o assoreamento poderá soterrá-las sob espessas camadas de lama, conservando-as, de certa forma. A avaliação deste tipo de impacto é, hoje, altamente especulativa.
** ** **
PlanO cartOgrÁficO dO PrOjetO ParanaPanema
O Plano Cartográfico do ProjPar rege a execução da cartografia sistemática da área abrangida pelo projeto. Tem por meta a representação do território por meio de mapas, cartas e plantas elaborados de forma seletiva e progressiva, segundo os objetivos e prioridades conjunturais e de acordo com os padrões cartográficos vigentes. É dotado de flexibili-dade tal que permite incorporar levantamentos cartográficos destinados a atender necessidades supervenientes, alinhando-se perfeitamente às diretrizes do programa.
glOssÁriO
Cartografia: a Associação Cartográfica Internacional define cartografia como o “conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas, baseado nos resultados de observações diretas ou de análise de documentação, visando a elaboração e preparação de cartas, projetos e outras formas de expressão, bem como a sua utilização.”
Mapa, carta, folha: mapa é “a representação cartográfica dos fenô-menos naturais e humanos de uma área, dentro de um sistema de projeção e em determinada escala, de modo a traduzir, com fidelidade, suas formas e
dimensões.” Muitas vezes, a representação de uma área, em função de sua extensão ou da escala adotada, requer a utilização de peças cartográficas articuladas. Ao conjunto dá-se o nome de carta e as peças, individual-mente, são denominadas folhas.
Carta básica é a peça cartográfica plana, convencional, de grande precisão, completa, da qual derivam outros mapas, cartas ou plantas. A um conjunto de cartas básicas dá-se o nome de base cartográfica.
Planta é a representação cartográfica plana de uma área de peque-na extensão, onde a escala é constante pelo fato de não se considerar a curvatura do planeta. Desenhada em escala grande, apresenta infor-mações detalhadas.
Mapa topográfico: também conhecido por planialtimétrico, inclui acidentes naturais e antrópicos, curvas de nível e cotas altimétricas.
Mapa planimétrico: inclui acidentes geográficos em geral, sem menções altimétricas.
Escala é a relação existente entre as medidas do mapa e as corres-pondentes dimensões do terreno. As escalas grandes têm denominador menor (como nas plantas); os mapas regionais, estaduais ou nacionais, com informações genéricas, têm escala pequena.
Legenda e convenções: legenda é o conjunto de informações que acompanha mapas e cartas (título, explicação de símbolos, articulação, etc). Convenções são símbolos utilizados para representar eventos de qualquer natureza.
Nomenclatura é o sistema de referência de mapas, plantas e folhas, por meio de codificação alfanumérica.
tiPOlOgia cartOgrÁfica
A cartografia sistemática do prOjpar prevê a elaboração das se-guintes categorias de representações:
cartOgrafia geral
Confeccionada em escala igual ou inferior a 1:100.000, propor-ciona informações genéricas a respeito do território do projeto e de sua
147
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
E=55
6.0
00
m
E=55
5.90
0m
E=55
5.8
00
m
E=55
5.70
0m
E=55
5.6
00
m
E=55
5.50
0m
N=7.462.600m
N=7.462.800m
N=7.462.900m
N=7.463.000m
N=7.462.500m
345
345
340
350
338
343
339344
343
343
338
340
342
344
344
N=7.462.700m
pr
ojp
ar
univ
ers
ida
de
de
sã
o p
aul
o
u s
p
museu de arqueologia e etnologia m a e
SÍTIO ARQUEOLÓGICO CMT-ARR558627 ARARUVA
projpar projeto paranapanemacenários da ocupação humanae meio ambiente da bacia do
rio paranapanema
ProjPar
plano cartográfico do projeto paranapanema
fontes: IBGE, IGC-SP, CESP e Prefeituras Municipais
responsável técnico-científico:
JOSÉ LUIZ DE MORAIS
Prof.Dr. / MAE-USP
PROGRAMA DE RESGATE ARQUEOLÓGICO DO
COMPLEXO CANOASCONTRATO USP-CESP
PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DOMUNICÍPIO DE CÂNDIDO MOTA - SP
SÍTIO ARQUEOLÓGICOARR558627
ARARUVA
desenho # ARR1sigla da coleção ARR
LEGISLAÇÃO CORRELATA:Constituição da República
arts. 20, X / 23, III / 24,VII / 30,IX Decreto-Lei 25, de 30/11/37,
Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional
Lei Federal 3.924, de 26/7/61,Dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos
Resolução Conama 1, de 23/1/86
depósitos legais: IPHAN-CONDEPHAAT
rancho 1
rancho 2
rancho 3
4
3
1
6
7 c2
85
c4
c5
c1c2
c6
9
2c3
núcleos desolo antropogênico
Locações GPS
agricultura temporária(feijão)capoeira
capoeira
brejo
brejo
Rio Paranapanema
SÍTIO ARQUEOLÓGICO ARARUVACMT-ARR558627-2.23.232-232.5
E = 0.555.800 m; N = 7.462.750 m
CLASSIFICAÇÃO GENÉRICA
sítio de horticultores indígenas anteriores a 1500 dC, produtores de cerâmica.
FILIAÇÃO ARQUEO-ETNOLÓGICA
Tradição Guarani
PARÂMETROS LOCACIONAIS ASSOCIADOS
vertente, barreiro, afloramento de rocha
CLASSE DE TIPOLOGIA TOPOMORFOLÓGICA
sítio em colina
CLASSE DE CONSERVAÇÃO
3IAdmissível para a ambiência local, após as intervervenções
(classe 3), quando as estruturas foram plenamente resgatadas(recomponíveis por meio dos registros documentais); classificá-
vel na variável I (ambiência local drasticamente alterada).
INSERÇÃO REGIONAL NO PROJPAR
Região 2 Bacia MédiaMesorregião 23 Canoas
Microrregião 232 Canoas SulMicrobacia 232.5 Ribeirão da Queixada
INTERVENÇÕES
escavações em 1998, J.L.Morais
escala numérica 1:2.000 (na digitalização original, formato A2)
metros
0 20 40 60 80 100
digitalização original, 1999
REMANESCENTES DE ASSENTAMENTOGUARANI COM OBJETOS ISOLADOS
DA ETNIA KAINGANG
São Paulo
SITUAÇÃO DO SÍTIO NO ESTADO
Base Cartográfica: IGC-SP,fotointerpretação e levantamentos de campo
Sigla da Coleção: ARR
148
José Luiz de Morais
organização regional. Pode apresentar cotas altimétricas, rede hidrográ-fica principal, sedes e limites municipais, sítios arqueológicos isolados ou agrupamento de sítios. Caracteriza-se pela apresentação de mapas de reconhecimento ou de síntese. A base cartográfica é aquela editada pelo IBGE ou pelo IGC-SP (folhas da Carta do Brasil, escala 1:250.000, folhas da Carta do Brasil ao Milionésimo ou Mapa do Estado de São Paulo, também ao milionésimo).
cartOgrafia temÁtica
Refere-se, preferencialmente, às sínteses dos processo interdiscipli-nares. As escalas adotadas poderão ser grandes ou pequenas, conforme o nível de detalhamento desejado. A base cartográfica é aquela editada pelo IPT-SP, pelo convênio DAEE-SP/UNESP e pelo DG-USP (Mapa Geológico do Estado de São Paulo, escala 1:500.000, Mapa Geomorfológi-co do Estado de São Paulo, 1:1.000.000, Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo, escala 1:500.000, Carta Geológica do Estado de São Paulo, 1:250.000). Levantamentos aerofotogramétricos em diversas escalas também constituem documentos básicos para a elaboração da cartografia temática do prOjpar.
cartOgrafia esPecial
Geralmente é representada em escala de semi-detalhe (1:50.000 a 1:10.000) ou de detalhe (maiores que 1:10.000). As bases cartográ-ficas são produzidas pelo IBGE e pelo IGC-SP (Carta do Brasil, escala 1:50.000, Plano Cartográfico do Estado de São Paulo, escala 1:10.000). Overlays obtidos por fotointerpretação e levantamentos expeditos de campo também são considerados no âmbito da cartografia especial. Neste conjunto são elaborados mapas municipais de cadastro arqueológico, microbacias hidrográficas, sistemas microrregionais, plantas de sítios arqueológicos e locais de interesse paisagístico, etc.
sistema de referência
O sistema de referência dos produtos cartográficos do prOjpar concretiza-se pela adoção de uma nomenclatura adequada ao seu escopo,
presa à aquisição seletiva e progressiva de dados refletindo, portanto, o andamento das pesquisas. É organizado a partir da combinações de letras e números, de modo a facilitar o reconhecimento do produto e da área objeto do mapeamento. Por exemplo: Desenho # E-CMT1, onde E significa a condição de cartografia especial, CMT significa o Município de Cândido Mota, e 1 determinada seqüência numérica.
fOrmas de aPresentaçãO
Há algum tempo, a cartografia do prOjpar era elaborada, no seu formato original, em filmes de poliéster para desenho técnico, com es-pessura de 75 microns, disponíveis no mercado, compondo um conjunto analógico multiplicado por heliografia ou xerografia. Atualmente, com a disseminação da computação gráfica, a produção cartográfica do projeto volta-se para a implementação total da cartografia digital, com o uso de hardwares e softwares adequados.
A adoção de mecanismos apropriados está convergindo para a implantação de um SIG/GIS — Sistema de Informações Geográficas/Geo-graphic Information Systems no âmbito do programa. De fato, a tecnologia do gerenciamento das informações geográficas está emergindo como um poderoso meio para manipular grande número de dados geográficos, faci-litando a solução de problemas de gestão do meio ambiente físico-biótico e sócio-econômico-cultural. Assim, as diretrizes do prOjpar convergem para a aquisição de recursos humanos e tecnológicos que permitam consolidar a cartografia digital de forma cada vez mais crescente.
Neste contexto, a mídia impressa tem opções de formatação baseadas nas convenções da ABNT — Associação Brasileira de Nor-mas Técnicas, que estabelece formatos de papéis para uso oficial (de A4 a A0). Formatos compostos, obtidos pela conjugação de formatos iguais ou consecutivos serão eventualmente utilizados. Como, muitas vezes, o formato ideal da prancha impressa se distancia das opções for-necidas pela ABNT, será adotada solução em que prevalece o caráter da flexibilidade: assim, a proporção da área mapeada determinará a formatação da prancha.
149
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
Fontes bibliográficas: Oliveira, C. Dicionário Cartográfico. Rio de Janeiro, Fundação IBEGE, 1983; Santos, M.C.S.R. Manual de Funda-mentos Cartográficos e Diretrizes Gerais para a Elaboração de Mapas Geológicos, Geomorfológicos e Geotécnicos. São Paulo, IPT-SP, 1989; Antenucci, J.C., Brown, K, Croswell, P.L., Kevany, M.J. Geographic Information Systems. New York, Chapman & Hall, 1991.
** ** **
PROJETO PARANAPANEMA
INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO
PROJETO “RESGATE ARQUEOLÓGICO DO COMPLEXO CANOAS”
Estado de São Paulo
ações:ANGICO ANG544644
ANGICO-BRANCO ANB540636
UTM E= 0.554.013 m
UTM N=7.463.623 m
município: Cândido Mota
módulo: Queixada
categoria: sítio arqueológico
estado de conservação: classe 2E
tipo de intervenção: GPS; LP; CO
filiação: guarani
ANGICO-DO-CAMPO ANC436679 UTM E= 0.543.600 m UTM N=7.467.900 m município: Florínia módulo: (jusante) categoria: local de interesse arqueológico estado de conservação: classe 2F tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani ANGICO-VERMELHO ANV554634 UTM E= 0.555.454 m UTM N=7.463.443 m município: Cândido Mota módulo: Queixada categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2E tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani ARARUVA ARR558627 UTM E= 0.555.847 m UTM N=7.462.771 m município: Cândido Mota módulo: Queixada categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2G tipo de intervenção: GPS; LP; SO; CO; CC filiação: guarani
150
José Luiz de Morais
ARATICUM ART523650
UTM E= 0.552.367 m UTM N=7.465.013 m
município: Cândido Mota
módulo: Queixada
categoria: sítio arqueológico
estado de conservação: classe 2D
tipo de intervenção: GPS; LP; SO; CO; CC
filiação: guarani
ARNICA ANI407654
UTM E= 0.540.750 m
UTM N=7.465.490 m
município: Florínia
módulo: (jusante)
categoria: local de interesse arqueológico
estado de conservação: classe 2F
tipo de intervenção: GPS; LP; CO
filiação: guarani
BACUPARI BCP412707
UTM E= 0.541.200 m
UTM N=7.470.750 m
município: Florínia
módulo: (jusante)
categoria: local de interesse arqueológico
estado de conservação: classe 2F
tipo de intervenção: GPS; LP; CO
ARBATIMÃO BTM557631 UTM E= 0.555.731 m UTM N=7.463.146 m município: Cândido Mota módulo: Queixada categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2G tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani BARUTI BRT359686 UTM E= 0.535.900 m UTM N=7.468.650 m município: Florínia módulo: (jusante) categoria: local de interesse arqueológico estado de conservação: classe 2F tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani BREJAÚVA BJV588629 UTM E= 0.558.868 m UTM N=7.462.968 m município: Cândido Mota módulo: Barranco Vermelho categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2G tipo de intervenção: GPS; LP; SO; CO; CC filiação: guarani
151
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
CABREÚVA-PARDA CBP671644 UTM E= 0.567.192 m UTM N=7.464.408 m município: Palmital módulo: Pari categoria: local de interesse arqueológico estado de conservação: classe 2E tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani CAJARANA CJR591634 UTM E= 0.559.175 m UTM N=7.463.467 m município: Cândido Mota módulo: Barranco Vermelho categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2G tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani CAMBUÍ CAB794634 UTM E= 0.579.474 m UTM N=7.463.408 m município: Palmital módulo: Três Ilhas I categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2E tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani
CANAFÍSTULA CNF669642 UTM E= 0.566.953 m UTM N=7.464.284 m município: Palmital módulo: Pari categoria: local de interesse arqueológico estado de conservação: classe 2G tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani CARAGUATÁ CRG520637 UTM E= 0.552.000 m UTM N=7.463.750 m município: Cândido Mota módulo: Queixada categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2G tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani CAROBA CRB923648 UTM E= 0.592.375 m UTM N=7.464.880 m município: Ibirarema módulo: Cedro categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2F tipo de intervenção: GPS; LP filiação: guarani
152
José Luiz de Morais
CEDRO CDR526636 UTM E= 0.592.636 m UTM N=7.463.638 m município: Cândido Mota módulo: Queixada categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2G tipo de intervenção: GPS; LP; SO; CO filiação: guarani CEDRO-VERMELHO CDV925656 UTM E= 0.592.500 m UTM N=7.465.600 m município: Ibirarema módulo: Cedro categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2E tipo de intervenção: GPS; LP filiação: guarani CHIMBUVA CHI918642 UTM E= 0.591.820 m UTM N=7.464.290 m município: Ibirarema módulo: Cedro categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2F tipo de intervenção: GPS; LP filiação: guarani
COPAÍBA CPB540316 UTM E= 0.554.082 m UTM N=7.463.161 m município: Cândido Mota módulo: Queixada categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2G tipo de intervenção: GPS; LP; SO; CO; CC filiação: guarani CURUPIÁ CRP584686 UTM E= 0.558.400 m UTM N=7.468.650 m município: Cândido Mota módulo: Queixada categoria: local de interesse arqueológico estado de conservação: classe 2E tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani EMBAÚBA EBB597662 UTM E= 0.559.720 m UTM N=7.466.200 m município: Cândido Mota módulo: Barranco Vermelho categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2G tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: humaitá
153
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
FIGUEIRA FIG505625 UTM E= 0.550.500 m UTM N=7.462.550 m município: Cândido Mota módulo: Queixada categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2G tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani FIGUEIRA-BRANCA FIB800624 UTM E= 0.580.011 m UTM N=7.462.475 m município: Palmital módulo: Três Ilhas I categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2G tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani GUADACAIO GUD502507 UTM E= 0.550.230 m UTM N=7.465.070 m município: Cândido Mota módulo: Queixada categoria: local de interesse arqueológico estado de conservação: classe 2E tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani
GUARANTÃ GRT801628 UTM E= 0.580.188 m UTM N=7.462.835 m município: Palmital módulo: Três Ilhas I categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2E tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani GUATAMBU GTB573633 UTM E= 0.557.336 m UTM N=7.463.310 m município: Cândido Mota módulo: Barranco Vermelho categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2G tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani IMBIRA IMB026663 UTM E= 0.602.680 m UTM N=7.466.340 m município: Salto Grande módulo: Bilota categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2E tipo de intervenção: GPS; LP filiação: guarani
154
José Luiz de Morais
IMBUIA IBU794634 UTM E= 0.566.998 m UTM N=7.464.039 m município: Palmital módulo: Pari categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2G tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani INDAIÁ IND956649 UTM E= 0.595.611 m UTM N=7.464.916 m município: Ibirarema módulo: Cedro categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2E tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani IPÊ IPE767635 UTM E= 0.576.746 m UTM N=7.463.544 m município: Palmital módulo: Três Ilhas I categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2E tipo de intervenção: GPS; LP; SO; CO; CC filiação: guarani
JACARATIÁ JCT027671 UTM E= 0.602.700 m UTM N=7.467.150 m município: Salto Grande módulo: Bilota categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2G tipo de intervenção: GPS; LP filiação: guarani JAPECANGA JAP929653 UTM E= 0.592.920 m UTM N=7.465.330 m município: Ibirarema módulo: Cedro categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2E tipo de intervenção: GPS; LP filiação: humaitá JATAÍ JAT025668 UTM E= 0.602.550 m UTM N=7.466.880 m município: Salto Grande módulo: Bilota categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2E tipo de intervenção: GPS; LP filiação: humaitá
155
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
JAUVÁ JVA027665 UTM E= 0.602.700 m UTM N=7.466.590 m município: Salto Grande módulo: Bilota categoria: local de ocorrência arqueológica estado de conservação: classe 2E tipo de intervenção: GPS; LP filiação: guarani JEQUITIBÁ JEQ030562 UTM E= 0.603.097 m UTM N=7.465.620 m município: Salto Grande módulo: Bilota categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2D tipo de intervenção: GPS; LP; SO; PE; DE; CO; CC filiação: guarani JERIVÁ JER427663 UTM E= 0.542.700 m UTM N=7.466.350 m município: Florínia módulo: (jusante) categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2G tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani
MAROLO MAR492649 UTM E= 0.549.250 m UTM N=7.464.920 m município: Cândido Mota módulo: Queixada categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2E tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani MATA DA FIGUEIRA MFI441294 UTM E= 0.554.413 m UTM N=7.462.948 m município: Cândido Mota módulo: Queixada categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2G tipo de intervenção: GPS; LP; SO; CO; CC filiação: guarani PAJEÚ PAJ500647 UTM E= 0.550.000 m UTM N=7.464.780 m município: Cândido Mota módulo: Queixada categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2E tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani
156
José Luiz de Morais
PAU D’ALHO PDA882634 UTM E= 0.588.261 m UTM N=7.463.422 m município: Palmital módulo: Pau d’Alho categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2F tipo de intervenção: GPS; LP; CO; filiação: guarani PEROBA PER489637 UTM E= 0.548.973 m UTM N=7.463.745 m município: Cândido Mota módulo: Queixada categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2E tipo de intervenção: GPS; LP; SO; PE; DE; CO; CC filiação: guarani histórico PEROBA-ROSA PES975675 UTM E= 0.597.508 m UTM N=7.467.560 m município: Salto Grande módulo: Vermelho categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2E tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani
SAGUARAJI SAG202620 UTM E= 0.520.250 m UTM N=7.462.050 m município: Florínia módulo: (jusante) categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2F tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani SARÃ SAR798626 UTM E= 0.579.836 m UTM N=7.462.618 m município: Palmital módulo: Três Ilhas I categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2G tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani TAIÚVA TUV827619 UTM E= 0.582.793 m UTM N=7.461.970 m município: Palmital módulo: Três Ilhas II categoria: sítio arqueológico estado de conservação: classe 2G tipo de intervenção: GPS; LP; CO filiação: guarani
158
José Luiz de Morais
AB’SÁBER, A. N.
1969a Formações quaternárias em áreas de reverso de cuesta em São Paulo. Geomorfologia, São Paulo, IG-USP, 16.
1969b Os baixos chapadões do oeste paulista. Geomorfologia, São Paulo, IG-USP, 17.
1989 Páleo-Climas Quaternários e Pré-História da América Tropical. Dédalo, São Paulo, publicação avulsa, 9-25.
AFONSO, M.C.
1995 Caçadores-coletores pré-históricos: estudo geoarqueológico da bacia do Ribeirão do Queimador (médio Tietê, SP). Tese de Doutorado, São Paulo, FFLCH-USP.
AMBLER, J.R.
1984 The Use and Abuse of Predective Modeling in Cultural Resource Management. American Antiquity, 4(2):140-146.
ANDREFSKY, Jr, W.
1994 The Geological Occurrence of Lithic Material and Stone Tool Pro-duction Strategies. Geoarchaeology: An International Journal, 9(5):375-391.
ALLEN, K.M.S.; S.W. GREEN; E.B.W. ZUBROW
1990 Interpreting Space: GIS and Archaeology. Taylor & Francis, New York.
ANTENUCCI, J.C.; K. BROWN; P.L. CROSWELL; M.J. KEVANI
1991 Geographic Information System. Chapman & Hall, New York.
APPOLONI, C.R.
1997 Estudo de cerâmica arqueológica do Paraná por técnicas nucleares não destrutivas. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, Supl., 2:135-149
ASTON, M.
1989 Interpreting the Landscape. Landscape Archaeology in Local Studies. B.T.Batisford, London.
BERTRAND, G.
1972 Paisagem e Geografia Física Global. Esboço Metodológico. Caderno de Ciências da Terra do IG-USP, 13.
BEZERRA DE MENESES, U.T.1988 Arqueologia de Salvamento no Brasil: uma avaliação crítica. Conferên-cia apresentada no Seminário sobre Salvamento Arqueológico. Rio de Janeiro, SPHAN.
BINFORD, L.R.1988 In Pursuit of the Past. Decoding the Archaeological Record. Thames & Hudson, New York.
BOARD, C.1975 Os mapas como modelos. In CHORLEY, R.J.; P. HAGGETT Modelos sócio-econômicos em geografia, p.139-184. Edusp, São Paulo.
BROCHADO, J.P.1984 An Ecological Model of the Spread of Pottery and Agriculture in Eastern South America. Ph.D. Thesis, Urbana-Champain, University of Illinois. 1989 A Expansão dos Tupi e da Cerâmica da Tradição Policrômica Ama-zônica. Dédalo, 27:65-82, São Paulo.
BRUNO, M.C.O.1995 Musealização da Arqueologia: um estudo de modelos para o Projeto Paranapanema. Tese de Doutorado, São Paulo, FFLCH-USP.
BUTZER, K.W.1971 Environment and Archaeology: An Ecological Approach to Prehistory. Aldine, Chicago. 1982 Archaeology as Human Ecology. Cambridge University Press, Cam-bridge.
CALDARELLI, C.E.1996 Licenciamento Ambiental e os Bens Integrantes do Patrimônio Cul-tural Brasileiro. Atas do Simpósio sobre Política Nacional do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, p. 175-177. UCG, Goiânia.
CALDARELLI, S.B.1983 Lições da Pedra. Aspectos da ocupação pré-histórica no médio vale do Rio Tietê. Tese de Doutorado, São Paulo, FFLCH-USP.1988 Aldeias Tupiguarani no Vale do Rio Moji-Guaçu, Estado de São Paulo. Revista de Pré-História, São Paulo, 5:37-124.1996 Avaliação dos impactos de grandes empreendimentos sobre a base de
159
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
recursos arqueológicos da nação: conceitos e aplicações. Atas do Simpósio sobre Política Nacional do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, p. 57-65. UCG, Goiânia.
CAMERON, C.M; S.A. TOMKA (eds.)
1996 Abandonment of Settlements and Regions. Ethnoarchaeological and Archaeological Approaches. Cambridge University Press, Cambridge.
CAMILLI, E.L.
1988 Interpreting Long-Term Land-Use Patterns from Archeological Landscapes. American Archeology, 7(1):57-65.
CARR, Ch.
1984 The Nature of Organization of Intrasite Archaeological Records and Spatial Analytic Approaches to their Investigation. Advances in Ar-chaeological Method and Theory, 7:103-222, Academic Press, New York.
CHANG, K.C
1972 Settlements Patterns in Archaeology. Addison-Wesley Module in Anthropology, 24.
CHMYZ, I.
1967 Dados parciais sobre a arqueologia do vale do Paranapanema. Prona-pa 1, Resultados Preliminares do Primeiro Ano (1965/1966). Publicações Avulsas 6, Belém, Museu Paraense Emilio Goeldi.
1972 Pesquisas paleetnográficas efetuadas no vale do Rio Paranapanema, Paraná, São Paulo. Tese de Doutorado, São Paulo, FFLCH-USP.
1982 Estado Atual das Pesquisas Arqueológicas na Margem Esquerda do Rio Paraná (Projeto Arqueológico Itaipu). Estudos Brasileiros:8(13):5-39, Curitiba.
CHORLEY, R.J.; P. HAGGETT
1974 Modelos integrados em geografia. Edusp, São Paulo.
1975a Modelos sócio-econômicos em geografia. Edusp, São Paulo.
1975b Modelos físicos e de informação em geografia. Edusp, São Paulo.
CLARK, A.
1996 Seeing Beneath the Soil. Prospecting Methods in Archaeology. B.T.Batisford Ltd, London.
CLARKE, D.L.
1977 Spatial Archaeology. Academic Press, London.
CLASTRES, H.
1978 Terra Sem Mal. O profetismo tupi-guarani. Brasiliense, São Paulo.
CREMEENS, D.L.; J.P. HART; R.G. DARMODY
1998 Complex Pedostratigraphy of a Terrace Fragipan at the Memorial Park Site, Central Pennsylvania. Geoarchaeology: An International Journal, 13(4):339-359.
CUSTÓDIO, H.B.
1996 As Normas de Proteção ao Patrimônio Cultural Brasileiro em face da Constituição Federal e das Normas Ambientais. Atas do Simpósio sobre Política Nacional do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, p. 162-172. UCG, Goiânia.
De BLASIS, P.A.D.
1996 Bairro da Serra em Três Tempos: arqueologia, uso do espaço regional e continuidade cultural no médio vale do Ribeira. Tese de Doutorado, São Paulo, FFLCH-USP.
DELPOUX, M.
1974 Ecossistema e Paisgagem. Métodos em Questão, São Paulo, IG-USP, 7.
DOLLFUS, O.
1982 O Espaço Geográfico. Difel, São Paulo.
DUNNEL, R.C.
1988 Low-Density Archeological Records from Plowed Surfaces: Some Preliminary Considerations. American Archeology, 7(1):29-37.
DUNNEL, R.C.; W.S. DANCEY
1983 The Siteless Survey: A Regional Scale Data Collection Strategy. Advances in Archaeological Method and Theory, 6:267-285.
ELBERT, J.I.
1988 Modeling Human Systems and “Predicting”the Archeological Re-cord: The Unavoidable Relationship of Theory and Method. American Archeology, 7(1):3-7.
160
José Luiz de Morais
FÁCCIO, N.B.1992 Estudo do Sítio Alvim no contexto do Projeto Paranapanema. Dissertação de Mestrado, São Paulo, FFLCH-USP.1998 Arqueologia dos Cenários da Ocupações Horticultoras da Capivara, Baixo Paranapanema. Tese de Doutorado, São Paulo, FFLCH-USP.
FISH, S.K.; S.A. KOWALEWSKI (eds.)1990 The Archaeology of Regions. A Case for Full-Coverage Survey. Smith-sonian Institution Press, Washington.
FOWLER, D.D.1982 Cultural Resources Management. Advances In Archaeological Method and Theory, 5:1-49.
FUNARI, P.P.A1997 Archaeology, History, and Historical Archaeology in South America. International Journal of Historical Archaeology, 1(3):189-206.
GALICIA (Xunta de)1990 Arqueología del Paisaje. El área Bocelo-Furelos entre los tiempos paleolíticos y medievales. Dirección Xeral do Patrimonio Histórico e Documental, La Coruña.
GALLAY, A.1986 L’Archéologie Demain. Belfond, Paris.
GLADFELTER, B.G.1977 Geoarchaeology: The Geomorphologist and Archaeology. American Antiquity, 42(4):519-538.1981 Developments and Directions in Geoarchaeology. In SCHIFFER, M.B (ed.) Advances in Archaeological Method and Theory, 4:343-364. Academic Press, New York.
GORENFLO, L.J.; N. GALE1990 Mapping Regional Settlement in Information Space. Journal of An-thrpological Archaeology, 9:240-274.
GOUDIE, A.S.1987 Geography and Archaeology: the growth of a relationship. In WAG-STAFF, J.M. (ed.) Landscape & Culture. Geographical & Archaeological Perspectives, p.11-25. Basil Blackwel, New York.
GUCCIONE, M.J.; M.C.SIERZCHULA; R.H. LAFFERTY III1998 Site Preservation along an Active Meandering and Avulsing River: The Red River, Arkansas. Geoarchaeology: An International Journal, 13(5):475-500.
HASSAN, F.A.1979 Geoarchaeology: the Geologist and Archaeology. American Antiquity, 44(2):267-270.
HAYDEN, B. (ed)1979 Lithic Use-Wear Analysis. Academic Press, New York.
HIGGS, E.S & C. VITA-FINZI1972 Prehistoric economies: a territorial approach. In HIGGS, E.S. (ed.) Papers in Economic Prehistory, p. 27-36, Cambridge University Press, Cambridge.
HODDER, I.1976 Spatial Analysis in Archaeology. Cambridge University Press, Cam-bridge.1991 Reading the past. Current approaches to interpretation in archaeology. Cambridge University Press, Cambridge.
HODDER, I.; M. SHANKS; A. ALEXANDRI; V. BUCHLI; J. CARMAN; J. LAST; G. LUCAS (eds.)
1995 Interpreting Archaeology. Finding Meaning in the Past. Routledge, London.
HOELTZ, S.E.1997 Artesãos e artefatos pré-históricos do Vale do Rio Pardo. Edunisc, Santa Cruz do Sul.
HOLLIDAY, V.T (ed.)1992 Soils in Archaeology. Landscape Evolution and Human Occupation. Smithsonian Institution Press, Washington.
JOHNSON, G.A.1977 Aspects of Regional Analysis in Archaeology. Annual Review of Anthropology, 6:479-508.
JORGE, V.O. 1987 Projectar o Passado — Ensaios sobre Arqueologia e Pré-História. Editorial Presença, Lisboa.
161
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
KASHIMOTO, E.M.1992 Geoarqueologia do Baixo Paranapanema: uma perspectiva geográfica de estabecimentos humanos pré-históricos. Dissertação de Mestrado, São Paulo, FFLCH-USP.1998 Variáveis ambientais e arqueologia do Alto Paraná. Tese de Doutorado, São Paulo, FFLCH-USP.
KELLY, R.L.1988 Hunter-Gatherer Land Use and Regional Geomorphology: Implica-tions for Archeological Survey. American Archeology, 7(1):49-56.
KERN, A.A.1981 Le précéramique du Plateau Sud-Brésilien. Tese de Doutorado, Paris, EHESS.1989 Variáveis para a definição e a caracterização das tradições pré-cerâmicas Humaitá e Umbu. Arquivos do Museu de História Natural, Belo Horizoante, 6/7:99-107.
KIPNIS, R.1996 O uso de modelos preditivos para diagnosticar recursos arqueológicos em áreas a serem afetadas por empreendimentos de impacto ambiental. Atas do Simpósio sobre Política Nacional do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, p. 34-40. UCG, Goiânia.
KUEHN, D.D.1993 Landforms and Archaeological Site Location in the Little Missouri Badlands: A New Look at Some Well-Established Patterns. Geoarchaeol-ogy: An International Journal, 8(4):313-332.
KUNZLI, R.1991 Análise das gravuras do Sítio Narandiba. Tese de Doutorado, São Paulo, FFLCH-USP.
LAMBERT, J.B.1997 Traces of the Past. Unraveling the Secrets of Archaeology through Chem-istry. Helix Books, Reading, Massachusetts.
LARSON, M.L.1992 Site Formation Processes in the Cody and Early Plains Archaic Levels at the Ladie Creek Site, Wyoming. Geoarchaeology: An International Journal, 7(2):103-120.
LEACH, E.K.1992 On the Definition of Geoarchaeology. Geoarchaeology: An Interna-tional Journal, 7(5):405-417.
LEROI-GOURHAN, A.1964 Le geste et la parole — 1 Technique et langage. Éditions Albin Michel, Paris.1965 Le geste et la parole — 2 La mémoire et les rythmes. Éditions Albin Michel, Paris.1971 Évolution et techniques — 1 L’homme et la matière. Éditions Albin Michel, Paris.1973 Évolution et techniques — 2 Milieu et techniques. Éditions Albin Mi-chel, Paris.1983 Le fil du temps. Librairie Arthème Fayard, Paris.
MARANCA, S.1969 Dados preliminares sobre a arqueologia do Estado de São Paulo. Pronapa 3 (1967/1968), Publicações Avulsas, 13:133-142, Belém, Museu Paraense Emilio Goeldi.
MAXIMINO, E.P.B.1985 Sítios com pederneiras no vale médio do Rio Tietê: um estudo de arqueo-logia histórica. Dissertação de Mestrado, São Paulo, FFLCH-USP.
McFAUL, M.; K.L. TRAUGH; G.D. SMITH; W. DOERING; C.J. ZIER1994 Geoarchaeologic Analysis of South Platte River Terraces: Kersey, Colorado. Geoarchaeology: An International Journal, 9(5):345-374.
MELLO ARAÚJO, A.G.1994 Levantamento arqueológico da área do alto Taquari, Estado de São Paulo, com ênfase na abordagem dos sítios líticos. Dissertação de Mestrado, São Paulo, FFLCH-USP.
MENTZ RIBEIRO, P.A.1979 Indústrias líticas do Sul do Brasil: tentativa de esquematização. Veritas, 24:471-492.1990 A Tradição Umbu no Sul do Brasil. Anais da V Reunião Científica da Sociedade de Arqueologia Brasileira. Revista do CEPA, 17(20):129-151, Santa Cruz do Sul.
162
José Luiz de Morais
MEIRELLES, H.L.
1992 Direito Administrativo Brasileiro. Malheiros Editores, São Paulo.
MONTUFO, A.M.
1997 The Use of Satelitte Imagery and Digital Image Processing in Land-scape Archaeology. A Case Study from the Island of Mallorca, Spain. Geoarchaeology: An International Journal, 12(1):71-85.
MOOERS, H.D.; C.A. DOBBS
1993 Holocene Landscape Evolution and Development of Models for Human Interaction with the Environment: Na Example from the Mis-sissipi Headwaters Region. Geoarchaeology: An International Journal, 8(6):475-492.
MORAIS, J.L. de
1981 Projeto Paranapanema: avaliação e perspectivas. Revista de Antro-pologia, São Paulo, 24:141-151.
1981/82 Os artefatos em sílex de Santa Bárbara d’Oeste, SP. Revista do Museu Paulista, São Paulo, 28:101-114.
1983 A utilização dos afloramentos litológicos pelo homem pré-histórico brasileiro: análise do tratamento da matéria-prima. Coleção Museu Paulista, Arqueologia, São Paulo, volume 7.
1987 A propósito do estudo das indústrias líticas. Revista do Museu Paulista, São Paulo, 32:155-184.
1988 Estudo do Sítio Camargo 2 — Piraju, SP: ensaio tecnotipológi-co de sua indústria lítica. Revista do Museu Paulista, São Paulo, 33:41-128.
1990 Arqueologia de Salvamento no Estado de São Paulo. Dédalo, São Paulo, 28:195-205.
1995 Salvamento arqueológico na área de influência da PCH Moji-Guaçu. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, 5:77-98.
NOELLI, F.S.
1993 Sem tehoha’ não há teko’ (Em busca de um modelo etnoarqueológico da aldeia e da subsistência guarani e sua aplicação a uma área de domínio no delta do Rio Jacuí, RS). Dissertação de Mestrado, Porto Alegre.
NEUSTUPNÝ, E.
1993 Archaeological Method. Cambridge University Press, Cambridge.
PALLESTRINI, L.1970 Fouilles dans trois sites brésiliens du Haut Paranapanema. Tese de Dou-torado, Paris, EHESS.1975 Interpretação de estruturas arqueológicas em sítios do Estado de São Paulo. Coleção Museu Paulista, Série de Arqueologia, 1.
PÄRSSINEN, M.H.; J.S. SALO; M.E. RÄSÄNEN1996 River Floodplain Relocations and the Abandonment of Aborigine Settlements in the Upper Amazon Basin: A Historical Case Study of San Miguel de Cunibos at the Middle Ucayali River. Geoarchaeology: An International Journal, 11(4):345-359.
PIEDADE, S.C.1994 Tratamento de Restos Esqueletais Humanos do Sítio Salto Grande do Paranapanema — Salto Grande, SP. Relatório Técnico, São Paulo.PLOG, S.; F. PLOG; W. WAIT1978 Decision Making in Modern Surveys. In: Schiffer, M.B. (ed) Ad-vances in Archaeological Method and Theory, 1:383-421. Academic Press, New York.
RANDON, M.1991 A ciência face aos confins do conhecimento, in Brandão & Crema, O novo paradigma holístico. Summus Ed., 1991:39-47, São Paulo.
RAPP, G., JR.; CH. L. HILL1998 Geoarchaeology. The Earth-Science Approach to Archaeological Inter-pretation. Yale University Press, New Haven.
RATHJE, W.L.; M.B. SCHIFFER1982 Archeology. Harcourt Brace Javanovich, New York.
REDMAN, Ch.L.1973 Multistage Fieldwork and Analytical Techniques. American Antiquity, 38(1)61-791987 Surface collection, sampling and research design: a retrospective. American Antiquity, 52(2):249-265.
REDMAN, Ch.L.; P.J. WATSON 1970 Systematic, intensive surface collection. American Antiquity, 16(2):265-277.
163
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
RENFREW, C.
1976 Introduction. Archaeology and the Earth Sciences, in DAVIDSON, D.A.; M.L. SHACKLEY, Geoarchaeology. Earth Science and the Past. Duckworth, London.
RIBEIRO FRANCO, M. A.
1997 Desenho Ambiental. Uma Introdução à Arquitetura da Paisagem com o Paradigma Ecológico. Annablume/Fapesp, São Paulo.
RICK, J.W.
1976 Dowslope movement and archaeological intrasite spatial analysis. American Antiquity, 41(2):133-144.
ROBERTS, B.K.
1987 Landscape Archaeology. In WAGSTAFF, J.M. (ed.) Landscape & Culture. Geographical & Archaeological Perspectives, p.77-95. Basil Black-wel, New York.
ROCHEFORT, M.
1998 Redes e Sistemas. Ensinando sobre o urbano e a região. Hucitec, São Paulo.
ROSSIGNOL, J.; L.A. WANDSNIDER (ed.)
1992 Space, Time, and Archaeological Landscapes. Plenum Press, New York.
ROUGERIE, G.; N. BEROUTCHACHVILI
1991 Géossystèmes et Paysages. Bilan et Methode. Armand Colin, Paris.
SANTOS, M.
1985 Espaço & Método. Nobel, São Paulo.
1996 Por uma geografia nova. Hucitec, São Paulo.
SANTOS, M.; M. A. SOUZA (org.)
1986 O Espaço Interdisciplinar. Nobel, São Paulo.
SANTOS, M.; M. A. SOUZA; M. L. SILVEIRA (org.)
1994 Território: Globabalização e Fragmentação. Hucitec/Anpur, São Paulo.
SANTOS, R.M.G.
1996 Aspectos Jurídico-Processuais da Proteção ao Patrimônio Cultural Brasileiro. Atas do Simpósio sobre Política Nacional do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, p. 159-161. UCG, Goiânia.
SÃO PAULO (Província de)
1889 Reconhecimento geológico do Valle do Paranapanema. Boletim da Commissão Geográphica e Geológica da Província de São Paulo, 2.
1890 Considerações geográphicas e economicas sobre o Valle do Rio Paranapanema. Boletim da Commissão Geográphica e Geológica da Província de São Paulo, 4.
SCHIFFER, M.B.
1987 Formation processes of the archaeological record. University of New Mexico Press, Albuquerque.
SCHIFFER, M.B; A.P. SULIVAN; T.C. KLINGER
1978 The design of archaeological surveys. World Archaeology, 10(1):1-28.
SCHMIDT DIAS, A.
1994 Repensando a Tradição Umbu a partir de um estudo de caso. Dissertação de Mestrado, Porto Alegre, IFCH-PUCRS.
SCHMITZ, P.I.
1981 Industrias líticas en el sur de Brasil. Pesquisas, Antropologia, 32:107-130.
1984 Caçadores-Coletores da Pré-História do Brasil., Instituto Anchietano de Pesquisas, São Leopoldo.
1987 Prehistoric hunters and gatherers of Brazil. Journal of World Prehis-tory, 1(1):53-126.
SHACKLEY, M.
1981 Environmental Archaeology. George Allen & Unwin, London.
SHELLEY, Ph.H.
1993 A Geoarchaeological Approach to the Analysis of Secondary Lithic Deposits. Geoarchaeology: An International Journal, 8(1):59-72.
SILVA, R.C.P.
1996 Compatibilizando os instrumentos legais de preservação arqueológica no Brasil: o Decreto-Lei 25/37 e a Lei 3.924/61. Revista de Arqueologia, 9:9-23.
SOARES, A. L.
1997 Guarani. Organização Social e Arqueologia. Edipucrs, Porto Alegre.
164
José Luiz de Morais
SOTCHAVA, V.B.1977 O Estudo de Geossistemas. Métodos em Questão, São Paulo, IG-USP, 16.
STAFFORD, C.R.; D.S. LEIGH; D.L. ASCH1992 Prehistoric Settlement and Landscape Change on Alluvial Fans in the Upper Mississippi River Valley. Geoarchaeology: An International Journal, 7(4):287-314.
THOMAZ, R.C.C.1995 Arqueologia da influência jesuítica no baixo Paranapanema: estudo do Sítio Taquaruçu. Dissertação de Mestrado, São Paulo, FFLCH-USP.
TILLEY, C. (ed.)1993 Interpretative Archaeology. Berg, Providence/Oxford.
VILHENA-VIALOU, A.1980 Tecnotipologia das indústrias líticas do Sítio Almeida no seu quadro natu-ral, arqueo-etnológico e regional. Tese de Doutorado, São Paulo, FFLCH-USP.1984 Brito, o mais antigo sítio arqueológico do Paranapanema. Revista do Museu Paulista, São Paulo, 29:9-21.
WAGSTAFF, J.M. (ed.)1987 Landscape & Culture. Geographical & Archaeological Perspectives. Basil Blackwel, New York.1987 The New Archaeology and Geography. In WAGSTAFF, J.M. (ed.) Landscape & Culture. Geographical & Archaeological Perspectives, p.26-36. Basil Blackwel, New York.
WALKER, I.J.; J.R. DESLOGES; G.W. CRAWFORD; D.G. SMITH1997 Floodplain Formation Processes and Archaeological Implications at the Grand Banks Site, Lower Grand River, Southern, Ontario. Geoar-chaeology: An International Journal, 12(8):865-887.
WANDSNIDER, L.; E.L. CAMILLI1992 The Character of Surface Archaeological Deposits and its Influence on Survey Accuracy. Journal of Field Archaeology, 19:169-188.WATERS, M.R.1992 Principles of Geoarchaeology. A North American Perspective. The University of Arizona Press, Tucson.
1998 The Effect of Landscape and Hydrologic Variables on the Prehistoric Salado: Geoarchaeological Investigations in the Tonto Basin, Arizona. Geoarchaeology: An International Journal, 13(2):105-160.
WATERS, M.R.; D.D. KUEHN1996 The Geoarchaeology of Place: The Effect of Geological Processes on The Preservation and Interpretation of the Archaeological Record. American Antiquity, 61(3):483-497.
WEIL, P.1991 O novo paradigma holístico (ondas à procura do mar), in Brandão & Crema, O novo paradigma holístico. Summus Ed., 1991:14-38, São Paulo.
WILL, R.T.; J.A. CLARK1996 Stone Artifact Movement on Impoundment Shorelines: A Case Study from Maine. American Antiquity, 61(3):499-519.
YOFFEE, N.; A. SHERRATT (eds.)1997 Archaeological Theory: who sets de agenda? Cambridge University Press, Cambridge.Fontes Eletrônicas.luau — lancaster university archaeOlOgical unit
http://www.lanc.ac.ukLandscape Archaeology (last modified on 1996) Landscape Survey (last modified on 1996)The North West Wetlands Survey (NWWS) (last modified on 1996) r.newman @lancaster.ac.uk; [email protected] Archaeology — Survey Levels (last modified on 1996)Palaeobotanic Research (last modified on 1996)[email protected] Archaeology (last modified on 1996)[email protected]
university Of dundee http://www.lanc.ac.ukLandscape Archaeology (last modified on 1996) Landscape Survey (last modified on 1996)
165
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
The North West Wetlands Survey (NWWS) (last modified on 1996) r.newman @lancaster.ac.uk; [email protected] Archaeology — Survey Levels (last modified on 1996)Palaeobotanic Research (last modified on 1996)[email protected] Archaeology (last modified on 1996)[email protected]
us army — us army cOrps Of engineers
http://www.wex.army.milCultural Resource Management Support to Military Installations (projects
1-25) (last modified on ?)internet archaeOlOgy Office — university Of yOrk
http://ads.ahds.ac.ukArchaeologists Using GIS (last modified on 1996)[email protected]@antiquity.su.edu.augillings, m.; gOOdrick, g. Sensous and Reflexive GIS Exploring Visualisa-tion and VRML, text search, 1996
university Of texas
http://www.utexas.edu/depts/grgGIS in Archaeology (last modified on ?)[email protected]
cOrnell university
http://www.cornell.eduLaboratory in Landscape Archaeology (1997-98 course descriptions)Urban Archaeology (1997-98 course descriptions)
esri cOnservatiOn prOgram resOurces: archaeOlOgy & anthrOpOlOgy
http://www.esri.com/base/users/conservationSites of Interest for Mapping / GIS (last modified on 1997)
university Of chicagO, Oriental institute
http://www.oi.uchicago.edu
Upper Mesopotamia Landscape Project, 1992-93 Annual Report (revised: 1997)kvamme, k.l.
http://web.bu.edu/archaeology/www/faculty/kvamme/sieber.htmlLand-scape Archaeology in Western Colorado (1988-94)
university Of newcastle
http://.ncl.ac.uk/~narchae/Tyne-Solway Ancient Landscapes Initiative (Publications): “Landscape Ar-chaeology in Tynedale”, 102 pp, by Christopher Tolan-Smith. [email protected]
birnbaum, ch. a.http://www.oldhousejournal.com/notebook/npsbriefs/brief36.aspProtecting Cultural Landscapes: Planning, Treatment and Management of Historic Landscapes (brief)
universidade de santiagO de cOmpOstela
http://www-gtarpa.usc.esGrupo de Investigación en Arqueología del PaisageGrupo de Inventario y ProspecciónGrupo de Tecnologías de la Informació[email protected]
Resúmenes de las Comunicaciones del “First Annual Meeting de la European Association of Archaeologists”:1 — Landscape Archaeology Through Europe: Problems, Methods and Techniques(gennadii e. afanasiev, chairman)kOvalevskaya, v.b. Landscape Archaeology of Central Ciscaucasia (6th-12th Century a.D.) (Institute of Archaeology Ran, Moscow, Russia).gOjda, m. The Combination of Aerial and Ground Survey in Boheminan Land-scapes Studies (Institute of Archaeology, Prague, Czech Republic).cOntreras, f.; rOdríguez, i.; mOlina, f.; esquivel, j.a.; peña, j.a. Site, Ter-ritory and Archeological Information Systems (Universidad de Granada, Spain).mcadam, r. The Oxford-Aarhus Analytical Database Project: Trying do Publish Landscapes (Oxford Archaeological Unity, U.K.).
166
José Luiz de Morais
2 — New Approaches In Landscape Archaeology
(andrew fleming, chairman)
kuna, m. Why Are Archaeological Sites Where The Are? (Institute of Archaeol-ogy, Prague, Czech Republic).
maclade, j; picazO, m. Timing Space: temporalities and social reproduction in the archaeology of settlement (Mcdonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge, U.K.; Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain).
gramsch, a. Landscape: of making and seeing (Institue Für Ur Und Frühge-schichte, Berlin, Germany).
landin, d.c.; rOura, f.i. Take a Walk on the Wild Side: patterns of movements to explain patterns of hunting site locations (Universidade de Santiago de Com-postela; Servicios Tecnicos de Arqueoloxia, Conselleria de Cultura, Spain).
enamOradO, v.m. About Some Tugur on the Occidental Border (Tagr Al-Adnè) of Granada: space and population (Universidad de Málaga, Spain).
arteaga, O. Natural Process and Historical Process: Andalusian Coasts and Archaeology (Universidad de Sevilla, Spain).
3 — Environmental Archaeology
(pilar lópez, chairman)
dreslerOvÁ, d. Climatic Change and Human Response (Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic).
jäger, k.d. Archaeological Evidence of Holocene Climatic Oscillations in Central Europe (Martin Luther Universität, Halle, Germany).
bakels, c. Growing Grain for Others: how to detect surplus production (Universiy of Leiden, The Netherlands).
lebedeva, e. Ancient Agriculture in the Eastern Europe: the problems of the inves-tigation (Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia)
antipana, y.y.; maslOv, s.p. The Plains of Crimea in the Border Ancient and Middle Ages: man, environment, economy (Russian Academy of Sciences;
Moscow State Universty, Russia)
mOrales, a; hernÁndez, f; rOselló, e. The Changing Faunal Exploitation Fal-lacy: a case study from Cueva de Nerja (S. Spain; 14,000 - 5,000 B.P.) (Universidad Autónoma de Madrid, Spain).
4 — Archaeology and the Changing of Rural Landscapes(peter fOwler, chairman)mercer, r.j. The Revolution of Rural Landscape in Scotland and an Archaeologi-cal Response to Current Developments (Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland, U.K.)darvill, t.; fultOn, a.; king, n. The Monuments at Risk Survey in England (Bournemouth University, U.K.).fairclOugh, g. Through the Hedge Backwards: heritage manegement and shaping the English Rural Landscape (English Heritage, U.K.).gOnzalO, m.a.; cerrillO y martin de cÁceres, e.; brias, j.m. Rural Landscape in the Ambroz Valley (Cáceres) from a Diachronic Perspective of its Archaeological Heritage. Analysis of the problem of its management and conservation (Universidad de Extremadura, Cáceres, Spain).kOvalev, a. Russian Reforms and the Fate of Archaeological Monuments (Russian Institute for Cultural and Natural Heritage, St. Petersburg, Russia).de la tOrre, n.z.; mata, f.h.; lOpez, m.c. The Manor of Otiñar, Jaén (1834-1975): a hereditary vindication of recent past (Delegación Provincial de Cultura, Jaén, Spain).kaland, s.h.h. Heathlands — The Atlantic Landscape of Europe: an exemple from Norway (University of Bergen, Norway).
5 — Buildin Landscapes: Spatial Regularities in Material Culture(rObin bOast, chairman)hOltOrf, c. Megaliths and their Receptions in the Ladscape (University of Walles, Lampeter, U.K.).bOyd, b. Breaking Down the Nature — Culture Dichotomy in Prehistory: a view from the Levant (Corpus Christ College, Cambridge, U.K.).bujedO, n.t.; vargas, m.j.l. Cogotas I Excise Ceramic and its Environmental Context (Spain).fernandes, i.c.; martínez, p.p. From the Landscape to Potery: spatial regularities in material culture (Universidad de Santiago, Spain).bergh, s. To Be Seen or not To Be Seen. That is the Difference: a regional study of monuments, visibility and landscape in Cõil Irra, Co. Sligo, Ireland (Riksan-tikvarieambetet, Stockolm, Sweden).
167
Perspectivas Geoambientais da Arqueologia do Paranapanema Paulista
6 — The Archaeology of Wealth, Prestige and Value: Landscape and Material Culture(alasdair whittle, chairman)chapman, j. The Significance of Time-Value and Place-Value in European Prehis-tory (University of Newcastle, U.K.).müller, j. The Accumulation of Prestige in a Late Neolithic Landscape: Central Germany and the adaptation of ritual and technological innovations (Freie Uni-versität, Berlin, Germany).pydyn, a. The Universal and Relatie Character of Social, Economic and Symbolic Value: examples from the study of cross-cultural exchange in Central Europe in the transition from the Late Bronze Age to the Early Iron Age (Oxford University, U.K.)palavestra, a. Princely Tombs as Landmarks in the Central Balkans Iron Age (Institute for Balkans Studies, Belgrade, Yugoslavia).mOrillO, s.r. The Bow and the Arrow in Greece During the Late Bronze Age and the Early Iron Age (Universidade de Vigo, Ourense, Spain).lapatin, k.d.s. Faith, Renewal and Power: Chryselephantine Statuary in Classical Greece (Boston University, U.S.A.)rieckhOff, s. Jewellery, Wealth, Power: social structures in Early Bronze Age cemeteries in South Germany (Universität Leipzig, Germany).
7 — Urban Archaeology(virgíliO hipólitO cOrreia, chairman)nixOn, t.j.p. Evaluating London (Museum of London, Archaeology Service, UK).OnOratO, a.m. The Urban Archaeological Project in Grenade (Universidad de Granada, Spain)miraj, l. Urban Archaeology in Albania: the case of Durrës as a particular one (Museum of Dyrrah, Albania).martins, m.; delgadO, m. Discovering Bracara Augusta: an urban archaeologica project (University of Braga, Portugal).
krause, g. Problems and Chances of Urban Archaeology in Germany (Kultur-Und Stadhistorisches Museum, Duisburg, Germany).tallón-nietO, m.j.; puentes e.r. Minimising Risks in Urban Archaeology: urban planing and archaeological practice (Dirección Xeral de Patrimonio Histórico, Consellería de Cultura, Santiago, Spain).
avni, g. Developing Jerusalem — Rescue Escavations, Conservation, and Preserva-tion of Archaeological Sites to the Public (Israel Antiquities Authority, Jerusalem, Israel).
* * *
Obras de referência
CHAMPION, S.1980 A Dictionary of Terms and Techniques in Archaeology. Phaidon Press, London.
GIL, A. C.1996 Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Editora Atlas, São Paulo.
GIOVANNETTI, G.; M. LACERDA1996 Dicionário de Geografia. Melhoramentos, São Paulo.
GUERRA, A.T.; A.J.T.GUERRA1997 Novo Dicionário Geológico-Geomorfológico. Bertrand Brasil, Rio de Janeiro.
OLIVEIRA, C. de1983 Dicionário Cartográfico. Fundação IBGE, Rio de Janeiro.
TEIXEIRA, A.L.T.; A. CHRISTOFOLETTI1997 Sistemas de Informação Geográfica. Dicionário Ilustrado. Hucitec, São Paulo.
ISB
N 9
78
-85
-60
96
7-4
1-4
9788560967414
José Luiz de Morais é professor do quadro docente da Universidade de São Paulo desde 1978. Geógrafo de formação, é Mestre (1978), Doutor (1980) e Livre-Docente (1999) em Arqueologia Brasileira. É Diretor do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde ocupa o cargo de Professor Titular, Professor Honorário do Instituto Politécnico de Tomar - Portugal (2007) e Professor Colaborador da Escola Superior de Advocacia da OAB-SP (2006); foi Professor Visitante na Universidad Católica de Asunción, Paraguai (1984-85). Presidiu a SAB - Sociedade de Arqueologia Brasileira entre 2001 e 2003.
Começou a carreira de arqueólogo investigando temas relacionados com a produção de pedra lascada na Pré-História da bacia do rio Paranapanema. Hoje, sua área de atuação transita entre a Arqueologia da Paisagem e a Gestão do Patrimônio Arqueo-lógico. É coordenador e consultor técnico de vários projetos de Arqueologia Preventiva relacionados com o licenciamento ambiental, especialmente de usinas hidrelétricas e linhas de transmissão.
Credenciado no Programa de Pós-Graduação de Arqueologia da USP desde 1982, já orientou mais de trinta mestres e doutores. Na administração pública foi Secretário Municipal de Planejamento e Meio Ambiente de Piraju, sua cidade natal, onde idealizou e implantou o Sistema Municipal de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural.
Preside a Associação ProjPar, organiza-ção não governamental instituída a partir das bases acadêmicas e técnico-científicas do Projeto Paranapanema, programa regional de investigações arqueológicas e ambientais que atua nos municípios paulistas da bacia do rio Paranapanema.
Este livro reproduz o trabalho produzido
por José Luiz de Morais em 1999, para obtenção
do grau de Livre-docente, pela Universidade de
São Paulo, USP.