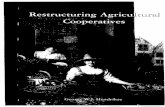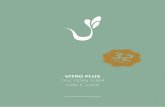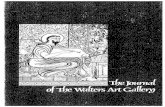Changes in ICT Policy and its Effects on the Sector: a Comparison of Brazil and China Since 1990.
Transcript of Changes in ICT Policy and its Effects on the Sector: a Comparison of Brazil and China Since 1990.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE ECONOMIA
ARTHUR VILAR GRASSATTO
MUDANÇAS NA POLÍTICA DE INFORMÁTICA E SEUS IMPACTOS SOBRE O
DESEMPENHO SETORIAL: UMA COMPARAÇÃO DE BRASIL E CHINA A
PARTIR DA DÉCADA DE 1990.
Uberlândia
2014
ARTHUR VILAR GRASSATTO
Matrícula 10921RIT028
MUDANÇAS NA POLÍTICA DE INFORMÁTICA E SEUS IMPACTOS SOBRE O
DESEMPENHO SETORIAL: UMA COMPARAÇÃO DE BRASIL E CHINA A PARTIR
DA DÉCADA DE 1990.
Monografia apresentada ao Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia, como requisito à obtenção do título de Bacharel em Relações Internacionais, sob a orientação do Prof. Dr. Bruno Benzaquen Perosa.
UBERLÂNDIA
2014
MUDANÇAS NA POLÍTICA DE INFORMÁTICA E SEUS IMPACTOS SOBRE O
DESEMPENHO SETORIAL: UMA COMPARAÇÃO DE BRASIL E CHINA A PARTIR
DA DÉCADA DE 1990.
ARTHUR VILAR GRASSATTO
Matrícula 10921RIT028
UBERLÂNDIA, 21 DE AGOSTO DE 2014
BANCA EXAMINADORA
............................................................
Prof. Dr. Bruno Benzaquen Perosa
(Orientador – IEUFU)
............................................................
Prof. Dr. Filipe Almeida do Prado Mendonça
(IEUFU)
............................................................
Prof. Dr. Niemeyer Almeida Filho
(IEUFU)
RESUMO
O complexo eletroeletrônico permeia um grande número de setores industriais, fazendo dele importante ponto de ação de políticas industriais de incentivo ao desenvolvimento econômico. Nesse sentido, as políticas públicas adotadas no setor de informática têm papel fundamental para o desenvolvimento econômico nacional. No Brasil, observou-se uma transformação nessas políticas em 1990, quando foi aprovado um novo marco institucional. Partindo de preceitos teóricos das escolas neoclássica, neoliberal e neoschumpeteriana, o presente estudo se apoiou em análise da bibliografia e de dados secundários para analisar a eficiência das políticas brasileiras de incentivo ao setor frente as medidas adotadas pela China, discutindo o papel da ação do Estado na economia. A pesquisa conclui que as políticas adotadas na China foram mais eficientes que as implementadas pelo Brasil ao criar uma cultura econômica direcionada à inovação capaz de elevar a posição da indústria nacional na cadeia global de valor.
Palavras-Chave: Política de Informática; Lei de Informática; Complexo Industrial Eletrônico.
ABSTRACT
The electronics industrial complex permeates a large number of industries, making it an important point of action of industrial policies that encourage economic development. In this sense, public policies adopted in the computer industry have a critical role in national economic development. In Brazil, there was a change in these policies in 1990, when a new institutional framework was approved. Utilizing theoretical precepts from neoclassical, neoliberal and neo Schumpeterian schools, this study relied on analysis of literature and secondary data to analyze the efficiency of Brazilian policies to encourage the sector compared to the measures adopted by China, discussing the role of the actions of the State over the economy. The research concludes that the policies adopted in China were more efficient than those implemented by Brazil to create an innovation driven economic culture capable of elevating the position of the domestic industry in the global value chain.
Keywords: ICT Policy; Computer Law; Electronic Industrial Complex.
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
BNDES – Banco Nacional para
Desenvolvimento Econômico e Social
CAPRE – Comissão de Coordenação das
Atividades de Processamento Eletrônico
CCTCI – Comissão de Ciência,
Tecnologia, Comunicação e Informática
CDE – Conselho de Desenvolvimento
Econômico
CEPAL – Comissão Econômica para a
América Latina
CSN – Conselho de Segurança Nacional
CT&I – Ciência, Tecnologia e Informação
FNDCT – Fundo Nacional de
Desenvolvimento Tecnológico
GATT – General Agreement on Tariffs and
Trade
IDE – Investimento Direto Estrangeiro
II PLANIN – Segundo Plano Nacional de
Informática e Automação
II PND – Segundo Plano Nacional de
Desenvolvimento
IPI – Imposto Sobre Produtos
Industrializados
IR – Imposto de Renda
ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica
MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia
MEFP – Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento
MEI – Ministério da Indústria Eletrônica
MIIT – Ministério da Indústria e Tecnologia
da Informação
MRE – Ministério das Relações Exteriores
MOST – Ministério da Ciência e
Tecnologia
MVA – Valor Agregado à Manufatura
NPI – Nova Política Industrial
OMC – Organização Mundial do Comércio
P&D – Pesquisa e Desenvolvimento
PEC – Proposta de Emenda à
Constituição
PIB – Produto Interno Bruto
PICE – Política Industrial e de Comércio
Exterior
PUC-RJ – Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro
SEI – Secretaria Especial de Informática
SNI – Sistema Nacional de Informação
SSTC – Comissão Estatal de Ciência e
Tecnologia
USP – Universidade de São Paulo
ZEE – Zona Econômica Especial
ZFM – Zona Franca de Manaus
LISTA DE FIGURAS E TABELAS
FIGURA 1 – Estrutura dos Sistemas Brasileiro (direita) e Chinês (esquerda) e Inovação ................... 55
FIGURA 2 – Exportações e Importações de Bens de Alta Tecnologia: China e Brasil 1996-2008
(bilhões US$) .......................................................................................................................................... 59
FIGURA 3 – Saldo das Balanças Comerciais do Complexo Eletrônico Brasileiro e Chinês 2003-2009
(em US$ bilhões) .................................................................................................................................... 64
TABELA 1 – Gastos em P&D em Relação ao PIB e Gastos em P&D 2000-2009 ............................... 56
TABELA 2 – Concluintes de Ensino Superior e Pós-Graduação por Área de Estudo: Brasil e China:
2009 e Número Absoluto e per capta. ................................................................................................... 57
TABELA 3 – Indicadores Básicos dos Sistemas de CT&I da China e do Brasil. .................................. 60
TABELA 4 – Complexo Eletrônico no Mundo (em %). .......................................................................... 62
TABELA 5 – Balanças Comerciais do Complexo Eletrônico Brasileiro e Chinês 2003-2009 (em US$
bilhões). .................................................................................................................................................. 64
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO: ....................................................................................................................................... 8
CAPÍTULO 1 – O PAPEL DO ESTADO NA POLÍTICA INDUSTRIAL. ............................................... 10
1.1 FUNDAMENTOS E CRÍTICAS À VISÃO NEOCLÁSSICA DE ATUAÇÃO ESTATAL. ................................ 10
1.2 A VISÃO DESENVOLVIMENTISTA E A ESCOLA NEOSHCUMPETERIANA. .......................................... 16
1.3 O DEBATE IDEOLÓGICO E O CENÁRIO BRASILEIRO. .................................................................... 21
CAPÍTULO 2 – ESTRATÉGIAS DE INCENTIVO AO SETOR DE INFORMÁTICA. ........................... 23
2.1 A ANTIGA POLÍTICA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA. ..................................................................... 23
2.1.1 A Formação da Reserva de Mercado Brasileira. .............................................................. 24
2.1.2 Pressões Externas: a Disputa Comercial com os Estados Unidos. .................................. 30
2.1.3 Análise da Reserva de Mercado à Luz dos Elementos Teóricos. .................................... 32
2.2 A NOVA POLÍTICA DE INFORMÁTICA. ......................................................................................... 34
2.2.1 A Orientação Econômica e a Política de Informática do Governo Collor. ........................ 34
2.2.2 A Primeira Renovação da Lei de Informática (2001). ....................................................... 40
2.2.3 Governo Lula e a Segunda Renovação da Lei de Informática (2004). ............................. 43
2.2.4 Mudanças na Política de Informática Brasileira à Luz dos Elementos Teóricos. ............. 45
2.3 A ESTRATÉGIA CHINESA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. .................................................... 47
2.3.1 A Estratégia Chinesa à Luz dos Elementos Teóricos. ...................................................... 52
CAPÍTULO 3 – ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS EM BRASIL E CHINA. ................. 54
3.1 ESFORÇOS DE INOVAÇÃO NO BRASIL E NA CHINA. ..................................................................... 54
3.2 OS RESULTADOS SOBRE OS RESPECTIVOS SETORES ELETROELETRÔNICOS. ............................. 60
CONCLUSÃO: ...................................................................................................................................... 67
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ................................................................................................... 70
8
INTRODUÇÃO:
A indústria eletrônica é um dos segmentos industriais mais relevantes em
economias desenvolvidas, compondo percentagem considerável do PIB e da pauta
de exportações de países como Estados Unidos, Alemanha e Japão. Não obstante,
estudos como o de Heshamati e Wanshan (2006), comprovam essa importância do
setor para o crescimento e na modernização de economias em desenvolvimento, visto
que sua cadeia produtiva permeia várias indústrias e gera derramamentos (spill overs)
que afetam desde o setor agrícola à indústria aeroespacial, o que torna o
desenvolvimento do setor de eletrônica essencial para a redução da dependência
externa e crescimento sustentável dessas economias.
Dentre os países em desenvolvimento que conseguiram dinamizar seu
complexo eletrônico, a China se destaca, permitindo que firmas de capital nacional
passassem de meras produtoras terceirizadas de componentes de baixo valor
agregado a multinacionais capazes de projetar suas marcas no mercado internacional.
Enquanto isso, o Brasil ainda apresenta um mercado de eletrônica dominado por
marcas estrangeiras e uma indústria local dependente, mesmo após décadas de
políticas públicas de fomento ao desenvolvimento do setor.
Tendo em vista que ambos países apresentavam uma indústria eletrônica em
semelhante nível de desenvolvimento até a década de 1980, o presente trabalho
busca analisar o papel do Estado e das políticas públicas no que tange o
desenvolvimento do setor, na tentativa de responder o seguinte problema de
pesquisa: como as políticas de informática implementadas no Brasil e na China a partir
de 1990 geraram trajetórias de desenvolvimento distintas para este setor nas duas
nações?
Do ponto de vista metodológico, o presente estudo irá se apoiar em revisão
bibliográfica, considerando artigos acadêmicos e estudos setoriais sobre a temática
abordada. Também serão utilizados dados estatísticos de instituições brasileiras como
o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), chinesas, como o
Ministry of Industry and Information Technology (MIIT), e internacionais, como o Banco
Mundial. Estes dados serão apresentados por meio de gráficos e tabelas de forma a
exemplificar as políticas e seus efeitos nos dois países.
9
O trabalho está dividido em quatro capítulos, além dessa introdução. O primeiro
capítulo apresenta o debate do papel do Estado sobre a economia e seus efeitos
segundo três abordagens teóricas, neoclássica, neoliberal e neoschumpeteriana,
demonstrando quais elementos destas podem ser observados nas políticas brasileiras
ao longo do período estudado.
O segundo e mais extenso capítulo é dividido em três partes: a primeira discute
a formação da reserva de mercado de informática no Brasil e suas sequelas no setor
ao final da década de 1980; em seguida são analisados os impactos da abertura
comercial e o novo marco regulatório criado a partir do governo Collor; e, por fim,
analisa-se a estratégia chinesa de desenvolvimento do setor eletroeletrônico.
No terceiro capítulo faz-se a análise de bibliografia e dados secundários na
busca de esclarecer quais fenômenos e mecanismos fizeram as políticas chinesas tão
mais eficientes que as brasileiras em impulsionar o crescimento e sofisticação do setor
eletroeletrônico.
Por fim, no capítulo quatro sã apresentadas as conclusões do trabalho, em que
se destacam as principais contribuições do estudo, considerando suas limitações e
implicações de políticas públicas.
Ao final, são apresentadas as referências bibliográficas.
10
CAPÍTULO 1 – O PAPEL DO ESTADO NA POLÍTICA INDUSTRIAL.
A década de 1980 representa um turbulento período para a economia brasileira.
As sucessivas tentativas de conter o vertiginoso processo inflacionário e impulsionar
a economia estagnada do país, num contexto de crises internacionais, fizeram do
Brasil um laboratório de testes de teorias econômicas. Concomitantemente, o fim do
período militar e a redemocratização da política brasileira em 1984 dá início, entre
outras coisas, ao debate do papel do Estado enquanto interventor econômico e seu
papel na política industrial. Torna-se evidente, portanto, a dificuldade de
implementação de uma política pública coesa e eficiente para um setor industrial
específico, como o de informática, quando o ordenamento político-econômico do país
ainda não encontrava bases estáveis.
O presente capítulo descreve as propostas ideológicas neoclássicas,
neoliberais e evolucionistas que permeiam a nova orientação econômica e
reformulação da política nacional de informática e do papel do Estado nesse processo,
especialmente a partir do governo Collor.
1.1 Fundamentos e Críticas à Visão Neoclássica de Atuação Estatal.
Segundo Steiner (2006), os neoclássicos compreendem o mercado de forma
abstrata, sendo este o equilíbrio das forças de oferta e demanda representado pelo
ponto de encontro entre suas respectivas curvas, que, por sua vez, advêm do
comportamento racional e individual de maximização dos agentes (rational choice). A
premissa da racionalidade plena assume ainda a inexistência de assimetrias de
informação, todos os agentes têm a capacidade de processamento e o acesso a todas
as informações necessárias para tomar suas decisões. Os objetivos destas decisões
teriam também um denominador comum. Além da racionalidade, as firmas e
indivíduos seguem um conjunto determinado de regras de decisão que dita a forma
de se agir frente a certas condições do mercado em que se inserem com o fim da
maximização, na grande maioria das vezes, do lucro ou da utilidade (NELSON E
WINTER, 2005).
11
A teoria se baseia ainda no conceito central de que o mercado opera em
concorrência perfeita, o que implica a existência de uma série de premissas,
especialmente: grande número de compradores e vendedores, que seguem os
comportamentos já mencionados, sem a capacidade individual de influenciar os
preços; os produtos são homogêneos e substituíveis, tendo o preço como único fator
de escolha; não há barreiras à entrada ou saída; e o direito à propriedade privada é
resguardado pelo Estado (MERCURO E MEDEMA, 1997).
A racionalidade e a busca pela maximização do lucro pelas firmas em um
mercado de concorrência perfeita torná-lo-iam o melhor gestor de si. Não haveria,
assim, qualquer problema ou necessidade de coordenação ex ante, já que as firmas
sempre buscarão investir nos setores mais rentáveis, equalizando o retorno e
equilibrando o mercado. Segundo Mercuro e Madema, satisfeitas as condições de
concorrência perfeita, o custo social marginal será compensado pelo benefício social
marginal para qualquer produto ali ofertado, o que equivale ao ótimo de Pareto
(MERCURO E MEDEMA, 1997).
A partir da década de 1950, alguns autores começaram a flexibilizar algumas
dessas premissas, dando espaço para a intervenção do Estado no caso de falhas de
mercado. A principal preocupação dessa teoria está na incapacidade do mercado em
igualar os benefícios sociais aos seus custos, e como corrigir tais falhas através de
políticas públicas (CHANG, 1996).
O termo market failure, no contexto da ortodoxia neoclássica, refere-se a uma
determinada circunstância em que a economia real se afasta do modelo de
concorrência perfeita. Arrow e Debreu identificaram o que hoje se reconhece como
falhas de mercado tradicionais na teoria do bem-estar, são elas: a presença de bens
públicos, externalidades ou mercados não competitivos (ARROW e DEBREU apud
STIGLITZ, 1996). Observações empíricas futuras formalizaram no modelo outras
falhas que poderiam ou não ser corrigidas pela ação do Estado, como a assimetria de
informação e mudança no paradigma tecnológico. Note que, apesar de apresentar
pontos que contradizem as premissas neoclássicas, a teoria de falhas de mercado
visa unicamente debater formas de corrigir estes desvios através da ação estatal,
reestabelecendo ou instituindo a concorrência perfeita.
Uma vez em concorrência perfeita, o mecanismo de auto regulação do mercado
tomaria conta de direcionar a alocação dos recursos da maneira mais eficiente
12
possível. Dessa forma, não faz sentido a interferência estatal em um setor específico,
que consiste na essência da política industrial. Qualquer alteração nos resultados
(pay-offs) recebidos ou incentivos aos agentes resultaria numa distorção negativa na
utilização dos recursos se comparada ao que se teria seguindo as vantagens
comparativas inicialmente dadas pelo mercado. Por essa razão, na perspectiva
neoclássica, a política industrial adotada pelo Estado deve ser horizontal, ou seja,
deve estender-se a todos os setores da economia com incentivos pautados na
neutralidade. Nassif (2003) cita, a exemplo de políticas horizontais, políticas que
buscam reduzir o chamado custo-país e aprimorar permanentemente a infraestrutura
física e humana do país.
A noção de falhas de mercado foi amplamente aceita e o papel do Estado como
agente mantenedor da eficiência econômica e do bem-estar da população foi
restaurado durante as décadas de 1950 e 1960. A superação da recessão
internacional nos países desenvolvidos e o dirigismo nos períodos de guerra
justificavam e confirmavam esta orientação teórica dos governos (WADE, 1990).
Dessa forma, baseando-se nestes sucessos e preocupados com os países menos
desenvolvidos e as economias emergentes, economistas desenvolveram análises
mais otimistas na dependência do Estado enquanto agente de superação da pobreza
e subdesenvolvimento.
Composta por tais economistas, a Comissão Econômica para a América Latina
(CEPAL) rompe com as perspectivas neoclássicas, destacando os efeitos deletérios
do comércio internacional para os países subdesenvolvidos e a necessidade da
intervenção direta do Estado em setores específicos dessas economias (políticas
verticais) para corrigi-los. A CEPAL associava a dificuldade de desenvolvimento de
economias menores, no mercado internacional, como resultante da assimetria entre
as capacidades competitivas da indústria nacional e seu respectivo mercado externo,
sendo a primeira muito reduzida frente ao segundo. Segundo Mazzeo, a
“descontinuidade dos custos comparativos, a inelasticidade-preço dos produtos
primários e o déficit no balanço de pagamentos” são responsáveis pela dificuldade de
exportação de produtos manufaturados e por uma balança comercial deficitária
(MAZZEO, 1996, p.30). Assim, surge a estratégia do desenvolvimento pela
substituição de importações, buscando reverter a situação descrita através do
protecionismo econômico e incentivos direcionados a setores menos competitivos.
13
Em meados do século XIX, List formula a tese da indústria nascente ou infante
(infant industry), que viria a ser resgatada pelo modelo de substituição de importações
brasileiro. A tese argumenta que, entre países de nível semelhante de
desenvolvimento, o livre comércio é benéfico, mas o mesmo não se observa entre
países mais e menos desenvolvidos. Nestes casos, o intercâmbio internacional
desfavorece as economias menores. Por esta razão, segundo o autor, a Grã-Bretanha
da época (o grande país desenvolvido) atacava as barreiras comerciais e
alfandegárias visando tirar vantagem das nações mais pobres nas trocas comerciais,
bem como impedir que elas se desenvolvessem. A essa tática de contenção do
crescimento das economias subdesenvolvidas, Chang dá o nome de “chutar a
escada” (CHANG, 2004).
O protecionismo proposto por este modelo confere ao Estado as ferramentas
necessárias para direcionar sua economia e corrigir suas falhas de mercado. Esta
perspectiva faz uso de certas vantagens ao produzir internamente artigos até então
importados: o crescimento se dá através da adoção de técnicas de produção que já
deram certo em outros países, possibilitando o desenvolvimento de um aprendizado
doméstico (learn by doing). Para que este processo possa ser desencadeado, se
estabelece um mecanismo de proteção e fechamento do mercado interno, permitindo
ao Estado controlar a demanda através de políticas monetárias e fiscais. Por meio
dessa política espera-se uma maior capacitação tecnológica e o crescimento da base
industrial, que permitiriam melhor posicionamento na divisão internacional do trabalho
(MAZZEO, 1996).
A principal justificativa de proteção à indústria nascente, onde pode-se
enquadrar a indústria de informática brasileira da década de 1970 (TAPIA, 1995), se
dá com base no tempo necessário para que ocorra tal aprendizagem e para que esta
seja revertida em escala e rendimentos crescentes. Uma abertura antes da
maturidade do setor poderia ser prejudicial a este processo (MAZZEO, 1996). Neste
sentido, a teoria de substituição de importações toma um aspecto transitório,
sustentada apenas até que o país atinja melhores condições de competir no mercado
internacional, tal qual o argumento da indústria infante.
Por outro lado, ao analisar a estratégia de substituição de importações e
protecionismo econômico através do prisma das falhas de mercado, Mazzeo aponta
alguns problemas nesta visão. O primeiro deles está nas ineficiências geradas pelo
14
protecionismo ao proteger monopolistas e viabilizar projetos com altos custos médios
e baixas taxas de retorno. Em segundo lugar, o modelo não considera as relações
insumo-produto, onde o aumento do custo médio dos insumos causa a desaceleração
do crescimento de todas as firmas interligadas tecnologicamente ao longo da cadeia
produtiva. Por último, o modelo promove a proteção da indústria em detrimento da
agricultura o que gera problemas na exportação e no balanço de pagamentos,
seguidos de maiores restrições à importação e a redução da oferta interna de bens de
consumo final, intermediário e de capital, elevando o preço médio (MAZZEO, 1996).
A partir da década de 1970, as relações entre o Estado e a ciência econômica
tradicional tornaram-se complicadas. A ofensiva neoliberal, que toma forma desde
então, condena a economia direcionada ou alterada politicamente, reafirmando os
cânones do livre mercado com ainda mais força que a teoria tradicional da década de
50. A ideia de falha de governo (government faliure) complementa a noção das falhas
de mercado, sendo ela inerente a todo e qualquer governo. Segundo esta ideia, a
ação corretiva do Estado na tentativa de sanar uma falha de mercado resultaria
invariavelmente em um desequilíbrio ou falha ainda maior, mesmo em mercados
plenamente competitivos. Ao explicar o conceito de falhas de governo, Chang retoma
as ideias da Escola de Chicago em relação à corrupção dos instrumentos regulatórios
do Estado. Uma das principais formas de deturpação do ideal de busca do bem estar
social, que deveria reger o comportamento de uma agência reguladora, ocorre quando
um grupo com grande interesse econômico no mercado em questão adere à prática
de rent-seeking, ou seja, por meio de pressão política ou lobbying, consegue alterar
as deliberações desta agência em seu favor, em detrimento de outros atores
envolvidos ou da sociedade como um todo. A captura do regulador (regulatory
capture) gera profundos desequilíbrios no mercado e, segundo esta linha de
pensamento, mina qualquer justificativa da existência de um regulador em primeiro
lugar (CHANG, 2000).
Esta corrente ganha força nos anos seguintes ao refletir a percepção de
aparatos burocráticos lentos, custosos e ineficientes em países subdesenvolvidos. A
desilusão endêmica com o Estado na década de 1970 é explicada por Evans a partir
do quadro político dos países em desenvolvimento:
“Na África, até mesmo os observadores simpatizantes não podiam ignorar que a maioria dos estados do continente representava apenas uma paródia cruel do que eram as esperanças pós-coloniais. Os aparatos estatais inchados eram alvos óbvios para os latino-americanos tentarem compreender
15
as raízes da estagnação escondida atrás da crise que os confrontava. [...] As burocracias governamentais foram consideradas estranguladoras do espírito empreendedor ou desviadas em atividades improdutivas de intermediação. Livrar-se delas era portanto o primeiro passo na agenda reformista. O abandono do Estado como um possível agente do desenvolvimento deixou como alternativa um pessimismo sem esperança ou ‘uma fé no mercado’ desprovida de qualquer crítica.” (EVANS, 2004, p. 51).
Ainda segundo o autor, o modelo neoliberal não trouxe grandes novidades
conceituais, representou apenas um retorno intensificado à confiança no mercado
como gestor quase único das relações econômicas. Não obstante, esta teoria trouxe
consigo um forte suporte teórico e formal analítico em sua formulação. Ao contrário
dos neoclássicos, a teoria neoliberal (ou neo-utilitária, como refere-se Evans) partia
de questionamentos mais detalhados e verificações empíricas, conferindo grande
relevância a análise das consequências negativas da ação do Estado. Para tanto,
aplicaram a premissa da maximização individual neoclássica ao Estado e indivíduos
que o compõe (EVANS, 2004). A noção de que policy makers também seguem uma
função de maximização política gera conclusões de que estes se tornarão prisioneiros
dos agentes privados, que são alvo destas políticas.
O debate sobre do papel do Estado muda consideravelmente com a ascensão
do neoliberalismo. Segundo Chang, o aparelho estatal deixa de ser reconhecido como
um “guardião” imparcial e onipotente, e torna-se um “predador”, ou instrumento para
manter as desigualdades sociais em favor de grupos politicamente mais fortes. Assim,
os agentes internos, burocratas e políticos, são movidos pela busca da maximização
de seus próprios interesses e não do bem-estar público (CHANG, 2000). Uma vez que
não existe interesse em corrigir as falhas de mercado observadas, os neoliberais
tomam uma postura cética quanto ao possível efeito benéfico da intervenção estatal.
Logo, para eles, deve-se reduzir ao mínimo o papel do Estado e substituir o controle
burocrático por mecanismos de mercado sempre que possível.
No que tange a questão da política industrial, esta visão representa o retorno
ao conjunto de premissas anteriores à formulação da teoria das falhas de mercado.
Não só falta interesse ou capacidade ao Estado em intervir, como sua intervenção
pode agravar o cenário inicial. Assim, não há espaço para uma política industrial, ainda
que horizontal. Passa-se a pregar, então, o desmantelamento do aparelho de
planejamento e intervenção econômica estatal em favor dos mecanismos do mercado,
como maneira mais eficiente de prover bens e serviços. Evans ressalta que, nas
propostas de privatização das funções do Estado chegou-se ao ponto de serem
16
sugeridos a oferta de prêmios e remuneração àqueles indivíduos que se dedicassem
lucrativamente à defesa nacional, ao invés das forças armadas tradicionais (EVANS,
2004).
Segundo Tapia e Mazzeo, a política industrial de informática no Brasil se
comporta de maneira singular. O entendimento deste setor como estratégico para a
segurança e o desenvolvimento tecnológico do país e sua desvantagem competitiva
frente ao mercado internacional, levam à manutenção das noções de reserva de
mercado para indústria nascente e desenvolvimento por substituição de importações
propostas pela CEPAL (MAZZEO, 1996; TAPIA, 1992). O regime militar chega ao fim
em 1984, em parte por influência do pensamento neoliberal e a desilusão mencionada
por Evans, mas as diretrizes protecionistas da lei de informática se mantém até 1992,
quando foi revisada pelo governo Collor.
1.2 A visão Desenvolvimentista e a Escola Neoshcumpeteriana.
Um segundo grupo de autores, traçou, em meados da década de 1950, uma
visão alternativa à abordagem neoclássica, tomando por base os temas de inovação
e a dinâmica evolutiva da economia. Estes teóricos lançam mão das ideias de
Schumpeter para analisar o processo competitivo. Para eles, a concorrência entre as
firmas não se limita à maximização do lucro, como na teoria neoclássica, mas se
estende à necessidade de sobrevivência, possível apenas, no livre mercado, pelo
processo de adaptação pela inovação tecnológica. A analogia às teorias da evolução
das espécies e seleção natural, desenvolvidas por Charles Darwin, dá nome à essa
corrente, ainda que seja um recurso usado de maneira muito flexível e sem
determinismos (ALCHIAN, 1950). No âmbito dos trabalhos desenvolvidos por Nelson
e Winter na década de 1970, o papel do Estado é também colocado como o de garantir
a competitividade da economia e das empresas em termos sistêmicos (NELSON E
WINTER, 1974).
Esta abordagem surge da necessidade em se entender a contradição entre as
premissas que defendem os mecanismos de mercado como os melhores gestores e
alocadores de recursos, e a observação do sucesso econômico sob Estados
interventores. A princípio, esperava-se que os países mais bem sucedidos
17
apresentassem uma burocracia relativamente enxuta, enquanto aqueles dotados de
grandes aparatos públicos sofressem de problemas econômicos recorrentes.
Burlamaqui, contextualiza:
“[…]so, bigger governments and growing bureaucracies should inevitably cause the system’s performance to deteriorate. If this kind of approach is accepted, both the ‘golden age’ of capitalism after the Second World War and even more so the East Asian development explosion from the seventies through October 1997 clearly do not fit in with this hypothesis.” (BURLAMAQUI, 2000, p. 29).
Contudo, Estados e burocracias continuaram a crescer, desempenhando um
papel fundamental em suas economias. Mesmo instituições conservadoras como o
Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, passaram a ao menos admitir a
importância de um governo ativista no desenvolvimento industrial (EVANS, 2004).
A abordagem neoschumpeteriana vem esclarecer como a intervenção estatal
pode, algumas vezes, ter uma agenda benéfica à economia, fazendo uso de sólida
base teórica e forte crítica à teoria neoclássica. Para tanto, toma-se arbitrariamente
alguns pilares fundamentais da teoria evolucionária, podendo-se afirmar que seu
desenvolvimento parte de uma analogia não rígida com teorias do campo da biologia
a fim de explanar uma nova perspectiva sobre o comportamento da firma. Este
empréstimo do termo “evolucionário” já revela a identificação com processos
biológicos. Nas palavras de Nelson e Winter, “trata-se, acima de tudo, de uma
sinalização de que tomamos emprestadas ideias básicas da biologia [...].” (NELSON
E WINTER, 2005, p. 26).
A ideia de “seleção natural”, trazida da biologia, assume uma forma particular,
que passa a ter enorme relevância na compreensão do mecanismo de competição do
mercado. No caso da economia, são os ambientes de mercado que definem o sucesso
para as firmas, e este sucesso depende de sua habilidade em sobreviver e crescer.
Neste modelo as empresas possuem rotinas e regras de decisão particulares que se
diferem de uma para outra (ideia simbólica de “genes”), sua relação com o mercado e
sua reação ao ambiente externo é, portanto, igualmente único, cada empresa traça
seus planos de investimentos, pesquisas e relações comerciais. Estas decisões
definem ao mesmo tempo o seu cenário de atuação bem como sua chance de
sobreviver nele (relação de retroalimentação). A analogia biológica, no entanto, limita-
se a este ponto, já que firmas e agentes são passíveis de adicionar, remover ou
modificar elementos de suas rotinas decisórias de acordo com os estímulos e
movimentos do ambiente externo, tendo que para isso utilizar de processos de busca
18
e desenvolvimento deliberadamente. Estes elementos modificados são
transmissíveis, tal qual a “herança genética” num processo mutacional aos moldes
lamarckianos.
Uma das peculiaridades da teoria evolucionária é sua visão do comportamento
das firmas. Este modelo não possui caráter normativo; não tenta prever ou definir um
comportamento padrão a partir de uma regra teórica de decisão. O foco desta visão é
contestar a premissa de maximização neoclássica como único motor do
comportamento da firma. Segundo Nelson e Winter:
“the major commitment of the evolucionary theory is to a ‘behavioural’ approach to individual firms.[…] While neoclassical theory would attempt to deduce these decision rules from maximization on the part of the firm, the behavioural theory simply takes them as given and observable.” (NELSON E WINTER, 1974, p. 891).
Ao contrário das teorias neoclássica e neoliberal, o comportamento das firmas
(definido na forma de suas regras e rotinas de decisão) não parte de premissas
generalizantes e simplificadoras, ao contrário, o comportamento é observado e aceito
em sua complexidade. Em última análise, são as diferentes rotinas que se defrontam
no processo de “seleção natural” da concorrência e estabelecem oportunidades e
ameaças ao sucesso das empresas nos próximos estágios. Estes elementos já se
encontravam mencionados, ainda que não plenamente desenvolvidos, nos trabalhos
de Schumpeter quando o equilíbrio de mercado (descrito no primeiro subitem deste
capítulo), é descrito como um fluxo circulatório, lembrando um organismo. O
comportamento maximizador também é deixado de lado quando Schumpeter tenta
explicar o surgimento do processo de inovação, vital para o desenvolvimento
econômico através do rompimento deste fluxo (CRUZ, 1988). Ainda, segundo Cruz:
“o agente que conduz as inovações recebe o nome de empresário. Esta figura distingue-se do homo economicus do fluxo circulatório [...]. O autor utiliza termos como liderança, ousadia, aventura, desejo de conquistar e alegria de criar para descrevê-lo.” (CRUZ, 1988, p. 435).
Um ponto essencial para se compreender a análise de Schumpeter e os
modelos evolucionários é a percepção do autor sobre o capitalismo e a concorrência.
O autor ressalta que o capitalismo não pode ser compreendido como um momento
estacionário, sendo este um processo evolucionário (SCHUMPETER, 1942). Cruz nos
mostra a maior riqueza do conceito de competição de Schumpeter se comparado ao
admitido na teoria neoclássica. Para além da compreensão de competição
neoclássica como fruto apenas dos preços e quantidade, a visão schumpeteriana
agrega obrigatoriamente ao fenômeno a mudança da técnica, as variações de
19
qualidade e os esforços de venda. Desta forma, a inovação é elemento endógeno ao
sistema econômico, sendo ela o motor da evolução (CRUZ, 1988). A este processo
de competição por meio da seleção e a adaptação pela mudança de técnica, dá-se o
nome de “destruição criadora”, sendo ela um fato essencial ao funcionamento do
capitalismo. A partir deste prisma Schumpeter questiona a noção de que uma
estratégia ou alocação possa ser considerada ótima considerando-se apenas o
momento do equilíbrio neoclássico do mercado. Para ele:
“A system - any system, economic or other - that at every given point of time fully utilizes its possibilities to the best advantage may yet in the long run be inferior to a system that does so at no given point of time, because the latter’s failure to do so may be a condition for the level or speed of long-run performance.” (SCHUMPETER, 1942, p. 83).
Schumpeter conceitua e classifica a inovação em cinco grandes grupos: um
novo bem ou produto; um novo método de produção; a abertura de um novo mercado;
a conquista de uma nova fonte de suprimento de matérias-primas ou produtos semi
industrializados; e uma nova organização industrial (SCHUMPETER, 1934). Apesar
de apoiar-se sobre uma série de condições, como a figura do empreendedor e crédito
suficiente, a inovação é o componente central e combustível da “destruição criadora”
à medida em que, ao causar o rompimento do paradigma tecnológico, insere a
incerteza e rompe com o equilíbrio estático, dando movimento ao processo
evolucionário.
A inovação confere ao empreendedor, ainda que por tempo limitado, a condição
de monopolista e a capacidade de auferir lucros extraordinários. A duração desse
período de monopólio pode variar a depender do regime institucional vigente. O
sistema de patentes, por exemplo, prolonga este período. Esta inovação, contudo, é
gradativamente absorvida pelo mercado através da imitação de seus mecanismos e
adaptação das empresas à mesma, transformando-se num novo paradigma
tecnológico. Por essa perspectiva, a ação do Estado com o objetivo único de corrigir
falhas de mercado pode resultar num desestímulo ao processo de inovação e, no
longo prazo, uma forma ineficiente de alocação de recursos. Por outro lado, num
contexto onde finanças, tecnologia e concorrência constantemente apontam para
resultados imprevisíveis, políticas públicas de cunho vertical com a capacidade de
criar condições que favoreçam este ciclo de inovação tornam-se necessidade
permanente ditada pelo comportamento do mercado (e não suas falhas).
20
Assim, de acordo com essa teoria, uma política industrial deve ter o objetivo de
garantir a competitividade em termos sistêmicos. Para tanto, é necessária uma
combinação de políticas horizontais com mecanismos seletivos, estimulando os
empreendedores a buscar métodos de produção ou aprimoramento mais eficientes a
longo prazo (NASSIF, 2003).
O caráter empírico da análise feita pela teoria evolucionária é a base para o
sentido e a lógica por trás dessas intervenções. Segundo Nelson e Winter, a análise
evolucionária não tem como pretensão encontrar um “ótimo”, como os neoclássicos.
O objetivo é traçar tendências para os próximos movimentos dos agentes envolvidos
no desenvolvimento da política. Para isso, a análise política tem suma importância na
compreensão estratégica do jogo de mercado (NELSON E WINTER, 2005).
Apesar de variadas e identificadas empiricamente, a teoria evolucionista
usualmente concentra as ações governamentais em três grandes áreas: o
gerenciamento da “destruição criadora”, visando o amortecimento de possíveis
choques causados por mudanças estruturais; o estimulo e coordenação de
investimentos, de forma a reduzir incertezas; e a criação de aparatos institucionais
(marco regulatório) e de políticas desenvolvimentistas coerentes com as duas tarefas
supracitadas (BURLAMAQUI, 2000).
Por considerarem a atividade de pesquisa incerta e de difícil classificação,
Nelson e Winter dedicam especial atenção a essas políticas, na tentativa de definir o
melhor regime para esta atividade. Estes autores rejeitam o ambiente de concorrência
perfeita e a inexistência de investimentos públicos, dada a falta de empresas com
capacidade suficiente para projetos mais ambiciosos. Descartam também o monopólio
ou o controle governamental por não possibilitarem uma carteira ampla de projetos
competindo entre si, o que aumentaria as possibilidades de sucesso. Assim, resta a
articulação entre o setor público e privado por uma política pública associativa,
formulada com base em observações empíricas do ambiente a ser implementada para
que possa, então, superar as dificuldades inerentes àquele mercado específico
(NELSON E WINTER, 2005).
21
1.3 O Debate Ideológico e o Cenário Brasileiro.
Já apresentadas as perspectivas teóricas sobre a ação do Estado, podemos
então compreender o papel de cada uma dessas escolas na desconstrução da política
nacional de informática até a década de 1990 e na formulação de um novo paradigma.
As falhas e ineficiências geradas pela política nacional de informática, principalmente
na década de 1980, onde a restrição comercial e o protecionismo agiram fortemente,
podem ser explicadas pelos preceitos da teoria neoclássica, que ressalta os
benefícios de uma economia de mercado, e os problemas inerentes à orientação
cepalina apresentados por Mazzeo:
“[...] a obsolescência do parque industrial brasileiro, decorrente da excessiva proteção concedida à indústria brasileira (desestimulando a modernização) e de políticas restritivas ao capital estrangeiro (impedindo novos investimentos), estaria provocando uma redução da competitividade das exportações.” (MAZZEO, 1996, p.81)
Por outro lado, apesar de ter um aspecto prescritivo que possa ser interpretado
como extremo, a discussão sobre as falhas de governo ajuda a delinear o panorama
teórico que clarifica os problemas internos do governo durante a formulação e
implementação de políticas públicas, como a oposição de burocratas adeptos à Zona
Franca de Manaus (ZFM), à Lei de Informática e o contingenciamento de verbas do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), que serão
apresentados e discutidos mais à diante.
A escola evolucionária, por sua vez, abre uma nova perspectiva da análise do
processo de competição e ressalta a essencialidade da inovação tecnológica. A
competitividade entre firmas e a eficiência alocativa são processos dinâmicos onde o
aprendizado e as mudanças nas regras de decisão têm papel importante na definição
das próximas etapas do processo de concorrência. Sob esta perspectiva, o Estado
tem o poder de gerenciar a “destruição criadora” e promover o desenvolvimento de
setores estagnados incapazes de se dinamizar por conta própria ou pela ação dos
mecanismos de mercado.
Os neoschumpeterianos introduzem também a importância de instituições
públicas, políticas industriais e leis na formulação do ambiente competitivo, permitindo
ao Estado, não só determinar limites, mas agir diretamente sobre a rotina e a
racionalidade do processo deliberativo dos empreendedores, além de capacitá-lo a
definir rumos e planos para o desenvolvimento da economia setor a setor. Para além
22
das normas que garantem os direitos básicos à propriedade e funcionamento do
mercado, também são importantes leis de fomento aos sistemas educacionais,
capazes de alterar a capacitação da força de trabalho e gerenciamento que, junto ao
empreendedor, compõem a empresa.
No âmbito da política brasileira de informática, podemos ver a transição em seu
alinhamento do arcabouço teórico neoclássico para os ditames evolucionários. Estes,
por sua vez dão-se no caráter vertical da Nova Lei de Informática em conjunto ao fim
da reserva de mercado. Enquanto forma de fomento setorial, esta política é o
instrumento escolhido pelo governo para gerar a “destruição criadora”, expondo a
“indústria preguiçosa” à concorrência externa e forçando as firmas envolvidas a inovar
para sobreviver a partir de 1992.
23
CAPÍTULO 2 – ESTRATÉGIAS DE INCENTIVO AO SETOR DE INFORMÁTICA.
Para se fazer uma análise comparativa dos impactos da nova política de
informática no Brasil e as políticas empregadas na economia chinesa é preciso, antes
de mais nada, estudar a formação histórica das bases que sustentavam a reserva de
mercado sobre o setor de informática brasileiro, bem como seus efeitos.
Com isso em mente, este capítulo é dividido em três partes. Primeiramente,
faz-se uma descrição histórica e análise dos principais mecanismos governamentais
utilizados na implementação de políticas industriais para o setor de informática
segundo as teorias descritas no primeiro capítulo, visando delinear seus efeitos e
falhas ao final da década de 1980. Num segundo momento, utilizando-se do período
anterior como contraponto de análise, explica-se de que forma se deu abertura de
mercado a partir do governo Collor e a formulação da nova política de informática,
seus subsequentes ajustes até o governo Lula, terminando com a análise teórica
deste segundo período. Por fim, discute-se a estratégia chinesa de desenvolvimento
econômico e a trajetória de seu setor eletroeletrônico a partir do novo governo
instaurado ao fim do regime de Mao Tsé-Tung em 1976.
2.1 A Antiga Política Brasileira de Informática.
O desenvolvimento do setor de informática no Brasil surge timidamente em
meados da década de 1950. Ligada principalmente a interesses estratégicos do
Estado em relação à tecnologia de informação e modernização das forças armadas,
essa indústria começa a tomar impulso dez anos depois (TAPIA, 1995). Os passos
tomados pelos burocratas e técnicos desse período seguiram as observações do setor
nos países desenvolvidos, bem como as dificuldades encontradas nas economias
similares à brasileira. Dantas compara o início dos trabalhos da Comissão de
Coordenação das Atividades de Processamento Eletrônico (CAPRE) às políticas
executadas em países mais desenvolvidos como a França, a Alemanha, a Inglaterra,
o Japão e os Estados Unidos, demonstrando o direcionamento político e objetivos
almejados pelo país neste setor (DANTAS, 1988).
24
2.1.1 A Formação da Reserva de Mercado Brasileira.
Em 1970 o Brasil se assemelhava a outros países em desenvolvimento em
relação ao setor de informática, dominado por empresas estrangeiras e com
tecnologia vinda de fora. Tinha como principais fornecedores a IBM e a Burroughs e
constituía um grande mercado em potencial (o 12º maior do mundo à época), com
taxas de crescimento bem superiores à média dos mercados mundiais (ADLER,
1986). Esse crescimento e dimensão certamente não escaparam aos militares e
ideólogos nacionalistas. Nas palavras de Tapia, “A partir do interesse militar,
especificamente da Marinha, começa a se cogitar a necessidade de uma política real
do Estado para estimular o desenvolvimento de uma indústria nacional de
computadores.” (TAPIA, 1995).
Havia uma séria preocupação militar, relativa a doutrina de “segurança
nacional”, que demandava o domínio dessa tecnologia. Baseados nesta doutrina, os
militares desenvolveram um grupo respeitável de empresas fornecedoras de
equipamentos de defesa, chegando inclusive a contribuir com as exportações do país.
Assumem assim o viés ‘nacionalista’ e a busca por ‘autonomia tecnológica’, o que
fomenta a geração de cérebros e empresas voltadas ao desenvolvimento da
informática (EVANS, 2004).
A preocupação com a segurança nacional e com o desenvolvimento
tecnológico autônomo do país atinge seu auge no Segundo Plano Nacional de
Desenvolvimento (II PND), do governo Geisel. Este projeto ressoa com os ideais das
elites militares de um ‘Brasil Potência’, com núcleo em um novo padrão de
industrialização e fortalecimento da empresa privada nacional. A convergência de um
projeto político de grande potência com uma sociedade industrial moderna e um grau
maior de interdependência econômica eram as bases deste “nacionalismo”. A
novidade foi o reconhecimento da importância do desenvolvimento científico e
tecnológico, já que a autonomia e a soberania nacionais passam a depender da
construção de uma capacitação interna. Essas concepções a ampliação de espaço
de ação defensores de uma política de informática (TAPIA, 1995).
Se por um lado o setor de informática era visto como estratégico à segurança
nacional, de outro era visto como fonte de dependência pelos economistas do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico. Treinados e influenciados pelo
pensamento da escola da CEPAL da época, esses economistas consideravam a
25
dependência tecnológica fortemente entrelaçada com a dinâmica do
subdesenvolvimento. Esse diagnóstico demonstra que não são apenas as altas taxas
de crescimento que exprimem desenvolvimento, mas também a capacidade interna
de compreensão e interação com as forças modernizadoras em vigor no mundo. Os
adeptos dessa doutrina acreditavam que o Brasil só atingiria a autonomia se tivesse
a capacidade de tomar decisões tecnológicas, ou seja, se o país tivesse certo grau de
autonomia no desenvolvimento de novas tecnologias através da prática nacional
pesquisa e desenvolvimento (ADLER, 1986).
A esses dois grupos vai ainda se juntar um terceiro, formado pelos ex-alunos
do ITA e de outras escolas de engenharia eletrônica, como a Politécnica da USP e a
PUC-RJ. O crescimento econômico acelerado, o surto industrializante e disseminação
da informática nesse período geraram uma grande demanda por engenheiros, e essas
escolas estavam se modernizando e formando alunos para trabalhar na área. No
entanto, a indústria brasileira de computadores não possuía espaço para que esses
profissionais, alguns inclusive com pós-graduação em centros de excelência no
exterior, realizassem uma atividade técnica compatível com a complexidade de sua
formação. Em sua maioria, esses técnicos tornavam-se vendedores de equipamentos
IBM e outros, ou se engajavam no processamento de dados para o governo federal
(EVANS, 1986).
Militares preocupados com a segurança nacional, economistas de formação
cepalina e técnicos nacionalistas frustrados: esta era a base que daria sustentação e
fomentaria a pesquisa de informática no Brasil, e que formaria os alicerces da política
protecionista por vir. Os pontos de encontro e os atritos entre estes três grupos
determinaram parte dos rumos da política de informática. Conforme Tapia:
“o importante a sublinhar é a convergência entre o nacionalismo militar enraizado na Doutrina da Segurança Nacional e aqueles das elites civis – burocráticas e científicas - ligado à idéia do desenvolvimento científico e tecnológico como fator de soberania para a autonomia” (TAPIA, 1995, p. 25).
Fruto da interação entre estes grupos, em 1972 cria-se a CAPRE dentro do
escopo das diretrizes do II PND. Este órgão do Ministério do Planejamento,
considerado o primeiro grande passo institucional do governo brasileiro rumo à
reserva de mercado, tem inicialmente a função e identificar falhas no setor de
informática e elaborar planos de ação, como os “planos diretores”, voltados à
racionalização do uso dos equipamentos na administração pública, os planos de
26
remanejamento de equipamentos eletrônicos para instituições de ensino (DANTAS,
1988).
Ainda segundo Dantas, o primeiro choque do petróleo e a consequente crise
internacional, trouxeram à tona a fragilidade do modelo do “milagre econômico”
implantado pelos militares, tornando insustentáveis os números da balança de
pagamentos brasileira. Neste sentido, o setor de informática foi apontado como um
dos vilões, tendo 98,6% do seu mercado suprido por importações. Assim, ao final de
1975, o governo começa a tomar medidas para controle das importações e
gerenciamento do problema cambial através do Conselho de Desenvolvimento
Econômico (CDE). O CDE toma duas medidas de caráter geral para reduzir o volume
das importações: a obrigatoriedade de um depósito prévio no valor da mercadoria para
o importador à disposição do Banco Central e o financiamento por instituições
estrangeiras de máquinas e equipamentos importados com pagamento mínimo em
cinco anos; esta segunda medida visava impedir o desembolso imediato de dólares
pelo importador. Para o setor de computadores, a CAPRE ficou encarregada de definir
o que poderia ou não ser importado. Desta forma, como a indústria nacional dependia
de componentes importados em suas linhas de produção, a CAPRE, em última
instância, tinha o poder de definir quais equipamentos seriam fabricados por quem
(DANTAS, 1988).
Certamente se concedidos a um órgão ou grupo burocrata diferente, estes
poderes delegados seriam utilizados no único intuito de controlar os desvios da
balança comercial. Contudo, com influência e habilidade política, a CAPRE ampliou
seus poderes e criou o Conselho Plenário, que teria, entre outras tarefas, a de propor
as diretrizes da Política Nacional de Informática e o Plano Integrado de Informática.
O mercado de mainframes já havia se consolidado no país, já o mercado de mini e
microcomputadores, por outro lado, ainda não apresentava uma significativa
penetração de fabricantes estrangeiros (EVANS, 1986). A CAPRE identificava estes
dados como como uma “janela de oportunidade” para definir políticas protecionistas
que permitissem o desenvolvimento de empresas nacionais neste nicho.
Em 1976 a CAPRE aprova a Resolução 1 de 1976, onde faz um apanhado
geral do setor de informática e apresenta recomendações. Este documento menciona
em suas premissas a importância estratégica do setor e a oportunidade dos mini e
microcomputadores, recomendando a implementação de políticas que viabilizem um
27
parque industrial para este nicho e seus periféricos com total controle tecnológico,
domínio e decisão no país, o que gerou forte pressão externa de empresas
estrangeiras, como a IBM, principal fornecedora de mainframes ao mercado brasileiro.
Para fazer valer sua autoridade, a CAPRE recorre ao CDE, que emite em 1977 a
Resolução 5, estabelecendo que a concessão de incentivos fiscais a projetos da área
de computação passava a estar sujeita à prévia “declaração de prioridade” do
Conselho Plenário da CAPRE. Além disso, a Resolução definia critérios a serem
considerados pelo Conselho Plenário em suas decisões, como índice de
nacionalização, abertura tecnológica para empresa nacional e origem do capital
(DANTAS, 1988; HELENA, 1980).
Com base nessas diretrizes a CAPRE emite uma carta-convite à todas as
empresas interessadas a produzir microcomputadores no Brasil. Depois de certo
trabalho de convencimento de que a oportunidade era de fato interessante e rentável,
empresas nacionais, internacionais, e associações de empresas das duas naturezas
começam a enviar propostas e projetos. Os projetos da IBM e da Data General,
contudo, são descartados e a segunda empresa envia uma carta ao governo dos
Estados Unidos afirmando que as políticas brasileiras contrariavam os interesses das
empresas norte americanas e excluía-as de um mercado promissor. Esta representa
a primeira movimentação estrangeira significativa contra a política de informática do
Brasil (EVANS, 1986; TAPIA, 1995).
Em 1979, a liderança do governo militar passa a João Figueiredo, um
presidente com passagem pelo Sistema Nacional de Informação (SNI). Este órgão,
somado ao Ministério das Relações Exteriores (MRE), passam a desconfiar do
conjunto de técnicos que pareciam ter o controle de um setor com importância cada
vez mais estratégica às informações e comunicações diplomáticas. É formada então
a Comissão Cotrim, (assim conhecida por ser encabeçada pelo embaixador Cotrim)
para avaliar a situação da informática no país, que tece severas críticas à atuação da
CAPRE. Assim, a última é desmantelada e, em seu lugar, é criada a Secretaria
Especial de Informática (SEI), que, ao contrário de sua antecessora, não está
vinculada a vários ministérios, mas apenas ao Conselho de Segurança Nacional
(CSN) (DANTAS, 1988; HELENA, 1980).
Observa-se então, o aprofundamento da militarização (no sentido de influência
política) da política de informática, representado pela completa submissão da desta
28
ao CSN e sua inclusão no núcleo duro do regime militar (TAPIA, 1995). Por esse
motivo, a SEI não apresenta a mesma vulnerabilidade à pressões externas e desafios
de atuação sofridos pela CAPRE, embora isso não implique o cessar dos conflitos
envolvendo a política de informática. Esta mudança institucional, implica também uma
mudança no direcionamento da política de informática, agora muito mais galgado nos
interesses de segurança do Estado (EVANS, 1986). O controle militar possibilitou, a
partir de então, a formulação de políticas articuladas que evitassem os conflitos e
desperdícios de recursos observados até então.
Com mais competências e melhor estruturada, a SEI passou a atuar com maior
e abrangência do que a CAPRE, sendo capaz de explicitar o controle de importações
e a reserva de mercado. Contudo, um episódio deixou claro a divergência entre a SEI
e a indústria nascente: a licitação dos superminis. Segundo Tigre, superminis seriam
máquinas intermediárias entre os minis e os mainframes, apresentando vantagens
consideráveis se comparados a estes dois padrões de computadores em certos
casos: os mainframes podiam pesar toneladas, ocupar andares inteiros, tinham
elevada complexidade de operação, maior custo de manutenção e alto consumo
energético; enquanto os minis, apesar de bem menores, mais simples e baratos, não
tinham poder computacional suficiente para pesquisa de ponta ou operações mais
complexas, sendo necessários vários deles para executar certas tarefas. Contudo, o
mercado dos mainframes, fornecidos e mantidos por grandes multinacionais como a
IBM, não concorreria diretamente com os superminis, principalmente por sua
especificidade de fabricação e manutenção especializada; os minis nacionais, por
outro lado, enfrentavam uma grande ameaça, já que os novos “super” tinham uma
capacidade de processamento muito maior com um custo não muito mais alto (TIGRE,
1987).
A SEI ofereceu três alternativas para implementar a política dos superminis:
desenvolvimento próprio, formação de joint ventures, e licenciamento de tecnologia
(ADLER, 1986). Parte do empresariado nacional reagiu contra a licitação,
argumentando que, ao permitir o licenciamento da tecnologia, a secretaria agia de
maneira contrária aos principais objetivos da política, capacitação tecnológica
nacional, já que as gigantes estrangeiras invadiriam o mercado nacional nesse nicho
(TAPIA,1995). A SEI aprova os projetos com tecnologia própria e admite a aprovação
daqueles baseados em licenciamento de conhecimento externo desde que as
29
empresas se associem ou se fundam para assim formar grupos de maior porte,
capazes de aproveitar economias de escala e negociar à altura com empresas
estrangeiras. A estratégia fracassa, tanto grupos grandes quanto empresas pequenas
não viam vantagens nas fusões propostas, e em 1984 a secretaria volta atrás e decide
aprovar todos os projetos.
A nova decisão só fez piorar a situação. Agora, empresas que já tinham projetos
aprovados precisam buscar parceiros estrangeiros para não ficar em desvantagem.
Na prática, a SEI optava apenas pelo licenciamento de tecnologia. Os defensores do
nacionalismo tecnológico enviaram uma mensagem a SEI, apontando a decisão como
retrocesso em relação a luta pela autonomia tecnológica na área de computação
(TAPIA, 1995). O afastamento progressivo da SEI de sua proposta inicial de promover
um “salto tecnológico” para os superminis baseado em tecnologia nacional reflete as
falhas da política protecionista da reserva de mercado. No plano externo, os Estados
Unidos passaram a tomar uma posição mais ofensiva na defesa de suas empresas,
criticando o protecionismo brasileiro.
A política de informática passou a ser criticada internamente por multinacionais
e empresas nacionais insatisfeitas com as deliberações da secretaria, argumentando
que o fechamento da área de informática poderia comprometer o futuro industrial do
país e ampliar a distância com os países desenvolvidos (TAPIA, 1995). Outra pressão
era exercida através do movimento pelas eleições diretas e redemocratização, que
identificava a SEI como órgão do CSN e, portanto, instrumento do autoritarismo na
política pública. Para superar a crítica ao autoritarismo era necessário legitimar a
política através de sua aprovação no Congresso Nacional na forma da lei.
Segundo Dantas, abrir a discussão da política de informática era consequência
lógica do fim do regime militar, que poderia minar a existência da SEI. Para a
sobrevivência da política de informática era preciso afasta-la da esfera militar.
Tancredo Neves incorpora, então, a defesa à reserva de mercado na informática à
sua plataforma política de redemocratização, aliviando as tensões e afastando a
imagem denegrida do autoritarismo desta política (DANTAS, 1988).
Após longo debate chegou-se a uma composição e aprovação da lei 7.232/84,
que previa diversos instrumentos políticos abrangendo o setor de informática, dentre
eles “o controle da importação de bens e serviços por 8 (oito) anos” (artigo 4º, VIII).
Assim, a política nacional de informática, que até então havia se baseado em atos
30
normativos, portarias e resoluções de órgãos diversos, ganhou respaldo legislativo.
Essa institucionalização, contudo, gerou efeitos diversos. A expressão da reserva em
texto legal ofereceu um alvo pontual e evidente à pressão de seus opositores, entre
eles o governo norte americano (TAPIA, 1995).
É importante ressaltar, contudo, que a base para a abertura comercial só se
consolida a partir do governo Sarney e a Nova Política Industrial (NPI), que começa a
questionar os resultados do intervencionismo estatal das décadas anteriores, com
repercussões na política nacional de informática. Segundo a NPI, ocorriam profundas
alterações no comércio internacional em decorrência da nova revolução tecnológica
mundial, cuja consequência era a erosão das velhas vantagens comparativas
baseadas nas matérias-primas e nos baixos custos da força de trabalho. As medidas
desta política visavam atrair capital estrangeiro, desregular a atividade econômica e
facilitar a importação de novas tecnologias, contemplava também a supressão das
barreiras de importação, com o resgate das tarifas aduaneiras no papel de principal
instrumento de regulação do nível concorrencial da indústria, enquanto o estímulo às
exportações buscava saldos comerciais positivos e induzir à modernização industrial.
Ao final da década de 1980, era visível a insustentabilidade política da Lei de
Informática de 1984 (TAPIA, 1995).
2.1.2 Pressões Externas: a Disputa Comercial com os Estados Unidos.
O governo dos Estados Unidos acompanhava o desenrolar da política de
informática brasileira já a algum tempo. Em defesa dos interesses de suas empresas,
o departamento americano do comércio publicou documento alegando
comportamento “anti-americano” por parte do Brasil e, durante a discussão da Lei
7.232/84 no Congresso Nacional, fizeram uma consulta formal às autoridades do
GATT sobre a adequação da lei aos princípios do acordo internacional (TAPIA, 1995).
Em setembro de 1985, o governo Reagan abriu um processo para investigar a
política brasileira de informática baseado na Section 301 do Trade Act, legislação
interna que, entre outras coisas, dá poderes ao presidente para realizar retaliações
comerciais contra o país estrangeiro que não siga as diretrizes comerciais
determinadas em tratado internacional, ferindo os direitos norte americanos ou
restringindo o comércio. A partir de então, dá-se início a um período de disputas e
31
discussões diplomáticas com pressões e ameaças de retaliações comerciais que
durou cerca de três anos.
Entende-se facilmente a ofensiva dos Estados Unidos observando-se a balança
de comércio entre os dois países, que passou de déficit brasileiro para superávit de
mais de 5 bilhões de dólares num período de seis anos. Assim, outro tema discutido
entre os países foi a legislação brasileira de software. A orientação definida pela
CAPRE, e ratificada pela SEI, era da “importância de proteger e promover a
emergência de uma indústria local de software, com ênfase na produção e
comercialização de pacotes”, ainda que este setor não tenha tido uma
regulamentação específica até 1988. O governo americano exigia a criação de uma
legislação específica que desse cabo da reserva de mercado, previsse regras para o
combate à pirataria e proteção dos direitos autorais (copyrights).
O governo, os empresários e as entidades científico-profissionais rechaçaram
com veemência as ameaças norte-americanas e o sentimento nacionalista
recrudesceu. Contudo, após discussões e novas ameaças, chegou-se a um acordo
em meados de 1987: o Brasil aceitou não estender a lei vigente após 1992 e limita-la
ao setor de informática; foi aprovada a lei de software estabelecendo o regime de
direito autoral; foram feitas melhorias na administração da SEI; foi publicada uma lista
de produtos isentos às tarifas da reserva de mercado; e as restrições à investimentos
externos foram flexibilizadas, permitindo algumas associações entre empresas
nacionais e estrangeiras (TAPIA, 1995). Dessa forma, os Estados Unidos encerraram
as reclamações em relação ao software e postergaram as negociações quanto aos
demais temas.
As negociações, no entanto, foram abaladas em dois momentos em que os
interesses de empresas norte americanas entraram em jogo: o primeiro quando a SEI
indeferiu o pedido de seis empresas brasileiras para licenciamento do sistema
operacional MS-DOS, da Microsoft, alegando a existência de um similar nacional (o
Sisne, da Scopus); e o segundo quando da aprovação do projeto de fabricação de um
clone do equipamento Macintosh, da Apple, chamado MAC 512, parecia iminente. A
resposta norte-americana foi agressiva, e em novembro foram anunciadas medidas
de retaliação no valor de 105 milhões de dólares (EVANS, 2004). Mais uma vez
concessões foram feitas pelo governo brasileiro, reconsiderando o veto ao
licenciamento do MS-DOS e deixando claro que a autorização de comercialização do
32
MAC 512 estaria sujeita à comprovação de “desenvolvimento autônomo” do produto
pela empresa responsável.
Por fim, a crise diplomática chega ao fim em 1988, quando o governo norte
americano suspende as investigações e comunica o governo brasileiro do fim de suas
atividades relativas à política brasileira de informática; após a aprovação da lei de
software 7.646/87 que, apesar de admitir o regime autoral, restringia o prazo de tutela
a 25 anos e exigia o registro do programa na SEI antes de sua comercialização.
2.1.3 Análise da Reserva de Mercado à Luz dos Elementos Teóricos.
No início da década de setenta o setor de informática viveu seu primeiro grande
surto de dinamismo e revolução tecnológica nos países desenvolvidos, devido a sua
participação na modernização dos outros setores para o aumento generalizado da
produtividade. A grande complexidade das relações comerciais envolvendo
informática tornava difícil definir o papel do Estado, ou mesmo se este teria
capacidade e competência técnica para a criar de uma estratégia adequada ao setor.
Segundo Evans, a resposta imediata a esse problema era a reafirmação do modelo
neoliberal: o governo não tem agilidade nem o conhecimento técnico necessário para
intervir positivamente (EVANS, 2004).
Contudo, países de industrialização recente e sob regimes intervencionistas
como Brasil não aceitaram essa lógica. Entendia-se que o empresariado nacional não
dispunha do capital, recursos humanos e tecnologia necessária para implantar uma
indústria de informática competitiva e sustentável. Portanto, aceitar as versões
tradicionais da teoria das vantagens comparativas iria deixar esses países à margem
do processo tecnológico em andamento. Além disso, o exemplo dos países
industrializados era justamente o contrário. No Japão e nos Estados Unidos foram
realizados projetos ambiciosos com financiamento e participação do governo para a
ampliação de suas respectivas indústrias de alta tecnologia (EVANS, 2004).
O caso brasileiro, no entanto, apresenta uma interessante singularidade sob
análise teórica. A política industrial, de forma geral, adotada nesse período fornece
elementos de sustentação para ambos modelos, ao mesmo tempo em que é possível
identificar os elementos basilares à crítica evolucionista no caso específico da
informática. A atuação do governo mostrou-se fundamental na construção de um
33
parque industrial e da capacitação tecnológica dos recursos humanos, sobretudo no
que tange os aspectos necessários para lidar com o setor de informática. Por outro
lado, a partir do momento em que este setor já não se enquadrava mais no conceito
de indústria infante de List, no final da década de 1970, a mesma atuação gerou
rendas e ineficiências econômicas, resguardando empresas do estímulo à inovação e
superação de paradigmas tecnológicos representado pelo mercado externo.
Dentre as críticas levantadas contra a política de informática, podemos
destacar os preços elevados no mercado doméstico e as exportações irrisórias, um
quadro institucional que favorecia o lobby e inibia esforços de inovação mais
expressivos. Tais problemas demonstram um claro desacordo com a teoria
neoschumpeteriana, onde a sobrevivência da empresa no longo prazo depende de
sua capacidade inovativa e no conjunto de habilidades (skills) adquiridos ao longo do
tempo. Os neoclássicos, por outro lado, argumentam que o desmonte da grande
maioria das empresas de informática, observado a partir do início da ruptura com as
políticas da reserva, pode ser lido como uma prova de que estes atores adotaram
estratégias de rent-seeking, abandonando seus negócios quando a intervenção
governamental que garantia seus lucros cessou.
É possível dizer também que a abordagem neoclássica consideraria a proteção
e o incentivo estatal a essas empresas como uma ineficiência alocativa, pois não se
observa uma falha de mercado a ser corrigida. A intervenção governamental teria
retirado a economia de seu curso ótimo ou sub ótimo, afastando-a de um ideal de
otimalidade paretiana. Numa análise mais ampla, a proteção ao setor de informática
deficiente afetou as demais áreas da economia, que foram obrigadas a utilizar
insumos e componentes mais caros e menos desenvolvidos que o mercado mundial,
reduzindo sua competitividade tanto em âmbito externo quanto interno. Este ponto,
segundo Tapia, foi muito enfatizado pelos opositores à reserva de mercado, em
especial por aqueles envolvidos em atividades produtivas dependentes de sistemas
de automação mais modernos para ampliar sua capacidade competitiva (TAPIA,
1995).
A teoria das falhas de governo, por sua vez, pode ser utilizada para explicar
alguns dos problemas provenientes da reação do governo brasileiro aos choques
externos. Parte da justificativa e do sucesso da implementação das medidas
protecionistas da política de informática se deveu a fatores não propriamente
34
programados pelos técnicos da CAPRE e da SEI, como a crise do petróleo e o advento
dos microprocessadores. Por outro lado, a ascensão da ortodoxia econômica no final
da década de 1980 e a crise da dívida brasileira agiram, todo o tempo, sobre o
processo de decisão do governo ao implementar tais políticas. Segundo essa
perspectiva, a ineficiência do parque industrial de informática brasileiro resulta da
incapacidade natural dos agentes governamentais de conseguir prever novos
problemas e tomar providências para neutralizar ou minimiza-los.
2.2 A Nova Política De Informática.
Após décadas de esforços deliberados para a construção de uma indústria de
informática avançada e inovadora, os anos noventa representam, de forma geral, o
triunfo da ideologia liberal, reforçada pelas recomendações políticas do Consenso de
Washington e influência do entendimento evolucionista dos estímulos à inovação.
Segundo estes preceitos se inicia uma nova fase na política de informática brasileira
sob a tutela do primeiro governo nacional eleito após o fim da ditadura militar.
2.2.1 A Orientação Econômica e a Política de Informática do Governo Collor.
A década de 1980 chega ao fim em meio à crise econômica e problemas
políticos num governo caracterizado por um forte imobilismo. O cenário
hiperinflacionário e a crise fiscal e financeira do Estado brasileiro atingiam proporções
insustentáveis. Assim, a implementação de qualquer nova estratégia política exigia
rompimento dessa inércia e enfrentamento dos problemas, resultando num impacto,
direto ou indireto, em todos os setores da econômicos. Embora a mudança em alguns
elementos observados na década de 1990 tenham sido iniciados no final da década
anterior, Bauman refere-se a este período como a “década das reformas”, onde as
etapas mais significativas do processo começaram a ser cumpridas. Ao fim dessa
década o Brasil apresenta uma economia com um grau expressivo de abertura ao
comércio de bens de capital, e simultânea redução da função do Estado como
produtor direto (BAUMAN, 1999).
35
O Partido da Reconstrução Nacional de Fernando Collor de Mello já
apresentava um forte discurso de liberalização da economia antes mesmo da
ascensão ao poder, o que deixava a indústria de informática local receosa em perder
a proteção política que tinha até então. Ao ver a derrota do candidato que apoiavam
abertamente (Luís Inácio Lula da Silva), os empresários deste setor passaram a
concentrar suas forças no Congresso Nacional, pressionando os parlamentares para
apoio de suas bandeiras (COLOMBO, 2009). Assim, até a posse do novo governo, o
discurso de liberalização era cauteloso, ainda que firme, propondo um acordo
equilibrado entre os interesses dos produtores, usuários e governos, e na manutenção
da SEI como órgão decisório, promessa que não resistiu por muito tempo.
O Plano Brasil Novo, ou Plano Collor, é lançado no dia seguinte à posse,
apresentando um projeto de estabilização violento, baseado na captura das
poupanças privadas e no lançamento de uma nova moeda (o cruzeiro). À ele,
seguiram-se ainda dois planos, o Plano Eris, de controle monetário, e o Plano Collor
II, no começo de 1991, todos sem sucesso. No final de 1991, a inflação mensal no
Brasil ainda estava na casa dos 20%. (BRESSER PEREIRA, 2003). As medidas
tiveram forte impacto sobre a indústria de informática ao expô-la aos níveis de
competição do mercado externo, causando a rápida perda em vendas e popularidade
dos produtos nacionais.
O programa de liberalização do governo, no âmbito comercial, teve início com
uma nova Política Industrial e de Comércio Exterior (PICE), publicada pela Portaria
365/90 do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. A PICE define as novas
diretrizes de ação governamental “substancialmente diferentes daquelas vigentes ao
longo do processo de substituição de importações”, objetivando o aumento da
eficiência na produção e comercialização de bens e serviços. Assim, este documento
torna-se o lastro que norteia as reformas na política econômica em todos os setores,
como o da indústria de informática. Segundo Baptista, a PICE traça um “diagnóstico
da natureza estrutural da crise brasileira”, partindo do esgotamento de uma estratégia
desenvolvimentista calcada na proteção ao mercado interno e substituição de
importações, corrente desde a década de 50 (BAPTISTA, 1997). A nova proposta era,
portanto, romper com esta crise, através de um Estado menos interventor. O
investimento direto externo passaria a ser aceito e estimulado em quase todas as
atividades, fomentando a concorrência no mercado interno. Nos termos da PICE:
36
“a principal responsabilidade do Estado nesta fase do desenvolvimento industrial brasileiro é garantir a estabilização macroeconômica e a reconstrução de um ambiente favorável aos investimentos em geral [...]. Dedicado exclusivamente às suas funções básicas e recuperada sua capacidade de poupar, o Estado deixará de absorver o esforço de poupança nacional, abrindo espaço para que o capital privado exerça plenamente seu papel de principal agente do processo produtivo. [...] O investimento direto estrangeiro significará para o País, nesta nova etapa, importante fator na recuperação da taxa de investimento, na expansão do comércio internacional e no acesso à tecnologia. Neste aspecto específico será estimulado o maior envolvimento das empresas estrangeiras em atividades de pesquisa e desenvolvimento no País” (Portaria MEFP 365/90 - Diretrizes para a Política Industrial e de Comércio Exterior).
Desta forma, neste novo Estado pós-desenvolvimentista proposto na PICE, a
decisão de quanto e onde investir estaria nas mãos dos empresários, o fluxo de capital
seria livre e as barreiras à entrada de produtos estrangeiros seria mínima. Ao Estado
caberia a responsabilidade de garantir a estabilização macroeconômica e a
construção de um ambiente favorável aos investimentos em geral, com o
estabelecimento de regras claras e estáveis. O capital estrangeiro é considerado não
só desejável como também uma peça chave do modelo, sua atração se daria pela
estabilização econômica e retomada do crescimento em bases internacionalmente
integradas. Este capital permitiria o aumento da taxa de investimento local, a
agilização e incremento do mercado externo, e a modernização tecnológica
(MAZZEO, 1996).
A PICE representava uma nova postura frente ao capital externo, reforçada
pela eliminação de restrições setoriais anacrônicas e de preconceitos residuais. Para
além da forte ênfase na política de importações (a tarifa aduaneira passaria a ser o
único instrumento de ação estatal nesse ponto), a nova política industrial contemplava
também o apoio à capacitação tecnológica da indústria e o uso do poder de compra
do governo para geração de demanda a setores tecnológicos de ponta. Segundo
Baptista, a PICE sustentava-se em quatro pilares básicos: abertura comercial
(consubstanciada na redução tarifária e na remoção das restrições não tarifárias),
desregulamentação dos mercados, eliminação das restrições ao capital estrangeiro e
privatizações (BAPTISTA, 1997).
Tapia identifica na estratégia desenhada pelo governo Collor dois conjuntos de
medidas que deveriam caminhar juntos para gerar as condições previstas em seu
novo modelo de desenvolvimento: o primeiro é o estímulo concorrência, constituído
pelas medidas liberalizantes e o fim da reserva de mercado; e o segundo é o
desenvolvimento da competitividade da economia local, por meio dos incentivos e da
37
nova política industrial (TAPIA, 1995). Já Cassiolato e Baptista (1996) afirmam que o
fracasso na completa implementação do projeto do governo pode ser resultado das
incoerências entre estes dois conjuntos de medidas, inclusive no plano teórico, onde
se observa elementos liberais e neoschumpeterianos.
A política de informática destacou-se na formulação da PICE, a antiga política
e o setor eletrônico são expressamente mencionados nas diretrizes como um dos
setores que deveriam ser abertos à concorrência. Contudo, não havia um cronograma
definido para a implementação da abertura, nem termos claros sobre como ela se
daria. Nesse sentido, Tapia afirma que, houve um descompasso entre o anúncio das
diretrizes gerais, liberais, que deveriam nortear a PICE e o detalhamento das
propostas. Isso gerou, de um lado, uma grande dose de incerteza e, de outro, um
espaço de mobilização e de articulação dos vários interesses envolvidos (TAPIA,
1995).
O debate neste período teve várias vozes que se convergiam em dois polos
distintos e contrários. De um lado o Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento,
por meio da Secretaria de Comunicação e Tecnologia, tomava uma postura
liberalizante mais radical, conforme as orientações da PICE, argumentando que a
rápida abertura e a extinção das competências dos órgãos governamentais sobre a
importação e fabricação de equipamentos provocariam um choque de competitividade
na indústria de informática que a forçaria a aumentar os esforços de modernização.
Na outra ponta encontravam-se as empresas e associações do setor, que defendiam
a necessidade de uma transição mais gradual e seletiva, que considerasse os nichos
de mercado de maior competitividade, estimulando-os com alguma proteção
remanescente, enquanto os demais seriam liberados, barateando insumos e
componentes. Segundo Tapia, para o empresariado, a abertura gradual ampliava o
período de vigência da lei e aumentava o poder de barganha ante os parceiros
multinacionais no processo de constituição de joint ventures (TAPIA, 1995).
O locus do debate e negociação quanto a política de informática deslocou-se
do âmbito do Poder Executivo para o Legislativo, e a pressão dos lobistas teve grande
efeito na política que viria a ser adota. A mais forte proposta apresentada no
Congresso era alternativa às diretrizes da PICE; formulada no âmbito da Comissão
de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) da Câmara dos
Deputados, ficou conhecida por “Substitutivo Luiz Henrique”. Este projeto apresentava
38
uma preocupação com a construção e manutenção de capacitação tecnológica
nacional, sua ideia era estabelecer um novo marco regulatório de incentivos que
suprisse o vazio gerado pela extinção da política anterior. Seria instituída, assim, uma
nova política de informática com um menor nível de protecionismo, e não apenas
destruída a anterior, como a opção da PICE. Nota-se portanto que o substitutivo Luiz
Henrique pretendia uma atuação ativa do Estado promovendo a indústria local, com a
concessão de incentivos e proteções. A importância conferida ao papel do Estado é
tamanha que se chega a mencionar que a reserva de mercado só não é novamente
proposta devido às restrições do GATT.
O projeto, contudo, passou por várias alterações antes de seguir para a sanção
presidencial. As duas mais importantes emendas dentre as 10 apresentadas pelo
Senado são a supressão da exigência de metas de exportação de 25% do faturamento
bruto para que empresas estrangeiras operarem no país e a introdução de um
dispositivo exigindo que 40% da verba destinada a pesquisa (5% do faturamento
bruto) fossem aplicados em centros de pesquisa ou institutos de pesquisa ou de
ensino brasileiros. Em 1991 é sancionada a nova Lei de Informática, 8.248/91,
apresentando ainda 4 vetos ao projeto vindo do Senado, que tornaram a Lei mais
liberal, na medida em que o governo abriu mão da exigência do atendimento de alguns
requisitos por parte das empresas multinacionais para que pudessem pleitear os
incentivos previstos na legislação. Mesmo assim, as linhas básicas da nova lei
exprimiram o acordo firmado entre técnicos do governo, as lideranças empresariais e
os partidos políticos. Segundo Tapia, tais acordos foram forçados entre partidos
conflitantes e tornaram a lei problemática em diversos aspectos. O autor critica o
conjunto de dispositivos firmados, tratando-o como “conjunto esquizofrênico de
medidas” (TAPIA, 1995, p. 319).
No fim, a Lei 8.248/91 foi tecida visando a conciliação entre os ímpetos
liberalizantes do governo Collor de Mello e os interesses e posições dos setores
nacionalista e do empresariado do ramo. Em linhas gerais, a lei trouxe nove pontos
de destaque: (i) o fim da reserva de mercado em 29 de outubro de 1992, (ii) a definição
de empresa de capital nacional como aquela em que 51% ou mais do capital volante
esteja em mãos de residentes no país, (iii) isenção de IPI para os bens com níveis de
valor agregado local compatíveis com as características de cada produto até outubro
de 1999, (iv) preferência da administração pública federal, na aquisição de bens e
39
serviços de informática, às empresas brasileiras de capital nacional com produtos
desenvolvidos a partir de tecnologia local, (v) prioridade às empresas de capital
nacional para financiamentos diretos e indiretos concedidos por instituições
financeiras federais ou seus repasses, para custeio dos investimentos em ativo fixo,
ampliação e modernização industrial, (vi) dedução do valor gasto com pesquisa e
desenvolvimento no valor devido de IR, até o limite de 50%, até o ano de 1997, (vii)
todas as empresas do país poderiam deduzir do IR devido o valor de ações de
empresas brasileiras dedicadas à atividade de informática adquiridas, até o limite de
1%, desde que as ações fossem novas e inalienáveis pelo prazo de 2 até o ano de
1997, (viii) em contrapartida aos benefícios mencionados, as empresas de informática
deveriam investir 5% de seu faturamento bruto no mercado interno de bens e serviços
de informática em atividades de pesquisa e desenvolvimento, conforme projeto
elaborado pelas próprias empresas, onde um mínimo de 2% seriam aplicados sem
convênios com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino,
oficiais ou reconhecidas, (ix) as empresas estrangeiras deviam investir na capacitação
de seu corpo técnico e cumprir um programa de exportação.
No mesmo ano, pouco antes da nova Lei de Informática, foi aprovado o
segundo Plano Nacional de Informática e Automação – II PLANIN, que considera a
informática um setor importante e estratégico para o desenvolvimento nacional na
medida em que afeta outros setores. O II PLANIN tinha três objetivos: a melhoria e
aumento da competitividade da indústria nacional (para competição no mercado
externo); o desenvolvimento tecnológico, entendido como a capacidade de gerar,
desenvolver, aperfeiçoar, absorver e selecionar tecnologias; e informatização da
sociedade brasileira, que até então não tinha adotado a cultura do computador
pessoal como em outros países. Para atingir estes objetivos, usou-se de estratégias
consonantes às diretrizes da PICE: abertura econômica, diminuição do papel do
Estado e focalização de incentivos e programas. As principais medidas estão voltadas
à generalização do uso da informática, à busca de competitividade da produção, ao
estímulo a pesquisa e desenvolvimento, e à formação de recursos humanos na área.
Baptista, tomando por base as mudanças no cálculo empresarial, identifica
duas repercussões centrais na estrutura industrial e no ambiente de negócios.
Primeiramente, devido à concorrência direta das importações, a indústria brasileira
passa a formular suas estratégias no mercado externo. Além disso, diversos
40
elementos que antes eram tomados como parâmetros inescapáveis do processo
produtivo tornam-se variáveis de decisão, possibilitando a escolha da melhor
alternativa. Dentre eles podem ser destacados: a separação entre decisões de
produção e comercialização, uma vez que agora era possível adquirir peças e
componentes no mercado externo; maior liberdade nas decisões de fabricação ou
aquisição de partes e insumos (decisões de make-or-buy); e incremento no leque de
opções tecnológicas, tanto da fonte e tipo da tecnologia quanto da estrutura contratual
a ser utilizada para sua aquisição. Contudo, Batista aponta que, apesar de maior
liberdade, houve uma forte semelhança entre as opções seguidas pelos atores
nacionais na escolha de parceiros e fornecedores externos (BAPTISTA, 1997).
Essas mudanças resultaram no efeito mais deletério da abertura comercial, a
alteração na composição patrimonial da indústria, gerando uma desnacionalização de
seu capital, uma reversão da tendência que havia sido determinada pela reserva de
mercado. Segundo Baptista, esse processo teve duas fases. Num primeiro momento
(1990-1993) ocorreram a formação de joint-ventures e acordos de licenciamento de
tecnologia e distribuição. Após esse período, houve a dissolução desses acordos, na
medida em que as empresas nacionais foram sendo paulatinamente absorvidas pelo
capital estrangeiro. Este movimento implicou a interrupção do processo de formação
de redes de fornecedores especializados que vinha se consolidando ao longo do
período da reserva de mercado e que constituía uma externalidade relevante
propiciada por esta política. A política de informática (especialmente a isenção de IPI),
contudo, teve a virtude de limitar esse movimento no que se refere aos produtos finais.
Ao exigir um mínimo de agregação, este incentivo favoreceu a montagem de produtos
finais no país e fomentou a realização de investimentos produtivos (BAPTISTA, 1997).
2.2.2 A Primeira Renovação da Lei de Informática (2001).
O governo Fernando Henrique Cardoso manteve a política econômica de
abertura, causando profundas mudanças estruturais na indústria ao afetar seu nível
de investimento, preços, produção, valor adicionado, margens, emprego, coeficientes
de comércio e produtividade. A fim de consolidar o Plano Real e amortecer as crises
econômicas internacionais ocorridas ao final dos anos noventa, deu-se
preponderância aos instrumentos estabilizadores da política econômica. A noção de
41
política industrial, sob uma perspectiva sistêmica e integrada de diversos setores, foi
negligenciada ou abandonada (CAMPANARIO, SILVA E COSTA, 2005).
A grande entrada de capital estrangeiro, a formação de parcerias e o
fornecimento de insumos para a indústria nacional desde o início do processo de
abertura tornavam cada vez mais evidente o problema do artigo 171 da constituição
brasileira de 1988, no que tange o conceito de capital nacional. Este artigo definia a
empresa de capital nacional como aquela “constituída sob as leis brasileiras e que
tenha sua sede e administração no País”, e permitia à lei conceder proteção e
benefícios especiais temporários à empresa de capital nacional e estabelecer outras
condições e requisitos, como o controle das atividades tecnológicas, quando entender
ser um setor imprescindível ao desenvolvimento tecnológico nacional. Assim, a fim de
acabar com esta distinção em relação ao capital e, por consequência, com os
remanescentes da reserva de mercado, o artigo 171 é revogado pelo artigo 3o da
Emenda Constitucional 6/95. Já no fido ano de 1997 encerraram-se também os
incentivos de 50% de IR para empresas de informática e da capitalização incentivada
(SEPIN, 2003).
A isenção de IPI previsto na Lei 8.248/91 para durar até outubro de 1999, por
outro lado, permaneceu como um importante incentivo à indústria. Um ano antes do
fim da vigência, a indústria e setores do governo começaram a se movimentar para
discutir uma renovação dos incentivos. O então Ministro da Ciência e Tecnologia,
Bresser Pereira, foi um dos que defendeu amplamente a renovação dos incentivos. O
argumento pró-renovação da Lei descreve o setor como prioritário para a economia
brasileira, como meio capaz de alavancar a modernização e competitividade de todos
os setores produtivos da atividade econômica do país e, consequentemente, apoiar o
seu desenvolvimento econômico e social. Para além, foi encomendado um estudo
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) quanto à importância dos incentivos
que mostrava que para a quase totalidade das empresas a isenção de IPI e a redução
do IR foram muito importantes tanto para a competitividade empresarial como para o
desenvolvimento tecnológico. Portanto, a extinção desses benefícios teria um impacto
significativo sobre a atividade tecnológica.
Apesar do posicionamento favorável do governo em relação à renovação
destes incentivos a decisão ficou travada no Congresso pelo conflito de interesses do
governo e dos parlamentares da bancada norte do país, em especial do estado do
42
Amazonas. Para este segundo grupo a política de informática era identificada como
conflitante com o esforço de regionalização industrial realizado através da política
pública da Zona Franca de Manaus, que definia a área como de livre comércio de
importação e exportação, além de aplicar incentivos fiscais especiais (TAVARES,
2001). Os benefícios aplicados à Zona Franca na década de sessenta haviam sido
garantidos até 2013 pela Constituição de 1988, e esta movimentava um grande
volume de recursos financeiros proveniente do setor eletroeletrônico, constituindo o
maior polo de desenvolvimento industrial daquele estado.
A legislação aplicada à região oferecia incentivos fiscais às empresas de
informática que lá se instalassem (sendo o principal a isenção de IPI), tendo também
que cumprir com contrapartidas de pesquisa e desenvolvimento e grau de agregação
de valor local, semelhante à Lei de Informática. Dado à semelhança, os parlamentares
defensores da Zona Franca viam na política de informática uma concorrência muito
forte ao desenvolvimento industrial da região, já que, se as empresas de informática
poderiam receber os mesmos incentivos instalando-se em polos industriais já
consolidados (em especial na região sudeste), não haveria maiores estímulos ou
razão no seu deslocamento para a região amazônica.
O conflito entre a política de informática e a ZFM é, portanto, uma luta de
interesses entre duas políticas públicas que apresentam pontos de contradição e
incoerência entre si. Os diferentes parlamentares que defendiam um e outro grupo
buscavam atender as necessidades e anseios de suas regiões, buscando com isso
atrair e criar incentivos para a instalação de empresas de informática. Para viabilizar
a aprovação do projeto, foi fechado um acordo que trazia: a redução do prazo da
prorrogação da Lei de Informática, que passaria a valer apenas até 2009, havendo um
aumento gradual da tributação a partir de 2001; uma alíquota diferenciada para as
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que garantiria uma redução em torno de 1%
no preço final dos produtos dessas regiões; e parte dos recursos exigidos de pesquisa
e desenvolvimento (5% do faturamento bruto) deveriam ser utilizados em instituições
de ensino das mesmas regiões mencionadas, além do 0,5% que deveria ir para os
fundos setoriais. Findados os conflitos, o projeto foi aprovado pelo Congresso
Nacional e promulgado em janeiro de 2001 como a Lei 10.176.
43
2.2.3 Governo Lula e a Segunda Renovação da Lei de Informática (2004).
Em 2000 iniciou-se a crise no mercado financeiro internacional envolvendo as
empresas de alta tecnologia que ficou conhecida como “crise das ponto-com”. Essa
foi a primeira grande crise estrutural pela qual passaram as empresas de informática,
com diminuição real do valor de suas vendas. Podem ser citadas como causas a
explicar parcialmente o problema: métodos de produção mais eficientes que passaram
a demandar menores estoques; o investimento excessivo das firmas, especialmente
em capacidade de telecomunicações, esperando uma demanda por serviços que não
se realizou; a saturação de mercados relevantes para essas empresas, como o de
computadores pessoais nos Estados Unidos e o de telefonia celular na Europa; um
ajuste nos preços das ações e valores mobiliários das empresas (o estouro da bolha);
e a guerra de preços entre as empresas quando a crise deflagrou. Em 2002 as firmas,
especialmente as de maior porte, retomaram seus investimentos, havendo uma
concomitante volta do consumo. A recuperação, entretanto, não ocorreu em igual
intensidade nos diversos setores e países nos quais opera a indústria, causando uma
recomposição no quadro e mapa de atividades. Os setores de consumo e negócios
(computadores pessoais, banda larga e aparelhos de telefonia celular) apresentaram
crescimento mais acelerado, em detrimento de bens de investimento, como a
infraestrutura em telecomunicações, que sentiriam por mais tempo os efeitos do
superinvestimento (OCDE, 2004).
Neste contexto, o governo Lula da Silva em 2003, traz de volta à pauta a política
industrial em seu Plano Plurianual, deixando clara intenção de voltar à promoção
setorial e estabelecer um marco regulatório e de incentivos à indústria. Segundo a
orientação estratégica do plano, a política industrial deveria atuar em dois níveis:
horizontal e vertical. As políticas horizontais deveriam reduzir o custo Brasil e buscar
isonomia de tratamento das exportações e importações brasileiras de bens e serviços.
Pode-se identificar então, analisando a natureza dessas medidas, um elemento de
continuidade com os ideais macroeconômicos seguidas pelo governo anterior.
Entretanto, tais medidas apenas são insuficientes para diversificar a produção e
aumentar a competitividade. Para tanto, o governo reconhecia a importância de
políticas verticais para setores estratégicos (MPOG).
Ao final de 2003 o governo lança as Diretrizes da Política Industrial, Tecnologia
e Comercio Exterior (PITCE), que dá especial destaque nos temas de inovação,
44
pesquisa e desenvolvimento e setores intensivos em tecnologia, dentre eles, dois
relacionados ao complexo de informática: software e semicondutores. Compreende-
se a importância econômica e social em desenvolver tais setores, bem como o
problema de sua baixa contribuição a pauta de exportações e baixa competitividade
internacional. No mesmo ano, o Ministério da Ciência e Tecnologia promove o I
Seminário Resultados da Lei de Informática, reunindo empresários, profissionais,
professores e pesquisadores atuantes em empresas beneficiárias dos incentivos da
Lei, e em instituições de ensino e pesquisa que receberam recursos da contrapartida
da Lei, bem como representantes dos órgãos da administração pública. O seminário
teve por objetivo discutir a Lei de Informática e o estímulo a investimentos em
pesquisa, desenvolvimento e produção (SEPIN, 2004).
O segundo processo de renovação da Lei de Informática começa com a
reforma tributária proposta pelo governo Lula na PEC 41/03. O objetivo central da
reforma era a racionalização e simplificação dos tributos, e promoção da justiça social,
desonerando as pessoas de menor renda. Contudo, tributaristas argumentavam que
a proposta, se aprovada nos termos iniciais, traria novas irracionalidades ao sistema
tributário nacional e aumentaria a carga tributária, o que levou a um longo debate e
processo de negociações no Congresso. Por fim, a composição final do documento
trazia, além da reforma tributária, a prorrogação da ZFM e a renovação da Lei de
Informática por mais dez anos, pelo reconhecimento da importância destas para o
desenvolvimento econômico e o fortalecimento da pauta de exportações de produtos
manufaturados.
Ao final de 2004, o presidente sanciona a Lei 11.077, estabelecendo que
produtos e bens de informática desenvolvidos no país teriam uma maior redução na
carga de IPI do que aqueles que fossem simplesmente fabricados localmente.
Também foi escalonado o término gradual dos incentivos (fasing-out) até uma alíquota
mais alta de IPI em 2016 (30%), que valerá até o final 2019. A diferença da carga
tributária incidente entre os dois grupos não chega a ser grande. O valor da redução
de IPI é apenas 15% maior para os produtos desenvolvidos no país (95%) do que para
os demais (80%) até 2014, e a partir de 2016 ambos terão o mesmo benefício de 70%
a menos no valor do imposto.
Apesar de obter sucesso primeiros anos após a renovação, a política de
informática ainda apresenta falhas no que tange a sustentabilidade do
45
desenvolvimento do setor e na pesquisa e desenvolvimento em território nacional,
como será discutido no terceiro capítulo deste trabalho.
2.2.4 Mudanças na Política de Informática Brasileira à Luz dos Elementos
Teóricos.
O âmbito teórico e ideológico da política de informática foi alterado
profundamente ao longo da década de noventa. Pode-se delinear, de forma geral,
duas fases dessa mudança: um primeiro momento marcado pelo embate entre a visão
liberalista neoclássica, propondo a rápida extinção da reserva de mercado, e um
projeto que preservava alguma ação estatal localizada de incentivo à inovação, com
um viés que pode ser considerado neoschumpeteriano e desenvolvimentista; num
segundo momento em que se percebe a ausência de um fulcro teórico econômico
lastreando o debate, passando este a ser baseado no conflito com os partidários da
ZFM.
Como identificado na primeira parte desse capítulo, o conjunto de ações
governamentais nas décadas de setenta e oitenta estão muito próximos de uma
clássica estratégia de estufa, propostos por List. Contudo, as pressões externas, as
regras rígidas de tratados internacionais sobre o livre comércio e as diversas críticas
e problemas ressaltados por empresários e consumidores inviabilizam a continuidade
dessa política no Brasil a partir da década de noventa. Ainda assim, é possível traçar
um paralelo teórico para cada opção que surge dos debates sobre a Lei 8.248/91 e
do novo modelo adotado.
A proposta marcadamente liberal aparece ainda na década de 1980, defendida
pelo MEFP, que trazia como ideia central a rápida abertura do setor à concorrência
externa, firme extinção de quaisquer benefícios às empresas nacionais e restrições
ao capital externo. A proposta ditava ainda que o Estado deveria se abster de qualquer
política de intervenção no setor a partir de então. Este projeto tem um claro
alinhamento teórico neoclássico a medida em que a exclusão do Estado do jogo
econômico revela uma crença na capacidade auto regulatória do livre mercado para
a alocação mais eficiente dos recursos. A intervenção estatal seria a principal
responsável pelos desequilíbrios e ineficiências econômicas. Esta visão, portanto, não
deixa qualquer espaço para reflexão sobre a constituição de capacitação tecnológica
local, desenvolvimento industrial ou construção de vantagens comparativas ao longo
46
do tempo. O desenrolar do comércio seria responsável por definir se as empresas
brasileiras de informática teriam condições de competir com seus concorrentes
externos, ou se, ao contrário, elas representavam um investimento equivocado de
capital e recursos humanos.
Já a visão neoshcumpeteriana se faz presente no substitutivo Luiz Henrique.
Apresentado como alternativa à PICE, o substitutivo demonstrava uma preocupação
com a construção e manutenção de capacitação tecnológica nacional. O governo
federal preservaria uma margem de manobra para intervenção no setor através das
regras para formação de joint-ventures e para entrada do capital externo, e dos
incentivos fiscais às empresas locais. O paralelo evolucionista se encontra no papel
ativo do Estado na preservação das capacidades tecnológicas e empresariais já
construídas, e na promoção da competitividade para que essas empresas pudessem
se manter no mercado. Conforme exposto no primeiro capítulo deste trabalho, a
corrente neoschumpeteriana aceita e propõe tanto medidas de cunho horizontal como
mecanismos seletivos de política, levando empresas ao aprimoramento e à busca de
métodos mais eficientes de produção no longo prazo (eficiência dinâmica).
A princípio, a Lei de Informática resultante deste embate foi a tentativa de
conciliar estas duas ideologias, trazendo, ainda que severamente abrandadas,
possibilidades de atuação estatal vertical para a implementação de uma política
industrial, como os incentivos fiscais, a preferência nas compras governamentais e as
contrapartidas em pesquisa e desenvolvimento. Contudo, os momentos seguintes de
discussão em torno da política de informática e as duas renovações da Lei são
marcados pelo desvio do debate para longe das fundamentações teóricas econômicas
e políticas. O cerne da discussão encontrava-se entre os partidários da política da
informática e aqueles que a identificam como um empecilho à política pública de
desenvolvimento regional de Manaus.
Observando todo o cenário, fica evidente que as medidas de cunho liberal, por
si só, exporiam uma indústria despreparada, sem tempo de modernização e
adaptação aos padrões internacionais, à forte pressão externa. As reduções e
isenções (IPI), os incentivos semelhantes para pesquisa e investimentos nas
empresas de informática (IR), as exigências de contrapartida em pesquisa, tanto
interna quanto conjunta com universidades e centros de pesquisa e os fundos setoriais
seriam tão condenadas quanto a reserva de mercado pelo viés neoliberal, acusadas
47
de ineficiência ao alterar os sinais e custos de oportunidade do sistema de preços de
mercado. Dessa forma, esta política levaria os agentes menos competitivos a obterem
maiores lucros por uma discriminação tributária, ou direcionando a utilização de
recursos para atividades (P&D) que poderiam não trazer o melhor retorno do
investimento realizado.
A importância e resultados destas medidas podem ser reconhecidos pelo viés
evolucionista, onde essas ações são vistas como geradoras de eficiência em termos
sistêmicos e competitividade empresarial ao longo do tempo. Sob essa perspectiva,
esperava-se que as empresas de informática que aderiram à política utilizassem os
incentivos para garantir sua sobrevivência estimulando a inovação tecnológica, com
externalidades positivas que viriam a beneficiar economicamente o país. Esta
contribuição deu-se não apenas em função das reduções fiscais, mas principalmente
pela arquitetura de incentivos que fez com que empresários, nacionais e estrangeiros,
preservassem no país a parcela final do processo de montagem dos equipamentos,
incentivando, ainda que em menor grau, as empresas a manterem suas instalações
no território nacional. Esta seria uma forma de tentar obter eficiência e competitividade
no longo prazo. Desta forma, parece haver evidências suficientes para argumentar
que a política de informática tem por base tanto elementos provenientes de uma
racionalidade econômica neoclássica quanto neoschumpeteriana.
2.3 A Estratégia Chinesa de Desenvolvimento Industrial.
A formação da indústria eletroeletrônica chinesa remonta às reformas
liberalizantes da segunda metade da década de 1970. Ao fim do regime de Mao Tsé-
Tung, com sua morte em 1976, a posição de chefe-de-estado foi ocupada
provisoriamente por vinte vice-líderes (até 1978), que buscaram ativamente novas
políticas para conseguir investimento externo e desenvolvimento industrial. Não se
pretendia adotar um novo modelo econômico, mas sim políticas direcionadas que
permitissem avanços incrementais de baixo risco na resolução dos principais gargalos
do sistema econômico. Neste intuito, passou-se a observar a estratégia japonesa de
desenvolvimento industrial em seu período de maior crescimento (1956-1972), dado
à maior similaridade de condições estruturais, logísticas e culturais do Japão se
comparado às economias ocidentais. Os líderes chineses concluíram que o sucesso
48
japonês foi resultado da orientação e planejamento estatal aliados a políticas
industriais robustas de longo prazo. Assim, política industrial foi debatida e aprovada
como uma interface aceitável entre as ferramentas de Estado e os mecanismos de
competição do mercado (HEILMANN E SHIH, 2013).
A partir de 1978 e o início do novo governo de Ye Jianying o governo passa a
focar seus esforços na atração de Investimento Direto Externo (IDE) afim de agregar
técnicas gerenciais atualizadas e novas tecnologias capazes de modernizar a
economia do país. Com esse objetivo, em 1980, são criadas as quatro primeiras Zonas
Econômicas Especiais (ZEEs) estrategicamente localizadas na região costeira
próxima de Hong Kong e Taiwan. Estas regiões, de forma análoga à Zona Franca de
Manaus brasileira, ofereciam incentivos tributários e isenção de imposto de renda às
ao capital estrangeiro ali investido, além de regime aduaneiro especial de drawback,
ou seja, a isenção, suspenção ou restituição de tributos incidentes em insumos
importados utilizados na produção voltada à exportação. Assim, a concessão destes
incentivos às empresas instaladas, sejam elas chinesas, estrangeiras ou joint
ventures, estava condicionada à exportação de toda ou parte de sua produção
(HAUSER et al, 2007). É importante lembrar, contudo, que a implementação de
iniciativas socioeconômicas e o estabelecimento de metas de desenvolvimento são
feitas na forma dos Planos Quinquenais, como instituídos desde 1953 pelo Partido
Comunista Chinês, até os dias atuais.
A década de 1980 representou um período de formação e maturação da base
tecnológica, contudo, apesar dos grandes investimentos, grande parte da produção
ainda era trabalho-intensiva, e uma parte mínima desta compunha a montagem de
produtos finais. Neste contexto, o governo chinês começa a formular as primeiras
políticas industriais verticais de cunho evolucionista até então. Segundo Nolan (2001),
em 1989, o Conselho de Estado selecionou um grupo de 120 empresas para liderar a
expansão industrial chinesa. Dentre elas encontravam-se 8 empresas de geração de
energia, 3 mineradoras de carvão, 6 automobilísticas, 10 eletrônicas, 8 siderúrgicas,
14 de produção de máquinas, 7 químicas, 5 construtoras, 5 transportadoras, 6
aeroespaciais e 5 farmacêuticas. Todas empresas de setores tradicionalmente
caracterizados por fortes ganhos de escala e escopo, na visão do autor, os mais
importantes setores para a modernização e progresso industrial e tecnológico das
sociedades avançadas.
49
A partir da análise do escopo de atuação dessas empresas, o governo passa a
elaborar uma política industrial seletiva e orientada como forma de consolidar os
setores industriais considerados estratégicos, como os de alta tecnologia e capital-
intensivos. A melhora e o condicionamento da capacidade competitiva dos setores
correspondentes às empresas selecionadas teriam uma condução combinada com
outras diretrizes no âmbito de uma estratégia nacional de desenvolvimento,
concatenando as políticas de comércio exterior, cambial, tecnológica e de atração de
investimento externo. Ainda, segundo Masiero, concomitantemente ao estímulo dos
setores supracitados, outros ramos da indústria teriam sua produção suprimida ou
desestimulada, como os de bens e máquinas de baixa qualidade, bens de consumo
duráveis de alto consumo elétrico, bens de luxo, bem como a eliminação da
exportação de bens escassos no mercado interno (MASIERO E COELHO, 2014).
A coordenação e o plano central dessa política industrial foram
institucionalizados com o Plano Decenal (1991-2000), detalhadas minuciosamente
nas Diretrizes de Política Industrial para os Anos 1990, e tiveram impacto direto nos
Planos Quinquenais seguintes. A estratégia de implementação dessas diretrizes
assumiu contornos bem definidos em duas fases: a primeira perfazendo um ciclo de
fundamentação, composta pelo Oitavo (1991-1995) e Nono (1996-2001) Planos
Quinquenais; e a segunda de consolidação de especificidades, composta pelos
Planos subsequentes, o Décimo (2001-2005) e Décimo Primeiro (2006-2010). Durante
a primeira fase, o Estado assume o papel decisivo na alocação de recursos, provendo
infraestrutura, fornecimento de energia e matérias-primas, além de subsidiar sua base
tecnológica via importação de bens de produção de alta tecnologia, principalmente no
setor metal-mecânico, com vistas a incrementar a manufatura para bens exportáveis
com maior valor agregado. Nas palavras de Masiero e Coelho (2014):
“A análise das prioridades dos dois primeiros ciclos revela a escolha estratégica do Estado por primeiramente consolidar as bases da industrialização do país, direcionadas para estimular setores dinamizadores e criar condições estruturais e microeconômicas para o desenvolvimento competitivo dessas indústrias.” (MASIERO E COELHO, 2014, p. 145).
A segunda fase, por sua vez, apresenta uma mescla entre a determinação de
metas de logo prazo e fortes intervenções estatais de curto prazo, de forma a otimizar
a estrutura industrial dos setores alvos da fase anterior. Estas indústrias ainda se
encontravam em processo de consolidação, principalmente no que tange a promoção
de economias de escala e reorganização produtiva provenientes da formação de
50
conglomerados e joint ventures. Lin (2001) destaca que, nesta fase, além da maior
atração de investimentos estrangeiros, começaram a ser sentidos os resultados dos
vários programas de desenvolvimento técnico da década de 1980. Dentre eles o autor
destaca: o Programa de Tecnologias-Chave de 1982; o Programa 863 de 1986, que
criou vários laboratórios de tecnologia avançada; o Programa Torch, de 1987, de
ênfase na educação em ciência e tecnologia; o Programa Nacional de Novos Produtos
de 1988; e o Programa Nacional de Centros de Pesquisa em Engenharia e Tecnologia
de 1992 (LIN, 2001).
De acordo com Gabriele (2001), o mais importante destes programas em
relação ao setor eletroeletrônico foi o Programa Torch, que tinha por objetivo fomentar
a comercialização e industrialização de projetos de alta tecnologia através do
mercado, ou seja, aplicar o P&D na produção e comercialização de produtos. Segundo
o autor, o Programa Torch é parte de um conjunto de diretrizes que conduzem o
desenvolvimento de indústrias de nova tecnologia, e teve notável efeito no
desenvolvimento do cluster de pequenas e médias empresas eletrônicas de Beijing,
contribuindo para sua expansão em direção ao interior do país (GABRIELE, 2001).
Ao final da década de 1990, o governo chinês entendia que o sucesso do
desenvolvimento econômico nacional dependia grandemente da inovação científica e
tecnológica. Assim, o então Vice Premier do Partido Comunista Chinês, Zhu Rongji,
anuncia a maior abertura comercial e a quebra dos obstáculos ao desenvolvimento da
força produtiva. Empresas estrangeiras seriam encorajadas a abrir instituições de
pesquisa e desenvolvimento em território chinês, ao mesmo tempo em que empresas
nacionais seriam encorajadas a conduzir suas práticas de P&D em países
estrangeiros, como forma de promover a transferência de tecnologias, conhecimento
técnico e recursos aos setores de alta tecnologia chineses (AMIRI et. al, 2013).
Com essas metas, o governo chinês, a partir de seu Décimo Plano, promoveu
as seguintes ações: ajustes na estrutura de produção, estimulando a ampliação e uso
de novas tecnologias e fornecendo suporte a grandes corporações de maneira a
acelerar suas reestruturações; reorganização interna dos setores, formando grupos
empresariais de grande escala de produção, bem como fomentando a formação de
empresas de médio e pequeno portes, as quais fabriquem produtos específicos;
estímulo à modernização dos sistemas de gestão permitindo a participação privada
em empresas estatais; reorientação internacional, ingressando na Organização
51
Mundial do Comércio e incentivando a internacionalização de suas empresas
(Marrone, 2006).
Dando continuidade à essa primeira metade da década de 2000, o Décimo
Primeiro Plano apresentou o desenvolvimento da indústria de informação. Para este
período, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) estipulou as
seguintes metas: elevar a indústria chinesa na cadeia de valor global para uma
posição de manufaturas e serviços de alto valor agregado; desenvolver marcas de
reconhecimento internacional para as multinacionais do país e aumentar a capacidade
doméstica de pesquisa e desenvolvimento; foco contínuo dos esforços de incentivo
governamentais e subsídios à busca de novas tecnologias; nutrir o desenvolvimento
e a elevação dos padrões produtivos chineses; e acelerar a construção de redes de
tecnologia da informação, particularmente em relação à transmissão de dados em
zonas rurais, telecomunicações e redes telefônicas (AMIRI et. al, 2013). Masiero e
Coelho (2014) ressaltam ainda que grande parte desta reorganização contou com a
atração e incentivo do capital internacional, que tem sido encorajado, restrito ou
mesmo proibido, de acordo com as diretrizes do Foreign Investment Industrial
Guidance Catalogue, publicado em 1995 e com sua última versão dada em 2011.
Já ao setor eletroeletrônico, dentre os objetivos dessa segunda fase, aplicava-
se também a redução da dependência dos bens importados, e, consequentemente, a
constituição de capacidade produtiva doméstica. As ações do Estado, portanto, se
concentraram primeiramente na redução da dependência produtiva externa por meio
da atração da produção estrangeira (na forma de investimento direto externo) de
artigos mais intensivos em trabalho e com tecnologia já consolidada na China. Os
principais motivadores desta migração seriam, principalmente, as vantagens
locacionais e a abundância de mão-de-obra barata. Destaca-se também, como
estratégia do governo chinês, o incremento da capacidade produtiva doméstica, com
incentivos governamentais (fiscais e creditícios) amplamente concedidos na
implementação de parques industriais e zonas francas (BOULTON, 1997). Conforme
Masiero e Coelho (2014):
“Na busca por promover o alinhamento entre o crescimento dos principais indicadores de mercados (como produção, vendas e faturamento) com a P&D e projeto defasados, o governo chinês rompeu o padrão de inovação, passando a fornecer, seletivamente, apoios mais robustos aos segmentos do setor eletroeletrônico considerados prioritários, classificando os investimentos em projetos de três tipos: os competitivos, estruturais e de bem-estar público.” (MASIERO E COELHO, 2014).
52
É importante ressaltar que a política industrial chinesa voltada à ciência e
tecnologia é caracterizada por sua atuação em duas esferas distintas. O Estado
centraliza, por meio do Ministério da Ciência e Tecnologia (MOST), a coordenação de
programas de pesquisa e desenvolvimento, patrocinando tecnologias de alto nível e
pesquisa de fronteira tecnológica, já no campo das tecnologias de baixo nível, as
políticas são descentralizadas e orientadas pela atuação do mercado (HAUSER et.al,
2007). Para o setor eletroeletrônico, especificamente, foram criadas instituições
responsáveis pela coordenação de suas principais atividades, orientadas pelas
diretrizes estratégicas determinadas no âmbito dos Planos Quinquenais. As mais
importantes delas são o Ministério da Indústria Eletrônica (MEI) e a Comissão Estatal
de Ciência e Tecnologia (SSTC), que coordenaram os esforços governamentais
concentrados para que os incrementos desse setor fossem realizados por meio de
inovações endógenas (indigenous innovation), aplicação de tecnologia, consolidação
da indústria (clustering) e cooperação internacional.
2.3.1 A Estratégia Chinesa à Luz dos Elementos Teóricos.
Enquanto no Brasil as diferentes ideologias econômicas alimentaram debates,
que muitas vezes resultaram em conflitos de interesse político envolvendo o papel do
Estado no desenvolvimento econômico, a herança política chinesa de viés socialista,
construída e enraizada ao longo do regime de Mao Tsé-Tung, dá ao Estado posição
central na alocação dos recursos econômicos. O sistema político unipartidário também
dá ao país um grau de coesão política que facilita o direcionamento e planejamento
econômico a longo prazo.
Dadas as diferenças na estrutura política, a China, assim como o Brasil,
apresenta elementos neoclássicos e neoschumpeterianos em suas políticas públicas,
com a intensificação do viés evolucionista ao longo do período estudado. Ainda que
de maneira muito modesta, pode-se notar as influências neoclássicas na percepção
do governo da necessidade de abertura e maior inserção da economia chinesa no
mercado internacional para o desenvolvimento socioeconômico do país, bem como
no plano implementado no início da década de 1980 de correção das falhas de
mercado da economia chinesa que poderiam, em resultado ao choque com um
53
mercado internacional altamente competitivo, causar efeitos deletérios à indústria
nacional.
Os elementos evolucionistas, por sua vez, começam a surgir a partir de 1989,
quando o governo selecionou de firmas, caracterizadas por longas cadeias produtivas
que permeavam o maior número de setores possível, afim de elaborar uma política
industrial seletiva e orientada, que fizesse o máximo uso do efeito cascata de spill
overs e promovesse a consolidação dos setores industriais considerados estratégicos.
O maior movimento da China em direção aos ditames da escola neoschumpeteriana
acontece ao final da década de 1990, quando a China incorpora a inovação científica
e tecnológica aos interesses de Estado, implementando uma política associativa
capaz de articular os interesses da iniciativa privada e pública na formação de um
sistema nacional de inovação.
Assim, os planos da década de 2000 incentivaram a aceleração do fluxo de
informações, a expansão e competição frente ao mercado externo. O Décimo Plano
foi o principal responsável pela quebra da inércia do sistema produtivo. As medidas
adotadas alteraram a estrutura produtiva do país, gerando incertezas controladas e
promovendo a reorganização interna dos setores, tal qual “destruição criadora”
descrita por Schumpeter. Já o Décimo Primeiro Plano representa a consolidação da
cultura da inovação, permitindo ao Estado delegar grande parte da responsabilidade
e dos esforços de pesquisa à empresas privadas, enquanto se concentra na
regulamentação e estimulo e coordenado de investimentos setoriais.
54
CAPÍTULO 3 – ANÁLISE COMPARATIVA DOS RESULTADOS EM BRASIL E
CHINA.
Embora relativamente jovem, o complexo eletrônico vem rapidamente
ocupando papel de destaque, principalmente a partir da convergência digital. O que
era tratado de forma separada como comunicação de voz, processamento de dados
ou radiodifusão de sons e imagens, com o advento da digitalização pôde migrar para
tecnologias comuns, materializadas em infraestrutura, canais de comunicação,
protocolos e padrões. A cadeia produtiva de bens eletrônicos perpassa outros grandes
setores, como a indústria química e a metalúrgica, seja como insumo ou produto final.
Nessa esteira da convergência tecnológica, segue a convergência de mercados,
permitindo que as empresas comecem a atuar em áreas de negócio diversas das suas
origens (GUTIERREZ, 2010).
Por este motivo, o presente capítulo busca analisar como as políticas de
incentivo adotadas no Brasil e na China, vistas no capítulo anterior, afetaram o
desenvolvimento do setor de informática nos dois países. Este esforço será realizado
em duas etapas. A primeira visa demonstrar as diferenças de investimento em P&D
de forma geral e capacitação de recursos humanos nas duas economias, fatores
fundamentais e de impacto direto e indireto sobre o setor de eletrônicos. Em seguida
será feita uma análise dos principais pontos em que diferem os setores de eletrônica
do Brasil e da China. Esta análise terá como base estudos sobre o setor e dados
secundários.
3.1 Esforços de Inovação no Brasil e na China.
A estrutura formal dos sistemas nacionais de Ciência, Tecnologia e Informação
(CT&I) da China e do Brasil apresentam pontos semelhantes: ambos contam com um
Ministério específico (MOST na China e o MCT no Brasil), com instâncias superiores
de coordenação e um conjunto de atores descentralizados (Universidades, Institutos
de Pesquisa e Empresas). Contudo, observam-se diferenças profundas na forma em
que os esforços de pesquisa se dão em ambos países. A China, quando comparada
ao Brasil, desfruta de um grau consideravelmente maior de centralização das decisões
55
e um peso mais acentuado do Grupo de Coordenação Nacional de C&T e Educação,
onde são concebidos e acompanhados os grandes planos para CT&I (IEDI, 2011).
FIGURA 1 – Estrutura dos Sistemas Brasileiro (direita) e Chinês (esquerda) de
Inovação.
Fonte: IEDI (2011).
Quer em termos gerais ou setoriais, o sistema chinês de formulação e
implementação de planos quinquenais confere um caráter gradativo e sequencial ao
seu planejamento de desenvolvimento. A maior eficácia do sistema chinês frente ao
sistema brasileiro de fomento à P&D emana de duas grandes diferenças nos
ambientes destes países: a primeira se dá em uma cultura de planejamento de longo
prazo já estabelecida como rotina para todos os órgãos do governo chinês e o
reconhecimento das políticas públicas dede CT&I como políticas de Estado, enquanto
no Brasil estas são políticas de governo, tendo seu foco revisto segundo os interesses
do governo vigente; enquanto a segunda se encontra no favorecimento da
implementação dos programas pelo grau de comando e controle que o Estado chinês
possui sobre muitos dos atores envolvidos, que em grande parte dependem
diretamente do governo (empresas estatais, institutos federais de pesquisa, etc.) ou
estão sujeitos a regras bem mais rígidas que os correspondentes brasileiros, inclusive
no que tange ao IDE.
56
Outro fator decisivo no rápido desenvolvimento asiático está no dinamismo da
economia chinesa. Segundo o IEDI (2011), “O dinamismo cria outro ambiente,
estimula o investimento privado, muda culturas e comportamentos, induz o risco,
coloca a economia em contato com o mundo e premia o sucesso” (IEDI, 2011, p. 6).
Neste sentido, é possível notar uma integração muito maior do setor eletroeletrônico
na China, onde o crescimento das exportações de componentes e produtos
finalizados acompanhou o crescimento da economia, enquanto no Brasil o
crescimento econômico implicou um aumento nas importações destes mesmos bens.
A Tabela 1, a seguir, reflete o impacto mútuo dos fatores supracitados sobre os
gastos em P&D em relação às respectivas paridades de poder de compra do PIB do
Brasil e da China. Entre 2000 e 2009, o gasto da China em P&D passou de 0,9% para
1,7% do PIB, um desempenho impressionante frente ao gasto brasileiro, que passou
de 1,0% para 1,2%. Neste período a economia chinesa sofreu grandes
transformações estruturais (vide as diretrizes de seus planos quinquenais),
multiplicando seu PIB por três, enquanto a economia brasileira apresentou
movimentos mais cautelosos aumentando seu PIB em pouco mais de 60%. Assim, o
investimento real chinês em P&D, que já era mais de duas vezes o brasileiro em 2000
(2,2), atingiu ao final da década um valor 6,5 vezes maior que o praticado no Brasil.
TABELA 1 – Gastos em P&D em relação ao PIB e Gastos em P&D 2000-2009.
China
(% PIB)
Brasil
(% PIB)
China (*)
(% PIB2000)
Brasil (*)
(% PIB2000)
China/Brasil
(**)
2000 0,9 1,0 0,9 1,0 2,2
2001 1,0 1,0 1,1 1,1 2,4
2002 1,1 1,0 1,3 1,1 3,0
2003 1,1 1,0 1,6 1,1 3,6
2004 1,2 0,9 1,9 1,1 4,3
2005 1,3 1,0 2,4 1,2 4,7
2006 1,4 1,0 2,9 1,4 5,2
2007 1,4 1,1 3,5 1,7 5,2
2008 1,5 1,1 4,2 1,8 5,7
2009 1,7 1,2 5,1 1,9 6,5
Fonte: Banco Mundial apud IEDI (2011). Obs: (*) dados do gasto em P&D de cada ano, em US$ ppc, em relação ao PIB de 2000. (**) Relação entre os valores absolutos dos gastos em P&D da China e do Brasil, medidos em US$ ppc de 2000.
57
Apesar da importância dos volumes de investimentos nos respectivos sistemas
nacionais de CT&I, as principais diferenças entre Brasil e China estão na forma e nos
objetivos da aplicação destes investimentos nos elementos componentes de seus
respectivos sistemas. Neste sentido, destaca-se a capacitação e alocação de recursos
humanos. Com uma população “apenas” sete vezes maior que o Brasil, as matrículas
em cursos de pós-graduação nas áreas de ciência, tecnologia e engenharia na China
são doze vezes maiores. Igualmente importante, como demonstrado pela Tabela 2, é
a diferença do viés de formação de nível superior dos dois países. Em todas as
categorias, o número de engenheiros chineses concluintes é múltiplas vezes maior
que o correspondente brasileiro. O baixo percentual de egressos em cursos de
engenharia no Brasil afeta negativamente a disponibilidade de recursos humanos
capacitados, especialmente no que tange a velocidade e capacidade de inovação
quando comparada ao observado na China.
TABELA 2 – Concluintes de Ensino Superior e as Pós-Graduação por Área de Estudo:
Brasil e China: 2009 e Número Absoluto e per capta.
Brasil Brasil (%) Brasil
(*)
China China (%) China
(*)
Ensino Superior (Integral) 722.202 100,0% 37,5 2.455.359 100,0% 18,4
Ciências 64.291 8,9% 3,3 264.494 10,8% 2,0
Engenharia 38.826 5,4% 2,0 763.635 31,1% 5,7
Ensino Superior (3 anos) 104.726 100,0% 5,4 2.855.664 100,0% 21,4
Ciências - 0,0% 0,0 1.543 0,1% 0,0
Engenharia 16.601 15,9% 0,9 1.154.793 40,4% 8,6
Ensino Superior (total) 826.928 100,0% 43,0 5.311.023 100,0% 39,7
Ciências 64.291 7,8% 3,3 266.037 5,0% 2,0
Engenharia 55.427 6,7% 2,9 1.918.428 36,1% 14,4
Doutores 11.368 100,0% 0,5 48.658 100,0% 0,4
Ciências 2.388 21,0% 0,1 9.570 19,7% 0,1
Engenharia 1.284 11,3% 0,1 17.386 35,7% 0,1
Mestres 38.800 100,0% 1,9 322.615 100,0% 2,4
Ciências 5.819 15,0% 0,3 32.252 10,0% 0,2
Engenharia 4.986 12,9% 0,3 113.128 35,1% 0,8
Fonte: China Statistical Yearbook, 2010; INEP, Censo Escolar de 2009 e MCT apud IEDI (2011). Obs: (*) para dez (10) mil habitantes.
58
Para além da diferença em recursos humanos, chama ainda mais atenção a
performance da balança comercial chinesa em bens de alta intensidade tecnológica.
Segundo a classificação adotada pela OCDE, os bens considerados de alta tecnologia
são: informática e equipamento de telecomunicações; instrumentos médicos e ótica;
aeronáutica e a indústria farmacêutica, que é parte da química. Cerca de 31% da
pauta chinesa de exportação de manufaturados está associada a este tipo de produto,
contra apenas 11% no Brasil (OCDE, 2008). Como demonstrado na Figura 2, adiante,
observa-se situações opostas nas economias de Brasil e China. Em termos absolutos,
a China apresenta um saldo positivo na balança comercial de manufaturas de alta
tecnologia (US$ 113 bilhões quando se excluí a indústria química e US$ 67 bilhões
quando se inclui o conjunto da química), enquanto o Brasil apresenta déficits (US$ 18
bilhões sem a química e US$ 31 bilhões com a inclusão do conjunto da indústria
química).
A razão por trás desta grande diferença entre balanças comerciais, contudo,
não se dá somente pelo resultado direto da maior dimensão da economia chinesa,
mas também em grande parte à uma das iniciativas de seu Décimo Plano: elevar a
posição de sua manufatura na cadeia de valor internacional, elevando seu índice de
Valor Agregado à Manufatura (MVA). Assim, a China ampliou progressivamente a
participação de suas empresas na cadeia internacional de produção de bens de alto
valor agregado (tanto a jusante, quanto a montante). Ao longo de seus dois últimos
planos quinquenais, o peso da China no MVA mundial saltou de 6,7% em 2000 para
15,6% em 2009. No mesmo período, a participação brasileira no MVA manteve-se em
1,7% (UNIDO, 2010).
Há um esforço do governo chinês no que diz respeito ao fortalecimento do
marco regulatório para a proteção das organizações públicas de pesquisa e para
facilitar a transferência e comercialização de conhecimento que não se vê no Brasil.
Segundo Wendler (2013), este empenho na promoção de um equilíbrio entre os
setores público e privado na promoção da inovação pode ser exemplificado nos casos
da Lenovo e Huawei, empresas inovadoras de capital chinês do ramo de informática
e telecomunicações, que construíram suas bases para projeção internacional a partir
de métodos de aprendizado interativo, absorção de tecnologia e parcerias público-
privadas.
59
FIGURA 2 – Exportações e Importações de Bens de Alta Tecnologia: China e Brasil
1996-2008 (bilhões US$).
Fonte: IEDI (2011).
É importante observar que o desempenho superavitário da China está
fortemente baseado na sua indústria de equipamento de informática e de
telecomunicações; o país continua tendo grandes déficits nos segmentos de
aeronáutica, ótica e equipamentos médicos e um pequeno déficit na indústria
farmacêutica. Enquanto isso, o Brasil apresenta superávit exclusivamente no
segmento aeronáutico, que sozinho é incapaz de reverter o sinal negativo do saldo
comercial dos bens mais intensivos em tecnologia (IEDI, 2011).
A Tabela 3 mostra numericamente o grau de importância que o governo chinês
atribui às questões de ciência e tecnologia compreendidas como parte indissociável
de sua estratégia de desenvolvimento desde o início do período pós-Mao, como
descrito no capítulo anterior. Mesmo considerando as proporções populacionais e de
PIB da China, respectivamente 6,9 e 4,7 vezes maiores que o Brasil, o pessoal em
atividade ainda é 15,4 vezes maior, enquanto os gastos em P&D indicam uma
eficiência maior das políticas chinesas em incentivar as empresas privadas a
pesquisar. O dado mais revelador é, contudo, a diferença de produção científica e
60
depósito de patentes. Neste segundo quesito o Brasil se mostrou superior até a
década de 1980, mas foi significativamente ultrapassado pela China, que, em apenas
30 anos, passou a ter mais de 14 vezes o número de patentes registradas pelo Brasil.
TABELA 3 – Indicadores Básicos dos Sistemas de CT&I da China e do Brasil.
Brasil
(A)
China
(B)
B/A
Pessoal em atividade em P&D (mil) (2008) 128 1.965 15,4
Gastos Totais em P&D (bi US$ ppc) (2009) 23,5 155,3 6,6
Gasto Governamental em P&D (bi US$ ppc) (2009) 12,1 41,4 3,4
Gasto das Empresas em P&D (bi US$ ppc) (2009) 11,4 114,2 10,0
Saldo Comercial da Ind. de Alta Tecnologia (bi US$) (2009) (1) -18,4 113,0 -
Saldo Comercial da Ind. de Alta Tecnologia (bi US$) (2009) (2) -30,9 67,0 -
% Exportações Alta Tecnologia/ Exp. manufaturados 14,0% 31,0% 2,2
Papers (Thomson/ISI) – 1981 1.949 1.204 0,6
Papers (Thomson/ISI) – 2009 32.100 118.108 3,7
Patentes (USPTO) – 1980 53 7 0,1
Patentes (USPTO) – 2009 464 6.879 14,8
População (milhões de habitantes em 2011) 192,4 1.336,7 6,9
PIB (2009 – bi US$ ppc) 1.958,8 9.135,3 4,7
Fontes: MCT, OECD e Banco Mundial apud IEDI (2011). Obs: (1) informática, equipamento de telecomunicações, instrumentos médicos e aeronáutica (2) informática, equipamento de telecomunicações, instrumentos médicos, aeronáutica e química
3.2 Os Resultados Sobre os Respectivos Setores Eletroeletrônicos.
Como analisado no capítulo anterior, a política brasileira de incentivo à
produção, pesquisa e desenvolvimento de eletrônicos segue uma estratégia de foco
especial ao setor, muito diferente do plano chinês de desenvolvimento pela integração
da eletrônica com outros setores. Não obstante, como mostra Salles Filho et. al (2012),
a Lei de Informática se mostrou de suma importância para o desenvolvimento do setor
no Brasil. O crescimento do faturamento das empresas beneficiárias foi 1,7 vez maior
do que o das não beneficiárias da indústria, o que possibilitou a estas empresas um
faturamento correspondente a cerca de 50% daquele da indústria nacional não
beneficiada. Em relação à P&D, o investimento total das empresas beneficiárias
61
cresceu 30% de 2003 a 2008, passando de R$ 670 milhões/ano para R$ 879
milhões/ano, com uma média de 40% deste investimento sendo realizado além da
obrigação legal. O autor ressalta, contudo, que em função das mudanças na
legislação (em 2001 e 2004), que reduziram a base de cálculo para investimento em
P&D, as obrigações dos investimentos em P&D, a partir de então, foram inferiores aos
patamares de 1998 a 2001 (SALLES FILHO et. al, 2012).
Nota-se portanto, a eficácia das políticas adotadas na tendência de
investimentos em P&D maiores que a obrigação imposta pela Lei. Todavia, além dos
investimentos serem gradativamente menores a partir de 2000, entre 2006 e 2009,
apenas 1 a cada 5 empresas que desfrutaram dos incentivos da Lei de Informática é
nacional, sendo as outras 4 empresas estrangeiras de grande porte. Destas,
empresas de computadores e celulares encontram-se entre as beneficiárias que mais
investem (SALLES FILHO et. al, 2012).
Em relação à qualificação de recursos humanos, as empresas abarcadas pelos
benefícios da Lei de Informática triplicaram a força de trabalho total entre 1998 e 2008.
Apesar do crescimento deste período, a participação de pós-graduados no total do
contingente humano alocado em P&D caiu pela metade em termos relativos (de 2,4%
para 1,2%). As empresas beneficiárias não apresentaram expansão relevante na
contratação de pessoal de nível superior. A proporção de RH com este grau de
escolaridade em relação ao total de pessoal ocupado em P&D manteve-se em cerca
de 5% ao longo do período estudado. Em outras palavras, a evolução da contratação
de pessoal com nível superior completo foi vegetativa, muito embora em termos
absolutos tenha sido significativa (300% de aumento). É importante destacar que, a
despeito das políticas de desenvolvimento da Região Norte como a Zona Franca de
Manaus, a porção mais significante deste crescimento decorre basicamente da ação
das grandes empresas das Regiões Sul e Sudeste, onde a participação de pessoal
com nível superior em P&D no total de pessoal alocado estabilizou-se em 70% entre
2006 e 2009. Além da pequena e decrescente participação de pós-graduados no total
de RH em P&D, outro aspecto que reforça o foco reduzido em pesquisa é a baixa
ocorrência de publicações: apenas 23% das empresas publicaram, sendo que uma
única grande empresa concentrou 90% das publicações (SALLES FILHO et. al, 2012).
Wendler (2013), por sua vez, atenta para o fato que a iniciativa privada
brasileira tem pouco interesse em setores de alta tecnologia. Segundo o autor, ao
62
contrário do que se observa na China, a maior parte da pauta de pesquisa científico-
tecnológica de instituições público-privadas no Brasil se concentra no agronegócio e
no petróleo, o que dificulta o processo de absorção tecnológica das empresas de
capital nacional, eleva o grau de incerteza e reduz a percepção de rentabilidade do
setor aos olhos de investidores nacionais.
Apesar destas profundas mudanças propiciadas pela Lei de Informática no
Brasil, a pesquisa de Gutierrez (2010) mostra que estas não foram capazes de fazer
frente às forças externas e dar ao país números significantes no mercado internacional
de eletrônicos, como mostra a Tabela 4. Segundo a autora, o predomínio da produção
dos bens eletrônicos encontra-se no Leste da Ásia, especialmente para os
equipamentos de alta escala de produção, como televisores e outros eletrônicos de
consumo, microcomputadores e terminais celulares. Assim, em relação à produção
de eletrônicos, o Brasil ainda figura entre os 3% designados como “Resto do Mundo”.
TABELA 4 – Complexo Eletrônico no Mundo (em %).
Mercado Consumidor Localização da Indústria
Europa 32 Europa 22
América do Norte 27 América do Norte 18
Japão 12 Japão 15
China 10 China 26
Outros Asiáticos 10 Outros Asiáticos 16
Resto do Mundo 9 Resto do Mundo 3
Fonte: Decision apud Gutierrez (2010).
O estudo de Heshmati e Wanshan (2006) mostra ainda a importância do setor
eletroeletrônico no rápido crescimento chinês do período pós-Mao, sobretudo a partir
da década de 1990. Estes autores rejeitam a hipótese do paradoxo da produtividade
de Erik Brynjolfsson (slow computer paradox), que sugere que os avanços nas
tecnologias de informação e comunicação não tem impactos positivos significativos
no aumento da produtividade e que os investimentos de países em desenvolvimento
nesses setores seriam, portanto, um desperdício de recursos. Não obstante, segundo
seus cálculos, o setor eletroeletrônico chinês foi responsável por 20% do crescimento
do PIB e aproximadamente 38% do crescimento do fator de produtividade total (total
factor productivity).
63
O estudo de Lutao Ning (2009) indica, no entanto, que a maior parte do
crescimento da estrutura produtiva do setor de eletrônica, bem como seu comércio,
foram resultados do investimento direto estrangeiro. Ning expressa que, apesar de
não intencional, as consequências das políticas chinesas de incentivo fizeram de
empresas estrangeiras o principal motor do setor eletroeletrônico, abarcando um
montante de 92% das exportações e 82% das importações em 2004 (NING, 2009).
Retomando os dados de Salles Filho et. al (2012), nota-se pontos de
semelhança na estrutura do setor entre Brasil e China no que tange a participação de
empresas estrangeiras na produção. Não obstante, é preciso ressaltar que a relação
entre firmas estrangeiras e nacionais se dá de forma muito distinta nas duas
economias. Na China, a forte atuação do Estado garante a maior transferência de
tecnologia e conhecimento tácito para a indústria nacional, o que é demonstrado pela
iniciativa de P&D de firmas de pequeno e médio porte, bem como o rápido crescimento
de empresas de capital chinês que passaram de fabricantes terceirizados de
componentes para marcas de alcance global com estruturas produtivas verticalizadas.
Já no Brasil, não se observa a mesma verticalização nas empresas de capital
nacional, nem a ação conjunta de pesquisa com firmas estrangeiras.
Por outro lado, já no final da década de 2000, a indústria de eletrônica chinesa
representava mais de 30% do comércio internacional do país, mesmo durante a crise
financeira de 2008. É importante ressaltar que o rápido crescimento da participação
chinesa no mercado internacional de bens de alta tecnologia, observado a partir de
2001 na Figura 2, deu-se através a entrada do país na Organização Mundial do
Comércio (OMC), aumentando o dinamismo econômico e impulsionando ainda mais
o setor eletroeletrônico. Em 2009, o setor de eletrônica totalizava 771,9 bilhões de
dólares em comércio exterior, o equivalente a 35% de todo o comércio exterior do
país, como mostrado na Tabela 5 a seguir (APCO, 2010).
A Tabela 5 e o Figura 3 mostram os valores de importações e exportações de
eletrônicos tanto do Brasil como da China, e seus respectivos saldos comerciais, onde
fica evidente o antagonismo das realidades das indústrias dos dois países. A China
apresenta um crescimento exponencial de seu superávit comercial até 2008, enquanto
o déficit Brasileiro se agrava no mesmo período. Fica claro também o impacto de
desaceleração gerado pela crise financeira nos resultados de 2009.
64
TABELA 5 – Balanças Comerciais do Complexo Eletrônico Brasileiro e Chinês 2003-
2009 (em US$ bilhões).
Brasil (M) Brasil (X) China (M) China (X) Saldo
Brasil
Saldo
China
2003 6,0 2,4 132,2 142,1 -3,6 9,9
2004 8,5 2,5 180,0 207,5 -6,0 27,5
2005 10,6 4,3 220,6 268,2 -6,3 47,6
2006 13,5 4,7 287,7 364,0 -8,8 76,3
2007 15,1 3,8 345,2 459,5 -11,3 114,3
2008 20,1 4,0 363,7 521,8 -16,1 158,1
2009 14,9 2,9 314,7 457,2 -12,0 142,5
Fonte: Secex (agregação, BNDES) e MIIT.
FIGURA 3 – Saldo das Balanças Comerciais do Complexo Eletrônico Brasileiro e
Chinês 2003-2009 (em US$ bilhões).
Fonte: Secex (agregação, BNDES) e MIIT.
Ainda, de acordo com dados da OCDE, o Brasil se manteve, em 2008, na
mesma posição que ocupava em 1998 em relação às exportações: 27° lugar no
ranking de países exportadores de bens de tecnologia da informação e comunicação,
enquanto a China passou da 8a para a 1a posição. Não obstante, o abismo entre Brasil
e China apresentado pelos indicadores acima parece entrar em choque, à primeira
vista, com a análise econômica feita pelo BNDES (2010), que coloca crescimento do
-40,0
-20,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Saldo Brasil Saldo China
65
setor eletroeletrônico brasileiro a frente do chinês (21,1% a.a. contra 15,9% a.a.).
Contudo, o fenômeno pode ser explicado por vários fatores: um deles está na
diferença entre as pautas de importação para o setor nos dois países, onde o Brasil
adquire componentes para informática, telecomunicações e semicondutores de valor
agregado muito mais alto que os insumos adquiridos pela China; no crescimento
naturalmente mais rápido de uma indústria que se encontra num estágio anterior de
maturidade como a brasileira; outro fator importante pode ser o crescimento
considerável do market share mundial do setor eletroeletrônico Chinês, que, segundo
os dados da Tabela 4, alcança 26%; e, por fim, pode-se mencionar o aumento do peso
do índice MVA chinês no mundo frente à estagnação do correspondente brasileiro.
Estes dados salientam, mais uma vez, os efeitos benéficos das políticas chinesas de
desenvolvimento com diretrizes de longo prazo e metas de curto prazo, num sistema
de CT&I com alto controle governamental e uma produção industrial voltada para o
mercado externo.
Mesmo com os bons resultados da Lei de Informática observados, para 86%
das empresas, a principal motivação para desfrutar de seus benefícios ainda foi a
redução de custos de produção. Tendo foco na fabricação, a Lei não estimulou a
entrada das empresas no fornecimento de serviços e em segmentos de hardware de
maior valor agregado. A Lei viabilizou, até agora, a atividade produtiva no país, mas
foi insuficiente para o desenvolvimento tecnológico e para ampliar a agregação de
valor, pontos em que a estratégia chinesa foi muito bem sucedida. Segundo Salles
Filho et. al (2012), um dos aspectos que espelham esta limitada agregação de valor é
a relação entre a importação de insumos e o faturamento com produtos incentivados,
que cresceu de 27% para 58%, entre 2005 e 2008, com destaque para componentes
destinados ao segmento de telecomunicações (celulares). Já Gutierrez (2010) aponta
que, à exceção deste segmento, o complexo eletrônico brasileiro é essencialmente
voltado para o mercado interno. A autora também explica que o agravamento do déficit
do setor se deu pela valorização do real frente ao dólar, que reduz a competitividade
da produção interna; pela “quase ausência” da fabricação de componentes e da
importação crescente de produtos acabados.
Segundo Garcia e Roselino (2004), não se observam os eventuais spill overs
dos investimentos em P&D no complexo eletrônico brasileiro, já que as manufatureiras
nacionais são subcontratadas globais das empresas produtoras de equipamentos
66
para a realização de atividades pouco significativas na cadeia de valor destes
segmentos. As elevadas capacidades ociosas verificadas nas firmas comprovam o
seu uso como “colchão de amortecimento” das oscilações de demanda final pelas
empresas estrangeiras. Ainda segundo os autores, um dos principais fatores que
contribuem para esta prática é a capacidade inerente ao setor eletroeletrônico de
distanciamento geográfico das atividades de concepção e design do processo
produtivo propriamente dito, resultando em uma situação onde as atividades
localizadas no Brasil, mesmo tendo evidente importância técnica, não impliquem
resultados equivalentes em termos de rendimentos ou transferência de tecnologia.
Assim, a inexistência de obrigações relativas a internalização de etapas produtivas
mais densas nas cadeias de valor acaba restringindo os efeitos da Lei de Informática
à potencialização de capacitações internas preexistentes, geração de empregos e
demais efeitos de transbordamento.
Em contrapartida, o estudo publicado pelo APCO (2010) projeta uma rápida
retomada da indústria chinesa de eletrônicos após a crise de 2009, impulsionada pela
demanda do mercado, forte apoio governamental e rápido desenvolvimento
tecnológico. O artigo argumenta ainda que o desenvolvimento da área rural e a rápida
urbanização do interior geram um crescente mercado consumidor para produtos
eletrônicos. Neste sentido, o governo chinês implementou, em 2009, uma série de
planos de estímulo, com destaque para “Eletrodomésticos para a Zona Rural”,
“Substituir o Antigo pelo Novo” e “Automóveis para a Zona Rural”, o que levou a um
grande aumento do consumo de eletrônicos (entre outros produtos) pela população
chinesa. Por fim, o setor eletroeletrônico chinês tem sido impulsionado pelo
desenvolvimento das redes móveis de dados e a convergência dos serviços de
telecomunicações, internet e mídia que aumentam a demanda de novos
componentes.
67
CONCLUSÃO:
A formulação de políticas públicas eficientes no que tange a promoção de uma
indústria eletroeletrônica se mostra problemática por uma série de motivos. As
inovações tecnológicas deste setor têm aplicações nas mais variadas áreas
produtivas, aumentando a complexidade da dinâmica do setor e dificultando a
previsão dos resultados de longo prazo de medidas de incentivo. Ainda assim, o
estudo das economias de Brasil e China deixam clara a importância da atuação do
Estado para o desenvolvimento da indústria eletroeletrônica em países em
desenvolvimento.
A análise realizada revela as políticas públicas de incentivo como resultado
direto dos sistemas políticos nacionais e debate entre seus burocratas somados ao
contexto histórico de cada país. Assim, as orientações teóricas de seus formuladores
legitimaram e justificaram estratégias de atuação estatal profundamente distintas. A
política de informática observada no Brasil ao final da década de 1980 apresenta um
conjunto de ações que contemplam o argumento da indústria nascente ou infante,
como proposta por autores como List, protegendo a indústria nacional da concorrência
estrangeira. As pressões externas, as regras rígidas de tratados internacionais sobre
o livre comércio e a grande ineficiência da indústria em atender o mercado interno
inviabilizaram a manutenção deste modelo.
A partir da década de 1990, o percurso destas políticas pode ser dividido em
duas partes. A primeira é marcada pelo embate entre a visão liberalista neoclássica,
que propunha uma rápida extinção da reserva de mercado, e o projeto
neoschumpeteriano, a favor da manutenção de alguma ação estatal localizada de
incentivo à inovação. Já a segunda, tem início na primeira renovação da Lei de
Informática em 2001, quando o a esfera de debate mudou do nível federal para o
regional através do conflito entre os interesses da política de informática e os
defensores das políticas de desenvolvimento da região norte do país.
O sistema político unipartidário da China, por outro lado, apresenta menor
flexibilidade no debate ideológico durante a formulação de seus planos, o que não
representa necessariamente um problema do ponto de vista do planejamento
econômico de longo prazo. Não obstante, pode-se perceber no momento da abertura
da economia chinesa uma semelhança entre a preocupação do governo em corrigir
68
os gargalos da indústria nacional e a orientação neoclássica de correção das falhas
de mercado através ação do Estado.
Em contraste com a realidade brasileira, a adoção da política de inovação como
interesse de Estado na China foi capaz de manter a coesão e o direcionamento dos
programas de incentivo e criar um itinerário de desenvolvimento que paulatinamente
adotou elementos neoschumpeterianos em seus mecanismos de ação. O Décimo
Plano Quinquenal quebrou a inércia do sistema produtivo nacional e assegurou as
bases necessárias para a destruição criadora ao aumentar a exposição da indústria
nacional à concorrência estrangeira e reorganizar os setores de alta tecnologia;
enquanto o Décimo Primeiro Plano, incutiu no empresário chinês a cultura da inovação
tecnológica.
É importante ressaltar, contudo, que não se propõe aqui a adoção de um regime
político fechado ou mesmo unipartidário como melhor caminho para o
desenvolvimento nacional. Ainda assim, uma análise mais profunda do processo
deliberativo e das relações interpessoais dos burocratas e técnicos que compõe o
Partido Comunista Chinês pode trazer lições úteis à democracia brasileira em relação
aos mecanismos burocráticos que possibilitam a continuidade das políticas públicas
para além dos mandatos.
A Lei de Informática no Brasil se mostrou fundamental no fortalecimento da
indústria eletrônica nacional e no controle da abertura gradual da economia,
amortecendo os impactos do grande volume de importações de produtos estrangeiros.
Ainda hoje, esta política traz bons resultados na redução do custo de produção e
fortalecimento da capacidade competitiva dessas indústrias. Contudo, os incentivos
do governo brasileiro foram incapazes de instaurar no setor uma cultura de inovação
aos moldes do que se vê na China. A absorção de conhecimento e tecnologias
estrangeiras, gerenciamento mais eficiente de recursos e o esforço conjunto de
inovação da iniciativa privada e pública aparecem como principais forças motrizes do
gigantesco superávit da balança comercial de artigos eletroeletrônicos na China, bem
como do sucesso de multinacionais chinesas do setor, que hoje atendem também o
mercado consumidor brasileiro.
É fundamental que a política de informática brasileira busque incluir elementos
que gerem incentivos à inovação ao mesmo tempo em que minimizem os efeitos das
69
deficiências na estrutura produtiva do setor, contemplando todas as etapas da cadeia
produtiva. Na China isto foi conseguido ao se elaborar políticas a partir da análise de
setores estratégicos que apresentam sinergias com o setor de eletrônica. Uma outra
medida benéfica seria a promoção do intercâmbio de centros de pesquisa nacionais
e estrangeiros, como o proposto pelo governo chinês ao incentivar empresas
estrangeiras a praticar P&D em território nacional e empresas nacionais a fazer o
mesmo em território estrangeiro, favorecendo o intercâmbio de conhecimento tácito
entre pesquisadores e a adoção de novas rotinas gerenciais segundo o ambiente em
que se encontram as empresas.
Vale lembrar, também, das limitações desta pesquisa. O dinamismo do
complexo eletrônico permite que se façam análises, estudos e projeções de seus
impactos nos mais variados temas, com especial destaque à segurança nacional,
principal motivadora da instalação desta indústria no Brasil em meados da década de
1950. Contudo, este trabalho concentra-se ao redor das questões relacionadas ao
desenvolvimento econômico setorial.
Para além dos pontos analisados neste estudo, futuras pesquisas poderiam
contemplar os mecanismos de transferência de tecnologia e fatores que motivam os
empresários brasileiros, e estrangeiros, a investir em infraestrutura e pesquisa e
desenvolvimento, a fim de propor políticas mais eficientes no desenvolvimento do
setor eletroeletrônico no Brasil.
70
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ADLER, Emanuel. Ideological "Guerrillas" and the Quest for Technological Autonomy: Brazil's Domestic Computer Industry. International Organization. v. 40, n. 3. MIT Press, 1986.
ALCHIAN, Armen A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory. Journal of Political Economy. v. 58, p. 211-222, 1950.
AMIRI, S.; CAMPBELL, S. D.; RUAN, Y. China’s Government Expenditures, Policies, and Promotion of the ICT Industry. International Journal of Applied Science and Technology, Vol. 3 No. 1; Janeiro 2013.
APCO Worldwide. Market Analysis Report: China’s Electronics Industry. Presented to Israel Ministry of Industry, Trade and Labor and Israel Export & International Cooperation Institute, 2010. Disponível em: <http://goo.gl/bzLIjE>. Acesso em 2 jul. 2014.
BAPTISTA, Margarida. Políticas de Estado e seus efeitos sobre a indústria brasileira de informática. Campinas: Unicamp, Instituto de Economia/NEIT, 1997.
BAUMANN, Renato. O Brasil nos anos 1990: uma economia em transição. In BAUMANN, Renato (Org.). Brasil: Uma década em transição. Rio de Janeiro: Campus, p. 11-99, 1999.
BNDES. Perspectivas do Investimento em Eletrônica. Projeto Perspectivas do Investimento no Brasil (PIB), 2010. Disponível em: <http://goo.gl/YwdQcx>. Acesso em: 3 jul. 2014.
BRASIL. Lei Nº 7.232, de 29 de Outubro de 1984. Dispõe sobre a Política Nacional de Informática, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 29 out., 1984.
______. Lei Nº 8.248, de 23 de Outubro de 1991. Dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação, e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 23 out., 1991.
______. Lei Nº 11. 077, de 30 de Dezembro de 2004. Altera a Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, a Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 1991, e a Lei no 10.176,
71
de 11 de janeiro de 2001, dispondo sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 30 dez., 2004.
BRESSER PEREIRA, L. C. Desenvolvimento e crise no Brasil: história, economia e política de Getúlio Vargas a Lula. São Paulo: Editora 34. 2003.
BOULTON, W. R. Hong Kong – South China electronics industry. In: KELLY, M. B., W. (Ed.). Electronics manufacturing in the Pacific Rim. Maryland: International Technology Research Institute, 1997.
BURLAMAQUI, L. Evolutionary Economics and the economic role of the state. In: CHANG, Ha-Joon; BURLAMAQUI, L.; CASTRO, A. C. Institutions and the role of the state. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2000.
CASSIOLATO, J. E.; BAPTISTA, M. A. C. The effects of the Brazilian liberalization of the IT industry on technological capabilities of local firms. Information Technology for Development. v.7, n. 2, out 1996.
CHANG, Ha-Joon. The Political Economy of Industrial Policy. New York: St. Martin’s Press, 1996.
______. An institutionalist perspective on the role of the state: towards an institutionalist political economy. In: CHANG, Ha-Joon; BURLAMAQUI, Leonardo; CASTRO, Ana Célia (Org.). Institutions and the role of the state. Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2000.
______. Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. Tradução Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: UNESP. 2004.
COLOMBO, D. G. E. A Política Pública de Incentivo ao Setor de Informática no Brasil a Partir da Década de 90: uma Análise Jurídica. Tese (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.
CRUZ, H. N. Observações sobre a mudança tecnológica em Schumpeter. Revista Estudos Econômicos, v. 18, n. 3, set./out. 1988.
DANTAS, V. A guerrilha tecnológica: a verdadeira história da política nacional de informática. Rio de Janeiro: LTC-Livros Técnicos e Científicos. 1988.
72
EVANS, Peter B. State, Capital and the Transformation of Dependence: the Brazilian Computer Case. World Development, v. 14. n. 7. 1986.
______. Autonomia e Parceria: Estados e transformação industrial. Tradução de Christina Bastos Tigre. Rio de Janeiro: UFRJ, 2004.
GABRIELE, A. Science and technology policies, industrial reform and technical progress in China. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD): Discussion Papers, Nº 155, ago. 2001.
GARCIA, R. C.; ROSELINO, J. E. Uma avaliação da Lei de Informática e de seus resultados como instrumento indutor de desenvolvimento tecnológico e industrial. Gestão & Produção, São Carlos, v. 11, n. 2, p. 177-185, 2004.
GUTIERREZ, R. M. V. Complexo eletrônico: Lei de Informática e competitividade. BNDES Setorial 31, 2010, p. 5-48. Disponível em: <http://goo.gl/9zr0pD>. Acesso em: 26 jun. 2014.
HAUSER, Ghissia, et al. A indústria eletrônica no Brasil e na China: um estudo comparativo e a análise das políticas públicas de estímulo a capacidade tecnológica do setor. Journal of Technology Management & Innovation, nº 3, vol. 2, p. 85-96, 2007.
HEILMANN, S.; SHIH, L. The Rise of Industrial Policy in China. Harvard-Yenching Institute Working Paper Series, 2013. Disponível em: <http://goo.gl/Dj31lo>. Acesso em 2 de jul. de 2014.
HELENA, S. A indústria de computadores: evolução das decisões governamentais. Revista de Administração Pública. n. 1. Outubro/Novembro 1980.
HESHAMATI, A.; WANSHAN, Y. ICT contribution to the chinese economic growth. Seoul, The Ratio Institute and Techno-Economics and Policy Program College of Engineering, Seoul National University, 2006. Disponível em: <http://goo.gl/pRlcXL>. Acesso em 25 jun. 2014.
IEDI. Uma Comparação Entre a Agenda de Inovação da China e do Brasil. Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI), nov., 2011. Disponível em: <http://goo.gl/apKI0T>. Acesso em: 18 de jun. 2014.
73
LIN, C. Industry policies and structural change in China, 1979-2000. National Policy Foundation. NPF Research Report, 8 jun. 2001.
MARRONE, P. China e seus efeitos sobre a indústria de máquinas equipamentos do Brasil. São Paulo: Magma Cultural, 2006.
MASIERO, G.; COELHO D. B. A política industrial chinesa como determinante de sua estratégia going global. Revista de Economia Política, vol. 34, nº 1 (134), pp. 139-157, 2014. Disponível em: <http://goo.gl/MhTSfk>. Acesso em: 22 de jun. de 2014.
MAZZEO, L. M. A informática no Brasil e o novo paradigma industrial. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 1996.
MERCURO, N.; MEDEMA, S. G. Economics and the Law: from Posner to Post-modernism. Princeton: Princeton University Press, 1997.
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO (MEFP). Portaria MEFP nº 365. Aprova as Diretrizes para a Política Industrial e de Comércio Exterior. Diário Oficial da União de 27 de junho de 1990, seção I, p. 12367. Disponível em <http://goo.gl/e8P4B6> Acesso em 02 de jul. 2014.
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (MPOG). Plano Plurianual 2004-2007: Orientação Estratégica de Governo Um Brasil Para Todos: Crescimento Sustentável, Emprego e Inclusão Social. s.l.: s.n., s.d. Disponível em <http://www.defesanet.com.br/docs/ppa_2004_2007.pdf>. Acesso em 4 jun. 2014.
NASSIF, André. Uma contribuição ao Debate sobre a nova política industrial brasileira. Textos para Discussão 101 do BNDES. Rio de Janeiro: BNDES, 2003.
NELSON, R. R.; WINTER, S. G. Neoclassical vs. Evolutionary Theories of economic growth: critique and prospectus. The economic Journal. p. 896-905, dez. 1974.
______. Uma teoria evolucionária da mudança econômica. Tradução Cláudia Heller. Campinas: UNICAMP, 2005.
74
NING, L. China’s leadership in the world ICT industry: a successful story of its “attracting-in” and “walking-out strategy” for the development of high-tech industries? Pacific Affairs 82 (1) Spring, 2009, p.67-91.
NOLAN, P. China and the global economy: national champions, industrial policy, and the big business revolution. New York: Palgrave, 2001.
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. OECD Information Technology Outlook 2004. OECD Publishing, 2004. Disponível em <http://goo.gl/hSwwBB>. Acesso em 2 jun. 2014.
_____. OECD information technology outlook. Paris: Directorate for Science Technology and Industry, OECD, 2008. Disponível em: <http://goo.gl/8JDBHz>. Acesso em 19 jun. 2014.
SALLES FILHO, Sérgio S. et al. Avaliação de impactos da Lei de Informática: uma análise da política industrial e de incentivo à inovação no setor de TICs brasileiro. Revista Brasileira de Inovação, Campinas, v. 11, p. 191-218, 2012. Disponível em < http://goo.gl/haNFKp>. Acesso em 16 jun. 2014.
SCHUMPETER, Joseph A. The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. New Brunswick: Transaction Publishers, 1934. v. 55.
______. Capitalism, Socialism and Democracy. 3. ed. New York: Harper and Colophon Books, 1942.
SECRETARIA DE POLÍTICA DE INFORMÁTICA (SEPIN); Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). Resultados da Lei de Informática - Uma Avaliação: apresentação. Brasília: I Seminário Resultados da Lei de Informática, 2004. Disponível em < http://goo.gl/94s54v >. Acesso em 26 abr. 2014.
SEPIN-MCT; CGEE; GEOPI/UNICAMP. Avaliação da Lei de Informática: Resultados. Abinee Tec, São Paulo – 29 mar. 2011.
STEINER, Philippe. A sociologia econômica. São Paulo: Atlas, 2006.
STIGLITZ, Joseph E. Some Lessons from the East Asian Miracle. The World Bank Research Observer, v. 11, n. 2, p. 151-177, ago. 1996.
75
TAPIA, Jorge Rubem Biton. A Trajetória da Política de Informática Brasileira (1977- 1991): atores, instituições e estratégias. Campinas: Universidade de Campinas, 1995
TAVARES, Walkyria M. L. A indústria eletrônica no Brasil e seu impacto sobre a balança comercial. Brasília: Câmara dos Deputados, 2001.
TIGRE, Paulo Bastos. Indústria brasileira de computadores: perspectivas até os anos 90. Rio de Janeiro: IPEA. 1987.
UNIDO, Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial. International Yearbook of Industrial Statistics. Viena: Unido, 2010.
WADE, Robert. Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. Princeton: Princeton University Press, 1990.
WENDLER, P. G. Políticas Públicas de Inovação Comparadas: Brasil e China (1990-2010). 2013. 121 f. Tese (Mestrado em Políticas Públicas) - Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, Universidade de Brasília, Brasília. 2013.