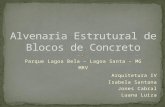Blocos de Carnaval: a arte do encontro nas ruas da cidade.
Transcript of Blocos de Carnaval: a arte do encontro nas ruas da cidade.
1
Blocos de Carnaval: a arte do encontro nas ruas da cidade.
Jorge Edgardo Sapia1
Resumo
O crescimento do Carnaval de rua no Rio de Janeiro tem contribuído para mudar imagens e
imaginários pela via da multiplicação de experiências e narrativas que enfatizam o valor de uso da
cidade. Essa multiplicidade de experiências carnavalescas deixa entrever uma disputa pela identidade
da festa. O artigo se propõe pensar, a partir da noção de festa, central em autores como Bakhtin e
Lefebvre, as representações e disputas em torno do espaço público e do direito à cidade. Palavras-
Chave: Blocos carnavalescos, Festa, Carnaval
Abstract
The growth of street Carnival in Rio de Janeiro fosters changes in image and mindset throughout the
population. That is due to the events' ability to promote the exchange of multiple experiences and
narratives both which emphasize the city's use value. This wide scope of Carnival-related experiences
brings forth a dispute on the definition of the festival's identity. This paper intends to analyze the
various opinions and controversies regarding the public space and city rights. The analysis will
beguided by the notion of festival, which is central in the works of authors such as Bakhtin e Lefebvre.
Key Words: Carnival Street Parades, Festival, Carnival
Introdução
Neste início do século XXI a cena carnavalesca na cidade do Rio de Janeiro mudou. Além do
carnaval oficial celebrado pelas grandes escolas na Passarela do Samba, há um pujante carnaval nas
ruas da cidade que foi descoberto, recentemente, por inúmeros atores. O popular Sambódromo,
inaugurado em 1984, é um espaço de racionalidade especializada, concentra a atenção da midia, em
particular, da indústria televisiva. Esta última desempenhou um papel fundamental no projeto de
integração nacional, consolidado nas décadas de 1960/70, pela via da modernização autoritária. Como
mostram Armand e Michèlle Mattelart no livro O Carnaval das Imagens, a televisão assume, nesse
período, “um papel de vanguarda enquanto agente unificador da sociedade brasileira”.2 Além de
integrar sociedade e mercado permitiu completar o processo de colonização do carnaval brasileiro,
iniciado nos anos 30, época na qual o samba se transforma num dos símbolos da identidade nacional3.
O mundo das escolas de samba se caracteriza pelo produção anual de um elaborado ritual que inclui,
como descreve Cavalvanti,4 a própria realização da festa quanto sua complexa organização.
Participam deste processo diversos segmentos sociais que tecem redes elaboradas de cooperação, de
forma tal que, essa urdidura na qual são amarrados os diversos nós de um longo processo produtivo
nos permite compreender a arte, nos termos propostos por Becker, como uma forma de ação coletiva5.
2
De outro lado, há um Carnaval de rua que adquiriu uma dimensão que não pode ser ignorada.
Na tentativa de compreender esta realidade, a Prefeitura, através da Empresa de Turismo do
Município do Rio de Janeiro S.A. (Riotur), começou a centralizar os dados relativos ao Carnaval de
rua no ano de 2009. Nesse ano foram registrados 198 blocos e bandas; nos dois anos seguintes o
número subiu para 425; no carnaval de 2013, as autorizações expedidas alcançaram a cifra de 496
agremiações. Outro dado importante é que a festa, concentrada basicamente na zona sul da cidade na
década de 1990, se espalhou homogeneamente pela malha urbana. Houve um aumento de 44% de
blocos na Zona Norte da cidade e de 32 % na região da Tijuca e Zona Oeste. Segundo a mesma fonte
participaram do carnaval de rua 5.300.000 foliões gerando uma renda estimada em U$S 848 milhões.
É bom não esquecer, que além desse quantitativo, existem os partidários da espontaneidade que
resolvem de véspera, colocar um bloco na rua. Existem também agrupações que decidem e explicitam
que desfilam sem qualquer autorização pois consideram que o estado não deve controlar nem
regulamentar a folia.6
Reinventando a rua
O Carnaval de rua é, nos anos de 1980, uma opção bem pouco valorizada. A crise do Carnaval
pode ser associada ao surgimento de novas pautas e valores que vão sendo incorporados nas camadas
da classe média urbana. Entre eles, como sugere Nelson da Nóbrega Fernandez7 a difusão crescente
do automóvel, a oferta de novos espaços turísticos, a revalorização do espaço comunitário e uma
“lógica antiurbana e decididamente rural da contracultura” abrem caminho para a procura e ocupação
das regiões serranas e dos lagos, no interior do estado, contribuindo com o esvaziamento. O autor
sugere ainda considerar como indicadores que completam o quadro de penúria e esvaziamento dessa
festa de rua, a existência, por lado, de uma associação entre Carnaval e alienação e, por outro, a
consolidação da Indústria Cultural como principal instituição mediadora entre o Estado autoritário e
a sociedade.
Mas este é também o momento que precede o longo processo de liberalização e democratização
que, iniciado movimento pela Anístia, teve seu ponto culminante na campanha pelas Diretas Já. Foi
um período caractrizado pela ruptura do silêncio, provocado por uma multiplicidade de projetos e
memórias que, naquele contexto, se apresentavam como possíveis. As celebrações e as festas
ocuparam um lugar importante na cidade e traduziam a vontade compartilhada de recuperação o
espaço público anteriormente interditado. Essa foi a lógica dos processos de transição política que
ocorreram em diversas realidades.8
3
Entretanto, o quadro de euforia participativa entrou em declínio a partir de uma sequência de
fatos que podem ser lidos na chave da derrota do campo popular. As situações que elencamos a seguir
ilustram, com toda agudeza, as tensões do período: a própria derrota das Diretas Já; o falecimento do
candidato consensual, Tancredo Neves; a assunção da Presidencia por José Sarney; os sucessivos
fracassos dos planos econômicos implementados no mandato deste último e a espiral inflacionária
que caracterizou o período. Tensões que contribuiram para o esmorecimento do entusiasmo anterior.
Como diz José Murilo de Carvalho,
Havia ingenuidade no entusiasmo. Havia a crença de que a democratização das instituições traria
rapidamente a felicidade nacional. Pensava-se que o fato de termos reconquistado o direito de eleger
nossos prefeitos, governadores e presidente da República seria garantia de liberdade, de
participação, de segurança, de desenvolvimento, de emprego, de justiça social.9
Passada a euforia inicial, tomou forma um sentimento generalizado de descrença e desesperança
que contribuiu para aumentar a despolitização e a retração do espaço público. Processo acentuado na
lógica cultural contemporânea que enfatiza “a satisfação pessoal imediata, o individualismo e o reino
da privacidade/domesticidade”.10 Clima adequado para a emergência de um individualismo perverso
que ordena essa nova configuração social e que leva, segundo Jurandir Freire Costa, a construção de
um universo no qual predominam práticas culturais que conduzem à despolitização radical do mundo.11
Por isso é interessante pontuar que nas águas de março do processo de transição, num contexto
de desmobilização, surgem dois novos personagens na cidade que resolvem, num movimento de
sentido inverso ao do quadro geral, ocupar a rua como festa carnavalesca. A ideia de festa é essencial
em autores como Batkhin. Segundo ele, elas emanam dos fins superiores da existência humana, isto
é, do mundo dos ideais e são “uma forma primordial da civilização”12. Naquele contexto, os sujeitos
que decidem botar o bloco na rua, como diria o compositor Sérgio Sampaio, são movidos pelo desejo
de desfrutar da liberdade e de preservar a alegria proporcionada pelo encontro e celebração que
caracterizou o processo de liberalização do regime autoritário, além de recuperar, talvez, o imaginário
que orientou as utopias das décadas anteriores.
A nova realidade começou a ser desenhada com a criação simultánea de dois blocos que estão
na base do atual crescimento: o Barbas e o Simpatia é Quase Amor. O primeiro foi fundado pelos
frequentadores do bar homônimo que funcionou até 1995, no bairro de Botafogo. Durante o processo
de transição política o bar foi um espaço libertário onde era possível participar de diversos debates,
de lançamento de livros, shows, além do botequim se transformar em ponto de encontro de ex-
exilados, ex-presos políticos, como velhos e novos sambistas. Foi na ressaca das Diretas, que um
4
coletivo de oitenta pessoas reunidas em assembleia deliberou pela fundação do bloco que leva, até
hoje, o nome do bar. O segundo recebe o nome de um personagem do poeta Aldyr Blanc que frequenta
as páginas do livro “Rua dos artistas e arredores”: Esmeraldo Simpatia é Quase Amor. Ficamos
sabendo pelo samba de 1995, em homenagem a Tom Jobim, que o bloco foi batizado em Ipanema:
Eu vi subir um piano pro infinito/abriram um botequim no além/daqui eu vejo um paraíso mais
bonito/os três apitos sempre tocam por alguém/mesa de bar, papo furado, Simpatizei/fim de semana
um chope gelado/no mar de Ipanema eu me batizei. No além ou aqui, os bares e botequins são
instituições fundamentais e podem ser vistos como “espaços-síntese” da cidade. A imagem é de Maria
Alice Resende de Carvalho, quem também sugere que essas instituições são capazes de evocar uma
multiplicidade de referências simbólicas que resultam da nossa qualidade de seres urbanos, pelo fato
de sermos “autores da nossa cidade, construtores permanentes da sua significação e personalidade”.13
Discutindo o fenômeno urbano, Henry Lefebvre elabora uma série de argumentos favoráveis
à rua, o primeiro considera que a rua é, privilegiadamente, lugar de encontros e onde se realiza o
movimento, a mistura que caracteriza a vida urbana. Sem estes elementos, continua Lefebvre, só pode
existir separação, “segregação estipulada e imobilizada”, a rua, lugar de movimento e de mistura,
permite o desenvolvimento de três funções essenciais: simbólicas, informativas e lúdicas, logo, “nela
joga-se, nela aprende-se” a ser cidadão. Ao mesmo tempo a rua é lugar de “convergência das
comunicações e das informações, o urbano se torna aquilo que ele sempre foi: lugar do desejo,
desequilíbrio permanente, sede da dissolução das normalidades e coações, momento do lúdico e do
imprevisível”.14 Momento do lúdico e do imprevisível que faz da ocupação das ruas a atividade
preferida de um número cada vez maior de cidadãos que - como é possível observar
contemporaneamente - ao descobrir os blocos, seus circuitos e trajetos, descobrem, no mesmo
movimento, a cidade. Para Lefebvre, o urbano é um espaço-tempo da “fruição, da superação da vida
cotidiana alienada”, que deve ser realizado pelo exercício do direito à cidade que é, segundo o autor,
uma forma superior dos direitos: “direito à liberdade, à individualização na sociedade, ao habitat e ao
habitar. O direito à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito
de propriedade) estão implicados no direito à cidade”, aqui a ênfase recai no valor de uso e do gozo
emancipatório da cidade e da festa.15 A ideia da cidade como obra, como valor de uso, como
apropriação remete a questão da universalização dos acessos aos serviços públicos, moradia,
transporte, lazer e cultura, enfim, a questão do direito à cidade, colocada embrionáriamente no período
do carnaval foi posta com veemência no espaço público pelos movimentos de Junho de 2013. Nesse
5
preciso sentido, permanecer na rua ocupando o espaço público nos remete à ideia de Hanna Arendt
sobre a ação. Para a autora “o ato de encontrar as palavras adequadas no momento certo,
independentemente da informação que transmitem, constitui uma ação”16 que, enquanto ação política,
fala do inusitado, do imprevisível, do contingente e do indeterminado.
Insistimos neste ponto, a ação inicial foi realizada num contexto que mostrou, de forma
enfática, sua face mais perversa: despolitização e privatização, insegurança e medo marcavam a
sociabilidade violenta responsável pelo paradigma da cidade partida. Imagem de uma cidade cindida
em dois universos incomunicáveis, o do mundo do asfalto e do mundo da favela, local de moradia
das “classes perigosas” e, por extensão, local onde a institucionalidade democrática não vigora.
Entretando, e apesar disso tudo, é possível encontrar como assinala Beatriz Jaguaribe, uma
“cidade porosa, uma cidade onde as influências culturais desestabilizam fronteiras, onde há uma
hibridação contínua fertilizando trocas culturais, imaginários simbólicos e sonhos de vida”17. Essa
porosidade permitiu que inúmeros coletivos participassem dos blocos da retomada ao mesmo tempo
em que toma forma um contínuo movimento de criação, de invenção de multiplas atividades que,
pelo caminho do encontro e da arte, tecem novas formas de sociabilidade que ajudam a superar a
lógica da cisão. Cada nova experiência carnavalesca é também um convite a se perder no redemoinho
da cidade e, se perder, é uma boa forma de encontrar os acessos a uma cidade que está pronta para
ser descoberta.
A este movimento inicial irão se somar outras experiências que catalisam a participação de
sujeitos com vínculos estreitos com a militância política anterior e com o movimento associativo que
caracterizou o período. Foram surgindo em sequência diversos blocos, todos com um perfil
semelhante, que até a virada do século XXI aglutinavam os sujeitos que marcavam presença nos
desfiles e nas atividades rituais desse, até então, reduzido número de blocos.18 Podemos argumentar
que era um tempo romântico em que era possível sustentar os gastos dos desfiles através de ação entre
amigos que compravam anualmente as camisetas, frequentavam festas, numa época em que ainda era
possível administrar a agenda. Revelador desse momento incipiente é o depoimento da atual
presidente do bloco de Segunda “o mais interessante para quem brinca o carnaval de rua é que a gente
acaba desfilando em todos os blocos...compro a camisa dos meus supostos rivais porque sei que é
isso que financia a festa”.19 As camisetas criadas por artistas plásticos ou cartunistas que colocam
sua arte a serviço do coletivo reforçam a identidade dos blocos e são um símbolo de prestígio e de
inclusão. Funcionaram, nesse período, como passaporte que permitia transitar na cidade e ser bem
6
recebido nos espaços onde o samba acontece. Na classificação nativa trata-se de camisetas e não
abadás. O abadá é uma classificação que remete ao carnaval da Bahia que se espalhou pelo país com
força inusitada a partir da década de noventa. Essa espetacularização e força midiática do carnaval
baiano contribuiu para sedimentar a idéia de que fora dos desfiles das escolas de samba não existía
carnaval no Rio de Janeiro. O imaginário do abadá é tão forte que é comum ouvir dos novos
brincantes da festa carioca essa classificação.
A explosão das ruas
Atualmente, o tempo romântico desapareceu. As atividades outrora suficientes para colocar o
bloco na rua não permitem realizar hoje esse propósito. O crescimento que agudiza a disputa pelo
espaço do Carnaval levou, entre outras coisas, à formação de associações orientadas pela necessidade
de enfrentar problemas comuns: elevados gastos dos desfiles decorrentes do aumento do número de
foliões; necessidade de uma infraestrutura que comporte tal crescimento: carros de som com maior
volume, baterias maiores, segurança, contratação de agentes para o controle do trânsito das ruas por
onde passam os cortejos, etc. Na atual conjuntura, o movimento associativo confere visibilidade e
representatividade, ativos interesantes na procura de apoios e patrocínio; confere o reconhecimento
que é importante na luta simbólica, por permitir a reivindicação de um lugar, junto ao poder público,
para participar do próprio desenho do carnaval na cidade20. Nota-se que o espaço carnavalesco é
atravessado por uma multiplicidade de atores e narrativas que revelam interesses, posições e projetos
diversos que disputam a identidade da festa. Observamos uma demarcação de fronteiras e elaboração
de identidades sociais que confrontam visões essencialistas e inovadoras21. As primeiras ancoradas
em uma identidade fixa ou permanente consideram que o carnaval do Rio deva ter, como referência,
o universo do samba. As manifestações inovadores, que tem crescido de maneira significativa nos
últimos anos, estão muito mais próximas da ideia apresentada por Stuart Hall na sua reflexão sobre o
capitalismo tardio e da identidade como “celebração móvel”, isto é, de uma identidade “formada e
transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados
nos sistemas culturais que nos rodeiam”.22 Surgiram, nos últimos anos, blocos que dialogam com
diferentes tradições musicais produzindo fusões as mais diversas. Existem blocos musicais que
transitam no universo do rock e do funk, aqueles que dialogam com a musicalidade caribenha, e até
os Beatles, trazidos pelo bloco Sargento Pimenta ao cenário carioca, ganhando uma roupagem de
batida percussiva.
7
No cenário contemporâneo, caracterizado por uma tendência de privatização e
comercialização da atividade cultural23 e orientada pelo atual urbanismo de embelezamento, as
estratégias voltadas para a produção de imagens que possam exercer atração “dos fluxos globais do
capital”24 são também utilizadas no carnaval de rua, que é visto como espaço adequado para a
consolidação de marcas no mercado25. Essa tendência é apontada por Harvey:
O patrocínio corporativo das Artes (exposição patrocinada por...), de universidades e de
projetos filantrópicos é o lado prestigioso de uma escala de atividades que inclui tudo, de
perdulárias brochuras, relatórios sobre empresas e promotores de relações publicas a
escândalos – desde que se mantenha constantemente o nome da empresa diante do público26
.
Um caso interessante é o da recém extinta Globo Rio criada há cinco anos pela Rede Globo
como estratégia de marketing para regionalizar a marca. O processo de consolidação dessa
regionalização orientou políticas empresariais voltadas ao apoio de iniciativas culturais cariocas,
entre elas a parceria firmada com a Sebastiana - Associação de blocos da Zonal Sul, Centro e Santa
Teresa. Como parte dessa política inventou uma disputa entre dois blocos carnavalescos
representativos das cidades do Rio de Janeiro e do Recife. Segundo a leitura da Globo Rio a multidão
de 2 milhões de foliões que acompanham o Galo da Madrugada na capital pernambucana teria sido
superado, no Rio, pelo tradicional Cordão do Bola Preta. O cálculo de brincantes feito pela emissora
propiciava interesses mercadológicos.27 Por outro lado, a empresa jornalística O Globo, do mesmo
grupo multimídia, mudou sua linha editoral em relação à festa das ruas. Abandonou a pauta sobre a
“desordem” e instituiu concurso e premiação para o melhor bloco da cidade. Essa mudança pode-se
ser vista no artigo de Gilberto Scofield Jr., editor de cidade do jornal o Globo:
Os cariocas claramente resgataram a autoestima perdida em anos de insegurança...e, pelo que pude
perceber, voltaram às ruas. Eu digo rua como espaço público, tanto que durante o Carnaval,
decidimos aqui no jornal aumentar o espaço de cobertura dos desfiles dos blocos de rua porque
aquela manifestação, repleta de gente alegre e fantasiada, me pareceu muito mais espontânea do
que a Hollywood que desde sempre acontece no Sambódromo — um espaço privado e caro, diga-
se de passagem.28
Observa-se no artigo a marcação de fronteiras entre duas formas de festejar. A primeira se
caracterizaria pela ênfase na ideia de espetáculo e pelo estabelecimento de uma nítida separação entre
atores e expectadores presentes nos desfiles das grandes escolas. A segunda, pelo contrário, se
aproxima da dimensão apontada por Bakthin, na sua análise do carnaval medieval, “Na verdade, o
carnaval ignora toda distinção entre atores e espectadores...Os espectadores não assistem o Carnaval,
eles o vivem, uma vez que o carnaval pela sua própria natureza existe para todo o povo”.29 Peter Burke
na sua discussão da cultura popular na Idade Moderna diz que o “local do carnaval era ao ar livre” e
8
que pode ser visto como “uma peça imensa, em que as principais ruas e praças se convertiam em
palcos, a cidade se tornava um teatro sem paredes” sem distinção marcante entre atores e
espectadores30. Como vemos, há uma longa tradição que pensa o Carnaval como um ritual de
inversão social. Esse viés é discutido, entre nós, por Roberto DaMatta no clássico, Carnavais,
Malandros e Heróis. Nesta perspectiva, o Carnaval é um momento de abolição provisória de todas as
hierarquias, uma visão de mundo deliberadamente não oficial; interrupção momentânea que enfatiza
sua natureza subversiva contra toda hierarquia, como indica Bakhtin; no mesmo sentido Peter Burke
enfatiza a ideia de representação do “mundo virado de cabeça para baixo”.
Uma perspectiva diferente é sugerida por Leonardo Pereira. No livro O Carnaval das Letras
o autor desconstrói as leituras que enfatizam a ideia de inversão temporária pois impedem de
considerar a perspectiva histórica que se apresenta como mais adequada para desvendar o “processo
múltiplo e contraditório da formação” carnavalesca.31 Desde a perspectiva da geografia cultural,
Ferreira, relativiza a ideia de festa universal da inversão e do exagero. Propõe levar em consideração
as forças que interagem “por meio de uma incessante disputa” pelo que denomina de espaço/poder
marcados pelo lugar. Desse modo, diz o autor, “assim como a festa se caracteriza na luta pela posse
simbólica do lugar festivo, o Carnaval se define como a luta pela posse simbólica do lugar
carnavalesco”32.
Considerações finais
O movimento de blocos produziu novas imagens e imaginários que dão novo sentido à cidade
As redes de sociabilidade intensificam as trocas sociais e simbólicas durante e além do tempo da festa
integrando diversos setores sociais à memória coletiva da cidade. A festa carnavalesca é um espaço
de observação privilegiado pois possibilita vislumbrar aspectos da cultura e das redes de sociabilidade
que costuram a cidade pela via de manifestações artisticas que ainda precisam ser devidamente
compreendidas. Como discutimos no artigo As redes sociais do samba33 os blocos que denominamos
da retomada carnavalesca tiveram papel importante nas trasformações produzidas em algumas áreas
incorporadas a um circuito34 do samba e do carnaval. A Lapa e o histórico território denominado de
pequena África são dois exemplos. É necessário investigar ainda quantos outros circuitos foram
inventados por essa enorme quantidade de manifestações carnavalescas.
Este último circuito vem sendo constituido nos últimos vinte anos pelo bloco Escravos da
Mauá cuja área de atuação é zona portuária da cidade: ontem, palco do surgimento do samba na
9
Pedra do Sal, hoje, palco das transformações urbanas promovidas pelo projeto Porto Maravilha. No
último carnaval, o bloco desfilou com o enredo Tesouros da Mauá. Para os organizadores, os tesouros
de um lugar são sua história, seus personagens e sua cultura popular. O desfile foi marcado por
diversos encontros que nos falam de um trabalho de inserção na comunidade, realizado ao longo do
ano. O primeiro encontro foi com o bloco infantil Amarelo Providencial, criado recentemente nas
oficinas e saraus literários da Casa Amarela dirigida pelo coletivo FAVELARTE, no morro da
Providência. O segundo foi a confraternização com o Afoxé Filhos de Gandhi, mediado por uma
comissão de frente formada por artistas de rua, em pernas de pau, que integram a Cia de Mystérios e
Novidades, também localizada na área. Na sequência, os foliões foram recebidos na Praça da
Harmonia por diversos coletivos da região portuária com seus estandartes desfraldados: Pinto
Sarado; Escorrega mais não cai; Eles que digam; Vizinha faladeira; Fala meu louro e diversos
outros. É difícil mencionar um ponto culminante dessa arte do encontro. Evoco, não obstante, o
momento em que se recuperou – diante da sede do Sindicato dos Estivadores, aberta para aguardar o
desfile - a memória da luta de João Candido - líder da revolta da Chibata. A multidão substituiu o
samba do bloco para entoar, emocionada, a música Almirante Negro, de autoria de João Bosco e Aldir
Blanc. Este último, vale mencionar, é fundador do Bloco Carnavalesco Nem muda nem sai de cima,
com sede no bar da Maria, no bairro carioca da Muda.
Se os acontecimentos, personagens e lugares são vetores de produção de memória, individual
e coletiva, suas “sedes”, isto é, os diversos botequins espalhados pela cidade, e seus trajetos,
reproduzidos durante os cortejos carnavalescos, podem ser considerados como lugares de apoio à
memória transformando-se, por conseguinte, em lugares de comemoração35. O caráter aglutinador da
festa projeta-se além do tempo e do espaço do carnaval, através de redes de sociabilidade que colocam
em circulação na esfera pública novas formas de imaginação, de criatividade social, de manifestações
artísticas que, por seu lado, estimulam novos olhares e novas narrativas. Tensões e propostas que
colocam desafios aos formuladores de políticas públicas e aos atores da sociedade civil que trabalham
na realização da festa. Tal diversidade sugere a relevância política e social dessa nova manifestação
cultural da cidade que coloca em cena novas perspectivas e oportunidades que ainda precisam ser
devidamente avaliadas.
10
1 Mestre em Sociologia pelo IUPERJ. E-mail: [email protected]
2 Cf. MATTELART, Michèle & Armand. O Carnaval das Imagens: a ficção na TV. São Paulo: Brasiliense, 1989, p.36.
3 Ver VIANNA, Hermano. O Mistério do Samba. Rio de Janeiro. Jorge Zahar. Ed.: Ed.UFRJ, 1995, p.28 e 111e ORTIZ,
Renato. A Moderna Tradição Brasileira. São Paulo: Brasiliense,1988.
4 CAVALCANTI, Maria Laura. Carnaval Carioca: dos bastidores ao desfile. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006, p.26.
5 BECKER, Howard. Uma Teoria da Ação Coletiva. Tradução Márcia Bandeira de Mello Leite Soares. Rio de Janeiro,
Zahar Ed, 1977, p. 206.
6 Discutimos essa questão com Andréa Estevão em “Considerações a respeito da retomada carnavalesca: o carnaval de
rua no Rio de Janeiro”, in Textos Escolhidos de Cultura e Artes Populares. Rio de Janeiro: UERJ, 2012, v.9, n.1, p.201-
220.
7 FERNANDEZ, Nelson da Nóbrega. Comunicação apresentada na mesa Nosso Bloco Está na Rua, no segundo
Seminário Desenrolando a Serpentina organizado pela Sebastiana, no IAB, Rio de Janeiro, Maio de 2009.
8 Para o caso de Portugal, ver o artigo de Carlos Fortuna e Augusto Santos Silva, “A cidade do lado da cultura:
Espacialidades sociais e modalidades de intermediação cultural”. In: SANTOS, Boaventura de Souza (org.). A
Globalização e as Ciências Sociais. São Paulo: Cortez, 2011. Para o caso espanhol, ver Adriá Pujols Cruells “Ciudad,
Fiesta y Poder en el Mundo Contemporaneo”, México, 2006.
9 CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil – o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002,p.2
10 FORTUNA, Carlos e SILVA, Augusto Santos. Op. Cit.
11 COSTA, Jurandir Freire. “Narcisismo em Tempo Sombrios”. In: BIRMAN, Joel (org.) Percursos na história da
psicanálise. Rio de Janeiro: Taurus, 1988.
12 BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: O contexto de François
Rabelais. Tradução Yara Frateschi Vieira. São Paulo, Hucitec-UNB, 1987, p.8.
13 CARVALHO, Maria Alice Rezende. Quatro Vezes Cidade. Rio de Janeiro: Sette Letras, 1994, p.96. Cf. Cf. Monica
Pimenta Velloso. Modernismo no Rio de Janeiro: turunas e quixotes. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas,
1996.
14 LEFEBVRE, Henri. O direito a cidade. Tradução Rubens Eduardo Frias. São Paulo: Editora Moraes, 1991, p.79.
15 LEFEBVRE, Henri. A revolução urbana. Tradução Sérgio Martins, Belo horizonte: Ed.UFMG, 2008, p.27
16 ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, p.35.
17 JAGUARIBE, Beatriz. O choque do real: estética, mída e cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 2007, p. 114.
18 Sapia, Estevão, op. Cit.
19 Cf. “A animação volta às ruas”, Jornal O Globo 27/01/1995. Do mesmo teor é a matéria titulada “Blocos revitalizam
o carnaval de rua”, caderno Zona Sul 01/02/1996 ou ainda a matéria de Lucila de Beaurepaire afirmando “que nos últimos
anos dobrou o número de blocos.” Jornal O globo 09/02/1997.
20 As associações que hoje disputam essa arena festiva são, por ordem cronológica, Sebastiana, Folia Carioca, Liga
de Blocos e Bandas da Zona Portuária, Desliga carnavalesca, Amigos do Zé Pereira e na Zona Norte o “Lado B’
organizada pelo bloco Timoneiros da Viola..
11
21 Sobre os primeiros indicamos o artigo do produtor cultural Lefê Almeida. “O poder de resistência dos cariocas”
publicado na editoria de Opinião do jornal o Globo em 25 de fevereiro de 2007 e o artigo “Muito bloco, pouco samba”,
do Músico Henrique Cazes publicado na editoria de Opinião do Jornal O Globo em 24 de fevereiro de 2012. As posições
inovadoras podem ser encontradas no Manifesto do Carnaval Nômade Cf.
http://carnavalnomade.blogspot.com.br/2010/12/manifesto-do-carnaval-nomade.html
22 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes
Louro. Rio de Janeiro: DP&, 2002, p.13.
23 FORTUNA, Carlos e SILVA, Augusto Santos. Op. Cit. p. 429
24 RIBEIRO, L.C. de Queiroz. “A cidade, as classes e a política: uma nova questão urbana brasileira?”. In: OLIVERA,
L.L. (Org.) Cidade: história e desafios. Rio de janeiro: FGV Ed., 2002, p.85.
25 Discutimos as estratégias de marketing agressivo em SAPIA, Jorge Edgardo e ESTEVÃO, Andréa Almeida de Moura.
“Festas carnavalescas: costurando e redesenhando a cidade”. In: Narrativas da Cidade: perspectivas multidisciplinares
sobre a urbe contemporânea. FACCIN, M.J, NOGUEIRA, M.A, VAZ, e. (ORG.) Rio de Janeiro: E-papers, 2013, p. 127-
142.
26 HARVEY, David. A Condição Pós-Moderna. Tradução Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. São Paulo:
Loyola, 2001, p. 152.
27 Cf. http://cbn.globoradio.globo.com/grandescoberturas/carnaval-2013/2013/02/06/CORDAO-DA-BOLA-PRETA-
QUER-ASSUMIR-O-POSTO-DE-MAIOR-BLOCO-DE-CARNAVAL-DO-MUNDO.htm consultado em 10/09/2013.
28 Cf. http://oglobo.globo.com/rio/o-rio-de-espacos-publicos-8979920#ixzz2etITR9gO. consultado em 25/09/2013
29 BAKHTIN, Mikhail. Op.cit. p. 6.
30 BURKE, Peter. A Cultura Popular na Idade Moderna: Europa, 1500-1800. Tradução Denise Bottmann. São Paulo:
Companhia das Letras, 2010, p.248.
31 PEREIRA, Leonardo. O Carnaval das Letras. Campinas,SP: Editora da UNICAMP, 2004, p.26.
32 FERREIRA, Felipe. Inventando Carnavais: o surgimento do carnaval carioca no século XXI e outras questões
carnavalescas. 2000, p.323.
33 ESTEVÃO, Andréa Almeida de Moura e SAPIA, Jorge Edgardo. As Redes Sociais do Samba e do Carnaval de
Rua Carioca. Trabalho apresentado no Segundo Congresso Nacional do Samba. UNIRIO. Rio de Janeiro. 1e 2 de
Dezembro de 2012.
34 Sobre a noção de circuito ver MAGNANI, José Guilherme. "Quando o campo é a cidade: fazendo antropologia na
metrópole". In: Na Metrópole: textos de antropologia urbana. José Guilherme Magnani e Lilian e Lucca Torres (org.)
São Paulo. Ed. Universidade de São Paulo; Fapesp, 1996.
35 POLLAK, Michael.”Memória e identidade social”. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol.5, n.10, 1992, p.200-
212.