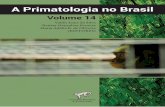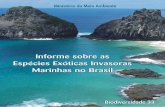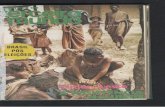785) A pesquisa histórica sobre o Brasil nos arquivos americanos: o resgate de fontes primárias na...
Transcript of 785) A pesquisa histórica sobre o Brasil nos arquivos americanos: o resgate de fontes primárias na...
BOLETIM DE ANÁLISE DO ESTADO DA ARTE EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
S U
M A
R I O
Carta do Editor
A presente edição de Via Mundi � Boletim de Análise do Estado
da Arte em Relações Internacionais se inicia com artigo de autoria de
Paulo Roberto de Almeida e Francisco Rogido Fins sobre o
importante processo de resgate de fontes primárias sobre o Brasil
nos arquivos norte-americanos ou, em outras palavras, sobre as
iniciativas que podem ser empreendidas para facilitar aos
pesquisadores interessados nas diferentes vertentes do
relacionamento com os EUA a material de pesquisa que é,
geralmente, inacessível.
Completam a edição, análises de obras referentes a diversos
segmentos do Direito, desde o do consumidor, passando pelo
comercial � presente na obra do Ministro Celso Lafer �, até os
direitos humanos na América Latina. Além disso, a presente edição
compõe-se de resenha da importante obra do diplomata Paulo
Pereira Pinto sobre o Sudeste asiático, região para onde pode verter
a atenção dos especialistas em política internacional no século
XXI, e de análise do livro do Embaixador Lincoln Gordon sobre
as relações do Brasil com os EUA. Há a obra de perfil inédito
sobre Israel e Brasil, que reúne especialistas de diversas áreas.
Some-se a essa, a autobiografia de Abba Ebban, uma das mais
importantes personagens da diplomacia israelense. Ainda sobre a
Ásia, figura uma análise histórica sobre a questão do Timor Leste,
que ultrapassa em termos de interesse o âmbito lusófono, dada a
dimensão da tragédia que se abateu sobre a região na época da
Guerra Fria. Segue-se análise sobre um interessante relato da
história russa, sempre dramática e fascinante, acuradas
observações acerca de conjunto de estudos sobre o relacionamento
brasílico-argentino, e análise de obra coletiva sobre a Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa � CPLP.
A pesquisa histórica sobreo Brasil nos arquivos
americanos: o resgate defontes primárias na
perspectiva das relaçõesBrasil-EUA
Paulo Roberto de AlmeidaFrancisco Rogido Fins
Apontamentos sobre otratamento dado à proteção
do consumidor na UniãoEuropéia
Lucia Elena Arantes Ferreira
Comércio, Desarmamento,Direitos Humanos
Camila Cavalcanti Teixeira
Minorias: ProteçãoInternacional em Prol da
DemocraciaDaniel Lavarda Sinegaglia
Os Direitos econômicos,sociais e culturais naAmérica Latina e o
Protocolo de San SalvadorDelchi Bruce Forrechi Gloria
A China e o Sudeste AsiáticoCamila Natividade
Abba Ebban e a Diplomaciapara o século XXI
Filipe Nasser
As origens e a evolução daquestão de Timor-Leste
Frederico Arana Meira
Mr. Gordon e o BrazilPaulo Roberto de Almeida
A Comunidade dos Paísesde Língua Portuguesa
Leonardo Abrantes de Sousa
O fim da URSS e a NovaRússia
Cristina Soreanu Pecequilo
Brasil-Argentina: a visão dooutro
Susan César
ISSN 1518-1227 Nº 4 ABR-JUN � 2001
2
A identificação e a recuperação, embenefício dos pesquisadores brasileiros,das fontes primárias dos Estados Unidosrelativas à história do Brasilindependente deve ser vista naperspectiva das relações políticas,econômicas e culturais, entre os doismaiores países do hemisfério americano,como apresentado no presente artigo.A implementação de um projetosistemático de levantamento ereprodução dessas fontes confirma suaimportância para a pesquisa sobre ahistória econômica, política e social doBrasil, sobre o relacionamento bilateraldo País com a potência americana e comos demais parceiros regionais, assimcomo sobre suas relações internacionaisde modo geral.
Os arquivos tradicionais e ahegemonia das fontes européiasna pesquisa histórica
O primeiro representantediplomático do Brasil nos EstadosUnidos, José Silvestre Rebelo, ministroem Washington de 1824 a 1829, pediu,de volta ao País, que o Legislativoautorizasse o Ministro dos NegóciosEstrangeiros a mandar adidos aoestrangeiro a fim de copiar manuscritosimportantes relativos ao Brasil. Aproposta, junto com as instruções para oprimeiro adido, foi aprovada, segundoconsta da ata de uma das primeirassessões do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro, criado em 1838em torno da idéia de promover a históriae o conhecimento geográfico da Pátria. 1
Rebelo tinha em mente antes ospaíses ibéricos e os demais paíseseuropeus do que os Estados Unidos, jáque a jovem república americanaostentava, então, uma história deautonomia política apenas algumasdécadas mais longa do que a do próprioImpério do Brasil. Assim foi feito: oprimeiro pesquisador público brasileiro,José Maria do Amaral, foi removido daLegação em Washington, por decreto de23 de agosto de 1939, para asrepresentações em Madri e Lisboa, a fimde, segundo informa José HonórioRodrigues, �coligir documentos quepudessem interessar à história do Brasil,na conformidade das instruções queenviaria o Instituto Histórico eGeográfico Brasileiro, com o qual deveriamanter-se em constante e diretacorrespondência�. Mas Amaral, naspalavras de Honório, �não estavapreparado para essas tarefas, aocontrário de Varnhagen, que o [iria]substituir�. 2 Varnhagen, nomeado adidode primeira classe em Lisboa em 1842,passa o restante dessa década na capitalportuguesa e em Madri, fazendoanotações nos arquivos e copiandodocumentos que ele julgava relevantespara a nossa história política. Daíresultaria a História Geral do Brasil,publicada entre 1854 e 1858, quando
Varnhagen já tinha sido nomeadosecretário do Instituto.
De fato, as principais fontes para ahistória colonial brasileira encontram-senos arquivos portugueses e espanhóis,complementados pelos da França, dosPaíses Baixos, da Inglaterra e da Itália,como confirmado pela seleção de paísesintegrantes da primeira fase do ProjetoResgate �Barão do Rio Branco� que, soba coordenação do Ministério da Cultura(contando com a orientação técnica deEsther Caldas Bertoletti), vem efetuandoa compilação da documentação históricasobre o Brasil colonial existente noexterior. O Projeto Resgate, estimuladopelas comemorações dos 500 anos dodescobrimento, realizou um magníficoempreendimento que resultou napublicação, em cooperação com assecretarias estaduais de cultura,fundações locais e universidades, decoleções inteiras de documentosmanuscritos avulsos e em códices,coletados basicamente nos arquivosportugueses. Os documentos originaisforam microfilmados e depoisdigitalizados, tendo sido oferecidos abibliotecas e universidades em formatode CD-ROMs, acompanhados dosrespectivos catálogos impressos.O Projeto Resgate encontra-seigualmente publicando guias das fontesprimárias sobre o Brasil colonial nosarquivos europeus mais importantesnessa área: holandeses, espanhóis,franceses e italianos.
A pesquisa histórica sobre o Brasil nos arquivos americanos:o resgate de fontes primárias na perspectiva das relações
Brasil-EUA
Paulo Roberto de Almeida*
Francisco Rogido Fins**
* Diplomata. Doutor em Ciências Sociais (http://pralmeida.tripod.com; [email protected]);** Mestre em História pela UFRJ ([email protected]).1 Sessão de 7 de junho de 1839, in Revista do IHGB, t. 1, pp. 151, 257-59, apud José Honório Rodrigues, A Pesquisa Histórica no Brasil, 3ª ed., São Paulo :Companhia Editora Nacional; Brasília, INL, 1978, p. 39.
2 Cf. Rodrigues, op. cit., p. 39.
3
As novas fontes e a importânciados Estados Unidos no períodorepublicano
Se a história colonial do Brasil pode,a rigor, dispensar a consulta a arquivosamericanos (a despeito de algumasexcelentes coleções de manuscritos e deobras raras relativas ao período,existentes na Library of Congress ou embibliotecas universitárias como a JohnCarter Brown ou a Oliveira Lima), operíodo independente e, sobretudo, orepublicano não podem, em qualquerhipótese, excluir as fontes primáriasexistentes nos Estados Unidos. Os doispaíses têm uma longa história de relaçõesdiplomáticas, que vem desde antes daindependência (o primeiro ministroamericano se instalou no Rio de Janeiroem 1809) e se prolonga até os dias dehoje (com algumas breves interrupçõesno período monárquico). Dada aintensidade dos vínculos econômicos,culturais, militares e de vários outrostipos, não se pode negar a importânciados Estados Unidos para a históriabrasileira, sobretudo ao longo do séculorepublicano.
Com efeito, as relações bilateraisentre o Brasil e os Estados Unidos noséculo XX passaram por diferentessituações e atitudes por parte dos doisgovernos, da aproximação à indiferença,da desconfiança à aliança militar, de umacooperação tida por exemplar àcompetição desigual, nas diversas fasesde um relacionamento que constituiu umelemento central da diplomaciabrasileira, mas que representou, para osEUA, um aspecto secundário de suaafirmação hegemônica no mundocontemporâneo. Na esfera da sociedade,da economia e da projeção estratégica, a�presença americana�, na expressão deMoniz Bandeira, 3 é propriamenteavassaladora e as relações bilaterais
tornaram-se crescentemente intensas,sobretudo nas áreas cultural e dosinvestimentos privados, à medida emque o Brasil se inseria cada vez mais noscircuitos internacionais. Essas diversasfases do relacionamento bilateral estãoperfeitamente consignadas nos arquivosamericanos, como um levantamentopreliminar permitiu detectar.
A Embaixada do Brasil emWashington, que por iniciativa doEmbaixador Rubens Antônio Barbosa jálançou programas ou centros de estudosbrasileiros nas universidades deGeorgetown e Columbia e estácoordenando a edição do Guide to theStudy of Brazil in the United States, 1945-2000, está propondo a abertura de umnovo capítulo no Projeto Resgate,dedicado desta vez às fontes primáriasexistentes nos arquivos americanos.Como escreveu ele, �São milhares depáginas � a maior parte já microfilmada� que, pela densidade analítica e por suaimportância intrínseca (dada acentralidade dos EUA na históriabrasileira, sobretudo depois dos anos 30),apresentam interesse para ospesquisadores dedicados ao estudo dainserção do Brasil no cenário mundial e aquestões variadas do próprio ambientedoméstico�. 4
Os Estados Unidos � enquantoprimeira potência hemisférica no séculoXX e principal potência planetária desdeo final da Segunda Guerra Mundial �estiveram presentes em todos os lancesimportantes da diplomacia brasileiranesse período, assim como ocuparamgrande parte da interface externa doBrasil no campo econômico, científico,cultural e tecnológico no último meioséculo. As relações foram (ainda são)marcadas por uma evidente assimetrianos planos econômico, tecnológico emilitar, ainda que o Brasil tenha buscadointroduzir, no plano diplomático, maior
equilíbrio político, com base nareciprocidade e na igualdade detratamento.
A pesquisa sobre as relaçõesBrasil-EUA a partir das fontesprimárias americanas
Uma agenda de pesquisas, tomandocomo base os papéis disponíveis paraconsulta nos arquivos americanos, abririaespaço para novas interpretações sobre ahistória interna e sobre a inserçãoexterna do Brasil ao longo do século XX,com ênfase no relacionamento bilateral.Os avanços concentuais e metodológicosda disciplina histórica no Brasil, assimcomo a superação de velhospreconceitos políticos justificam essa�revisão� das imagens recíprocas, geradasao longo do regime varguista, nas crisespolítico-militares da presidênciaKubitschek e em especial na transiçãopara um regime de força e na construçãode um regime autoritário-modernizadorno Brasil, na primeira metade da ditaduramilitar. Para esse período, os arquivosamericanos estão praticamente abertos.Quais seriam, em consequência, osgrandes temas de interesse norelacionamento bilateral nos primeirosoitenta anos do século XX, a partir deuma utilização extensiva dos arquivosamericanos?
Os desníveis de desenvolvimentoentre os dois países já eram evidentesentre o final do século XIX � quando seassistiu a uma primeira tentativa deintegração comercial hemisféricapatrocinada pelos EUA, na primeiraconferência internacional americana de1889-1890, um precedente históricopara a Alca � e o início do século XX. Apartir de 1902, o Barão do Rio Branco,armado de uma concepção diplomáticabaseada no equilíbrio de poderes(competição com a Argentina pela
3 L. A. Moniz Bandeira, Presença dos Estados Unidos no Brasil: dois séculos de história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1973; 2ª ed., rev.: Relações Brasil-EUAno contexto da globalização: I - Presença dos EUA no Brasil. São Paulo: Editora SENAC-São Paulo, 1998.4 Cf. Rubens A. Barbosa, �A história do Brasil nos arquivos dos Estados Unidos�, Folha de São Paulo, 16.02.2001, p. 3, artigo disponível em:http://www.brasilemb.org/arquivos/01_apresenta.htm.
4
hegemonia regional), opera uma políticade aproximação com os EUA. Brasil eArgentina buscarão em vários momentoscapturar a atenção dos EUA na busca deuma �relação especial� que semprerevelou-se ilusória. O gigante do Nortetinha proclamado o corolário Rooseveltà doutrina Monroe, justificando suasintervenções no entorno imediato comoo exercício de um papel de políciasegundo �padrões de civilização�estabelecidos de comum acordo com aspotências européias. Alguns dos papéismais relevantes para o estudo dessasquestões não se encontramnecessariamente no chamado RecordGroup 59 � papéis diplomáticos doDepartamento de Estado � mas nogrupo 43 � conferências internacionais� onde a série 43.2.7 cobre os primeirosdez encontros do sistema interamericano.
A República brasileira introduziuprincípios alternativos de políticaexterna, como o pan-americanismo, áreana qual o Império tinha mantidoum relativo isolamento em relação àsrepúblicas do hemisfério.O relacionamento tem uma boa partidanos episódios iniciais de afirmação daRepública, quando, por ocasião dasintervenções estrangeiras durante arevolta da Armada, os EUA vêm emauxílio do novo regime, contra asinclinações monarquistas de algumaspotências européias. Na vertentecomercial, um primeiro sucesso éregistrado com a assinatura do acordocomercial de 1891, garantindo o acessodo café e do açúcar em condiçõesfavorecidas no mercado americano, coma contrapartida da redução das tarifasbrasileiras aplicadas a manufaturas efarinhas dos EUA. Esse acordo nãovigorou por muito tempo, uma vez que,em 1895, o presidente McKinley, sobpressão de lobbies setoriais, introduziauma tarifa protecionista terminandoassim com os regimes preferenciais
negociados anteriormente. As pesquisasrespectivas de Steven Topik, pelo ladoamericano, e de Clodoaldo Bueno, pelolado brasileiro, já desvendaram váriosmeandros diplomáticos da primeiradécada republicana, mas uma novaconsulta aos papéis diplomáticos desseperíodo certmente trará novas luzessobre uma fase extremamente complexada história brasileira. 5
Pelo resto da República velha, asrelações bilaterais serão distantes,operando-se, contudo, a gradualsubstituição de hegemonias na esferafinanceira e dos investimentos, a partirdo momento em os EUA se convertemem exportadores de capitais, inclusivepara o Brasil, que passa do domínio dalibra ao do dólar. Credores americanosparticipam do esquema financeiro doprimeiro plano de apoio ao café (1906),que constitui um exemplo de políticaanti-cíclica para resolver uma crise dedemanda. Essa política de retenção deestoques para sustentação dos preçosexterno do café despertou entretanto aira de importadores e grupos deconsumidores dos EUA, que exigem deseu Governo ações concretas contra apolítica oficial brasileira a pretexto depráticas anti-concorrenciais. As pesquisasnos arquivos americanos para essa fasesão dificultadas pelo fato de que, entre1906 e 1910, o Departamento de Estadointroduziu um confuso sistema declassificação de documentos, o que fezcom que os expedientes relativos aoBrasil ficassem dispersos em diferentesmaços, que cumpriria, precisamente,identificar, reunir e copiar.
A República dos �bacharéis� buscainserir o Brasil no �concerto das nações�,mediante o envolvimento na Guerra e naulterior experiência da Liga das Nações,motivo de uma das grandes frustraçõesna história da diplomacia brasileira. OsEUA, que tinham patrocinado osurgimento da Liga, mantêm-se contudo
fora dela, tendo o Brasil abandonado oórgão em 1926. Tanto por parte dasgrandes potências européias, como nocaso dos EUA, o Brasil se vê confrontadoa posturas externas que vão do desprezoe da soberbia ao que mais tarde sechamaria de benign neglect. O período deRoosevelt � que coincide grosso modocom a era Vargas � modificará em partea postura isolacionista de seuspredecessores, buscando uma novarelação com os vizinhos da AméricaLatina, mas ele também coincide com acrise econômica, o fechamento dosmercados e a ruptura dos equilíbriosinternacionais. Os EUA emergem como apotência militar incontrastável do pós-Segunda Guerra e o Brasil fará as apostascorretas ao se aliar aos esforços de guerrae consolidar seu alinhamento ideológicodesde o início da Guerra Fria. É o começoda americanização do Brasil, processo jáanalisado por pesquisadores dos doispaíses. 6
O Brasil participa, desde aconferência de Bretton Woods (1944), daconstrução de uma nova ordemeconômica mundial dominada pelosprincípios do liberalismo de tipoamericano. Aqui, novamente, a série 43,relativa às conferências internacionais, éextremamente rica para uma pesquisacuidadosa sobre muitos dos temas emrelação aos quais o Brasil participavacomo mero espectador, apresentando, setanto, propostas tendentes à simplesestabilização dos preços das �matérias-primas�, vale dizer, o café. A �opçãoamericana� assumida com maior oumenor ênfase pelos governos brasileirosna era da bipolaridade não impediu aemergência de uma diplomacia do�desenvolvimento� no Brasil, comorevelado nos diversos maços deconferências econômicas do imediatopós-guerra, sobretudo no contextohemisférico. No mesmo contextodiplomático, seria preciso consultar e
5 Cf. Steve Topik, Trade and Gunboats: The United States and Brazil in the Age of Empire. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1996; Clodoaldo Bueno,A República e sua Política Exterior (1889 a 1902). São Paulo: Universidade Estadual Paulista; Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 1995.
6 Cf. Gerson Moura, Tio Sam chega ao Brasil: a penetração cultural americana. São Paulo: Brasiliense, 1986; Gerald K. Haines, The Americanization of Brazil: a studyof U.S. cold war diplomacy in the Third World, 1945-1954. Wilmington, Del.: SR Books, 1989
5
recuperar os papéis relativos ao Brasil doEscritório de Assuntos Inter-Americanos,que, entre 1937 e 1951, foi politicamenteproeminente nas relações dos EstadosUnidos com os países do hemisfério.
Não obstante a doutrina da�segurança nacional�, o panamericanismojustifica os esforços da diplomacia para a�exploração� da carta da cooperaçãocom a principal potência hemisférica eocidental. É nesse quadro de barganhaspolíticas e de interesse econômico bemdirecionado que o Brasil empreenderásua primeira iniciativa multilateralregional, a Operação Pan-Americana,proposta pelo Governo Kubitschek em1958 e da qual resultará, numa primeiraetapa, o Banco Interamericano deDesenvolvimento e, mais adiante, aAliança para o Progresso. Mais uma vez,as séries relativas ao relacionamentodiplomático bilateral e às conferênciasamericanas são extremamenterelevantes para uma nova análise dessafase de grandes inovações na diplomaciabrasileira.
A prática da política externaindependente, nos conturbados anosJânio Quadros-João Goulart, representauma espécie de parênteses inovador numcontinuum diplomático dominado peloconflito Leste-Oeste. O impacto darevolução cubana e o processo dedescolonização tinham trazido oneutralismo e o não-alinhamento aoprimeiro plano do cenário internacional,ao lado da competição cada vez maisacirrada entre as duas superpotênciaspela preeminência tecnológica e pelainfluência política junto às jovens naçõesindependentes. Não surpreende, assim,que a diplomacia brasileira comece arepensar seus fundamentos e a revisarsuas linhas de atuação, em especial noque se refere ao tradicional apoioemprestado ao colonialismo portuguêsna África e a recusa do relacionamentoeconômico-comercial com os paísessocialistas. A aliança preferencial com os
Estados Unidos é pensada mais emtermos de vantagens econômicas aserem negociadas do que em função doxadrez geopolítico da Guerra Fria. Paraesse período, novos papéis estão sendocontinuamente trazidos à luz peloprojeto de pesquisa histórica da GuerraFria, mediante o apelo sistemático aoFreedom of Information Act (FOIA). Esseprojeto (Cold War International HistoryProject, www.cwihp.si.edu),administrado pelo Woodrow WilsonInternational Center for Scholars,funciona desde 1991 numa base inter-universitária, podendo abrir novasvertentes para a pesquisa sobre oenvolvimento da América Latina e doBrasil nas peripécias político-militares daGuerra Fria.
A situação de ambigüidade nasrelações diplomáticas com os EstadosUnidos ao longo da �democraciapopulista� dura pouco, uma vez que jáem 1964 se opera uma volta aoalinhamento. Entretanto, oreenquadramento do Brasil no �conflitoideológico global� representa mais umaespécie de �pedágio� a pagar pelo apoiodado pelos Estados Unidos no momentodo golpe militar contra o regimepopulista do que propriamente umaoperação de reconversão ideológica dadiplomacia brasileira. Os papéisamericanos revelam, contrariamente acertas correntes de interpretaçãohistórica no Brasil (que tendem a veruma �uniformidade adesista� naorientação pró-americana do novoregime), um jogo sutil, bastantecomplexo, entre diplomatasideologicamente comprometidos com a�nova aliança� e outros, provavelmente amaioria, favoráveis à continuidade deuma postura própria nos assuntosinternacionais e regionais. Em todo caso,os papéis diplomáticos precisam nesseparticular ser complementados pordocumentos da área de inteligência, paraum panorama mais detalhado do período.
Em todo caso, observa-se um curtoperíodo de �alinhamento político�,durante o qual o Brasil adere estritamenteaos cânones oficiais do panamericanismo,tal como definidos em Washington.Ocorre, numa seqüência de poucos meses,a ruptura de relações diplomáticas comCuba e com a maior parte dos paísessocialistas, assim como a participação naforça de intervenção por ocasião da criseda República Dominicana. A políticamultilateral, de modo geral, passa poruma �reversão de expectativas�, parafrustração da nova geração de diplomatasque tinha sido educada nos anos dapolítica externa independente. Osarquivos diplomáticos sãoexcepcionalmente prolíficos nesse períodoinicial do regime militar, que assiste àpromoção do ex-embaixador americanono Brasil, Lincoln Gordon, antigoacadêmico convertido à diplomacia, aostatus de Secretário de Estado Assistentepara Assuntos Interamericanos. 7
No plano econômico, a volta àortodoxia na gestão da políticaeconômica permite um tratamento maisbenigno da questão da dívida externa,seja no plano bilateral, seja nos forosmultilaterais do Clube de Paris ou nasinstituições financeiras internacionais,como o FMI. É sintomático que a únicaassembléia conjunta das organizações deBretton Woods a realizar-se no Brasil,tenha tido por cenário o Rio de Janeiroda primeira era militar, em 1967, quandose negocia a instituição de uma novaliquidez para o sistema financeirointernacional, o Direito Especial de Saquedo FMI. Os papéis relevantes para essasquestões não são mais os diplomáticos esim os do Departamento do Tesouro,que conformam uma série à parte dosarquivos americanos, com subseçõespara os assuntos internacionais, emespecial para as assembléias dasinstituições de Bretton Woods.
Tem início no Brasil, a partir de1967, uma fase de �revisão ideológica� e
7 O embaixador Lincoln Gordon está publicando nos Estados Unidos, com previsão de rápida tradução e publicação no Brasil, de seu esperado livro sobre odesenvolvimento político e econômico do Brasil no último meio século, Brazil�s Second Chance, no qual inseriu um apêndice sobre a questão da participaçãoamericana no momento do golpe militar de 1964.
6
de busca de autonomia tecnológica. Aatitude �contemplativa� em relação aosEUA cede lugar a uma diplomaciaprofissionalizada, preocupada com aadaptação dos instrumentos de ação aum mundo em mutação, einstrumentalizada para o atingimentodos objetivos nacionais de crescimentoeconômico. Praticou-se uma �diplomaciado desenvolvimento�, consubstanciadana busca da autonomia tecnológica,inclusive nuclear, com a afirmaçãomarcada da ação do Estado no planointerno e externo, mesmo à custa deconflitos com os EUA (denúncia, em1977, do acordo militar de 1952, pormotivo de interferência nos �assuntosinternos� do País, de fato na questão dosdireitos humanos). Observa-se noperíodo a confirmação da fragilidadeeconômica do País, ao não terem sidoeliminados os constrangimentos debalança de pagamentos que marcaramhistoricamente o processo dedesenvolvimento: as crises do petróleo,em 1973 e 1979, seguida pela da dívidaexterna, em 1982, marcam o começo dodeclínio do regime militar.
O Projeto Resgate-EUA: situaçãoatual e perspectivas
Em contraste favorável com arelativa dispersão dos arquivos europeus,os mais importantes papéis americanosencontram-se concentrados nos NationalArchives and Records Administration(NARA), localizado em College Park, noestado de Maryland, regiãometropolitana de Washington (ver adisponibilidade de documentosmicrofilmados por país no link:http://www.nara.gov/publications/microfilm/diplomatic/diplo-7.html).Graças aos esforços empreendidos emmeados dos anos 80 pelo sociólogoLuciano Martins, hoje embaixador doBrasil em Havana, boa parte dessadocumentação microfilmada já seencontra disponível no Brasil. O ArquivoHistórico Diplomático, no Itamaraty doRio de Janeiro, possui os papéis
diplomáticos relativos ao século XIX, naverdade de 1809 a 1906, ademais deexpedientes consulares emanados de dezpostos, com destaque para o próprio Riode Janeiro. O Arquivo Nacional conservaoutra série de papéis diplomáticos, desde1910 até 1959, com exceção dosexpedientes relativos ao período daSegunda Guerra e do período 1906-1910, cujos microfilmes a Embaixada emWashington poderia adquirir tão prontodisponha de recursos para tanto (omaterial disponível no Brasil pode serconferido no linkhttp://www.brasilemb.org/arquivos/).
Uma outra parte da documentaçãodo NARA com relevante potencial parauma pesquisa sobre aspectos diversos dahistória do Brasil ainda não foitotalmente microfilmada ou não estádevidamente catalogada em basesgeográficas e, de toda forma, nãoencontra-se disponível para consulta noBrasil. Encontram-se eventualmentenessa situação papéis do Tesouro (osarquivos se estendem de 1775 a 1990),do Departamento do Comércio (1898-1982), do Eximbank (1933-1975), daComissão de Energia Atômica (1923-75),da International Trade Commission(1882-1971), dos antecessores do US-Trade Representative (1934-78), semesquecer os arquivos presidenciais (comoos de Truman, Eisenhower, Kennedy,Johnson, Carter e Reagan, para ficar nosmais conhecidos) e os papéis da própriaCIA, cujos antecedentes funcionaisremontam a 1894. Estes últimos podemser requisitados para consulta medianteo dispositivo do FOIA, mas o prazo paraque os documentos sejam liberados apósa requisição pode variar, por razõesadministrativas, de três a seis meses. Aimplementação do Projeto Resgate-EUApoderia completar as lacunas existentesna documentação, por meio de um apelosistemático ao FOIA nas sériesrelevantes.
A Embaixada em Washington estárealizando um levantamento preliminarsobre o conjunto das fontes documentaisdo NARA sobre o Brasil e pretenderia,
mediante a implementação do ProjetoResgate-EUA, realizar as seguintes tarefas:
(c) identificação precisa dos arquivosexistentes e sua quantificaçãopreliminar, nos formatosdisponíveis (microfilmes,textuais, iconografia,audiovisuais);
(b) preparação de um Guia sintéticorealizando esse inventário parafins de informação dirigida àcomunidade dos pesquisadoresbrasileiros e à sociedade civil;
(c) catalogação precisa dessas fontesprimárias, envolvendo, numaprimeira etapa, a documentaçãodiplomática, estendendo-seposteriormente a arquivosadicionais;
(d) aquisição dos microfilmesdisponíveis no NARA, bem comoreprodução de material relevanteainda não microfilmado, segundoescala de prioridades a ser definida(iniciando provavelmente pelomaterial dos anos 60).
Com base na catalogação serápossível iniciar-se a reprodução dosdocumentos ainda não disponíveis noBrasil, sua transferência a arquivosbrasileiros e sua transposição emformato digital. A documentação assimrecolhida poderá ser colocada àdisposição dos arquivos brasileiros(Arquivo Nacional e Arquivo HistóricoDiplomático), da Biblioteca Nacional,bem como, mediante sua reprodução emmeio eletrônico, de outros centros depesquisa e universidades interessadas. Eledeverá igualmente integrar a base dedados do Projeto Resgate, que estásendo preparada pelo MinC paradivulgação via Internet. O ProjetoResgate-EUA, cuja efetivação dependeda obtenção de recursos de fontesoficiais e privadas, pode ser visto comouma demonstração da dedicação eseriedade com que iniciativas de tipoacadêmico vem sendo conduzidas pelaEmbaixada do Brasil em Washington.
7
A União Européia precisouenfrentar o mesmo conflito que,inevitavelmente, é objeto de discussãoatual no MERCOSUL, a respeito daproteção dos consumidores e da livrecirculação de produtos e serviços. Oobjetivo do artigo é mostrar a visão dejuristas europeus sobre este tema.
Inicia-se o estudo com Bourgoigniee Gillardin 1 , que relatam,que, desde oTratado de Roma (1957), que instituiu aComunidade Econômica Européia, oconsumidor tinha pouco enfoque e seobservava a total abstenção sobre umapolítica específica em relação a ele. Apreocupação com as relações deconsumo passa a ser reconhecidacomunitariamente somente em 1972,quando uma nova percepção sobre osinteresses dos consumidores obriga aCEE a redefinir os critérios de suaspolíticas de livre circulação demercadorias entre os Estados �membros.
É, em outubro de 1972, através deuma Conferência de Chefes de Estados ede Governo da Comunidade Européia,reunida em Paris, que se afirma anecessidade de um programacomunitário de ação em favor dosconsumidores. A Conferência concluique a expansão econômica não poderiaconstituir um fim em si mesma, masdeveria sim atenuar a disparidade dascondições de vida. A Comissão Européiarecebeu a incumbência para que fosseformulada, até 1974, uma políticacomunitária de proteção ao
Apontamentos sobre o tratamento dado à proteção doconsumidor na União Européia
Lucia Elena Arantes Ferreira*
consumidor.A partir de então, cincodireitos fundamentais são reconhecidosao consumidor: proteção a sua saúde esegurança, proteção de seus interesseseconômicos, reparação dos danos,informação e educação e representação(direito de ser ouvido).
A mesma conotação é dada porFabrice Picod, em seu artigo publicadoem 19982 , ao afirmar que somentealgumas disposições esparsas no Tratadode Roma faziam referência aosconsumidores e, com a falta dedisposição específica, as instituiçõescomunitárias se baseavam nasdisposições gerais relativas à realizaçãodo mercado comum e nas políticascomuns para proteger o consumidor.Somente em 1992, com a consagraçãodo Tratado de Maastricht, a proteção doconsumidor viria especificamenteelencada - artigo 129-ª.
Mais recentemente, HélèneBureau, em sua tese publicada em 19993 ,argumenta que, se cada país membro daUnião Européia tem uma visão e umaregulamentação própria sobre o direitodo consumidor, alguns destes são maisprotetores do que os outros, e as trocascomerciais internacionais não podemficar à margem deste desequilíbrio.Segundo a autora, a abertura domercado único facilitou a atividade dosfornecedores, que passaram a oferecerseus produtos em outros mercados, alémdo nacional. A utilização crescente dosmeios de comunicação como o fax e a
internet permitiu o recebimento daoferta e da prestação de serviço sem anecessidade de locomoção.
Em conseqüência, Hélène Bureauensina que, não se pode mais falar emcontratos �fronteiriços�, mas sim emcontratos �transfronteiriços� deconsumo, ou seja, não se pode maissupor que estes contratos apenas sevinculem àqueles que residem numazona limítrofe entre os países. Esta novamodalidade contratual apresenta umelemento de estraneidade que odiferencia dos demais e pode sersubjetivo - a nacionalidade das partes -ou objetivo - o local de execução docontrato.
A tese reconhece que, numarelação de consumo estritamentenacional, já existe um desequilíbrio deforças entre o fornecedor e oconsumidor e o direito do consumidortende a atenuá-lo. O consumidor hesitaem fazer valer os seus direitos por umaquestão social; ele é crédulo e acredita noque diz o fornecedor, ou por ordempsicológica, ou por temer os tribunais, oupor um fator econômico: o valorenvolvido no litígio é pequeno edesmotiva a busca pela justiça.
Estas considerações são ampliadasnuma relação que envolve distintosEstados, pois é provável que oconsumidor ignore a lei que rege ocontrato e a jurisdição estrangeira, assimcomo desconhece a complexidade dosistema judiciário que existe nos diversos
*Advogada, Especialista em Relações Internacionais pelo NUPRI/USP e mestranda pelo PROLAM/USP.1 BOURGOIGNIE, Thierry, GILLARDIN, Jean. Droit des Consommateurs, clauses abusives, pratiques du commerce et réglementation des prix. Bruxelles: FacultésUniversitaires Saint-Louis, 1982.2 PICOD, Fabrice. Les Fondements Juridiques de la Politique Communautaire de Protection des Consommateurs. In: Vers un Code Europeen de LaConsommation. Bruxelles: Bruylant,1998, p.73.3 BUREAU, Hélène. Le Droit de la Consommation Transfrontière. Paris: LITEC,1999.
8
países, o que acaba por influenciar narenúncia dos seus direitos.
Neste contexto, a autora afirmaque, a elaboração de regras eficazes deproteção ao consumidor se tornaindispensável. As Diretivas, publicadasaté o momento, não se referemexclusivamente às dificuldadesenfrentadas pelos litígios�transfronteiriços�, mas, na maior parte,tendem a harmonizar as diversaslegislações nacionais de cada paísmembro. E, é reconhecido que, ao seaproximar as leis de cada Estado, atendência é a diminuição dos riscos de
litígio, uma vez que os mesmos fatosserão punidos em vários países.
No entanto, ainda hoje na UE, estasnormas de direito comunitárioasseguram uma proteção mínima aoconsumidor; e não cobrem todos osdomínios. O processo de integração nodireito interno é lento, e, em muitosEstados, não há vontade política nestesentido. A autora propõe que, muitasvezes seja preciso recorrer às regrasgerais de direito internacional privado decada Estado parte e às diversasconvenções internacionais para que sepossam resolver os litígios. Estas regras
de conflito de jurisdição permitemdeterminar o Estado no qual o tribunalserá competente para a ação, assimcomo as condições para que a decisãotenha validade em outro país.
Observa-se que, apesar dosproblemas ainda existentes no que serefere à adequada proteção dosconsumidores no âmbito da UniãoEuropéia, houve um significativodesenvolvimento, e isso demonstra queum amadurecimento do tema no âmbitodo Mercosul somente virá com o esforçoe dedicação daqueles que acreditam nopotencial do bloco.
O REL-UnB
Os estudos na área de relações internacionais e política exterior do Brasil fazem parte de uma das mais fortes tradi-
ções da Universidade de Brasília - UnB. A vizinhança dos centros decisórios de poder nacional (Poder Executivo,
Congresso Nacional, Tribunais Superiores) e a presença do corpo diplomático acreditado junto ao governo brasileiro,
permitem uma projeção privilegiada para a reflexão especializada feita na UnB – tanto que o seu Departamento de
Relações Internacionais é o mais antigo e mais importante centro especializado do Brasil e um dos mais tradicionais
da América Latina. Fundado em 1974, o REL mantém um Bacharelado e um Mestrado em Relações Internacionais,
que já formaram mais de mil profissionais, em sua maior parte atuando junto às agências do Governo Federal, no
Ministério das Relações Exteriores, em organizações internacionais, empresas públicas e privadas e organizações
não-governamentais brasileiras e estrangeiras.
Para conhecer as atividades e detalhes dos programas de capacitação e de pesquisa do Departamento de Relações
Internacionais da Universidade de Brasília, visite a sua homepage em http://www.unb.br/ipr/rel
kk
9
Por ser um livro de dimensõesreduzidas, a aparência de Comércio,Desarmamento, Direitos Humanos acabapor provocar, à primeira vista, certasuspeita quanto à profundidade doconteúdo tratado ou mesmo quanto àqualidade dos conhecimentos alicontidos. Essa impressão inicial desfaz-selogo quando se detêm os olhos sobre seuautor. Celso Lafer é um dos maioresespecialistas do país em DireitoInternacional. Professor titular doDepartamento de Filosofia e Teoria Geraldo Direito da Universidade de São Paulo(USP), Lafer se destaca entre osintelectuais brasileiros também pela suajá extensa vida pública, como Ministrodas Relações Exteriores (no governo deFernando Collor, em 1992, e novamenteno segundo governo de FernandoHenrique Cardoso, tendo sidoempossado desta feita em 2001),Ministro do Desenvolvimento (1999) eEmbaixador do Brasil junto a organismosinternacionais em Genebra.
Nessa obra, o autor se propõe aelaborar uma espécie de relatório de suagestão em Genebra, como Presidente doÓrgão de Solução de Controvérsias e doConselho Geral da Organização Mundialdo Comércio, e, ao mesmo tempo,representante brasileiro nas NaçõesUnidas e na Conferência doDesarmamento. O resultado é umacoletânea de textos de linguagem clara econteúdo significativo, reunidos em trêspartes distintas, que analisam alguns dosprincipais aspectos do cenáriointernacional de destaque em suaatuação diplomática. Apesar de umacerta ausência de coesão entre os
Comércio, Desarmamento, Direitos Humanos*
Camila Cavalcanti Teixeira**
ensaios, o que acaba conduzindo a umareincidência dos conceitos centrais datese do autor, não há comprometimentoda qualidade da obra, nem cansaço emsua leitura.
Os três principais temasdesenvolvidos no livro se inserem emcampos fundamentais das RelaçõesInternacionais, a saber: campoestratégico-militar (de que faz parte aConferência do Desarmamento), campoeconômico (tendo a OMC como locus dacooperação e dos conflitos comerciais) eo campo dos valores (em que a discussãosobre a abrangência dos DireitosHumanos é ponto central).
Sua reflexão identifica apertinência de 3 leituras, que se vinculamdiretamente aos 3 campos anteriores naanálise do ambiente internacional. Aprimeira delas, o paradigma hobbesiano-maquiavélico, considera a sociedadeinternacional como o �Estado deNatureza�, caracterizado pela anarquia epelo predomínio de Estados soberanosno exercício da política do poder. Emcontraposição a ela, a visão grociana vemdestacar as possibilidades de cooperaçãointernacional e a convergência deinteresses entre os Estados. Nesseambiente, teria papel fundamental oDireito Internacional como indutor dainterdependência crescente e de umprogressivo grau de colaboração. Oparadigma kantiano, por sua vez, ampliaa visão grociana e admite a inserção darazão abrangente na busca pela paz,oferecendo relevo aos chamados temasglobais, dentre os quais estãoDemocracia, Direitos Humanos e opróprio conceito de Paz.
A importância dessas visões � eaí se percebe a pertinência e a relevânciadas análises do autor � reside napercepção de que o predomínio de umadelas, em determinado período histórico,influencia a evolução dos temas centraisda obra. De fato, ao elucidar essa íntimarelação, o autor permite destacar ainda avisão da política externa brasileira acercadessas questões.
Primeiramente, ele se dedica àreflexão do papel que a OMC vemassumindo no cenário internacional. Esseorganismo surge como a primeiraorganização de caráter universalista e suacriação envolveu a superação da relaçãocontratual de menor amplitude querepresentava o GATT. Ela viriacontribuir para a promoção dosinteresses comuns, por normas decooperação mútua, implementando ainterdependência e a diluição debarreiras, tarifárias ou não. Para isso,criou-se um arcabouço técnico enormativo, por meio das chamadasmedidas para construção de confiança,que ampliam a transparência da OMC ea participação de seus membros nasdecisões da organização. Integram essesesforços a publicação periódica derevisões de política comercial, umSistema de Solução de Controvérsias,que fortalece o multilateralismocomercial e administra conflitos, e oprocesso decisório pautado pelaconstrução do consenso entre seusmembros e que reforça a aceitabilidadedas decisões.
Em síntese, a OMC, norteadapor esses princípios, concretizaria a visãogrociana de cooperação geral em meio a
*LAFER, Celso. Comércio, Desarmamento, Direitos Humanos � Reflexões sobre uma experiência diplomática. Rio de Janeiro: Paz e Terra; Brasília: FUNAG,1999, 202 p.**Bacharelanda em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília �UnB.
10
conflitos e de interação organizada entreos países que a integram. Essa percepçãoentusiasta do autor, freqüentementenotada em análises de diplomatas, vemde encontro ao que os fatos cada vezmais evidenciam: as limitações daatuação multilateral da OMC e a crisepor que tem passado a organização.Convém expor algumas assertivasquanto a esse tema, sem deixar deconsiderar nossa posição temporalfavorecida em relação à do autor (1998).
O fracasso resultante da TerceiraConferência Ministerial da OMC (emdezembro de 1999), que não foi capaz dealcançar um consenso para definir apauta de negociações da Rodada doMilênio, vem colocar em xeque aprofundidade dos princípios liberais,principalmente na agricultura,marcadamente afetada por subsídios erestrições não-tarifárias na Europa e noJapão, em prejuízo dos países emdesenvolvimento. Na primeira parte,Celso Lafer não aprofunda essa discussãoacerca das assimetrias de poder nointerior da OMC, apesar de admitir suaexistência, nas partes posteriores aabordagem torna-se mais lúcida econsistente.
Quanto ao tema doDesarmamento, o autor observa comoas mudanças decorrentes do fim dosistema de polaridades definidas vêmcorroborar para um repúdio crescente àproliferação de armas e para a falência dalógica imposta por uma visãomaquiavélica-hobbesiana das RelaçõesInternacionais. Pelo contrário, o novoclima internacional facilita aconcretização de aspirações pelodesarmamento, de que é exemplo aprogressiva absorção de novos países na
ratificação do Tratado de Não-Proliferação Nuclear.
Entretanto, esse empenho seconfigura lento e marcado por percalçose resistências, seja das grandes potênciasem desembolsar volumosos recursospara a destruição de arsenais e gestão deriscos, seja de países menores que aindapermanecem à margem do regime denão-proliferação, como Índia e Paquistão.Pouco se nota que o desejo dos�dividendos pela paz�, transferência derecursos gastos com armamentos paraser empregados no estímulo aodesenvolvimento, tenha se concretizado.Também a lógica da fragmentação domundo contemporâneo, exposta pelassublevações, conflitos étnicos, guerrascivis que assolam as mais remotas regiõesdo planeta, impõe limitações ao êxito nocombate à manutenção de armamentos.
No âmbito dos Direitos Humanos,a evolução de sua tutela internacional éperpassada em suas fases pelas trêsleituras: desde a visão maquiavélica-hobbesiana, em que os DireitosHumanos se circunscreviam ao podersoberano dos Estados; passando pelaabordagem grociana da Sociedade dasNações, em que se afirmava o princípiodas nacionalidades como critério dalegitimidade internacional e para evitar aconflagração de guerras; até uma análisekantiana consolidada na Carta da ONU,uma vez que, a partir de então, osDireitos Humanos se tornaram temaglobal. Essa última visão representa ummarco na percepção da importância dosDireitos Humanos como valor norteadordas ações estatais, além de suainexorabilidade. Além da Carta da ONU,têm destaque a Declaração Universal dosDireitos Humanos e a Conferência de
Viena, em seu esforço pelo fim daseletividade e pela definição de umcaráter universal na defesa incondicionaldos Direitos Humanos.
Ainda nessa parte, o autor tececonsiderações extremamenteconscientes sobre o papel da ONU nadefesa dos Direitos Humanos, bem comosobre as deformidades do mecanismodecisório dessa organização. Em suaspróprias palavras:
�Por trás da persuasão e da pressão(no foro da ONU) existem motivações
kantianas nobres e éticas, e
motivações grocianas de cooperaçãointeressada, de natureza política,
estratégica ou econômica. Os pesos
relativos dos países se espelham, noentanto, à maneira do realismo
hobbesiano-maquiavélico, em todas as
decisões de relevância adotadas pelasNações Unidas� (p.173).
Em função dessas limitações, alémdo já mencionado impacto desagregadordos conflitos internacionais, o consensokantiano é frágil e de realização eaprofundamento restritos e penosos.
Como um balanço final do relatodiplomático, o que permanece comoaspecto primordial da tese do autor,relevando-se alguns rasgos de otimismokantiano, é seu caráter elucidativoquanto a temas de substancialimportância no sistema internacionalcontemporâneo e a vinculaçãopermanente que estabelece entre asdimensões da Política e da Ética, ambosconceitos mutáveis, conforme o contextohistórico, como se pode inferir pelaleitura. É essa análise singular que asseguraa todos que se interessam por políticainternacional o livro de Celso Lafer.
kk
11
A questão da proteçãointernacional de minorias ganha marcadarelevância em meio aos eventos quecaracterizam a realidade internacionalcontemporânea. As notáveistransformações no cenário internacional,ocorridas a partir de 1989, queculminaram com a derrocada do blococomunista e o com fim da Guerra Friamarcaram o surgimento de uma novarealidade, na qual os conflitos étnicosengendrados no seio da polarizaçãoideológica se apresentaram como a formade conflito político mais amplamentedifundida. Nesse contexto, o aumento donúmero de conflitos envolvendo gruposétnicos e religiosos evidencia anecessidade de uma maior reflexão emtorno de atitudes que garantam proteçãomais efetiva aos direitos civis e humanosde grupos minoritários envolvidos. Departicular relevância, é o papeldesempenhado pelas organizaçõesintergovernamentais, em especial pelasNações Unidas, cuja tradição napreservação dos direitos humanosconstitui ferramenta importante na buscade soluções de maior viabilidade para amanutenção da convivência pacífica noâmbito internacional.
Constituindo um estudo pioneirosobre essa questão, o livro Minorias:Proteção Internacional em Prol daDemocracia, de Gabi Wucher, devota-se apreencher parte da lacuna quecaracteriza a bibliografia do gênero. Olivro fundamenta-se nos resultados dosestudos desenvolvidos pela autora para aobtenção do título de Mestre emRelações Internacionais pelaUniversidade de Brasília. Seu objetivo éanalisar os desenvolvimentos feitos nasNações Unidas com respeito à proteçãointernacional de minorias, maisespecificamente, dentro da Comissão deDireitos Humanos, da Subcomissão dePrevenção de Discriminação de Minoriase do Grupo de Trabalho sobre Minorias.Ao longo de sua argumentação, a autoraprocura demonstrar que o debate levado
a cabo no âmbito das Nações Unidascom respeito ao tema evidencia aindissociabilidade entre as idéias de(i) maior efetividade na proteção dosdireitos civis de grupos minoritários e a(ii) presença de um regime políticodemocrático. Numa palavra, asabordagens recentes em torno daquestão de proteção das minoriasensejam, segundo a autora, os valoresrelacionados à promoção global dademocracia, ponto amplamenteincorporado ao discurso da organização.
O livro atende a uma organizaçãobastante clara e concatenada, rica emconsiderações metodológicas quegarantem solidez e segurança à análise daautora. Fundamentalmente, são três aspartes por meio das quais se desenvolvesua argumentação. Em um primeiromomento, dedica-se a desenvolver asquestões metodológicas e conceituaisque constituirão o foco central dotrabalho. São igualmente analisadas astendências que caracterizam aorientação e o discurso político daOrganização das Nações Unidas durantea década de noventa, onde se destaca suarelação com a noção conceitual de�minorias�, anteriormente desenvolvida.Ainda nesse momento inicial, a autora sededica a explicitar as premissasfundamentais que a guiarão ao logo detoda sua argumentação.
Em seguida, aborda os tópicos queconstituem o cerne do debate teóricorelacionado à proteção internacional deminorias. Nesse momento, sobressai-seum estilo introdutório e genérico, decaráter explicativo e didático, sem que,no entanto, se ausentem consideraçõesteóricas de considerável grau deabstração e densidade. Desta forma,usando-se de uma abordagem inovadora,a autora destaca quatro eixos distintosde relações antagônicas que ilustram astradicionais polêmicas relacionadas aotema. Inicialmente, focaliza-se a distinçãoentre os elementos definidores eclassificadores que giram em torno do
conceito de �minorias�. Em seguida, comrespeito ao conceito fundamental deigualdade, que caracteriza os direitoscivis dos grupos minoritários, sãodelineadas distinções entre a não-discriminação � relacionada às minoriasby force � e a discriminação positiva � quecaracteriza as minorias by will. O terceiroeixo explicativo diz respeito ao enfoqueao qual deve ser sujeita a proteção, seindividual ou coletiva; e o último enfocao conflito entre o direito àautodeterminação advogado pelasminorias e o princípio de soberanianacional e integridade territorial,exercido pelas instituições nacionais.
Na terceira e última parte,amplamente baseada em documentosoficiais das Nações Unidas, desenvolve-seuma abordagem descritiva onde sedelineia o tratamento da questão daproteção internacional de minorias noâmbito da ONU, a partir do início dadécada de noventa, particularmente1992, ano da Declaração sobre osDireitos de Pessoas que Pertencem aMinorias Nacionais ou Étnicas, Religiosasou Lingüísticas, vista como ponto departida para a retomada do debate noâmbito daquela organização. Em seguida,a autora usa as noções conceituaisdesenvolvidas na primeira parte doestudo para tecer, com base em umaampla série de documentos, uma análisedas tendências contemporâneas quecaracterizam o debate acerca do tema.Neste ponto, atenção especial édevotada à identificação dos elementosde democracia cuja relação com o debateconstituem o ponto fundamental daobra. Na conclusão, Wucher procuraresgatar as considerações anteriormentefeitas, avaliando-as à luz dos resultadosobtidos. Com efeito, é nesse momentoem que mais marcadamente seevidenciam algumas das característicasimportantes da obra: seu carátermultidisciplinar, com marcada ênfase nosaspectos jurídicos e sua análisedescomprometida e acessível.
* WÜCHER, Gabi. Minorias: Proteção Internacional em Prol da Democracia. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2000, 181 p.** Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB).
Minorias: Proteção Internacional em Prol da Democracia*Daniel Lavarda Sinegaglia**
12
Agrupando o conhecimento teóricoprovido por sua formação comoBacharel em Direito e em RelaçõesInternacionais, por seu Mestrado emRelações Internacionais na Universidadede Brasília e, por sua atuação no InstitutoInteramericano de Direitos Humanos(IIDH), Renato Zerbini Ribeiro Leãounificou muitos conceitos puramenteteóricos à realidade dos DireitosHumanos, ao discorrer sobre anecessidade da discussão dos DireitosEconômicos, Sociais e Culturais (DESC) eas Liberdades Civis e Políticas (DCP).Esta obra examina o tímidodesenvolvimento e a efetivação precáriados DESC no continente americano,principalmente na América Latina.
Historicamente, a América Latina éreduto das mais diversas raças e culturasmas, por outro lado, é também umcentro de pobreza endêmica ¾incluindo-se da exclusão social à misériaquase absoluta. Dois fatores que seentrelaçam para criar o ambiente dosdireitos fundamentais.
O processo de absorção sócio-econômico-cultural está diretamenteligado às liberdades políticas e civis. Estaspodem ser efetivadas imediatamente,aquelas, só com o desenvolvimentoprogressivo. O mais importante, noentanto, é a necessidade de uma estarligada à outra, não sendo possívelconsiderar a totalidade dos direitoshumanos, excluindo-se um deles.
Zerbini faz um breve históricosobre a atuação das Nações Unidas no
Os Direitos econômicos, sociais e culturais na AméricaLatina e o Protocolo de San Salvador*
Delchi Bruce Forrechi Gloria**
fomento e na criação de pactos etratados internacionais sobre os direitoshumanos, ao tocar em fundamentos dascadeias teóricas de RelaçõesInternacionais, como o estado denatureza interestatal � anarquia �, ou oprincípio da reciprocidade. Zerbini debateo conceito de nação e do estado-naçãomoderno nos campos jurídico e político.
Fica claro que tanto na AssembléiaGeral da ONU, por meio do seu 3o.Comitê � Comitê Social, Humanitário eCultural � como na Comissão deDireitos Humanos do ConselhoEconômico e Social, uma carga deconflitos ideológicos - que ilustrou todo oconflito da Guerra Fria - prejudicou asnegociações e impossibilitou uma maiorfluidez nos processos decisórios juntoaos Estados, já que a vertente ideológicadominante naquele Estado pôdeinfluenciar a decisão, inclusive ao preteriruma idéia interessante, mas provenientede uma corrente antagônica.
Após esta explanação sobre ostratados internacionais sobre DireitosEconômicos, Sociais e Culturais e aindasobre os de Liberdades Civis e Políticas,vem a indicação dos grupos vulneráveisdentro da América Latina. O autorsugere, mesmo brevemente, que os estesgrupos estão nesta situação por nãohaver, em seus respectivo Estados,desenvolvimento econômico suficientepara englobá-los. Neste momento, sente-se a Teoria do Globalismo, que sugere, nogrande capital e no sistema capitalista, omotivo do subdesenvolvimento
exponencial daqueles que já são pobres.Os povos indígenas, as mulheres, as
crianças e os migrantes - internos eexternos � são, na opinião do autor, osgrupos mais prejudicados com ofuncionamento da Globalização e daaculturação nacional, que relegasingularidades em nome de uma culturahomogênea. O que deve mudar é a visãode um Estado homogêneo social eculturalmente, passando a existir opensamento de que povos diferentespodem ter os mesmos direitos sem terque abrir mão de sua cultura.
Após a indicação dos gruposexcluídos, há o estudo dos DireitosEconômicos, Sociais e Culturais, sob aótica do sistema interamericano, e aindao protocolo adicional de San Salvador.Um histórico das atividades da OEA,voltadas para a preservação dos DireitosHumanos, demonstra a importância queeste tópico tem dentro das salas denegociação desta Organização desde suacriação, estando na Carta seuscompromissos com os direitosfundamentais.
Dentro do Sistema Interamericano,existem órgãos de acompanhamento eda proteção dos Direitos Humanos,sendo seus magistrados escolhidos portitulação pessoal e não comorepresentantes de seus governos. Sãoeles a Comissão e a Corte Interamericanade Direitos Humanos.
A Comissão de Direitos Humanosda OEA é um organismo com disposiçõeslegais, políticas e diplomáticas e tem
* LEÃO, Renato Ribeiro Zerbini. Os Direitos econômicos, sociais e culturais na América Latina e o Protocolo de San Salvador. Porto Alegre: Sérgio Antônio FabrisEditor, 2001, 230 p.** Bacharelando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília � UnB e editor-assistente de RelNet � Site Brasileiro de Referência em RelaçõesInternacionais.
13
como função a promoção e a supervisãodos Direitos Humanos, além de ser ummecanismo consultor da Organização.Este órgão pode receber petições deindivíduos e de representações oficiaissobre denúncia de violações daConvenção de DH. O sistema defuncionamento destas petiçõespossibilita uma discussão sobre aacusação entre o indivíduo ou entidadepromotora da acusação e o Estado-réu,sendo a Comissão a mediadora. Caso nãohaja boa vontade do Estado emcooperar, a Comissão pode adverti-lo e,seguindo o artigo 42, pode presumirserem verdadeiras as acusações. Casoisso ocorra, a Comissão agirá comoprevêem os protocolos e convençõessobre a matéria.
O maior mecanismo de aplicação einterpretação da CONVENÇÃO AMERICANA
SOBRE DIREITOS HUMANOS EM MATÉRIA DE
DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS
da OEA é a Corte Interamericana deDireitos Humanos, instituição judicialautônoma e consultiva. A Corte podetomar medidas provisórias e emitiropiniões sobre assuntos sustentadosperante a ela por algum Estado-membroou outro órgão ou agência daOrganização. Esta Corte possui aprerrogativa de garantir ao lesado o gozodo direito negado e uma indenizaçãojusta. O laudo é inapelável e definitivo.
O último fator de discussão é sobrea universalidade e interdependência dosDH no continente. O autor defende areestruturação do SistemaInteramericano de Proteção dos DireitosHumanos e a efetivação dos DireitosEconômicos, Sociais e Culturaisconjuntamente com as Liberdades Civise Políticas, que são complementares e,inegavelmente, tornam-se desnecessárias
caso estejam sozinhas. Um pessoa nãopode exercer seus deveres políticos senão tem o que comer, ou se encontra-sesempre enferma.
O Protocolo de San Salvadoravivou os ânimos daqueles que jáestavam acomodando-se pelaimpossibilidade de lutar pelas liberdadesfundamentais sem um mecanismopreciso, sem um mecanismo normativo,mesmo que por vezes questionado.
Os Direitos Humanos estãoestreitamente ligados aodesenvolvimento econômico e este aosDireitos Humanos. O impedimento documprimento dos Direitos Econômicos,Políticos, Sociais, Civis e Culturais doscidadãos latino-americanos afeta opróprio desenvolvimento, que, emtermos macroeconômicos, estaráprejudicado e, em certos casos,impedido.
kk
O que é Via Mundi
O Boletim Via Mundi é uma publicação digital de periodicidade trimestral editada pelo Departamento de Relações
Internacionais da Universidade de Brasília (REL-UnB) e veiculada exclusivamente em RelNet – Site Brasileiro de
Referência em Relações Internacionais, iniciativa conjunta do REL-UnB e da Fundação Alexandre de Gusmão, vinculada
ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil (FUNAG-MRE), com o objetivo de congregar a comunidade brasileira de
relações internacionais em torno da oferta pública e gratuita de serviços de informação e de pesquisa (disponível em
http://www.relnet.com.br).
14
A Ásia Oriental tem sido assuntocorrente tanto de notícias da imprensaquanto de debates na área de relaçõesinternacionais. O tema tem causadogrande interesse, pois a região apresentaum perfil social, político e econômicomuito diferente do Ocidente e por causadas grandes perspectivas de que aRepública Popular da China (RPC) venhaa ser o próximo poder econômicomundial. No caso do Brasil, hádificuldades de encontrar bibliografiasobre o tema que ofereça uma visãoprópria dos acontecimentos decisivos dacena chinesa.
A obra do diplomata Paulo AntônioPereira Pinto, que serve há catorze anosneste continente, e hoje é o Diretor doEscritório Comercial do Brasil em Taipé(Taiwan), procura apresentar aspectosimportantes da economia chinesa,destacando as perspectivas dedesenvolvimento, com seus valores eprincípios. Mostra como a Ásia Orientalse esforça em exercer o diálogo e oentendimento, os quais são contrários àconfrontação bipolar que dominou omundo até alguns anos.
A premissa básica da obra é aexistência, ao término do século XX, decondições para a concretização do sonhochinês de unidade e prosperidade, a seralcançada neste milênio. Este processo seiniciou em 1949, tendo seu primeirosucesso com a consolidação de HongKong (que tem papel histórico decontato com o resto do mundo. Depois,houve a reintegração de Macau, acrescente cooperação com Taiwan (cujareintegração recomporia o antigodomínio territorial do extinto impériochinês). Sua fase posterior é em direção
ao Sudeste Asiático, onde hácomunidades de origem chinesa. Nota-seo desejo de realçar a dimensão culturalchinesa ao visar à convergência entrecivilizações do Sudeste Asiático, ao terexaminado os aspectos quantitativosdestas relações intra-asiáticas.
É também enfatizada a importânciado tema para o Brasil, enumerando-se osseguintes motivos: influência de umnovo bloco de megaproporções em queexistiriam interesses recíprocos emfunção da integração e cooperação daÁsia-Pacífico; expansão de fronteiraseconômicas da China pelo laços culturaiscom outras regiões; perspectivas de que,em 2020, a China poderá tornar-se aprimeira potência econômica mundial e ointeresse de criar vínculos especiais comos países da ASEAN � Associação dasNações do Sudeste Asiático.
O livro divide-se em sete capítulose mais um anexo sobre as relações daChina com a Indonésia, Filipinas eTailândia. Na parte inicial, há uma análiseda influência político-cultural chinesa nastransformações em curso no SudesteAsiático, com ênfase nos princípios doconfucionismo, tais como: disciplinasocial e dedicação ao trabalho, destaquena participação comunitária, caráterprioritário da educação, expectativa deliderança governamental, aversão aoindividualismo, perspectivas de longoprazo, propensão em evitar conflitoslegais e sentido do dever.
Com base nesta ascendência, gera-se novo paradigma, que incorporamudanças na economia, na produção ena organização da sociedade, ou seja,uma verdadeira redefinição da identidadecultural. Vários países do Sudeste
Asiático estão inseridos na esfera deinfluência chinesa, embora não tenhasido sempre assim. Durante o período decolonização européia, as relações foramdesmanteladas e, na época da GuerraFria, ficaram divididas entre as �vitrinasda economia de mercado� e os �sistemasde planejamento centralmenteplanificado�. Contudo, com o fim dabipolaridade mundial, houve oressurgimento de influências político-culturais antigas. Assim, o fenômeno daglobalização seria, nesta região, a busca demarcos de referência que permitamafirmar valores, idéias e crenças regionais.
Faz parte da preocupação do autor,os grupos de origem chinesa que, emfunção de sua herança cultural, poderãocontribuir para a expansão econômica daRepública Popular da China. Os chinesesultramarinos são, portanto, os principaisatores deste cenário e constituem a forçamotora da expansão ao sul do país, sendotambém os principais investidores doprojeto de modernização da RPC.
Formou-se uma rede regional combase em vínculos étnicos, que permite ofluxo de dinheiro, bens, idéias e pessoasentre empresas. A rede de contatos,representada por essa diáspora, é emgrande parte determinada por estruturasempresariais com fortes traços familiares.
O processo de expansão da Chinapara o Sudeste Asiático ocorre atravésde um fenômeno chamado crossfertilization, ou seja, intercâmbio dereferenciais de valores. Os chineses doultramar dispõem de relações de empatiacom nacionais da RPC por razões étnicase estão mais bem equipados paracompreender o que se passa no mundodos negócios no exterior, devido à sua
*PINTO, Paulo Antônio Pereira. A China e o Sudeste Asiático. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2000. 154p**Bacharelanda em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB).
A China e o Sudeste Asiático*
Camila Natividade**
15
longa exposição a empreendimentosempresariais. Há, então, a emergência deum bloco político de interessesrecíprocos, com megaproporções, queexercerá influência determinante noritmo de integração e cooperação naÁsia-Pacífico.
São apresentadas, ainda, as linhasgerais do período em que a China foi ofator de estabilidade do continenteasiático até o século XIX, quando se deuo contato forçado com o Ocidente.Tensões resultantes da abertura modernachinesa explicam a dinâmica na décadade 1950, quando a RPC começou aapresentar-se como um fator dedesestabilização para o Sudeste Asiático.Nos primeiros dez anos após a fundaçãoda RPC, uma série de acontecimentos aafastou de seus tradicionais parceiros noSudeste Asiático. Mas, hoje, a políticaadotada pela China é um importanteparâmetro de referência à medida queinfluencia um contorno ideológicofavorável aos países do Sudeste Asiático.
Posteriormente, segue o autor comuma análise das relações da China com oVietnã e com a península malaia (Malásiae Cingapura), onde o tratamento da RPCé preferencial porque se identifica comoevidência de que ela estaria em processode integração, o qual ajudaria a superaras divergências de segurança regionalpara fortalecer as identidades políticas.O próprio conceito de segurança regionalpara os países da região é maisabrangente, pois engloba as ameaças não
só militares, mas também as limitaçõeseconômicas, científicas, tecnológicas,políticas e culturais.
O último capítulo diz respeito àevolução da ASEAN, cujos membros, noseu atual estágio, procuram refletir sobreuma agenda própria ao considerar aconveniência de trazer a China para umprojeto asiático abrangente, com novasmodalidades de paz propiciando aestabilidade necessária para seucrescimento.
De todo modo, ainda hádivergências quanto à função �(des)agregadora � da China na Ásia-Pacífico: uns acreditam que se criaramnovas condições nesta década para oressurgimento de uma antiga moldurapolítico cultural; outros, menosotimistas, vêem a China como fator deinstabilidade regional, disposta apreencher vácuo político deixado pelofim da confrontação bipolar.
O fato é que a RPC dispõe de umpatrimônio de relações essencialmentetranqüilas em sua maioria, até mesmopositivas, com os países vizinhos. Algunsproblemas localizados ainda subsistem epodem tardar a ser superados, tais comoa questão coreana, a disputa pelas ilhasSpratlys e o problema da Caxemira.
É recente o deslocamento do podereconômico mundial para a Bacia doPacífico e, deste modo, a China tem quese preparar para enfrentar desafios comoo de evitar disparidades regionaisexcessivas e buscar suas vantagens
competitivas na economia mundial,tentando alcançar transformações numaeconomia centralmente planificada, deterritório e população gigantescos eainda garantir a estabilidade político-social. Assim, ela alcançaria o objetivofinal do seu processo de modernização,que é ser uma economia socialista demercado com equilíbrio entre valores deigualdade e eficiência.
Durante a leitura da obra, o autortece valiosas considerações relativas aoBrasil e conclui que os desafios do paíssão encontrar novas formas deinterlocução, que considerem os fatorespolíticos e culturais, que amparam asestruturas duradouras daquela parte daÁsia, que reflitam propostas do Brasil emdireção ao desenvolvimento sustentável,bem como a sua experiência deintegração gradativa no Mercosul,América Latina e Atlântico Sul.
A obra é clara e objetiva, com umtexto bastante informativo, que despertaa atenção do leitor, mesmo que não sejaespecialista em Ásia. Embora não fosseparte do escopo da obra, como sugestão,o autor poderia ter-se detido mais noprocesso de modernização chinês, comsua interface nas economias dos paísesdo Sudeste Asiático. De todo modo, évaliosa a contribuição da obra para abibliografia brasileira de relaçõesinternacionais, tão carente de livrossobre uma região que, para muitos,ocupará o lugar mais importante nesteséculo que se inicia.
Como publicar Resenhas e Artigos de Resenhas em Via Mundi
Os arquivos com resenhas simples para o Boletim Via Mundi devem conter em torno de 75 linhas e os com artigos de
resenhas devem conter até 180 linhas (ou 6 páginas) digitadas em Word 2000 (ou compatível), espaço 1,5, tipo 12. A
identificação do livro deve conter o nome completo do autor, título e subtítulo, cidade da edição, editora, ano e número
de páginas. As contribuições devem conter a vinculação institucional e a titulação do resenhista. Os arquivos devem
ser enviados para [email protected], indicando na linha Assunto “Contribuição para Via Mundi”.
kk
16
Abba Ebban é um daqueles raroshomens de Estado que conseguem reunirlucidez o bastante para descrever compropriedade e (alguma) isenção as marésde política internacional, que permearamseus anos de vida política. Embaixadorisraelense em Washington e nas NaçõesUnidas, foi Ministro das RelaçõesExteriores de Israel durante alguns dosdifíceis anos de Guerra Fria. Diplomacy forthe Next Century é, na forma comocolocara o próprio Henry Kissinger, umaobra que combinaria a arte do Estado(statecraft), história diplomática epincelaria nuances de sua autobiografia.O livro foi originado a partir de um ciclode seminários e palestras, proferidos porele, em 1993 e 1994, que compunha seuprograma de Ética, Política e Economiada Universidade de Yale, nos EstadosUnidos.
A proposta da obra é iluminar ocaminho daqueles que encontram nadiplomacia e na política internacional suaárea de atuação ou interesse. E, é nessesentido, contando com as credenciais doserviço diplomático israelense e com suamarcante passagem pelas Nações Unidas,que Ebban utiliza sua experiência emcampo para demonstrar aspeculiaridades, dilemas e amplitudes dadiplomacia e política internacional.Sintetiza também algumas de suasprincipais visões sobre os anos da GuerraFria, a origem e alcance da potênciaestadunidense, os estímulos cercantesaos atores internacionais do mundo pós-Muro de Berlim, o árduo processo de pazdo Oriente Médio, os sucessos efracassos das Nações Unidas, a atividademultilateral e os dilemas que enfrentarão
Abba Ebban e a Diplomacia para o século XXI*
Filipe Nasser**
diplomatas e outros jogadores dasrelações internacionais nos anos a vir.
Dentre os principais desafios que adiplomacia internacional que o séculoXXI fará face, o autor enfoca a eternadicotomia entre a ética e a moral e asnecessidades da arte política. Odiplomata, segundo as idéias expressas, éum funcionário dos interesses do seuEstado e não do bem-estar mundial.Portanto, faz-se legítimo que ele coloquea raison d´État à frente de preceitosmoralmente superiores e de temáticasaltruístras do ponto de vistainternacional. A diplomacia, a despeitodos choques que vem recebendo, deveser, sobretudo, pragmática.
É dedicado também um capítulointeiro sobre a crescente preocupaçãoque tange a proteção internacional dosdireitos humanos. Ebban, no entanto,sinaliza para o fato de que, muitas vezes,os governos instrumentalizam a defesados direitos humanos como ferramentade pressão política contra aqueles paísesque estrategicamente cruzam seuscaminhos. Apesar da ampla difusão dahumanização da comunidadeinternacional, a defesa dos direitoshumanos é apenas mais uma face dosjogos de poder e comércio das nações.Ainda, é trazido para o debate ainsistente participação da mídia, eportanto, da opinião pública, na políticainternacional. Ao contrário das geraçõesanteriores, a mídia reúne recursos paratornar pública em tempo real asentranhas da diplomacia e da políticainternacional. O autor não se esquece, noentanto, de mencionar o quanto apublicidade da diplomacia fere o próprio
espírito da prática diplomática, naacepção completa do termo. Em tempo,é posto em choque as vantagens edesvantagens do exercício da diplomaciade cúpula e é lançada em perspectiva amodernização da própria carreiradiplomática e de seus canais. Ebbanrefuta o que é a pedra angular daexperiência diplomática, que é autilização da História como instrumentoda política internacional. O autorfortemente alerta para os perigos daanalogia, muito embora ele mesmo (ecomo não poderia deixar de ser) sejustifique com ricas amostras históricas.
É flertando com a linguagemliterária, diferentemente da praxis delevar à exaustão o uso de jargãoespecializado, que o autor faz suasinferências pontuais. Deve-se reforçar naimagem de Abba Ebban a figura de umex-diplomata comprometido com averacidade histórica e teórica do queprocura expor. Apesar de se postarclaramente como filoamericanista e denão refutar sua origem judaica, o autornão transforma sua explanação acerca daGuerra Fria e dos conflitos árabe-isralenses em narrações maniqueístas,cheias de rancor contra comunistas eárabes. Ao contrário, procura identificarsobriamente as raízes da natureza dosacontecimentos e conflitos para poderdemonstrá-los, em causas e efeitos, semtropeçar em patriotismos ufanistas. Étambém com caráter muito poucoapologético que trata das casasdiplomáticas dos Estados Unidos e deIsrael, de forma que seu testemunho docenário internacional atinge índices maisaltos de verossimilhança. Contudo, ao
*EBBAN, Abba. Diplomacy for the next century. New Haven: Yale University, 1998, 191 p. **Bacharelando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília � UnB e editor-assistente de RelNet � Site Brasileiro de Referência em RelaçõesInternacionais.
17
centrar seus argumentosfundamentalmente nas cabeças deEstado e suas vocações realistas, Ebbanesbarra em noções como participaçãopopular, paz universal, democracia eaccountability do indivíduo como sujeitode Direito Internacional. Ao delinear osparadigmas da carreira diplomática,Ebban se furta também de ressaltar aimportância do expressivo aumento dosfluxos de comércio e do ganho deatenções para a diplomacia comercial ede seus fóruns. Seu foco éeminentemente político.
Apesar do seu realismo político,obviamente trauma de seus dias derealpolitik, o ex-diplomata percebe amudança dos tempos. Reconhece queexistem novas temáticas a serem
abordadas, tanto estrategicamentequanto de cunho global, que não asegurança internacional e a ameaçanuclear. Embora seja um homem daGuerra Fria, Ebban desenha um mundode fim de século sem desconsiderar aemergência de novos atores, situações,polarismos (ou falta deles), ambigüidadese estímulos. Mas é com bastanteceticismo que diagnostica a função dasNações Unidas no cenário internacional,no passado e num futuro recente, porexemplo. Não se faz esquecer, destarte,do extremo pragmatismo que o ofíciodiplomático sempre exigirá, segundo ele.Ainda que em tempos de paz sistêmica,de exaltação dos direitos humanos e daformação da consciência de umacomunidade global, a política
internacional não deixe de ser,essencialmente, política.
Diplomacy for the next century se nãoé peça indispensável na biblioteca pessoaldos versados em relações internacionais,é certamente um livro extremamenteenriquecedor da área. Talvez falte umalinha contínua através de toda a obra.Não obstante, para aqueles queprocuram enxergar os parâmetros dapolítica internacional através de olhosvividos, para aqueles que têm na históriadiplomática sua área de interesse ousimplesmente desejam fazer uma leituraagradável, por um texto bem escrito epleno de referências apropriadas,Diplomacy for the Next Century écertamente uma leitura bastanteproveitosa.
Nota aos Autores de Livros e Editoras
O Boletim Via Mundi é alimentado pelas contribuições autônomas de professores, pesquisadores, estudantes de
graduação e pós-graduação e profissionais ligados à área, que produzem resenhas e artigos de resenhas sobre os
últimos livros publicados no Brasil e no exterior sobre assuntos de interesse para a área. Além disso, o Boletim Via
Mundi conta com a colaboração permanente de um corpo de professores e estudantes de mestrado e doutorado dos
Departamentos de Relações Internacionais e de História da Universidade de Brasília, que produzem constantemente
resenhas sobre a produção bibliográfica recém-lançada no mercado editorial brasileiro. Se a sua editora deseja ver os
lançamentos da área de relações internacionais e áreas conexas resenhados e divulgados em Via Mundi, envie pelo
menos um exemplar para o seguinte endereço:
RelNet - Site Brasileiro de Referência em Relações Internacionais
Boletim Via Mundi
Departamento de Relações
Internacionais - Universidade de Brasília
Caixa Postal 04359
Brasília - DF - 70910-970
Brasil
kk
18
As origens e a evolução da questão de Timor-Leste*
Frederico Arana Meira**
O período colonial brasileirodeterminou, mesmo após quase doisséculos de independência, grande partedas características culturais, econômicase mesmo políticas que até hoje persistemno país. A influência que Portugalexerceu na formação histórica do Brasilpode também ser observada, em maiorou menor grau, em todos os países, quejá estiveram vinculados a umametrópole. Um desses casos é o Timor-Leste que, assim como o Brasil, estevedurante muito tempo sobre os cuidadosdos portugueses. Entretanto, só adquiriusoberania recentemente, por meio de umprocesso de descolonização complicado,principalmente devido à interferênciaindonésia.
A questão de Timor-Leste: origens eevolução, escrito pelo Ministro doItamaraty João Solano Carneiro daCunha, surge para esclarecer fatos que sesucederam. A obra é resultado do Cursode Altos Estudos (CAE), promovido peloInstituto Rio Branco, que tem porobjetivo aprofundar e atualizar osconhecimentos do diplomata brasileiroem estágio avançado na carreira, deforma a prepará-lo para assumir funçõesde chefia. Para concluir o curso, Cunhaelaborou em 1997 a tese que, junto comuma atualização feita em julho de 2000,resultou no atual livro.
O autor se interessou pela questãotimorense, quando da chefia do SetorPolítico da Embaixada em Lisboa, onde otema possui grande apelo emocional paraopinião pública. Na mesma época,participou das reuniões de inauguraçãoda Comunidade de Países de LínguaPortuguesa (CPLP) que veio a ser, devido
a sentimentos de proximidade lusófona,foro de grande repercussão do assunto.
O livro é organizado em capítulosseparados de acordo com as perspectivasde cada país envolvido sobre a questão.Dessa forma, inicia-se através da posiçãoportuguesa sobre o tema que, na décadade 70, sofria as reprovações sobre ocolonialismo de sua opinião públicainterna e da comunidade internacional(principalmente através da ONU). Assim,ao tentar descolonizar progressivamenteo Timor-Leste, da forma mais pacíficapossível (e também com os menorescustos), acaba por assistir em 1975 aIndonésia invadir o território emquestão. A partir de então, Portugalenfrentou um grave contencioso com aIndonésia, através de mecanismosinternacionais como a ONU e aComunidade Econômica Européia (CEE),apoiando a causa timorense sob oargumento do direito de sua auto-determinação.
No capítulo seguinte, Cunhaobserva a posição indonésia, que, sobre ocomando do General Suharto, viu adescolonização do Timor-Leste por umametrópole de tendências esquerdistascomo um grande perigo para aestabilidade do país. Em um contexto deGuerra Fria, a Indonésia possuía ideaisanti-comunistas na época e, devido a suaheterogeneidade étnica, acreditava queum enclave esquerdista tão próximo aoseu território poderia suscitar ideaisrevoltosos no meio de seu povo. Assim, ainvasão do território timorense, no queveio a ser conhecido como �OperaçãoKomodo�, se tornou indispensável aogoverno e foi justificada à comunidade
internacional como sendo um supostoabandono em que vivia o território.Desde então, a questão do Timor setornou um grande constrangimento àIndonésia em vista das acusações, porparte da comunidade internacional, deviolação dos direitos humanos e da auto-determinação do povo timorense.
A seguir, Cunha analisa a questãosob o prisma dos próprios timorensesque, segundo estimativas, perderamcerca de 200 a 300 mil vidas humanasdireta ou indiretamente pela invasãoindonésia. Agrava-se ainda a situaçãoquando se levam em conta os problemasde refugiados e transmigrados quecirculavam entre o território e a própriaIndonésia. Tal população, que teve nacolonização portuguesa um fatoraglutinador de seus vários povos,encontrou na Igreja Católica umpoderoso aliado na divulgação e defesade seus interesses. Além dela, apenas ospartidos políticos tiveram razoávelreconhecimento no exterior. Entretanto,somente em 1999 com a ajuda da ONUfoi possível, através de eleições, conhecera vontade popular de se tornarindependente.
No quarto capítulo, há acomunidade internacional no foco dasrelações com a questão do Timor. Nessaparte o autor identifica primeiramente aposição dos países diante do assunto naONU, onde diversas resoluções foramaprovadas condenando a atitudeindonésia, contudo sem efeitos práticos.O tema seria ainda discutido em outrosorganismos, como a União Européia esua relação com a Asean, a CorteInternacional de Justiça, e a CPLP, onde
*CARNEIRO DA CUNHA, João Solano. A questão de Timor-Leste: origens e evolução. Brasília : FUNAG/IRBr, 2001. 249p.**Bacharelando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília � UnB e editor-assistente de RelNet � Site Brasileiro de Referência em RelaçõesInternacionais.
19
mesmo com a pouca difusão doportuguês entre a população (cerca de3%), o assunto teve grande repercussão.
Já no último capítulo, é colocadaem perspectiva a posição do Brasil diantedo assunto, que, devido aos interessesparticulares no relacionamento tantocom Portugal quando com a Indonésia,acabou por exigir o máximo de cautelado governo brasileiro. Apesar de algumasvariações substancias em sua atuaçãoquando ao tema principalmente antes de
1984, o Brasil procurou reafirmar emgrande parte sua posição a favor dosdireitos humanos sem, contudo, assumirposições extremadas de forma a evitarconstrangimentos com as partesenvolvidas.
A obra é sem dúvida um relatodetalhado dos acontecimentos no Timor-Leste, em que o autor foi capaz deassimilar todos os mais importantesmovimentos no cenário que vieram, dealguma forma, a interferir no decorrer
dos fatos. Destaca-se, dentre essesmovimentos, o peso que a sociedade civilinternacional possuiu em momentoscruciais para a resolução da questão, ecomo tais fatos foram precisamentepercebidos pelo autor. Além disso, aorganização e a qualidade da obratornam a leitura agradável não apenasaos interessados no assunto, comotambém àqueles que vêem na atuaçãodiplomática uma fascinante face dorelacionamento entre Estados.
Boletim de Análise do Estado da Arte em Relações Internacionais
Publicação digital trimestral do Departamento de Relações Internacionais
da Universidade de Brasília – No 3 - jan-mar 2001 – ISSN 1518-1227
Publicação digital de periodicidade trimestral do Departamento de Relações Internacionais da Universidade de
Brasília, distribuída exclusivamente em RelNet – Site Brasileiro de Referência em Relações Internacionais
(http://www.relnet.com.br).
Redação: [email protected]
Editor: Virgílio Caixeta Arraes
Editor-adjunto: Antônio Carlos Lessa
Secretário: Leonardo Abrantes
Conselho Editorial: Antônio Jorge Ramalho da Rocha, Alcides Costa Vaz, Carlos Roberto Pio da Costa Filho, Cristina
Yumie Inoue, José Flávio Sombra Saraiva, Maria Izabel Valladão de Carvalho, Pio Penna Filho.
Editoração: Samuel Tabosa de Castro
kk
20
Em �Mr. Slang e o Brasil� MonteiroLobato utilizou-se de um recursoconhecido dos escritores desde ostempos de Montesquieu: criar umapersonagem independente,necessariamente estrangeira, para poderdiscutir com uma certa isenção (e, talvez,ao abrigo da censura do rei)idiossincrasias e problemas do seupróprio país. A partir da visão do mundodo circunspecto inglês � comocorrespondia, aliás, a uma época dehegemonia britânica no Brasil � erapossível ao jovem escritor de Taubatécriticar alguns dos absurdos de nossaorganização política, social e econômica epropor soluções aos velhos problemasque o angustiavam, sem comprometer-secom o eventual sucesso ou fracasso desuas próprias fórmulas.
Mr. Slang tinha uma fina percepçãodas deficiências do Brasil e suas críticasdeviam ser vistas, na ótica de Lobato,como uma tentativa de superar osgrandes problemas da nacionalidade, nãocomo uma confirmação derrotista denossos piores defeitos. Mr. Gordon, umamericano conhecido direta ouindiretamente de todos os brasileiros queestudaram nossa route para a ditaduramilitar, não é propriamente candidato anovo Mr. Slang, tanto porque ele não serefugia em algum sítio inacessível, nemostenta a arrogância típica dosrepresentantes imperiais da velha Albion.Não há dúvida, contudo, que o simpáticoe atento espectador de todas osencontros sobre o Brasil realizados nacapital do novo império deve serconsiderado como um intérprete realistado itinerário econômico e políticobrasileiro das últimas décadas, bemcomo, a julgar pelo livro aqui resenhado,um crítico sincero das velhas questõessociais que, já nos anos vinte, retinham a
Mr. Gordon e o Brazil*
Paulo Roberto de Almeida**
atenção do inglês imaginário e do escritorde Taubaté.
A Segunda Chance do Brasil estavano forno há pelo menos uma década emeia e, como confessa o próprio Mr.Gordon, as chances do livro serconcluído tinham simplesmentedesaparecido do cenário durante a�década perdida� de desarticulaçãomacroeconômica dos anos oitenta ecomeço dos noventa. Ele foi salvo pelo�rum creosotado� do Plano Real, quedevolveu ao País a esperança de sonharcom a retomada do crescimento e deaspirar ao eventual salto para o PrimeiroMundo, na interpretação do antigoembaixador americano nos governosJânio Quadros, João Goulart e CasteloBranco. Para aqueles que esperam ver nolivro novas revelações sobre oenvolvimento americano no golpe militarde 1964, a impressão é de um déjà vuagain, pois o texto contempla tãosomente uma troca de telegramas, nosdias 30 e 31 de março daquele ano, sobreas expectativas de Washington e adisposição da Embaixada no Rio deJaneiro em garantir um mínimo delegitimidade política aos conspiradoresbrasileiros contra Goulart, o que habilitaGordon a reafirmar sua convicção de queo golpe foi �100% brasileiro�.
A obra não trata, contudo, dessaconjuntura ou das peripécias políticas emilitares das últimas décadas, mas sim doprocesso estrutural de desenvolvimentobrasileiro na era republicana, com ênfasenos aspectos econômicos e políticos(inclusive no que se refere à políticaexterna) e nas dimensões sociais quepermearam a experiência histórica doBrasil desde a época da �primeira chance�� grosso modo a era Kubitschek � até aatual, e ainda aberta, janela da �segundachance� das administrações FHC. O livro
é, com efeito, uma discussão exaustiva �e razoavelmente isenta para umrepresentante da principal potênciaimperial de nossa época � das razões queimpediram o Brasil de atingir o status denação desenvolvida naquela primeira fasee dos requerimentos colocados à suasociedade e elites políticas para que elepossa fazê-lo na atual. O julgamento donovo Mr. Slang não faz concessões àsaparências: enganam-se aqueles quejulgam que seu livro poderia mostrarcomplacência com os militares quederrubaram o populista Goulart e quepretendiam, justamente, alçar o Brasil àcondição de �grande potência�, mediantedoses maciças de investimento pesado ede boa receptividade ao capitalestrangeiro. Faltou ao Brasil militar umdos ingredientes que Mr. Gordon julgaindispensáveis ao status de nação doPrimeiro Mundo: a democracia política.
O fracasso da era militar foi denatureza política e o da Nova República,de Sarney a Collor, foi de carátereconômico, pois que o populismo socialda Constituição de 1988 e o quadro deinflação crônica vivido até 1994impediram o Brasil de realizar suasegunda chance de desenvolvimento. Osresultados das eleições de 2002 podemdeterminar, segundo Mr. Gordon, se oBrasil conseguirá alcançar o que elechama de �full first world status�, ou se oPaís continuará patinando naquelatrajetória errática que Darcy Ribeirointerpretava como sendo umdesenvolvimento aos �trancos ebarrancos�, com tremendas doses dedesperdício humano e muita frustraçãosocial e política. O livro de Mr. Gordon,diferentemente das interpretações algoimpressionistas de Darcy, apresenta umarigorosa análise econômica e um sensatodiagnóstico político sobre os quatro
*GORDON, Lincoln. Brazil�s Second Chance: En Route toward the First World. Washington: Brookings Institution Press, 2001, 243 p.**Diplomata. Doutor em Ciências Sociais.
21
grandes desafios estruturais enfrentadospelo Brasil na presente conjuntura:consolidar a estabilidademacroeconômica, reduzir o grauanormalmente elevado de desigualdadesocial e de pobreza, continuar o ativoprocesso de inserção internacional e deengajamento na globalização e persistirna reforma das instituições políticas,pouco funcionais para os requisitos dodesenvolvimento integrado de um paístão complexo e diversificado como oBrasil.
Não há porque pensar que Mr.Gordon está interessado em aplicarreceitas americanas ao caso brasileiro.Longe disso, ainda que um certocomparatismo com os Estados Unidos,mesmo deplacé, seja de rigueur: segundoele nós estaríamos, por exemplo, nasituação dos EUA dos anos 20, o que nãoleva em conta os diferenciais�estruturais� de produtividade quederivam, segundo este resenhista, do fatode ter o capitalismo americano modeladoum �modo inventivo de produção� aindana primeira Revolução industrial, aopasso que nós sempre esperamos por�alvarás d�El Rey� para iniciar qualquernova atividade econômica e aindainsistimos em praticar uma culturatecnológica que rejeita,inconscientemente, um sistemapatentário intensivo.
Mr. Gordon tem um granderespeito pela racionalidade intrínseca dosdados numéricos � ele já era professor derelações econômicas internacionais emHarvard desde os anos 30, quandometade da atual população brasileiraainda não tinha nascido � e tampoucoacredita que fórmulas políticas bemsucedidas num determinado contextosocial (como o dos EUA) sejamtransplantáveis a um outro cenárioinstitucional. Ele conhece bem o Brasil,os brasileiros e os diferentes autores queao longo dos anos foram acumulando�explicações� sobre as razões de nossofracasso ou da não repetição do bemsucedido experimento americano dedesenvolvimento econômico etecnológico e de relativa inclusão social.
Leitor de Viana Moog, ele conhece adiversidade de raízes culturais e pode,por isso mesmo, reconhecer no Brasil enos brasileiros a capacidade de realizarnossa própria modalidade de ascensão ao�primeiro mundo�. Seu livro éverdadeiramente equilibrado e completoe, se lido com a isenção que a distância de1964 nos recomenda, pode ser umaexcelente fonte de reflexões para todosnós, de gerações pré- e pós-golpe militar,que pensamos em colocar o Brasil, nãono �primeiro�, mas num mundo maisdesenvolvido e humano como gostariamtodos os brasileiros.
Apenas um reparo, do ponto devista de quem se ocupaprofissionalmente das relaçõesinternacionais do Brasil desde algumasdécadas: para quem freqüentou os meiosacadêmicos e diplomáticos e conhecebem nossos agentes do serviço exterior ea própria agenda internacional, Mr.Gordon é bastante cético quanto àschances de o Brasil aceder ao status demembro permanente do Conselho deSegurança da ONU (�It is unlikely,however, that Brazil will fulfill itsambition for a permanent place on theUN Security Council�, p. 2).Se admitirmos que a reforma da Cartada ONU possa ser realizada no futuroprevisível e que um novo membro possaser designado a partir da América Latina,é o caso de perguntarmos a Mr. Gordon:se não o Brasil, quem? O ceticismo écontraditório com a postura de quemacredita que o Brasil pode chegar,efetivamente, ao status de potênciamundial. Admitida uma hipótese, ficadifícil recusar a outra, a menos que anova Roma já tenha decretado,secretamente, que não haverá reformada ONU. Trata-se, mais uma vez, de umarealidade que um antigo embaixadorbrasileiro em Washington, Araújo Castro� e que Mr. Gordon conheceu bem �,caracterizou como sendo o�congelamento do poder mundial�, algoinaceitável para velhas e novas geraçõesde diplomatas brasileiros. Mas, issoMr. Gordon deve saber muito bem.
Índice de Brazil�s SecondChance de Lincoln Gordon:
1. The Goal: Genuine First World Status
(O objetivo: status verdadeiro de
primeiro mundo)2. The First Chance: What Went Wrong?
(A primeira chance: o que deu errado?)
3. Structural Change Under the MilitaryRepublic (Mudança estrutural na
República militar)
4. The Incomplete Transformation:Economic Structures (A transformação
incompleta: estruturas econômicas)
5. The Social Dimension (A dimensãosocial)
6. The Political Structure (A estrutura
política)7. From Debt and Drift to Real � and
Stability? (Da dívida e deslize para o
Real � e a Estabilidade?)8. Brazil and the World (O Brasil e o mundo)
9. The Prospects (As perspectivas)
Quem é Lincoln Gordon:
Atualmente pesquisador convidadoem estudos de política externa daBrookings Institution, um dos maisprestigiosos think tanks de Washington,Gordon tem uma vasta experiênciaacadêmica, política e diplomática, tendodesempenhado funções noDepartamento de Estado que ovincularam para sempre ao Brasil.Pesquisador do desenvolvimentoeconômico brasileiro nos anos 50, depoisde ter trabalhado no Plano Marshall e noprocesso de reconstrução européia, eledesempenhou o cargo de embaixadoramericano no Brasil na fase crucial daGuerra Fria (1961-66), tendo depoisservido como Secretário de Estadoassistente para os assuntos inter-americanos (1966-1968). Professor deHarvard desde os anos 30 e ex-reitor daUniversidade Johns Hopkins, hoje com87 anos, Gordon é autor de numerososlivros, entre eles Eroding Empire: WesternRelations with Eastern Europe (Destruindo oImpério: as relações das potências ocidentaiscom a Europa oriental; BrookingsInstitution, 1987).
22
Desde sua criação em 17 de julhode 1996, a Comunidade dos Países deLíngua Portuguesa (CPLP) promove acooperação e o desenvolvimento dassociedades lusófonas. A intenção deAngola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,Moçambique, Portugal e São Tomé ePríncipe, quando se uniram em tornodeste grande projeto, não foi apenasfestejar o idioma comum, mas sobretudoestabelecer um canal efetivo deconversação e compartilhamento deexperiências e construir um espaço paraa concertação política em seu mais altonível. Ainda que saudada no dois lados doAtlântico como uma iniciativaimportante para os Estados envolvidos, aCPLP não havia sido até então objeto deum estudo mais profundo, quearticulasse as evidentes questõesculturais envolvidas, mas que tambémquestionasse pela sua instrumentalidadeno acervo político-diplomático dosmembros.
Neste contexto, o lançamento de�Comunidade dos países de línguaportuguesa: solidariedade e açãopolítica�, livro organizado por José FlávioSombra Saraiva, professor de Históriadas Relações Internacionais daUniversidade de Brasília (UnB), rompe osilêncio até o momento observado emtorno da instituição. O livro em questãomarca pioneiramente os estudos sobre acooperação lusófona, ao tempo em quetambém inaugura uma nova coleção deestudos na área de relaçõesinternacionais - Anima Mundi - lançadapelo Instituto Brasileiro de RelaçõesInternacionais (IBRI), que prometereunir estudos sobre as grandes questõesinternacionais, com o objetivo de dar aconhecer a complexidade da agendacontemporânea e os desafios que portampara a inserção internacional do Brasil.
O conjunto de estudos organizadopor Saraiva, que inclui textos deacadêmicos, diplomatas e lingüistas, éuma excelente introdução à causa dacooperação lusófona, onde estão
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa*Leonardo Abrantes de Sousa**
expostas as questões relativas àengenharia política que deu origem àinstituição, o papel que podedesempenhar a economia noadensamento dos laços que unem osparceiros e, como não poderia deixar deser, a função aglutinadora desempenhadapela língua comum. Em outras palavras,o livro em questão nos apresenta o corpoda cooperação lusófona, o cérebro que acoordena, sem esquecer sua alma, ouseja, os povos e as culturas que acompõem.
Como é de todos sabido, a Áfricahá muito deixou de ser uma referênciaespecial no conjunto das relaçõesinternacionais do Brasil. Com efeito, otrabalho de inserção realizado ao longodos anos setenta e oitenta peladiplomacia brasileira, que construiu umlugar pertinente para o continenteafricano nos fluxos de comércio do país,se desfez na década de noventa, processocausado pela crescente irrelevânciaeconômica assumida pelos tradicionaisparceiros do outro lado econômico epelo estado de crise política permanenteque se abateu sobre o continente, massobretudo pela nova ordem deprioridades que passou a caracterizar ocálculo estratégico da política exterior doBrasil. Esta afirmação pode serexemplificada pelos índices comerciais �atualmente o continente africanoresponde por não mais do que 2% dototal das correntes de exportação doBrasil, enquanto essa participação erapelo menos cinco vezes maior nos anosoitenta. Sob esse ponto de vista, olançamento de uma iniciativadiplomática do porte da Comunidadedos Países de Língua Portuguesa éoportunidade para se inquerir sobre olugar que a África pode ocupar nasprioridades internacionais do Brasil.
Apesar do importante arcabouçopolítico em que a CPLP está inserida,vários obstáculos para o seu plenofuncionamento já foram detectados e asua superação deve ser o principal
objetivo de ação dos países membros.Os projetos de cooperação caminhamlentamente, e apenas alguns com osPalop - Países Africanos de Língua OficialPortuguesa - estão em execução. Outroaspecto negativo existente estárelacionado à própria engenharia políticaque deu origem à Comunidade, queencontra o seu foco no arranjo 2+5 - emdecorrência da superioridade financeira,separa Brasil e Portugal dos Palop. ACPLP ainda enfrenta dois grandesdesafios: o pouco conhecimento daComunidade, que começa agora aestabelecer protocolos e convênios comoutros organismos internacionais como aUNESCO e a UNCTAD; e a escassez derecursos financeiros para implementar osseus projetos prioritários.
A CPLP, ainda que com aslimitações supracitadas, fez-se presentenos recentes acontecimentos no TimorLeste. Além de cooperar para apacificação e reconstrução da região, ospaíses da Comunidade apoiam aformalização da independência do Timor,bem como o reconhecimento do mesmopelas Nações Unidas e firmam o seuauxílio na construção de seus sistemaspolítico e judiciário. Aliás, Timor Leste éatualmente observador na instituição,devendo ser admitido como membropleno após as eleições de constituição doseu primeiro governo, que devem serealizar em agosto de 2001.
Neste contexto, o lançamento deuma iniciativa como a da CPLP não deixade causar interesse por parte do públicoem geral - afinal, o que pretende adiplomacia brasileira com esse projeto?Quais interesses a CPLP permite realizarno médio e longo prazos? Estaria o Brasilem condições de investir em projeto quenão apresenta uma instrumentalidadeimediata para a sua ação internacional?Como se posicionam os demaisparceiros, especialmente Portugal, nestaempreitada? Essas são perguntas que olivro organizado por Saraiva procuraresponder.
*SARAIVA, José Flávio Sombra (Org). Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP): Solidariedade e Ação Política. Brasília: IBRI, 2001, 203 p.**Bacharelando em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília � UnB e editor-assistente de RelNet � Site Brasileiro de Referência em Relações Internacionais.
23
Ao entrar no século XXI, tornou-sequase que lugar comum afirmar que ocenário estratégico é dominado pelosEstados Unidos, seguido de perto pelosdesafios europeu e chinês, enquanto seobserva a decadência da Rússia e dasdemais repúblicas da antiga UniãoSoviética. Assim, o país que representouuma alternativa ao modelo capitalistaocidental desde a Revolução de 1917 é,aparentemente, descartado como umjogador de peso no sistema, a despeito desua importância passada e de seuspotenciais remanescentes. Igualmente,várias análises que procuram explicar osacontecimentos que precederam o finalda Guerra Fria apenas mencionam, semdetalhar, as transformações na ex-URSSna década de 1980. Com isso, toda suacomplexidade é relegada a segundoplano, privilegiando-se, mais uma vez, ahistória escrita pelos vencedores.Todavia, podem-se encontrar textos quesupram esta lacuna, destacando-se otrabalho de Angelo Segrillo: O Fim daURSS e a Nova Rússia- de Gorbachev aopós-Yeltsin.
Baseado em sua tese de doutoradoem história, que foi a primeira do Brasilsobre o assunto, na Universidade FederalFluminense, o livro é produto de umapesquisa em arquivos secretos e fontesprimárias russas que apresenta umaabordagem introdutória sobre aevolução da Rússia, antes URSS, dosúltimos quinze anos. Dividido em setepartes, o texto começa na Perestroika,chegando até as perspectivas da recém-inaugurada Era Putin e traz umpanorama abrangente da política e da
O fim da URSS e a Nova Rússia*
Cristina Soreanu Pecequilo**
economia russa, ainda muito poucoconhecido no Brasil.
Dedicado às origens históricas daPerestroika, o primeiro capítulo investigaas razões e os caminhos pelos quais osprocessos de reforma começaram a serintroduzidos na URSS, a partir daascensão de Mikhail Gorbachev ao poderem 1985. Segundo o autor, apesar de tertomado o mundo de surpresa, asmudanças buscadas pela liderançasoviética eram resultado de um processode estagnação e desaceleraçãoeconômica que já vinha sendo percebidointernamente e não representava aprimeira tentativa de mudança radical nosistema produtivo. Tentativas dereestruturação haviam ocorrido nos anos60 sem sucesso, com a URSS perdendoterreno aceleradamente para o Ocidente.Em particular, a URSS não conseguiraacompanhar o último salto industrialgerado pela Revolução Científica eTecnológica.
Inicialmente, tais reformascentravam-se no aspecto econômico,evoluindo posteriormente para o nívelpolítico. Adicionalmente, estas reformastambém não previam a destruiçãogeneralizada do sistema socialista e aintrodução do capitalismo, mas sim a suareadequação às novas realidadesprodutivas e tecnológicas globais, com acorreção de deficiência internas.Contudo, conforme identificado nocapítulo 2, o encaminhamento daPerestroika rapidamente transformouestes objetivos, ao provocar alteraçõesmais profundas e desestabilizadoras nopaís do que o antes previsto. Neste
sentido, fatores domésticos, dificuldadespolíticas e econômicas combinadas efatores externos contribuíram para quenem sempre as reformas fossemconduzidas com o sucesso desejado, comalterações significativas de rumos, desdeo lançamento do processo. Quatro fasesdistintas são identificadas: de 1985 a1987, a descentralização socialista; 1988,a transição; 1989 e início 1990, aeconomia de mercado; e final de 1990/1991, a desintegração e a restauraçãocapitalista.
Ainda neste capítulo, sãodestacadas as transformações de poderinternas, com atenção ao embate deforças domésticas pró e contra astransformações, abordando-se o golpe de1991 e a posterior dissolução da URSS.Além disso, identificam-se asmodificações econômicas e seusimpactos sobre a sociedade e osindicadores econômicos, avaliando asconseqüências da aceleração dosprocessos de reforma. Examina-se aascensão e queda de Mikhail Gorbachev:no caso, se Gorbachev foi o responsávelpelos destinos da URSS nos anos 1980,sua influência se dissiparia na próximadécada, com Boris Yeltsin, com figuraspolíticas a ele associadas, tornando-se osímbolo da mudança. Posteriormente, nocapítulo 3, são identificados osproblemas étnicos-nacionais da URSS,enfatizando o seu peso na evolução dapolítica e da economia. A reestruturaçãoda Glasnost/Perestroika foi acompanhadapor uma disseminação de conflitosinternos que dificultaram ainda mais asperspectivas de reforma. A percepção do
*SEGRILLO, Angelo. O Fim da URSS e a Nova Rússia � De Gorbachev ao pós-Yeltsin. Petrópolis: Vozes, 2000. 152p.**Mestre e Doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP) e Professora de Relações Internacionais (UNIBERO).
24
enfraquecimento do centro levou àrápida dissolução do antigo impériosoviético e o aprofundamento das crises,dando origem à nova Rússia.
Esta nova Rússia, analisada noquarto capítulo, encontrava-se, segundoas palavras de Segrillo, em frangalhos, aoser criada. O dado, citado pelo livro, queem 1991 a economia da antiga URSSapresentou um crescimento negativo de8% é impressionante se se lembrar que,apenas alguns anos antes, o paísdisputava com os Estados Unidos odomínio do sistema internacional. Apartir deste período, como mencionado,o principal referencial político será BorisYeltsin, que se manterá no poder até1999, enfrentando diversas turbulênciasdurante seu governo. Aqui, o autorapresenta um quadro completo daevolução política e econômica do país,começando pelo processo deprivatizações e pelo papel de YegorGaidar e Anatoly Chubais. Também édestacada a atuação de VictorChernomyrdin no início da década, osconfrontos entre Yeltsin e o Parlamento,as duas fases da Guerra da Chechênia, aseleições presidenciais de 1996, a criseeconômica de 1998, as denúncias decorrupção contra Yeltsin, quecomeçaram a se avolumar em 1999 e a�dança dos primeiros ministros� nestemesmo ano (Chernomyrdin, Kirienko,Primakov, Stepashin e Putin), queculminaria com a renúncia de Yeltsin em
dezembro. Tal renúncia, justificada pormotivos de saúde, revelou-se umabrilhante jogada política, permitindo queYeltsin se livrasse das investigações decorrupção e Putin antecipasse as eleiçõespresidenciais, garantindo sua vitória,sustentada pela sua alta popularidadeconquistada como Primeiro Ministro,com uma administração responsável daeconomia e firmeza na segunda guerra daChechênia.
Neste capítulo, como no 2, éparticularmente rica e interessante adescrição do contexto interno e doquadro político russo, com a classificaçãodas principais forças domésticasexistentes. Somente para citar algunspartidos descritos pelo autor, podem-semencionar o Comunista da FederaçãoRussa, sucessor do Partido Comunista narepública (no capítulo 5, Segrillo delineiao perfil do movimento comunista naRússia pós-soviética e os principaisrepresentantes desta tendência), NossaCasa é a Rússia e o Liberal Democráticoda Rússia. Mais ainda, Segrillo define operfil dos oligarcas, membrosremanescentes da elite, beneficiados peloprocesso de privatizações e reformas,que permitiu uma divisão de domínio desetores fundamentais da economia entrepoucos nomes, cuja convivência alternamomentos de cooperação e conflito. Osprincipais oligarcas são Potanin,Berezovsky, Gusinsky, Khodorkovsky,Aven, Vinogradov, Smolensky e seus
perfis e empresas estão sistematizadospelo autor no texto.
Finalmente, nos capítulos 6 e 7, oautor descreve, sem ilusões, asperspectivas políticas, estratégicas eeconômicas da Rússia, começando comalgumas projeções internas para o séculoXXI e a retomada de questões jáabordadas sobre os acontecimentos de1999/2000. Fechando o livro, ele lembraa situação caótica e difícil que vem sendoenfrentada pela Rússia nos últimos anos,mas também destaca seus potenciais,principalmente o humano e o intelectual,devendo-se atentar à configuração deforças que se estabelecerá entre osgrupos sociais e interesses dominantes dopaís. Afinal, será deste embate queemergirão os rumos da Rússia pós-Yeltsin, sejam eles positivos ounegativos. Completam o livro trêsapêndices: as instâncias de poder naURSS da Perestroika, o crescimentoeconômico, com a inflação de 1985 a1998 e uma cronologia do mesmoperíodo.
Frente a este cenário de tantascontradições e possibilidades, a únicacerteza que se pode ter sobre a Rússia éque pouco se sabe ainda sobre seufuturo. Contudo, de forma alguma, istosignifica que se deve subestimá-la oudeixar de compreendê-la. Para isso, otrabalho de Segrillo oferece um excelenteponto de partida.
kk
25
O livro recém-lançado �Brasil -Argentina: A Visão do Outro�, analisa, demaneira muito eficiente, momentosimportantes da construção nacionaldesses países vizinhos, as percepçõesmútuas, os paralelismos históricos e aforma como suas relações evoluírampara a atual condição de sócios eparceiros no MERCOSUL. Os trabalhoscompilados neste volume, editado pelaFundação Alexandre de Gusmão -FUNAG - em conjunto com a FundaciónCentro de Estudos Brasileiros � FUNCEB-, são resultados de quatro seminários,organizados no Brasil e na Argentina,entre 1997 e 1999, que contaram com aparticipação de historiadores, diplomatase cientistas políticos de ambasnacionalidades.
À luz do processo de integraçãoregional ora em andamento, esta obrarepresenta uma reflexão conjunta entregoverno e academia, no sentido derepensar a história desses dois países, quehá muito vinha sendo escrita cominspirações de rivalidade e diferenciação,que hoje já não fazem mais sentido. Naspalavras de Luís Felipe de Seixas Corrêa,proferidas na abertura do terceiroseminário que deu origem a esse livro, osobjetivos dessas conferências teriam sidotrês:
�propiciar o conhecimento e ainteração entre historiadoresbrasileiros e argentinos; estimularuma reflexão comparativa sobre asexperiências históricas brasileira eargentina; sugerir abordagensinovadoras sobre os reflexos e asinfluências que os dois paísesexerceram sobre o outro,
procurando perceber, ao mesmotempo, de que forma estes reflexose estas influências se fizeram sentirna construção de identidades deum e outro�.
O livro encontra-se dividido emtrês períodos históricos abrangentes. Aprimeira parte, Brasil-Argentina e aFormação da Identidade Nacional, analisa omomento inicial da construção nacional,onde a rivalidade expansionista entre ascoroas da Península Ibérica foram postasem contato direto na bacia do Prata, oque teria gerado uma lógica de separaçãoe exclusão na formação dos países daregião. Com base nessa discussão, oEmbaixador Luiz Felipe de Seixas Corrêa,no artigo O Brasil e os seus vizinhos: umaaproximação histórica, comentado porFernando Novais e Hernán AsdrubalSilva, disserta sobre o tema da identidadebrasileira. Traça, desse modo, osantecedentes históricos do Brasil colônia,ao identificar as circunstâncias queindividualizaram a sua experiência, ecomo isso contribuiu para qualificar asvinculações do País a seu contextoregional, em especial com a Argentina.
Destaca-se, ainda nessa primeiraparte, o artigo de Carlos Floria quediscute as linhas e os destinos donacionalismo no mundo, e, em especialna Argentina, tratando também deproblemas de identidade nacional. Seuartigo é comentado por Boris Fausto, queagrega ao debate a possibilidade de secompararem os nacionalismos argentinoe brasileiro, especialmente nas décadasde vinte e trinta. O nacionalismo voltaráà baila no livro, posteriormente, pormeio da apresentação de Torquato
Di Tella, que debate as ideologiasnacionalistas que se desenvolveram noBrasil e na Argentina, sob os governos deGetúlio Vargas e Domingo Perón.
A segunda parte, Brasil-Argentina naTransição ao Século XX: da consolidação dasnacionalidades à construção de projetoscivilizatórios, oferece uma variedademuito rica de abordagens e fontes, queperfazem a história das idéias do séculoXIX, a história da constituição dascapitais - Buenos Aires e Rio de Janeiro -,o fenômeno migratório tão relevantepara os dois países e, por fim, aspercepções argentinas sobre monarquia erepública no Brasil. Cabe destacar aanálise, apresentada por ClodoaldoBueno, sobre como o advento darepública no Brasil gerou efeitos norelacionamento com a Argentina, sendoque o idealismo imediato teriaprovocado o abandono da pretensãobrasileira de exercer a hegemoniaregional e estreitado o intercâmbio entreos dois países. Nesse período de euforiarepublicana, as demonstrações decordialidade chegaram a gerar um acordodireto, ao solucionar a questão lindeiradas Missões, por meio do Tratado deMontevidéu, mas que posteriormenteseria revisto por não contar com aratificação do próprio Legislativobrasileiro.
Apesar dos importantes laçoscomerciais e das simpáticas trocas devisita entre Campos Sales e Roca que seseguiram à implantação da República, ocontexto internacional apresentavamudanças que poderiam afetar oequilíbrio no Cone Sul, fazendo com queo Brasil logo abandonasse sua visãoidealista do contexto hemisférico, assim
*FUNAG (Org.). Brasil-Argentina: a Visão do Outro. Brasília: FUNAG, 2000, 744 p.**Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB) e mestranda em Relações Internacionais da mesma universidade.
Brasil-Argentina: a visão do outro*
Susan César**
26
como os conceitos de americanização erepublicanização, em que baseava suapolítica exterior. Esta aproximaçãoimediata entre Brasil e Argentina após aproclamação da República, de que falaBueno, é amparada, no artigo de IsidoroRuiz Moreno, por meio da constataçãode que a Argentina foi o primeiro país areconhecer o novo regime brasileiro eforam muitas as manifestações deapreço, não só do governo mas desetores importantes da sociedadeargentina, o que ele demonstra pelaanálise de periódicos da época.
Ainda na segunda parte, ahistoriadora argentina Susana deSambucetti, por meio da revisão dacorrespondência diplomática da época,apresenta importante análise da visãodos diplomatas argentinos JacintoVillegas, Vicente Quesada e EnriqueMoreno acerca de um Brasil da décadade 1880, na qual foi feita a proclamaçãoda República e a abolição da escravidão.Em contrapartida, os historiadoresFrancisca de Azevedo e ManoelGuimarães analisam em seu artigo asimagens no império brasileiro sobre asrepúblicas platinas, onde se destaca o que
chamaram de �pedagogia civilizatória�,estudada por meio dos textos didáticosdos manuais de história.
Por fim, Marco Antônio Pamplonarealiza um estudo sobre nação emodernidade nas obras de dois ilustrespolíticos, que, segundo ele, freqüentam o�panteão dos escritores�: DomingoSarmiento e Joaquim Nabuco,desenhando as nações �imaginadas� e�narradas� por esses autores.
A última parte do livro, Argentina-Brasil - Os anos 30: reflexos e vínculos,resgata a especificidade desta década,cuja importância extrapola o marcocronológico, segundo Seixas Corrêa,porque teria criado paradigmas deinteração que ainda permaneceriamatuais. Inserido nesse quadro, RosendoFraga realiza um estudo sobre os vinteacordos bilaterais que foram firmadospor Argentina e Brasil, como resultadoda troca de visitas presidenciais entreAgustín P. Justo e Getúlio Vargas entre1933 e 1935, constituindo notáveltentativa de impulsionar a integraçãoentre esses países. No entanto, nos anosposteriores, faltaria vontade política paraaprofundar essa tentativa de
aproximação, o que se tornaria evidenteapós a divergência de posições naSegunda Guerra Mundial.
Destaque-se a análise de FranciscoDoratioto, acerca das políticas do Brasil eda Argentina, em relação à Guerra doChaco (1926-1936), a cuja exposiçãoforam agregados comentários de CarlosEscudé e Monica Hirst.
A obra termina com comentáriosde seis acadêmicos sobre enfoquescomparativos e paralelismos históricosna análise historiográfica de Brasil eArgentina, em que Jorge Caldeira salientaa necessidade de se fazer umahistoriografia que não seja nacional, masregional.
Brasil - Argentina: A Visão do Outrorepresenta, em síntese, um importante emuitas vezes raro esforço de intercâmbioentre governo e academia para umrepensar conjunto de nossa história. Faz-se importante, nesse sentido, aconstrução de uma identidade regionalcomum, assim como uma visão clarabilateral nos âmbitos cultural, político,social e econômico, pois pode afirmar-seque os países pouco se conhecem.
kk