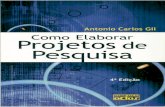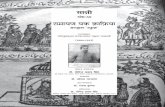^ HITERCOm 59 - :: Centro de Documentação e Pesquisa ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of ^ HITERCOm 59 - :: Centro de Documentação e Pesquisa ...
Intercom Diretoria (Biênio 1987/1989)
Presidente Margarida M. Krohling Kunsch (Instituto Metodista de Ensino Su-
perior)
Vice-presidente Francisco Assis M. Fernandes (Universidade de São Paulo)
Tesoureiro Alceu Antônio da Costa (Telecomunicações de São Paulo)
Secretário-Geral |osé Coelho Sobrinho (Universidade de São Paulo)
1." Secretária Maria Immacolata V. Lopes (Universidade de São Paulo)
2." Secretário ]. B. Pinho (Pontifícia Universidade Católica de Campinas)
Diretor Científico Antônio Carlos de Jesus (Universidade de Bauru)
Diretor Cultural André Barbosa Filho (Instituto Metodista de Ensino Superior)
Diretora Editorial Maria Otília Bocchini (Universidade de São Paulo)
Conselho Fiscal: José Marques de Melo (Universidade de São Paulo). Carlos Eduardo Lins da Silva (Folha de S. Paulo), Gaudêncio Torquato (Universidade de São Paulo), Anamaria Fadul (Uni- versidade de São Paulo) e Sarah Chucid da Viá (Universidade de São Paulo).
Coordenadora do PORT-COM — Centro de Documentação da Co- municação nos* Países de Língua Portuguesa — Ada de Freitas Maneti Dencker (Universidade de São Paulo).
A Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação — INTERCOM — é uma associação civil, sem' fins lucrativos, fundada em São Paulo, a 12 de dezembro de 1977. Atualmente, conta com cerca de 600 associados, que estudam a comunicação nas universidades, empresas, órgãos públicos, igrejas, sindicatos c movi- mentos sociais.
y. ^ «.« | SUMÁRIO
AOS LEITCtetS 3
ENTREVISTA
Humberto Pereira: o agricultor não precisa de comunicação rural — Dario Luís Borelli 5
ENSAIOS
O programa "Globo Rural" na região sul do estado de Minas Ge- rais — um estudo de caso — Luís Carlos Ferreira de Sou- za Oliveira 17
O novo perfil da comunicação rural brasileira — WiZson da Cos- ta Bueno 34
Comunicação, cultura e democracia: uma abordagem integrado- ra — Carlos Augusto Setti 45
ARTIGOS
CIESPAL: Trinta anos de influências — Fátima Aparecida Fe- liciano 55
O jornalismo e o golpe de 1964 — Alice Mitika Koshiyama 65 Ensino de jornalismo nos Estados Unidos: o caso da Carolina do
Norte — Thomas Bowers 72 Apontamentos para uma nova leitura do currículo de jornalismo
— José Coelho Sobrinho 79
COMENTÁRIOS
Falta crítica na Imprensa — Marco Morei 89
Moda, música & mídia — Tupã Gomes Corrêa 93 O jornalismo do dinheiro — Bernardo Kucinski 99
FÓRUM — Atualidades do Ensino de Comunicação
Pós-Graduação e comunicação na USP: preservando a diversida- de e interdisciplinaridade — Virgílio Noya Pinto 107
Pós-Graduação em comunicação na PUC-SP: a semiótica direcio- na as linhas de pesquisa — Maria Lúcia Santaella Braga 110
Pós-Graduação em comunicação no IMS: 109 ano de funciona- mento consolida atividades — Onésimo de Oliveira Cardoso 115
Pós-Graduação em comunicação na UFRJ: o íenômeno comuni- cacional no âmbito das ciências humanas — Márcio Tavares d'Amaral 122
Pós-Graduação em comunicação na UnB: da critica das ideologias à busca de uma sociedade mais justa — Sérgio Dayrell Porto 138
RESENHAS
Muitas organizações, pouca organização — Perseu Abramo .... 146
Negros na imprensa: um retrato branco — Marco Morei 148
Malhando em produto quente — Ana Arruda Callado 149
A Itália não vive só de espaguete — Sérgio Caparelli 150
Informação e opinião: direitos coletivos — Dario Luís Borelli . . 152
Imprensa operária: fonte de aprendizagem — Sílvia M. P. de Araújo 154
Novas tecnologias: a luta apenas começou — Antônio Theodoro de M. Barros 155
Técnicas para programação e seleção de veículos — J. B. Pinho 156
Essência e pragmatismo da propaganda — Tupã Gomes Corrêa .. 158
Publicidade e cultura — Francisco de Assis M. Fernandes 159
A palavra, o discurso e o poder — Isaac Epstein 160
Como escrever para a TV — Laurindo Leal Filho 162
NOTICIÁRIO
"Comunicação Rural" é o tema do Congresso INTERCOM/88 .. 164
INTERCOM organiza simpósios regionais 165
INTERCOM firma convênio com o CONEICC 165
INTERCOM prepara nova edição de Quem é Quem 166
INTERCOM lança Bibliografia Brasileira de Comunicação n9 7 166
Prêmio INTERCOM de Comunicação 167
ABEC promove o 39 Encontro de Editores de revistas científicas 167
ECA-USP completa 20 anos de jornalismo 168
CEDI discute comunicação nos movimentos populares 168
DOCUMENTAÇÃO
Bibliografia Corrente de Comunicação N9 53 — Ada de Freitas Manetti Dencker (PORT-COM) 169
AOS LEITORES
Os pesquisadores e agentes sociais da comunicação da América Latina presentes no XI Ciclo de Estudos Interdisciplinares da Co- municação que a INTERCOM promoverá de 2 a 7 de setembro de 1988, na Universidade Federal de Viçosa (MG), terão como subsí- dios para o debate e a reflexão sobre o tema Comunicação Rural a entrevista de Humberto Pereira, editor-chefe do programa "Globo Rural", os resultados da pesquisa efetuada por Luís Carlos Ferreira de Souza Andrade sobre a recepção do programa "Globo Rural" na região sul do estado de Minas Gerais e as conclusões de Wilson da Costa Bueno sobre o ensino e a pesquisa em comunicação rural no Brasil.
O "Fórum, Atualidades do Ensino de Comunicação" — seção que, a cada edição, ganha mais espaço na nossa Revista — faz um balanço das tendências dos programas de pós-graduação em comu- nicação nos anos 80, nas principais universidades do País, como a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade de Brasília (UnB), entre outras.
Os leitores poderão, ainda, atualizar os seus conhecimentos len- do as resenhas dos livros sobre comunicação recém-lançados no mer- cado editorial. O Noticiário informa as atividades que a nova dire- toria da INTERCOM vem desenvolvendo: o convênio firmado para estudar os sistemas de comunicação no Brasil e no México, os sim- pósios regionais e o Prêmio INTERCOM de Comunicação.
O artigo de Fátima Aparecida Feliciano e o de Alice Mitika Ko- shiyama deverão chamar a atenção pela sua originalidade. O pri- meiro avalia os trinta anos de influência do CIESPAL no ensino de comunicação na América Latina; o segundo mostra que o Golpe de 1964 foi feito com o apoio de jornalistas que ignoravam os reais objetivos do movimento.
Por fim, merece destaque "Falta Crítica na Imprensa", comen- tário no qual Marco Morei diz que a Revista Imprensa, lançada em setembro de 1987, é excessivamente comprometida com as grandes empresas de comunicação.
INTERCOM — Revista Brasileira de Comunicação Ano XI — N9 59 — Julho a Dezembro de 1988
Publicação semestral editada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação — INTERCOM — com o apoio do Programa MCT CNPq/FINEP. ISSN 0102 — 6453
Integrante da Rede Iberoamericana de Revistas de Comunicação e Cultura.
Editor Responsável José Marques de Melo (Universidade de São Paulo) Editores Assistentes Dario Luís Borelli e Fátima A. Feliciano (Universidade de São Paulo) Conselho Editorial Anamaria Fadul (Universidade de São Paulo), Ana Maria Concentino Ramos (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Antônio Fausto Neto (Uni- versidade Federal da Paraiba), Antônio Teodoro de Magalhães Barros (Uni- versidade Federal Fluminense), Armando S. Rohember (Federação Nacional dos Jornalistas), Barbosa Lima Sobrinho (Associação Brasileira de Imprensa), Carlos Augusto Setti (Universidade de Brasília), Carlos Eduardo Lins da Silva (Folha de S. Paulo), Cicilia Maria Kroling Peruzzo (Universidade Federal do Espírito Santo), Cosme Alves Neto (Cinemateca do Museu de Arte Moderna — Rio de Janeiro), Erasmo de Freitas Nuzzi (Associação Brasileira das Esco- las de Comunicação), Ezequiel Teodoro da Silva (Associação Brasileira de Leitura), Gustavo Quesada (Universidade Federal de Santa Maria), Isaac Epstein (Instituto Metodista de Ensino Superior — SBC), Jane Jorge Sarques (Universidade Federal de Goiás), José Tavares Barros (Centro de Pesquisa- dores do Cinema Brasileiro), João Vianney Campos de Mesquita (Universidade Federal do Ceará), Júlio Abramczyk (Associação Brasileira de Jornalismo Científico), Luiz Maranhão (Universidade Federal de Pernambuco), Vera Gia- grande (Conselho Federal dos Profissionais de Relações Públicas), Nilson Lage (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Pedro Gilberto Gomes (União Cristã Brasileira de Comunicação Social), Perseu Abramo (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), Sérgio Caparelli (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Sérgio Mattos (Universidade Federal da Bahia), Sinval Itacarambu Leão (Imprensa), Tereza Lúcia Halliday (Universidade Federal Rural de Per- nambuco), Nice Braga (Universidade Federal de Minas Gerais), Vera Lúcia de Castro Amaral (Universidade Federal de Juiz de Fora) e Walmir de Albu- querque Barbosa (Universidade Federal do Amazonas). Correspondentes Internacionais Javier Esteinou Madrid (Umversidad Autônoma Metropolitana — Xochimilco — México), Joseph Straubhaar (Michigan State University — USA), Marga- rita Londono Velez (Uníversidad dei Valle — Cali — Colômbia), Miquel de Moragas Spa (Universidad Autônoma de Barcelona — Espanha) e Rafael Roncagliolo (Instituto para América Latina — Peru).
Capa Dorinho Composição/Impressão Edições Loyola — Rua 1822 n? 347 — Fone: 914-1922 — São Paulo
Redação e Administração ECA-USP/CJE — Rua Professor Lúcio Martins Rodrigues, 443 — BI. A Sala 15 — Cidade Universitária — Butantã — São Paulo — SP. Correspondência Caixa Postal 20.793 — 01498 — São Paulo — Brasil
ENTREVISTA
Humberto Pereira: o agricultor não precisa de comunicação rural
Dario Luís Borelli
O editor-chefe do programa "Globo Rural", jornalista Humberto Pereira, diz estar fazendo jornalismo para o agricultor brasileiro, sem discriminar o seu universo cultural ou tradicional. Depois que o "Globo Rural" foi ao ar pela primeira vez, no dia 6 de janeiro de 1980, diz Humberto Pereira que o agricultor passou a ver a si mes- mo na televisão como personagem principal de um programa jor- nalístico, ainda que num horário marginal. "Não é o horário do 'Jornal Nacional', da novela das oito, mas, ainda que seja num ho- rário marginal, há um espaço para o agricultor na Rede Globo", afirma.
O programa é exibido nacionalmente aos domingos, a partir das 8h e tem de 45 a 50 minutos de duração, em média, apresenta dife- renças importantes em relação a outros programas jornalísticos da televisão brasileira. Uma de suas características é buscar a parti- cipação dos telespectadores através da seção de cartas, as quais são respondidas por meio de matérias gravadas ira loco com técni- cos ligados às instituições estatais de ensino, pesquisa e extensão rural. A reportagem especial sobre alguma questão, acontecimento, atividade ou serviço relacionado ao meio rural é veiculada sempre ao final de cada programa. Em 1983, a equipe do "Globo Rural"
• Editor-assistente de INTERCOM — Revista Brasileira de Comunicação. Mestrando em Ciências da Comunicação na ECA-USP.
recebeu do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico — CNPq — o Prêmio José Reis de Divulgação Cientifica.
Além da proposta do programa "Globo Rural", são assuntos da entrevista de Humberto Pereira a televisão como veículo de comu- nicação, o lançamento da Revista Globo Rural, no final do ano de 1985, a produção de estudos específicos sobre o programa "Globo Rural" e a formação de profissionais para a imprensa agrícola.
INTERCOM — Por que o programa "Globo Rural" é considerado hoje uma fonte de informação agropecuária indispensável para o ho- mem do campo?
Humberto Pereira — Eu não tenho certeza que o programa "Globo Rural" seja uma fonte de informação agropecuária, não tenho cer- teza se ele é indispensável para o homem do campo, porque isso tudo é muito imponderável.
Não sei se o nosso programa é de informação agropecuária porque há outros tipos de informação, de abordagem de assuntos que são tratados dentro do programa. Na verdade, o que nós pre- tendemos estar fazendo é um programa para o agricultor brasileiro e não um programa sobre agricultura ou pecuária. E eu tenho cer- teza que nós não chegamos aos agricultores brasileiros, do ponto de vista quantitativo, pelo menos.
O nosso programa é um programa que abriga tecnologia, "que abriga problemas de ordem agronômica, biológica, mas também pro- blemas de ordem econômica, de ordem sociológica, de ordem cul- tural. O fato de fazermos uma matéria sobre onça ou jacaré não traz nenhum aumento de produtividade de feijão ou de arroz, além de não curar doença de vaca no Brasil. No entanto, são assuntos que de uma forma ou de outra interessam, fazem parte do universo cultural desse homem que vive no interior ou de muitos que já fo- ram tangidos do interior para a cidade.
Então, pretendemos cada vez mais conhecer e entender esse uni- verso, o mundo do agricultor com tudo o que ele tem de cultural e tradicional. Fazer um programa apenas técnico em televisão, para esse homem do campo, seria fazer um programa que talvez corresse o risco de ser um pouco enfadonho, de discriminar partes da sua vida, interesses que ele tem, interesses que não são propriamente dele, mas de sua mulher. Quando fazemos, por exemplo, uma re- ceita nova de um prato de mandioca ou de milho, para que possa interessar à mulher do agricultor, isso não tem nada a ver com a produção de feijão ou de arroz. Quando tratamos, por exemplo, das condições de vida do agricultor, seja as condições sociais dê vida, como carteira de trabalho assinada, salários, greve de traba- lhador rural, situação de bóia-fria, ou quando tratamos de proble- mas que são de ordem de saúde pessoal, como água, as endemias rurais etc, nós estamos tratando de problemas que dizem respeito ao homem que trabalha na agricultura e não à atividade apenas técnico-agrícola ou do seu negócio. Nos preocupamos com esse ho-
mem total; pelo menos, temos nos pautado assim, e a receita do "Globo Rural" é nessa linha.
É por isso que a nossa informação não é apenas agropecuária. Ela é agropecuária, mas vai além disso. Quanto ao fato de ser ou não indispensável, é uma outra pergunta que eu me faço. Eu acho o seguinte: o programa "Globo Rural" está sendo feito na Rede Glo- bo de Televisão. O agricultor que está vendo esse programa tem te- levisão em casa, se não estaria vendo, é óbvio. Então, é um pro- grama para quem tem televisão em casa, no vizinho, no salão pa- roquial no clube, enfim, em qualquer lugar existe um aparelho de televisão. Ora, esse mesmo aparelho de televisão — é normal que se suponha — capta não só a Rede Globo, mas também o Silvio San- tos a Bandeirantes, a Manchete, qualquer outra rede ou a televi- são' local. Portanto, supomos que o agricultor esteja vendo também o "Fantástico" as novelas, os outros programas jornalísticos, filmes, documentários estrangeiros, enfim, ele vê tudo que passa na tele- visão O que acontece em relação ao "Globo Rural" é que ele e es- pecializadamente e pioneiramente o primeiro espaço dedicado na te- levisão brasileira ao agricultor, não só em relação a sua atividade, mas ao agricultor como personagem de um programa jornalístico de televisão.
O agricultor está acostumado a ver na televisão problemas de buraco de rua da cidade mais próxima, problemas políticos, proble- mas de ensino, problemas urbanos em geral, e a partir do "Globo Rural" ele passou a ver também a si mesmo dentro da televisão, ainda que num horário marginal. Não é o horário do "Jornal Na- cional", da novela das oito, mas, ainda que seja horário marginal, há um espaço para o agricultor dentro da Rede Globo.
Mas a televisão como veículo é muito limitada. Ela não vai modificar sozinha a realidade do agricultor. A televisão não tem força para implantar o capitalismo no sistema feudal que ainda existe no campo. Pela sua natureza, a televisão não tem a virtude, em si mesma, nem de implantar o sistema capitalista onde existe o sistema feudal, pré-capitalista, que é o interior do Brasil, nem de fazer uma reforma agrária no País. Nem neste país, nem em país nenhum.
Essa televisão broadcasting é muito efêmera, extremamente su- gestiva, insinuante. Tem, ao contrário de um milagre eletrônico, e dentro do seu processo, um sistema de comunicação que é o mais primitivo de todos: o oral e o visual. Independe da pessoa saber ler e escrever para entender o que a televisão está mostrando. Esta talvez seja uma das suas virtudes. Mas, na verdade, a televisão não passa de uma mágica extraordinária do nosso século.
Muitas vezes as pessoas falam: "Com o prestígio do 'Globo Ru- ral', por que vocês não fazem a reforma agrária via 'Globo Rural'?" Isso é uma utopia. Ainda que se quisesse fazer, seria impossível. Você não faz reforma agrária nem em televisão, nem em rádio e nem em jornal. O poder de transformação da realidade é muito menor do que se pensa. E eu acho que temos que fazer um esforço
enorme no sentido de sermos humildes, de reconhecer muito mais as limitações do nosso programa do que propriamente a sua força.
Às vezes a televisão induz o profissional que nela trabalha a fi- car um pouquinho encantado. Mas esse profissional acaba "dan- çando". Felizmente, a equipe do "Globo Rural", até pela sua idade média, é constituída de gente que não precisa provar mais nada pro- fissionalmente. Quer dizer, ela tem essa humildade de reconhecer que está atuando dentro de um veículo muito limitado em termos de comunicação. Nós achamos que, teoricamente, só se progredi- rá em termos de comunicação rural no Brasil — pelo menos no caso da televisão — na medida em que se entender bem os seus limites e as suas fronteiras em relação à realidade.
As pessoas acham que a Rede Globo muda o Brasil. Ao con- trário, a Rede Globo é fruto do Brasil. Tem gente que acha que a televisão é ruim no Brasil. Ela é pior em outros países. Não exis- te uma televisão independente, seja de um governo, seja de uma ideologia, seja de um esquema comercial capitalista. Não existe em nenhum lugar do mundo. Se você for aos Estados Unidos ou à União Soviética e tentar dizer o que pensa, não vai conseguir. Co- mo aqui no Brasil também. Vai tentar dizer as coisas que você eventualmente possa ter dentro do seu coração em qualquer uma das redes de televisão. Não existe isso, é uma utopia. Mas não é um defeito do veículo ou da rede. Ê uma conjuntura que até agora é inevitável. O que se vai fazer? E pode até estar dependendo de muitas coisas, mas certamente não depende dos profissionais que trabalham em cada um desses lugares. Disso você pode ter a mais absoluta certeza.
INTERCOM — Você concorda plenamente que o programa "Globo Rural", desde janeiro de 1980, guando foi ao ar pela primeira vez, tem se constituído em importante fator de integração do empresa- riado rural com o complexo agropecuário, em reforço à penetração do modo capitalista no campo? Por quê?
Humberto Pereira — Quando você fala em complexo agropecuário, certamente está se referindo à indústria, à comercialização, eu diria, até, a uma era histórica da agricultura, que é cada vez mais tecni- fiçada no mundo inteiro, ou seja, a tecnologia que chega de uma maneira industrializada ao campo. Tudo isso eu acho que teria que ser muito bem definido.
O empresariado rural no Brasil é extremamente incipiente; não existe algo para chamá-lo assim. As lideranças são divididas. Você vê, por exemplo, três tipos de liderança. Um tipo de liderança é aquele que vive de dialogar constantemente com o governo, a fim de obter melhores condições de subsídios para o que fazem, ou de cré- ditos, ou de uma política agrícola para tocar o negócio chamado agricultura. Que no fundo vem a ser agricultura de grãos, e no caso de produção de proteínas, o boi, o porco e o frango, resumi- damente.
8
O segundo tipo de liderança está extremamente polarizado por uma ideologia que consiste em preservar a propriedade rural, em evitar o que eles acham que seja o "demônio" da reforma agrária. Este tipo, por sua vez, se contrasta com o terceiro tipo de lideran- ça, que realmente saiu do estado feudal para cair no estado capita- lista moderno. Mas esta é apenas uma parte do empresariado.
Coincidentemente, este tipo de empresário não precisa do nosso programa. Um Olacir de Morais, por exemplo, que tem a fazenda Itamarati e uma equipe de agrônomos, de médicos veterinários etc, ou o Grupo Cotia, da família Brito, dispensam um programa como o "Globo Rural" para tocar os seus negócios. Eles até assistem e respeitam o programa como fonte de informação, mas os seus ne- gócios independem completamente, não só do nosso programa co- mo de qualquer outro programa jornalístico.
INTERCOM — Neste caso, atribuímos então ao programa "Globo Rural" um poder que ele não tem?
Humberto Pereira — Vocês atribuem à televisão um poder que na verdade ela não tem. É inegável que ela tem um poder enorme, mas de repente parece que a televisão é o grande demônio no Brasil. Não é. E tem mais: a televisão no Brasil é muito boa se comparada com outras televisões.
Vamos detalhar melhor os problemas e as virtudes da televisão brasileira, no caso específico do "Globo Rural". É um programa de rede. Então dizem: "A Rede Globo, ou o programa 'Globo Ru- ral', está massifícando o agricultor brasileiro, está dando um refor- ço à penetração do modo capitalista no campo". Muito bem. Do ponto de vista jornalístico — eu só estou respondendo pela parte editorial do programa — nós temos uma equipe volante que talvez hoje já esteja com oito anos. Trata-se da equipe de jornalismo com a maior quilometragem dentro do Pais. Do Acre ao Rio Grande do Sul. Nós vamos a cada rincão deste país, vamos a cada estado, a cada região. Nessas reportagens, quem fala é o agricultor, é o téc- nico, é o fazendeiro, é o bóia-fria lá, daquela tal região. Ele tanto entra no nosso programa com o sotaque nordestino, como entra com o sotaque meio polonês, meio ucraniano, do Paraná, como entra com o sotaque gaúcho, com o sotaque singelo do meu estado, que é Minas Gerais. O programa "Globo Rural" tem dentro de si todos os sotaques do Brasil.
Caberia perguntar então: nós estamos impondo o quê? Esta- mos impondo o sotaque gaúcho ao nordestino ou estamos impon- do o sotaque nordestino ao mineiro? Nós não estamos fazendo um programa de São Paulo para o resto do País. Nós estamos fazen- do um programa onde nós vamos nos próprios lugares. Com o maior respeito e a maior alegria colocamos no programa todos os sotaques. Então, veja o seguinte: quem entra no programa é o Brasil todo. Eu não sei se outro programa, outra proposta de "Globo Rural" teria condições de assegurar e respeitar isso. A nos- sa maneira de respeitar o Brasil inteiro é essa. Poderíamos, se qui-
séssemos, fazer um programa sem sair do estado de São Paulo, que interessasse ao Brasil todo do ponto de vista técnico. São Paulo é um estado onde você tem búfalo, tem soja, tem trigo, serin- gueira como na Amazônia, cacau no Vale da Ribeira, tem todos os climas e todos os produtos, e produtos muito bem cultivados, com alta tecnologia, modelo até para o resto do Pais. O búfalo de Ara- çatuba, por exemplo, dá de 10 no búfalo da Ilha de Marajó. No entanto, a primeira vez que fomos "fazer" búfalo, nós fomos na Ilha de Marajó "fazer" o búfalo de lá. Quer dizer, esse respeito é preciso ter. E mais: a empresa Rede Globo de Televisão nos tem dado condições de honrar essa diversificação de gente, de pessoas, de sotaques que entram no programa. Hoje, por exemplo, eu estou com uma equipe no Maranhão.
INTERCOM — Quer dizer então que a equipe do "Globo Rural" tem autonomia jornalística para decidir onde ir e o que jazer?
Humberto Pereira — Quem diz aonde a nossa equipe vai somos nós aqui. Nós é que decidimos aonde ir e o que fazer.
INTERCOM — JVão existe nenhum tipo de imposição, norma pré-es- tabelecida?
Humberto Pereira — Sim, existe. A imposição que temos é a seguinte: nós estamos trabalhando dentro da Central Globo de Jor- nalismo, que tem uma ética que nem é dela, mas do próprio jor- nalismo. Nós não fazemos merchandising nas matérias. No dia em que aparece um trator dentro de uma matéria nossa, aparece porque o trator estava lá. Nós não fomos procurar aquele trator e depois cobrar a fábrica porque ele entrou no programa. Isso o jornalismo da Globo não fatura. Nós também não mencionamos nenhuma marca de produto dentro do nosso espaço jornalístico. Quando se trata de um produto que temos que dizer o nome, da- mos apenas o seu princípio ativo e não a sua marca comercial.
Em assuntos controversos nós procuramos ouvir as versões exis- tentes a respeito. Eu não posso ser militante dentro do jornalismo que faço. Vou dar um exemplo. A questão mais apaixonante que existe hoje do ponto de vista da discussão e do debate entre ideolo- gias no Brasil é, sem dúvida, a reforma agrária. Agora, se eu es- tou fazendo um jornalismo honesto, tenho que refletir dentro desse jornalismo o que acontece em relação à reforma agrária no pais em que estou. Eu não posso criar ou forçar jornalisticamente a rea- lidade. Se eu vou, por exemplo, em uma experiência de reforma agrária de uma fazenda e ela tem defeitos, tenho que criticar esses defeitos ainda que isso doa aos partidos de esquerda. Eu vou nes- te lugar ainda que doa ao sr. Ronaldo Caiado ouvir essa experiên- cia. De outro lado, coloco o sr. Ronaldo Caiado dando uma opinião sobre uma determinada lei da Constituinte ou sobre um momento difícil dos agricultores. Eu tenho que refletir honestamente a rea- lidade do Pais.
10
Dentro dessa ética procuramos evitar qualquer lobby que possa ser feito em cima do programa. Por exemplo, nós damos cotação de preços, que é uma das informações básicas dentro do progra- ma. Antes do "Globo Rural", qualquer caminhão chegava na porta de um sitiozinho do interior mais remoto e comprava uma vaca, um bezerro pelo preço que o chofer do caminhão queria. O dono daquela pequena propriedade não tinha a minima idéia de quanto andava o preço da arroba do boi. Com uma televisãozinha, às ve- zes movida a bateria, ele tem todos os domingos informação dos preços vigentes no mercado do boi. Evidentemente, o preço do boi que ele vai vender na porta do seu sitio é menor que o preço dado pelo "Globo Rural", mas ele já sabe fazer esse referencial. Esse tipo de informação em relação a todos os produtos tem evitado que o agricultor, principalmente o pequeno, perca muito do seu lucro nas mãos dos intermediários. Uma das maiores pragas que existem em relação à agricultura não é o agricultor, mas sim o atravessa- dor. O atravessador é o cidadão que não plantou, não sofreu com o clima adverso, não sofreu com uma política agrícola às vezes in- congruente, e chega na porta do sítio e compra o produto pron- tinho. Tantas sacas de arroz, 10 sacas de feijão, 210 de milho. Ele, sim, é quem lucra, sem prejuízo nenhum. Portanto, esse tipo de informação que damos está ajudando o agricultor a conservar um pouco mais a sua poupança. Isso nós fazemos a título de informa- ção. Não influímos no preço nem para baixo, nem para os lados e nem para cima. Estamos apenas dando ao pequeno, médio e até mesmo ao grande agricultor o insumo fundamental que a sociedade urbana tem chamado informação. E uma informação ligada dire- tamente a sua atividade. Se você é jornalista ou está fazendo jorna- lismo, isso é uma coisa da mais alta importância para qualquer agricultor do mundo. Pois não podemos nos esquecer que a figura do atravessador é universal.
Eu também não posso negar um outro dado básico: a nossa eco- nomia é uma economia capitalista, é uma economia de mercado. Tutelada, vigiada ou não, é esta que está aí. Então, eu tenho que evitar que esse agricultor perca demais. Ele não tinha esse tipo de informação constante, seriada, todos os domingos, até o "Globo Ru- ral" aparecer em 1980. O que é isso? Isso aí sou eu, o programa reforçar a penetração do modo capitalista no campo? Esta é uma pergunta que vem envenenada por um preconceito muito forte con- tra a Rede Globo e contra o trabalho que nós fazemos.
INTERCOM — Você acredita que o programa "Globo Rural" inspira solidariedade aos produtores rurais, na medida em que encaminha e consolida suas reivindicações?
Humberto Pereira — Eu acho que esta solidariedade tem vários as- pectos que podemos lembrar. Em primeiro lugar, as reivindicações dos agricultores. É muito importante o fato desses agricultores terem um canal para reclamar, da mesma maneira que a mãe re- clama do custo da escola no Rio de Janeiro, e da mesma maneira
11
que a favelada de São Paulo reclama do serviço precário de saúde que o estado de São Paulo e a União lhe dão. Quer dizer, poder fa- lar, colocar suas broncas no ar, é uma coisa importante. Brasília ouve, as pessoas que são direta ou indiretamente responsáveis por essa situação ouvem. Então, você dá uma dimensão a essa recla- mação ou a essa reivindicação que elas merecem.
Um outro aspecto que eu acho muito importante dessa solida- riedade é o seguinte: a cidade, em geral, não tem muita idéia dessa atividade do homem do campo, embora seja a maior beneficiária de tudo o que o homem do campo faz. Quer dizer, você diaria- mente, ou pelo menos de manhã, na hora do almoço ou na hora do jantar, está sobrevivendo às custas daquilo que o nosso agricultor produz. Todo mundo. Os políticos de Brasília, o pessoal da UDR, o pessoal do PT, o pessoal do PDS, o pessoal do Partido Verde, todo mundo neste ponto é igual. Come feijão, come arroz, come bife, come ovo, alguma coisa eles estão comendo e bebendo. Isso é fruto do trabalho no campo. Agora, quem apenas come e bebe, pois já recebe pronto no prato, em restaurantes e lanchonetes, não tem muito conhecimento de tudo o que está por trás daquele ovo, daquela polenta ou daquele franguinho a passarinho. Então, eu acho que na medida em que você mostra esse universo dentro da tele- visão, o homem da cidade passa a ter conhecimento dessas ativida- des importantíssimas para todos nós.
Alimentação, saúde, transporte e educação são quatro coisas bá- sicas. Agora, a alimentação tem um universo por trás muito maior do que o do transporte ou do que o da educação. Você pode viver sem ir a uma escola, mas não pode viver sem comer, sem beber. A alimentação é o mais básico de todos. É preciso, portanto, que o homem da cidade se solidarize com a fonte do seu alimento, que é feita por seres chamados agricultores, pecuaristas, bóias-frias e outros. Aliás, tem mais: hoje em dia a pessoa que anda de carro na cidade está andando em carro movido a álcool, que é feito de cana colhida por bóia-fria. Você, por exemplo, está aí vestido com uma calça jeans e uma camiseta, ambos de algodão. Este algodão também vem de lá, sabia? Quer dizer, você come, se veste e anda de carro às custas da agricultura brasileira.
JNTERCOM — Em que medida o lançamento da Revista Globo Rural, no final do ano de 1985, propiciou uma maior eficácia para as infor- mações geradas pelo programa "Globo Rural"?
Humberto Pereira — Olha, isso aí é uma coisa que vem de encontro ao que eu dizia antes, ou seja, a televisão é muito limitada. Há uma frase de um agricultor que exprime muito bem isso: "Na televisão, as reportagens são boas, é tudo muito importante, mas muito passa- geiro". Isso quer dizer o seguinte: a televisão, assim como o rádio, é um veículo que está atrelado ao tempo. Tem uma hora de entrar no ar, tem uma duração determinada e uma hora de sair do ar. O dia só tem 24 horas, é inelástico. O tempo é inelástico, implacavelmente inelástico. Então, toda a informação que você consegue colocar den-
12
tro daquele tempo, daquela duração, é limitada. Além de ser limi- tada, ela tem esse caráter de efemeridade, isto é, passa, se esvai na medida em que acabou de passar. Essa é a maior limitação dos veí- culos eletrônicos. Mesmo essa exuberância da imagem, essa facili- dade de comunicação oral não conseguem suprir essa limitação.
Então, houve inúmeras, milhares de cartas desde o começo do programa, pedindo que publicássemos aquilo que estava indo ao ar. Por quê? Porque uma vez publicado, em forma de jornal, boletim ou revista, o cliente, as pessoas que se interessam pelos temas vei- culados na televisão teriam, num veiculo que não é temporal, mas sim espacial, a possibilidade de recorrer, a qualquer hora, de ler aque- la reportagem mais de uma vez, de voltar atrás. Não podendo ler hoje, deixa para ler amanhã ou depois de amanhã, ou para daqui a um mês ou no ano que vem, quando ele vai plantar novamente. Isso tudo, que de uma maneira muito singela era pedido, trata-se daquela coisa dos multimeios complementar es, da mídia, que se complementa com veículos de comunicação de natureza diferente.
Então, a Revista, que tem quase trinta por cento de material co- mum que aparece na televisão e nela mesma, vem complementar essa deficiência da televisão, sendo que não se trata apenas, no caso da Revista Globo Rural, de uma cópia daquilo que vai para a televisão. Trata-se, exatamente, de uma abordagem que aprofunda muito mais informações, porque, ao contrário da televisão, ela é elástica. Se eu tenho, por exemplo, um assunto que precisa de mais dez páginas, posso' aumentar indefinidamente a edição, dentro de uma equação econômica da própria Revista.
Mas então se trata esses assuntos de uma maneira diferente, de uma maneira própria desse veículo. E nós estamos, brevemente, dentro de uns dois ou três meses, para lançar num outro veículo, que é o rádio, um "Globo Rural Rádio". Este programa viria su- prir uma outra deficiência que não pode ser complementada nem pela Revista nem pela televisão. A Revista é mensal, a televisão é semanal. Há uma série de informações que acontecem hoje, são importantes hoje, e que eu deveria dá-las hoje para o agricultor. Só com um tipo de veículo que tem a agilidade do rádio é que eu posso fazer isso. Então um programa de rádio me permitiria, por exemplo, dar informação meteorológica, coisa que eu não posso fa- zer hoje num programa semanal e muito menos numa revista men- sal. As cotações são tão importantes que precisariam ser acompa- nhadas diariamente. Cotações de todos os preços. As decisões po- líticas de Brasília teriam também que ser comentadas diariamente, principalmente aquelas que dizem respeito ao setor. No caso de Brasília, temos inúmeros ministérios — Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda — que tratam de agricultura. Álcool e café estão no Ministério da Indús- tria e Comércio. Decisões econômicas estão no Ministério da Fa- zenda. Um surto de febre amarela, por exemplo, está no Ministério da Saúde. Precisaríamos do rádio para suprir isso. Então, faría- mos um tripé de multimídia que nos ajudaria a ser um pouco mais eficazes, conforme você alude em sua pergunta.
13
INTERCOM — Qual a relevância da produção de estudos específi- cos sobre o programa "Globo Rural"?
Humberto Pereira — Quando um engenheiro agrônomo ou um pes- quisador da comunicação faz um estudo sobre o nosso programa, ele nos obriga a pensar, nos obriga a checar aquilo que nós estamos fa- zendo, nos obriga a reavaliar o nosso trabalho. Ou ele nos dá in- segurança a respeito de uma coisa ou de outra, ou reafirma certe- zas e até nos propõe caminhos novos. Eu acho isso da maior im- portância.
E é curioso que entre toda a programação da televisão brasilei- ra, de um tempo pra cá, justamente o "Globo Rural" tenha mere- cido tantos estudos. No momento nós estamos com um pedido de estágio de uma professora de Viçosa que está desenvolvendo uma tese. Já houve outros da Universidade de Viçosa. Lavras já fez trabalho sobre o "Globo Rural". Gosto muito de dialogar com os pesquisa- dores, ainda que tenhamos debates calorosos a respeito de vários itens.
INTERCOM — Você tem sugestões a dar sobre a formação profis- sional de repórteres e redatores para a imprensa agrícola?
Humberto Pereira — Eu poderia responder a isso numa única frase. O jornalista agrícola para ser um bom jornalista agrícola tem que ser um bom jornalista. Ele será um bom setorista na medida em que desenvolver suas ferramentas profissionais jornalísticas. O bom profissional sabe que se ele entra dentro de um setor, tem que en- terrar mesmo a cabeça dentro desse setor.
O jornalista de esporte, por exemplo, não é obrigado a saber a diferença entre gramínea e leguminosa. Chega uma hora em que o jornalista que vai mexer com agropecuária tem que saber isso, se não ele sai do setor. Como jornalista agropecuário ele não é obri- gado a saber, com muita precisão, a diferença entre o meio-armador e o volante, o que é um, o que é outro dentro do campo.
De toda forma existe o seguinte: o jornalista que trabalha com agropecuária, dentro desse setor rural — eu prefiro chamar de ru- ral do que de agropecuário, pois o rural engloba tudo —, tem que se informar muito sobre esse mundo no qual vai trabalhar.
O jornalista que talvez seja filho de um fazendeiro não é ne- cessariamente o melhor jornalista agropecuário. O jornalista que tem um sítio também não é necessariamente o melhor. O melhor jornalista rural é, simplesmente, o melhor jornalista.
Há uma outra coisa que está por trás disso que eu contesto mui- to: comunicação rural. Eu sei que existe uma associação de comu- nicação rural. O mundo inteiro se preocupa cada vez mais em se comunicar com o homem do campo. Eu disse que estou dentro de um canal de televisão que já tem outros programas que o agricul- tor vê todos os dias. Então, na verdade, para eu chegar bem até ele tenho que desenvolver a minha capacidade de comunicação, sem adjetivo, entendendo de elementos que são básicos, fundamentais
14
dentro da comunicação de televisão. Procurar falar numa lingua- gem linear, ordem direta. As palavras devem ser bem pronuncia- das. Se eu puder evitar o microfone, melhor. Usamos muito mi- crofone sem fio, microfone direcional. O que eu quero dizer é que o bê-a-bá da comunicação serve tanto para se fazer comunicação ru- ral como para se fazer comunicação esportiva, cientifica e qualquer outra. O que deve ser desenvolvido é a comunicação. Você quer ser um bom comunicador na área rural? Trabalhe naquela linha que estava lhe dizendo há pouco. Se for em televisão, procure conhe- cer os seus limites. Conhecendo bem esses limites, você vai se de- senvolver, vai conseguir ultrapassar as pedras que aparecem no ca- minho.
Evidentemente o conhecimento da realidade rural é fundamen- tal. Não adianta você passar três, quatro anos dentro de uma esco- la aqui em São Paulo ou em Belo Horizonte, se você nunca viu uma vaca, nunca entrou numa cooperativa, nunca entrou sequer numa loja de produtos agropecuários aqui na cidade, nunca viu uma reu- nião de um sindicato de trabalhadores rurais ou de um sindicato ru- ral, e não lê o que se publica a respeito desse setor.
INTERCOM — Você acha que as escolas de jornalismo podem dar uma contribuição no sentido de incentivar os alunos a procurar este tipo de informação?
Humberto Pereira — Essa é uma discussão a respeito da universi- dade brasileira, que é aquela coisa que às vezes dá raiva, sabe? Eu acho que ela está conseguindo ser pior do que o jornalismo brasi- leiro. Eu aceito as críticas ao jornalismo brasileiro, inclusive as críticas oriundas da universidade. Mas, infelizmente, o nosso país está num estado tal de desagregação que a universidade hoje está numa situação precaríssima. Você sai da faculdade, hoje, de mãos vazias, sem ferramentas para trabalhar.
As escolas de jornalismo podem dar uma contribuição nesse sen- tido. Mas será que elas têm condições de dar esse instrumental aos estudantes? Por um acaso elas estão atentas para isso? En- tão, a formação efetiva do profissional acaba acontecendo via sua de- terminação em adotar o jornalismo como profissão. Há um proble- ma sério aí: o jornalismo não pode ser emprego. Jornalismo é uma profissão. O que se procura é um profissional do jornalismo. No fundo você tem que abraçar essa profissão quase que vocacionado mesmo. Eu acho que é necessário ter vocação para ser jornalista. £ lógico que não estou falando aqui do cara que quer aparecer co- mo jornalista, indo trabalhar na televisão para o conforto e a mas- sagem do próprio ego, ou do cara que quer exercer o poder como jornalista. Não. O jornalista só é jornalista quando trabalha em benefício da comunidade. O jornalista lida com um insumo. que é a notícia, a informação, que não tem nada a ver com ele, é uma coisa que ele busca onde está escondida, e revela isso através dos meios de comunicação para toda a comunidade. O jornalista que entra no ramo rural não escapa disso. Ele vai ser tanto melhor jor-
15
nalista quanto conseguir exercer isso. É aquela coisa que eu estava lhe falando: por que nós vamos ao interior de Pernambuco ouvir o cara que está lá numa frente de trabalho durante uma seca? Em 1982-83-84 nós cansamos de fazer isso. Por quê? Tecnicamente, eti- camente, o modo de nos comunicarmos melhor com o Brasil é esse. Isso é exercício de jornalismo, simplesmente. Jornalismo é uma pro- fissão sem adjetivo.
Quando falamos de jornalismo rural, não raras vezes ouço o se- guinte raciocínio: "Bom, o homem do campo é um ser especial. Ele é analfabeto, não entende bem as coisas como a gente entende". Ou seja, é um ser inferior. O que é isso? Isso é uma atitude paterna- lista, ruim, em relação ao agricultor. Quando nós fizemos a Revista Globo Rural, algumas pessoas de fora disseram: "Uma revista ru- ral pode ser feita em papel-jornal". Eu disse: "Não, nós vamos fazer a Revista Globo Rural em papel-cuchê". O agricultor é um cidadão igualzinho ao cidadão da cidade. Por que a revista Veja, a revista Manchete, todas as revistas são em papel-cuchê e a do agri- cultor vai ser em papel-jomal? Por quê? Agora eu pergunto: por que é necessário comunicação rural? O agricultor tem que ter co- municação e jornalismo para ele, sem adjetivo.
Eu mesmo não pretendo estar fazendo comunicação rural, mas sim estar falando para o agricultor como um homem completo. E quanto mais eu falo ao agricultor, mais eu atinjo o pessoal da ci- dade, porque estou fazendo uma comunicação que é direcionada mas não é preconceituosa. Quando faço uma matéria sobre a onça, que é uma matéria de ecologia, o "Globo Repórter" utiliza também a mesma matéria. Eu fiz pensando no agricultor, que precisa preser- var a onça brasileira.
16
ENSAIOS
O programa "Globo Rural" na região sul do estado de Minas Gerais - um estudo de caso
Luís Carlos Ferreira de Souza Oliveira *
1. INTRODUÇÃO
O estudo que ora apresentamos situa-se no campo que se conven- cionou chamar de comunicação rural e tem como objetivo auxiliar a explicitar a relação existente entre a comunicação de massa, especial- mente aquela suscitada pela televisão, e o meio rural. Contudo, não pretendemos restringir a análise a um ponto de vista meramente ins- trumental, isto é, medir a maior ou menor eficácia da comunicação de massa nesta relação. Pretendemos sim, fundamentalmente, explici- tar a comunicação — via televisão — para o meio rural como fator de integração do empresariado rural com o complexo agropecuário.
De modo geral, a televisão não está endereçada ao público enquan- to produtores rurais, mas sim enquanto consumidores de "produtos", cuja publicidade financia decisivamente as operações deste meio de comunicação de massa. ■ Na relação entre meio rural e televisão, nos parece mais importante investigar não o meio propriamente dito, ou suas mensagens, mas sim como se processa a recepção; mais especi- ficamente, como os produtores rurais recebem as informações e ima-
* Professor do Departamento de Administração e Economia da Escola Superior de Agricultura de Lavras — ESAL. Mestre em Comunicação pela Universidade de Brasília — UnB. Realiza atualmente Curso de Doutorado em Ciências da Informação na Universidade de Barcelona, Espanha.
17
gens sobre suas atividades, na maioria das vezes apresentadas por instituições e empresas a seu serviço, via programas caracterizados como voltados para o meio rural.
A recepção de programas de televisão não é unívoca, no que se refere ao entendimento e percepção crítica dos conteúdos transmiti- dos. Assim, o presente estudo de caso sobre televisão e meio rural procura interpretar a comunicação que se estabelece — mediatizada pela televisão — entre o empresariado rural e o mundo que o cerca — o que convencionamos chamar de complexo agropecuário —, preten- dendo explicar o que pode decorrer de uma situação de comunicação engendrada especificamente por um programa da televisão brasileira: o "Globo Rural".
Não estamos interessados propriamente na comunicação com características rurais apresentada pelo "Globo Rural", mas em uma comunicação pela qual a sociedade rural sofre ou submete-se a um tipo de integração mediatizada por um programa de televisão centra- lizado e orientado, cuja função — nos parece — é atuar muito mais numa perspectiva de formação de mercados do que promover o de- senvolvimento rural do País.
Do ponto de vista empírico, este estudo teve como ponto de ori- gem a atenção repentina que a Rede Globo de Televisão dedicou ao meio rural brasileiro — até então "marginalizado" na sua programa- ção — ao lançar o programa "Globo Rural", em janeiro de 1980,2 e ainda a avalanche de correspondência dos telespectadores "rurais" para as instituições estatais de ensino, pesquisa e extensão em agro- pecuária — participantes do "Globo Rural" — em decorrência do programa.3 Estas mesmas instituições — e ainda as empresas pro- dutoras de insumos e/ou comercializadoras de produtos agrícolas —, sobretudo as de extensão rural, já desenvolviam — e desenvolvem — programas, planos e experiências de comunicação rural, em alguns casos há mais de quarenta anos. Contudo, eram e são ações isoladas; 4
somente com o surgimento do referido programa é que se pôde per- ceber a comunicação "rural" como uma prática intensiva e sistemá- tica, envolvendo tanto instituições do aparato estatal, quanto da inicia- tiva privada.
Ê preciso notar que a "atenção" da Rede Globo de Televisão se deveu menos às solicitações dos produtores rurais de terem espaço na sua programação do que ao momento histórico, isto é, ao momento em que o meio rural é visualizado como tendo uma crescente impor- tância na dinâmica do processo de acumulação capitalista.5 E este processo exige tanto uma maior subordinação do rural aos desígnios do capital, quanto necessita, simultaneamente, promover uma moder- nização das forças produtivas no campo. Porém, como nem uma coi- sa nem outra ocorre sem conflitos e agravamento das tensões sociais, apela-se, entre outros mecanismos, para a comunicação como uma maneira de remover obstáculos políticos e sociais que freiam a ação do capital. A comunicação via televisão — nesta perspectiva — deve reproduzir tanto conteúdos técnicos e ideológicos, quanto reproduzir uma estratégia de integração entre empresários rurais e o complexo
18
agropecuário, integração esta entendida como o ato de tornar os em- presários rurais parte integrante e mais ativa do processo de acumu- lação capitalista.
Produzido na cidade de São Paulo e veiculado para todo o Pais, a orientação do programa "Globo Rural" está concentrada no que é caracterizado como telejornalismo de serviço, procurando prestar in- formações de ordem técnica, política ou econômica aos empresários rurais, tidos como audiência potencial do programa. Além disso, bus- ca a participação dos telespectadores na montagem do programa, através de uma seção de cartas,0 as quais são respondidas — após rigorosa seleção com base em critérios de interesse televisivo — por meio de matérias gravadas com o auxílio de técnicos ligados, princi- palmente, às instituições estatais de ensino, pesquisa e extensão em agropecuária.
Levado ao ar todas as manhãs de domingo — às 8hs —, o progra- ma tem de 45 a 50 minutos de duração, em média. Tecnicamente apre- senta diferenças importantes em relação a outros programas jorna- lísticos da televisão brasileira, por exemplo: o ritmo das mensagens, que é mais lento,7 pausado e ainda sem maiores sofisticações de lin- guagem. Outra diferença é o uso de microfones de lapela nas entre- vistas feitas pelos repórteres com produtores ou técnicos, o que re- sulta em maior desibinição e informalidade, permitindo ainda a capta- ção de sons ambientes. Quanto à montagem, esta é feita sem grandes cortes, apenas os necessários: de detalhe, ponto e contraponto.
No que se refere à pauta de assuntos abordados pelo programa, os enfoques vão desde problemas técnicos aos problemas humanos e culturais no campo. Manifestam-se, sensivelmente, preocupações de ordem ecológica.
Haja vista estas orientações, das quais decorrem conteúdos crí- ticos, oferecimento de mediações e tentativas de diálogo entre os jor- nalistas/apresentadores e o público rural telespectador, quer nos pa- recer que, no caso do programa "Globo Rural" — no que se refere à sua recepção — não se caracteriza um "monopólio da fala", expres- são criada por SODRÉ (1977)s para definir uma característica intrín- seca dos meios massivos. O que não significa — vale dizer — que a televisão, como um dos mais importantes componentes da chamada indústria cultural brasileira, não seja — no caso do "Globo Rural" — controlada pela burguesia e não exerça nenhuma influência sobre o meio rural.
Sobre esta questão, inclusive, diversos estudiosos críticos da co- municação, 9 com base em conceitos de comunicação enquanto ins- trumento/mercadoria de alienação, massificação ou enquanto expres- são/manifestação do Poder, denunciaram uma orientação "apocalípti- ca" dos meios de comunicação de massa, ou mais precisamente da indústria cultural nos países periféricos.
Mesmo que alguns destes estudiosos relativizassem esta "orienta- ção", lembrando a questão da contraditoriedade das manifestações do Poder,10 tais estudos superdimensionam a "articulação" entre a indús-
19
tria cultural e as classes dominantes, apontando um único e monolí- tico papel (para a referida "articulação"), qual seja o de dominação.
No nosso entendimento, mesmo reconhecendo que os meios mas- sivos de comunicação nas sociedades capitalistas assumem uma fun- ção de controle social, conforme acentua SODRÉ (1977:21); w e ainda reconhecendo o caráter unilateral da comunicação expressa pela in- dústria cultural, não nos é possível concordar inteiramente com BAU- DRILLARD (1977:202), i2 quando este afirma que "Os meios de co- municação coletiva são antimediadores, fabricam a não-comunicação como um intercâmbio, como um espaço recíproco de uma palavra e de uma resposta".
A televisão brasileira, no caso do programa "Globo Rural", não se pauta inteiramente pela "não-comunicação". O programa abre espa- ços para tentativas de diálogo, de integração entre os diversos com- ponentes do setor rural.
Este estudo de caso busca caracterizar esta "integração" articula- da pela indústria cultural brasileira.
A opção por um estudo de caso deveu-se, em primeiro lugar, a questões de ordem financeira, limitação esta que impediu a pretensão de se estabelecer uma amostra mais representativa dos produtores rurais do sul de Minas Gerais; em segundo lugar, às poucas referên- cias de estudos sobre televisão, principalmente no que diz respeito à recepção, no País,'3 razão esta que, apesar de motivadora, determi- na sensíveis dificuldades de ordem teórico-metodológicas.
Escolheu-se a região sul do estado de Minas Gerais por duas ra- zões: a primeira, porque é a região onde residimos, o que propiciou economia de gastos e tempo para entrevistar os componentes da amostra; a segunda, porque a região é uma das mais importantes do estado no que se refere à agropecuária, apresentando ainda caracterís- ticas semelhantes às de outros estados.
2. O ESTUDO DE CASO
2.1 Caracterização dos entrevistados
Os entrevistados — um total de 66 — compuseram duas amostras distintas, as quais denominamos amostra n.0 1 e amostra n.0 2, for- madas por 30 e 36 pessoas, respectivamente. Em sua maioria do sexo masculino — 88% —, os entrevistados apresentavam idade média de 44 anos e, no que se refere ao grau de escolaridade, 33,4% tinham cur- sado primário completo até ginasial incompleto; 28,8%, ginasial com- pleto até colegial incompleto; 18,2% eram analfabetos ou não tinham completado o curso primário; e, finalmente, 19,7% tinham concluído curso superior. Cumpre-nos observar que, dos 14 entrevistados analfa- betos ou com curso primário incompleto, 13 pertenciam à amostra n.0 2, na qual se encontravam todos os produtores familiares tradicio- nais.
Quanto à ocupação profissional principal, 43 entrevistados eram empresários ou produtores rurais; 6 eram comerciantes; e o restante
20
mecânico, engenheiro civil, dona-de-casa, professores de 1.° grau, mé- dico, industrial, funcionários públicos etc. Entre os que declararam pelo menos uma atividade secundária, a de empresário ou produtor rural foi indicada por 10 dos entrevistados. Assim, 53 das 66 pessoas entrevistadas dedicavam-se, como ocupação profissional ou secundária, à agropecuária.
O conjunto de jornais e revistas declarados como de leitura fre- qüente pelos componentes das amostras 1 e 2 é, no mínimo, surpre- endente. Desde os maiores jornais do País, revistas especializadas ou ou de conteúdo geral, até publicações internacionais, por exemplo Times, Newsweek, The Economist, Forbes, Jersey Journal, Jersey at Home. Em números, 21 se declararam leitores do jornal O Es- tado de S. Paulo; 11 eram leitores de Veja; 7, da revista Dirigente Rural; 6, de jornais locais. Outros periódicos, especializados em agropecuária, por exemplo A Granja, Jornal da Emater e Jornal Agroceres, foram citados por 3 até 4 dos entrevistados.
Quanto ao rádio, as emissoras citadas como de audiência fre- qüente foram: Rádio Record-São Paulo, 16 ouvintes; Rádio Apareci- da-São Paulo, 5 ouvintes; Rádio Globo-São Paulo, 4 ouvintes.
Quadro 1 — Ocupação profissional dos entrevistados
Amostro Amostro rotoi Ocupação n." 1 n.' 2
Principal
— Produtor/empresário rural 10 33 43
— Puno. administrativo 1 — 1
— Comerciante 4 2 6
— Mecânico 1 — 1
— Engenheiro 2 — 2
— Puncionárlo público 2 — 2
— Professor/l." grau 1 — 1 3 — 3
— Estudante 4 — 4
— Médico — 1 1
— Aposentado 2 — 2
Total 30 36 66
Secundária *
— Produtor/empresário rural 7 3 10
— Aposentado 3 — 3 2 — Comerciante — 2
— Industrial 2 — 2
— Diretor de cooperativa — 2 2
Total 12 7 19
•n 4ue declararam pelo menos uma atividade secundária.
21
Entre as emissoras de televisão declaradas como de audiência freqüente, a TV Globo-Juiz de Fora foi indicada por 60 dos 66 entre- vistados. Em segundo lugar, a TV Record-São Paulo foi indicada por 31 dos entrevistados; a Bandeirantes-São Paulo aparece em ter- ceiro, com 14 indicações. Por último, a TV Cultura-São Paulo e a TV Manchete-Rio de Janeiro, com uma indicação cada.
Cumpre-nos lembrar que a caracterização aqui apresentada refe- re-se à totalidade dos componentes das duas amostras, e que a amos- tra n ° 1 — selecionada através de cartas enviadas à ESAL — é com- posta de 30 entrevistados, dos quais apenas 17 declararam como ocupação profissional ou secundária a de empresário ou produtor rural. Em contrapartida, na amostra n.» 2, os 36 entrevistados eram ligados à agropecuária como ocupação principal (33), ou secundá- ria, 3.
2.2 Unidades agropecuárias, empresários e produtores rurais
Dos 66 entrevistados, 53 — 17 na amostra n ° 1 e os 36 da amos- tra n.o 2 — dedicavam-se à agropecuária. Destes, 6 eram proprietá- rios, 4 utilizavam terras de propriedade da família, 2 eram arrenda- tários e 1 era meeiro.
Quadro 2 — Renda obtida com a atividade agropecuária X renda total
A renda obtida com a atividade agropecuária representa: (A + A„)
Renda total — 28
Metade da renda total — 2
Mais da metade — 11 (95% (1) 90% (2) 80% (3) 75% (1) 70% (D) (65% (1) 60% (2))
Menos da metade — 12 (40% (2) 30% (5) 20% (3) 10% (2))
Com base em uma série de critérios, tais como uso de mão-de- -obra, participação no mercado, especialização na produção, uso de crédito agrícola e utilização de tecnologias modernas etc, os entre- vistados foram enquadrados na seguinte tipologia:
Amostra n." 1 Amostra n." 2 Total
Empresários rurais 14 14 28 Produtores familiares capitalizados 3 6 9 Produtores familiares tradicionais — 16 16
O maior número de empresários rurais — 28 no total — explica o fato da área média ocupada pelas unidades agropecuárias de pro- priedade dos entrevistados — 249,2 hectares na amostra n ° 1 e 293,9
22
hectares na amostra n.0 2 — estar incluída no grupo de área de 100 a 500 hectares que, segundo o Censo Agropecuário de 1980 (SEPLAN/ FIBGE), representa apenas 10,67% do total de estabelecimentos da re- gião sul de Minas Gerais.
Por outro lado, os 16 entrevistados que identificamos como pro- dutores familiares tradicionais detinham uma área média de terras em torno de 16 hectares, o que os enquadra no grupo de área de 10 a 50 hectares que, segundo o Censo Agropecuário de 1980 (SEPLAN/ FIBGE), constitui 40,380/o dos estabelecimentos rurais da região.
O maior número de empresários rurais entre os entrevistados ex- plica ainda o fato da média de renda bruta anual declarada alcançar 144 salários mínimos. Todavia, na amostra n.0 2, onde se incluem todos os produtores familiares tradicionais, a renda média declara- da foi de 100 salários mínimos.
Cumpre-nos esclarecer ainda que, dos 53 empresários e produ- tores rurais, 10 declararam como ocupação principal outras ativida- des. Por conseguinte, no quesito sobre renda anual incluíam-se para estes 10 entrevistados outros rendimentos, além dos advindos com a atividade rural.14
Em relação à produção agropecuária das propriedades rurais amostradas, as culturas/atividades de maior importância eram as se- guintes:
a) Leite — 25 produtores, ocupando 4.729 hectares, declararam uma produção total de 3.002 litros/ano, entregues a cooperativas, in- dústrias e até mesmo diretamente a consumidores;
b) Café — 21 produtores, ocupando 1.593 hectares, declararam uma produção total de 32.032 sacas de 60 kg/ano, comercializadas atra- vés de cooperativas e intermediários;
c) Milho — 25 produtores, ocupando 669,5 hectares, declararam uma produção total de 1.515 toneladas, consumidas nas propriedades ou vendidas a intermediários;
d) Arroz — 17 produtores, ocupando 194,7 hectares, declararam uma produção total de 480 toneladas/ano, comercializadas através de cooperativas e/ou intermediários.
A mão-de-obra utilizada pelos entrevistados nas unidades agrope- cuárias era a seguinte:
Número proprietários
Assalariados permanentes e/ou assalariados temporários 21 Assalariados permanentes e/ou temporários mais parceiros 5 Assalariados permanentes e/ou temporários mais mão-de- -obra familiar 7 Apenas mão-de-obra familiar 20
No ano agrícola 1982/83, 43 dos 53 empresários e produtores ru- rais se valeram de crédito agrícola para custeio de suas atividades
23
O Banco do Brasil foi a fonte de recursos para 33 deles. Em segun- do lugar veio o Banco Itaú, utilizado por 5 dos entrevistados.
Dos 10 que não utilizaram crédito agrícola em 1982/83, 5 infor- maram nunca ter usado crédito bancário para custeio de atividades agrícolas.
Em anos anteriores, apenas 40 dos entrevistados eram usuários de crédito agrícola. Nota-se, deste modo, que ocorreu um pequeno crescimento no número de usuários de crédito agrícola no período 1982/83.
Todos os 53 entrevistados utilizavam adubo químico — de 17 marcas diferentes, com destaque para as marcas Trevo, Copas, Manah e Fertibrás, na ordem indicada — em suas culturas; 32 faziam uso de herbicidas — de 11 marcas diferentes, das quais Randap e Gramoxone foram as mais citadas; 17 utilizavam fungicidas e/ou inseticidas para combater pragas e doenças das plantas que cultivavam; todos os 25 que produziam milho adquiriram sementes melhoradas, de 11 mar- cas diferentes, dentre as quais a marca Agroceres foi a escolhida por nada menos que 24 produtores. Em segundo lugar, a marca Cargül, escolhida por 9 produtores.''■
No que se refere à mecanização, 20 dos 28 empresários rurais dis- punham de tratores em suas propriedades, enquanto apenas 2 dos 9 produtores familiares capitalizados e nenhum dos produtores fami- liares tradicionais dispunham deste tipo de equipamento. O número de tratores existentes em cada propriedade variava de 1 a 18, soman- do um total de 69 unidades para 24 propriedades. Entre as marcas de tratores encontradas — de 8 diferentes fabricantes —, os da mar- ca Massey-Ferguson representavam mais da metade, nada menos que 39 unidades entre o total de 69.
Oitenta e nove por cento das propriedades rurais dispunham — por ocasião das entrevistas — de energia elétrica adquirida — em sua grande maioria — de empresas energéticas estatais.,,!
Aparelhos de televisão e aparelhos de rádio se faziam presentes, igualmente, em 710/o das casas-sede das propriedades rurais de ambas as amostras. Na micro-região da Alta Mantiqueira, município de Ita- jubá, numa das comunidades rurais visitadas o "Comitê Rural" — uma associação local de produtores rurais — dispunha, em sua sede, de um aparelho de televisão para uso de toda a comunidade.
3. O CASO DO PROGRAMA "GLOBO RURAL"
3.1 Informações obtidas
A primeira constatação, feita desde o início da série de entre- vistas, é a de que a hegemonia de audiência da Rede Globo de Te- levisão não é apenas um dado estatístico, e sim uma realidade in- questionável. E não apenas no meio urbano; no meio rural tam- bém, com a mesma intensidade. À menção de que gostaríamos de conversar com os entrevistados-amostrados acerca do programa "Glo- bo Rural", aqueles, de pronto, declaravam que assistiam ao progra- ma e ressaltavam o fato da Rede Globo, enfim, ter aberto espaço/tem-
24
Amostra n." 1 Amostra n.oz Total geral
N." entre- % vistados
N.' entre- vistados
% N." entre- '/o vistados
11 36,7 14 46,7
3 10,0 1 3,3 1 3,3
5 11
8 3 5
13,9 30,5 22,2 8,3
13,9
16 24,2 25 37,9 11 16,7 4 6,1 6 9,0
Quadro 3 — Programa "Globo Rural" — freqüência de audiência *
Freqüência
Assiste a todos os programas Assiste a 2/3 programas/mês Assiste a 1 programa/mês Assiste raramente Não assiste, mas já assistiu Nunca assistiu 4 11,2 4 6,1
Totais 30 100,0 36 100,0 66 100,0
* Todos os entrevistados, inclusive os que não são empresários ou produtores rurais.
po para um programa voltado para o meio rural. O fato de 89,80/o dos entrevistados da amostra número 2 já terem assistido pelo me- nos uma vez ao programa dá a dimensão do fato.
Comprovou-se ainda que a maioria — 60% — dos entrevistados mantém uma alta freqüência de audiência, só deixando de assistir aos programas por razões alheias à sua vontade (visitas, missas, tra- balho imprevisto etc). O que comprova, além do acerto na escolha do dia e hora de exibição do programa, uma busca permanente, por parte dos telespectadores, de informações ou matérias do seu inte- resse específico.
Oitenta e nove por cento das casas-sede das propriedades rurais visitadas dispõe de energia elétrica própria ou fornecida por empre- sas de eletricidade. Aparelhos de televisão se fazem presentes em 71% das casas-sede; em igual proporção aparelhos de rádio. A audiên- cia do programa "Globo Rural", todavia, alcança índices maiores que os relativos à existência de energia elétrica ou aparelhos de televisão nos domicílios, atingindo, na amostra n." 2 — composta por produto- res residentes no meio rural — 89,8%. O fato é explicado pela exis- tência de aparelho de televisão na sede do "Comitê Rural" de uma das comunidades, mais precisamente no município de Itajubá, e, em outros casos, pela dupla residência (urbana e rural) de alguns dos entrevistados.
Interrogados a respeito das razões que os motivaram a assistir ao programa, 80% dos entrevistados ficaram divididos — igualmen- te — entre: porque é "interessante" (apresentando cenas rurais e "novidades") e porque é "informativo" (informando sobre técnicas, preços, tecnologias etc). Os restantes — 20% — não apresentaram nenhuma razão, a não ser um simples "porque gosto".
Quanto às razões de não-audiência freqüente, um dos entrevista- dos alegou a "hora imprópria", horário de cuidar de suas atividades, por exemplo: "tirar o leite das vacas".
25
A lembrança de reportagens ou matérias exibidas pelo programa em questão, nas amostras 1 e 2, constitui uma informação surpre- endente, considerando-se os índices de audiência e "elogios" ao "Glo- bo Rural". Dos 62 entrevistados que declararam assistir ao programa, 16 não foram capazes de lembrar sequer uma matéria/reportagem vista. Cerca de 40% dos entrevistados lembraram mais de uma maté- ria apresentada; o restante, apenas uma. Considerando-se as razões declaradas como motivadoras de audiência do programa "interes- sante" ou "informativo", as matérias/reportagens com maior índice de lembranças foram aquelas que poderiam ser caracterizadas mais como "interessantes" que "informativas", ao abordarem questões eco- lógicas, cenários selvagens, fatos inusitados ou problemas/fenômenos da natureza. As matérias mais lembradas apresentadas pelo progra- ma foram: 1) sobre o Pantanal do Mato Grosso/matança de jacarés — 10 menções; 2) sobre o parto de uma égua/nascimento do potri- nho "Vagalume" — 8 menções; 3) série de reportagens sobre o "Bi- cudo"/praga surgida nas plantações de algodão no estado de São Paulo — 6 menções; 4) programa especial sobre a cultura do mi- lho/recomendações — 4 menções; 5) série sobre a seca no Nordes- te/problemas de irrigação — 4 menções; 6) série sobre enchentes no sul do País — 3 menções; 7) a mula que deu cria/fenômeno gené- tico — 3 menções. Entre diversas outras mencionadas duas ou uma vez, o número das que podem ser consideradas como "curiosida- des" é maior do que as chamadas técnico/informativas. Exemplos: criação de cobras ou ostras, abate de jericos etc.
Percebe-se, através das respostas obtidas, que a comunicação ele- trônica, via televisão, junto aos entrevistados está agindo mais in- tensamente quando trabalha com a emoção, o factual, o inusitado, isto no sentido de memorização, retenção. No entanto, 60% dos en- trevistados declararam ter se valido, ou utilizado, de informações veiculadas pelo "Globo Rural", entrando em contato com entidades, tais como: ESAL, EMATER, EMBRAPA e outras. Oitenta por cento dos entrevistados as desconhecia até 1980.
3.2 Instituições estatais, órgãos e empresas
Não é surpreendente o fato de que por causa de referências e/ou indicações feitas durante o programa "Globo Rural" — órgãos e em- presas estatais ligadas ao setor rural recebessem uma verdadeira ava- lanche de cartas de produtores rurais de todo o País, interessados em maiores informações/detalhes sobre técnicas/recomendações fei- tas via televisão.17 No caso específico dos entrevistados deste traba- lho, além das 30 cartas enviadas à ESAL pelos componentes da amos- tra n.0 1, foram enviadas ainda cartas-consulta (múltiplas) para os seguintes órgãos/empresas: EMBRAPA (13), EMATER-MG (6), IAC (4), UFV (4), EMATER-SC (2), BINAGRI (1), SUDEPE (1), Instituto Cândido Tostes (1), IBDF (1), IAA (1), EMBRATER (De CATI (1).
Ê importante notar que a grande maioria — 80% — não tinha feito nenhum contato, ou até mesmo desconhecia a existência destes órgãos/empresas — à exceção da EMATER-MG — até 1980.
26
Em decorrência do fato, tomando-se por base o caso estudado, a hipótese de que os empresários rurais por intermédio do progra- ma aumentaram seus contatos com as instituições estatais do com- plexo agropecuário no interesse de suas atividades, reforçando a atua- ção daquelas, fica confirmada. Mesmo porque, na opinião de 85% dos entrevistados, a televisão não supre sua necessidade de informação técnica, ressalvando a necessidade de orientação específica, direta; ou, o programa filtra os assuntos, não os explorando por inteiro. E ainda, na opinião da maioria dos entrevistados — 72% —, a TV não poderia substituir as outras fontes de informação agrícola exis- tentes para o homem do campo. As principais razões listadas pelos produtores foram as seguintes: a) "a palavra na TV é muito cara, muito ligeira. A agropecuária precisa de minúcias, detalhes. Vale ape- nas como uma chamada de atenção para os fatos"; b) "seria fabulo- so, mas a TV não faria isso, porque o seu negócio é comercial, é ven- der"; c) "os grandes produtores dão importância maior aos trabalhos publicados. Se se perde a hora do programa, não há informação. Um não elimina o outro, mas a informação via TV não se pode arquivar, como a do livro, revista ou jornal, para ser utilizada na época certa".
Os que consideraram que a TV poderia substituir as outras fon- tes de informação — 14 entrevistados — alegam principalmente que, com maior duração, periodicidade e participação dos produtores (através de perguntas), o programa poderia substituir as outras fon- tes de informação para o homem do campo, pois é bem feito e está presente na maioria dos lares rurais.
A afirmação inicial de que a hegemonia de audiência da Eede Glo- bo é uma realidade inquestionável reforça-se na constatação de que apenas 16 entrevistados conhecem outro programa de televisão vol- tado para o meio rural, quando na região são captados os programas "Jornal da Terra" (TV Bandeirantes) e "Diálogo Agropecuário" (TV Record), assistidos raramente, conforme declararam.
Foi solicitado ainda, a cada um dos entrevistados, que respondes- sem se sabiam o que era e o que fazia uma série de 37 empre- sas/órgãos/instituições ligados à agropecuária, fornecedores e/ou res- ponsáveis por ensino, pesquisa, assistência técnica, comercialização, produção e/ou venda de insumos e tecnologias para agropecuária, compra de produtos agropecuários para revenda e/ou industrialização, armazenagem, sanidade de rebanhos, reflorestamento etc. Em sínte- se, uma série de órgãos e empresas que compõem uma amostra do que convencionamos chamar de complexo agropecuário.
Considerou-se como correta a resposta que indicasse exatamente a atribuição ou objetivo do órgão/empresa cujo nome lhes fosse apre- sentado. Apenas 17 dos órgãos/empresas obtiveram identificação, atri- buição/objetivos respondidos corretamente por mais de 50% dos en- trevistados. Dos 17, 8 eram empresas/órgãos estatais (Emater, Incra, IBC, Camig, Proagro, IEP, Provárzeas e IBDP), de um total dp 20 ór- gãos públicos ligados à agropecuária, apresentados aos entrevistados. Os outros 12 órgãos — identificados por menos de 50% dos entrevis- tados — foram: Esal, Embrapa, Embrater, Ceasa-MG, lesa, UPV, IAC,
27
Quadro 4 — O complexo agropecuário — Sabe o que é e o que faz?
Entidades/empresas Amostra Amostra Total '/o listadas n.9l n.'2
Esal 17 13 30 45,4 Embrapa 15 9 24 36,4
Emater 21 35 56 84,8
Embrater 4 1 5 7,6
IBC 20 17 37 56,0
INCRA 17 22 39 59,1
CFP 3 4 7 10,6
Ceasa 16 12 28 42,4
Camig 22 28 50 75,7
lesa 14 12 26 39,4
Provárzeas 20 22 42 63,6
Proagro 13 27 40 60,6
UFV 14 6 20 30,3
Nestlé 24 14 38 57,6
Bayer 26 28 54 81,8
Manah 27 34 61 92,4
Agroceres 24 35 59 89,4
Cargill 23 32 55 83,3
Cica 14 24 38 57,6
LPC 17 10 27 40,9
IAC 11 8 19 28,8
ICI 7 5 12 18,2
Cacex 12 8 20 30,3
Epamig 9 7 16 24,2
IAA 14 7 21 31,8
Monte Belo 10 22 32 48,5
Campbeirs 3 2 5 7,6
Cibrazem 10 6 16 24,2
IEF 21 12 33 50,0
IBDF 19 26 45 68,2
Ciba-Geigy 20 15 35 53,0
Anderson Clayton 10 7 17 25,7
Ceagesp 14 11 25 37,8
Coopercotia 11 23 34 51,5
ANPL — 1 1 1.5
Pfizer 18 12 30 45,4
Shell 23 30 53 80,3
Cacex, Epamig, Cibrazem e Ceagesp. Por outro lado, de 16 empresas que fabricam ou comercializam insumos para a agropecuária, ou que adquirem produtos agrícolas, 9 foram identificadas corretamente por mais de 50% dos entrevistados, com Índices médios de 85% (Nestlé, Bayer, Manah, Agroceres, Cargill, Cica, Ciba-Geigy, Shell e Cooperco-
28
tia). Embora não se possa afirmar, no caso destas empresas, que a identificação correta se deveu a uma presença publicitária no progra- ma "Globo Rural", pode-se intuir que tenha havido pelo menos um reforço à fixação de marca destas empresas, via TV, o que explica, em parte, o alto índice de identificação, superior ao dos órgãos/em- presas publicas que atuam junto ao produtor rural.
4 COMENTÁRIOS E ANALISES
Os componentes do complexo agropecuário tiveram efetiva parti- cipação no "Globo Rural", no período 1980/1985, seja como fontes de informação e/ou orientação para matérias apresentadas pelo progra- ma, ou como patrocinadores e/ou anunciantes.
Quadro 5 — Patrocinadores do programa "Globo Rural" (1980/1984)
Empresa Produto principal
Ford Brasil Tratores Bayer Produtos veterinários ICI do Brasil Produtos químicos e defensivos Cobal Revenda Bamerindus Crédito Penha Máquinas agrícolas Itap Adubos Irmãos Nogueira Máquinas agrícolas Agroceres Sementes Manah Adubos Dantas Equipamentos para irrigação Texaco-Ursa Óleos lubrificantes Dorsay - Kaloplast Curativos Motoserra Sthill — Valmet Tratores Pfizer Produtos veterinários Banco do Brasil Crédito
Fonte: Rede Globo de Televisão — São Paulo/Departamento de Marketing.
As respostas obtidas sobre conhecimento ou não das atribuições e objetivos de cada um dos componentes do citado complexo, bem como sobre os contatos mantidos com instituições estatais integran- tes — através de cartas —, indicam que o programa "Globo Rural" atua no sentido de constituir um elemento de integração do empre- sariado rural com o complexo agropecuário.
Isto é conseguido com a articulação de conteúdos técnicos oriun- dos das instituições estatais de pesquisa, ensino e extensão em agro-
29
pecuária, exibidos pelo programa. Tais conteúdos, além do objetivo de servir de orientação para os produtores melhorarem seu desem- penho agropecuário, interessam ainda sobremaneira às empresas que atuam como fornecedoras de insumos, máquinas e equipamentos pa- ra o setor rural, pois que a melhoria do desempenho dos produto- res está ligada diretamente ao uso de modernas tecnologias de pro- dução calcadas na utilização intensiva de adubos, defensivos, máqui- nas, implementos etc. Por outro lado, os empresários e produtores rurais — como já foi observado — não dispunham de um meio de "comunicação" sistematizado, abrangendo todo o tipo de informações que eles necessitam rotineiramente, com uma freqüência estável. Dis- tribuídas por diversos meios e instâncias, as informações não cons- tituíam um sistema organizado, um "pacote", diluídas que estavam em programas e ações de "comunicação rural" isoladas entre si.
Deste modo, o programa "Globo Rural", estruturado como um painel sistemático e abrangente do complexo agropecuário, fornecen- do aos empresários rurais informações de ordem agronômica, me- teorológica, ecológica, política, econômica etc, e "de quebra" informações comerciais sobre insumos, produtos, máquinas, imple- mentos etc, cumprindo ainda um papel de intermediário entre as fontes de origem destas informações e aqueles, constitui — como fi- cou evidenciado no caso estudado — importante elemento de inte- gração do empresariado rural com o complexo agropecuário.
A integração a que nos referimos define-se como a incorporação do empresariado rural — antes até certo ponto "marginalizado", de- sinformado — ao complexo agropecuário, para uma atuação conjun- ta, reforçando, assim, a penetração do modo capitalista no campo.
Como meio hegemônico da indústria cultural brasileira, a televi- são cumpre este papel de intermediária na citada integração como simples interessada em ampliar sua hegemonia publicitária junto ao complexo agropecuário, enquanto mercado de anunciantes que sus- tentam seu lucro. Igualmente, o interesse pelos empresários e pro- dutores rurais existe apenas por serem consumidores capazes de adquirir os produtos, cuja publicidade constitui o faturamento/lucro que movimenta suas "engrenagens" industriais.
De um lado desta integração se situa o complexo agropecuário, constituído pelo Estado — com todo o seu aparato agropecuário — e por empresas produtoras de insumos, implementos e máquinas, ou processadoras e/ou comercializadoras de produtos agrícolas. O Esta- do procura — através do programa "Globo Rural" — reforçar suas ações intervencionistas em favor da modernização da agropecuária nacional, fator condicionante para a consolidação do sistema capita- lista vigente.
Do outro lado encontram-se os empresários e produtores rurais, interessados apenas no "serviço" que a televisão pode lhes prestar, dotando-os de informações (sobre preços, técnicas, medidas políti- co/econômicas, novos processos, produtos ou serviços etc), através de um programa específico, no caso o "Globo Rural".
30
TAVOLA (1984:128),8 sustenta que "A televisão de mercado po- de realizar uma forma de serviço pedagógico, ao dotar o cidadão de um nível de informação e de um índice de curiosidade conducentes à pesquisa, ao estudo, à busca de maiores informações".
Esse "serviço", a que se refere TAVOLA, no caso do programa "Globo Rural", na região sul de Minas Gerais, junto ao grupo de em- presários e produtores rurais amostrados, acontece efetivamente. Po- de-se comprovar o fato pelas razões declaradas como motivadoras da audiência do programa — que revelam uma busca curiosa e per- manente de informações úteis — e, ainda os contatos mantidos — através de cartas — com instituições estatais do complexo agrope- cuário, em busca de maiores informações sobre técnicas ou medidas recomendadas via "Globo Rural".
Os depoimentos seguintes ilustram bem a referida comprovação:
— "Assisto por interesse em saber se o que estou fazendo está certo ou errado, tanto na lavoura quanto no gado. Se preciso mudar al- guma coisa."
— "Assisto para aprender coisas novas, pesquisas e informações." — "Vejo sempre para saber tudo quanto é notícia: preços, doenças das
plantas e criações. Como se deve fazer, combater." — "Porque explica coisas modernas, o que acontece no estado e nos
outros. Máquinas novas, o que os técnicos estão estudando." — "O programa é atraente em si. As reportagens focalizam assuntos
do interesse de todos, ruralistas ou não. Além disso, o serviço de orientação em conjunto com órgãos/entidades é um grande au- xilio."
— "Pelo 'Globo Rural' acompanho o mercado, a produção de cereais, formas de produção."
— "Por causa das informações técnicas e endereços que fornecem." — "Porque acho muito bom ver gado e plantações na televisão. É o
meu ramo. E é bem feito, boas orientações, informa o preço das coisas, acompanha tudo de agricultura e pecuária."
— "Porque os repórteres vão nas lavouras, vêem o problema e logo procuram um técnico para dar uma solução."
— "Porque é instrutivo. Mostra o real na prática. E é variado." — "Orientação certa. Interessam em ensinar, fazem esforço para dar
uma idéia."
E este "serviço" — de intermediação entre empresários rurais e o complexo agropecuário — estimula o diálogo — a nível macro — entre os componentes do setor rural, com conseqüentes resultados po sitivos para todos os envolvidos.
No caso dos entrevistados, estes resultados positivos configuram- -se através: de recomendações e/ou orientações obtidas — e aplica- das com sucesso — das instituições estatais do complexo agropecuá- rio, muitas das quais desconhecidas até 1980; de um nível maior de conhecimento das atribuições e/ou objetivos dos vários órgãos/ empresas estatais responsáveis pela agropecuária; e, ainda, a siste- matização de um canal de informações permanente sobre preços dos
31
produtos agrícolas, medidas governamentais e, até mesmo, sobre "problemas", "crises" e outras questões agrícolas apresentadas pelo programa que, afinal de contas, mesmo na condição de veículo do "sistema", precisa, constantemente, se colocar na função de quem está denunciando as "mazelas" sociais, para não se distanciar em demasia da realidade rural brasileira.
NOTAS
1. A televisão brasileira deteve em 1980 57,8% do volume das verbas publicitárias no País (revista Meio e Mensagem, junho 1981 :31 e revista Propaganda, 26 julho/agosto, 1981 : 4).
2. "Em plena era tecnológica o homem rural era lembrado apenas quando as emissoras nacionais estavam interessadas em faturar com pro- gramas 'caipiras', de fundo de auditório" (Visão, 26 de maio de 1980 : 51).
3. A Escola Superior de Agricultura de Lavras recebeu, apenas no ano de 1980, cerca de 28 mil cartas de todo o País, solicitando maiores informa- ções a respeito de reportagens feitas pelo programa com professores da instituição.
4. Segundo Juan Diaz Bordenave (revista Agricultura de Hoje, maio/ju- nho 1982 :32) referindo-se aos programas governamentais de comunicação rural, "O que existe não é um sistema, mas uma série de unidades de co- municação bastante incomunicadas entre si, com a conseqüência de que se difundem às vezes mensagens contraditórias que confundem a opinião publica e não contribuem para aliviar as incertezas dos produtores rurais".
5. Segundo Maria da Glória Lopes, em artigo publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo, de 10 de janeiro de 1982, "Quando o governo de João Figueiredo passou a dar ênfase ao setor rural, os homens da Rede Globo logo perceberam a fonte para um novo programa. "De olho nos anunciantes que surgiriam dessa política 'rural' — as indústrias ligadas à agropecuária — a Globo criou o 'Globo Rural' ".
6. O "Globo Rural" é o ünico programa da televisão brasileira que apresenta uma seção de cartas com respostas via o próprio programa, e ainda o único que fornece seu endereço, razão pela qual, segundo seus editores, a redação recebe até mesmo cartas dirigidas a outros programas da rede.
7. Cada linha de texto do programa é lida em 2 segundos e meio, enquanto em outros programas jornalísticos o tempo de leitura da mesma linha é de no máximo 2 segundos.
8. Muniz Sodré, O monopólio da fala: função e linguagem da televisão no Brasil, 2. ed., Petrópolis, Vozes, 1977.
9. Entre os quais podemos citar H. Sciller e A. Matellart. 10. É o caso de Muniz Sodré, op. cit., p. 21. 11. Idem, ibidem. 12. Jean Baudrilland, Critica de Ia economia politica dei vigno México
Siglo XXI, 1977, p. 202. 13. A rigor, podem ser citados apenas dois trabalhos: o primeiro, de
Luiz Augusto Milanesí, Paraíso via Embratel — o processo de integração de uma cidade do interior paulista na sociedade de consumo; o segundo de Carlos Eduardo Lins da Silva, Muito Além do Jardim Botânico — um estudo sobre a audiência do Jornal Nacional da Globo entre trabalhadores.
32
14. Ver quadros 1 e 2. 15. A maioria dos produtores plantava de 2 até 3 marcas diferentes de se-
mentes de milho. 16. O índice de 89% é inferior ao indicado pela EMATER-MG para a região
sul do estado de Minas Gerais, que é de 92,30% (Informativo CPLAN/EMA- TER-MG, Belo Horizonte, 2/7/1984).
17. Um dos casos mais ilustrativos é o da EMATER-MG, que recebeu mais de trinta mil cartas de todo o País solicitando receitas culinárias à base de mandioca.
18. Arthur da Távola, A liberdade do ver — televisão em leitura critica. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984, p. 128.
33
O novo perfil da comunicação rural brasileira
Wilson da Costa Bueno *
A avaliação do ensino e da pesquisa em comunicação rural no Brasil deve levar em conta a própria situação da agricultura nacional, caracterizada por crises sucessivas, decorrentes da ausência de uma política agrícola e de condições estruturais que remontam a séculos. Entre estas, sobressaem-se a concentração da posse da terra, a mise- rabilidade progressiva do homem do campo, a baixa produtividade e a prevalência das monoculturas e das grandes culturas de expor- tação.
Além disso, devem ser mencionadas a interferência estatal, a pre- sença das multinacionais em setores específicos e até há pouco tem- po a incipiente e tímida atuação dos meios de comunicação de mas- sa, sobretudo os eletrônicos, na área.
Neste contexto, o ensino e a pesquisa em comunicação rural fi- caram, durante longo tempo, historicamente atrelados a propostas unilaterais, respaldadas nos conceitos e nas práticas de extensão ru- ral e de difusão de inovações. Assim, os primeiros esforços de siste- matizar teorias e de propor estratégias nesta área estiveram vincula- dos seja a organismos governamentais (com destaque às empresas es- taduais de extensão rural e mais recentemente à Embrater), seja a escolas e cursos de agronomia (sobretudo a Escola Superior de Agri- cultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba, e a Universidade Federal de Viçosa).1
Algumas características marcam os primeiros trabalhos brasilei- ros que envolvem, de forma direta e indireta, a problemática da co- municação rural. Elas podem ser resumidas nas seguintes:
* Jornalista e professor responsável pela linha de pesquisa em Comuni- cação Rural do Instituto Metodista de Ensino Superior — IMS e da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo — USP.
34
A COMUNICAÇÃO VISTA COMO INSTRUMENTO E NÃO COMO PROCESSO
A maioria dos primeiros trabalhos produzidos no Brasil nos cur- sos de agronomia via a comunicação como um mero instrumento, isto é, confundia um processo complexo de emissão e recepção de mensagens com a mera transmissão de informações e, muitas vezes, chegava mesmo a reduzir a comunicação a atividade de veículos ou canais.
Na verdade, utilizava inadequadamente o conceito de comunica- ção, que pressupõe interação entre emissor e receptor, para designar o endereçamento unilateral de informações ao agricultor. Certamen- te, pensava a comunicação como extensão, repetindo a velha fórmula da tradicional educação brasileira que vislumbrava o educando como objeto e não como agente do processo pedagógico.
A insistência em considerar a extensão como conceito básico a ser observado na relação entre agências de fomento, pesquisadores, governo ou empresas e o agricultor acabou inspirando o mestre Paulo Freire que, em reação, lança o trabalho clássico exatamente sob o titulo Extensão ou comunicação?* Nele, o notável pedagogo brasi- leiro questiona a visão autoritária implícita no processo de extensão e defende o exercício pleno da comunicação, vista como prática li- bertária.
A ADOÇÃO DE UMA POSTURA ACRÍTICA E INGÊNUA
A maior parte dos trabalhos gerados inicialmente nas escolas de agronomia não assumia o conteüdo político e ideológico presente em qualquer processo de comunicação. Basicamente, limitava-se a suge- rir mecanismos eficazes para persuadir os agricultores a adotarem inovações importadas de centros desenvolvidos.
Na prática, consistia em aplicações do modelo difusionista, de inspiração norte-americana, calcado na visão apolítica da sociedade, e que se apoiava na tese, bastante discutível, de que, para retirar as nações do Terceiro Mundo do estágio "atrasado" em que se en- contram, bastava transferir-lhes soluções encontradas nos países he- gemônicos.
O modelo partia de noções maniqueístas como as de inovadores e retardatários para tipificar os agricultores mais ou menos resis- tentes às inovações, e propunha o uso da comunicação (e dos líderes de opinião!) para romper esta resistência.
Inúmeros pesquisadores brasileiros assumiram integralmente este modelo e produziram trabalhos com o objetivo de comprovar sua eficácia para o caso brasileiro.
Seus trabalhos não incluíam a discussão, essencialmente política, sobre o destino — inexorável segundo os teóricos do modelo difu- sionista — das nações subdesenvolvidas e, sobretudo, não percebiam a necessidade de questionar a validade de resultados obtidos em rea- lidades tão distintas da nossa.
35
Partiam assim, por mais contraditória que possa parecer esta afirmação, de premissas de caráter politico-ideológico e conceituai, sem questionamento, e, com isso, durante longo tempo, a prática de comunicação, nestes trabalhos, não passou de mera atividade de ex- tensão e de dominação.
A reação empreendida em outras áreas de conhecimento, como a sociologia rural, que, apoiada nas correntes européia e notadamen- te na latino-americana, passou a denunciar a rigidez e a parcialidade do modelo proposto por Everett Rogers, não tingiu, de imediato, os trabalhos das escolas de agronomia que abrangiam a problemática da comunicação.3
POBREZA TEMÁTICA
Em geral, os primeiros trabalhos que enfocavam a comunicação caracterizavam-se pela pobreza temática, isto é, quase sempre consti- tuíam estudos de casos de difusão de inovações.
Desta forma, a sua contribuição à área foi muito pequena, por- que, na prática, eles representavam meras repetições de projetos de investigação realizados em outros centros, e apenas confirmavam hi- póteses exaustivamente enunciadas em dezenas de trabalhos.
Apenas a partir da metade da década de 70, podem ser identifi- cadas outras preocupações, com destaque às que já postulam a in- versão do processo de comunicação com os agricultores e defendem o modelo participativo.4 Mesmo assim, abordagens históricas, análises de veículos e publicações e uma visão integrada do processo de co- municação rural são ainda praticamente inexistentes.
RIGIDEZ METODOLÓGICA
A herança empírica norte-americana levou a maior parte dos tra- balhos iniciais a se utilizar de procedimentos quantitativos, mais es- pecificamente estatísticos, com total desprezo aos métodos qualitati- vos, certamente mais adequados ao desenvolvimento de uma postura crítica.
Com isso, também houve pouca contribuição no plano metodoló- gico, com o agravante de que, no caso brasileiro, muitas vezes o tra- tamento estatístico apoiou-se, ao contrário do que ocorria nos proje- tos internacionais, em amostras pouco representativas ou em critérios de amostragem sem dúvida discutível. Sobretudo face à ausência de estatísticas confiáveis e de dados que possibilitem a segmentação de populações, notadamente na área rural, algumas decisões foram to- madas sem o necessário rigor, com o comprometimento da aleatorie- dade e, em conseqüência, dos próprios resultados.
Em muitos casos fica a impressão de que alguns autores nada mais fizeram do que aplicar o modelo de Rogers, adaptando o pro- blema, isto é, o seu particular estudo de caso, à metodologia previa- mente definida.
36
PERSPECTIVA A-HISTÓRICA DA REALIDADE BRASILEIRA
Finalmente, como conseqüência das distorções anteriormente apontadas, os trabalhos sob análise evidenciavam um caráter a-histó- rico, quer dizer, ignoravam o contexto em que se situava a agricultu- ra brasileira, como a existência dos latifúndios, o poder político dos senhores de terras, e faziam vistas grossas ao monopólio dos meios de comunicação e sua estreita relação com o poder político e eco- nômico. Além disso, pareciam não enxergar o caráter particular do processo de modernização da agricultura, que privilegiava antes a me- canização acelerada e o consumo, às vezes abusivo, de insumos (adu- bos, fertilizantes, inseticidas etc), que o desenvolvimento integral do homem do campo.
A somatória destes trabalhos acaba compondo uma visão frag- mentada do meio rural, como se ele não se articulasse necessaria- mente com as demais atividades econômicas. Assim, são ignoradas, também, tendências importantes como o crescimento da agroindús- tria, a emergência de graves tensões sociais, fruto dos conflitos de terras, e a pauperização dos agricultores, transformados em formidá- veis contingentes de bóias-frias.
A consolidação dos cursos de comunicação, já a partir da segunda metade da década passada, e principalmente a implantação da pós- graduação, trouxeram novo impulso e o redimensionamento do en- sino e da pesquisa em comunicação rural no Brasil.
Inseridas no contexto da reação às teorias norte-americanas de comunicação, os cursos brasileiros foram pouco a pouco incorporan- do novos elementos à reflexão sobre o processo de comunicação em realidades em desenvolvimento.
Particularmente, esta postura crítica inspirou-se nos trabalhos de sociologia rural, que trouxeram à baila problemas anteriormente igno- rados, como a reforma agrária e a injustiça social, e mais recente- mente nos estudos que apontavam para a agressão ao meio ambiente, portanto de vocação ecológica.
Deve-se mencionar a inestimável contribuição do prof. Hiroshi Saito que, durante mais de uma década, estimulou o desenvolvimento de trabalhos na Escola de Comunicações e Artes da USP, a nível de graduação e de pós-graduação, que infelizmente não tiveram curso regular após o seu desaparecimento prematuro.
O prof. Hiroshi Saito acabou, através de seus inúmeros orientan- dos, muitos deles vinculados à docência em instituições de ensino, multiplicando disciplinas de comunicação rural em cursos de gradua- ção, com destaque à Fundação Universidade Estadual de Londrina que, tradicionalmente, realiza esforço no sentido de desenvolver a comunicação rural brasileira.
A Escola de Comunicações e Artes registra inúmeros trabalhos na área de comunicação rural, embora este número tenha declinado consideravelmente com o falecimento do prof. Hiroshi Saito. Só mais recentemente, o interesse pelo desenvolvimento de projetos que pri-
37
vilegiam a comunicação rural foi retomado e espera-se que novas contribuições surjam já no final desta década.5
A mais importante contribuição, nesta área, a nível de pós-gra- duação, está, no entanto, localizada no Instituto Metodista de En- sino Superior, de São Bernardo do Campo (SP), que há alguns anos mantém uma linha de pesquisa em comunicação rural, com um nú- mero significativo de trabalhos já concluídos.
Pode-se, simplificadamente, agrupar as dissertações de mestrado concluídas em quatro grandes áreas: 1) editoração; 2) veículos ru- rais; 3) agricultura e política; 4) difusão e comunicação rural.
1) Editoração
Dois trabalhos podem ser incluídos nesta área, destinada a ava- liar publicações encaminhadas a públicos específicos vinculados ao setor rural (produtores, extensionistas etc). O primeiro deles, de au- toria de Nádia de Almeida Sodré, que analisou as publicações sobre arroz geradas na Pesagro-Rio;« o segundo, de Maria Salete Martins, sobre a política editorial da Embrapa.7
O projeto de Nádia Sodré buscou verificar em que medida a po- lítica editorial da Pesagro, instituição de pesquisa agropecuária do estado do Rio de Janeiro, atende aos interesses de produtores e exten- sionistas, tendo, para tanto, se fixado no caso particular das publica- ções que difundem informações relativas à cultura do arroz. Na prá- tica, tratou de avaliar o grau de satisfação dos usuários destas pu- blicações e inclusive o grau de participação por eles manifestado na elaboração de pesquisas.
Os produtores consultados demonstraram grande adesão às pu- blicações recebidas, embora aleguem que elas pequem pela progra- mação visual inadequada. É importante mencionar que, segundo eles, as informações contidas nestas publicações os levam a adotar as inovações sugeridas ou a buscar novas informações com os extensio- nistas.
Os extensionistas, por seu turno, admitem a adequação da lingua- gem, do formato e do conteúdo das publicações mas, em número significativo, confessam não participar da discussão e definição dos problemas pesquisados pela instituição. Este último fato é importan- te porque pode denotar um modelo não democrático para o processo de tomada de decisões que configura este sistema particular de pes- quisa agropecuária.
Outro dado relevante é o que define a publicação como instru- mento pouco indicado para a transferência de tecnologia ao produ- tor, com um número de indicações, pelo extensionista, bastante in- ferior ao obtido pelas unidades demonstrativas, pelas reuniões e pela assistência técnica direta.
O trabalho de Nádia Sodré, embora pouco ambicioso e em certo sentido redundante, tem o mérito de abarcar setor pouco estudado, exatamente o das publicações destinadas a produtores e extensio- nistas, e de buscar, com humildade, dados empíricos que ajudam a entender a realidade rural brasileira.
38
O trabalho de Maria Salete Martins analisou a política editorial da Embrapa e teve como objeto o grupo de pesquisadores desta impor- tante instituição de pesquisa. Ele antecede o projeto desenvolvido por Nádia Sodré e caracteriza-se pela imensa riqueza de dados e pelo pio- neirismo no trato da questão editorial em instituições de pesquisa.
Maria Salete constatou a relação entre idade, titulação e tempo de trabalho na Embrapa e o número de trabalhos publicados pelos pesquisadores, e emprendeu análise detalhada da relação entre os pesquisadores e os comitês de publicação.
Seu trabalho salienta a carência de verbas para a publicação re- gular das pesquisas geradas na Embrapa e o tempo demasiadamente longo entre o encaminhamento dos textos e a sua divulgação.
Da mesma forma, fica exvidenciado o baixo indice de publicações fora da empresa, o que testemunha um certo fechamento, prejudicial porque é indiscutível a competência do quadro profissional da Em- brapa.
O projeto de Maria Salete Martins apresenta ainda contribuição no sentido de esboçar uma conceituação de política editorial, apoiada inclusive no contato direto com renomados editores e especialistas em editoração no Brasil.
2) Veículos rurais
O estudo de programas e publicações destinadas ao público rural mereceu dois trabalhos relevantes no Instituto Metodista de Ensino Superior, sob a responsabilidade de Lino Tucunduva Neto e de José Heitor Vasconcellos.
O projeto de Lino Tucunduva contemplou o suplemento Folha Rural, publicado pela Folha de Londrina, tradicional representante do jornalismo agrícola paranaense, e representa significativa contri- buição ao estudo deste particular suplemento agrícola. Além disso, traz duas outras inovações: inclui uma pesquisa de audiência, fato pioneiro em se tratando de trabalhos acadêmicos, e esboça um ca- dastro dos principais suplementos e páginas agropecuários brasilei- ros."
O autor examinou a evolução gráfico-editorial da Folha Rural tendo em vista o próprio desenvolvimento da agricultura do Paraná, em particular de sua região norte, onde se situa o município de Lon- drina. Constatou que o suplemento tem se limitado a difundir infor- mações de caráter técnico e que, historicamente, esteve alienado das grandes questões que repercutem na agricultura brasileira, em parti- cular daquele estado.
O trabalho traz ainda uma síntese da história da imprensa no Paraná e pode ser consultado a este respeito por historiadores e es- tudiosos do jornalismo brasileiro.
A dissertação de José Heitor Vasconcellos tem como objeto o pro- grama "Globo Rural", veiculado há alguns anos pela Rede Globo, e certamente a experiência mais bem-sucedida de jornalismo agrícola pela televisão no Brasil." O trabalho parte da análise da relação entre meios de comunicação de massa e o meio rural e privilegia so-
39
bretudo a televisão. Apóia-se, particularmente, em pesquisas realiza- das por agências de propaganda, com efetiva contribuição ao estudo da comunicação rural no Brasil, em especial sob o ponto de vista da propaganda e da publicidade.
José Heitor Vasconcellos analisa um conjunto de programas com o objetivo de testar seis hipóteses básicas, a saber: l.a) o "Globo Ru- ral" geralmente oculta a realidade e desvia os produtores de seus reais problemas e necessidades; 2^) o "discurso competente dos técnicos e pesquisadores ocupa a maior parte dos programas; 3*) o aumento da produtividade dos produtos de exportação é a tônica das matérias apresentadas; M) o "Globo Rural" prega a moderniza- ção e não o desenvolvimento rural; 5/0 o "Globo Rural" assume uma postura de "neutralidade" por aquilo que veicula; e 6.*) as matérias técnicas formam, no "Globo Rural", uma grade de fait-divers aplica- da ao meio rural, concluindo pela confirmação das duas primeiras e das duas ultimas.
José Heitor Vasconcellos admite que a aparente neutralidade as- sumida pelo programa tem a ver com a linha editorial, suficiente- mente cautelosa no que se refere a temas polêmicos, como a reforma agrária, o uso de agrotóxicos e a relação entre poder econômico e poder político no campo.
É justo alegar que as conclusões do autor derivam da análise de alguns poucos programas, o que efetivamente é verdade, mas não se pode, a priori, questionar os resultados obtidos, mesmo porque eles se respaldaram em observação criteriosa, detalhada até, de aspectos relevantes do programa "Globo Rural".
3) Política e comunicação rural
Uma lacuna importante nos trabalhos de comunicação rural tem sido a presença do enfoque político, geralmente relegado a segundo plano ou totalmente desprezado, como foi o caso da maior parte dos trabalhos gerados até a primeira metade da década de 70.
A contribuição de Ariadne M. S. Carneiro é significativa, na medi- da em que promove a relação entre a problemática rural — mais es- pecificamente o tema polêmico da reforma agrária — e a atuação dos meios de comunicação de massa.'" Concretamente, Ariadne Carneiro examina "as forças de pressão atuando através e em cumplicidade com a imprensa escrita e sua influência nas modificações ocorridas no conteúdo da Proposta para Elaboração do Primeiro Plano Nacio- nal de Reforma Agrária — PNRA, desde a sua veiculação pelos órgãos da imprensa até a assinatura do Decreto n.° 91.766, de 10-10-1985 que instituiu o Programa".11
Em princípio, a autora estava interessada em verificar se: 1°) as forças de pressão tiveram realmente influência nos rumos tomados pelo PNRA; 2°) a imprensa favoreceu ou prejudicou as correntes pró e anti-reformistas no debate do PNRA; 3.") a imprensa escrita apenas consolidou a estrutura de poder existente na sociedade; e 4.°) quais os atores mais atuantes no debate que se travou sobre o PNRA.
40
Para verificar estes fatos, Ariadne Carneiro empreendeu estudo meticuloso dos quatro maiores jornais brasileiros — especificamente 0 Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil e O Globo, além do Correio Braziliense, incluído por ser o de maior circulação no Distrito Federal, totalizando a análise de 980 edições.
A autora concluiu que, no debate travado através da imprensa, onde freqüentemente se digladiaram forças pró e anti-reformistas, o grande ausente foi o beneficiário da reforma, exatamente o trabalha- dor rural. Ele praticamente não foi ouvido, estando suas opiniões tu- teladas ou pela Igreja, ou pelo Governo ou por "forças de esquerda". Desta forma, a imprensa acaba por negar a legitimidade das reivin- dicações da classe trabalhadora, ao mesmo tempo em que permite que "o grupo hegemônico" — representado pelos grandes empresá- rios — se imponha, cedendo-lhe espaço majoritário nas suas edições.
O trabalho de Ariadne Carneiro se reveste de grande oportunida- de, circunscrevendo um tema atual, polêmico e de grande conotação político-ideológica. Com certeza, inaugura, nos cursos de pós-gradua- ção, uma vertente importante, centrada na discussão política e na visão integrada do processo de comunicação social.
4) Difusão e comunicação rural
Finalmente, devemos mencionar duas outras dissertações de mes- trado que assumem uma postura crítica em relação às tradicionais teorias de comunicação rural, mais especificamente ao modelo difu- sionista proposto por Rogers e seus seguidores.
A primeira delas constitui-se, essencialmente, numa avaliação des- te modelo, tendo em vista sua pertinência à realidade brasileira. De autoria de Fernando Pinheiro Monte, ela parte da prática histórica da extensão rural, apoiada na visão norte-americana, para concluir pela sua inadequação ao contexto de um país em desenvolvimento e que, portanto, necessita valer-se da experiência e da participação de todos os seus cidadãos.12
Pinheiro Monte utiliza-se, sobretudo, da contribuição de estudio- sos latino-americanos, entre os quais Juan Diaz Bordenave e Luiz Ra- miro Beltrán, além evidentemente de Paulo Freire, considerados crí- ticos do modelo extensionista e defensores de uma nova ordem co- municacional, que contrapõe o conceito de conscientização ao de dominação.
O autor dedica capítulo especial à análise da relação entre moder- nização e desenvolvimento, retomando uma discussão que se encon- tra presente nos mais progressistas sociólogos e comunicadores rurais brasileiros, já mencionada em trabalhos anteriores citados neste en- saio, em especial o de José Heitor Vasconcellos.
Complementa o seu trabalho uma análise da experiência exten- sionista brasileira, onde se detalham especificamente as barreiras exis- tentes para a adoção de uma efetiva comunicação orientada para o desenvolvimento. Neste momento, o autor apóia-se fundamentalmente em Paulo Freire e na sua vivência pessoal, culminando pela conde- nação explícita do modelo exógeno de desenvolvimento adotado pelo
41
Brasil, que não levou em conta os padrões culturais inerentes à gente brasileira.
Um outro trabalho, de Rui Fernando Frota Tendinha de Pimentel Teixeira, também filosoficamente identificado com o modelo latino- -americano de comunicação rural, portanto distante da concepção di- fusionista de inspiração norte-americana, completa o rol de trabalhos analisados neste ensaio.13
O autor, ao contrário de Pinheiro Monte, preocupa-se em verificar, para um caso concreto, a eficácia dos atuais modelos de transferência de informações/tecnologias. Trata-se da discussão sobre os canais de comunicação — formais e/ou informais — a serem utilizados para a difusão de inovações agrícolas junto a pequenos produtores rurais, situados no município de Marilândia (ES).
Rui Fernando Teixeira promoveu um minucioso levantamento da realidade local, subsidiando, desta forma, o seu trabalho que incluiu, também, apurado tratamento estatístico, tendo em vista a considera- ção de uma amostra de produtores como objeto de estudo.
Além de inúmeras outras constatações importantes — que se si- tuaram no plano sócio-econômico e cultural — o autor concluiu pela relativa importância dos meios de comunicação de massa no proces- so de difusão de informações agropecuárias, sobretudo quando con- siderados os pequenos e médios produtores. Isto não significa que não exista o acesso aos meios de comunicação e sim que outras for- mas — contatos com técnicos, por exemplo — são mais eficazes para esta finalidade.
Como se pode depreender pela descrição, ainda que superficial, dos projetos de investigação aqui arrolados, há uma tendência na alteração do perfil dos trabalhos de comunicação rural. Em geral, eles têm procurado ampliar a temática restrita das primeiras contri- buições e particularmente têm incorporado uma visão crítica à aná- lise, estudo e reflexão da comunicação rural no Brasil.
Na prática, tais trabalhos representam o amadurecimento das propostas levadas a cabo nos cursos de comunicação, que hoje en- contram eco em importantes associações da área, como a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação — INTER- COM, e mesmo em publicações de empresas de pesquisa agropecuá- ria, com destaque à Embrapa, com seu prestigiado Cadernos de Difu- são de Tecnologia.
Ressalte-se, também, a nova e moderna concepção de extensão rural presente nos discursos da atual diretoria da Embrater, encabe- çada por Romeu Padilha, que incorpora esta visão crítica, de há mui- to traçada nos cursos de pós-graduação em comunicação rural bra- sileiros.
A tendência, com a multiplicação destes trabalhos — há mais de uma dezena deles, de mesmo teor, em fase de conclusão nos cursos de pós-graduação do Instituto Metodista de Ensino Superior e da Uni- versidade de São Paulo —, é a formação de uma massa crítica que certamente enriquecerá o debate futuro da comunicação rural brasi- leira.
42
NOTAS E REFERÊNCIAS
1. Consultar, por exemplo, dentre outros, os trabalhos de: Álvaro Seixas Neto. 0 processo de mudança tecnológica na agricultura paulista, Universidade Federal de Viçosa, 1976; Thomas Joseph Burke, A percepção e o processo de odoçõo de inovações na agricultura, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz-USP; João Elmo Schneider, A influência de fatores sócio-culturais na inovabilidade e eficiência dos agricultores — Estrela e Frederico Westpha- len-RS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1970; Gabriel Canedo Quiroga, Importância das características pessoais e sociais e de fontes de comunicação no processo de adoção de inovações em agricultura, zona do triângulo de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, 1972; Eros Marion Mussoi. Importância de características individuais, estruturais e de comunicação associadas ao grau de adoção de inovações em agricultura — zona do meio oeste catarinense. Universidade Federal de Santa Maria, 1978; Wellington Borges da Fonseca, Comunicação de massa e lideres de opinião no processo de adoção de inovações em Viçosa (MG), Universidade Federal de Viçosa, 1980; Lloyd Russel Bostian & Ivo Alberto Schneider, O uso dos meios de comunicação pelos técnicos agropecuários do estado do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1966; Neiva Troller, O papel da comunicação coletiva na modernização dos agricultores. Universi- dade Federal do Rio Grande do Sul, 1969; Ivo Alberto Schneider, Comunica- ção e uso de crédito rural — Ibirubá-RS-Brasil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1967; Alzemiro E. Sturm, O efeito do isolamento na difusão de práticas agrícolas em Santa Cruz do Sul, Brasil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1969; Egon Roque Frohlich, Análise de conteúdo dos assuntos agrícolas e sua relevância situacional nos jornais do estado do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1970; Ana Chris- tina de Andrade Kratz, Fórmulas para estimar a dificuldade de leitura dos artigos agrícolas publicados em jornais sul-riograndenses para agricultores de baixo grau de escolaridade. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1973; Frederick C. Fliegel, Alfabetização e exposição à informação instrumental entre agricultores do município de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1969; Raimundo Gladstone Monte de Aragão, Compreensão e interpretação de palavras e abreviaturas pelos agricultores da Zona da Mata do estado de Minas Gerais, Universidade Fe- deral de Viçosa, 1970; Roberto Nunes Machado, Influência dos líderes de opinião na introdução de inovações agrícolas nos municípios de Ribeirão das Neves, Belo Horizonte e Ibirité, zona metalúrgica de Minas Gerais, Univer- sidade Federal de Viçosa, 1972; Osmar Ribeiro, Efeito comparativo do rádio e sua combinação com discussão do grupo e recursos visuais na aprendizagem de uma prática agrícola. Universidade Federal de Viçosa, 1971.
2. Consultar, por exemplo, a sexta edição, publicada em 1982 pela Paz e Terra, do Rio de Janeiro.
3. Destaque-se sobretudo a contribuição da profa. Maria Isaura Pereira de Queiroz, da Universidade de São Paulo, em particular do Centro de Estu- dos Rurais e Urbanos, sob sua direção. É importante consultar o trabalho por ela organizado — Sociologia rural —, publicado em 1969, pela Zahar Editores, do Rio de Janeiro, e que reúne artigos relevantes de Henri Mendras, Georges Gurvitch e P. Courtin e S. P. Bose, além de uma introdução crítica da própria Maria Isaura.
4. Devem ser destacadas as contribuições de Luiz Ramiro Beltrán, "Anotações para um diagnóstico de comunicação social na América Latina:
43
a persuasão em favor do 'status quo'", em Comunicação Rural, Brasília, EIGRA-MA (ex-SIA, MA), (27), 1971 (mimeo.); de Juan Dlaz Bordenave, Novas idéias sobre extensão universitária, Rio de Janeiro, IICA, 1977 (mimeo.), A transferência de tecnologia e o pequeno agricultor, Rio de Janeiro, IICA, 1980 e O que é comunicação rural, São Paulo, Brasiliense, 1983; de José Molina Filho, Desenvolvimento, modernização e difusão de inovações na agricultura: um modelo estrutural cultural com abordagem sistêmica, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz-USP, tese de livre-docência, 1984; e de José Marques de Melo, Comunicação, modernização, difusões de inova- ções no Brasil, Petrópolis, Vozes, 1978.
5. Merecem menção os trabalhos de mestrado concluídos na Escola de Comunicações e Artes da USP sobre comunicação rural: Walmir de Albu- querque Barbosa, O regatão e suas relações de comunicação na Amazônia, 1980; Jair Borin, Comunicação como fator de inovação na área rural, 1979; José Norival Braga, A importância de canais interpessoais de comunicação na implantação de projetos de eletrificação rural no estado de São Paulo, 1979; Luzia Mitsue Yamashita Deliberador, O papel da comunicação interpes- soal na difusão de inovações: o caso dos produtores de soja no município de Cambe, 1982; Maria Esther Fernandes, Comunicação e mudança na zona rural de Ribeirão Preto, 1976; Ditoka wa kalenga Muleka, A função do jornal rural no Brasil: a quantidade das mensagens e o seu significado em relação ao desenvolvimento social, 1983.
6. Política editorial da Pesagro-Rio: análise das publicações sobre arroz, Instituto Metodista de Ensino Superior, 1987.
7. Análise da política editorial da Embrapa, Instituto Metodista de En- sino Superior, 1985.
8. O jornalismo agrícola no município de Londrina: o caso do suple- mento Folha Rural, Instituto Metodista de Ensino Superior, 1986.
9. Lavoura eletrônica: análise do processo de difusão de informações para o campo: o caso do "Globo Rural", Instituto Metodista de Ensino Su- perior, 1986.
10. As forças de pressão e o Plano Nacional de Reforma Agrária, Instituto Metodista de Ensino Superior, 1987.
11. Idem, p. 12. 12. Comunicação e desenvolvimento — difusão de inovações: barreiras à
comunicação no processo de transferência de tecnologia no âmbito da pes- quisa, da extensão e da produção no contexto agrícola brasileiro. Instituto Metodista de Ensino Superior, 1986.
13. O produtor rural e os meios de comunicação na difusão de inovações: levantamento da realidade em Marilândia, Espírito Santo, Instituto Metodista de Ensino Superior, 1987.
44
Comunicaçáo, cultura e democracia: uma abordagem integradora
Carlos Augusto Setti
MASSIVOS VERSUS CULTURÓLOGOS
É ao mesmo tempo espantoso e preocupante observar que, no Brasil, a produção científica, as políticas públicas e os movimentos da sociedade civil sustentam uma acentuada distância estrutural entre os campos da comunicação e da cultura. Embora uma minoria de pessoas e grupos ligados a estas práticas reconheçam a visceral inter-relação existente entre os dois campos, o pensamento predomi- nante que as orienta vai exatamente no sentido oposto, isto é, no rumo do isolamento e da separação estanque.
A tradição de estudos de comunicação no Brasil sofreu uma de- cisiva influência da análise jornalística e dos modelos funcionalistas norte-americanos.' Isto fez com que a pesquisa na área se dirigisse aos objetos de maior destaque que eram os meios de comunicação social, cujo crescimento tem sido vertiginoso nos últimos cinqüenta anos. Ao tentar comprender estes novos e intrigantes agentes sociais, os pesquisadores passaram a esmiuçá-los de todas as formas e, den- tro desta quase obsessão, esqueceram-se de considerar os meios como parte da cultura contemporânea, dentro, inclusive, de um processo de complexas interações com as manifestações culturais já existen- tes, ao lado das quais passaram a conviver. Embora nos prímórdios da pesquisa em comunicação aos meios tenha sido imputada a for- mação da chamada "cultura de massa", a verdade é que a preocupa- ção em enxergá-los como parte estrutural da produção cultural foi esmaecida ao longo do tempo.
• Professor do Departamento de Comunicação da Universidade de Bra- sília - UnB.
45
Foi dentro da tradição marxista que se estabeleceu de forma cor- reta a relação entre comunicação e cultura. Primeiramente, saliente- se a fundamental contribuição das reflexões produzidas pelos pen- sadores da Escola de Frankfurt. Eles caracterizaram de Indústria Cul- tural o sistema formado pelos meios de comunicação e dedicaram parte importante do seu trabalho à denúncia da industrialização e da massificação da produção estética, encaradas como a cultura própria do atual estágio do modo de produção capitalista. ^
As conclusões frankfurtianas embasaram o nascimento e o desen- volvimento de uma linha de estudos que se tornou praticamente hegemônica no Brasil e na América Latina, principalmente a partir da década de 70. O conceito de Indústria Cultural, somado a outros de inspiração marxista — como Aparelhos Ideológicos de Estado, de Althusser, Imperialismo, de Lênin, e Dependência, de Cardoso« — deu origem e sustentação a uma nova forma de se enxergar os meios de comunicação: eles passaram a ser considerados como instrumen- tos de dominação ideológica a serviço da burguesia e da transnacio- nalização de nossas economias. Mas mesmo esta nova visão enfatiza o lado "comunicação" do problema, o que é comprovado pela tipolo- gia de estudos que admite (Nova Ordem Internacional da Informa- ção e da Comunicação, Políticas Nacionais de Comunicação, Novas Tecnologias de Comunicação, leitura ideológica dos meios etc.) < e, embora vários autores relacionassem a denúncia da dominação via meios de comunicação à cultura, isto se fez de maneira vaga e se- cundária.
A perspectiva mais atual e avançada dentro do pensamento mar- xista no que se refere à união da comunicação e da cultura é a dos "estudos culturais" de origem britânica, dentro dos quais os fenôme- nos ligados aos meios de comunicação social só fazem sentido se considerados como parte do conjunto da produção simbólica da so- ciedade. A diferença desta corrente teórica para outras igualmente culturalistas é a de que o "símbolo" é visto como algo material, constituindo-se ao mesmo tempo em produto e produtor das relações sociais. "■ De acordo com James Carey, da Universidade de Illinois, por exemplo, Stuart Hall, atual Reitor da Open University de Lon- dres e figura máxima dentro dos estudos culturais hoje na Inglaterra, "acredita que o termo comunicação estreita o estudo em questão e o isola substantiva e metodologicamente. Na parte substantiva, estreita a dimensão do estudo para produtos explicitamente produzidos pelos mass media, assim como para aqueles produzidos para os meios de massa". Para Hall, segundo Carey, "o estudo de comunicação é, por- tanto, geralmente isolado do estudo da literatura e da arte e isolado das formas expressivas e rituais do cotidiano, tais como a religião, a conversação e o esporte. Enquanto a palavra cultural, usada em seu sentido antropológico, nos leva ao estudo de um inteiro modo de vida, a palavra comunicação nos dirige somente para um estudo isolado de apenas um segmento da sociedade. Continua Carey: "Me- todologicamente, a palavra comunicação" — para Hall — "isola-nos de um corpo inteiro de metodologia crítica, interpretativa e compara-
46
tiva, que tem sido o coração da antropologia e dos estudos de lite- ratura"." O que é relevante, portanto, é o estudo da cultura contem- porânea como um todo, dentro da qual estão os fenômenos comuni- cativos. Lamentavelmente, no entanto, o pensamento dos centros de estudo e dos autores ingleses adeptos desta corrente teórica é desco- nhecido no Brasil, não gerando, portanto, maiores efeitos sobre a atividade teórica e a prática social.7
É preciso comprender, portanto, que, de uma forma geral, há uma nitida divisão entre os estudiosos que se dedicam à comunica- ção, entendida como o conjunto de fenômenos originados nos moder- nos meios de difusão informativa, e aqueles preocupados com a cul- tura. Aos primeiros chamaremos de "massivos" e aos segundos de "culturólogos". Mas quem são estes últimos? Dentro do universo aca- dêmico, eles são principalmente os antropólogos, que têm na cultura o seu objeto de estudo próprio desde o século XIX. Modernamente, a antropologia no Brasil, inclusive, encontra-se muito próxima não só dos estudos culturais, ao voltar-se para a cultura urbana, como da ciência da comunicação, ao estudar, por exemplo, a recepção dos meios massivos.8 Mas, ainda dentro do mundo universitário, há, ade- mais, os museólogos, os bibliotecários, os arte-educadores e os artis- tas, que tratam de fenômenos culturais muito bem definidos. In- teragindo com as universidades, mas nem sempre operando dentro delas, há, ainda, os folcloristas, cuja tarefa principal tem sido a do- cumentação das manifestações culturais tradicionais.
Pelo lado das políticas públicas, assiste-se à mesma dicotomia. De- pois da reforma ministerial encetada pela Nova República, em 1985, radicalizou-se o fracionamento do trato das questões culturais. Cria- ram-se o Ministério da Cultura (e, no seu rastro, as Secretarias Es- taduais de Cultura) e o Ministério da Ciência e Tecnologia, manten- do-se as estruturas já existentes do Ministério das Comunicações e do Ministério da Educação. Dentro da divisão que apontamos ante- riormente, os "culturólogos" se situaram no Ministério da Cultura, espalhando-se por entre os diversos órgãos da administração direta, fundações, institutos, empresas, museus, bibliotecas e assessorias. Se- guindo a opção funcionalista e fisiológica que gerou a divisão minis- terial, "educação" e "ciência e tecnologia", bem como "comunica- ção", não são "cultura". Já a "comunicação" permaneceu no minis- tério do mesmo nome. Mas esta é apenas parte da verdade, pois, co- mo veremos adiante, há aspectos da política de comunicação que não se situam em ministério algum, assim como os próprios "comu- nicólogos".
No âmbito da sociedade civil, o panorama aponta igualmente para o mesmo distanciamento dos campos. Os movimentos sociais, por exemplo, quando criam os seus próprios instrumentos de divul- gação ou criticam os instrumentos massivos, estão fazendo comuni- cação. Já os grupos e comunidades, quando constróem objetos arte- sanais, praticam danças, festas e hábitos religiosos e defendem a cul- tura negra, bem como quando as elites produzem filmes, peças tea-
47
trais, espetáculos de dança, exposições de arte e mantêm museus e bibliotecas, estão fazendo cultura.
Este é, aliás, o sentido geral do distanciamento: uma divisão em- pírica que coloca, de um lado, um rol de práticas tidas como "comu- nicativas" (telejornalismo, publicidade, programas musicais, circula- ção de jornais e revistas, telenovelas etc.) e, de outro, um rol do que é classificado como "cultural" (arte e tradições populares). O mes- mo ocorre com os objetos das diversas ciências, que se encontram divididas dentro da academia, com a definição de atribuições do Es- tado e com a prática social dos grupos no interior da sociedade civil.
A QUESTÃO DA DEMOCRACIA CULTURAL
A importância da constatação da existência da divisão "mas- sivos/culturólogos" está em que a busca da democracia cultural pas- sa obrigatoriamente pela superação desta dicotomia, seja no âmbito da criação teórica, seja no encaminhamento das ações concretas a serem desenvolvidas.
Sob o ponto de vista teórico, já há muito tempo deveriam os es- pecialistas — em particular os comunicólogos e os antropólogos — se juntarem e se associarem aos demais estudiosos para que pudes- sem compreender a cultura como campo de estudo transdisciplinar, que só pode ser conhecido nas suas múltiplas facetas através da so- breposição sistemática de distintas ciências.
Ao nível da prática — principalmente no que se refere à ação do Estado — só se pode falar em democracia cultural se a comunicação e a cultura passarem a ser tratadas dentro de um único projeto para o nosso país, já que ambos os campos fazem parte da mesma problemática social e política.
E que problemática é esta? É aquela em que uma diminuta mi- noria burguesa nacional, associada ao grande capital transnacional, concentra em suas mãos a quase totalidade dos recursos sociais, ou seja, os meios de produção material e simbólica e o poder político. É aquela problemática associada à voracidade selvagem que encer- ra, ao mesmo tempo, a fúria da destruição dos recursos naturais, da destruição dos próprios seres humanos e da destruição da identidade e dos modos de vida e de representação próprios das classes po- pulares.
A afirmação e o enriquecimento desta identidade, destes modos de vida e de representação são os objetivos principais da democra- cia que se quer nos campos da comunicação e da cultura em nosso país. A democracia em seu significado político é a máxima amplia- ção das possibilidades de participação dos indivíduos e dos grupos na formulação do seu próprio futuro. Significa, portanto, a preser- vação dos interesses da maioria, que, no Brasil, é formada por uma legião de despossuídos. Em se falando de cultura, democracia signi- fica a possibilidade máxima das pessoas e comunidades terem não só o espaço próprio para a realização das suas formas de vida e dé expressão, como também acesso ao acervo intelectual, artístico e
48
cientifico que a sociedade produz. O sentido da democracia cultural é, portanto, o de que se possa preservar as manifestações próprias das diversas classes sociais e das regiões, estimular a ampliação e o desenvolvimento destas manifestações e conferir todos os meios ne- cessários para que as informações educativas, culturais, científicas e noticiosas cheguem até as classes populares na mesma dimensão em que circulam por entre as elites.
Só podemos definir democracia desta forma pela vivência que temos do seu oposto. No caso do Brasil, o que se constata é uma profunda desigualdade na produção e no consumo dos bens culturais e da informação de massa. Quanto à área cultural propriamente dita, o esforço que se fez em passado recente para que a ação do Estado se dirigisse para além da produção artística de elite e da preserva- ção estática de bens e manifestações tradicionais, foi esvaziado pela atual administração federal. Antes de ser criado o Ministério da Cul- tura, o núcleo que formou a então Secretaria de Cultura do MEC promoveu uma importante redefinição conceituai do bem cultural e passou a abrir o leque das ações governamentais na área. A ênfase, assim, foi a de ampliar o campo de atuação e dirigir as energias para a dinâmica cultural das comunidades, entendida não só pelo seu lado folclórico e patrimonial, como pelas práticas econômicas e de con- vivência, além do ambiente em que viviam. Além de aplastar os gru- pos que trabalhavam nesta linha de atividades, a atual administração do Ministério da Cultura vangloria-se de ter arrancado do papel a chamada "Lei Sarney", instrumento cujos efeitos mais visíveis serão a desobrigação do Estado para com a cultura e a conseqüente pri- vatização da política cultural. Mas, mesmo antes disto, a ação do Estado brasileiro na área da cultura não atingiu as grandes popula- ções.
No campo específico da comunicação social, o País convive com um sistema cuja característica básica é a existência de dois tipos de concentração: a da propriedade e a regional. As principais emissoras de rádio e TV, editoras de revistas, empresas jornalísticas e gravado- ras de discos e fitas são controladas por poucos grupos empresariais que se concentram no eixo Rio-São Paulo e que, em alguns casos, atuam em todos ou quase todos estes ramos de atividades. Ao lado disto, o sistema de comunicação também é caracterizado por uma dupla dependência dos países industrializados, principalmente dos Es- tados Unidos: a dependência no campo das notícias, programas, fil- mes e produção musical e a dependência no campo tecnológico, que se manifesta na necessidade de aquisição de equipamentos dos países centrais. Por outro lado, o País assiste atônito à introdução rápida e indiscriminada de novas tecnologias na área da informação, sem que as suas conseqüências e o seu próprio modelo de implan- tação sejam discutidos de maneira ampla. Há que se levar em con- ta, ainda, a ação do Estado na área da comunicação, que se caracte- riza, por exemplo, pela manipulação da distribuição de canais de rádio e televisão baseada em critérios fisiológicos, clientelísticos e personalistas, sempre em benefício das elites nacionais e locais. Isto
49
porque, vigora no Brasil uma legislação espertamente retrógrada e omissa, que confere aos ocupantes eventuais do Governo um poder supremo sobre os rumos da telerradiodifusão. Além disto, há que se destacar o vigoroso controle exercido pelo Estado sobre o conteú- do dos meios de comunicação, pelo fato de ser ele o detentor das maiores verbas publicitárias do mercado, as quais são manipuladas como constantes elementos de pressão exercida sobre veículos por- tadores de eventuais comportamentos desviantes.9
Tal quadro dramático nos campos da comunicação e da cultura é resultado justamente da falta de democracia em nosso pais. A pers- pectiva de se democratizar a comunicação social e a cultura — para usar estes termos em seu sentido administrativo — implica, então, a democratização da sociedade como um todo. A estrutura autori- tária, concentradora e elitizante destes dois campos só faz sentido pela função que cumprem de estar a serviço da manutenção do pior dos capitalismos em nosso meio.
POLÍTICA DEMOCRÁTICA DE COMUNICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DA CULTURA
Mas no que se refere à luta pela democracia mais especificamen- te nos dois campos, há um ponto de vista central que aqui se pre- tende defender. Parte-se do pressuposto de que somente uma polí- tica integrada, que dissolva as diferenças burocráticas existentes não só, entre estes campos, mas também entre eles e os demais que lhes são afins (educação, ciência e tecnologia), será eficiente na con- quista dos objetivos democráticos. É uma injustificável distorção que, por exemplo, se elabore uma política cultural que não leva em con- ta os meios de comunicação, como se eles não produzissem e cir- culassem cultura e não participassem de forma decisiva do conjun- to da produção simbólica da sociedade. Embora as investigações em comunicação tenham descoberto que os meios não têm o poder de manipular totalmente as consciências (como se chegou a pensar em certa época) e sofram a influência das demais manifestações cul- turais, a verdade é que continua importante reconhecer que a sua extrema concentração nas mãos das classes dominantes respeitou muito pouco a diversidade cultural do País. Os meios de comunica- ção constituem-se hoje na cultura hegemônica no Brasil e quase na- da têm feito pelo estímulo às manifestações simbólicas e ao modo de ser próprios das diversas regiões geo-sócio-econômicas, grupos e classes populares.
Para que este quadro possa ser revertido, defendemos como fun- damental estabelecer que a democratização dos meios de comuni- cação tem uma contribuição essencial a dar para a implantação de uma política cultural democrática.
"Democratização" refere-se, primeiramente, à alterição da estru- tura do sistema nacional de comunicação, que só se efetivará se fo- rem observados alguns pontos básicos:
50
a) A descentralização das concessões de emissoras de rádio e TV, destinando-se, por exemplo, metade do espectro de ondas a en- tidades da sociedade civil, tais como associações, fundações, empre- sas comunitárias, instituições culturais e educativas, sindicatos e uni- versidades, todos sem fins lucrativos. O objetivo é se criar ao lado dos sistemas privado e estatal um sistema público de telerradiodi- fusão.
b) O estabelecimento de um limite reduzido de tempo para a outorga das concessões, que poderá ficar em torno dos cinco anos, como nos paises desenvolvidos.
c) O limite da concentração da propriedade comercial dos ca- nais de rádio e TV, estabelecendo-se um número determinado de emissoras e afiliadas por proprietário que impedisse a formação de oligopólios e monopólios.
d) A criação de um sistema capilar de canais de rádio e TV de baixa freqüência e alcance local e regional, a serem destinados tam- bém às entidades da sociedade civil.
e) A destinação a estas mesmas entidades de parte importante dos canais de TV por cabo, a ser implantada de forma iminente no Brasil.
f) O estímulo ao surgimento de publicações impressas comuni- tárias, por meio de linhas de crédito subsidiado, isenções fiscais, di- minuição das exigências burocráticas e apoio técnico das universi- dades.
g) A abertura da rede de telerradiodifusão do Estado à partici- pação da comunidade e dos próprios profissionais que nela traba- lham, tornando-a veiculadora de temas e informações que não encon- tram espaço na rede comercial.
h) A extinção dos serviços estatais de censura à comunicação e às chamadas diversões públicas e a criação de mecanismos legais que punam o controle da informação por grupos econômicos e po- líticos.
i) O aumento do controle dos meios de comunicação por parte da população, através de legislação que permita ao cidadão e às enti- dades o questionamento judicial da continuidade do funcionamento de emissoras e publicações, desde que elas se afastem da finalidade de prestar um serviço público.
j) A gestão participativa dos meios de comunicação, que devem ser administrados por conselhos comunitários integrados por repre- sentantes dos trabalhadores dos próprios meios e de entidades liga- das aos movimentos sociais, educacionais, culturais e científicos, re- gionais e/ou locais.
Mas uma política cultural democrática deve, também, ir além da democratização da estrutura do sistema de comunicação social. É fundamental que se reformulem os objetivos e os conteúdos destes meios — até o momento uma preocupação ausente das políticas pú- blicas — e que se coloque, por exemplo, a telerradiodifusão, que atin- ge a quase totalidade da população, a serviço da educação, da cultura
51
e da informação jornalística democrática, bem como da capacitação para a organização social. Neste sentido, faz-se necessário que a legis- lação e a prática social contemplem aspectos como os seguintes:
a) A obrigatoriedade de um percentual de veiculação da produ- ção local e regional no rádio e na TV, que deveria estar acima dos 50% do tempo disponível.
b) Para isto, conferir estimulo financeiro e apoio técnico à cria- ção de produtoras independentes de vídeo, gravadoras de disco e fi- ta e de produtos radiofônicos de caráter regional e local.
c) A fixação, na programação nacional, de percentuais máximos de programas estrangeiros e de entretenimento, que possibilitem a veiculação de programas artísticos, científicos, educacionais e jorna- lísticos autenticamente nacionais.
d) A ampla veiculação da produção cinematográfica, musical, teatral e de artes plásticas nacional.
e) A proibição do merchandising e da interrupção da programa- ção, no rádio e na TV, para divulgação de mensagens comerciais.
f) A redução do tempo destinado à publicidade comercial e o aumento do tempo para a veiculação da publicidade institucional.
Mais que uma divisão aritmética da programação, estas medidas devem visar um redirecionamento do conteúdo dos meios, no senti- do de minimizar-se ao máximo a programação centralizada e desti- nada exclusivamente ao consumo fácil dos espectadores e à venda de produtos. A idéia, aqui, é a operacionalização, primeiro, da pre- sença da maioria da população na telerradiodífusão: suas formas ex- pressivas, suas necessidades, as práticas bem-sucedidas, o seu dia-a- -dia. Depois, estas medidas objetivam a disseminação do conhecimen- to científico e do esforço intelectual da sociedade, o estímulo, ao in- tercâmbio de experiências inovadoras e alternativas nos diversos campos e a preservação e utilização social do patrimônio artístico, histórico e ecológico do País.
Por último, dentro do atual quadro de organização burocrática do Estado brasileiro, é urgente e de crucial importância que a políti- ca de comunicação seja emanada do Ministério da Cultura e desvincu- le-se do Ministério das Comunicações. Este deveria ser um órgão emi- nentemente técnico e responsável apenas pela infra-estrutura física das telecomunicações. O conteúdo e o sentido do sistema de comu- nicação necessitam estar vinculados a um ministério de caráter fina- lístico. Não devem depender, no entanto, da figura personalista do ministro e sim de um órgão colegiado, a ser integrado por represen- tantes dos diversos setores da sociedade.10
A observância dessas medidas — que aqui estão colocadas não como um receituário e sim como elementos deflagradores de uma dis- cussão — resultará numa concreta política cultural, integrada e demo- crática.
52
NOTAS
1. Sobre a origem dos cursos de comunicação no Brasil e as influências norte-americanas, ver Venício Artur de Lima, "Repensando a(s) teoria(s) de comunicação: notas para um debate", in Cadernos do Departamento de Co- municação da UnB, n.0 6, Brasília, novembro de 1982.
2. Ver especialmente Theodor W. Adorno, e Horkheimer, "A indústria cultural — o iluminismo como mistificação das massas", Luiz Costa Lima (org.). Teoria da cultura de massa, São Paulo, Saga, 1969.
3. Sobre estes conceitos, ver Louis Althusser, Aparelhos ideológicos de Estado, Rio de Janeiro, Graal, 1983; V. Lênin, O imperialismo: fase superior do capitalismo, São Paulo, Global, 1982; e Fernando Henrique Cardoso, "As idéias e o seu lugar", In Cadernos CEBRAP, n.0 33, Petrópolis, Vozes, 1980.
4. Um exemplo de discussão sobre esta linha de estudos é o livro organizado por Jorge Wertheim, Meios de comunicação: realidade e mito, São Paulo, Nacional, 1979.
5. A elaboração de uma "teoria materialista da cultura" está desenvol- vida brilhantemente em Raymond Williams, Marxismo e literatura. Rio de Janeiro, Zahar, 1979.
6. James Carey, "Communication and Culture", in Communication re- search, April, 1975, p. 176.
7. Exceção deve ser feita, no entanto, à produção acadêmica desenvol- vida pelos professores Venício Artur de Lima e Sérgio Dayrell Porto, do Departamento de Comunicação da Universidade de Brasília.
8. Ver o livro de Ondina Fachel Leal, intitulado A leitura social da novela das oito, Petrópolis, Vozes, 1986, que se originou de uma dissertação de mestrado em Antropologia Social apresentada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em agosto de 1983.
9. Um diagnóstico sobre o sistema brasileiro de comunicação pode ser obtido em CEC — Centro de Estudos de Comunicação e Cultura, A transição política e a democratização da comunicação social, Brasília, CEC, 1984. O li- vro condensa um documento apresentado pelo Centro ao então candidato à Presidência da República, Dr. Tancredo Neves, a seu pedido, como proposta de governo.
10. A idéia de se vincular a política de comunicação ao Ministério da Cultura já estava contida nas propostas feitas pelo CEC ao Dr. Tancredo Neves. Já a idéia de criação de um Conselho Nacional de Comunicação de- mocrático encontra-se não só no livro do CEC como na proposta de Emenda Popular feita à Constituinte pela Federação Nacional de Jornalistas (item III).
53
ARTIGOS
CIESPAL: Trinta anos de influências*
Fátima Aparecida Feliciano **
No final de 1958, em Quito, no Equador, é criado o CIESPAL- Centro Internacional de Estudos Superiores de Periodismo (Jorna- lismo) para a América Latina, com o objetivo de desenvolver, na re- gião os estudos na área de ciências da informação.
Mas a criação do CIESPAL no contexto latino-americano não cons- tituía um fato isolado.
Calcado no modelo do CIESJ — Centro Internacional de Estu- dos Superiores de Jornalismo, de Estrasburgo, França, criado dois anos antes, para a Europa, o Centro fazia parte da estratégia mais ampla da UNESCO para o desenvolvimento dos meios de comunica- ção no mundo.
O desejo de criação de uma ordem mundial, que depois das con- seqüências nefastas de duas guerras levasse o desenvolvimento eco- nômico a todas as regiões do mundo, vinha da própria ONU, e é no bojo dela que surge a tentativa de criação de uma nova ordem mundial, e tanto o CIESJ como o CIESPAL, além de outros centros criados depois, são parte fundamental dessa estratégia.
• O texto é um resumo adaptado da dissertação de Mestrado — Jorna- lismo: A Prática e a Gramática — A Influência do Projeto Pedagógico/VNES- CO/CIESPAL nos Rumos do Ensino de Jornalismo no Brasil — defendida na ECA-USP em dezembro de 1987, sob a orientação do Prof. Dr. José Marques de Melo.
" Bacharel, Mestre e Doutoranda em Ciências da Comunicação na ECA-USP.
55
O ensino de jornalismo, já a essa altura praticado em razoável escala no mundo e na própria América Latina, acaba, na década de 60, dando lugar ao que viria a ser denominado de ensino de comu- nicação.
Nas décadas subseqüentes foram sendo acrescentadas as adj ati- vações: de massa, coletiva, e finalmente, social.
A par dessas denominações que, é claro, carregam alto grau de- notativo, o que fica é a total mudança no panorama latino-america- no relativamente ao período pré-UNESCO, no campo do ensino de comunicação, em geral, e do jornalismo, em especial.
As pesquisas realizadas, com vistas ao período, demonstram não somente um avanço quantitativo muito grande em relação tanto aos meios de comunicação quanto aos cursos de formação de profissio- nais para atuarem na área, mas também, e principalmente, uma evo- lução conceituai bastante significativa.
No bojo da estratégia da UNESCO, acabou vindo para a Améri- ca Latina não somente o projeto pedagógico desenvolvido pela UNESCO/CIESPAL, mas principalmente seu caráter ideológico.
Por trás da concepção de mudança social por intermédio dos meios de comunicação havia a ideologia implícita do próprio con- ceito de desenvolvimento econômico utilizado amplamente pela ONU e pela UNESCO até o final dos anos 60. Em meados dos anos 70, o conceito de interdependência gerado pela crise do capitalismo inter- nacional acaba alterando profundamente tanto as relações econômi- cas quanto os rumos políticos dentro da própria ONU, com reflexos imediatos na UNESCO.
A crise capitalista que atinge a maioria dos paises-lideres, e o estado crônico de subdesenvolvimento do Terceiro Mundo levam os países-membros da ONU a buscarem uma NOVA ORDEM ECONÔ- MICA MUNDIAL (NOEI), ao mesmo tempo em que o clamor por relações mais justas na área de informação leva, a partir de 1972, à discussão do que viria a ser chamado de uma NOVA ORDEM MUN- DIAL DE COMUNICAÇÃO ÍNOMIC).
O CIESPAL recebe e reflete essa mudança conjuntural, já que, no seu caso específico, não somente as alterações na área econômi- ca o atingem, mas, e principalmente, as de ordem política.
Por uma série de fatores, também, a social-democracia européia, um dos pólos da chamada Comissão Trilateral (Estados Unidos/Eu- ropa Ocidental/Japão), passa a exercer mais de perto sua influên- cia na ONU e no próprio CIESPAL, que começa a receber, a partir de meados da década de 70, substancial auxílio da Fundação Frie- drich Ebert, tradicional reduto da social-democracia alemã.
Assim, o CIESPAL, que até meados da década de 70 havia de- senvolvido uma vertente funcionalista de origem basicamente norte- -americana, passa para a égide da Fundação Friedrich Ebert, alte- rando sua visão de comunicação de forma radical.
Como que da água para o vinho, mas mantendo sua visão capi- talista de realidade social e da problemática dos meios de comunica- ção, o CIESPAL passa a liderar a corrente do que seria depois deno- minado de Teoria da De-pendêncv: — uma visão aparentemente mais
56
critica dos meios de comunicação, mas que no fundo, como a pró- pria social-democracia apregoa, acaba por visar tão-somente à re- forma das questões que afetam o campo social como um todo e os meios de comunicação, em particular, em detrimento de uma revo- lução, para atingir os mesmos fins.
O PROJETO UNESCO/CIESPAL
Tendo em perspectiva, depois de duas guerras mundiais, que os acordos político-econômicos não podiam, por si só, estabelecer "uma paz firme e duradoura", surge, em 1945, a UNESCO, com o intuito de contribuir para essa paz, por meio, basicamente, da educação, ciência e cultura.
Para a consecução desse fim, a UNESCO se propunha a realizar esforços para "favorecer o conhecimento e a compreensão mútua entre as nações", "imprimir um vigoroso impulso à educação popular e a difusão da cultura", além de ajudar na manutenção, no progres- so e na difusão do saber.1
A UNESCO nasce, essencialmente, tuna organização intergover- namental, cujo funcionamento é garantido pela cotização dos Esta- dos-membros. As bases da nova organização são estabelecidas en- tre 1942 e 1945 em diversas reuniões da Conferência de Ministros de Educação dos países aliados, em Londres, celebrada na Conferência das Nações Unidas de São Francisco e adotada por quarenta e três membros em novembro de 1945.
No campo da informação, a UNESCO desenvolve dois trabalhos. O primeiro no sentido de "facilitar a livre circulação de notícias e ajudar no desenvolvimento dos meios e técnicas de informação", e o segundo com a preocupação de aumentar a difusão das informações a fim de "incentivar a compreensão mútua entre os povos do mundo".
A UNESCO, para desincumbir-se dessas duas tarefas em maté- ria de informação, vale-se de inquéritos para o adequado desenvol- vimento dos meios de comunicação, tendo como interesse particular a formação de jornalistas, "pela utilização de métodos audiovisuais na educação e pelas pesquisas sobre as técnicas de informação das massas", no sentido de difundir informações, facilitar as reportagens escritas, radiofônicas, filmadas e televisionadas.2
O primeiro artigo da constituição da UNESCO prevê que para a realização da tarefa do "mútuo conhecimento e compreensão dos povos, através de todos os meios de comunicação, há a necessidade de se recorrer a acordos para promover o livre trânsito de idéias pela palavra e imagem", já que a necessidade dos meios de comunica- ção no mundo devastado pela Segunda Guerra Mundial cresce com a descolonização e outros problemas decorrentes e que "... em um mundo livre, o direito à informação se apresenta como um prolon- gamento do direito à educação".
Já em 1948, a Conferência da ONU havia considerado a "liber- dade de informação" como uma das "liberdades básicas" e a "pe-
57
dra de toque de todas as liberdades a que se dedica as Nações Uni- das", admitindo, pouco depois, que para que houvesse "informação livre e adequada em qualquer pais, deveria haver um desenvolvimen- to adequado da Comunicação coletiva" e, por conseguinte, "todos os países novos ou antigos, industrializados ou não, altamente desenvol- vidos, (estavam) legitimamente interessados no desenvolvimento de seus sistemas de Comunicação".3
Em 1958, a Assembléia Geral das Nações Unidas exige da UNESCO um "programa de ação concreta" que revigorasse as instituições de im- prensa, radiodifusão, cinema e televisão dos países em vias de desen- volvimento econômico e social.
A UNESCO realiza, nessa perspectiva, um estudo com o fim de formular um programa de avaliação de recursos mediante uma sé- rie de reuniões em Bangkok (1960), Chile (1961) e Paris (1962).
Em 1962, a Assembléia Geral adota uma resolução que expressa preocupação pelo fato de 70% da população carecer de instalações técnicas apropriadas e não desfrutar, por conseguinte, efetivamen- te, do direito à informação.
A Conferência Geral da UNESCO no final de 1962 autoriza a pu- blicação de um estudo no sentido de "levar à prática o programa de desenvolvimento dos meios de informação coletiva". Um expert seria encarregado de "examinar o papel dos meios de informação coletiva na promoção do progresso econômico e social", a partir do resultado obtido nas três reuniões regionais efetuadas entre 1960 e 1962.
Esse expert era o professor doutor Wilbur Schramm, então dire- tor do Instituto para a Pesquisa da Comunicação da Universidade de Stanford, Estados Unidos, que havia participado dos três en- contros.
Assim, no seu Mass Media and National Development, escrito por encomenda da UNESCO, Schramm revela todas as nuances do con- ceito vigente, à época, de uma comunicação com vistas ao desen- volvimento.
A UNESCO E A FORMAÇÃO EM JORNALISMO
À UNESCO, no campo da informação, preocupavam duas tarefas principais: melhorar a qualidade da informação e "facilitar a sua circulação internacional dentro e fora dos países".
Para que obtivesse o primeiro desses objetivos era necessário que fosse assegurada aos jornalistas uma formação especializada, embora se reconhecesse a impossibilidade de se impor normas rígi- das para o tratamento do assunto, já que se lidava com experiências de diversas ordens.
Reconhecia-se. no entanto, a necessidade de uma linha comum de ação relativamente às idéias e experiências correntes, de modo a estabelecer um guia para a formação de profissionais.
Assim, a liberdade de informação, "condição essencial da vida democrática e um dos direitos fundamentais do homem", levava o
58
profissional de jornalismo a um nível elevado de responsabilidade, justificando mais plenamente investimentos nesse setor.
É com esse enfoque que se impõe a criação de centros regionais que se encarregassem de elevar o nível de formação e de educação dos profissionais da informação nas diversas partes do mundo.
Mais precisamente em 1956, na reunião de peritos realizada em Paris, essa questão toma corpo. A criação de tais centros visava à formação dos docentes das faculdades (já que se pressupunha o en- sino em nível universitário), e conseqüente melhoria dos métodos e técnicas.
Dessa reunião de experts, em 1956. sairiam, então, as bases para cinco centros de formação em jornalismo, respectivamente em Es- trasburgo, Quito, Dakar, Beirute e Manílla.
No dia 25 de julho de 1957, o Ministério da Educação da França aprovava os estatutos do Centro Internacional de Estudos Superio- res de Jornalismo, de Estrasburgo, França, em colaboração com a Universidade de Estrasburgo e sob a égide da UNESCO.
Um ano após a criação do CIESJ coloca-se a necessidade de um novo centro, já que o primeiro limitava-se a servir as regiões da Eu- ropa, África, Oriente Médio e Oriente Próximo.
0 C1ESPAL
Em São José da Costa Rica, na Segunda Conferência de Comis- sões Nacionais da UNESCO, o diretor da Escola de Jornalismo da Universidade Central de Quito, professor José Alfredo Llrena, ma- nifesta, oficialmente, o interesse de levar esse segundo Centro para Quito.
Com o apoio do governo do Equador, uma comissão é encarre- gada de formular um acordo para a criação do Centro, que culmi- naria com o nascimento do CIESPAL, com extensão para o Caribe, no dia 3 de dezembro de 1958, embora tivesse sido cogitada sua vin- da para o Brasil.
0 CIESPAL conta nesse início com os auspícios da Organização dos Estados Americanos (OEA), da Fundação Ford e a partir de meados da década de 70 com recursos advindos da Fundação Frie- drich Ebert (Alemanha) e da Rádio Nederland Training Centre, dos Paises-Baíxos.
Naquele momento, diz Proano, era necessário diminuir a brecha entre o conhecimento prático do jornalismo e sua desvinculação do conhecímetno de ordem teórica e acadêmica. Nesse sentido, são feitos esforços para ministrar cursos especializados, contando com professores de jornalismo americanos e europeus, financiados pela OEA e UNESCO.
O CIESPAL é atingido, na década de 60, pelas novas teorias da comunicação, advindas dos avanços das ciências sociais, e direciona seus conceitos e programação de cursos na perspectiva de ampliar os processos de mudança e desenvolvimento econômico.
59
Em relação ao ensino, o CIESPAL organiza, a partir de 1960, cursos anuais internacionais de aperfeiçoamento em ciências da in- formação coletiva que, "graças ao concurso dos professores, severa- mente selecionados, e de bolsistas dos países americanos, conver- tem-se em eventos de alta significação para a cultura latino-ameri- cana", e por outro lado transcendem o mero "treinamento de jorna- listas e professores, já que abrem novos caminhos para a pesquisa científica, intocados anteriormente na América Latina".4
Esses cursos "introduzem as novas ciências da comunicação, co- mo a psicologia e a sociologia da comunicação, e, em especial, as matérias especificas da pesquisa científica dos meios de comunica- ção coletiva". A participação é inicialmente assegurada a jornalis- tas profissionais e professores universitários.
O CIESPAL "mantém contatos permanentes com as (...) esco- las de jornalismo da América Latina e à grande parte delas (presta) assessoria, tendo, inclusive, sugerido reformas que foram, no ge- ral, bem aceitas, como, por exemplo, o Currículo Celso Kelly (Pa- recer 631/69), de 1969, no Brasil.
O Centro realiza, assim, uma série de seminários "com o propó- sito de conhecer o nível técnico e acadêmico do ensino que era pro- porcionado em cada uma das escolas da região e para obter infor- mação sobre os diversos problemas do jornalismo, do exercício da profissão, legislação, enfim, da problemática latino-americana e da necessidade de pesquisas cientificas".5
Empenha-se, dessa forma, nos três objetivos preconizados: pes- quisa, tanto apontando para a metodologia (funcionalista/morfológi- ca), quanto promovendo cursos ou realizando pesquisas; documenta- ção, que nessa fase inicial ("primeira fase") toma contornos mais de produção editorial, somente iniciando-se na coleta e manipulação de dados a partir de 1970 com a instalação de um Centro de Do- cumentação, e ensino de jornalismo (comunicação), promovendo uma série de encontros, reuniões e seminários com o intuito de apontar para caminhos menos empíricos, no sentido de dar à comunicação um caráter cientifico que refletisse nas escolas por meio de indica- ções metodológicas, infra-estruturaís e até mesmo curriculares.
No desempenho dessas três atividades principais, o CIESPAL acaba apontando para uma filosofia da qual fazem parte, basicamen- te, um conceito de comunicação, um conceito de jornalismo e um conceito mais específico de ensino de jornalismo, ao qual denomi- nei Projeto Pedagógico, e que tem raízes nas concepções da UNESCO, que sofrem, por sua vez, periódicas transformações.
Esses objetivos, perpassados pelos conceitos apontados, assumem características específicas nas duas fases, em meio a contingências de caráter político-ideológico.
A "SEGUNDA FASE"
Mas as críticas ao CIESPAL começam a surgir. O modelo difu- sionista/funcionalista começa a demonstrar sinais de esgotamento, ao mesmo tempo em que mudanças políticas ocorriam na UNESCO.
60
Depois do auge no período correspondente ao final dos anos 40 até a década de 60, a economia capitalista internacional inicia uma etapa depressiva. Forma-se a chamada Trilateral (Estados Unidos/ /Europa Ocidental/Japão) em 1973, durante o governo Carter, tendo como objetivo principal "elaborar uma estratégia político-econômi- ca comum para os três blocos".6
Paralelamente, temos o avanço da social-democracia na Europa. Reivindicações chegam do Terceiro Mundo e passam a desafiar as nações industrializadas para o estabelecimento de uma Nova Ordem Econômica Internacional (NOEI), que implicasse novas relações po- líticas e conseqüente melhor distribuição de riquezas.
A reação do trilateralismo acaba sendo inevitável e tem por con- seqüência, grosso modo, a elaboração de uma "resposta histórica", que acaba gerando uma política de não-transformação radical dos sistemas econômicos, ou seja, gerando propostas de reforma para salvá-los.
À essa doutrina junta-se a social-democracia alemã, que tem na Fundação Friedrich Ebert um de seus principais redutos.
A NOMIC: UM "NOVO CONCEITO DE COMUNICAÇÃO" PARA UNESCO E CIESPAL
De 17 a 28 de julho de 1972, em Paris, a UNESCO promove a Reunião de Experts em Política de Comunicação, onde o novo tema políticas nacionais de comunicação começava a ser detidamente estu- dado, dando eco ao movimento iniciado dois anos antes e que "orien- tou progressivamente um programa" de promoção e sistematização de esforços nacionais nas esferas de competência da UNESCO, em função de fins determinados, isto é, de tuna política que fosse parte integrante de uma planificação sintética de desenvolvimento total". ^
Partia-se do conceito de que a comunicação moderna devia ir além do "modelo vertical caduco", isto é, do conceito de circulação em um só sentido — um processo multilateral (grifo nosso), "em que não somente um pode se comunicar com muitos, mas um com ou- tro, muitos com um, ou muitos com muitos".8
Começam a preocupar as "funções sociais da comunicação". Nas reuniões de 74 e 76 da ONU, tomam corpo as noções de uma Nova Ordem Econômica (NOEI) e uma Nova Ordem da Comunicação e Informação (NOMIC).
Inicia-se um novo debate que culmina, em 1980, com o polêmico Informe MacBride (Many Voices and One World), da comissão lide- rada pelo político irlandês Sean MacBride, que preconiza, basica- mente, em seiscentas páginas, a democratização política para o con- seqüente desenvolvimento dos meios de informação e das socieda- des nas quais estão integrados.
Esses esforços são refletidos no CIESPAL. Já em 1973, em São José da Costa Rica, o Centro realiza vários seminários já com o fi- nanciamento da Fundação Friedrich Ebert e do CEDAL (Centro de Estudos Democráticos para a América Latina).
61
Nesses seminários (pesquisa/ensino) a questão da ideologia nas teorias da comunicação era pela primeira vez tornada transparente. Mais precisamente podemos dizer que a partir desse momento o CIESPAL passa a desenvolver a vertente da Teoria da Dependência.
Ficava claro, a partir dali, que se deveria ter cuidado com en- foques de comunicação advindos de "paises centrais", fixados numa "concepção totalizadora", e que a comunicação deveria ser concebida em "todos os seus niveis de funcionamento, como um aspecto do processo produtivo geral da sociedade".
Esse principio teórico relativo à essa condição intrínseca da co- municação tinha, dessa forma, conseqüências no plano do estudo do i bjeto. Afirmava-se que a mudança no enfoque do conceito devia, obrigatoriamente, redirecionar os rumos da pesquisa.
O caminho apontado era o de uma metodologia originária e pa- ra latino-americanos, baseada num instrumental de trabalho mais depurado e critico e "que chegasse ao descobrimento de toda a in- ter-relação econômica, política, social e cultural que configuram as estruturas da dominação e poder, que, muitas vezes, condicionam e determinam os sistemas de comunicação imperantes".9
Naquele momento em que os organismos internacionais consta- tavam a impraticabilidade de programas de extensão agrícola, no sentido da difusão de informações, para o incremento da produti- vidade, chega-se à necessidade de novos marcos de referência num sistema de comunicação que possibilite a melhoria substancial dos programas de desenvolvimento e mudança social, que não podiam ser identificados a não ser pela pesquisa sistemática da comunicação na sociedade.
Para isso o CIESPAL (Marco Ordonez Andrade) aponta para uma revisão das disciplinas curriculares (Plan Tipo de 1966) e da visão do problema por parte das faculdades e dos professores, no sentido de permitir que se descobrissem ou identificassem os canais "mais adequados para que a comunicação chegasse aos diferentes grupos sociais".10
Assim, a questão fundamental que passa a nortear os rumos da pesquisa e do ensino no CIESPAL na sua "segunda fase" é a busca de uma metodologia própria à América Latina, mais engajada na proposição da planificação do desenvolvimento, na busca de políti- cas nacionais de comunicação, preconizadas pela UNESCO, a partir da década de 70.
De forma direta, por meio dos promotores do CIESPAL (semi- nários e "talleres" sobre temas específicos) a questão da participa- ção é colocada como forma de inserção total dos camponeses em pro- cesso de tomada de decisão e execução de ações comunitárias, pes- quisa e planificação comunitária, além da criação de "talleres" de comunicação popular, desenvolvidos mediante processos de pesqui- sa-ação, no estímulo à participação ativa das populações nas solu- ções dos próprios problemas.
O Centro publica tanto na sua "primeira", quanto na sua "se- gunda" fase uma série de textos que seriam pioneiros na América
62
Latina. Publica também desde 1972, a revista Chasqui, que vive ho- je sua segunda época.
Mas é a questão do ensino de comunicação que tem suscitado grande interesse. Tanto na sua "primeira" quanto na sua "segunda" fase o CIESPAL elaborou currículos que, comparativamente aos currí- culos implantados no Brasil, evidenciam uma influência inegável. Tabelas comparativas em nossa dissertação põem em relevo as mu- danças substanciais realizadas em nossa primeira reforma curricular (do curriculo mínimo de 1962 para o de 1969), e nas subseqüentes — 1978, 1984, a partir do currículo proposto em 1973 pelo CIESPAL.
CONCLUSÃO
A par de qualquer critica que possa ser feita aos equívocos eventualmente trilhados pelo CIESPAI (e em certo momento reco- nhecido pelo próprio Centro), é preciso ressaltar os esforços no sen- tido do estabelecimento de um método e instrumental próprios na região, somente possíveis a partir de um trabalho sistemático, que, incontestavelmente, o Centro realizou e realiza. Num primeiro mo- mento, nos rumos do funcionalismo. Num segundo, no da Teoria da Dependência.
A própria análise crítica ao trabalho do Centro permite a incor- poração de um avanço dialético que, paulatinamente, foi absorvido, gerando novos métodos, novas concepções. No caso dos currículos gerados a partir do CIESPAL, essa tendência se acentua, tendo-se em vista as possibilidades de ampliação por meio dos conteúdos programáticos. No caso da pesquisa em comunicação, pela mobili- dade do campo, proporcionada tanto pela evolução dos meios de co- municação, quanto pela evolução das várias teorias.
Assim, a partir da percepção de que não podemos nos circunscre- ver a dogmas irrefutáveis, os benefícios das teorias são efetivamente mais palpáveis. O CIESPAL propõe essa revisão a partir de 1973, embora enveredando por um caminho também, hoje, já contesta- do e, ao que parece, já trilhando novos rumos — uma "terceira" fase, que ainda suscita dificuldade de nominação. Talvez possamos, em- piricamente, ainda, chamá-la de uma fase mais "profissional".
NOTAS
1. UNESCO, UNESCO: Lo que es, Io que ace, como actua, Paris, 1950, p. 4.
2. UNESCO (XII Assembléia Geral — Os Católicos e a UNESCO), Edi- ções da AEC da Guanabara, Rio, 1965, pp. 145-146.
3. Veja também a edição em português: Comunicação de massa e desen- volvimento, Rio, Bloch, 1970.
4. Veja a esse respeito: CIESPAL, CIESPAL: Organización, objectivos y programas, Quito, CIESPAL, 1966.
5. Obra citada.
63
6. A Trilateral — nova fase do capitalismo mundial, Petrópolis, Vozes, 1979.
7. UNESCO, "Políticas y Planeamiento de Ia Comunicación — informe de Ia reunión de experts sobre políticas y planeamiento de Ia Comunicación (Paris)", em Chasqui, n.0 2, 1973, p. 20.
8. Obra citada, p. 26. 9. CIESPAL, Seminário sobre Ia investigación de Ia Comunicación en
América Latina, Quito, CIESPAL, 1971, p. 2. 10. Marco Ordonez Andrade, "El Rol de Ia Comunicación en Ia Sociedad",
em Chasqui (II época), 1982, p. 45.
64
O jornalismo e o golpe de 1964
Alice Mitika Koshiyama
Uma visão da história dos anos 60 no Brasil registra um clima propício para mudanças. E acreditava-se, diante do exemplo da re- volução em Cuba, que seria possível, na América Latina, um pro- cesso de mudança social que prescindisse da tutela política dos Es- tados Unidos. Era tempo de sonhos e debates para os que buscavam participar das mudanças sociais, influenciando-as conscientemente. Militantes políticos, no Brasil, eram instados a responder: reforma ou revolução?
Na história real concreta, as classes dominantes foram mais rá- pidas e usaram a força das armas contrapondo-as aos sonhos e dis- cursos de reformistas e revolucionários ou pretensos revolucionários.
A habilidade em envolver amplos setores da sociedade, neutra- lizando a oposição, possibilitou aos articuladores do golpe de 64 to- mar o poder sem dividir as Forças Armadas. Foi diferente de 1961, quando tentaram impedir a posse do vice-presidente da República, João Goulart, no cargo de presidente, encontrando no comandante do III Exército um decisivo opositor ao golpe.1
Os meios de comunicação de massas apoiaram a preparação do golpe de 64, na divulgação de informações e opiniões destinadas à formação de um clima favorável a uma solução de força. E o golpe de 64 teve o apoio da quase totalidade da grande imprensa do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Porto Alegre, as quatro principais ca- pitais do estado, na época, como verificou o pesquisador Alfredo Stepan. A exceção foi o grupo última Hora, de Samuel Wainer, ge- tulista histórico que acompanhou Jango até o fim.2
Embora organizado meticulosamente e camufladamente duran- te quase três anos,3 o golpe foi desfechado como ato de salvação do poder democrático ameaçado pelo caos, pela crise de autoridade.
A propaganda golpista soube combinar a exposição dos atos do govemo Goulart e de personagens históricas identificadas com a es-
♦ Professora do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo — USP.
65
querda através dos grandes meios de comunicação com ataques fre- qüentes travestidos de análises. A ação da UDN, através do seu presidente Bilac Pinto, que acusava João Goulart e Leonel Brizola de promoverem a guerra revolucionária, ocupando a atenção, o tem- po e as energias dos seus colegas deputados federais, enquadrava-se, perfeitamente, no esquema que juntava fatos da realidade com in- terpretações tendenciosas. *
Os meios de comunicação de massas multiplicavam esses apelos sobre a necessidade de se impedir um golpe esquerdista iminente.
A partir do comício pelas reformas de base, em 13 de março de 1964, a idéia de depor João Goulart ganha o apoio de amplos seto- res da classe média. Em São Paulo, no dia 19 de março, celebra-se um contracomicio em oposição às medidas de Jango. Quando ma- rinheiros amotinam-se em 26 de março e Jango recusa-se a mandar punir os envolvidos, os oficiais das Forças Armadas, apavorados com a quebra da hierarquia, não hesitam em executar o golpe ou, pelo menos nada fazer para impedi-lo.5
Buscando neutralizar qualquer reação armada de Goulart — o que acabou não acontecendo — os conspiradores conseguiram o apoio prévio dos Estados Unidos, cujo embaixador, Lincoln Gordon, foi, antecipadamente, informado do golpe de Estado.8
Paulo Shilling, que acompanhou os acontecimentos como asses- sor político do deputado federal Leonel Brizola, aponta um extenso rol de dados insinuando que Jango foi até conivente com os golpis- tas. 7 Mas é igualmente rigoroso ao avaliar o comportamento públi- co de Leonel Brizola, cuja radicalização verbal não tinha nenhuma organização partidária no setor militar. Os brizolistas, segundo Shil- ling, ficaram "esperando que os generais nacionalistas fizessem a Re- volução", ou então uma circunstância histórica semelhante ã de agos- to de 1961. Havia apenas o movimento de massas constituído pelos "Grupos dos 11", e Paulo assegura que em três meses foram cons- tituídos entre 30/40 mil grupos no País, quando houve o golpe. Não existia o imprescindível partido revolucionário.8
Mas Fernando Gabeira, na época redator do Panfleto, jornal de Leonel Brizola, aderiu a um dos Grupos dos Onze e achou que tudo era um blefe:
Dizia-se às células que procurassem resistir ao golpe. Mas co- mo? Com quê? Os grupos haviam sido organizados às pres- sas; não tinham nenhum treino nem equipamento; e, como as Ligas Camponesas, logo estavam pululando de informantes. Fer- nando estava convencido de que a embaixada norte-americana sabia como os Grupos dos Onze eram despreparados e inócuos; e quando veio a saber que Gordon os mencionara como mais um pretexto para o golpe militar, assombrou-se diante do cinismo do embaixador.B
Confundir discursos com fatos concretos, acreditar-se ator único no cenário político sem nenhuma percepção do que adversários tra- mavam: era a incompetência política. Um exemplo disso era a ma- nifestação estampada pelo jornal Brasil, Urgente, órgão da esquerda
66
católica, em 19 de março de 1964. Atribuía ao comício de 13 de mar- ço o mérito de ter reformado o Brasil. Paulo César Botas, analisan- do a publicação, constata: "O jornal afirmava em suas análises que a reação — após o comício de Goulart — conspirava porque 'acha o futuro terrível' ".10
Note-se "a ração — após o comício de Goulart — conspirava". E simples assinaturas de decretos eram tomadas como reformas efe- tivas, que já estariam implementadas. Que a extrema-direita alar- deasse tais atos como perigosos aos seus interesses era compreen- sível. Mas o que se pode dizer das esquerdas quando falavam como se tivessem já o poder absoluto?
O sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, na época deputado fe- deral pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), escrevia, em livro publicado em julho de 1963:
No Brasil de hoje, são indiscerníveis, como círculos compactos e fechados, o poder e o antipoder. O poder está aberto a re- volucionários. Como personalidades isoladas, há revolucioná- rios no poder e contra-revolucionários no antipoder. Por isso, nem sempre, entre nós, pode ser existencialmente clara a dis- tinção entre esquerda e direita.
Empolgada largamente por fetiches verbais, a liderança de nosso movimento emancipador tem perdido várias oportunida- des para desempenho adulto. (...) É impossível impingir ao nosso processo a radicalidade dos manuais de outros países (...) Há no Brasil de hoje poucos homens de esquerda, porém, muitos esquerdeiros. Estes últimos vivem da gesticulação re- volucionária e de ficções verbais, u
Os exageros de retórica participavam do cotidiano político. Acusar adversários de conspiradores, sem nenhuma prova consisten- te, era um comportamento usual na época, lembra Márcio Moreira Alves. Ele observa que na literatura de esquerda, publicada no Bra- sil no início da década de sessenta, apenas um livro, o de Wander- ley Guilherme, Quem dará o golpe no Brasil (Rio de Janeiro, Edi- tora Civilização Brasileira, Cadernos do Povo, 1963), previa correta- mente a possibilidade de um golpe de direita. Todos acharam exa- geradas suas previsões.12
Diante do clima existente, é compreensível que a esquerda não tenha se constituído para enfrentar um possível golpe de Estado de direita. Ela passava por uma dificuldade fundamental que era o de definir a sua identidade. E a preservação das instituições democrá- ticas torna-se um valor questionável quando as próprias autoridades parecem desrespeitá-las. Antônio Callado observava, em texto de 12 de abril de 1964:
Por mais que me repugne atirar a minha pedra particular na hora do geral apedrejamento do ex-Presidente, é inegável que o Brasil descia sem freios uma encosta que ia dar no caos. Fui como milhões de brasileiros, a favor da posse de Jango em 1961, contra a conspiração dos ministros e do Governador Lacerda. Só
67
com a esperança de ver o Brasil saindo da larva obscurantis- ta para seu vôo de liberdade democrática.13
Mas, no mesmo artigo, Antônio Callado mostra-se indignado com os acontecimentos de Pernambuco, onde Miguel Arraes foi derruba- do: "O IV Exército do General Justino Alves Bastos conseguiu em dois dias forçar o impeachment do Governador e degredá-lo para Fernando de Noronha".
Provavelmente Callado e muitos outros cidadãos decentes que apoiaram o golpe de 64 acreditavam na "vocação democrática" das Forças Armadas. Não perceberam que os militares haviam mudado e não iam apenas depor um presidente e voltar para os quartéis, co- mo fizeram em 1945. Alfred Stepan, pesquisador que demonstra ter mantido Íntimos contatos com os militares da cúpula do governo militar pós-64, explica a metamorfose devido à assimilação de uma nova ideologia que acompanhou a formação dos oficiais militares de- pois da Segunda Guerra Mundial.
A Escola Superior de Guerra, fundada em 1949 e inspirada no modelo norte-americano, encarrega-se de propiciar aos novos oficiais formação técnica e política, responsabilizando-os, também, direta- mente, pelos destinos do Pais. As bases da doutrina da segurança nacional, que é a ideologia dos militares em busca do poder político, foram publicados em livro, em 1956, sob o título de Geopolítica dò Brasil e editado pela José Olympio. i* Parece que poucos presta- ram atenção ao texto.
Pela doutrina da segurança nacional o poder militar totalitário fica respaldado ideologicamente. Isso porque ela admite a guerra permanente em um mundo controlado por duas potências: EUA e União Soviética. Os EUA representando a civilização ocidental cris- tã, o bem, a democracia e o capitalismo (evidentemente). A União Soviética, representando o comunismo ateu, o mal, o totalitarismo. As sociedades são formadas por elites, a minoria que sabe, os diri- gentes do poder econômico, político, militar e psicossocial (constituí- do pelos meios de comunicações, as escolas, as igrejas), e a massa, a maioria que não sabe o que deseja e desconhece os perigos do mundo. O conflito entre as potências é permanente e mundial, guer- reia-se pelas armas e pelas idéias (guerra psicológica). As elites di- rigem a nação mas como há uma guerra o comando fica com os militares. E como a guerra é mundial a nação está inteiramente en- volvida, as pessoas ou estão do lado da União Soviética ou do lado dos Estados Unidos. A segurança nacional não é apenas em relação ao exterior; envolve também o interior do País.15
A noção de guerra permanente, perigo permanente externo e in- terno, termina transformando conflitos e tensões sociais comuns na sociedade em atos de guerra, tomando a convivência democrática impossível.1» Um governo reformista pode ser acusado de estar a serviço do inimigo, e um administrador apenas incompetente é acusado de ser um agente inimigo. O objetivo central da ideologia da segurança nacional — justificar o poder militar autoritário — fica
68
camuflado para a maioria dos cidadãos desejosos apenas de se li- vrarem de um mau dirigente.17
0 jurista Heleno Fragoso dispõe de longa experiência em defen- der os perseguidos pelo regime p(5s-64. Explica que quando houve o movimento de 64 estava em vigor a antiga Lei de Segurança Na- cional de 1953, pela qual era submetido à Justiça Militar apenas o delito contra a segurança externa do País. Esta lei baseava-se na divisão clássica dos crimes contra a segurança do Estado: os refe- rentes à traição à Pátria (segurança externa); e os ligados com a segurança do Governo e dos órgãos do Governo. Fragoso assinala a modificação essencial trazida pela substituição da divisão clássica, de fundo liberal, pela doutrina da segurança nacional:
Essa nova visão que se elaborou, substancialmente, em face do problema da subversão, é muito perigosa. Ê muito perigosa, porque os governantes sempre foram tentados a denunciar co- mo traição à pátria o que é simplesmente oposição ao Gover- no, afirmando-se que são traidores aqueles que se opõem ao Governo.18
Transformar adversários em inimigos é um ato de guerra, e vi- sa, na prática, eliminar qualquer processo de oposição mais conse- qüente.
No entanto, a repressão desencadeada contra os adversários reais ou supostos do regime militar não teve a cobertura da maior par- te da imprensa liberal como assunto prioritário e diário. Márcio Moreira Alves, jornalista e um dos repórteres que mais escreveram sobre torturas a presos políticos, observou: "Quando o protesto implica se pagar com a liberdade a coragem da crítica, o batalhão dos silenciosos e bajuladores cresce espantosamente. Só uns poucos agüentam firme".
Os esforços em denunciar atos arbitrários do regime não depen- diam, evidentemente, apenas da boa vontade dos repórteres. O Cor- reio da Manhã foi o órgão da imprensa liberal que deu espaço para seus jornalistas denunciarem o que estava acontecendo, a ponto de, em agosto de 1964, tais matérias parecerem rotineiras. Um dos di- retores da publicação chegou a sugerir que as histórias de horror estavam cansando os leitores. E o jornal já sofria os efeitos do boi- cote econômico. Os jornalistas protestaram alegando que os tor- turadores esperavam justamente cansar a opinião pública e ter li- berdade para continuar torturando sem controles. O jornal prosse- guiu no seu trabalho, cobrindo todo o País; e em Recife, onde acon- teciam os piores fatos, repórteres de outros jornais não tão inte- ressados em publicar notícias sobre torturas passaram a colaborar com o Correio ãa Manhã.20
O Correio da Manhã pagaria caro pela sua coerência, perdendo o apoio dos seus anunciantes, o que afetou diretamente a sustenta- ção comercial do órgão, dificultando a manutenção de quadros jor- nalísticos. Depois do Ato Institucional n9 5, fechou suas portas, sufocado pelas dificuldades econômicas. 21
69
Dos órgãos da imprensa declaradamente partidária, a Revista Civilização Brasileira, publicada de 1965 até o final de 1968, trouxe logo no primeiro número relatos sobre a repressão no Brasil, re- pressão que atinge o próprio proprietário da empresa editora con- ceituada. O crime do editor Ênio Silveira: fazer livros que desa- gradavam os militares no poder.
Depois do Ato Institucional n9 5, a imprensa de oposição teve uma trajetória em que foi submetida à censura prévia, apreensões em bancas, atentados às suas dependências. E mesmo a grande im- prensa liberal sofreu uma censura que chegou a proibir a divulga- ção de estatísticas sobre o surto de meningite em 1974 porque isso alarmaria a população. A publicação de uma notícia, que seria ape- nas de utilidade pública em circunstâncias normais, exigia coragem para desafiar as autoridades.22
NOTAS E REFERÊNCIAS
1. A liderança do governador Leonel Brizola galvanizou as forças mili- tares e políticas em defesa da Constituição do País. A partir da "Cadeia da Legalidade" Brizola firmou-se como líder da resistência ao golpe de 1961. Os ministros militares aceitaram dar posse a Jango para evitar uma guerra civil. Mas a lição valeu: os mesmos golpistas de 1961 começaram a preparar a opinião pública para a próxima vez, 1964, conforme nos mostra René Armand Dreifuss, no livro 1964 — A conquista do Estado: ação política, poder e golpe de classe (Petrópolis, Vozes, 1981).
2. Samuel Wainer foi um jornalista vinculado organicamente ao getu- lismo. Do jornal Ultima Hora, publicação conceituada da imprensa para massas populares urbanas, fundado para dar respaldo político a Vargas no início do seu 2.° mandato presidencial, Wainer fez jornalismo e política parti- dária. Mantém-se fiel à herança getulista apoiando Jango até o fim.
3. René A. Dreifuss, no seu livro já citado, detalha como um restrito número de pessoas conseguiu — sem revelar seus objetivos finais — engajar um expressivo número de participantes em atividades que interessavam ao bom êxito da conspiração, abrangendo desde grupos de estudos de problemas brasileiros até atividades de propaganda jornalística.
4. Uma coletânea de discursos do deputado federal Bilac Pinto, presi- dente da UDN — União Democrática Nacional —, mostra-nos como a cam- panha consistia na repetição contínua das mesmas alegações. Bilac Pinto, Guerra revolucionária, Rio, Forense, 1964.
5. O calendário que marca o período da definição do golpe ao seu desfecho — 13 a 31 de março — refere-se à definição de uma opinião pública, expressa nas principais organizações jornalísticas, favorável ao movimento. Ver: Alfred Stepan, Os militares na política, e Hélio Silva, 1964: golpe ou contragolpe?, Rio, Civilização.
6. Marcos Sá Corrêa, 1964 visto e comentado pela Casa Branca. Porto Alegre, L. & PM, 1977, pp. 21-24.
7. Ver: "A consciência de classe do Sr. João Goulart", in Paulo Schilling, Como se coloca a direita no poder — 2 — os acontecimentos, trad. Cláudia Schilling, São Paulo, Global, 1981, pp. 65-91.
8. Paulo Schilling, Como se coloca a direita no poder — 1 — os prota- gonistas, trad. C. Schilling Sancho, São Paulo, Global, 1979, pp. 239-244.
70
9. Fernando Gabeira, in A. J. Langguth. A face oculta do terror, trad. Roberto Raposo, Eio, Civilização, p. 91.
10. Paulo César Botas, Brasil, urgente: memória e engajamento católico no Brasil/1963-1964, Petrópolis, Vozes, 1983.
11. Alberto Guerreiro Ramos, Mito e verdade da revolução brasileira, Rio, Zahar, 1963, pp. 183-184.
12. Márcio Moreira Alves, O despertar da revolução brasileira, Lisboa, Seara Nova, 1974, p. 54.
13. Antônio Callado, Correio da Manhã, 12/4/64, In Thereza Cesário Alvim (org.), A imprensa disse: Não, Rio, Civilização, 1979, p. 29.
14. Golbery do Couto e Silva, Geopolítica do Brasil, 2.a ed.. Rio, José Olympio, 1967.
15. Golbery de C. e Silva, Geopolitica do Brasil. Note-se que a noção de massa, nesse quadro explicativo, é uma categoria imutável, não transforma vel, para sempre incapaz de decidir ou dirigir.
16. As restrições à circulação de informações tornara norma o que devia ser exceção. E a volta aos hábitos democráticos começava com a revelação de como funcionava o Estado de segurança nacional. Ver: Walder de Góes, 0 Brasil do General Geisel — estudo do processo de tomada de decisão no regime militar-burocrático. Rio, Nova Fronteira, 1978.
17. Márcio Moreira Alves, por exemplo, foi um dos que não perceberam a real natureza do golpe de 64, o de ser um golpe contra o Estado criado pela Constituinte de 1946. Diz ele: "(..,) do Jango, só percebi os defeitos e achei que uma intervenção clássica como a de 1945, não faria mal ao Brasil, ao contrário, poderia pôr um pouco de ordem nas coisas". Entre- vista a Thereza Cesário Alvim, Staíus, n.» 62, set. 1969, in Especial Entrevista Status, no 75/A, p. 121.
18. Heleno Fragoso, "Denúncias sobre tortura", in Carlos Rangel, £ hora de enterrar os ossos. Rio, Tipo Ed., 1979, pp. 89-90.
19. Márcio Moreira Alves. O despertar da revolução brasileira, pp. 125-126. 20. Márcio Moreira Alves, O despertar da revolução brasileira, pp. 128-129. 21. Moniz Bandeira, Cartéis e desnacionalização (a experiência brasileira
19644974), 2.a ed., Rio, Civilização, 1975, p. 205. 22. Ver: Paolo Marconi, A censura política na imprensa brasileira (.1968-
■197S), 2.a ed., revista, São Paulo, Global, 1980.
71
Ensino de jornalismo nos Estados Unidos: o caso da Carolína do Norte*
Thomas Bowers
A Universidade da Carolina do Norte é a mais velha universida-1 de pública dos Estados Unidos. Ela foi idealizada pela constitui- ção estadual de 1776, e seu primeiro edifício foi iniciado em 1793. Abriu suas portas e iniciou atividades em 1795. Foi a única uni- versidade pública dos Estados Unidos que graduava estudantes no século XVIII.
O programa de jornalismo da Universidade da Carolina do Nor- te não é tão antigo quanto a Escola de Jornalismo da Universidade de Missouri. O primeiro curso de jornalismo da Universidade da Carolina do Norte foi ministrado no Departamento de Inglês, era 1909. Outros cursos foram adicionados àquele currículo, e o De- partamento de Jornalismo foi formado em 1924. O Departamento tornou-se uma escola autônoma de jornalismo em 1950.
Dentro da estrutura universitária, a Escola de Jornalismo é uma| das três escolas profissionais da Divisão de Assuntos Acadêmicos. As outras são a Escola de Administração de Negócios e a Escola de Educação. Todas essas escolas profissionais são independentes da Faculdade de Artes e Ciências da Universidade.
Antes de me referir ao currículo geral da universidade, gostaria de dizer algo sobre a natureza dos estudantes, que é determinada pelas políticas de admissão da universidade. A Universidade da Ca- rolína do Norte não é como muitas outras universidades estaduais em que há admissão competitiva para estudantes, incluindo estu- dantes do estado da Carolina do Norte. Os estudantes que preten- dam sua admissão na universidade devem freqüentar certos cursos
* Tradução de Fátima A. Feliciano (ECA/USP). ♦• Diretor Adjunto da Faculdade de Jornalismo da Universidade de Caro-
lina do Norte.
72
no colégio. Isso inclui: quatro anos de inglês preparatório, três anos de matemática (incluindo um ano de geometria e dois de ál- gebra), dois anos de ciências sociais (incluindo um ano de história americana e um ano de aspectos governamentais e econômicos) e três anos de ciências biológicas (incluindo biologia e ciência física). Além disso, espera-se que os estudantes tenham completado, pelo menos, dois anos de uma língua estrangeira.
Os estudantes que são admitidos na Universidade da Carolina do Norte gastam seus primeiros dois anos no General College da uni- versidade, onde recebem um currículo extensivo em cursos de ar- tes liberais e gerais. Especificamente, devem cursar matemática, dois anos de uma língua estrangeira e vários cursos chamados de áreas de "perspectiva":
— dois cursos de estética, incluindo um curso de literatura e um de artes;
— dois cursos de ciências sociais, que incluem economia, socio- logia, antropologia e geografia;
— dois cursos de história, incluindo um curso de história não oci- dental;
— dois cursos de ciências naturais, incluindo, pelo menos, um curso de laboratório; e
— um curso de filosofia.
Eu mencionei tudo isso porque os estudantes não são admitidos na Escola de Jornalismo até que o seu terceiro ano e requisitos ge- rais tenham sido completados. Mesmo depois de entrarem para a Escola de Jornalismo, cursam artes liberais fora da Escola de Jor- nalismo.
Especificamente, eles devem freqüentar cursos adicionais e de nível mais elevado, dos quais de cinco cursos, três devem ser cur-
Este requisito é feito a fim de proporcionar a eles contato em profundidade com uma área, enquanto outros requisitos proporcio- nam uma exposição menos extensiva em outras áreas. Dentro da educação geral requisitada, devo esclarecer, exigimos cursos sobre o governo americano; sociologia, economia, psicologia e história recen- te dos Estados Unidos.
Agora vou me ater aos requisitos do curso de jornalismo pro- priamente dito. Temos aproximadamente 550 alunos de graduação (alunos de terceiro e quarto anos) e aproximadamente 65 alunos de pós-graduação (50 em mestrado e 15 em Doutorado (PhD). Gosta- ria de focalizar minhas colocações nos alunos de graduação, que se situam em dois segmentos — com mais especialização de estudos. Aproximadamente metade dos estudantes estão no segmento de pu- blicidade e a outra na de imprensa e editoração. A seqüência im- prensa — editoração inclui o que chamamos de opções tradicionais tanto quanto a opção de relações públicas (15%) e telerradiojorna- lismo (15%). Os estudantes tradicionais, aqueles que se interes- sam por trabalhar como repórteres, redatores e editores de jornais e revistas, são uma minoria (25%) entre nossos estudantes. Isso
73
também é um fenômeno nacional entre os quase noventa mil estu- dantes de jornalismo e comunicação de massa nos Estados Unidos. Aproximadamente dois terços dos nossos estudantes de graduação são mulheres, maior que a cifra nacional de 600/o. Colocamos rela- ções públicas e estudos de telerradiojomalismo no segmento de jor- nalismo-editoração e não como segmentos separados por uma im- portante razão filosófica: acreditamos que os estudantes que dese- jam entrar nessas profissões necessitam de um sólido background nas técnicas de jornalismo impresso.
Temos certos requisitos básicos em termos de currículo para os estudantes em todos os segmentos, incluindo um curso de redação e outro sobre legislação e ética dos meios de comunicação de mas- sa. Exigimos, ainda, que todos os estudantes se submetam a um teste de ortografia e gramática antes de se graduarem.
Descreverei, agora, os requisitos específicos para o segmento tra- dicional de opção jomalismo-editoração, mas não entrarei em de- talhes sobre publicidade, relações públicas ou programas de radio- teledifusão.
Além dos cursos de redação e legislação dos meios de comuni- cação, todos os estudantes da opção jornalismo devem freqüentar um curso de reportagem e um curso de edição, que inclui prática de edição em video. Além disso, os estudantes devem escolher mais dois cursos de um grupo que chamados de cursos de "habilidades" que incluem linguagem especializada, redação de editoriais, fotojor- nalismo, redação e edição de revistas, reportagem avançada, edição avançada, foto jornalismo avançado. Eles devem também escolher dois cursos de um grupo ao qual chamamos cursos conceituais, que incluem história dos meios de comunicação, publicações correntes em comunicação de massa, ética dos meios de comunicação, comunica- ção internacional, efeitos dos meios de comunicação, jornalismo co- munitário, relações públicas, pesquisa e publicidade dos meios de co- municação.
Pode paercer que os estudantes freqüentam um número muito grande de cursos, mas isso não ocorre. Em realidade, nós não per- mitimos que os alunos cursem mais do que 25% de jornalismo. Os outros 75% devem ser cursados fora da escola de jornalismo, e a maioria deles devem ser em artes liberais. O requisito advém da filosofia de que estudantes que se preparam para as carreiras de jornalismo e comunicação de massa devem ter um background em artes liberais e humanidades com uma fundamentação limitada em jornalismo. Esta filosofia tem sido largamente aceita entre profes- sores de jornalismo e jornalistas profissionais. Nos seus trabalhos, os jornalistas devem saber um pouco de tudo. Há ainda o senti- mento que os jornalistas devem ser educados e não treinados. Gos- taria de acrescentar, ainda, que há um debate extensivo nos Estados Unidos sobre a educação superior neste momento, sobre a importân- cia das artes liberais, e de educação ao invés de treinamento.
A qualidade do currículo, claro, é mais do que uma lista de re- quisitos disciplinares. A qualidade de um currículo — e dos es- tuadntes que o completam — dependem grandemente da qualidade
74
da faculdade que promove os cursos. Na Universidade da Carolina do Norte e em outras universidades, grande cuidado e consideração são dedicados à qualidade dos professores. Mais importante, os membros da faculdade devem ter experiência profissional como con- dição para o ensino. Algum tipo de experiência profissional é um requisito para a Universidade da Carolina do Norte e virtualmente para todas as outras escolas e departamentos de jornalismo. A ex- tensão dessa experiência varia, é claro. Alguns membros da univer- sidade têm muitos anos de experiência profissional, e alguns poucos apenas o doutorado. Outros membros da faculdade têm muito me- nos experiência profissional, e muitos deles estão na iminência de um doutorado. A questão é que o corpo docente em uma escola em par- ticular deve ser balanceado entre profissionais experientes e outros com formação acadêmica. Essa média funciona bem na maioria das vezes.
De qualquer forma, é importante que a experiência profissional seja recente. A tecnologia do jornalismo tem mudado tão rapidamen- te nos últimos anos, que alguém que esteve fora de uma redação por mais de alguns poucos anos não está a par das condições correntes de trabalho. É por isso que é tão importante para os membros de uma faculdade retornarem às redações, a fim de constantemente, se manterem atualizados.
0 importante é que os educadores se mantenham alertas e em contato com o mundo jornalístico. Isto é uma atitude tanto quanto uma condição de experiência. Os educadores não podem se permi- tir viverem isolados numa torre de marfim.
Os educadores podem fazer outras coisas para se manterem per- to da profissão jornalística. Alguns professores servem a jornais como supervisores de redação. Sob esses arranjos, um jornal con- trata um professor para despender seu tempo ajudando repórteres e editores a melhorarem suas habilidades de redação e edição. Mui- tos professores nos Estados Unidos desempenham essa atividade em bases regulares durante suas férias de verão. Assim, os professores estão aptos a permanecerem a par das novas tecnologias das reda- ções, e os jornais podem incrementar as habilidades da sua equipe.
Muitos educadores freqüentam encontros das associações pro- fissionais, e outros, competições patrocinadas pelas associações de jornalistas. Alguns professores realizam pesquisas de uso prático dos jornais, tais como estudos de leitura ou pesquisas de opinião pública. A minha escola de jornalismo realiza uma grande pesqui- sa de opinião duas vezes ao ano, fornecendo os resultados para to- dos os meios de comunicação do estado.
Voltando à questão curricular, o currículo que descrevi, e o cur- rículo em outras escolas, foram determinados por educadores. E é assim que deveria ser, porque são programas educacionais e não pro- gramas de treinamento. Embora educadores decidam e devam de- cidir sobre currículos e conteúdos curriculares, não devem fazê-lo no vácuo — sem levar em consideração sua experiência profissional e a opinião de profissionais.
75
Os profissionais têm vários mecanismos de participação nessas deliberações. Algumas escolas de jornalismo criaram quadros de vi- sitantes, que nada mais são que grupos de profissionais que se en- contram regularmente para conferenciar com educadores sobre pro- gramas de jornalismo e meios de comunicação de massa e oferece- rem aconselhamento sobre currículo e outros assuntos. Esses qua- dros podem se transformar em um modo útil para que as escolas de jornalismo demonstrem o que estão fazendo e para que jorna- listas profissionais permaneçam a par do que está sendo ensinado nestas, escolas.
Alguns grupos formais se estabeleceram para propiciar um fórum de discussão entre educadores e profissionais num nível nacional. O pri- meiro deles é chamado de Comitê sobre Ensino de Jornalismo-Editora- ção e é uma união entre a American Society of Newspapel Editora e a Association for Education in Journalism and Mass Communica- tion (AEJMC). Um dos seus maiores projetos tem sido o desenvol- vimento e a adoção de um papel que posicione e chame as univer- sidades para o reconhecimento profissional, como um critério im- portante para a aquisição de membros para as faculdades de jorna- lismo, além de reconhecer as atividades profissionais como uma con- tinuidade da educação, ou artigos em publicações jornalísticas co- mo meios legítimos para a promoção e o exercício. Uma organiza- ção exemplar, o Council on Education for the Eletronic Media for- mou-se recentemente. Muitas das associações nacionais de meios de comunicação, tais como a American Society of Newspapers Edi- tors e a American Society of Magazine Editors, têm importantes comitês que lidam com assuntos acadêmicos. Outro fórum para discussão sobre currículo é o corpo nacional de credenciamento, que discutirei adiante.
Os estudantes devem ter a chance de aprender além da sala de aula, assim uma parte integrante do nosso currículo — e algo que depende de grande participação e apoio dos profissionais — é o pro- grama de estágio para nossos estudantes. Estes são programas que permitem aos estudantes trabalharem para jornais ou revistas a fim de ganharem mais experiência e serem expostos a situações de vida cotidiana. Os estudantes realizam esse programa durante as férias de verão, muito embora alguns se dediquem a eles em outros pe- ríodos. Embora muitas escolas de jornalismo dêem aos estudantes créditos acadêmicos por essa experiência, nós não o fazemos na Universidade da Carolina do Norte. Alguns jornais e revistas têm tais programas multo bem estruturados. Muitos estudantes podem se candidatas a um pequeno número de estágios, e as publicações selecionam os melhores. Eles têm programas de treinamento e orien- tação, e os estudantes envolvidos devem ocupar várias posições na equipe durante o período de férias de' verão. Esses estágios são muito úteis para os estudantes, mas são também úteis para os jor- nais e revistas, porque os editores podem se colocar a par de em- pregados em potencial e observá-los durante longos períodos em con- dições reais de trabalho. Muitos jornais e revistas contratam esses
76
estagiários depois que estes se graduam, porque têm pouca dúvida sobre suas habilidades.
Nosso currículo e programa educacional são também resultado de jornalistas profissionais que visitam ou ensinam. A Universida- de da Carolina do Norte bem como muitos outros programas de jornalismo contratam jornalistas profissionais como professores em tempo parcial. Nós fazemos isso a fim de proporcionar maior ex- posição à prática profissional e problemas correntes bem como en- contrar demandas de crescimento para o nosso corpo docente.
O programa do "editor-residente" * da American Society of News- paper Editors é particularmente importante. Nesse programa, os editores visitam escolas por duas ou três vezes, por conta de seu jornal, e falam a estudantes em universidades ou em sessões infor- mais. Um programa relatado, o programa minoritário editor-resi- áente, traz alguns editores para programas que não devem, por ou- tro lado, dispor de poucos membros do corpo docente. Eles podem ser especialmente importantes como modelos de desempenho para estudantes de jornalismo.
Credenciamento é uma outra maneira muito importante na qual educadores e profissionais cooperam sobre currículo e outros assun- tos. Este é processo pelo qual os programas educacionais são cui- dadosamente avaliados e aprovados por educadores e profissionais. Isso é comum em muitos programas profissionais além do jornalis- mo e comunicação de massa, incluindo direito e medicina, enferma- gem e administração de negócios. O propósito do credenciamento é o de assegurar-se da qualidade do programa para estudantes em potencial e profissionais.
Em jornalismo e comunicação de massa, o corpo de credencia- mento reconhecido pelo governo americano é o Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communication, ou ACEJMC, que foi fundado nos anos 40, com o apoio de organizações de jor- nais e revistas. Editores continuam a ser os suportes primários da ACEJMC, muito embora os interesses dos estudantes em publicidade, relações públicas e telerradiodifusão tenham mudado a paisagem da educação em comunicação e jornalismo. Editores de jornais têm tomecido especial suporte financeiro e de liderança que fizeram da ACEJMC uma organização forte. O propósito da ACEJMC é tentar assegurar controle de qualidade nos programas de jornalismo e co- municação de massa para estudantes e meios de comunicação. Em 1987, aproximadamente 80 dos mais de 300 programas de jornalis- mo e comunicação de massa em universidades americanas adota- ram os padrões da ACEJMC e foram credenciados.
0 processo é longo. Uma vez credenciados os programas são reavaliados a cada seis anos. O processo começa com uma requisi- ção do reitor da universidade de que o programa seja avaliado para credenciamento ou recredenciamento. A escola ou departamento então se submete a um ano inteiro de auto-estudo ou exame no qual
• No original, editor-in-residence. (N.T.).
77
se avalia a si própria de acordo com os padrões da ACEJMC e de seus próprios objetivos. O resultado escrito desse auto-estudo é en- viado para uma equipe de educadores e profissionais escolhidos pa- ra avaliar aquele programa.
Após a leitura de auto-estudo, a equipe de credenciamento visita a escola e fala com os estudantes, corpo docente, profissionais de meios de comunicação locais e administradores. A equipe avalia o programa tendo como base 12 padrões, incluindo currículo, ensino, administração, gravações, aconselhamento, estágios, suporte finan- ceiro, equipamento e facilidades, corpo docente, alunos, serviços pú- blicos e minorias recrutadas.
A equipe escreve um relatório e faz recomendações ao comitê de credenciamento. O comitê se reúne anualmente para revisar todos os relatórios para aquele ano e fazer recomendações para o conse- lho de credenciamento. A lista de programas credenciados é farta- mente distribuída para organizações de meios de comunicação e se torna ao alcance de estudantes e pais.
O credenciamento é valioso para as escolas porque representa um selo de qualidade dos profissionais e outros educadores. Dá cre- dibilidade a estes programas para pais e estudantes, para o público e para o resto da universidade. O credenciamento tem um benefí- cio prático para as escolas também. Alguns dos benefícios finan- ceiros mencionados anteriormente são restritos a programas de cre- denciamento, como também um incentivo especial para que as es- colas mantenham a qualidade em seus programas.
Para o público — quero dizer estudantes e pais — credenciamen- to é a segurança de que o programa encontrou os padrões da equi- pe. Para os profissionais — quero dizer revistas e jornais — cre- denciamento significa que alunos de graduações devam encontrar seus padrões estabelecidos através da participação de organizações profissionais.
Há muitos outros tópicos a serem abordados, incluindo coloca- ção profissional de estudantes, programas de educação permanente para profissionais e suporte financeiro de educação jornalística por organizações profissionais. Mas isso fica para uma outra vez.
78
Apontamentos para uma nova leitura do currículo de jornalismo
José Coelho Sobrinho *
INTRODUÇÃO
As estruturas curriculares baixadas pelo Conselho Federal de Educação têm sido os principais argumentos citados por professores e instituições para justificar a ineficiente formação de profissionais de jornalismo.
É evidente que não se pode excluir de responsabilidade aquele órgão federal. Entretanto, é necessário que outros fatores sejam le- vantados e discutidos, que, se por um lado não inocentam de res- ponsabilidade o CFE, por outro fazem aflorar os co-responsáveis pe- lo problema.
As instituições que se dedicam ao "ensino" de jornalismo inter- vém erradamente no processo de formação quando sem critérios e princípios formam o corpo docente, construindo alicerces frágeis para a edificação de cursos; quando os estruturam sem as minimas condições laboratoriais, sonegando de seus alunos os direitos adqui- ridos na seleção a que se submeteram; quando não atualizam os seus recursos de laboratório, fraudando alunos e professores que não con- seguem concorrer no mercado de trabalho em igualdade de condi- ções com seus pares; quando através de convênios substituem as necessidades de laboratórios próprios, negando o mais sagrado prin- cípio universitário de estar a serviço da comunidade e não se servir dela para suas atividades; quando, pela odiosa prática da censura, impedem que haja livre manifestação de idéias, e quando através de outros fatores de sua exclusiva competência impedem que o aprendizado se realize em sua plenitude.
Os professores, também, têm grande culpa, ampliando o rol das causas que contribuem para a formação de profissionais sem compe
* Professor do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo — USP.
79
tência. Aqueles que, em busca de status, se submetem ao ministério de aulas de assuntos que não lhe são íntimos estão sendo desonestos com seus alunos. Os que tão-somente cumprem obrigações contra- tuais, ainda que afirmem ser a docência um verdadeiro sacerdócio, estão negando este caráter docente. Há os que encobrem suas defi- ciências remetendo culpa às condições materiais das instituições. Al- guns, por comodidade, inibem a própria criatividade quando estrutu- ram os programas de suas disciplinas fazendo deste ato uma res- posta meramente burocrática. Grande parte nega a universalidade do conhecimento da área ao impedir trabalhos coordenados de discipli- nas afins. Existem os que contestam a individualidade discente tra- tando a todos como se fossem moldados em uma mesma fôrma. Há, ainda, os profissionais que atuam na área docente e copiam nas es- colas as entidades em que trabalham, fazendo delas a matriz de for- mação profissional.
Os órgãos governamentais, responsáveis direta ou indiretamente pela formação do jornalista, recaem outras formas de negligência. Não é admissível que aos docentes sejam oferecidos salários até in- feriores ao piso profissional. Não há justificativas plausíveis para ex- plicar o descaso a respeito de cursos e viagens que proporcionem a atualização docente. Não se pode conceber um currículo mínimo sem consultas exaustivas e pesquisas sérias entre o corpo docente das vá- rias escolas. Inexplicável, também, a imposição de condições míni- mas para o funcionamento de cursos, quando as próprias instituições submetidas à administração ou custódia oficial não são contempla- das com verbas que viabilizem essas exigências. Incompreensível a política de financiamento de pesquisas na área pelas agências finan- ciadoras governamentais que destinam verbas irrisórias para este fim. Desonesto o reconhecimento de cursos sem, pelo menos, o embrião de laboratórios que proporcionem aos alunos condições mínimas de prática jornalística.
A grande maioria das empresas jornalísticas se limita a criticar velada ou ostensivamente a formação profissional sem intervir ho- nestamente no processo de melhoria dos cursos. Alegam que as es- colas estão mal aparelhadas para formar bons profissionais. Contu- do, esquecem-se que uma instituição jornalística tem status de ser- viço público e que também é de responsabilidade delas a destinação de parte de seus lucros (com amparo fiscal) para o aparelhamento condizente das escolas. Criticam a má formação intelectual dos egres- sos de escolas de comunicação. Entretanto, são raros os casos em que oferecem subsídios para que essas deformações sejam sanadas. Criticam a capacidade docente, em contrapartida vedam suas portas aos pesquisadores. Quando apregoam maior aproximação entre a es- cola e a empresa, se vestem de exemplo, verdade e onipotência, e como magistradas se delegam poderes de crítica e censura.
As associaçõs de classe também fogem à responsabilidade que lhes cabe. A "colaboração" mais efetiva dessas entidades se resume na informação de que o mercado de trabalho está saturado, enquan- to alguns de seus agregados ocupam três ou mais vagas neste mesmo
80
mercado. Fazem restrições ao corpo docente das escolas, mas não se valem das prerrogativas que a lei lhes confere para impugnar a con- tratação de professores sem o registro profissional. Quando procura- das para pesquisas ou informações, se negam ou, invocando sigilo, não facilitam o trabalho de seus futuros associados.
Os alunos, pacientes destes desencontros, são os mais atingidos. À medida que as disciplinas se sucedem e as informações sobre o fu- turo profissional se vão delineando, paulatinamente se desinteressam dos cursos. Procuram vestibulares para outras carreiras, ingressam em outras profissões ou, burlando a lei com a complacência das em- presas, são admitidos em jornais com baixos salários e fazem das escolas tão-somente um ponto de apoio para obter o diploma que re- gularizará a situação profissional.
Apesar desta rede interminável de incoerências, as escolas cum- prem parte de seu papel. Ainda que neguem, grandes profissionais foram forjados nos bancos escolares e hoje dão novas dimensões à profissão e ao jornalismo. A convivência ideológica na universidade parece ser um dos pontos basilares que faz emergir profissionais com competência para entender intelectual e socialmente os movi- mentos de massa que ocorrem em nosso país. O talento dos jovens que ingressam nas escolas, ainda que não lapidado com o neces- sário cuidado, é um serviço que empresas e profissionais não podem negar ou esquecer, e que a história, por certo, há de confirmar.
ANALISE DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR ATUAL
A aprovação do currículo mínimo dos cursos de comunicação social, no qual se insere o de jornalismo, de acordo com o Parecer 480/83, aprovado em 6-10-83, pelos membros do Conselho Federal de Educação, traz em seu bojo alguns progressos, mas continua apre- sentando falhas estruturais, pedagógicas e didáticas por tratar os cur- sos de comunicações dentro de visões acadêmicas conservadoras e ultrapassadas.
O documento que trata dos antecedentes que nortearam a im- plantação do novo curiculo faz uma análise pertinente do assunto. Contudo, a estrutura resultante não espelha essa peça teórica.
Têm razão os conselheiros quando procuram fundamentar os es- tudos de currículo na "vivência direta da realidade". Essa vivência entretanto pressupõe participação atualizada do aluno como agente, paciente e crítico do processo social, comunitário e escolar. Esta meta não é atingida pelo rol de disciplinas e pelo ementário pertinente. Esta nos parece a deficiência gerada pela excessiva visão acadêmica na estrutura dos cursos de jornalismo. O jornalista vive o presente e busca no passado remoto ou próximo a explicação convincente e a interpretação coerente da realidade. A todo momento repensa, rein- terpreta e por isso não pode ser formado dentro de parâmetros rígi- dos. É em sua vivência discente que o aluno deve começar a ser treinado e autotreinar-se sobre a ou as verdades dos fatos que, como
81
membro social participante, vive e observa. Assim, por exemplo, uma disciplina como História da Comunicação não deve estar atrelada a conceitos e fatos. Deve ser programada dinamicamente para poder discutir a realidade e os acontecimentos atuais e presentes, resgatan- do os fatos passados que lhes foram causas. A mesma atitude deve estar expressa no ministério de disciplinas como Teoria Politica, Cul- tura Brasileira e quase todas as disciplinas denominadas eletivas no novo currículo.
A "experiência intermediada pela ação de grupos" deve respeitar a especificidade da cultura e das tradições regionais. A cultura de massa, enquanto objeto de estudos, precisa ser segmentada de acor- do com as características dos vários brasis que convivem neste gran- de território. O novo currículo não parece contemplar expressamente estas várias particularidades socioculturais ao estratificar um modelo que deva ser, indistintamente, implantado pelas escolas. O espirito de aldeia global que rompe com as estruturas locais de costumes, tradição, folclore e comunidade parece ter imperado como se hou- vesse intenção de homogeneizar os laços e criar uma grande comu- nidade nacional. Parece estar embutido no projeto a idéia de que a comunicação jornalística tem um só discurso para as distintas re- giões brasileiras. Não há, enfim, espaço que contemple o público co- mo objeto de conhecimento do comunicador.
Uma outra área cognoscitiva que o atual currículo procura privi- legiar é "a experiência proporcionada pelos meios e atividades de comunicação social". É temerosa esta recomendação, pois traz aco- plada possíveis interpretações de que é dever das escolas repetir o exemplo das empresas que obtêm sucesso no mercado, padronizan- do as atividades de seus profissionais como modelos. Melhor seria recomendar que estas experiências fossem analisadas e pesquisadas para que, através do conhecimento de todos os resultados, fosse pos- sível experienciar novas atividades, novos meios e discursos que re- fletissem as reais necessidades dos públicos. Quando, por exemplo, as redes de televisão horizontalizam programações a nível nacional, sem respeitar as características regionais de seus públicos, devem estar interferindo e sufocando as ricas culturas regionais dos vários segmentos de sua audiência. O que fizeram as escolas para aferir as distorções causadas por essa massificação? Além dos interesses de economia operacional, que outras intenções se escondem sob esta cortina? Se mesmo antes desta recomendação, os professores — em grande número pertencentes a grandes empresas — padronizavam a formação de seus alunos tendo como parâmetros profissionais aque- les que são exigidos pelas respectivas organizações, o que não dizer após ela? Evidentemente não se pode desprezar as experiências vi- venciadas por profissionais e empresas. Entretanto, a universidade não existe simplesmente para repeti-las mas também para recriá-las e analisá-las à luz da Ciência.
A vista destes problemas melhor seria que os órgãos federais que detêm o poder de gerar currículos se limitassem a baixar algu- mas recomendações, com exigências mínimas quanto à produção
82
científica de docentes e discentes e de infra-estrutura laboratorial, ca- bendo às instituições o soberano dever de montar o conjunto de disciplinas, de acordo com as especificidades e necessidades sociais.
PROPOSTA
Tendo por base o levantamento feito nas linhas anteriores e con- siderando as palestras de profissionais e professores do "I Curso de Atualização para Professores de Jornalismo", após decupagem con- ceituai à luz de princípios recomendados pela educação humanísti- ca, pode-se depreender que a atual segmentação, antes de ser um fator benéfico ao aprendizado, acarreta deformações que só após al- gum tempo de atividade profissional poderão ser corrigidas.
Não se pretende com isso derrubar a idéia de que o aprendizado se dê por etapas e que haja disciplinas que devam ser pré-requisitos para outras. Assim, as atividades de diagramação só poderão ser apreendidas quando o aluno tenha conhecimentos prévios de artes gráficas, da mesma forma que a linguagem opinativa só poderá ser absorvida quando o discente dominar as técnicas de redação de uma notícia.
Ao currículo cabe possibilitar a professores e alunos a mais globalizante possível dos processos de edição de jornais, revistas, ra- diojornais e telejornais. Ele deve permitir, também, que as discipli- nas tenham tal imbricamento a ponto de proporcionar que as notí- cias produzidas e/ou discutidas nos cursos sejam analisadas e in- terpretadas coerentemente, lançando mão para esse fim dos conheci mentos patrocinados por ciências e disciplinas afins, como antropo- logia, sociologia, psicologia etc.
É dever dos currículos propiciar o inter-relacionamento dos di- versos semestres (ou séries) para que a segmentação da atividade jornalística não seja transmitida como trabalhos isolados. É neces- sário que durante a formação profissional os alunos sintam e vivam a interligação entre a direção do jornal, que determina a filosofia editorial do periódico; dos editores, que procuram cumprir essa de- terminação; dos pauteiros, que em primeira instância fornecem ele- mentos para as matérias; dos repórteres, que estão encarregados de captar as informações; dos redatores, que homogeneizam a linguagem dentro dos parâmetros de espaço e discurso do jornal; dos diagra- madores, que organizam as informações consoante critérios que per- sonificam graficamente o veículo; da oficina, que deve obedecer os horários determinados para a impressão e distribuição do produto final, e dos leitores, quer sejam consumidores habituais ou esporá- dicos, mas que correspondem à meta final do trabalho jornalístico.
O que se observa na maioria dos órgãos laboratoriais, que, em última análise, são o produto físico da organização curricular das escolas, são práticas que inviabilizam o trabalho sistemático do pro- cesso jornalístico. O fato de se ilhar a séries a execução de periódi- cos, antes de ser um fator benéfico à formação global do estudante, é alienante, na medida em que distribuindo tarefas a um pequeno
8"
grupo, se limita a capacidade de seu entendimento total do processo. Outras vezes, por ser exageradamente globalizante, faz com que o alu- no não discrimine claramente as funções jornalísticas. É necessário que se encontre um meio-termo para permitir que os limites dos subconjuntos de atividades sejam claros e resultem no conjunto total das ações profissionais.
Um fator que colabora para a falsa imagem do jornalista eclético é a distribuição que se faz do corpo docente. Não raro, pela carência de professores competentes ou pelo exíguo número de docentes, as disciplinas de diferentes áreas de especialização são ministradas por um mesmo professor. Este profissional é visto pelos alunos de duas formas: ou é uma pessoa especializada em generalidades jornalísti- cas, portanto pouco profundo em seus conhecimentos; ou é um pro- fundo conhecedor das tarefas jornalísticas, portanto um exemplo a ser seguido.
É necessário que o corpo docente seja formado por grandes conhecedores de áreas jornalísticas e que eles, na vida acadêmica, tenham condições de produzir intelectualmente nas áreas em que atuam. É necessário que sejam criados e desenvolvidos métodos e técnicas de pesquisa que resultem no enriquecimento da bibliografia e dos conhecimentos que nortearão profissionais e alunos. É preciso que o corpo docente se forme e se cristalize em áreas determinadas para que, também, os métodos de aprendizado sejam desenvolvidos coerentemente e haja continuidade do processo na sucessão das tur- mas que passam pelo grupo de professores. É por este motivo que a semestralidade atual deve ser condenada. O trabalho docente sofre rupturas e vive da sazonalidade dos períodos de oferecimento das disciplinas. Esta prática, antes de reciclar os professores, funciona como barreira para a melhoria do ensino, quer intelectual, quer pragmática.
Tendo presente o atual currículo, os pontos levantados em linhas anteriores e os conceitos discutidos à luz da corrente pedagógica que defende a educação humanístíca, pode-se montar um currículo que venha efetivamente proporcionar aos estudantes de jornalismo uma formação atualizada e compatível com as exigências profissionais.
Esta proposta está baseada nos seguintes pontos:
1. Agrupamento das disciplinas em áreas de trabalho jornalísti- co e de apoio ao conhecimento.
l.a. Banco de Dados l.b. Notícia l.c. Jornal l.d. Revista 1.9. Rádio l.f. Televisão l-g- Outros meios l.h. Fundamentação intelectual 1,1. Fundamentação do discurso U. Especialização discente.
84
2. Agrupamento dos professores em áreas de trabalho e conhe- cimento.
3. Oferecimento das áreas de trabalho e conhecimento em pe- ríodos semestrais, duas vezes ao ano.
4. Pré-requisitos: Banco de Dados e Noticia. 5. Especialização discente após o cumprimento total das áreas
de trabalho e conhecimento. 6. Liberdade de escolha discente para as áreas de trabalho após
o cumprimento dos pré-requisitos.
Banco de Dados
A área de trabalho "Banco de Dados" deve ser o primeiro passo para a formação jornalística. Nesta área devem estar reunidas as disciplinas que montem a base prática e teórica do futuro profis- sional. É um órgão laboratorial onde os ingressantes devem iniciar as atividades de contato com a matéria jornalística e com a infra- estrutura de sua captação. Neste órgão se fará toda a documentação jornalística de texto, imagem, fitas, VTs, bibliografia, cadastro de fontes, enfim, todas as tarefas ligadas a arquivo e documentação. A informatização desta unidade é desejável para que os alunos te- nham a oportunidade de interação com esta linguagem. Além das disciplinas pertinentes à área, deve-se acrescentar disciplinas de téc- nica jornalística como artes gráficas, captação etc. É um órgão la- boratorial de apoio aos demais, quer sejam eles eletrônicos ou im- pressos.
Noticia
Nesta área de trabalho deve-se iniciar o trabalho de produção de matérias de cunho informativo para veículos impressos e eletrôni- cos. O aluno já tendo certa intimidade com a seleção de matérias para arquivo, conhecimento de pautas, bibliografia de assuntos, for- mas de abordagem de fontes, conhecimento de técnicas de reporta- gem adquiridas no semestre anterior, estará em condições de captar a noticia, redigi-la em seus diversos ângulos de abordagem para os vários veículos. A esta prática, disciplinas de formação técnica, como planejamento gráfico, foto jornalismo e outras, devem ser incluídas para dar todo o embasamento técnico ao futuro profissional. Neste grupo de disciplinas cabem publicações que veiculem matérias infor- mativas.
De posse dos conhecimentos gerados nestes dois semestres, o aluno poderá optar, dentro de regras preestabelecidas de vagas, a uma das seguintes áreas, excetuando-se a de especialização:
Revista Esta área deve se encarregar da publicação de uma revista im-
pressa. Os alunos matriculados deverão se incumbir de pautar ma- térias, valendo-se para tanto dos arquivos organizados no "Banco de
85
Dados", captar as informações pautadas, redigir as matérias de acor- do com o número de linhas planejado para a edição. Aos alunos e monitores do "Banco de Dados" deve caber a Secretaria Gráfica e o fornecimento de matérias e fotos de arquivo. Os trabalhos de foto- jornalismo e diagramação devem estar sob a responsabilidade de alunos e monitores matriculados no grupo de disciplinas que fazem parte da área "Notícia".
Jornal
Nesta área estarão reunidos professores e alunos que se encar- reguem da publicação periódica de jornais. O inter-relacionamento com as demais áreas se fará como foi descrito no projeto anterior.
Rádio
A área "Rádio" deve conter as disciplinas que possibilitem a alu- nos e professores a manutenção de um radiojornal diário, valendo-se da infra-estrutura das áreas "Banco de Dados" e "Noticia" e de ma- térias pautadas e captadas pelos alunos e monitores matriculados neste segmento.
Televisão
Os alunos e professores desta área deverão editar periodicamen- te jornais televisionados, aproveitando a estrutura e o funcionamen- to das áreas de trabalho anteriormente descritas.
Outros meios
No grupo de disciplinas ligadas a esta área se concentra o estu- do e a produção de vídeos, teletextos, videotextos etc.
Especialização
Depois do aluno passar por todas as áreas de trabalho, cuja du- ração mínima é de sete semestres, deverá se matricular no curso de especialização da graduação, quando escolherá dentre as áreas aque- la em que fará seu maior investimento profissional. O aluno deverá apresentar um projeto teórico ou prático e retornar ao grupo de pro- fessores da área que o orientará na realização do projeto. É neste ponto que se dará a criação e a discussão de problemas pertinentes ao jornalismo que, a um só tempo, dará ao aluno possibilidades de aprofundar os conhecimentos adquiridos como deverá gerar textos importantes para a bibliografia jornalística.
Fundamentação intelectual
As disciplinas de fundamentação intelectual se distribuirão em todas as áreas, seguindo a ordenação pertinente à formação inte- lectual do aluno, possibilitando ao corpo discente a aplicação dos co-
86
nhecimentos adquiridos na realização prática dos produtos relativos a cada área de trabalho.
Fundamentação do discurso
São as disciplinas que tratam do discurso jornalístico nos diver- sos veiculos. Deverão trabalhar em consonância com as disciplinas de linguagem das várias áreas, de tal forma que tenham programas especificos para cada veiculo, auxiliando na elaboração lingüística dos mesmos e discutindo o produto final nas avaliações correspon- dentes.
CONCLUSÕES
1. Professores — Os professores, reunidos em áreas de tra- balho de acordo com as respectivas capacitações, poderão desenvol- ver suas atividades de forma mais natural e poderão constituir gru- pos de estudos que gerem frutos na área bibliográfica e didática. Es- tarão livres das incômodas mudanças semestrais de disciplinas que não permitem ao docente o enriquecimento e o aprofundamento dos conhecimentos de sua especialidade. As teses e os trabalhos do- centes fluirão com mais naturalidade, o que se refletirá na maior produção intelectual dos grupos.
2. Alunos — Para os alunos a estrutura sugerida apresenta a vantagem de permitir que os interesses de cada um sejam respei- tados. A possibilidade de, após os dois primeiros semestres, se fazer a escolha da área de trabalho desejada atenua o rigor da atual estru- tura, que impele ao aluno traçar metas para sua formação e sanar as falhas e os desencontros dos créditos que se tornam um con- junto desconexo de disciplinas e que, antes de ser democratizante, é anarquizante. O aluno encontrará um modelo prévio de conheci- mentos em cada área e não será surpreendido a cada período por inovações curriculares que truncam sua vida escolar lançando des- contentamento na mente estudantil. A possibilidade de se especia- lizar na área de seu interesse permitirá que os egressos das escolas tenham maior competência para assumir cargos sem riscos para empregados e empregadores.
3. Convênios — A divisão em áreas de trabalho permitirá que se façam convênios de pesquisa, treinamento e formação profis- sional entre escolas e empresas. Esta estrutura, criando um grupo fixo de trabalho docente, permitirá que os estudos feitos sejam pro- fundos e especializados, resultará em maior confiabilidade acadêmi- ca e profissional, assegurando aos professores possibilidades de ex- plorar, com critério, a potencialidade da força de trabalho das pes- soas envolvidas em cada área.
4. Trabalhos práticos — Os órgãos laboratoriais deixarão de ter vida meteórica, isto é, não se alternarão a cada semestre como se
87
fossem projetos novos. A continuidade destes periódicos (impressos e eletrônicos) vai permitir avaliações constantes tanto no campo di- dático como no de resultados práticos, ensejando mudanças dentro de parâmetros seguros e confiáveis.
5. Instituição — Para a instituição de ensino os grupos de trabalho e os órgãos criados tornar-se-ão elementos confiáveis para o investimento de empresas e agências financiadoras, sendo fator de auto-sustentação de docentes e projetos. Por outro lado, as con- tratações docentes serão mais confiáveis e seguras, pois as necessida- des serão detetadas com maior facilidade.
88
COMENTÁRIOS
Falta crítica na Imprensa
Marco Morei
Acredito que debates e criticas podem ser saudáveis. E já foi dito que nada é mais nocivo que o corporativismo. Realmente, mui- tos grupos e categorias profissionais confundem, às vezes, consciên- cia de classe ou mesmo solidariedade com "espírito de corpo", isto é, de corporação. Erro médico, construção que desaba, parlamentar corrupto — cria-se às vezes uma cumplicidade entre os pares.
Por isso, é importante para os profissionais de comunicação uma apreciação critica dos quatro primeiros números da revista Im- prensa, que tem o subtítulo "Jornalismo e Comunicação", lançada mensalmente desde setembro de 1987, em São Paulo. São raríssi- mas as iniciativas neste campo, isto é, uma imprensa que fale de si mesma. É por aí, inclusive, que vamos pensando os projetos políti- cos de comunicação, neste fim dos anos 80.
Indo direto ao assunto; a revista Imprensa é excessivamente com- prometida com os grandes meios de comunicação existentes atual- mente. E, o que é mais grave: faz pose de neutra. E será que al- guém ainda acredita em neutralidade jornalística?
Não analisarei a revista em seus diversos aspectos, nem emiti- rei juízos de valor, pois não se trata de validar ou invalidar a pu- blicação. Mas importante é explicitar o projeto político-jornalístico da Imprensa, que é bem disfarçado, digamos assim.
Basta ver as capas dos quatro primeiros números. Na primeira o tema é: "Perdemos a credibilidade". Aí o primeiro escorregão.
* Bacharel em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Mestrando em História na UFRJ e pesquisador do Centro de Me- mória da Associação Brasileira de Imprensa — ABI.
89
Nós, quem? A generalização da primeira pessoa do plural para a imprensa é perigosa, na medida em que disfarça as hierarquias e coloca no mesmo saco proprietários, diretores, editores e repórte- res. A matéria confirma esta abrangência do "nós".
O segundo número trouxe, na capa, um sorridente senhor care- ca chamado carinhosamente de "nosso Tio Patinhas". Nosso? Era Victor Civita, dono do grupo Abril. Pano rápido.
A informática no jornalismo, tratada de maneira ufanista como "revolução silenciosa", é a matéria de capa do número 3. Finalmente o número 4 fala do jornal Gazeta Mercantil, com o aposto "A Bíblia do jornalismo brasileiro". O editorial deste número parece uma pro- paganda institucional da GM, com a presença de infalíveis jargões como "credibilidade è a palavra-chave", "administração eficiente", "bons lucros" e o indefectível "quem sai ganhando é o leitor".
Das capas, passemos aos anúncios. Quem são os principais anun- ciantes? Governos (federal e estaduais), empresas privadas e... os grandes meios de comunicação, em massa. Anúncios de página inteira (e até de três páginas) de O Globo, IstoÉ, Veja, Folha de S. Paulo, SBT, O Estado de S. Paulo, TV Globo, Jornal do Brasil e Gazeta Mer- cantil. O raciocínio é óbvio, pois a liberdade de imprensa acaba onde começa o interesse de quem banca.
Lendo as reportagens, fica uma impressão: mais do que limites da linha editorial há uma forte autocensura na Imprensa. Entenda-se por linha editorial o objeto e a maneira de enfocar o objeto. Por censura, a omissão de diversos aspectos deste objeto.
Exemplo nítido desta postura temos na reportagem sobre novas tecnologias (nP 3, capa e p. 35), que fala do jornal O Globo após a implantação dos terminais de vídeo. Esquecendo a velha e elemen- tar regra de ouvir os dois lados, o texto peca por omissão. Editores e diretores foram ouvidos com atenção, mas ninguém se lembrou do "outro lado", este sim, o nosso. É que hoje em dia, na Europa, nos EUA e eventualmente no Brasil, a informatização de empresas é pauta obrigatória das reivindicações trabalhistas. Discute-se desde a insa- lubridade até a sofisticação dos novos mecanismos de controle. Co- mo toda tecnologia, a informática não pode ser negada, ao contrá- rio: deve ser cada vez mais democratizada. E no^ quatro primeiros números da revista esta discussão não aparece, nem entre aspas, na boca de terceiros.
Os exemplos são muitos. Todos confirmam o alinhamento da Imprensa com a poderosa indústria da comunicação, disfarçado sob um manto de neutralidade e competência profissional e sem discurso explícito. É a integração do velho binômio conservador/moderni- zante.
A reportagem (n9 2, p. 40) sobre o lobby que O Estado de S. Paulo realizou em defesa das empresas míneradoras nas terras indí- genas, contra estes povos e contra as instituições religiosas que se solidarizam com ele, é um exemplo de como ficar em cima do muro — estando do lado de lá. O título é: "Onde está a mentira?" É co- mo se, diante de uma tropa dispersando tuna manifestação pacífica, perguntasse: "Onde está a violência?"
90
Pegando o lado mais ameno. A matéria (n9 4, p. 48) sobre os apresentadores do "Jornal da Globo" (e não "Jornal Nacional"), Eliakim Araújo e Leila Cordeiro, é um primor de tietagem. Maté- ria que caberia no "Caderno da TV" de O Globo, que faz isto com mais freqüência e melhor, na medida em que atinge públicos mais amplos. Na verdade, na crua verdade, o "relacionamento amoroso" nas grandes empresas jornalísticas está longe de ter este caráter idí- lico. Aliás, a revista esqueceu de dizer que os dois pombinhos fi- zeram questão de, juntos, furarem a última greve decretada pelos jornalistas cariocas, em dezembro de 1986.
Em síntese, é isto. Tudo que sai na Imprensa poderia perfeita- mente sair na "grande imprensa". Talvez as famosas "brechas" de informação crítica aconteçam com mais freqüência em diversos des- tes veículos, dentro do horizonte capitalista, do que na revista em questão. Será que os coleguinhas que fazem a Imprensa não po- diam aliviar um pouco a barra, dar uma colher de chá de vez em quando? Não na base do coleguismo, mas na contribuição da difícil tarefa de democratizar cada vez mais a comunicação. É importante garantir o pluralismo.
E falando em projetos de comunicação, em democracia, em crí- tica, nada melhor que encerrar citando trecho do editorial do pri- meiro número da (infelizmente) falecida revista Critica da Informa- ção. A idéia era a seguinte:
"Critica da Informação surge para tentar compreender os meios de comunicação de massa, sua estrutura de funcionamento, a função política que desempenham na sociedade brasileira contemporânea, as possibilidades de mudança e os mecanismos pelos quais tais mu- danças podem ocorrer.
(...) A idéia é ajudar as pessoas a se tornarem leitores críti- cos, telespectadores conscientes, radiouvintes alertas. (...) A infor- mação sempre foi foco de poder. E é cada vez mais vital para o desenvolvimento das relações sociais. Consumi-la acriticamente é condenar-se, e à sociedade, à sujeição definitiva".
Em outras palavras, falta um pouco de critica de informação na imprensa.
92
Moda, música & mídia
Tupã Gomes Corrêa
Quando, na década de sessenta, toda uma geração de pessoas manifestava-se contra a guerra do Vietnã, ninguém poderia supor que o mais significativo dos segmentos das manifestações contra a guerra assumiria, como assumiu, um curso totalmente dissociado de sua essência: que a paz não é apenas a ausência de guerra, senão a ausência de todas as formas de violência e agressão. Isto porque aquele que fora o resultado dos movimentos pacifistas, que tinham como lema o "faça amor, não faça a guerra", acabaria por se con- verter num mero argumento de consumo.
Ora, essa gigantesca batalha campal, em que se transformou o comércio de qualquer bem de consumo na segunda metade do sé- culo XX, em si, é um dos melhores exemplos de transferência da agressão e violência, desde o cenário da guerra convencional para os espaços em que se oferecem e se consomem produtos. E na lin- guagem do anúncio de qualquer um deles, como não poderia deixar de ser, a presença de elementos que denunciam essa violência passa a ser lugar-comum. Por essa razão é que, ao se transformar o símbolo de todo um movimento de resistência à guerra, sintetizado no que ficou conhecido mais tarde como o movimento hippie, em objeto do próprio consumo, deve-se concluir que os elementos que produziam a identidade daquele movimento acabaram sendo disso- ciados do que ele realmente significava.
O movimento hippie foi praticamente o primeiro a produzir gran- des transformações de "posturas", as quais por natureza alojaram- •se, por assim dizer, na moda. A resistência praticada, inicialmente por uma minoria e, a seguir, por números cada vez mais considerá- veis de pessoas, tinha no vestuário o seu principal identificador. Assim foi que, roupas, adornos, "estado" dos cabelos, antes de gestos, ma- neiras de ser, acabaram por se constituir na espinha dorsal do sis- tema identificador do movimento. É claro, ao ser todo o conjunto
' Professor do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo — USP.
93
assumido como um sistema "orientador" de produtos a serem con- sumidos, começou a perder sentido enquanto código de "resistência" por um lado e, por outro, a ser todo ele disseminado como um "es- tilo de vida" a ser consumido por um, cada vez maior, número de pessoas, as quais, certamente, não estariam tão preocupadas com a "resistência" aos padrões de violência (além dos relacionados cem a guerra), quanto principalmente com os objetos que desejavam con- sumir.
A indústria da moda, nesse sentido, deve ter sido o principal elo de ligação entre o símbolo dessa resistência e a disseminação do con- sumo, praticado a partir dele. Assim, se num primeiro momento houve quem aderisse à "resistência", engajando-se num movimento que tinha nas formas de vestir-se e de portar-se sua principal iden- tidade, em outro momento haveria de aparecer quem, absoluta- mente desinteressado da "resistência" que se formava contra a vio- lência em torno de tais posturas, fosse transformado em mero alvo de consumo. Isto é, embora se vestisse, usasse cabelos, ou portas- se adornos típicos dos adeptos do movimento hippie, nada mais era do que um consumidor a mais de modismo. Modismo este que se construiu sobre atitudes de, pessoas contrárias ao sistema vigente.
Quer dizer, basta que se engaje numa corrente contrária ao sis- tema, para que ela, aos poucos, vá sendo transformada em corrente de uma outra manifestação. A manifestação que acontece a partir dos usos de uma ou mais peças de vestuário ou de adornos, além de posturas que se originam na corrente original, e das formas que normalmente se dá ao corpo, a começar pelos cabelos. De tal sorte que esse uso continuado e efêmero passa a ser o identificador, não mais de uma manifestação contrária ao sistema, mas fundamental- mente de adesão a ele. Se quisermos ir além do significado do mo- vimento hippie, por exemplo, podemos verificar idêntico processo no movimento punk, ocorrido duas décadas após. Também este, que foi resultado de uma manifestação "anti-sistema" ou "contra- cultura", surgido em torno de grupos urbanos nem tão grandes assim, com o passar do tempo acabou ensejando a utilização, notadamente pela indústria da moda, da maior parte dos elementos que o carac- terizavam. Ou seja: cortes de cabelo, peças do vestuário, adornos etc.
Como se pode ver, a expressão "se você quer ser diferente, es- pere um pouco, pois todo o mundo vai ser diferente, igual a você", ao que parece, é compatível com uma prática do capitalismo, me- diante a qual vai transformando, no contrafluxo, todas as correntes que lhe são contrárias em "doces aliados"... E a indústria da mo- da, principalmente ela, tem sido o principal instrumento de desca- racterização dessas correntes.
Talvez por essa razão, mais do que qualquer outra, deva-se re- pensar a moda como algo mais que um simples bem de consumo. Pois, tal e qual se verifica pelos episódios mencionados, ela tem sido, a um só. tempo, a condição de rompimento com os padrões estabe- lecidos e o veículo de disseminação desse "rompimento", transfor- mado em outro padrão. Foi o caso não apenas dos adornos e das
94
roupas adotadas pelos hippies. E foi o caso dos cabelos e das rou- pas adotadas pelos punks. Esse processo de transformação, daqui- lo a que nos estamos referindo como "resistência", em um novo pa- drão (ampliando as fronteiras e modificando o sentido das conven- ções), é a condição que diferencia o vestuário, enquanto produto de simples consumo, dos demais. E, no exato momento em que esse vestuário é parte de uma elaboração maior, cuja significação, na pro- dução em série, dimensiona um íonsumo não apenas da roupa, se- não principalmente do que a roupa representa — nesse preciso mo- mento — deparamo-nos com o fenômeno da moda. E esta, assim concebida, vem fortemente marcada como um produto típico de uma indústria que transcende à manufatura, para confundir-se com o pro- duto cultural.
Aliás, esta caracterização que se faz da moda, enquanto produ- to da indústria cultural, não chega a ser inédita ou recente. Roland Barthes, em meados dos anos 60, publicava o Sistema da moda. Em- bora o enfoque daquela obra fosse outro, enquanto o respectivo tema volta-se notadamente para as formas de leitura ensejadas pe- las diferentes manifestações da moda, ainda assim confronta elemen- tos essenciais à compreensão dos seus alcances e limites. Um deles, por sinal, diz respeito à natureza do produto cultural que se eviden- cia no composto desse "sistema", simultaneamente recurso de ves- tuário, veículo de difusão de idéias e agregador de expressões sociais.
O certo é que a moda se apresenta segundo essa natureza, em face de evidências que lhe são próprias, a partir da produção em série, do consumo praticado além dos limites da necessidade, e do uso orientado por papéis que vão muito além das convenções que cercam o "universo" da roupa. De sorte que há, pois, necessidade de se proceder a uma avaliação desse "produto", não apenas em função das características do respectivo mercado, quando principal- mente daquelas que o confundem com as "expressões" que agrega, ou com as "idéias" que transmite.
Nesse sentido, deve-se necessariamente entender que a moda, en- quanto produto, está subordinada a sistemas de edição próprios. 0 que, em outras palavras, significa dizer que ela depende desses sistemas para que sua ação corresponda à veículação de "idéias" entre seus usuários, bem como ao agregamento de "expressões" de identidade ou repulsa social. Isto porque o ato de vestir uma rou- pa, típica de determinado contexto ou situação, significa transfor- mar-se em veiculo de um modo de ser, disseminando o mesmo estilo na generalidade de sua manifestação. De igual sorte, a roupa que se veste não significa apenas o conteúdo de suas formas e cores, como principalmente a identidade desse mesmo modo de ser, que por ve- zes pode traduzir a repulsa de uma outra maneira de ser. Idade, sexo, o espaço onde se vive, aquilo que se faz, podem já não ser atri- butos qualificativos transparentes na roupa _ que se usa. Ao contrá- rio, por exemplo, daquilo que se pensa. Isto sim pode determinar a maneira de se vestir e de se comportar: uma identidade que se quer.
95
E, do mesmo modo que um livro, um vídeo ou um disco é edi- tado, também a roupa se produz, orientada por critérios de sele- ção, padronização e serialização típicos do processo de produção editorial. Assim, se o ato seletivo de um texto que se transformará em livro é orientado por uma expectativa de demanda, o mesmo ocor- re com uma determinada peça de vestuário. Por seu turno, a pa- dronização necessária para o estabelecimento da forma, tanto do li- vro como da roupa, antecedem a produção em escala, ampliando significativamente as oportunidades de consumo por um expressivo número de pessoas, as quais, por sua vez, terão esgotado o deseje de possuir o seu "exemplar" de roupa adquirida no exato instante em que ocorrer o respectivo uso. Tal como a leitura, que se sobre- põe a outra, a música que se ouve antes do novo lançamento, a roupa também "envelhece" rápido demais. É a revelação da sua ca- racterística de produto descartável.
O sistema de produção capitalista, independente do ramo de sua especialidade, revela grande capacidade de sobrevivência. Ou, em outras palavras, uma condição que lhe é inerente de se ajustar às circunstâncias de mercado. Desse modo, se determinado bem se torna inviável na produção (por carência de matéria-prima, incapa- cidade operacional, falta de demanda etc.) imediatamente é substi- tuído por outro. O seu objetivo sempre foi e continua sendo o lu- cro. Não lhe interessa se aquilo que está sendo produzido é neces- sário ou não. Na indústria do vestuário, especificamente nela, os objetivos estão mais próximos dos lucros do que da necessidade que o povo tem quanto a se agasalhar, ou de estar simplesmente vestido.
E para atingir os objetivos do lucro fácil e continuo ela apela para símbolos que traduzam a identidade do consumidor, de ma- neira simples, automática e em larga escala. Desse modo, com um estilo todo seu, ela se volta para a utilização dos elementos que se agregam às manifestações da emoção coletiva, adotadas num pri- meiro momento por artistas da música popular, porquanto são esses artistas que mais próximo chegam da massa, "envergando" os mo- delos de roupa ditados pelas "minorias" quase sempre avessas ao sistema. Esses artistas normalmente se vestem assim talvez em bus- ca, à sua maneira, de um ponto original fora dos padrões do geral, já que o que fazem é o comum, dirigido a muita gente e em quase nada original...
Aí reside o segredo dos sistemas de edição da moda. Ela nada mais é do que um símbolo, cujo código se encontra nas peças de um vestuário que se compõe em determinada época, em determi- nada região, aos sabores de representações que traduzem manifes- tações de segmentos sociais contra o sistema, devidamente incorpo- radas para a maioria. E até mesmo o "símbolo" dessas manifestações é utilizado como "apelo" mercadológico na generalização do respec- tivo consumo.
Todavia, a disseminação comercial das "posturas" que marcam certos movimentos sociais, ao serem transformados em produtos de efêmera duração e sem o menor conteúdo político, depende de uma
96
articulação que se opera no mercado cultural, entre atores e agentes de um processo que só vai se concluir quando o movimento inicial já tiver sido reduzido a cinzas e caminhado para o total esquecimen- to. Trata-se de uma articulação de "gênero", desencadeada por dois tipos de personagens, cujo papel é decisivo para o "êxito" mercado- lógico e o "íracasso" político dos símbolos envolvidos.
Em primeiro lugar estão os atores do processo, a encarnar si- multaneamente os papéis legítimos de um movimento social que lhes dá origem, ou os papéis dele decorrentes, enquanto argumen- to artístico, adotado por eventuais figurantes do cenário da música popular, por exemplo. Ou seja: o conjunto de intérpretes da mú- sica popular que, independente de onde se apresentem pelo mundo, vestem-se, portam-se e se manifestam como representantes de uma determinada corrente. Quando não o são. Apenas se utilizam dela como linguagem. E, em segundo lugar, estão os agentes do pro- cesso, configurados como os grandes intermediários entre a segunda categoria de atores e o consumidor final. São eles que, de dentro das agências de propaganda, dos estúdios de moda, das produtoras ou das casas de criação, literalmente interpretam não apenas a for- ma, quanto principalmente o conteúdo ideológico de roupas, ador- nos, cabelos, posturas, gestos, expressões e tudo quanto foi útil ou necessário, para reconvertê-los em linguagem corrente da massa.
Finalmente, como seria de se imaginar, essa articulação que tor- na possível a incorporação despolitizada de um argumento político, além de "grilar" o propósito fundamental de qualquer manifestação de "contracultura" ou "contra-o-sístema", transforma-o em mero pro- duto de consumo, descartável e desnecessário... depois de pago, na- turalmente! São os agentes desse processo de consumo, regiamen- te remunerados pela indústria cultural, que têm sobre si o encargo de tomar isto possível. Certamente, ao lado da indústria da moda, a indústria fonográfica tem sido, nas duas últimas décadas, a que mais tem servido para a hegemonia do capitalismo. Nada, nenhuma ma- nifestação ou qualquer contradição logrou transformar-se em movi- mento autônomo, logrando resultados compatíveis com os seus pro- pósitos iniciais.
A indústria da moda fez de movimentos de profunda contesta- ção, como o hippie, simplesmente um movimento responsável pela origem das "roupas exóticas". Do mesmo modo que transformou um movimento aparentemente despolitizado, como o punk, em ver- tente de posturas "agressivas" e "rebeldes". E, grosso modo, am- bos os movimentos não raro são tidos como estuários de "droga- dos", "delinqüentes" e "irresponsáveis"! Irresponsáveis muito bem representados pelos artistas que acabaram sendo gerados no "bu- cho do capitalismo", os intérpretes da música (?) de massa, que se reproduzem em milhões e milhões de cópias de discos, cujo conteú- do, a pretexto de uma identidade inexistente, não se alinhava ao me- nor compromisso para com os problemas do tempo, argüidos pelos movimentos sociais que os inspiram... Quer dizer: os punks, surgi- dos em face das dificuldades do desamparo social, da fome e do de-
97
semprego (passados para a burguesia como um bando de "pregui- çosos agressivos"), acabaram inspirando a encenação de intérpretes da música popular no sentido oposto ao problema. E o estilo do seu cabelo originou um dos mais caros e difíceis "cortes", praticados nos mais elegantes salões de cabeleireiros em todo o mundo.
A política de produção, seja na indústria de discos, seja na da moda, segue um único curso: aquele que se orienta pelos agentes do processo, que eu, particularmente, chamaria de bicho-grilo, a um só tempo intérpretes e adequadores das manifestações de época. Para mim, como disse, esse bicho-grilo, um sujeito gozado, que usa umas roupas gozadas, que tem um cabelo gozado e uma maneira gozada de ser, que normalmente domina um vocabulário de até cento e poucos termos, e tem bolações incríveis e idéias geniais... mas que nunca sabe explicar muito bem porque as concebeu assim, é o agen- te de um sistema em que, sendo ele mesmo parecido com os atores, não chega a ser ele mesmo... Mas, assim mesmo, "traduz" o mun- do sem entendê-lo, "interpretando-o" sem conhecê-lo!
98
O jornalismo do dinheiro*
Bernardo Kucínski **
A teoria dos Aparelhos Ideológicos de Estado, proposta por Louis Althusser em 1970, foi adotada pela ala ortodoxa de nossa aca- demia como o referencial marxista que faltava para explicar a fun- ção dos meios de comunicação de massa na sociedade capitalista.' Para Althusser, a imprensa, o rádio, a televisão pertencem a um con- junto de instrumentos ou instituições necessários ao processo de do- minação de classe, mas que não fazem parte do aparelho do Estado. Enquanto os aparelhos do Estado exercem sua dominação por meios principalmente coercitivos, aos Aparelhos Ideológicos, como a esco- la, a imprensa, a familia, caberiam as tarefas de persuasão, como a educação para o conformismo, para a obediência, para a aceitação da própria dominação. Os aparelhos ideológicos do Estado visam ga- rantir a reprodução das condições de produção, ou seja, a perpetua- ção do sistema. Atuam não no campo das relações de produção, mas na esfera das relações sociais de dominação.2 Mas o modelo de Al- thusser caiu precocemente em desgraça, vitimada pela forma meca- nicista em que foi apresentado. Em sua tese "O jornalismo econômi- co no Brasil depois de 1964", Aylê Salassié adota um outro modelo, também marxista ortodoxo, proposto por Javier Esteinou Madrid, da Universidade Autônoma Metropolitana do México, que considera os meios de comunicação de massa como articulados com a própria base material de produção do capitalismo. "Uma segregação super- estrutural própria das necessidades de desenvolvimento das forças produtivas" do capitalismo contemporâneo.8 O argumento central de Madrid, apresentado como descoberta, como o preenchimento de uma lacuna deixada por Marx nos seus estudos sobre a superestrutu- tura, é o de que os meios de comunicação de massa são acelerado-
• Comentário em torno de O jornalismo econômico no Brasil depois de 1964 (São Paulo, Agir Editora, 1987, 213 pp.), de Aylê Salassié Figueiras Quintão.
** Jornalista, Professor do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes-USP.
99
res do processo de circulação das mercadorias, abreviando a demora entre a produção da mais-valia, que se dá no momento da produção da mercadoria, e sua apropriação, que só ocorre no momento da venda. Da superprodução capitalista nasce a necessidade do culto ao consumismo, da criação de necessidades, a mercadoria-fetiche, tudo isso através da propaganda maciça em simbiose com os meios de comunicação de massa.
Althusser havia se detido quase que exclusivamente no estudo da escola como aparelho ideológico do Estado. Sua tese nasceu da revolução de maio de 1968 na França, que exigiu explicações para a nova importância adquirida pelas contradições na esfera da su- perestrutura. Althusser foi tão apressado e esquemático que consi- derou partidos políticos como aparelhos ideológicos do Estado, o que depois corrigiria. O trabalho de Madrid parece sofrer das mesmas lacunas, na manipulação dos conceitos econômicos marxistas, e ga- nha de Althusser em mecanicismo. Madrid lista toda a seqüência de descobertas e inovações tecnológicas que foram propiciando o desen- volvimento das comunicações, e relacionando-as com as diversas fa- ses do capitalismo. Argumenta que as necessidades de desenvolvi- mento capitalista levaram ao uso em escala dessas inovações. Mas afora algumas relações óbvias, como o papel do telégrafo no período imperialista em que se desencadeou uma grande disputa por mer- cados e por matérias-primas, Madrid, a rigor, não prova o que diz, apenas postula. Ou seja, não demonstra a primazia da necessidade econômica sobre a utilidade intrínseca da inovação (e portanto seu valor de troca), na determinação do uso da nova tecnologia no cam- po das comunicações. A postulação dessa primazia coloca a comuni- cação num papel subordinado, como auxiliar do processo produtivo e não como geradora ela mesma de um processo produtivo ou de um campo de realização humana. Seu trabalho se ressente também de uma periodização confusa do capitalismo, além de incorporar con- cepções discutíveis, como a de que na fase superior do capitalismo estabelece-se uma hegemonia do capital financeiro sobre as demais formas de capital, tese defendida por Hilferding, encampada por Lenin e posteriormente descartada como fruto de uma circunstância de momento, confundida por lei geral do desenvolvimento capitalista.
Mas a principal falha do modelo de Madrid talvez esteja na sua desatenção para com o processo de concentração da produção na fase monopolista do capitalismo. Madrid usa aqui e ali o adjetivo "monopolista", mas não relaciona o processo de construção dos mo- nopólios com a adoção das técnicas de difusão maciça de informa- ção, sem as quais a concentração de capital não teria alcançado a escala de hoje. Sua obsessão com a questão da velocidade da reali- zação do lucro o fez esquecer o fenômeno mais revelador nas rela- ções entre meios de comunicação de massa e a produção capitalista monopolista: a criação das marcas e do fetiche cultural como instru- mentos de domínio de mercado. As primeiras indústrias manufatu- reiras de bens de consumo a descobrirem o poder de persuasão de uma "marca" bem divulgada foram as que venceram a guerra da
100
concentração do capital, destruindo e absorvendo suas concorrentes. Foi assim, criando a marca registrada "Sun-Light" para o sabão de uso doméstico, e investindo pesadamente na sua divulgação através dos meios de comunicação de massa da época — os jornais —, que a Lever Brother Limited, uma atacadista de secos e molhados da Inglaterra, alijou do mercado centenas de pequenas empresas que no final do século passado continuavam vendendo barras de sabão pelo seu nome real de barras de sabão.4 O melhor exemplo do papel da comunicação de massa na concentração do capital — e também na aceleração do consumo como quer Madrid — é o da indústria automobilística. Quando ainda existiam nos Estados Unidos 88 fábri- cas de automóveis, a General Motors descobriu a grande arma para a destruição dos concorrentes e o domínio do mercado: o lançamen- to de um novo modelo a cada ano. Graças ao artifício da mudança de aparência, sem nenhuma inovação tecnológica, mas investindo pesadamente na publicidade, três empresas apenas passaram a deter 900/o do mercado norte-americano.' Hoje o capitalismo consegue pa- dronizar e rotular com "marcas" até mesmo a roupa e o objeto de uso pessoal. Os jeans, as camisas, os sapatos, as cuecas. É a fase da griffe, que destrói pequenas e médias confecções, e que tanto con- tribui para a difusão e a universalização de padrões de comporta- mento e de consumo, de uma cultura massificada. O fenômeno que explica a cultura da Coca-Cola e a rede de McDonalds é o da con- centração do capital pelo culto à marca, muito mais que o da acele- ração no processo de realização da mais-valia. A rigor essa mudança de ênfase tornaria mais persuasiva a tese de Madrid, na medida em que demonstraria efetivamente uma articulação íntima entre produ- ção capitalista e meios de difusão de massa.
Ocorre que Madrid insiste em minimizar a possibilidade de au- tonomia da indústria de comunicações — o que é um absurdo. Por exemplo, se aceitarmos que a própria notícia, e por que não, a cultu- ra, o entretenimento são também mercadorias, temos que aplicar à sua produção e circulação as leis gerais do capitalismo. Ou seja, os meios de comunicação de massa também são produzidos e distribuí- dos como mercadorias, e portanto geradores de sua própria mais-va- lia. Nesse sentido a tese de Madrid de que os gastos na promoção dos produtos pelos meios de comunicação de massa (e não só em sua propaganda, também na cultura que difunde seu consumo etc.) são supérfluos, e se dão à margem do processo de criação de mais-valia — essa tese é inaceitável. A mercadoria existe não porque tem um valor de uso, e sim porque tem um valor de troca, ou seja, porque pode ser trocada por valor-moeda ou por outras mercadorias. Inclusive o la- zer, a cultura e a comunicação. O ar que respiramos tem enorme valor de uso, mas não tem valor de troca. Podemos viver perfeita- mente sem a griffe Villejack em nosso jeans — mas essa griffe, pro- movida pela TV, confere ao nosso jeans um valor adicional de troca, e não de uso, como equivocadamente diz Madrid ("Os aparelhos de difusão de massa acrescentam ao valor das mercadorias um valor cultural de uso"). Ao enfatizar o caráter de desperdício da propagan-
101
da e dos gastos de persuasão ao consumo, Madrid abandona a opor- tunidade de aprofundar o estudo das relações entre comunicações de massa e a base material de produção no capitalismo — exata- mente porque quer negar autonomia econômica à indústria das co- municações, que, na sua tese, existe essencialmente como acelera- dora do ciclo de realização do lucro do capitalismo em geral. Ora, a mais-valia existe se um capitalista empregou um trabalhador (ope- rário, intelectual, artista) para produzir uma mercadoria indepen- dentemente da natureza dessa mercadoria. Pode ser uma mesa. Po- de ser um cartaz de propaganda da McDonald. Por um lado ou pelo outro, pelo lado da sua produção ou pelo lado de seu valor de troca, a comunicação é um processo produtivo ordinário do capitalismo — e de importância econômica crescente. Assim, a afirmação de Madrid de que a circulação das mercadorias não cria valor pode levar a uma visão equivocada sobre o peso das comunicações nas sociedades ca- pitalistas pós-industriais. Quando Marx se refere ao comércio ou à troca de mercadorias como um evento que não cria valor, ele está se referindo ao ato da troca strictu senso. Na sua concepção só o tra- balho assalariado cria valor. A troca é a realização desse valor e não sua criação. Exatamente por isso, se os processos inerentes à troca implicam trabalho assalariado, então estarão criando valor. Ê isso o que ocorre nos modernos sistemas de distribuição e circu- lação de mercadorias, tanto mais essenciais quanto maior a concen- tração da produção em poucas e gigantescas unidades. Pode-se dizer que os gastos crescentes com a distribuição são parcialmente cober- tos com a economia de escala, ainda maior, propiciada pela concen- tração da produção. O que demonstra a intercambialidade entre gas- tos de produção e de circulação.6
O modelo de Madrid, devidamente refinado e aprofundado, não precisa necessariamente excluir um modelo de Althusser também de- vidamente refinado. Afinal, o que são modelos? São idealizações — e sempre simplificações — construídas para facilitar a compreensão de determinado fenômeno. Os físicos adotam o modelo corpuscular da luz para explicar os fenômenos da luz como partícula, sem aban- donar o modelo ondulatórío, quando querem estudar o comporta- mento da luz como uma onda. Cada modelo explica de forma eficaz um determinado conjunto de fenômenos. Assim, Althusser tenta nos dar um referencial para o estudo dos meios de comunicação como instrumento no combate ideológico numa sociedade de classes. Madrid nos dá elementos para entender o papel dos meios de comu- nicação de massa no ciclo de realização do lucro capitalista.
Um dos momentos mais interessantes do trabalho de Aylê Salas- sié é o que descreve o aliciamento de mais de 100 jornalistas pelo governo instaurado pelo golpe de 1964, contratados por Oliveira Bas- tos para trabalhar numa assessoria especial de imprensa do IPEA. Esse "grupo de redação" determinou o caráter do noticiário de im- prensa, rádio e televisão no período crucial de consolidação do novo regime, de adoção das primeiras medidas antipopulares e de des- truição da resistência operária e popular ao arrocho salarial. Basta-
102
ria esse episódio para provar o papel de aparelho ideológico do jor- nalismo econômico no Brasil no período imediato pós-64, e até quase os nossos dias. Ê o modelo de Althusser levado ao extremo. Nesse caso o aparelho ideológico de Estado, que deveria se situar fora do aparelho de Estado, está no seu interior mesmo. Salassié, no entan- to, tentou explicar o desenvolvimento do nosso jornalismo econô- mico como uma necessidade inerente ao seu modo de produção, na linha do modelo de Madrid. Pode-se aceitar essa tese num âmhito extremamente limitado. O jornalismo econômico no Brasil, em pri- meiro lugar, não é um meio de comunicação de massa, mas um meio de intercomunicação entre frações das classes dominantes. Fre- qüentemente, uma arma na luta de frações e grupos dessas classes pelo favorecimento do Estado, como revelou com força e brilho Sa- muel Wainer.7 Aylê Salassié admite essa função como parte essencial de um jogo que culminaria na elaboração de um discurso hegemôni- co, o que leva muito mais água ao moinho de Althusser do que ao de Madrid. "Da relação de interesses dos grupos que ocupam o poder do Estado vai emergir o novo tipo de jornalismo... seu papel será o de manter o caráter hegemônico da informação ou da interpreta- ção econômica e financeira de mercado."
O fato de muitas publicações (as revistas mensais e semanais em especial) serem financiadas pela receita publicitária, e essa publici- dade ser parte integral do processo de persuasão consumista (mode- lo Madrid) não significa necessariamente que a atividade jornalismo econômico se dá no mesmo campo da atividade persuasão ao con- sumo. O campo privilegiado do jornalismo econômico no Brasil é o das elites dirigentes e empresariais, com as quais hoje, mais do que aos tempos do milagre, mantém relações promíscuas. Se isso tudo é necessidade material do modo de produção do capitalismo selva- gem de periferia, estaria justificado o modelo Madrid. Afinal, no limi- te os modelos se encontram.
NOTAS
1. Veja, por exemplo, Laurindo Leal Filho, O direito social à informação, mimeo., 1978.
2. Louis Althusser, Aparelhos ideológicos de Estado, Rio, Graal, 1983. 3. Javier Estenou Madrid, "El surgimiento de los aparatos de comuni-
cación de masa y su incidência en ei proceso da acumulación de capital", Ticom, n.0 10, maio 71.
4. Bernardo Kucinski, O que são multinacionais, São Paulo, Brasiliense, 1981.
5. Paul Baran & Paul Sweezy, Monopoly Capital, Pelican Books, 1970. 6. Karl Marx, O Capital, vol. I, Everyman, 1980. 7. Samuel Wainer, Minha razão de viver; depoimento tomado por Augusto
Nunes.
103
Pós - Graduação em comunicação na USP: preservando a diversidade e interdisciplinaridade
Virgílio Noya Pinto
A Escola de Comunicações Culturais, criada em 1966, foi insta- lada no ano seguinte com um currículo a ser executado em quatro anos. Isto quer dizer que no final de 1970 formavam-se os primeiros profissionais na área de comunicação.
Ao mesmo tempo que isto ocorria, por força das alterações in- ternas do país, a Universidade foi obrigada a se ajustar à nova or- dem, reformando seus Estatutos e Regimentos. Ao mesmo tempo em que era instalado o curso de Pós-Graduação, tendo como modelo o similar americano, atrelava-se também o início da carreira univer- sitária à obrigatoriedade de cursar a pós-graduação em seus dois ní- veis: mestrado e doutorado.
Por outro lado, a Escola de Comunicações e Artes precisava am- pliar e constituir um corpo docente mais especializado e para isso contava com os seus próprios alunos. Como não havia ainda o curso de Pós-Graduação na ECA, parte dos primeiros formandos buscava em outras Unidades da USP, mais antigas e com maior identificação (como por exemplo a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Hu- manas), a solução para este problema. A outra parte começou a pressionar a Direção da Escola, para a estruturação de um curso de Pós-Graduação na ECA. A ela juntou-se também parte do corpo docente que, embora titulada, precisava dos encargos da Pós-Gradua- ção para consolidar sua carreira docente. Desta conjuntura nasceu em 1972 o curso de Pós-Graduação na área de Comunicações, da ECA, i nível de Mestrado. (Dois anos depois, em 1974, foi criada a área de Artes, também a nível de Mestrado).
* Presidente da Comissão de Pós-Graduação da ECA-USP. Autor do uno Comunicação e Cultura Brasileira (São Paulo, Editora Atica, 1986).
107
As primeiras produções do curso começaram a aparecer em 1975 quando foram defendidas as primeiras dissertações. Na seqüên- cia, esta tem sido a produção do Mestrado:
Ano N." de dissertações defendidas
1975 3 1976 — 3 1977 — 2 1978 — 6 1979 — 6 1980 — 22 1981 — 9 1982 — 18 1983 — 17 1984 — 15 1985 — 12 1986 — 13 1987 — 24
Da leitura desta estatística destaca-se o elevado número de dis- sertações defendidas em 1980. Ele representa o esgotamento do pra- zo estatutário de oito anos para os ingressantes em 1972. Como o prazo era até 30 de dezembro, a maioria foi defendida nos primeiros meses de 1980.
O elevado número de Mestres diplomados em 1980 precipitou a instalação do Curso de Pós-Graduação ao nível do Doutorado. Os es- tudos já vinham sendo realizados e o curso estava sendo planejado para 1981, porém, a pressão dos Mestres terminou por antecipar sua implantação para o segundo semestre de 1980. As primeiras teses foram defendidas em 1984 e a produção tem sido a seguinte:
Ano N.' de Teses defendidas
1984 — 5 1985 — 4 1986 — 12 1987 — 24
Entre 1975 e 1987 foram defendidas na ECA, na Área de Comu- nicações, 150 dissertações de Mestrado sendo que, entre 1975 e 1979, a média anual foi de 4,00, passando a 16,25 entre 1980 e 1987. Quanto ao Doutorado, o total de teses defendidas entre 1984 e 1987 é de 45, com a média anual de 11,25.
Uma análise mais abrangente da temática abordada pelas pes- quisas revela primeiramente a grande diversidade de assuntos inves-
108
ligados. Em segundo lugar podemos observar que em quase a sua totalidade os temas voltam-se para a grande problemática da co- municação (e da Arte) na cultura brasileira.
A partir de 1986 foram criadas linhas de pesquisa Departamen- tais, onde se procurou dar uma configuração mais precisa à temá- tica de investigação dos Departamentos. Pretende-se com isso com- pactar mais e definir melhor o campo da pesquisa da ECA, preser- vando sempre a sua diversidade e a sua inter disciplinar idade.
109
Pós-Graduação em comunicaçào na PUC-SP: a semiótica direciona as linhas de pesquisa
Maria Lúcia Santaella Braga *
Cada vez mais, no panorama nacional e internacional, a semiótica vem se afirmando como campo de investigação imprescindível para a reflexão teórica, prática e criativa dos fenômenos de linguagem e comunicação científicas, artísticas, tecnológicas, assim como for- mas de linguagem e comunicação alternativas. Ao largo do território nacional, em cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de le- tras, lingüística, comunicações, artes, arquitetura e outras, a semióti- ca é oferecida como disciplina integrante da estrutura curricular, o que pressupõe a formação teórico-crítica de professores, pesquisado- res e mesmo de profissionais na área.
Nesse contexto, o Programa de Estudos Pós-graduados em Comu- nicação e Semiótica da PUC-SP desempenha um papel de fundamen- tal importância, visto que, enquanto em outros programas de pos- -graduação a semiótica se constitui apenas em uma das disciplinas, neste programa, diferentemente, ela se constitui em verdadeira co- luna dorsal da estrutura curricular. Isto significa: a investigação se- miótica é a principal fonte de onde são geradas as linhas de direcio- namento das pesquisas. Quer dizer: os estudos são diversificados e interdisciplinares (intersemióticos, intermidia), ou seja, a fonte e o produto são plurais, mas o foco irradiador que orienta esses estu- dos busca sua fundamentação nas teorias semióticas. É justamente isso que tem permitido ao programa a incorporação sintética, coe- rente e seu estado de prontidão para a configuração de novos cam- pos de atuação, quando os meios de comunicação entram em novas conjunções. Por exemplo, cinema e vídeo, meios de impressão e vídeo
* Maria Lúcia Santaella Braga é professora da PUC-SP, trabalhando no Programa de Estudos Pós-graduados em Comunicação e Semiótica.
110
(videotexto), música e meios eletrônicos, holografia e poesia, com- putação gráfica e arte etc.
Em sintese, na medida em que a semiótica se desenvolve como ciência capaz de fundamentar a leitura e análise crítica do funciona- mento de todo e qualquer processo de linguagem, na sua constitui- ção como processo de comunicação os meios de comunicação e cul- tura nos quais essas linguagens tomam corpo, os cruzamentos e in- tercâmbios de meios geradores de novas formas de linguagem e o intercurso sociocultural das mensagens nas suas implicações políti- cas e ideológicas são coesamente integrados à luz das teorias semióti- cas. Enfatizando: as diversidades de fenômenos comunicacionais, abarcados pelas pesquisas, longe de levar à dispersão, ao contrário, são sinteticamente reintegradas nos focos semioticamente comuns que permitem visualizar a unidade na diversidade.
A partir disso, o programa estruturou suas linhas de pesquisa em quatro pontos de orientação: 1) SISTEMAS INTEESEMIÓTI- COS: codificação e decodificação; 2) LITERATURA E INTERTEX- TUALIDADE; 3) LINGUAGEM E IDEOLOGIA; e 4) LINGUAGEM E EDUCAÇÃO. A produção científica do programa, que se materializa nas pesquisas e publicações levadas a cabo por cada professor e nas teses e dissertações que são defendidas e estão em processo de orien- tação, é submetida a discussões sistemáticas e críticas por parte dos professores do programa, discussões que visam medir o ajustamento e adequação dessas linhas de pesquisa àquilo que efetivamente está sendo produzido. Discussões e análises, efetuadas nos meses de ju- nho-julho/87, levaram o programa a propor o reenquadramento de duas de suas linhas de pesquisa. Ou seja, Linguagem e Ideologia pas- sa agora a ser designada como SEMIÓTICA DA CULTURA, isto por- que Linguagem e Ideologia é um fenômeno que se insere num cam- po mais amplo de indagações que dizem respeito às determinações antropológicas e sociais da produção cultural, entendida em nosso programa como produção de signos, visto que os fenômenos cultu- rais só funcionam culturalmente porque são também fenômenos de comunicação que, por sua vez, só são capazes de comunicar porque se estruturam como linguagem. A recente incorporação ao programa do professor Norval Baitello Jr., com doutoramento na Alemanha, onde desenvolveu e aqui continua desenvolvendo pesquisas sobre se- miótica da cultura, dá respaldo suficiente para atender a uma neces- sidade que já se fazia premente de ampliar os estudos da ideologia, integrando-os na dimensão cultural.
Quanto à linha de pesquisa sobre Linguagem e Educação, uma vez que todas as dissertações nesse campo estão sempre voltadas para a interferência dos meios de comunicação e para a função de- sempenhada pelo cruzamento de sistemas de signos (verbais e não- ■verbais) nos processos de ensino-aprendizagem, essas pesquisas se inserem mais propriamente em Sistemas Intersemióticos e em Lite- ratura e Intertextualidade. Desse modo, a linha de pesquisa sobre linguagem e Educação foi substituída por uma linha de pesquisa agora emergente no programa que trata das interconexões entre Semiótica
111
e Psicanálise, isto é, dos modos como o sujeito está implicado na linguagem. Dado que a psicanálise já se constitui numa verdadeira semiótica dos efeitos que a linguagem e o desejo fazem incidir no sujeito, esta linha de pesquisa traz para o programa um enriqueci- mento na medida em que incorpora ao funcionamento dos signos a questão do sujeito (com todas as conseqüências radicais que a psicanálise acarreta para essa questão). Para essa área emergente de investigação, o programa também encontra respaldo nas pesquisas que estão sendo desenvolvidas pela Prof.a Dr.a Samira Chalhub.
Permanecem inalteradas as linhas de pesquisa sobre Sistemas In- tersemióticos e sobre Literatura e Intertextualidade, na primeira das quais atuam mais diretamente os professores Maria Lúcia Santaella Braga e Arlindo Machado, além de Sílvia Anspach, recentemente in- corporada ao programa, e, na segunda, os professores Haroldo de Campos, Fernando Segolin, Amálio Pinheiro e Olga de Sá, estes dois últimos também integrados como professores permanentes do pro- grama.
A linha de pesquisa sobre SISTEMAS INTERSEMIOTICOS é en- tendida em três niveis que vão do mais abrangente e amplo ao mais específico. Num primeiro nível, são enfocadas as relações da semióti- ca com outros campos do conhecimento, isto é. Semiótica e Outras Ciências. A incorporação ao programa da Prof.a Dr.a Ana Maria Goldfarb, especialista em História e Filosofia da Ciência, dá respaldo ao desenvolvimento dessa área de investigação, com especial atenção voltada para a problemática da semiótica e epistemologia. Num se- gundo nível, Sistemas Intersemióticos cobrem as relações entre sis- temas de signos diversos, isto é, cruzamentos entre linguagens, tais como cinema e vídeo, música e cinema, jornal e televisão etc. Num terceiro nível, mais específico, trata-se de estudos monográficos so- bre um sistema de signos, ou seja, sobre os processos de comunica- ção, os modos de produção, recepção e consumo que se realizam dentro de uma linguagem (cinema ou vídeo ou jornal, por exemplo).
LITERATURA E INTERTEXTUALIDADE também compreende quatro níveis: 1. Teoria da Literatura; 2. Literatura Comparada: pa- ródia, dialogismo, mescla de gêneros e tradução; 3. Literatura e sé- ries vizinhas (em conexão com Semiótica da Cultura); e 4. Litera- tura e Signos Não-verbais (em conexão com Sistemas Intersemióticos).
Esses são, em síntese, os caminhos que têm, mais recentemente, norteado as linhas de investigação do programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC-SP. Dado que esse programa nasceu, em 1978, de uma transformação de um programa de Teoria Literária, este datado de 1970, durante alguns anos passamos inevita- velmente por um processo de transição, em que comunicação e se- miótica estavam ainda marcadas por raízes no campo da literatura. Atualmente, no entanto, grande esforço está sendo dispensado para que o programa assuma mais integralmente seu destino semiótico. Para tal, tanto o quadro docente quanto o conteúdo programático das disciplinas têm buscado uma ampliação de modo a atender mais ple- namente à diversidade intrínseca do programa. Nessa medida, nem a
112
estrutura curricular nem a formação dos docentes podem suportar a redundância, de modo a cumprir aquilo que parece ser o perfil definidor desse programa: o mínimo no múltiplo. Um breve panora- ma da organização curricular tornará isso mais claro.
A estrutura curricular está organizada em dois núcleos. O nú- cleo I está composto de três disciplinas fundamentais (Semiótica Geral, Teoria da Comunicação e Sociologia da Comunicação) que se constituem numa espécie de tronco de sustentação do programa.
O programa recebe alunos das mais diversas áreas, visto que os problemas da comunicação e da semiótica não são restritivos, mas por sua própria natureza invadem campos e territórios os mais diversos. Sua especificidade se situa na caracterização do funciona- mento de todo processo de linguagem como processo de produção de sentido ou significação, esteja este onde estiver.
Nessa medida, o núcleo I tem por função desenvolver conceitos básicos: 1. do funcionamento dos mais variados tipos de signos (Se- miótica Geral), 2. dos processos de comunicação característicos dos meios e canais em que esses signos são veiculados (Teoria da Comu- nicação), e 3. do intercurso social das mensagens nas suas implica- ções ideológicas e políticas (Sociologia da Comunicação). Esse nú- cleo é assim um primeiro patamar no qual os alunos de diversas áreas recebem os fundamentos conceituais capazes de criar um cam- po de indagação e investigação que seja comum a todos não obstante a diversidade de formação de cada um. Esse núcleo é também elimi- natório. Isto é, trata-se de um núcleo de filtragem dos alunos que estão efetivamente aptos e que realmente desejam prosseguir rumo às pesquisas que levam à dissertação.
Quanto ao núcleo II, embora suas disciplinas também sejam obri- gatórias, este núcleo, por seu lado, é mais aberto e mais específico. Os alunos vão armando seu currículo e escolhendo as disciplinas de acordo com as necessidades de sua pesquisa específica. As discipli- nas que o programa oferece neste núcleo são quatro: Semiótica da Li- teratura I e II e Sistemas Inter-semióticos I e II. Os conteúdos pro- gramáticos dessas disciplinas são, no entanto, variáveis, cabendo ape- nas as seguintes restrições: a Semiótica da Literatura deve estar voltada para as questões da poesia, em I, e para a prosa, em II, en- quanto os Sistemas Intersemióticos devem ser voltados I para as conexões interdisciplinares da Semiótica e II para os sistemas de signos não-verbais. Além disso, ainda, os alunos têm a possibilidade de substituir, quando sua pesquisa assim o exigir, duas das discipli- nas de núcleo II por disciplinas cursadas em outros programas de pós-graduação da própria PUC-SP ou em outras universidades.
Depois de 50% dos créditos já cumpridos, os alunos cursam nú- cleo de pesquisa, onde são discutidas e desenvolvidas as questões concernentes a ciência e método, assim como métodos e resultados. Essa estrutura tem permitido, de modo bem satisfatório, a reunião de duas condições, que nos parecem fundamentais quando se trata de um campo tão amplo e diversificado como o da semiótica e seus processos de comunicação: de um lado, a formação científica e con-
113
ceitual em comunicação e semiótica, comum a todos os alunos, ao mesmo tempo que, de outro lado, a especialização crescente e gra- dativa rumo às temáticas escolhidas por cada um para a sua dis- sertação. Isso tem permitido a convivência nem sempre fácil, mas sempre enriquecedora, dos mais diversos campos do conhecimento, da literatura à geologia, das artes e linguagens técnicas à música, da matemática aos meios de comunicação de massa.
Contando com um corpo docente que não excede o número de dez professores, desde sua conversão para comunicação e semiótica, em 1978, foram defendidas no programa 51 dissertações de mestrado e 14 teses de doutoramento-
114
Pós-Graduação em comunicação no IMS: 10? ano de funcionamento consolida atividades
Onésimo de Oliveira Cardoso *
HISTÓRICO
O IMS, há cerca de dez anos, resolveu através da ação de seus dirigentes e de um grupo de dedicados professores do curso de gra- duação em comunicação social, iniciar a implantação de um curso de mestrado em comunicação social com a criação de um Centro de Pós-Graduação.
A reflexão e análise que fundamentaram a implantação do curso de comunicação tomaram por base os seguintes fatores:
1) O IMS é uma instituição universitária encravada no ABC paulis- ta, região industrial onde se desenvolvem duas linhas da reali- dade brasileira, a saber: a) O crescimento de uma nova classe operária brasileira numa
situação de conflitos e transformações. b) A reflexão e definição do sistema capitalista num dos maio-
res pólos de tecnologia industrial da América Latina.
2) O IMS é uma organização educacional vinculada à Igreja Meto- dista, que se orienta por um Credo Social comprometido com a causa dos pobres e oprimidos e se pauta por diretrizes educati- vas não mercantilistas, não massificadoras, orientadas para ser- vir a comunidade, que visam não só a inserção do indivíduo no mercado de trabalho, mas também sua participação consciente e critica na realidade social.
Tais componentes sócio-históricos influíram decisivamente não só na estrutura do curso de pós-graduação, que se iniciou em 1978,
* Coordenador do Programa de Pós-Graduação do Instituto Metodista de Ensino Superior — IMS.
115
mas em todo o desenvolvimento do Centro de Pós-Graduação nos úl- timos dez anos. Ao lado dessas peculiaridades institucionais, a iden- tidade do programa se delineia também pela busca de um campo de pesquisa distinto daqueles já cobertos pelas universidades que desenvolviam atividades de pós-graduação em comunicação social. E sem dúvida alguma o traço unificador dos programas então exis- tentes, ressalvadas embora as respectivas peculiaridades, era um in- teresse pela análise dos processos hegemônicos de comunicação, des- de as atividades da indústria cultural até a produção artística da elite intelectual. Havia portanto um espaço descoberto, ou só resi- dualmente explorado, cuja oportunidade para a observação científi- ca emergia no contexto da abertura política, que possibilitava a pes- quisa de certos aspectos da realidade, até então vedados, de forma sutil ou ostensiva, às instituições acadêmicas.
O terreno percorrido pelo curso de pós-graduação em comuni- cação social do IMS no tocante à produção de conhecimento novo tomou como parâmetro a elaboração simbólica das classes trabalha- doras, para compreender os seus próprios meios de expressão cultu- ral e política e para entender os mecanismos de reelaboração inte lectual dos produtos consumidos diretamente da indústria cultural. Esse corte temático passava evidentemente pela tentativa de des- vendar a trama ideológica intrínseca à comunicação dirigida às clas- ses subalternas, como por exemplo os jornais de empresa (comuni- cação empresarial) os programas de adestramento técnico-cientifico, principalmente no campo da comunicação rural, ou as campanhas de desenvolvimento comunitário. E naturalmente incluía os proces- sos de comunicação religiosa, tanto na sua expressão eclesial quanto na sua manifestação popular, por ser um programa de uma institui- ção de ensino mantida por uma Igreja Evangélica de vocação ecu- mênica.
Paralelamente a essa orientação predominante, o curso procu- rava desenvolver a nível teórico e metodológico uma área de con- centração voltada especificamente para o educador no campo da comunicação social. Conseqüentemente, fenômenos comunicacionais eram tratados no contexto de uma nova reflexão em torno da teoria e prática didático-pedagógica, que possibilitaram novos enfoques so- bre ensino da comunicação no contexto de uma Pedagogia e Didática da Comunicação e dos Meios de Comunicação com objetivos educa- cionais.
Além dessas linhas e orientação científica, o curso acolheu sem- pre os projetos de pesquisa propostos pelos alunos que se encami- nhavam para outras direções e buscavam outras perspectivas, den- tro de um ambiente de reflexão pluralista e de liberdade de investi- gação.
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CURSO
O programa de mestrado em comunicação do IMS alcança no seu 10.° ano de funcionamento sua consolidação. No início de 1987,
116
após um longo processo, o curso, através de parecer favorável do conselheiro Arnaldo Nieskler, recebeu do CFE o seu credenciamento.
O credenciamento veio fortalecer o programa política e acade- micamente a nível interno e externo.
As mudanças, resultantes de intencionalidade, reflexão e plane- jamento, ocorridas no processo de desenvolvimento do curso ao lon- go dos dez anos, possibilitaram uma melhor definição da nossa pro- posta de curso e um aperfeiçoamento dos métodos, recursos e estra- tégias para alcançar os objetivos estabelecidos.
Hoje possuímos sem dúvida uma massa crítica de docentes que acompanharam de perto todo o desenvolvimento do programa.
O curso realiza seus objetivos através de duas áreas de con- centração:
a) Teoria e Ensino da Comunicação; b) Comunicação Científica e Tecnológica.
A área de concentração Teoria e Ensino da Comunicação, ante- riormente denominada de Metodologia da Comunicação, apesar de manter inalterada sua clientela potencial, constituída de professores que trabalham nos cursos de comunicação, ao longo dos anos con- seguiu direcionar mais claramente sua proposta acadêmica: formar docentes para o magistério da comunicação social, interessados no estudo dos fenômenos da comunicação em sociedades dependentes. Visa a formação crítica do educador através de duas linhas de pes- quisas:
a) Comunicação, Educação e Sociedade Estuda e pesquisa teorias e as relações entre comunicação e educação. Avalia criticamente as teorias de aprendizagem e o papel dos meios de comunicação no processo educacional. Pesquisa as estratégias pedagógicas dos cursos de comunica- ção social.
b) Comunicação e Cultura Analisa e interpreta culturas como sistema de comunicação. Pesquisa formas de comunicação entre subsistemas culturais e formas e funções da cultura popular e urbana.
A área de concentração Comunicação Científica e Tecnológica passou por um processo de reestruturação. Anteriormente denomina- da de "Comunicação Empresarial", deixou de contemplar esse res- trito objeto para alcançar o universo mais abrangente da comunica- ção científica e tecnológica, onde a comunicação empresarial figura como um dos componentes. A diretriz que impulsionou essa mudan- ça foi a de atribuir um sentido socialmente mais utilitário a essa área de concentração, formando e aperfeiçoando profissionais pesquisa- dores interessados na divulgação do conhecimento científico, em par- ticular no jornalismo científico, e na disseminação eficiente de infor- mações tecnológicas (comunicação empresarial e rural), de modo
117
a contribuir para uma democratização dos resultados da pesquisa em ciência e tecnologia.
Nesta área de concentração estão vinculadas três linhas de pes- quisa:
a) COMUNICAÇÃO RURAL
Estuda o processo de comunicação voltado às especificida- des do meio rural, comunicação e pesquisa agropecuária e a dimensão sociocultural da comunicação com o homem do campo.
b) DIVULGAÇÃO CIENTIFICA
Analisa teorias e práticas da divulgação cientifica, com ên- fase no jornalismo científico, ciência e dependência, comuni- cação e transferência de tecnologia.
c) COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
Estuda a problemática da comunicação nas empresas, estra- tégias de relações públicas, propaganda e marketing social.
DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS NA DÉCADA DE 80
Até março de 1988, 41 dissertações foram defendidas no programa de mestrado do IMS. Três dissertações foram editadas em livros: "Relações públicas no modo de produção capitalista"; de Cicília Ma- ria Krohling Peruzzo, editada pela Cortez Editora, São Paulo, 1984, e reeditada pela Summus Editorial, 1987; "Ministro come alcacho- fra? (Os últimos meses do governo de João Goulart)", de Oswaldo Coimbra de Oliveira, São Paulo, Cortez Editora, 1984, e "Releasema- nia: Contribuição para o estudo do press-realese no Brasil", de Ger- son Moreira Lima, São Paulo, Summus Editorial, 1987.
A grande parte das dissertações defendidas foram de alunos bol- sistas da CAPES, CNPq e EMBRAPA, instituições e órgãos que atra- vés de convênios têm permitido a existência de alunos bolsistas no programa.
As dissertações defendidas segundo termos específicos ligados às áreas de concentração abrangem o seguinte universo da comunica- ção: relações públicas, publicidade e propaganda, jornalismo, comu- nicação rural, comunicação e ecologia, televisão, comunicação em- presarial, comunicação popular, comunicação e religião, telecomuni- cação, comunicação e artes e cinema.
NÜCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO
De 1981 a 1985, subordinado ao Centro de Pós-Graduação do IMS, mantivemos o Núcleo de Memória Popular do ABC, que buscava res- gatar e preservar a cultura popular da região, através de uma série
118
de pesquisas basicamente de colheita e caracterização desta cultura. Dos feitos deste Núcleo de Memória, um dos mais relevantes foi a publicação do conjunto de livros "casos e contos populares", que en- globava narrativas orais correntes da região, publicação na qual foi mantida a fidelidade ao narrado e identificado um a um os diversos narradores.
Por razões de política institucional este Núcleo foi desativado. Em agosto de 1987 decidiu-se criar o Núcleo de Pesquisa e Ex-
tensão com a finalidade de agilizar e incentivar as atividades de pesquisa do corpo docente e discente da Instituição, especialmente as de caráter interdisciplinar, além de buscar estreitar os vínculos de Pós-Graduação com a região em que ela está inserida. Desde agosto de 1987 o Núcleo de Pesquisa e Extensão vem sendo coorde- nado pela Profa. Dra. Sandra Lúcia Amaral de Assis Reimão, do quadro permanente do mestrado em comunicação. Entendemos que este setor possibilitará uma real dinamização dos projetos de pes- quisa em andamento.
PROJETOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO
No ano de 1987 o programa vem desenvolvendo projetos identi- ficados com as linhas de pesquisa do curso. Esses projetos repre- sentam a integração de docentes e alunos no aprofundamento de questões pertinentes às áreas de concentração. Não se trata de ini- ciativas isoladas, mas sim de esforços conjugados de grupos para um aprimoramento cada vez maior de nossa produção científica. Es- ses projetos representam a continuidade e aprofundamento de temá- ticas já desenvolvidas em pesquisas realizadas por docentes e alunos que resultaram em publicações em revistas, principalmente na revis- ta Comunicação & Sociedade, livros e periódicos.
Os projetos em andamento são:
1. Ensino e Pesquisa em Comunicação Uma análise dos pressupostos teóricos e práticos da pedagogia e
didática na área de comunicação.
2. Formas e funções da Cultura Popular Visa a observação participante das experiências populares, com a
coleta oral de divulgação da produção cultural dos grupos subalter- nos, especialmente a realização artística, as formas de lazer, a litera- tura oral e escrita, a história de vida, ação reivindicatória, manifes- tação religiosa. Buscar-se-á significação simbólica interna e externa ao grupo, bem como as funções sociais da produção popular.
3. Uso Alternativo do Rádio e da TV Reflexão sobre a utilização do rádio e da TV às margens do sis-
tema comunicativo oficial, voltada para os interesses populares. A ên- fase maior será dada às experiências concretas, em especial no con- texto latino-americano.
119
4. Comunicação Rural Análise do papel da comunicação no processo de modernização
da agricultura. Aspectos socioculturais, político-ideológicos e econô- micos da difusão de inovações no setor agrícola. Veículos de comu- nicação orientados para o mundo rural.
5. Jornalismo Científico De grande importância no momento em que há um esforço no
sentido de popularizar e racionalizar a ciência, a pesquisa de jorna- lismo científico busca encontrar a linguagem adequada para a veicu- lação ao público da discussão das políticas científicas, particularmen- te a ambiental.
REVISTA COMUNICAÇÃO & SOCIEDADE
A fisionomia do programa começou a se configurar com a edi- ção da revista Comunicação & Sociedade, publicada semestralmente a partir de 1979, em convênio com a Cortez Editora e depois com a Imprensa Metodista. Lançada num momento em que haviam pereci- do ou hibernavam os periódicos nacionais dedicados à comunicação, C&S passou a constituir um veículo de difusão cultural aberto não apenas aos alunos e professores do IMS, mas receptivo à publicação de trabalhos de pesquisadores de outras universidades brasileiras e estrangeiras. A reprodução dos temas centrais das quinze edições até agora lançadas permite localizar as preocupações dominantes no que se refere à produção científica e ao debate universitário:
1. Comunicação segundo Gramsci e Paulo Freire (1979) 2. Comunicação, comunidade e imaginário (1979) 3. Comunicação, política e participação (1980) 4. Comunicação, Igreja e pesquisa-ação (1980) 5. Comunicação na América Latina (1981) 6. Comunicação alternativa e cultura popular (1981) 7. Jornalismo científico e jornalismo brasileiro (1982) 8. Mulher, trabalho e comunicação (1982) 9. Comunicação transnacional — Comunicação brasileira (1983)
10. Comunicação no ABC (1983) 11. Publicidade, ética e cultura (1984) 12. Comunicação religiosa (1984) 13. Comunicação, ciência e cultura (1985) 14. Televisão e realidade brasileira (1986) 15. Comunicação rural e realidade brasileira (1987)
A partir de 1986 o projeto de publicação da revista Comunicação & Sociedade passa por um momento difícil, devido à crise que atin- ge o setor editorial, principalmente a editora Imprensa Metodista.
Tem sido muito difícil manter a periodicidade semestral da re- vista por falta de recursos financeiros. Todavia, apesar das inúme- ras dificuldades, conseguimos chegar ao 15.° número da revista, em
120
novembro de 1987. Esperamos neste ano dar continuidade à publica- ção da revista, com o número 16 em fase final de edição, pois se tra- ta de uma publicação que é reconhecida nacional e internacional- mente, e que tem trazido contribuição significativa aos docentes, alunos e pesquisadores na área da comunicação em geral.
CONCLUSÃO
O mestrado em comunicação social da Metodista está consolida- do. Ê um programa que tem suas limitações e dificuldades, porém tem também suas virtudes. O programa está inserido numa institui- ção de ensino de pequeno porte. Não somos uma universidade no sentido fisico e legal. Aliás, é o único programa de mestrado em comunicação desenvolvido por um Instituto Superior de Ensino. Sendo, portanto, uma instituição particular, que depende exclusiva- mente de recursos do aluno, é claro que não temos condições de man- ter um quadro docente nos moldes das instituições públicas, nem realizarmos eventos de porte ou grandes projetos, que conseqüente- mente envolvem soma substancial de recursos. Todavia, essas limi- tações não têm impedido um crescimento e fortalecimento do nosso programa. O corpo docente, com sete doutores e um mestre, se ca- racteriza pela uniformidade de linguagem e propósitos ainda que in- seridos num contexto marcado pelo pluralismo acadêmico, caracte- rística fundamental de uma instituição de ensino. Temos controle das nossas atividades, até por uma questão de sobrevivência. Não pode- mos nos dar ao luxo do desperdício do tempo e de energias. Sabe- mos exatamente quem somos e o que fazemos. Somente, assim, po- demos conseguir resultados satisfatórios. Nossos alunos, oriundos de diversas partes do País e do exterior, têm todas as condições para um atendimento pessoal e um acompanhamento adequado de suas atividades. É óbvio que nem sempre as coisas ocorrem de maneira satisfatória, principalmente quando estão em jogo questões de or- dem pessoal, ou interesses particulares. Seria um absurdo se fosse diferente. Uma comunidade acadêmica envolve, também, emoções, e até mesmo idiossincrasias.
Para finalizar, gostaríamos de afirmar que o mestrado em co- municação social do IMS tem procurado se afirmar, ao longo desses 10 anos, cada vez mais como um curso competente para exercer a ca- pacitação de recursos humanos de alta qualificação para o sistema de ensino e para empresas públicas e privadas, bem como a forma- ção de pesquisadores capazes de produzir novos conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento científico e tecnológico do esta- do e do País.
121
Pós-Graduação em comunicação na UFRJ: o fenômeno comunícacional no âmbito das ciências humanas
Mareio Tavares dAmaral
1. HISTÓRICO
A ECO foi criada pelo Decreto 60.455 de 13-3-1967, sendo originá- ria do curso de jornalismo da Faculdade de Filosofia da extinta Uni- versidade do Brasil.
O curso foi autorizado a funcionar pelo Conselho de Ensino para Graduados e Pesquisa em 1972 e reautorizado em 1979, com 30 vagas.
A ECO marca uma tradição do ensino e pesquisa na área de co- municação e culmina com o credenciamento do curso de pós-gradua- ção em comunicação a nível de mestrado e doutorado.
O mestrado em comunicação da UFRJ constituiu-se em 1972 e o doutorado, em 1983, com o objetivo de refletir sobre o fenômeno da comunicação no âmbito das ciências humanas. Sem desconhecer as óbvias dimensões práticas da comunicação — que são objeto do curso de graduação — o Programa de Pós-Graduação pretendeu des- de o inicio afastar desses estudos a marca excessivamente perio- distica que lhes vinha sendo impressa pelas escolas de comunicação em toda a América Latina. Daí a característica eminentemente teó- rica e de pesquisa básica deste Programa.
O pressuposto fundamental das atividades do Programa é o de que a comunicação não chega a constituir um projeto específico de uma ciência específica, mas, ao contrário, constitui a própria força estruturante do «ampo humanístico. Neste sentido, desenvolver estudos que tendam a definir o papel da comunicação no próprio cerne das diversas disciplinas humanisticas significaria encontrar as condições de fundação e fortalecimento do campo humanístico
• Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ.
122
como um todo estruturado à semelhança do que ocorreu com o cam- po natural.
A criação em 1981 do Programa Interdisciplinar de Pesquisa Hu- manística representou uma conquista neste sentido, com a conso- lidação das linhas institucionais de pesquisas que caracterizam este projeto.
O Programa de Mestrado através das suas disciplinas preocupa- -se com a identificação do que podemos chamar de questão comu- nicação de cada uma das disciplinas sociais, humanas e artísticas. Mas o Programa está atento à especificidade do fenômeno comuni- cacional nas suas diversas manifestações, num esforço que reflete adequadamente sua vocação interdisciplinar.
Neste capítulo de interdisciplinaridade vale ressaltar a idéia de que a comunicação, não se constituindo em ciência autônoma, vem a ser o lugar natural da cooperação científica entre as disciplinas do campo humanístico, sendo esta a linha de força das atividades do doutorado.
Ê também interesse do Programa desenvolver esse mesmo tipo de estudo no que se refere às interfaces da comunicação com a tec- nologia e as ciências "duras".
A incorporação do mestrado em Cl. do IBICT/CNPq foi outra experiência neste sentido e resultou na criação de um segundo mes- trado da ECO, dedicado a esta área de problemas.
Com esta visão orgânica, o Programa prestou colaboração im- portante para a constituição de um corpo de professores e pesqui sadores em comunicação e domínios conexos, que hoje se espalha pelos diversos estados da federação, dada a procura muito diversi- ficada que nossos cursos têm recebido de várias universidades, bem como de profissionais e especialistas os mais diversos.
No que tange às publicações, a contribuição do Programa é sig- nificativa através dos professores-pesquisadores. Aproximadamente 100/o da produção de dissertações, já acima de 200, foi igualmente publicada.
Presentemente o Programa de Pós-Graduação está envolvido em I projetos de cooperação internacional.
A principal perspectiva de desdobramento do Programa localiza- I se no interesse em fortalecer uma área de concentração voltada pa- I ra o papel da comunicação e da cultura na realidade nacional e para I o impacto das tecnologias comunícacionais de ponta.
2. ESTRUTURA CURRICULAR
Os cursos em funcionamento, mestrado em ciência da informa- ção-ECO/IBICT e mestrado e doutorado em comunicação possuem áreas de concentração em: Teorias de Comunicação e da Cultura e Ciência da Informação. Realiza-se ainda o curso de especialização em Documentação Científica (CDC).
O mestrado em ciência da informação tem a duração de quatro anos, com 35 créditos distribuídos em curso e uma dissertação. Seu
123
formato curricular é flexível, com apenas três disciplinas obrigató- rias. Por semestre os alunos cursam até três disciplinas.
Os cursos de especialização — CDC — têm a estrutura previamente planejada. O CDC conta com um elenco de dez disciplinas com du- ração de dez meses. Em 1987, foram realizados dois cursos CDC, um no Rio de Janeiro e outro em Vitória, Espírito Santo. Além deste, realizou-se em 1987 o curso de especialização para bibliote- cários de instituições de ensino superior.
O curso de doutorado em comunicação, iniciado em 1983, tem a duração de quatro anos, com 48 créditos distribuídos em cursos e uma tese. Sua estrutura curricular é flexível. Os alunos podem rea- lizar três disciplinas por semestre. A unidade básica de avaliação do desempenho discente é o crédito. Um crédito corresponde a 45 horas de trabalho acadêmico por período letivo (quinze semanas de trabalho). Cada disciplina confere três créditos.
Compreende-se por trabalho acadêmico aulas expositivas, semi- nários, estudo dirigido, trabalho de pesquisa, trabalho em labora- tório. O aproveitamento do curso é avaliado através de conceitos (A — excelente; B — bom; C — regular; D — deficiente).
O mestrado em comunicação tem a duração de três anos com 24 créditos distribuídos em cursos e uma dissertação. A carga horária é de 360 horas/aula. Sua estrutura curricular é flexível. Os alu- nos podem realizar por semestre até três disciplinas escolhidas en- tre as opções oferecidas.
A orientação acadêmica realizada por professores tem por obje- tivo orientar os alunos na escolha dos cursos, estudo e pesquisa.
3. LINHAS DE PESQUISA
I. História dos Sistemas de Pensamento-Comunicação e Transdis- ciplinaridade Pesquisador responsável: Márcio Tavares d'Amaral
II. Conceitos Temáticos e Funções Operativas nos Processos de Co- municação Pesquisador responsável: Emmanuel Carneiro Leão
III. Problemas Teóricos de Comunicação Pesquisador responsável: Muniz Sodré de Araújo Cabral
IV. Cultura e Sociedade Contemporânea Pesquisador responsável: Heloísa Helena Oliveira Buarque de Holanda
V. Ética, Norma e Transgressão na Comunicação Pesquisador responsável: Ester Kosovski
VI. Comunicação e Simbolísmo Pesquisadores responsáveis: Magno Machado Dias e Antônio Sér- gio Lima Mendonça
124
Vil. Informação, Cultura e Sociedade Pesquisadores responsáveis: Mário Camarinha da Silva e Aldo de Albuquerque Barreto
Linhas e Projetos de Pesquisa
I. História dos Sistemas de Pensamento-Comunicação e Trans- displinaridade. Determinação num registro histórico-filosófico da maneira pela qual a comunicação, entendida como força estrutu- rante, organiza os diversos sistemas de pensamento.
Pesquisadores:
Márcio Tavares d'Amaral Francisco Antônio Dória leda Tucherman Priscila de Siqueira Kuperman Milton José Pinto
1.1. Problemas Teóricos e Metodológicos da Interdisciplinaridade nas Ciências Sociais e Humanas. Identificação dos conceitos básicos do campo humanístico, da sua constituição em cada disciplina do campo, e dos limites e aberturas epistemológicas para a constituição de uma ciên- cia complexa do homem, segundo a determinação recorrente das noções de sujeito, tempo e linguagem.
Pesquisadores;
Márcio Tavares d'Amaral leda Tucherman Priscila de Siqueira Kuperman Francisco Antônio Dória
1.2. Sujeito, Linguagem e Comunicação. Determinação do modelo das relações entre a constituição ex- perimental do sujeito, a natureza da linguagem e a abertura da comunicação.
Pesquisador;
Márcio Tavares d'Amaral
1.3. Dimensões Estéticas da Verdade. Proposição de um modelo teórico para o conceito de verdade em ciências humanas a partir das relações entre psicanáhse e discurso poético.
Pesçuisador; Halina Grymber
1.4. A Narrativa como Modelo Formal das Relações entre Lingua- gem e Realidade.
125
Formulação de um conceito formal de narrativa como siste- ma ontoepistemológico da constituição do sujeito e tempo.
PesgMisador;
leda Tucherman
1.5. As Marcas da Produção Discursiva. Levantamento e síntese, sob a forma de um repertório clas- sificado, de marcas indiciais que, na linguagem verbal e na imagem, remetam para a "prática significante" de constru- ção, pelo discurso, do seu universo referencial e da (inten subjetividade que põe em jogo.
Pesquisador;
Milton José Pinto
1.6. O Discurso da Utopia. Determinação das estruturas de tempo (o ainda não) no dis- curso utópico da construção do sujeito.
Pesçwisador;
Marcos Fernandes Moreira
1.7. A Cidade Chega como Experiência de Comunicação: Espaço, Tempo e Linguagem. Estudar como a racionalidade que se instaura no século IV a.C. com a metafísica e, a partir de então, a referência per- manente na evolução da cultura ocidental ganha dimensões concretas na estruturação do espaço, do tempo e da lingua- gem na cidade moderna.
PesQMisador;
Estrella Dalva Benayon Bohadana
1.8. A Luta contra a Morte: Uma Vitória do Século XX. Refletir sobre o modelo do discurso psicológico envolvido no processo de comunicação médico-paciente e médico-família em situações tertínais — as intervenções de denominação e poder que caracterizam esta forma de experiência do Ocidente.
Pesquisador :
Tânia Regina S. Furtado
1.9. A Interseção dos Campos de Comunicação e Informática no Espaço Lúdico da Vivência Humana. Focalizar o ser humano-individuo numa perspectiva cultural humanística diante das transformações tecnológicas nos cam- pos da comunicação e informática.
Pesgwásador;
José Luiz Thadeu Martins
126
1.10. Verdade e Ação: A Questão "Teoria e Prática". Descrever o padrão teórico que tem servido à definição das relações entre teoria e prática na história do Ocidente; identi- ficar a forma moderna deste padrão, definir a questão "Teoria e Prática" e indicar uma direção de saída dos seus impas- ses teóricos.
Pesguisador;
Márcio Tavares d'Amaral
1.11. Sujeito, Tempo e Linguagem: A Questão dos Fundamentos da Comunicação. Discutir o problema dos "Fundamentos Científicos da Co- municação" em conexão com o modelo subjetivo da verda- de (sujeito, tempo, linguagem).
Pesquisador:
Márcio Tavares d'Amaral
1.12. A Questão do Paradigma Científico: Redução, Simplificação e Complexidade. Discussão das contradições, levantadas pela moderna com- preensão da realidade como múltipla e complexa, diante do modelo calculador, redutor e simplificador da ciência.
Pesquisador;
Roberto Nathan Sayeg
1.13. O Problema do Kitsch na Arte e na Comunicação de Massa. A arte definida como campo de valores significantes: a co- municação com o processo social de transvalorização. O Kitsch como sintoma da crise da modernidade. Beleza, verdade e co- municação.
Pesquisador:
Jorge Lúcio de Campos
1.14. O Poder Transformador dos Símbolos. Estudo do Tarot como sistema simbólico, em três dimensões — representação em imagem-nome e número — considerado como ordenação arquetípica do desenvolvimento da persona- lidade. Análise do objeto; apreensão e análise de sua utiliza- ção como instrumento de autoconhecimento e de orientação do outro, enquanto agente da conscientização de padrões sub- jacentes à conduta do sujeito, em seu caminho de individua- lização.
PesQMisador; Priscila de Siqueira Kuperman
127
1.15. O Pensamento como Espessuração e Dobras; para uma Crí- tica da Filosofia como Representação no Aparelho da "His- tória da Filosofia". Pensar a estrangereidade do pensamento, como diferente e in- dependente do conhecimento e da cidade. Criticar as filoso- fias como discurso e práticas de sustentação da história do Ocidente.
Pesquisador :
Carlos Henrique Fagundes de Escobar
1.16. Música e Representação. Verificar se e em que medida as produções musicais contem- porâneas, em algumas das suas obras, romperam ou não com a teoria da representação e em que medida esta teoria e sua produção de discussão funda ou não o estilo burguês de re- presentação musical.
Pesquisador:
Carole Gubermikoff
II. Conceitos Temáticos e Funções Operativas nos Processos de Comunicação. Verificar os limites da possibilidade de tematização das estru- turas operativas constantes no campo da comunicação.
Pesguisador;
Emmanuel Carneiro Leão
II. 1. Comunicação e Inconsciente. Compreensão e discussão das raízes inconscientes da comu- nicação.
Pesquisadores:
Emmanuel Carneiro Leão Muniz Sodré de Araújo Cabral Fábio Penna Lacombe Mana Helena Rego Junqueira
II.2. Transplante Cultural e Mediação Discursiva. Investigar as alterações por que passam os diferentes siste- mas culturais europeus quando transplantados para o Ter- ceiro Mundo, com aplicação especial ao caso religião (teolo- gia da teologia da libertação).
PesgMisadores;
Emmanuel Carneiro Leão Muniz Sodré de Araújo Cabral Márcio Tavares d'Amaral Leonardo Boff
128
11.3. O Telejornal e a Atitude Perceptiva das Classes Subalternas. Estudar a atitude de componentes de classes subalternas urba- nas, tendo o telejornal como padrão de referência e aferição.
Pesgwásador;
Johannes G. van Tilburg
III. Problemas Teóricos de Comunicação. Revisão no contexto da cultura brasileira da moderna teoria da comunicação, entendida como a aproximação científica aos diferentes modos de inter-relacionamento humano no nível da troca de signos, mensagens, expressões simbólicas e da ação cultural sistemática.
Pesquisador:
Muniz Sodré de Araújo Cabral
III. 1. Análise de Discursos Sociais. Estudo transdicíplinar (com dominância de enfoques econômi- cos, antropológicos, semiológicos e filosóficos) de produtos da indústria cultural, elaborações institucionais e artísticas.
Pesquisadores:
Muniz Sodré de Araújo Cabral Antônio Amaral Serra Eduardo de Castro Neiva Júnior Erika Francisca Wemeck Maria Helena F. G. Pereira Sônia Gomes Pereira Regina Glória Andrade
111.2. Tipologia dos Discursos Utilizados na Imprensa. Descrição dos diversos modos e processos utilizados pela im- prensa brasileira para veicular informações.
Pesquisador:
Milton José Pinto
111.3. Estrutura dos Transplantes Europeus de Comunicação sobre a Categoria de Mulher. Sexo, mito e linguagem a partir da questão proposta por La- can: "Um homem não é outra coisa senão um significante. Um homem procura uma mulher — isto vai-lhes parecer curio- so — a título do que se situa pelo discurso, pois, se o que aqui coloco é verdadeiro, isto é, a mulher não é toda, há sem- pre alguma coisa nela que escapa do discurso".
Pesquisador:
Regina Glória Andrade
129
111.4. Disseminação e Táticas da Discursividade Cientifica. Discutir o processo de socialização da discursividade científi- ca. Identificar no curso da história as linhas de força na cons- tituição da argumentação social produzida à imagem da ciên- cia. Exposição discursiva, produção de sentido e vulgarização científica.
Pesquisador:
Eduardo de Castro Neiva Júnior
111.5. A Radiodifusão no Sistema de Comunicação do Estado No- vo: A Pre-8 Sociedade Rádio Nacional do Rio de Janeiro co- mo Instituição Exemplar (1940-1945).
Pesgwisatior.4
Erika Franziska Herd Werneck
111.6. O Pasquim e a Imprensa Alternativa Brasileira. Avaliar a importância do Pasquim na história do meio de in- formação, levando em conta seu papel desencadeador na irrup- ção da imprensa alternativa brasileira posterior a 1964, e es- pecialmente no que se refere ao humor.
Pesquisador:
Maria Helena F. G. Gomes
IV. Cultura e Sociedade Contemporânea. Análise dos aspectos centrais que dizem respeito à questão da produção cultural/simbólica na sociedade urbana-industrial contemporânea com ênfase no caso brasileiro.
Pesquisador:
Heloísa H. O. Buarque de Hollanda
IV. 1. Do Moderno ao Pós-Moderno: Tentativa de Definição. Estudo da trajetória da crise do pensamento moderno (cora ênfase na questão da população simbólica) e a emergência do debate em tomo de um pensamento pós-modemo no quadro de dependência sociocultural da produção intelectual e artís- tica brasileira contemporânea.
PesçMisadores;
Heloísa H. O. Buarque de Hollanda Carlos Alberto Messeder Pereira Célia Maria de A. Portella Cléia Schiavo Guy Couillard Katia Maria de Carvalho Silva Maria Nélida González de Gomez
130
Regina Glória Nunes Andrade Regina Maria Marteleto Tânia Maria Olivier Chulan
IV.2. Feminino e Pós-Modernismo. Discussão e análise da produção cultural realizada por mu- lheres a partir da década de 70 e sua relação com o debate pós-modemista. Será dada especial ênfase no estudo das áreas de cinema, literatura e artes plásticas no Brasil.
Pesquisadores:
Heloísa H. O. Buarque de Hollanda Nízia Maria Villaça Regina Glória Nunes Andrade
IV.3. Samba, Identidade e Hegemonia, o Pagode Enquanto Mani- festação Cultural. O objetivo geral deste projeto de pesquisa é pensar o samba enquanto manifestação cultural, ou melhor, enquanto impor- tante elemento de consignação/expressão de identidade, não apenas étnica mas sociocultural, e enquanto linguagem capaz de revelar aspectos significativos do modo de inserção de im- portantes segmentos das populações negro-populares brasilei- ras no conjunto da sociedade nacional.
Pesquisador:
Carlos Alberto Messeder Pereira
IV.4. Modernismo, Vanguarda e Estado Autoritário. Análise do processo de institucionalização das teses sobre cul- tura brasileira defendidas pelo modernismo brasileiro a par- tir de 1937 e estudo de caso das comemorações do cinqüen- tenário da Semana de Arte Moderna no governo Mediei (1972).
Pesquisador:
Hélio Raymundo Silva
IV.5. Política Cultural e Interesses Geopolíticos. Análise dos programas culturais e da política de direciona- mento dos meios de comunicação de massa formulados pelos governos da Revolução a partir da década de 70.
PesQMisacíor;
Cléia Schiavo
IV.6. Educação e Informática: Um Diálogo Difícil e Inadiável. Análise de como a informatização da sociedade brasileira vem sendo implantada. O projeto pretende desenvolver a reflexão sobre a técnica e a ciência com o objetivo de elaborar um ins- trumental teórico-crítico para a discussão das conexões e ar- ticulações entre a informática e a educação.
131
Pesquisador;
Célia Maria de A. Portella
IV.7. Informação no Contexto Universitário. A questão da informação na universidade brasileira com ên- fase na análise das atividades de informação — sua comuni- cação e recepção entre os estudantes.
Pesquisador:
Regina Maria Marteleto
V. Ética, Norma e Transgressão na Comunicação. Detectar enfoque da comunicação sob o processo de mudan- ça social, através da análise sociológico-juridica das normas, transgressões e desvio manifestados através da linguagem e comportamento.
PesçMisador;
Ester Kosovski
V.l. Delinqüência Feminina Oficialmente Registrada: Análise Com- parativa. Estabelecer relações aproximadas das características da de- linqüência feminina e seu possível vínculo com movimentos de liberação feminina na área latino-americana (parte brasi- leira de projeto multinacional da ONU).
Pesquisador; Ester Kosovski
V.2. O Visível e o Invisível (Sexo e Margem). Procurar detectar, partindo de anúncios vinculados nos meios de comunicação e pesquisa de campo, novas formas ostensi- vas e veladas de prostituição.
Pesquisadores ;
Maria Lúcia Pazzo Ferreira Lecy Consuelo R. Neves Luciana Rocha M. Barros Mariza Oliveira E. Souza Ester Kosovski
V.3. Justiça Justa? Estudar a linguagem empregada em sentenças judiciais pro- venientes de varas criminais do Rio de Janeiro, verificando a existência, incidência e freqüência de posturas preconceituosas e discriminatórias contidas nessas decisões.
Pesquisador;
Nizia Maria Villaça
132
V.4. Legislação dos Meios de Comunicação. Interpretação jurídica da obrigatoriedade e da qualificação jurídica das leis referentes aos meios de comunicação no Bra- sil.
PesgMisador;
Wanda A. B. Carneiro Leão
V.5. Erotismo da Poesia de Carlos Drummond de Andrade. O conceito de erotismo na literatura e especificamente na poe- sia, em Drummond orientada para a descoberta mútua dos parceiros sexuais através do corpo, questionamento do eróti- co e do pornográfico e sua consideração enquanto desvio.
Pes^Misador;
Maria Lúcia do Pazzo Ferreira
V.6. Paródia, a Paráfrase e o Plágio. Fixar conceitualmente a distinção entre paródia e paráfrase, de um lado, e plágio, de outro, levando em consideração o caráter transgressivo deste último no que se refere à proprie- dade intelectual.
Pesquisador:
Newton Paulo Teixeira Santos
VI. Comunicação e Simbolismo. Discussão dos modos de afetação do sujeito pelas relações entre inconsciente e linguagem e suas projeções nos discur- sos de comunicação, tendo em vista o liame social destes pró- prios discursos.
PesQMisodorcs;
Magno Machado Dias Antônio Sérgio Lima Mendonça
VI. 1. Comunicação da Barbárie através do Discurso Pedagógico. Formular uma visão mais clara do discurso pedagógico, ex- plicitando seu regime de produção e de troca de normas, atra- vés de uma abordagem psicanalítica que o dirija para a ex- plicitação dos modos imaginários de comunicação nele vi- gentes.
Pesquisador:
Potiguara M. Silveira Jr.
VI.2. O Conceito de "Barroco" como Instância Reguladora do Discurso. Estabelecer as relações do discurso de Santa Teresa dAvila com o barroco no que concerne à regulação da "Alma" pela
133
escopia corporal. Distinguir os discursos da santidade, do mes- tre, do gozo místico, do ponto de vista da produção de seu sintoma com valor de verdade. Inscrevê-lo na língua do Es- pírito Santo, diferenciado do "Mito do Amor". E nesta ins- crição de fé refazer o caminho de sua singular religio.
Pesquisador:
Tânia Maria Olivier Chulam
VI.3. O Conceito de Linguagem na Obra de Walter Benjamin. Estabelecer o conceito de linguagem na obra de Walter Ben- jamin, distinguindo o momento de O drama barroco alemão dos ditos Trabalhos de passagem de inspiração marxista. Per- correr os chamados itinerários freudianos do autor, distin- guindo-os da visão de Adorno, embora seja necessário dar conta de singular relação entre ambas as obras.
Pesquisador:
Antônio Domingos Farina
VI.4. O Símbolismo da Culpa no Discurso Político. Confrontar, a partir de fontes bibliográficas comparativas, as significações pertinentes à relação entre o discurso político e a questão simbólica da psicanálise.
Pesquisador.-
Octávio Almeida Souza
VII. Informação, Cultura e Sociedade. Sistemas e subsistemas de informação: características, atri- butos, propriedades; estruturas cognitivas e organização em diferentes contextos e comunicados científicos, tecnológicos e culturais.
Pesquisador:
Mário Camarinha da Silva
VII. 1. Informação e Contexto Social. Estudo da produção editorial da literatura popular, dos me- canismos da produção, considerando as altas tiragens peculia- res e de representatividade dentro do contexto editorial. Ca- racterização místico-cultural desta literatura, e enquanto li- teratura de massa verificar as relações entre as altas tiragens e o leitor através do seu perfil.
VII.2. Classe Social, Comunicação e Informação na Escola. Pesquisa sobre o fluxo de comunicação e troca de informa- ção numa escola pública do Rio de Janeiro com o objetivo de anaUsar as barreiras de classe na sociedade brasileira.
134
Pesquisador:
GHda Olinto do Valle Silva
VII.3. Informação e Educação Não-Formal. Relação entre mudança técnica e mudança social. Informa- ção e objeto técnico. Os movimentos sociais de educação po- pular no quadro das novas determinações que sofre a infor- mação, e o plano técnico da comunicação de informação e a organização e mobilização popular.
Pesquisador:
Regina Maria Marteleto
VII.4. Os Movimentos Sociais, Comunicação e Informação. O estatuto da informação na sociedade contemporânea e no contexto do Terceiro Mundo. Sociedade, Estado e informa- ção. Políticas de informação. Movimentos sociais, necessi- dades, fluxos de demandas de informação.
Pesquisador:
Maria Nélida González de Gomez
VII.5. Fluxo da Comunicação Técnica na Transferência Interna da Tecnologia Gerada no Brasil. Estudo das barreiras ao fluxo da comunicação técnica entre as regiões Sudeste e Nordeste do Brasil, visando ao desen- volvimento de mecanismos de difusão que possibilitem o uso do conhecimento tecnológico gerado no País.
Pesquisador:
Vânia Maria R. H. de Araújo
vn.6. Economia da Informação: uma Avaliação a partir do Ins- trumental Fornecido pela Análise Econômica. Sistemas de produção do conhecimento: a comunicação de massa (cinema, rádio, imprensa, televisão) e a informação científica e tecnológica. A comunicação e a informação como bem econômico, sua participação no sistema econômico e no desenvolvimento econômico.
Pesquisador:
Aldo de Albuquerque Barreto
4. CORPO DISCENTE
Mestrado — Comunicação
Alunos inscritos em disciplinas: 76 Alunos inscritos em Pesquisa/Tese: 67
Total: 143
135
42 17
Total: 59
19 21
Total: 40
Mestrado em Ciência da Informação
Alunos inscritos em disciplinas: Alunos inscritos em Pesquisa/Tese:
Doutorado — Comunicação
Alunos inscritos em disciplinas: Alunos inscritos em Pesquisa/Tese:
5. PRODUÇÃO CIENTÍFICA
1972-1987
Mestrado em Comunicação 211 dissertações
Mestrado e Ciência da Informação 104 dissertações
Doutorado 01 04 (em julgamento)
6. BIBLIOTECA
A Biblioteca de Pós-Graduação da Escola de Comunicação da UFRJ reiniciou suas atividades em 1983, seguindo os padrões de pla- nejamento bibliotecário.
Desde então, o seu objetivo principal é atender as necessidades dos usuários através da recuperação, processamento e disseminação da informação.
O Relatório Anual tem sido o instrumento que torna possível à comunidade tomar conhecimento e/ou acompanhar as atividades de- senvolvidas, abrindo espaço para avaliação, críticas e sugestões.
O corpo de funcionários é formado de três bibliotecários, três auxiliares administrativos e um (1) bolsista.
O acervo da Biblioteca é formado de monografias (livros, te- ses/dissertações, folhetos), títulos de periódicos, separatas e micro- fichas. Abrange as áreas de ciência da informação, comunicação, pu- blicidade e propaganda, jornalismo, editoração, artes e áreas afins como filosofia, psicologia, sociologia e lingüística.
O acervo de monografias (teses/dissertações, livros) perfaz um total de cerca de 12.000 volumes e cerca de 600 títulos de periódicos.
Os serviços oferecidos são:
Referência Empréstimo domiciliar Empréstimo entre bibliotecas
136
Consulta Comutação bibliográfica Localização de periódicos-CCN Localização de livros-catálogo da FGV Serviço de alerta Normalização de documentos Treinamento de usuários
Dois produtos disseminam o material bibliográfico recebido, os Sumários Correntes e Novas Aquisições. A distribuição é realizada entre o corpo docente e discente e instituições que atuam na área.
Os usuários da Biblioteca são os alunos, professores da ECO em particular e da UFRJ, em geral.
137
Pós-Graduação em comunicação na UnB: da crítica das ideologias à busca de uma sociedade mais justa
Sérgio Dayrell Porto
Tendo principalmente como medida as teses desenvolvidas no programa de Pós-Graduação da Universidade de Brasília — curso de mestrado em comunicação, no sentido de explicitar as tendências da pesquisa ai realizada, podemos inferir:
INICIALMENTE, ALGUNS NÜMEROS DO PROGRAMA
De 1980 a 1987 foram defendidas 25 teses, numa média de 3 por ano. Comparativamente, entre 1974 e 1979 foram produzidas 19 te- ses, obtendo-se a mesma média de 3 por ano. O curso da UnB sem- pre foi oferecido para poucas pessoas, com a entrada anual varian- do entre 5 e 10 alunos. Excepcionalmente, no ano de 1987, a sele- ção foi feita com 20 vagas, o que pode ser considerado como um dos sintomas de maturidade do programa. Das 44 teses defendidas nes- tes 13 anos de mestrado em comunicação da UnB, 8 já foram edi- tadas, numa proporção de 20% do total. Dentre estas, uma virou best-seller: A história secreta da Rede Globo, de Daniel Herz, con- cluída em maio de 1983 e editada em 1986.
A TÔNICA DO PODER
Nesses anos 80 predominaram temas ligados ao poder do Estado e seus discursos legitimadores. 10 teses entre as 25, ou seja, 40% do total das dissertações neste período, abordaram esta questão.
* Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação na Universidade de Brasília — UnB.
138
Além do Kstado, outras instituições foram contempladas, dentro de uma mesma ótica discursiva: a Igreja e os bancos, E' geralmente estes discursos destas instituições se viabilizaram por práticas e veí- culos da comunicação: a publicidade, o jornalismo e a televisão.
Enfatizou-se assim em Brasília, terra de palácios e ministérios capital onde se fundem os poderes estatais, públicos, privados, ci- vis, religiosos e econômicos, temas políticos e também culturais, comprovando o direcionamento das duas linhas de pesquisa do pro- grama: políticas de comunicação e comunicação e cultura. Atual- mente planeja-se agregar ao programa mais uma outra linha de pes- quisa, aquela do jornalismo político, proveniente da experiência com m curso de especialização nesta área. Aqui também comprova-se a vocação cultural dos estudos de comunicação em Brasília: a aná- Bse crítica do fenômeno do poder, nas instituições, nas práticas e nos veículos.
OS FRAGMENTOS CULTURAIS
0 cultural é bastante visível nos estudos da Universidade de Bra- sília através da proliferação de tópicos que têm uma relação com a fragmentação da sociedade atual (pós-moderna?). Aos temas maio- res — Estado — Igreja e bancos — outros tópicos se agregaram: o comportamento feminino, a reforma-agrária, o marketing bancário, a psicanálise, a ecologia, os sistemas de comunicação do governo, a moda, a informática, a extensão rural, a história da cultura, os anos SO, os anos 60, o jornalismo alternativo, o discurso da velhice, a eco- nomia pós-64, as minorias nacionais, a teoria e a prática marxistas, a teoria e a prática idealistas, a medicina, os veículos de comunica- ção, as comunidades eclesiais de base, as campanhas da fraterni- dade e o lobby.
DOMÍNIO CONEXO: A FORÇA DA SOCIOLOGIA
Através desses temas, o curso de mestrado em comunicação da ünB elegeu como suas áreas conexas prioritárias: a sociologia, a an- tologia e a psicologia. Disciplinas e professores da Sociologia tem obtido a preferência dos mestrandos do COM-UnB, não só para s complementação de créditos no domínio conexo, quanto no mo- mento que desejam orientar suas teses fora do próprio Departamen- to de Comunicação. A ciência política só mais recentemente começa a ser procurada pelos alunos, ficando o estudo do Estado mais liga- do às teorizações sociológicas. Com os temas culturais o programa de Brasília aproxima-se bastante da antropologia, e no campo da psicologia o que se preferiu foi a social e a das organizações. Uma iiea conexa procurada pelos alunos do COM-UnB é a lingüística, tascando aí reforço para as metodologias e técnicas em análise dó iisrarso. Os enfoques econômicos e educativos têm apenas algum realce nos estudos da comunicação em Brasília.
139
NOS ANOS 70, A FORÇA DA COMUNICAÇÃO RURAL
Comparativamente, nos anos 70, o discurso do poder também era a tônica, diversificando no entanto os subtemas da época, em sua maioria dedicados à comunicação rural, através de aspectos diversificados da extensão rural. Os temas culturais eram menos procurados. Das 19 teses produzidas, 11 dedicaram-se nesses anos 70 à área rural, e dos temas culturais podem ser citados: o cordel, a FIAT em Minas, o saci-pererê do Ziraldo, o projeto Minerva, as rádios educativas e as agências de publicidade. Esta ênfase no po- lítico-agrícola deveu-se à gênese do programa, atrelado ao tópico de- senvolvimento e às agências governamentais EMBRAPA, EMBRATER e ao próprio Ministério da Agricultura. De 80 para cá, a pesquisa ur- banizou-se ou tomou-se mais abrangente, não específica ao campo, e certamente mais critica.
AS EPISTEMOLOGIAS
No encontro ou no desencontro das epistemologias, o enfoque critico, geralmente marxista, prevaleceu de 80 para cá, quando o cur- so desatrelou-se das agências de governo. Mesmo na década ante- rior, algumas teses com tema agrícola conseguiram contornar seus vínculos institucionais, e resultaram em trabalhos críticos. A Esco- la Sociológica de Frankfurt, os patrocinadores da Nova Ordem In- ternacional da informação, a UNESCO, os economistas e sociólogos da Teoria da Dependência na América Latina — e aqui a figura do belga Armand Mattelart é inconteste — podem ser consideradas as grandes matrizes dos trabalhos críticos em comunicação, presentes em todas as pesquisas do Departamento de Comunicação da UnB. A própria semiologia ou semiótica, de origem francesa ou norte-ame- ricana, acabou por se deixar influenciar pelos contextos políticos e históricos em que se situavam os discursos analisados. Os "signos" na Universidade de Brasília têm sido devidamente ideologizados e os tópicos culturais não têm sido estudados isolados dos fenômenos poder.
Sendo assim, a pesquisa funcional, orgânica e sistêmica, pró- pria das perspectivas eminentemente mercadológicas, tem sido des- cartada no Departamento de Comunicação da UnB. Aliás, áreas de- correntes do "Business administration" têm sido relegadas até nos cursos de graduação da mesma universidade. Recentemente delibe- rou-se em colegiado a morte próxima dos cursos de Relações Públi- cas, dentro do princípio de se concentrar esforços em áreas priori- tárias. Se esta postura dava à UnB um distanciamento das coisas e dos objetos mercadológicos, hoje a procura de seus cursos cresce a cada dia, a nível de graduação e pós-graduação. Parece que uma certa desilusão com a Nova República e até aqueles mestran- dos que não haviam terminado suas teses retornam agora, prontos a darem vazão ao pensamento crítico. Afinal, ser acadêmico ion critico) passa a ter melhor cotação social,..
140
OS MODELOS LATINO-AMERICANOS
A um modelo de comunicação dependente contrapõe-se agora um processo de políticas democráticas de comunicação. Os resulta- dos práticos obtidos, quando se unem as políticas de comunicação a processos educativos alternativos e mesmo revolucionários, ainda são precários, haja vista o que restou do tópico "Conselho Nacional de Comunicação" na Comissão de Sistematização da Assembléia Na- cional Constituinte, reunida em Brasília. É sabido que este assun- to foi proposto à subcomissão de Comunicação pela deputada Cris- tina Tavares, do PMDB de Pernambuco. Mas os desejos de trans- formação social, os compromissos políticos e mesmo as utopias são os últimos a morrer. Esta é a herança recebida em Brasília de co- municadores importantes na América Latina e no Brasil: Armand Mattelart, Hector Schmucler, Rafael Roncaliollo, Luís Ramiro Bel- tran, Paulo Freire, Hector Garcia Canclini, Jesus Martin Barbero, Juan Somavia, Fernando Reyes Matta, Javier Esteinou Madríd, F. Outierrez. Este próprio modo de ser e de pensar a comunicação mo- tivou também uma análise crítica das Novas Tecnologias de Comu- mcação, a partir de trabalhos de Armand Mattelart, Herbert Schil- ler, Marike Finlay, Luís Filipe Baeta Neves, Valerio Fuenzallida e de alguns outros.
NAS TEORIAS DISCURSIVAS, A PRAGMÁTICA
A esterilidade nas interpretações semióticas estruturalistas assim como no rigor de uma análise de conteúdo, fora a crítica constante por parte dos comunicadores diretamente ligados à transformação da sociedade, provocou com alguma rapidez a modificação dos mé- todos lingüísticos aplicados à comunicação. Da semântica e da sin- taxe passou-se à pragmática do discurso. E dentre esse díscurso-vida, a forma mais difundida de análise entre os pesquisadores de Bra- sília tem sido a AD — Análise do Discurso, a partir de Míhail Bahk- tin, Michel Foucault, Dominique Mainguenau, e no Brasil a partir de Eny Pulcinelli Orlandi. Como variável importante nessas pesqui- sas, situa-se a perspectiva hermenêutica, afastando de vez a neutra- lidade do analista político diante de um tema complexo. Certamente que o debate Jurgen Habermas versus Hans Georg Gadamer, além da contribuição de Paul Ricoeur, tem dado aos estudos hermenêuticos contemporâneos uma dimensão bastante diversificada daqueles es- tudos puramente ligados à religião ou à crítica literária.
NOS ESTUDOS CULTURAIS, MATRIZES DIVERSAS
Nesta área, a primeira das influências recebidas em Brasília é aquela proveniente dos teóricos alemães frankfurtianos, como Ador- no, Horkheimer, Benjamin e Marcuse. Para estes a arte, e por ex-
141
tensão os valores humanos, como a cultura e a informação, foram invadidos pela mercadoria, através de seus fetiches e valores' de tro- ca. Essa postura certamente vem iluminando a reflexão atual de professores e alunos do COM-UnB, em suas pesquisas e atividades docentes e de extensão. Recentemente, em janeiro de 1987, uma análise de um dos professores da UnB, à Ia Frankfurt, criticando duramente Tom Jobim por ter vendido "Águas de Março" à Coca-Co- la, provocou um debate nacional sobre a matéria. A mesma críti- ca poderia ser estendida e sob os mesmos moldes à padronização do esporte brasileiro, através do que é hoje conhecido como Copa União de Futebol, patrocinada pelas mesma Coca-Cola, onde quase todos os clubes nacionais vestem o logotipo desta empresa em seus uni- formes. Por uma ironia do destino, os dois clubes finalistas da Copa União, o Flamengo, do Rio de Janeiro e o Internacional, de Porto Alegre, não adotaram em suas camisas a propaganda da Coca. O pri- meiro vai de Lubrax e o segundo de Aplub...
Uma segunda tendência, em oposição direta à primeira, é aquela de seguir as linhas do pensamento de Jean Beaudrillard, que muito recentemente tem falado do desaparecimento da arte ou da arte do desaparecimento. Isto significa que "a eutanásia geral das formas e dos valores" provocada pela invasão da mercadoria em todos os setores da vida humana encontra no artista, no produtor cultural, no comunicador, uma última posição de deboche diante de tudo o que acontece. Nessa linha de raciocínio a matriz de Beaudrillard vai mais longe do que aquela de Frankfurt, pois fugindo da inocên- cia da crítica de Singlewood que diz que a indústria cultural demo- cratiza a arte e a cultura, ele (Beaudrillard) permite que o artista conviva com este caótico mundo dos objetos, mas ao mesmo tempo o ridicularize. Não há dúvida que o tratamento dado às pesquisas, às teses, aos textos produzidos em Brasília, no que toca à produ- ção e consumo de objetos culturais e artísticos, passa pelo conceito de indústria da cultura e o supera de certa forma, não na aceitação do feitiço do mercado, que a tudo e a todos encanta, mas na linha da arte e cultura já tomarem consciência do ridículo que é a pro- posta pura e simples do valor de troca da mercadoria.
Uma terceira matriz de influência em Brasília vem do Center for Cultural and Contemporary Studies, da Universidade de Bírming- ham, na Inglaterra (hoje, infelizmente, em sérias dificuldades a par- tir de restrições orçamentárias do governo Thatcher) e de alguns co- municadores notáveis da mesma Inglaterra, como Raymond Wil- liams (hoje aposentado e retirado da cena universitária por desa- venças em Cambridge) e Stuart Hall, na Open University de Lon- dres. Melhor do que ninguém este centro e estes intelectuais vêm es- tudando a fragmentação de nossa pós-modernidade através de uma perspectiva critico-cultural, tendo como matriz o marxismo. Alguns de nossos professores fizeram suas teses diretamente inspirados nes- ses autores, devido inclusive a influência que exercem em outros países, como, por exemplo, o Canadá.
142
Uma quarta corrente de influência nos estudos culturais que se fazem em Brasília vem do Institute of Comunication Research, da universidade norte-americana de Illinois, no campus de Champaign & Urbana, onde alguns de nossos professores têm buscado a raiz de suas reflexões culturais. Neste instituto pontifica a figura de James Carey e de outros comunicadores importantes, como Lawrence Grossberg, Clifford Christians e Thomas Guback. Se há algum tem- po atrás as reflexões deste instituto eram remanescentes diretas dos estudos do interacionismo simbólico da Escola de Chicago e de uma visão até mesmo funcional e orgânica do processo comu- nicativo, de uma visão geográfica e religiosa da comunicação, recen- temente as influências de Birmingham se fazem sentir mais nitida- mente em Illinois e com isso os estudos culturais norte-americanos já são filtros de uma visão também marxista da cultura.
Uma quinta fonte dos estudos culturais viria também dos EUA, com a contribuição de George Gerbner, na Ana Ber School of Com- munication da Universidade de Filadélfia. A partir de suas preocupa- ções com o fenômeno da recepção e do consumo dos produtos cul- turais e comunicacionais, Gerbner passa a dar uma dimensão nova àquilo que Frankfurt não viu: não só a produção da comunicação, mas principalmente o seu consumo.
Uma sexta corrente de estudos culturais, presente também em Brasília, revela a abordagem do produto cultural a partir de seu lugar de fala, em outras palavras, através das suas condições de pro- dução, consumo e recepção. A matriz deste pensamento está em Lucien Goldmann e o representante mais importante no Brasil se- ria o antropólogo Roberto Schwarz, através de suas reflexões a par- tir das idéias fora do lugar, mais recentemente colocando-as em seus devidos lugares, isto é, nos locais de produção, transporte e consumo.
De qualquer forma, essas seis matrizes de possíveis e inegáveis influências na produção das pesquisas de ordem cultural em Brasí- lia mostram alguns pontos necessários de convergência: cultura, ar-
I te, informação, comunicação, valores humanos, todos esses elemen- I tos e variáveis de pesquisa têm seus lugares, momentos e contextos 1 próprios de produção, circulação e consumo. Certamente que cul- Itura e comunicação sofrem o peso da mercadoria e da ótica do mer- Içado e nesses termos são frutos de hegemonias e de ideologias. Nes- Ise ponto os estudos culturais de Brasília se unem às políticas de I comunicação, que procuram denunciar a dependência e o imperia- Ifismo em que se situam as práticas e a comunicação na América 1 Latina e no Brasil.
Assim, o poder, a cultura e o discurso dependente de ideologias Item sido as tônicas principais da produção científica do mestrado de
| Brasília.
145
CENTRO-OESTE (LESTE) COMO VOCAÇÃO GEOGRÁFICA DO CURSO
O programa de Brasília atende em 60% a alunos da própria ci- dade, em 10% a alunos de Goiânia, a outros 10% a alunos de Minas Gerais, ficando os demais 20% para as diversas regiões brasileiras. Não se confirma pelos números a vocação de atendimento às áreas específicas do Norte e Nordeste, o que seria até natural, pela po- sição geográfica de Brasília. Sendo assim, Brasília tem servido à sua própria região do centro-oeste, com ligeira extensão ao centro- -leste.
PEQUENO ÍNDICE DE ABANDONO DO CURSO
Dos 61 alunos que já cursaram o programa, 44 completaram suas teses e 17 desistiram, o que dá um percentual de mais ou menos 28% de desistência. Alguns destes solicitaram à universidade seus diplomas de especialização, por terem terminado os créditos. O ín- dice de abandono do curso na fase dos créditos é quase nulo. E des- tes 17 que não completaram a tese, 12 já responderam afirmativamen- te ao convite de volta que lhes foi enviado neste fim de ano. Eles terão uma nova oportunidade para completar suas teses, mediante uma seleção especial que se fará através de projetos de tese. Esta volta é aguardada com uma feliz ansiedade, muito porque eles se- rão capazes de desafiar objetos bem mais complexos em suas novas propostas de tese.
PROSPECÇÕES PARA O FINAL DA DÉCADA DE 80
Caso seja feita uma pré-visão das tendências da pesquisa em Brasília para este fim de década, ao mesmo tempo em que se rea- limentaria a vocação crítica da casa, pela volta de comunicadores já maduros ao programa, talvez possa se afirmar que esteja a sur- gir novas preferências, por exemplo, pela análise das novas tecno- logias ãe comunicação, através da vertente do jornalismo cientifico. Através dessa nova tônica (possível) far-se-ia uma espécie de recon- ciliação com a lógica do mercado, tendo um contato profissional e crítico com o mundo das novas tecnologias. Criticar as falácias das novas tecnologias, mas ao mesmo tempo adotar as transformações, inevitáveis, poderia ser uma tônica para os próximos estudos e pes- quisas de Brasília. Muito recentemente jornalistas que cobrem ciên- cia e tecnologia procuraram a coordenação do mestrado da UnB, para que se implemente um curso de especialização-toío sensu que os capacite à prática da divulgação científica, sem deixar de lado, no entanto, um distanciamento de mais uma novidade.
No mais, o programa de Brasília vive bons momentos, a partir de uma nova administração universitária que vem lhe prestigiando e até mesmo aproveitando-se de uma conjuntura desfavorável no ter-
144
reno próprio do mercado. A desilusão com a Nova República, a inadaptação dos jovens jornalistas diante das administrações das em- presas jornalísticas, tudo isso faz com que o curso de mestrado em comunicação da UnB seja mais prestigiado. Até a bolsa de estudos, no valor médio de Cz$ 25.000,00, paga pela Capes ou CNPq, parece que está melhor que algumas posições iniciais na profissão do co- municador social... Diante de semelhante contexto, o curso de Bra- sília parece que ganhará ainda mais fôlego entre os seus congêne- res no Brasil.
145
RESENHAS
Muitas Organizações, Pouca Organização
LEUENROTH, Edgard — A Organização dos Jornalistas Brasileiros 1908-1951. São Paulo, COM-ARTE, 1987, 200 PP-
O livro é um levantamento das associações, sindicatos, clubes, fe- derações e congressos que jorna- listas brasileiros fizeram ou ten- taram fazer no período considera- do, fase importante da formação sindical de numerosas outras ca- tegorias de trabalhadores.
Leuenroth obteve seus dados, em grande parte, em anotações pes- soais, e em recortes e como res- postas a cartas-consulta, que co- meçara a enviar, na década de 30, a jornais, jornalistas e associações de todo Brasil. O quadro que con- segue reunir é heterogêneo, com irregularidades e lacunas. Não obs- tante, Leuenroth logra superar es- sas debilidades e montar o pro- vavelmente único mapeamento existente sobre o assunto, classifi- cando entidades e eventos em ca- tegorias e subcategorias. Como to- do mapeamento inicial, é insufi- ciente, porém indispensável.
O livro é enriquecido com dois prefácios, dos professores Yara Aun Khoury, da PUC/SP, e Freitas Nobre, da USP, este também ex- -presidente do Sindicato de Jorna- listas de São Paulo e da Federa- ção Nacional de Jornalistas. Am- bos enaltecem a figura de Edgard Leuenroth, gráfico, publicitário,
jornalista, militante sindical e po- litico, lider e propagador do anar- quismo e do anarcossindicalismo — "et pour cause", perseguido pe- la repressão policial durante toda a sua vida.
Enfim, o mapa da mina aí está. A outros exploradores caberá per- corrê-lo para encontrar-lhes mais tesouros, mas a mera leitura já permite evidenciar algumas pistas gerais.
Uma delas. A organização dos jornalistas, desde a fundação da Associação Brasileira de Impren- sa, em 1908, defrontou-se com uma ambigüidade que ainda a percor- re. O que é, precisamente, um jor- nalista? A ABI, deliberadamente, reúne empregados e empregadores. Outras associações semelhantes, posteriormente, conservam a ambi- güidade. Somente a partir de 1934, com a criação dos primeiros sin- dicatos já sob as leis de Getúlio, começa a haver distinção um pou- co mais nítida entre a classe dos trabalhadores e a dos proprietá- rios.
A essa, acresça-se outra confu- são: a que existe entre o jornalis- ta profissional, que vive basica- mente do exercício assalariado da profissão, e o jornalista "amador", ou colaborador, que eventualmen- te escreve em jornais e revistas. O livro de Leuenroth aponta al- gumas tentativas de fixar a dis- tinção, por meio de conceitos ou de entidades diferentes. Mas a con- fusão permanece até hoje.
Também fica evidente o dúplice caráter que sempre tiveram as en- tidades associativas de jornalistas: forma de defesa setorial de uma categoria profissional, e, ao mes-
146
mo tempo, forma de a sociedade civil organizar-se. Os dois compo- nentes andaram quase sempre jun- tos. Dois exemplos: "Gustavo La- cerda. .. teve a feliz idéia de fun- dar uma associação que amparas- se os jornalistas e suas famílias, nos momentos difíceis" (do depoi- mento de Oscar Dardeau sobre a fundação da ABI). E o Congresso da Imprensa do Estado de São Paulo, em 1933, discute a liberda- de de imprensa e a revisão da Lei de Imprensa.
O corporativismo não era ape- nas o modelo oficial que o Esta- do de Vargas gostaria de ter im- posto a toda a sociedade. Concre- tamente, era também uma das poucas formas de resistência dos assalariados contra a exploração e a organização dos patrões. A obra de Leuenroth mostra alguns exem- plos: a preocupação das associa- ções com a construção das "Casas" ou "Retiros" de jornalistas, natu- ralmente com verbas e benefícios oficiais, o que vale alguns elogios às autoridades, inclusive a Vargas; o desconto em passagens e hotéis, o que, mais que uma vantagem para o jornalista, era uma econo- mia e um bom negócio para a em- presa, que assim apanhava a cas- tanha com a mão do gato; a insis- tência na criação e no desenvol- vimento dos departamentos "as- sistenciais" (médico, advogado etc), o que cumpria três objetivos: enquadrava-se no sindicalismo des- politizante do Estado Novo, deso- brigava os empresários desses de- veres e desafogava um pouco mais a miséria em que viviam os jornalistas.
Aqui e ali pequenas pérolas, porém preciosas. A Associação Piauiense de Imprensa fundou-se em sala ce- dida pelo Partido Nacional Socia- lista do Piauí (op. cit., p. 98); isso íoi em 1933, quando começava a ascensão do Partido Nazista na Alemanha. O Sindicato dos Jor-
nalistas Profissionais de Alagoas foi fundado em 1938, e na divulga- ção de sua criação se dizia que a iniciativa se integrava "na estru- tura orgânica do Estado Novo" (op. cit., p. 79). O jornal O Im- parcial, de Salvador, noticiando a reforma dos estatutos da Associa- ção Bahiana de Imprensa, em agosto de 1939, dizia que a entida- de visava "não só a defesa da clas- se em geral", como, também, "au- xílios e facilidades às empresas a cuja sorte estão os mesmos (os jornalistas) ligados" (op. cit., p. 81). E outras.
Enfim, de 1951 até agora pas- sou-se já quase meio século e mui- ta coisa mudou. A elevação do ní- vel de organização e consciência de outras categorias profissionais re- duziu o papel dos jornalistas em relação ao conjunto dos trabalha- dores. Certamente os jornalistas não são mais as "sentínelas de van- guarda do pensamento humano", como se perorava em 1933 (cf. Raul de Polillo, op. cit., p. 161), nem mais constituem uma "clas- se" que é a "vanguarda dos traba- lhadores", como se proclamava ain- da em 1942 (op. cit., p. 174).
Hoje em dia, certamente os jor- nalistas têm uma visão mais mo- desta e correta de sua importância relativa dentro da classe trabalha- dora. Mas continuam enfrentando muitas das dificuldades, ambigüi- dades e contradições de sempre. De 1908 a 1988 são oitenta anos de lutas, tentativas, fracassos, êxitos, de numerosas entidades. Os resul- tados, porém, ainda são parcos e mofinos. O que torna ainda atuais as palavras de Leuenroth, com que os editores epigrafaram seu livro: "Os jornalistas sempre viveram a pugnar pelos interesses de toda a gente, menos dos seus".
Perseu Abramo Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo
147
Negros na Imprensa: Um Retrato Branco
SCHWARCZ, Lilia Moritz — Retrato em Branco e Negro — Jornais, Escravos e Cida- dãos em São Paulo no Final do Século XIX. São Paulo, Companhia das Letras, 1987, 284 pp.
Bastante oportuna, principalmen- te para os profissionais de comu- nicação em 1988, a leitura de Re- trato em branco e negro, da his- toriadora/antropóloga paulista Li- lia M. Schwarcz. O conhecimento deste livro, inclusive, pode ajudar num sentido mais imediato à re- flexão sobre o desempenho que a imprensa teve diante do escravis- mo no Brasil. De um lado sabe- mos da campanha abolicionista, na qual jornais tiveram destaque, fazendo despontar tribunos-jorna- listas que, de um modo ou de ou- tro, cerraram fileiras contra a es- cravidão.
Mas nem sempre é suficiente co- nhecer a história apenas pela cons- ciência dos personagens envolvi- dos. Portanto, não é possível cre- ditar ao jornalismo do período abolicionista apenas um papel triunfante de contestador da or- dem. Este o primeiro recado, en- tre muitos, do referido livro.
Inicialmente a questão racial é revisitada através de seus princi- pais modelos teóricos, antigos e atuais, persistentes ou não. No tra- balho, originariamente tese de mes- trado da Unicamp, fala-se também do contexto político, econômico, além de rápido antecedente da imprensa paulistana.
Um grande achado é que a auto- ra, sendo cientista, escreve uma linguagem de gente. O estilo flui le- ve, seguro, sem prejuízo para o conteúdo e a precisão das análises. Uma cuidadosa investigação temá- tica, com quadros dos assuntos
pesquisados e catalogados, dá base aos comentários. Por eles ficamos sabendo que os negros aparecem mais quando se trata de violência, nos dois jornais pesquisados: A Província de São Paulo (período de 1874 a 1889) e Correio Paulista- no (1874 a 1890). Outras noticias que se destacam: libertação de ca- tivos, suicídios, negros degenera- dos etc. etc.
O livro trata desta matéria de maneira articulada, diferente da perspectiva de um Gilberto Freyre diante dos anúncios de escravos nos jornais do século passado. As complexidades não escapam. Num editorial da Província, de 1889 (de- pois da Lei Áurea.,.), foram pes- cadas estas pérolas: "A escravidão não foi obra da convicção, mas da força. Todavia por efeito de um natural espírito democrático que relaxou os preconceitos por in- fluência cumulativa do hábito não se constitui um regime de cas- tas".
Como se vê, a linha editorial con- trariava o próprio noticiário, on- de predominava a violência. O mes- mo jornal em 1881 noticiara, to- mando posição: "O sr. Manoel Ignácio de Camargo, conhecido e muito estimado fazendeiro deste município de Campinas, foi vítima de seus próprios escravos sendo barbaramente morto à traição". Onde fica a propalada passividade dos cativos em episódios como este?
Por fim, Lilia Schwarcz con- clui que predomina, nestes dois ór- gãos de imprensa, a imagem dos negros "amigos dos brancos", "pretos fiéis e servidores", "feli- zes enquanto tutelados", apesar de às vezes "violentos", "instintivos" e guardando "resquícios degenera- dos".
Retrato em branco e negro é, na verdade, um retrato colorido das representações construídas pelos grupos dominantes sobre a questão racial. Ê um retrato policrômico feito com técnicas modernas, per-
148
mitindo que focos de luz cheguem a recantos escondidos pelo precon- to velado. Ou melhor dizendo: a imprensa fazia um retrato branco dos negros...
0 livro, apesar de tratar de um período que parece distante, supe- rado, deixa várias lições — e só por isso já é instigante. Para os historiadores, comprova que a "his- tória das mentalidades" não é in- compatível com o trabalho braçal da pesquisa e análise de documen- tos. Para o antropólogo, reforça a interdisciplinariedade do objeto étnico-cultural. E para os profis- sionais de comunicação, como para o leitor em geral, fica a certeza de que o tema não é tão longínquo as- sim. Ao fim da leitura um desafio: nada como conhecer melhor o de- sempenho do jornalismo brasilei- ro (não só no século passado) diante da relação social dominan- te e do racismo.
Marco Morei Universidade Federal
do Rio de Janeiro
Malhando em Produto Quente
MARQUES DE MELO, José (org.) — Gêneros Jornalís- ticos na Folha de S. Paulo. São Paulo, Instituto de Pes- quisas de Comunicação Jor- nalística e Editorial — IPC- JE, 1987, 110 pp.
Gêneros jornalísticos na Folha de S. Paulo é o resultado de um cur- so de pós-graduação sobre os gêne- ros opinativos na imprensa diária. Professor (José Marques de Me- lo) e alunos de mestrado e douto- rado da ECA-USP propuseram-se a realizar uma "análise comparati- ra dos postulados teóricos sobre gêneros jornalísticos, [... ] com a dinâmica dos gêneros e sua confi-
guração num produto jornalístico vivo".
A importância desta proposta — e, portanto, da publicação que de- la resultou — é o fato novo de pesquisadores de alto nível debru- çarem-se sobre o jornal diário pa- ra uma análise do produto ainda "quente". A maioria dos estudos realizados na área da comunicação de massa peca por demasiada teo- ria, sem uma visão paralela da ati- vidade prática, ou por um interes- se predominante pelos meios ele- trônicos. Dos meios impressos qua- se só existem abordagens históri- cas.
A causa disso me parece clara. A teoria vem de fora; é importada. O produto é nacional. Mais que isso, local. E dá muito trabalho produzir conhecimento novo. Dis- cutir interminavelmente sobre gê- neros e sobre a possibilidade de delimitá-los, caracterizá-los, é uma coisa. Teorizar em cima de um jor- nal que existe, que circula diaria- mente, que muda diariamente, mui- to mais difícil.
A publicação faz parte da série Pesquisa que a Escola de Comuni- cações e Artes — ECA — vem edi- tando através de seu Departamen- to de Jornalismo e Editoração, com papel-j ornai e a produção gráfica mais simples possível. Os gêneros abordados — cada um por um pes- quisador — são: artigo, carta, ca- ricatura, comentário, crônica, edi- torial, entrevista e fotografia.
A inclusão da carta do leitor co- mo gênero jornalístico, em um mo- mento em que se prega maior abertura dos meios de comunica- ção e maior respeito ao direito de opinião, é um bom achado da equi- pe. É exatamente esta relação en- tre a publicação das cartas e a aceitação da participação do leitor pelo jornal que Manuel Carlos Cha- parro coloca em questão. Para concluir que, "na prática, uma teo- ria diferente".
Outra postura básica que me pa- receu positiva é a não divisão en-
149
tre gênero opinativo e gênero in- formativo, embora os gêneros es- colhidos para análise — com ex- ceção da entrevista e da fotogra- fia — sejam tradicionalmente clas- sificados na área de opinião.
O ponto de partida de todo o es- tudo é a imagem que a Folha pro- jeta de si mesma. Os pesquisado- res tiveram, inclusive, um coló- quio com os diregentes editoriais do jornal, à frente o senhor Otá- vio Frias Filho. Esta e outras in- formações metodológicas, impor- tantes para quem quer avaliar o trabalho ou utilizá-lo como mode- lo de pesquisa, são fornecidas na introdução pelo organizador Mar- ques de Melo.
A iniciativa da publicação dos es- tudos é, pois, louvável, e o produ- to de grande utilidade para pro- fessores e pesquisadores. Mas tem que merecer alguns reparos. Por exemplo: nem sempre o que é pro- metido nos intertítulos é dado em seguida. Ao analisar o gênero ar- tigo, Pedro Gilberto Gomes pro- mete tratar da estrutura do texto; e fala apenas da orientação filosó- fica dos artigos da Folha ou da eficácia ou não da argumentação contida nas matérias. Em com- pensação, os dados quantitativos são abundantes, neste como em to- dos os trabalhos da equipe, inspi- rada pelo mestre Jacques Kayser.
O texto mais sólido é o de Cre- milda Medina, sobre entrevista. E é também o mais crítico em rela- ção ao jornal abordado e ao tra- balho jornalístico brasileiro em ge- ral. Cremilda há muito vem se de- dicando à pesquisa das possibili- dades da entrevista. Neste estudo ela vai ao detalhe da construção do texto, sempre comparando o que se faz na Folha com o que se- ria a entrevista como restaurado- ra do diálogo. Só posso, portanto, atribuir à "santa ira" com a reali- dade da produção jornalística, po- bre atualmente no Brasil, também no meu entender, o deslize de Cre- milda, encerrando o texto de maior
rigor científico do livro com a fra- se: "Ou muito mais para entrevis- tar um desses Malufs que andam por aí". Não me pareceu nada aca- dêmico.
Recomendando vivamente o li- vro aos interessados em jornalis- mo impresso, cobro da equipe que o produziu uma continuação. De- pois desse esforço feito a partir do discurso dos próprios produtores do jornal, é preciso agora aprofun- dar a análise, abordando os discur- sos produzidos, desta vez indepen- dentemente.
Ana Arruda Callado Universidade Federal
do Rio de Janeiro
A Itália Não Vive Só de Espaguete
DISTANTE, Carmelo e MAR- QUES DE MELO, José (or- gs.) Imprensa Italiana: Pers- pectivas Brasileiras. São Paulo, Instituto de Pesqui- sas de Comunicação Jorna- lística e Editorial — IPCJE, 1987, 53 pp.
Os imigrantes italianos ajudaram a moldar o que hoje se chama cul- tura brasileira. Conseguiram che- gar até mesmo em lugares sacros- santos da tradição. No Rio Gran- de do Sul, por exemplo, não é ra- ro um gaúcho de bombacha parar diante de uma churrascaria e sole- trar, com uma ponta de espanto, "churrascos à moda italiana". A expressão indica que ao lado da picanha serve-se sopa de capeletti, espaguete, nhoques e outras igua- rias da cozinha italiana. Passean- do-se em São Paulo, pode-se tam- bém descobrir bairros parecidos aos da velha Itália, onde surgem gordas matronas nas sacadas amea- çando cantar o Sole Mio a paio seco.
150
Se a italianidade é visível no País, faltam iniciativas oficiais que a considerem fora de estereótipos e preconceitos. No campo das comu- nicações, surgiram há poucos anos análises editadas no Brasil e na Itália sobre a imprensa nacional e o papel que nela tiveram os imi- grantes. Com poucas exceções, es- ses trabalhos, feitos mais para co- memorar o início da imigração, apresentavam listagens de jornais e de revistas italianos editados no Brasil, com seus diretores e perío- dos de circulação. Daí a importân- cia de iniciativas como a publica- ção de Imprensa italiana: perspec- tivas brasileiras. Como informa a introdução, trata-se de um ciclo de estudos promovido pela Universi- dade de São Paulo (Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Huma- nas e o Centro de Estudos Italia- nos) para estudar as perspectivas brasileiras sobre imprensa italia- na.
A publicação posterior do ciclo de palestras foi feita sob a coorde- nação de José Marques de Melo e Carmelo Distante, reunindo as ex- posições de Riccardo Caruccí, Cre- milda Medina, Dulcília Buitoni e Alice Mitika Koshiyama. O con- junto não deixa de trazer surpre- sas ao leitor, por fugir das exaus- tivas listagens de estudos passados.
O artigo de Riccardo Caruccí, por exemplo, trata da imprensa diá- ria da Itália, apresentando um ponto de vista atual sobre os jor- nais, agências de notícias e sobre o contexto histórico e socioeconô- mico desse setor das indústrias culturais. Mas, para mostrar o presente, o autor volta ao passado. Então se pode constatar que a evo- lução da imprensa naquele país ex- plica em muito as iniciativas dos imigrantes italianos no setor da comunicação no Brasil, fundando jornais e defendendo suas idéias, a fundação tardia do Estado ita- liano fazendo com que sua impren- sa refletisse os debates ideológicos
de sua formação, com reflexos além-mar. Esse contexto histórico mostra ser imprescindível um co- nhecimento da imprensa naquele país para analisar suas influências no Brasil no fim do século passado e no início deste.
Essa influência, e esse entrela- çamento de interesses e de ideolo- gias, vão mais longe. Englobam inclusive certos projetos editoriais recentes na imprensa brasileira, co- mo revela o artigo de Alice Ko- shiyama, "Os italianos no Brasil através do jornalismo". A autora, além de examinar como os jornais retratavam os imigrantes, numa perspectiva de classes, traz seu es- tudo até os dias de hoje, quando mostra o parentesco de muitas ini- ciativas editoriais recentes, além de uma ligação de grupos econômi- cos brasileiros com grupos italia- nos no campo editorial.
Diferente dessa linha de raciocí- nio, o que faz do todo uma análi- se interdisciplinar, é o estudo de Dulcília Buitoni sobre as "Revistas femininas: modelos italianos im- portados". Talvez esteja aqui um dos exemplos mais claros da in- fluência italiana no campo das pu- blicações brasileiras. Não deixa de ser interessante a observação de Buitoni no sentido de que freqüen- temente esses modelos nos chega- vam de segunda mão, após servir de padrão para as revistas femini- nas francesas.
Cremilda Medina analisa "A técnica da entrevista em Oriana Falacci. Um outro mundo, uma outra perspectiva. Lera com gos- to esse estudo quem estiver inte- ressado nessa autora (Um ho- mem, publicado no Brasil pela Re- cord) ou em técnica de redação jornalística, principalmente sobre um certo modelo europeu de texto jornalístico. Apesar de jornais res- peitáveis na Inglaterra, na França, na Alemanha, e mesmo na própria Itália, terem se curvado ao char-
151
me da linha de montagem norte- -americana, muitos jornalistas e muitas publicações levantam bar- ricadas contra a informação pas- teurizada, pretensamente feita por não-humanos.
Imprensa italiana: perspectivas brasileiras surge na esteira de um interesse maior pela Itália, às ve- zes natural, às vezes provocado. Em anos anteriores vimos na lite- ratura o interesse por Buzati, por Calvino, por Verga, por Pavese. E prosseguiram, no cinema, os de- bates brasileiros sobre os Pasoli- ni, os Scola, os Fellini, os Tavia- ni. Chega agora a vez da imprensa. Parece até que esse interesse com- pactua com as correções das técni- cas de cálculo do PIB italiano, fei- tas recentemente, durante a admi- nistração socialista, dando à Itália o quinto lugar entre as nações mais desenvolvidas, ultrapassando a Inglaterra. Mas trata-se, isso sim, de uma atitude natural, ainda que tardia, de dar a esse país o peso que ele tem realmente nas ciências e na cultura em geral, dentro de um país que recebeu centenas de milhares de cidadãos.
Sérgio Caparelli Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
Informação e Opinião: Direitos Coletivos
MARQUES DE MELO, José (org.) — Direito à Informa- ção, Direito de Opinião. São Paulo, Instituto de Pesqui- sas de Comunicação Jorna- lística e Editorial — IPCJE, 1987, 41 pp.
"Direito à Informação, Direito de Opinião" foi tema de um Se- minário Acadêmico promovido pe-
la Universidade de São Paulo, no dia 25 de agosto de 1987. A inicia- tiva do evento partiu do reitor José Goldemberg, que convidou o Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comuni- cações e Artes para assumir sua organização.
Cerca de oitenta convidados, en- tre eles representantes da socieda- de civil e sociedade política, perso- nalidades vinculadas às atividades jornalísticas, tanto do segmento empresarial, quanto dos setores profissionais e sindicais, compare- ceram a sala do Conselho Universi- tário, local das sessões de debates programadas.
O Caderno Direito à informação, direito de opinião, lançado no iní- cio deste ano pelo IPCJE, reúne o documentário principal oriundo do seminário. Além do texto do Do- cumento Final, redigido pela equi- pe organizadora, e do artigo do rei- tor Goldemberg, avaliando critica- mente as teses emergentes, estão reproduzidos na íntegra os três tex- tos que serviram de base para sus- citar o debate entre os participan- tes do seminário. Esse textos me- recem atenção especial. As posi- ções teóricas ali expressas são bas- tante sérias, fazem o leitor refletir sobre os problemas relacionados com o binômio "direito à informa- ção, direito de opinião".
"As instituições políticas e jurí- dicas como reguladoras do direi- to à informação e do direito de opinião" — texto de autoria dos professores Freitas Nobre e Jean- ne Marie M. de Freitas, ambos da pós-graduação em Jornalismo da ECA-USP — critica severamente a legislação vigente para os meios de comunicação (Lei 5.250 de 9 de fevereiro de 1967). Ela falha, no mínimo, segundo eles, em dois as- pectos: não assegura o direito que a população tem à informação e não protege a liberdade de impren- sa contra o arbítrio do poder, "quer se trate de poder econômico
152
(permitindo a concentração dos meios de comunicação em poucas mãos, portanto a formação do mo- nopólio), quer se trate de poder político (pois, sem a livre circula- ção de informação, como se for- mam as demandas que vêm de bai- xo, impulsionando a vontade?)".
A Constituinte é uma excelente oportunidade para reformular a legislação dos meios de comunica- ção. Os autores entendem que ca- be à Constituição "fixar os funda- mentos concernentes às liberda- des, devendo a lei especial para os meios de comunicação assegurar a liberdade de divulgar e receber in- formações, como um direito cole- tivo e não apenas pessoal ou pro- fissional".
0 diagnóstico do "Controle do direito à informação e do direito de opinião exercido dentro do pro- cesso de produção jornalística (ação dos proprietários e dos pro- fissionais)" é de autoria dos pro- fessores Gaudêncio Torquato e Cremilda Medina. Para eles tal diagnóstico passa, necessariamen- te, pela análise do "estágio indus- trial da produção", pelo "estágio
1 histórico-cultural da sociedade" e i pelo "estágio técnico do produ-
tor". i Desta forma discutem o tema proposto e fazem, entre outras, as seguintes recomendações: "a) De- fender o direito à informação e di- reito de opinião como direitos ina- lienáveis da sociedade democráti- ca e pluralista, preservando os pa- péis desempenhados pelas institui- ções e empresas proprietárias, bem como a ação dos profissionais da
leomunicação; b) Reforçar o con- Iceito de notícia como bem social, I evitando fazer prevalecer interes- jses meramente mercantis; c) Lem- Itoar os proprietários de empresas Ide comunicação para a adoção de Ipráticas que propiciem uma convi-
vência democrática com os profis- Iitonaís e suas entidades represen- tativas".
Os professores José Marques de Melo e Carlos Eduardo Lins da Silva deram as suas contribuições, relacionando "Os mecanismos de intervenção e participação da so- ciedade civil para assegurar a ob- servância do direito à informação do direito de opinião", no terceiro texto incluído no Caderno.
Seu objetivo é avaliar uma série de experiências práticas, tanto no Brasil como no exterior, de inter- venção crítica da sociedade junto ao sistema de comunicação de mas- sa. Além disso, os autores fazem, também, entre outras, as seguin- tes conclusões específicas: "a) Criar condições para que as comunidades e instituições organizadas na base da sociedade possam exercer plena- mente o seu direito de informar e de opinar, possuindo veículos pró- prios. Para tanto, é indispensável que os subsídios públicos destina- dos à comunicação social lhe se- jam tão acessíveis quanto aqueles propiciados à grande indústria da informação; b) Criar instrumentos destinados a incorporar os leito- res/receptores no processo de ava- liação e crítica dos produtos jorna- lísticos em circulação no mercado. As experiências internacionais co- mo o ombudsman e os conselhos de leitores podem servir como pon- to de partida para a implantação de ações semelhantes, sintonizadas com as peculiaridades nacionais; c) Melhorar a qualificação dos jor- nalistas formados pelas universi- dades, garantindo-lhes o domínio da competência profissional e forma- ção ética indispensável ao exercício do jornalismo, ressaltando-se o res- peito à privacidade do cidadão".
Os estudantes, professores e pro- fissionais da comunicação no Bra- sil vão encontrar no Caderno do IPCJE importantes subsídios para a reflexão sobre "direito à informa- ção, direito de opinião", matéria de permanente estudo e pesquisa.
Dario Luis Borelli Universidade de São Paulo
153
Imprensa Operária: Fonte de Aprendizagem
BLASS, Leila Maria da Silva — Imprimindo a Própria História: o Movimento dos Trabalhadores Gráficos de São Paulo no Final dos Anos 20. São Paulo, Loyola, 1986, 127 pp.
A década de 20 tem-se apresenta- do como uma nebulosa para a aná- lise do movimento operário e sindi- cal no Brasil. Primeiro pelo des- mantelamento que o movimento so- freu em função da repressão políti- ca e policial, após as greves de 1917 e 19; segundo, pela persistên- cia que demonstrou ao ressurgir nos últimos anos da década.
Leila Blass, em sua tese de mes- trado, ora publicada, pinça uma ca- tegoria — os trabalhadores gráfi- cos — no contexto dos anos 20 e 30. A sua capacidade de liderança advinda da qualificação exigida pe- lo próprio ofício, melhor nível de remuneração, organização nos lo- cais de trabalho e concentração efe- tivamente urbana de moradia. A combatividade que lhes era pecu- liar percorre as páginas da impren- sa operária da época.
Embora lance mão da consulta complementar a jornais de gran- de circulação, publicados em São Paulo e Rio de Janeiro, e proceda a entrevistas com elementos da ca- tegoria e militantes políticos, são os jornais operários a principal fon- te de dados da pesquisa. Eles sub- sidiam com matéria, ao mesmo tempo, factual e de posicionamento político-ideológíco, o rastreamento das pressões operárias, empreendi- das para fazer valer as conquistas legais, objetivo da Autora.
A obra mostra que as leis sociais, fruto de retomadas reivindicações por parte dos trabalhadores, ao se- rem instituídas pelo Estado, desen-
cadeiam outras manifestações. Es- tas são acompanhadas em dois mo- mentos: ao final dos anos 20, quan- do o movimento assume a tarefa de fiscalizar os patrões quanto ao cumprimento das leis trabalhistas outorgadas, exigindo, também, o re- conhecimento político de seus sin- dicatos; e, no limiar dos anos 30, ao crescer a intervenção estatal, retirando o poder de pressão das mãos do operariado urbano.
As táticas organizativas, produzi- das sob a influência dos anarcos- -sindicalistas e dos comunistas, são recuperadas através dos jornais operários, que prepararam, fomen- taram e avaliaram a greve dos grá- ficos paulistas de 1929, ocorrida em plena vigência da "lei celerada" e atendendo a uma pauta de reivindi- cações relacionada com a aplicação das leis trabalhistas, entre elas a lei de férias.
Destaca-se este eixo de análise, não apenas por se tratar de uma obra de História Social, mas sobre- tudo pelo uso que faz dos periódi- cos da classe operária, testando o seu potencial revelador da realida- de. O título Imprimindo a própria história sugere uma expectativa su- perior à satisfação de sua leitura. O texto é entrecortado pela neces- sidade de contextualização dos rear- ranjos das forças sociais da épo- ca e a entrevisão da riqueza infor- mativa e, essencialmente ideológi- ca, peculiar à imprensa proletária, e que não foi de todo explorada. Porque escritas sem a intenção de guardar a memória, impressas no calor das marchas e contramarchas do movimento operário e sindical, as publicações das categorias pro- fissionais explicitam a sua visão do mundo, o confronto entre as clas- ses sociais, na perspectiva da subal- ternidade imposta na sociedade ca- pitalista.
No persistente jogo capital ver- sus trabalho, mediado muitas ve- zes pelo Estado, em sua composi- ção de frações da classe dominan- te, ainda há muito que aprender. As
154
contradições destas relações só tem condições de serem captadas e acir- radas, se conhecidas em diferentes momentos de sua história. Obras como a de Leila Blass fazem exata- mente isso: tornam acessível este conhecimento.
Existem obstáculos, entretanto, tanto a nível de produção deste co- nhecimento, quanto de sua pratici- dade e utilização pela classe traba- lhadora. Há a distância da acade- mia, e quebrá-la significa chegar ao sindicato, à associação popular, em linguagem clara e sem perda da cientificidade. Há, por outro lado, que superar a percepção da unici- dade da luta atual dos trabalhado- res, relativizando-a no aprendizado de outras passagens históricas, que esta contém.
As questões sociais são continua- mente recolocadas e a imprensa operária de ontem e a sindical de hoje registram este processo. Aí es- tá a sua força e a sua fraqueza: como fonte histórica, ela é um ma- nancial que clama por preservação: a sua exploração analítica é incon- testável, mas precisa ser posta nas mãos do trabalhador.
Silvia Maria Pereira de Araújo Universidade Federal do Paraná
Novas Tecnologias: A Luta Apenas Começou
FADUL, Anamaria (org.) — Novas Tecnologias de Comu- nicação: Impactos Políticos, Culturais e Sócio-Econômi- cos. São Paulo, Summus Edi- torial/INTERCOM, 1986, 182 pp.
1 Microcomputadores, software, har- jdware, bancos de dados, satélites ide comunicação, antenas parabóli-
cas, TV a cabo, terminais de vídeo, llac-símile, holografia, videotexto, Irideocassetes, gravações digitais,
leitura a raio laser, enfim todo um vocabulário novo, ainda não cons- tante dos dicionários, mas de uso cada vez mais generalizado nos es- critórios, nas notícias da imprensa, nos debates do Congresso, nas uni- versidades e nos próprios lares. Trata-se das Novas Tecnologias de Comunicação (NTC) que, a partir do início da atual década, estão al- terando radicalmente relações de trabalho, hábitos e costumes, não só nas sociedades altamente indus- trializadas mas também em países desigualmente desenvolvidos, como o Brasil.
Para estudar as conseqüências da rápida adoção das NTC em nosso país e, principalmente, para discu- tir os melhores caminhos a serem adotados para assegurar a sua me- lhor utilização em benefício da so- ciedade como um todo, a INTER- COM em co-edição com a Summus Editorial publicou este livro que, além de resumir o que foi o V Ci- clo de Estudos Interdisciplinares da Comunicação realizado em 1983, traz à discussão as NTC, suas im- plicações políticas e impactos so- ciais, econômicos e culturais. Dos debates, realizados em Bertioga, no litoral santista, participaram os mais expressivos nomes da pesqui- sa em comunicação da América do Sul,do Norte e Europa, além de re- presentantes de instituições públi- cas e empresas privadas do País e professores e pesquisadores das mais diferentes universidades bra- sileiras.
Os resultados obtidos foram ex- tremamente positivos, pois a per- plexidade e uma certa resistência generalizada à introdução das NTC — que marcaram os debates ini- ciais — foram substituídas por uma visão realista do problema com a conscientização de que a aquisição de tecnologias de ponta envolve não apenas a criação de um know-how nacional, mas a pró- pria soberania da nação. O conhe- cimento das experiências vividas por outros países, por outro lado,
155
fornece elementos para que sejam evitados erros e adotadas alternati- vas que permitam conciliar as NTC com as aspirações de desenvolvi- mento sócio-econômico de nações que, como o Brasil, apresentam profundas contradições nas suas so- ciedades.
Da realização do V Ciclo de Es- tudos até hoje muita coisa aconte- ceu: no campo das NTC acelerou-se o processo de sua implantação. Tan- to na informática como nas teleco- municações houve um inegável avanço no emprego das novas tec- nologias: graças à política de reser- va de mercado multiplicaram-se as empresas do setor de informática; a Telebrás desenvolveu nos laborató- rios de seu Centro de Pesquisas e Desenvolvimento/CPqD, em Campi- nas, tecnologias próprias para a fa- bricação de fibras óticas, chips e Centrais Telefônicas Computadori- zadas. Paralelamente, embora com quase total dependência do know- -how estrangeiro, o País entrou na era dos satélites domésticos, com os lançamentos sucessivos do Bra- silsat I e do Brasilsat II. Também a informatização dos bancos ga- nhou novo Ímpeto, com os termi- nais de computadores sendo ope- rados agora diretamente pelo pú- blico para obter seus extratos ou saldos bancários. Na imprensa os terminais de video já não são pri- vilégio das redações das Folhas e do Globo. Hoje, Santa Catarina se permite possuir o jornal mais mo- derno da País em termos de infor- matização: o Diário Catarinense, da Rede Brasil Sul, nada fica a de- ver aos seus congêneres europeus e norte-americanos.
Neste mesmo período agrava- ram-se as contradições das políti- cas de informática e de comunica ções adotadas pelo Governo: a SEI e o MNICOM freqüentemente as- sumem posições antagônicas; os funcionários da EMBRATEL chega- ram a recorrer à greve para impe- dir que o monopólio da empresa fosse violentado pelo contrato que
chegou a ser assinado com a Victo ry, de Roberto Marinho e Amador Aguiar. Surpreendendo a todos o Governo instituiu, em fevereiro úl- timo, o Serviço Especial de Televi- são por Assinatura (TVA), ou se- ja, a TV a cabo, abrindo novas perspectivas para a exploração da comunicação por grupos privados.
Em termos internacionais, o au- mento das pressões norte-america- nas contra a política de reserva do mercado da informática — que pas- saram das críticas veladas à repre- sálias concretas —, a volta do Bra- sil ao FMI, com ênfase ao comba- te do "déficit público" e à "deses tatização da economia", mostram que a luta pela aquisição das tecno- logias de ponta apenas começou.
Por tudo isso e para compreender os impactos políticos, culturais e sócio-econômicos das NTC no Bra- sil, o livro organizado por Ana Ma- ria Fadul, então Presidente da IN- TERCOM, é obra essencial para to- dos quantos lidam com a comuni- cação: profissionais, professores, alunos e o público em geral não podem prescindir da leitura da edi ção que inclui os principais temas debatidos em Bertioga e os comple- menta com artigos assinados por especialistas de renome internacio- nal.
Antônio Theodoro de Magalhães Barroí
Universidade Federal Fluminense
Técnicas para Programação e Seleção de Veículos
TAHARA, Mizuho — Conta Imediato com Mídia. São Paulo, Global Editora, 1986, 120 pp.
Partindo de um modelo de rotei ro de planejamento do Grupo dt Mídia, Mizuho Tahara comenta, de maneira objetiva e didática, os con- ceitos e as técnicas fundamentais
156
de mídia desenvolvidas ao longo de sua vida profissional. O resultado é um Contato imediato com mídia, a primeira obra do gênero em lín- gua portuguesa, editada pela Glo- bal Editora.
Para iniciar o leitor no assunto, 0 primeiro capítulo, "Iniciação à mídia", é dedicado à análise do conceito de mídia e à sua localiza- ção no contexto da empresa, do marketing, da propaganda e da so- ciedade. Em poucas palavras, o au- tor conclui que "mídia é um dos componentes de propaganda que por sua vez pertence a um sistema maior — marketing — cujo siste- ma ainda maior é a empresa, que por sua vez é um subsistema do complexo formado pela sociedade" (p. 15).
No Brasil, o jornal de maior ti- ragem circula com pouco mais de 400 000 exemplares. O Asahi Shim- bun, do Japão, tira em torno de 12 milhões de exemplares. A colocação ideal de um anúncio em revista é junto à seção cujos artigos tenham ligação com o produto anunciado.
IO Brasil contava, em 1980, com 2 897 salas de cinema e cerca de 100 milhões de cinespectadores/ano.
1 Estes são alguns dados dos inúme- jros apresentados por Tahara no ca-
pítulo "Os meios de comunicação social como veículos publicitários",
me examina todas as mídias em lermos de suas características ge-
■rais, sistemas de programação, téc- nicas de comercialização, cobertu- ra, audiência e custos.
1 No capítulo seguinte, "As técni- Itas para programação de mídia",
5 Autor aborda desde as mais sim- jptes técnicas de seleção e progra- mação de veículos (como o CPM — "isto por mil), até as mais sofis- cadas (como o TARP — Target tadience Rating Point), com muita aemplificaçro e tabelas bastante sclarecedoras. Responde, dessa maneira, a perguntas do tipo: com jma daria programação, qual é a srcentagem líquida do universo ae terei atingido? Qual será o ní-
vel de superposição? Qual o nível de intensidade com que estou atin- gindo os domicílios e as pessoas?
A pesquisa de mídia é intensa- mente praticada no Brasil em ba- ses comerciais. Municia as agências de propaganda e os anunciantes de dados referentes à penetração dos veículos publicitários nos principais mercados brasileiros. O capítulo "Recursos técnicos e instrumental de mídia" oferece uma relação dos principais institutos de pesqui- sa que realizam tais estudos no Bra- sil. São especificadas as técnicas de seleção de amostra empregadas e o tipo de informação fornecida pelos relatórios regulares ou a pedido, através da solicitação dos interes- sados. Sem deixar de lado os servi- ços especiais de avaliação e concor- rência, de fiscalização de veiculação e de auditoria.
No último capítulo, "Planejamen- to de mídia", Tahara demonstra a importância que as informações de marketing têm para o planejamen- to de mídia, e explica, um a um, os itens que compõem o briefing de mídia. O autor mostra com pro- priedade a influência dos dados de marketing na definição da estraté- gia de mídia. Um dos exemplos desta influência diz respeito aos vi- deogames. "Caso as informações destacassem apenas o produto co- mo sendo destinado às Classes A e B, com posse de televisor, a mí- dia recomendada poderia ser; tele- visão, revistas e jornais. É óbvio (...) que a sua qualidade funda- mental está na sua forma de uso, no movimento das bolas na tela. Sabendo-se que a forma de uso e a demonstração do movimento são de fundamental importância, a mídia básica deveria ser televisão e cine- ma" (pp. 90-91). E assim prossegue o autor, desejando no final que ca- da um tire o máximo proveito do roteiro de planejamento de mídia e introduza melhorias para aper- feiçoá-lo.
Pelo seu pioneirismo. Contato imediato com mídia é uma obra
157
técnica de leitura indispensável pa- ra estudantes, pesquisadores, pro- fessores e profissionais de propa- ganda. Também todos os demais interessados no conhecimento dos elementos e processos pelos quais um determinado produto alcança com eficácia seu público-alvo têm agora a seu dispor um texto obje- tivo e didático em sua estrutura. Os muitos exemplos, os quadros e tabelas ilustrativas utilizadas por Mizuho Tahara tornam a leitura agradável e a compreensão extre- mamente facilitada. Mesmo para aqueles que têm resistência a um "contato imediato com mídia", por entendê-la como um sinônimo de extensas fórmulas e complicados cálculos matemáticos.
J. B. Pinho Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Essência e Pragmatismo da Propaganda
CORRÊA, Roberto — Contato Imediato com Planejamento de Propaganda. 2.a ed., São Paulo, Global Editora, 1987, 173 pp.
Embora não se trate de uma obra concebida sob os rigores do méto- do cientifico, também não se pode dizer que seja apenas mais um des- ses "livrinhos" que há por aí sobre o assunto. Isto porque representa o esforço de um profissional sério, que vem somando à experiência de seu trabalho um certo gosto pela prática do ensino nesse ramo. Por essa razão, o resultado não pode- ria ter sido outro. A partir da con- jugação entre as duas atividades, eis que surge este substantivo tra- balho, publicado inicialmente em 1986, pela Global Editora, que nos oferece agora a sua segunda edição.
Circunscrito a conceitos que re- metem a um aspecto "utilitarista" da propaganda, nem por isso per- de a função a que se propõe, deter- minando aquilo que seria um "sen- tido" para o planejamento dessa atividade, cujos objetivos são, mui- tas vezes, duvidosos. Desse modo, recorre a algumas definições ope- racionais, relacionando a propagan- da àquilo que é conhecido, no jar- gão da atividade, com "mix de mar- keting". A partir daí, sempre atre- lado a esse jargão, discorre sobre temas que vão do "ambiente" à "estrutura" das empresas, a partir de cujo envolvimento ocorre o pro- cesso de criação, produção e, diga- mos, "disseminação" da propagan- da.
Tudo, naturalmente, muito bem alinhado (pelo menos em questão de semântica) aos usos e conteú- dos das partes envolvidas em se- melhante processo. Assim, fica-se conhecendo em detalhes a estrutura e as funções de uma agência de propaganda. Ou, por outra via, o que vem a ser, em essência, o tal briefing, do qual tanto se fala... Todavia, o ponto alto do trabalho refere-se mesmo à questão do pla- nejamento.
Partindo do que o autor denomi- na de "Modelo A", o livro discorre sobre as etapas a serem seguidas durante a execução desse planeja- mento. O qual, segundo ele, deve orientar-se pelas seguintes caracte- rísticas: (a) equilíbrio entre o con- teúdo de sua proposta e a realida- de de mercado; (b) evidência de um padrão de referência para as ações que propõe; (c) flexibilidade suficiente para permitir uma rápi- da adequação a possíveis alterações de mercado; (d) consistência das ações propostas e possibilidade de utilização continuada; (e) eficiên- cia, enquanto instrumento de traba- lho permanente dos executivos da área.
A seguir, mediante o detalhamen- to das áreas que compõem o refe- rido "Modelo A", o Autor estabele-
158
ce os limites e as funções do uni- verso afetado pelo processo da pro- paganda. Discorre, inclusive, sobre o controvertido problema das ver- bas que se destinam às campanhas publicitárias, aos orçamentos e aos custos reais de criação, produção e veiculação das peças que lhes dão origem. Sem deixar de lado, natu- ralmente, outra questão polêmica: a avaliação dessas campanhas.
Nesse sentido, é bom lembrar que esse tem sido um dos pontos nevrálgicos do processo, seja pa- ra quem trabalho com propaganda, seja para quem estuda o assunto do ponto de vista da sua utilidade social. Aliás, esse parece ter sido o ponto fraco da obra. Sem deméri- to quanto ao propósito original, co- mo se falou no início, ainda assim deve-se ressaltar que o livro teria logrado um conteúdo mais aprofun- dado, se tivesse o Autor sabido melhor explorar a questão da uti- lidade social da propaganda. Mas, deve-se reconhecer, esta é uma opi- nião que tem outra procedência: a das investigações acadêmicas. A qual, por via das dúvidas, apesar de não ser a mesma da origem des- te livro, também com ele não con- flita. Apenas enfatiza o seu aspec- to utilitarista, enquanto modo de abordagem do assunto.
Pode-se mesmo dizer que o Au- tor, partindo da essência dessa prá tica tipicamente ocidental de se fazer a propaganda, própria dessa parte do mundo, desenvolve um tra- balho marcado pelo pragmatismo que tem orientado, há décadas, es- sa prática entre nós. Mesmo assim, um bom trabalho, assinado pela se- riedade de quem, tendo optado por um modelo, segue-o até o fim, de modo coerente e pessoal.
Tupã Gomes Corrêa Universidade de São Paulo
Publicidade e Cultura
Instituto para a América Lati- na (org.) — Cristianismo y
Comunicación en América Latina. Lima, IPAL, 1987, 382 pp.
Um grupo de pesquisadores lati- no-americanos, reunidos em dois seminários: "Igreja e Nova Ordem da Informação e Comunicação", realizado no Embu, SP, Brasil, em outubro de 1982, e "Igreja, Comu- nicação e Publicidade", efetuado em Lima, Peru, em agosto de 1983, produziram matérias de cunho cien- tífico, que oferecem um panorama do pensamento latino-americano concernente ao fenômeno da comu- nicação, no momento atual, e aos desafios que ela apresenta ao ho- mem de hoje.
O livro Publícidad: Ia otra cultu- ra — Cristianismo y comunicación en América Latina tem por objeti- vo analisar em profundidade o fe- nômeno da publicidade. Luciano M. Metzinger, no prefácio, salien- ta que o conteúdo da obra em epí- grafe "pretende estudar os efeitos da publicidade nos diversos aspec- tos da realidade social: a econo- mia, a vivência democrática, a edu- cação, a cultura de nossos povos terceiromundistas" (p. 8).
Entre os autores desta "antolo- gia", merecem destaque Patrícia Arriaga, quando escreve que "a pu- blicidade se apresenta como uma força que tende ao monopólio me- diante seus altos custos publicitá- rios que atuam como barreiras pa- ra a entrada de novos ou pequenos capitais deixando o mercado às grandes empresas, capazes de com- petir nesse nível" (p. 15); Heriber- to Muraro, que aborda a "sociolo- gia do consumo", enfatizando que "são poucos os latino-americanos que ignoram o que significam no- mes de 'Coca Cola', 'Malboro', 'Nestlé' ou 'Kodak'". Neste aspec- to — observa Muraro — pode-se falar da emergência e desenvolvi- mento em todo o continente de uma cultura verdadeiramente trans- nacional, de raiz fundamentalmen- te norte-americana, o qual não so-
159
mente implica o uso de um deter- minado repertório de bens, senão também a aceitação de valores ou, como já se disse, de estilos de vi- da determinados" (p. 32).
Especificamente, Robert A. Whi- te, S.J. estuda a "ambivalência e a incerteza da Igreja diante do pro- cesso de modernização da Améri- ca Latina", com o artigo: "Igreja y publicidad en America Latina", on- de destaca que a cultura popular e o mercado de símbolos encon- tram um paradigma na Igreja, se referindo ao documento de Puebla, que acena à "evangelização de cul- turas". Depois de afirmar que um problema "é a falta de reflexão so- cioteológica na Igreja sobre o pro- cesso de produção de símbolos centrais da cultura urbano-indus- trial, que formam a base dos mi- tos desta cultura", sublinha que "a publicidade vincula organicamente uma série de instituições: os esti- los de vida e mentalidades de di- ferentes classes sociais; a defini- ção do processo de superação in- dividual que motiva a educação; a vida familiar, as profissões, a or- ganização do ócio e do entreteni- mento, especialmente no uso dos meios massivos" (p. 221).
A obra editada pelo IPAL, além de enriquecer a literatura crítica sobre Publicidade e Propaganda, na América Latina, pode servir de complementação aos estudiosos do fenômeno, desde uma perspectiva sócio-econômica e cultural. A publi- cidade é responsável pela sustenta- ção das empresas de comunicação em todo o mundo capitalista. Ela procura não apenas satisfazer as necessidades do público consumi- dor, mas sim os interesses mercan- tis dos produtores, em nível nacio- nal e transnacional, impondo mo- delos de vida dos países industria- lizados, desconhecendo, ou melhor, esmagando os valores peculiares de cada povo, alienando sua identida- de e reduzindo a cultura ao consu- mo material.
A leitura atenta da presente obra leva-nos à convicção de que a pu- blicidade constitui um dos maiores e mais revolucionários procedimen- tos de influência e interação nos campos da sociologia e da econo- mia do mundo contemporâneo. A força da propaganda, aliada aos poderes monopolistas nacionais e transnacionais, mantém o sistema de comunicação vigente, ou seja: a dominação de uns sobre os outros, a manipulação da pessoa, a des- preocupação do bem comum, da opinião pública, desvalorizando a democracia e a justiça distributiva. O Centro de Estudos sobre Cultu- ra Transnacional (IPAL) merece nossos aplausos pela edição desta obra que focaliza o fenômeno da publicidade na América Latina, nu- ma visão crítica e filosófica.
Francisco de Assis ML Fernandes Universidade de São Paulo
A Palavra, o Discurso e o Poder
CITELLI, Adilson — Lingua- gem e Persuasão. 2.a ed., São Paulo, Atica, 1986, 77 pp.
Reduzir um tema prenhe de atua- lidade e denso de história às di- mensões ditadas pelas edições pa- radidáticas é uma tarefa difícil, di- ríamos, por experiência própria, impossível.
As limitações do trabalho exis- tem tanto na extensão do trata- mento dado aos pontos referenciais escolhidos, como na própria opção destes temas dentro do universo do assunto. Se o destino principal des- tes textos são os olhos dos estu- dantes universitários, é necessário que o panorama construído seja ao mesmo tempo abrangente (tanto quanto possível) e a escala de ver- ticalidade ou profundidade do tra- tamento, constante.
160
Quanto ao tema, a persuasão, se- rá possível tratar-se ideal e dida- ticamente a retórica sem retórica? Mas, se como diz o próprio autor à p. 6: "... o elemento persuasivo está colado ao discurso como a pele ao corpo...", também a per- suasão existirá num texto didático sobre a persuasão. Se a retórica é uma metalinguagem cuja lingua- gem-objeto é o discurso, também ela, enquanto significante, remete à ideologia como significado. Tal é o seu inelutável destino semiótico.
Mas o texto paradidático, tal co- mo um mapa em pequena escala de uma grande metrópole, deve in- dicar os sítios mais importantes e suas conexões recíprocas. Os per- cursos possíveis através das indica- ções do mapa correspondem aos discursos possíveis através das in- dicações do texto. Se a pequena es- cala é condição editorial, o privi- légio dado a alguns temas revela a preferência do Autor em suas opções epistemológicas e, quiçá, em suas conotações ideológicas.
Adilson Citelli gostaria que seu texto ajudasse a: "... especular até onde o reconhecimento das formas persuasivas permite aventar a pos- sibilidade de encontrar discursos de outra ordem. Se existirem, evi- dentemente ..." Eis uma bela de- claração que no início do livro já aponta para além de seu próprio horizonte numa abertura à inven- ção ou à descoberta, inviáveis tal- vez, mas estimulantes pela própria possibilidade.
O autor inicia o percurso de seu livro questionando a possível "neutralidade" da informação, is- to é, informação sem persuasão. Após alguns dados sobre a retóri- ca aristotélica, desemboca na re- tórica moderna, renascida e reno- vada. Detém-se nos vários tipos de raciocínios (apodítico, dialético e retórico) e nas figuras de retórica (metáfora e metonímia). Acredita- mos que talvez tivesse valido a pe- na insistir mais um pouco nestas divisões, sobretudo analisar a re-
tórica implícita na própria possibi- lidade de existência do silogismo apodítico (em seu sentido aristoté- lico, isto é, de conclusões inevitá- veis a partir de premissas primá- rias e verdadeiras).
No capítulo 3 é analisada a na- tureza do signo lingüístico e o es- tudo dos signos onde, segundo o autor, ".. a questão do signo se prolonga na questão das ideolo- gias..." (p. 26). Aqui, sem dúvida, caberia introduzir a noção de símbolo como espécie do gênero signo, principalmente nos exem- plos mencionados.
A parte mais instigadora de re- flexões é, na nossa opinião, a aná- lise das modalidades discursivas: o discurso dominante e o discurso autorizado; os discursos lúdico, po- lêmico e autoritário. A monossemia e a polissemia como oposição a par- tir da qual pode-se iniciar a dife- renciação entre os discursos mais ou menos autoritários é sem dúvi- da um critério de natureza semióti- ca. A frase final do capítulo 3 é concisa e lapidar: "... A palavra, o discurso e o poder se contemplam de modo narcisista; cabe-nos ten- tar jogar uma pedra na lâmina de água..."
A retórica, segundo Aristóteles, é a utilização de recursos capazes, em cada caso, de gerar a persua- são. O autor procura (cap. 5) veri- ficar como isto ocorre em alguns gêneros de textos como o publici- tário, o religioso, o didático, na li- teratura e no discurso dos justicei- ros. Termina com uma entrevista de Umberto Eco onde este opõe o discurso persuasivo que é unívoco e quer levar-nos a conclusões defi^ nitivas ao dicurso aberto que é tí- pico da arte e que é, acima de tu- do, ambíguo. Eis novamente a opo- sição discursos unívocos e equívo- cos como gerador de uma escala capaz de caracterizar o discur- so autoritário. Os desdobramentos desta problemática, impossíveis de serem comentados aqui, nos levam a interessantes considerações so-
161
bre a "racionalidade" do exercicio do poder através dos códigos uni- vocos.
Em suma, o livro de Adilson Ci- telli é oportuno não só pelo que diz, mas por aquilo que apenas su- gere por contingência da própria série editorial. Afinal a competên- cia para escrever-se na dimensão de uma paradidático demanda uma familiaridade com o universo do te- ma; é necessário bem conhecer a metrópole para produzir um bom mapa em pequena escala.
Isaac Epstein Instituto Metodista de
Ensino Superior
Como Escrever para a TV
PATERNOSTRO, Vera íris — — O Texto na TV, Manual de T ele jornalismo. São Paulo, Brasiliense, 1987, 104 pp.
Um livro com ritmo de telejor- nal. Assim pode ser definido O tex- to na TV, de Vera íris Paternostro. Um manual para ser lido num fô- lego só e colocado depois na gave- ta mais próxima da máquina de escrever do jornalista de televisão. As principais dúvidas que surgem na elaboração do nosso texto de todos os dias serão respondidas de maneira clara e objetiva com uma breve consulta ao livro. Ele é útil também para quem ainda não es- tá no batente, mas que já pretende ir se familiarizando com o traba- lho jornalístico na televisão, esse monstro que assusta e apaixona.
O texto na TV não tem a preten- são de ser mais do que um ma- nual. Mas, na verdade, embora de forma modesta, ele supera os ma- nuais que circulam nas redações. Começa apresentando o leitor ao veículo, contando uma breve his- tória do surgimento da televisão e da sua presença no Brasil. A Auto- ra apresenta a cronologia dos mais
significativos momentos da evolu- ção tecnológica da TV, de 1917 até hoje, e traça um perfil histórico da televisão brasileira: da solitária Tu- pi paulista de 1950 às grandes re- des nacionais de nossos dias.
A segunda parte apresenta os conceitos básicos de como escrever para a televisão. Nela é destacada a peculiaridade do texto que é es- crito para ser lido em voz alta, mostrando os cuidados que devem ser observados para que ele seja captado de uma só vez pelo espec- tador. Na televisão não há o re- curso da releitura, que facilita a compreensão do texto escrito. Além disso é um texto que deve ser ca- sado com a imagem e, por ser fa- lado, ser o mais coloquial possível, como fica bem demonstrado no li- vro.
Ainda nesta parte há um glos- sário dos erros mais comuns co- metidos pelos redatores de telejor- nalismo, os clichês que devem ser evitados e algumas recomendações práticas como a grafia de núme- ros, siglas, artigos etc. Estas deve- rão ser as páginas mais manusea- das do livro. Elas resolvem dúvi- das que surgem no meio de um tex- to que, na maioria das vezes, tem alguns minutos para ser concluído.
E a parte final fica para o voca bulário usado nas redações de tele- visão. Trata-se de uma informação útil para os estudantes, que quan- do virarem focas não sofrerão, por exemplo, as agruras daquele jovem jornalista que, por ordem dos vete ranos, foi buscar a calandra na ofi- cina do grande jornal impresso, co- mo conta o folclore das redações. Ou não darão a resposta daquele professor de telejornalismo que, ao ser indagado por uma aluna sobre o significado da expressão ENG saiu-se da sinuca afirmando que deveria ser uma referência ao en- genheiro responsável pelas opera- ções técnicas do telej ornai.
Essa difícil e lamentável situação do professor é verídica e ocorreu há alguns anos num importante
162
curso de jornalismo de São Paulo. Ela demonstra a falta de docentes capacitados para o ensino de maté- rias específicas do currículo de co- municação que demandam uma for- mação teórica combinada com uma longa experiência prática. Ê comum também a recusa de convites para a docência por experientes jorna- listas de televisão. Muitos ficam in- seguros diante da falta de biblio- grafia e de currículos já testados onde possam se apoiar. O livro de Vera íris Paternostro é uma con- tribuição para enfrentar esse pro- blema.
O texto na TV deve ser encarado como um material de apoio ao en- sino do telejornalismo e aproveita- do naquilo que ele tem de elemen- tos práticos. Ê claro que sua parte inicial requer uma abrangência maior para dar conta de toda a his- tória da televisão, o que não foi pre- tensão da autora. Deve ser também ampliado o tratamento que o livro dá às relações da televisão com o Estado e com a iniciativa privada, sem o que fica difícil entender o problema das concessões dos ca- nais de televisão e as linhas noti- ciosas adotadas pelos telejornais. Isso não é da alçada de um manual, mas já que a autora na primeira parte do livro tocou de leve nesses pontos, fica a ressalva.
Ainda com relação a essa parte inicial, chamada algo pretensiosa-
mente de "como entender a televi- são: conceitos teóricos", é preciso assinalar um certo viés global da autora, sem dúvida marcada pelos seus quase 13 anos de Rede Globo. Sem a mesma audiência dos tele- jomais da Globo, mas com caracte- rísticas peculiares que não devem ser omitidas de estudantes, pesqui- sadores e profissionais, há outros programas noticiosos que merecem destaque, além dos mencionados no livro. Telej ornais analíticos co- mo os da TV Cultura de São Paulo, no início dos anos 70, ou da Rede Bandeirantes, já nos anos 80, me- recem não só uma citação, mas uma análise mais cuidadosa.
São ressalvas que não retiram do livro sua importância e que, de ne- nhuma maneira, põe em dúvida os ojetivos propostos pela Autora. No prefácio ela diz que seu objetivo é o de " 'dar uma mão' a quem se in- teressa por televisão, telej ornalis- mo, e pretende abrir o seu cami- nho". O livro vai ser para muita gente uma verdadeira "mão na ro- da", permitindo que muitos jovens, no começo da profissão, sofram menos do que nós que chegamos às redações de telejornalismo antes da existência de manuais como esse.
Laurindo Leal Filho Universidade de São Paulo
163
NOTICIÁRIO
"Comunicação Rural" é o tema do Congresso INTERCOM/88
"Comunicação Rural" é o tema central do XI Ciclo de Estudos In- terdisciplinares da Comunicação, que a INTERCOM promoverá de 2 7 de setembro de 1988, na Universi- dade Federal de Viçosa (MG).
A participação no XI Congresso INTERCOM/88 está aberta a todos os sócios da entidade, bem como a professores, estudantes de pós- -graduação, pesquisadores, especia- listas, profissionais de jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, administração e da área rural, editores, radialistas, cineas- tas, funcionários públicos e aos de- mais interessados por questões da comunicação social.
As taxas de inscrição fixadas são: 4 OTNs (até 30-6-88), 5 OTNs (até 31-7-88) e 6 OTNS (a partir do mês de agosto de 1988). Os sócios da IN- TERCOM e estudantes de pós-gra- duação têm desconto de 30%.
Os formulários para inscrição po- derão ser solicitados nos seguintes endereços:— INTERCOM, Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 — Ci- dade Universitária — Butantã — São Paulo — SP — tel.: 210-2122, ra- mal 676. O endereço para cor- respondência é: Caixa Postal 20.793, CEP 01498, São Paulo-SP. Ou Uni- versidade Federal de Viçosa — Conselho de Extensão, CEP 36570, Viçosa — MG — tel.: (031) 891-1894 e 899-2156.
A Universidade Federal de Viçosa dispõe de alojamentos e serviços de restaurantes (café da manhã, al- moço e jantar) a preços bem redu-
zidos. Devido ao limite de vagas — em número de 100 — destinadas aos participantes do XI Congresso INTERCOM/88, a hospedagem nas dependências da UFV será assegu- rada primeiramente aos exposito- res e conferencistas do XI Ciclo e dos eventos paralelos, aos membros da Diretoria e aos sócios da INTER- COM que fizerem suas inscrições antecipadamente.
Dentro do XI Ciclo de Estudos serão analisados os seguintes subte- mas: Modelos de Desenvolvimento de Política de Comunicação Rural, Pesquisa de Comunicação Rural, Ensino de Comunicação Rural, Al- ternativas de Comunicação Rural e Participação Popular. Para a aber- tura dos trabalhos está prevista a conferência de Juan Diaz Bordena- ve sobre "Comunicação Rural: Dis- curso e Prática".
Estão programados eventos pa- ralelos como sessões de comunica- ções sobre pesquisas na área de co- municação social, III Simpósio Brasileiro de Divulgação Científi- ca, II Encontro Brasileiro de Edi- toração Eletrônica, III Simpósio Brasileiro de Metodologia da Pes- quisa em Comunicação Social, I Simpósio Brasileiro de Relações Públicas, I Simpósio Interdiscipli- nar de Comunicação e Administra- ção Rural, Mesa-Redonda: Comuni- cação e Política — as propostas e as práticas comunicacionais do go- verno mineiro e I Encontro Brasi- leiro de Radiodifusão.
Também serão oferecidos cursos de extensão destinados a alunos e aos demais interessados, versando sobre Comunicação Rural, Comuni- cação Popular e Alternativa, Novas Tecnologias de Comunicação, Meto-
164
dologia da Pesquisa em Comunica- ção, Comunicação Empresarial e Economia Rural.
A apresentação de trabalhos nas sessões de comunicações livres so- mente poderá ser feita por partici- pantes inscritos no Congresso IN- TERCOM/88. As principais normas a serem seguidas para a redação dos trabalhos determinam o uso de papel formato ofício (31,5 x 21,5) datilografado em preto com as margens-padrão. Deverão conter um título, um resumo com os ele- mentos mais importantes do traba- lho, a bibliografia consultada e uma síntese do curriculum vitae do au- tor. O prazo para a entrega dos tra balhos vai até 25 de agosto de 1988.
A cidade de Viçosa fica a 220 qui- lômetros de Belo Horizonte e a 400 quilômetros do Rio de Janeiro. Pos- sui moderna estação de tratamen- to de água, energia elétrica forne- cida pela Cemig e rede telefônica da Telemig, ligada aos sistemas DDI e DDD. O município é corta- do pela BR-120. Várias linhas de ônibus, em diversos horários, ligam diariamente Viçosa a Belo Horizon- te, Rio de Janeiro, São Paulo, Juiz de Fora e outras cidades.
INTERCOM Organiza Simpósios Regionais
A INTERCOM realiza neste ano de 1988 uma série de encontros re- gionais, na trilha do seu projeto de descentralização, proposto desde a gestão da antiga diretoria.
Os simpósios se desenvolvem a partir de Recife, Pernambuco, com o I Simpósio Norte-Nordeste de Pesquisa em Comunicação, numa promoção conjunta com a Universi- dade Federal Rural de Pernambu co, no período de 18 a 20 de maio.
O projeto segue com o I Simpó- sio de Pesquisa em Comissão da Região Sudeste e Centro-Oeste, co- •promovido pelo Departamento de Comunicação Social da Universida- de Federal do Espírito Santo, em Vitória, de 9 a 11 de julho.
No final do ano teremos o I Sim- pósio de Pesquisa em Comunicação da Região Sul, de 5 a 7 de outubro, sob a coordenação do Curso de Co- municação Social da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba.
Os simpósios têm como objetivo resgatar a pesquisa em comunica- ção e discutir as metodologias tra- dicionais de pesquisa em diferentes regiões do País.
INTERCOM Firma Convênio com o CONEICC
O Estudo Comparativo dos Siste- mas de Comunicação Social no Bra- sil e no México é um projeto de pesquisa a se realizar no biênio 1988/1989, numa co-promoção IN- TERCOM, CONEICC — Conselho Nacional para Ia Ensenanza y Ia In- vestigación de Ias Ciências de Ia Comunicaión, num patrocínio do CNPq — Conselho Nacional de De- senvolvimento Científico e Tecnoló- gico (MTC-Brasil) e do CNACYT — Consejo Nacional de Ciência y Tec- nologia, do México.
A pesquisa tem por finalidade apreender as semelhanças e con- trastes entre os sistemas de comu- nicação social existentes no Brasil e no México. Pretende-se construir perfis comparativos de alguns dos elementos de cada sistema, de mo- do a constatar tendências do seu desenvolvimento histórico e de sua configuração atual.
O estudo compreenderá duas eta- pas: a elaboração dos perfis nacio- nais dos subsistemas de comunica- ção social e a análise comparativa dos dois sistemas.
O projeto tem como coordenado- res José Marques de Melo e Marga- rida Kunsch, no Brasil e Beatriz Solis e Pablo Casares, no México, contando com uma equipe binacio- nal composta por vinte pesquisado- res, assim composta, por subtema a ser pesquisado:
165
Imprensa: Ana Arruda Callado e Luis Javier Mier Vega
Rádio: Sônia Virginia Moreira e Maria Cristina G. Romo Gil
Televisão: Sérgio Mattos e Javier Esteinou Madrid
Cinema: José Tavares de Barros e Emilio Garcia Riera
Informatização e Novas Tecnolo- gias: Antônio Theodoro de M. Barros e Fátima Fernandez Chris- tlieb
Ensino de Comunicação: Antônio Carlos de Jesus e Carlos Eduar- do Luna Cortes
Pesquisa da Comunicação: Maria Imaccolata V. de Lopes e Raul Fuentes Navarro
Comunicação Emergente: Christa Berger e Marta Alcocer Warnhol tz
Culturas Populares: Antônio Fausto Neto e Jorge Gonzalez
Políticas de Comunicação: Margari- da Kunsch e Pablo Casares Ar- rangoiz
INTERCOM Prepara Nova Edição do QUEM É QUEM
A INTERCOM vem preparando o novo Quem é Quem na Pesquisa em Comunicação no Brasil. Na es- teira dos volumes anteriores, pre- parados respectivamente pelo Prof. Luis Fernando Santoro e pela Prof .a
Cláudia Vasconcellos, o trabalho vem exigindo um grande esforço por parte da Prof .a Maria Imaccola- ta, no sentido de reunir informa- ções particularizadas a respeito de todos os profissionais atuantes na área.
Uma novidade que poderá ocor- rer em breve será a edição de um Quem é Quem internacional, que reúna pesquisadores latino-ameri- canos, norte-americanos, europeus, asiáticos e africanos, mas que se- ja iniciado com uma versão latino-
-americana. Por enquanto isso é apenas um ambicioso projeto.
Quanto ao Quem é Quem nacio- nal, pede-se a colaboração dos as- sociados no sentido de auxiliarem, da melhor forma, para que a publi- cação esteja disponível a curto pra-
INTERCOM Lança Bibliografia Brasileira de Comunicação n" 7
Já se encontra disponível a Bi- bliografia Brasileira de Comunica- ção n.0 7, uma edição especial com a bibliografia corrente da INTER COM no período 1977-1987.
O texto foi produzido pelo PORT- -COM sob a coordenação e edição da Prof.a Ada de Freitas Manetti Dencker, com o apoio financeiro do CNPq — Conselho Nacional do De- senvolvimento Científico e Tecnoló- gico.
O trabalho, que visou o "resgate da memória cientifica da Comuni- cação Social no Brasil" na perspec- tiva da INTERCOM, seguiu o ras- tro de outras publicações pioneiras, entre as quais a de maior vulto, o Inventário da Pesquisa em Comu- nicação no Brasil 1883/1983, coorde- nado por José Marques de Melo, e dos outros seis números da Biblio- grafia.
A sistematização proporcionada pela Bibliografia permite o fácil e rápido acesso a todas as publica- ções da entidade, entre as quais o Boletim INTERCOM, depois Revis- ta Brasileira de Comunicação, Ca- dernos INTERCOM, livros, coletâ- neas, e até mesmo relatórios espe- ciais como o realizado pela Prof.a
Anamaria Fadul por ocasião da pes- quisa "Recepção Crítica em Comu- nicação" e o Quem é Quem na Pes- quisa em Comunicação no Brasil.
A publicação já se encontra dis- ponível na sede da Entidade.
166
Prêmio INTERCOM de Comunicação
A diretoria da INTERCOM, no ano do 10.° aniversário de funda- ção da Sociedade, instituiu o Prê- mio INTERCOM de Comunicação, que será conferido a cada dois anos a monografias classificadas em con- curso nacional sobre temas no campo da comunicação. Podem con- correr estudantes de graduação e pós-graduação matriculados nos programas e cursos de comunica- ção social de universidades, faculda- des e institutos de ensino superior, oficialmente reconhecidos, em qual- quer uma de suas habilitações: jor- nalismo, relações públicas, publici- dade e propaganda, produção edi- torial, rádio e TV, cinema. Na sua primeira versão, o Prêmio INTER- COM de Comunicação terá como tema: A comunicação como instru- mento de educação política no Bra- sil.
Em breve a INTERCOM dará ampla divulgação de como partici- par do Prêmio INTERCOM de Co- municação em todas as escolas de comunicação do País e na imprensa em geral.
ABEC promove o 39
Encontro de Editores de Revistas Científicas
Criada a 28 de novembro de 1985, no anfiteatro do Instituto de Ciên- cias Biomédicas da Universidade de São Paulo, a Associação Brasi- leira de Editores Científicos — ABEC é uma sociedade civil de âmbito nacional sem fins lucrati- vos, que congrega pessoas físicas e jurídicas com interesse em desen- volver e aprimorar a publicação de periódicos técnico-científicos, aper- feiçoar a comunicação e a divulga- ção de informações, manter o in-
tercâmbio de idéias, o debate de problemas e a defesa dos interes- ses comuns.
Para atingir os seus objetivos promove, entre outras atividades culturais, um encontro anual dos associados. Este ano a ABEC reu- niu em Ribeirão Preto (SP), de 8 a 10 de março, cerca de 80 pessoas em seu 3.° Encontro de Editores Científicos, que contou com o pa- trocínio do CNPq, FAPESP e FI- NEP.
Francisco A. Moura Duarte, pre- sidente da ABEC, disse que o nível dos debates e o interesse dos as- sociados justificam a iniciativa da diretoria de convocar encontros anuais. "Assim facilitamos a solu- ção de problemas que afligem as nossas revistas científicas", afir- mou.
"A Formação de Recursos Huma- nos para Revistas Científicas" foi o tema abordado pelo represen- tante do Departamento de Jornalis- mo e Editoração da ECA-USP, pro- fessor José Coelho Sobrinho. Ele acha que as escolas de jornalismo do País devem incrementar os seus projetos didático-pedagógicos de divulgação científica, dando condi- ções aos futuros profissionais de obterem uma boa formação nessa área.
Sobre os cinco anos de Ciência Hoje, revista de divulgação cientí- fica da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), falou Ennio Candottí, vice-presidente da SBPC. "Ciência Hoje se propõe o desafio de divulgar a ciência sem descaracterizá-la: usar uma lingua- gem tão despida de hermetismo quanto possível, sem abrir mão do rigor que é próprio da ciência", ga- rantiu.
Na próxima edição publicaremos o Documento Final do 3.° Encon- tro de Editores Científicos, no qual esta Revista esteve presente repre- sentada pelo seu editor-assistente Dario Luis Borelli.
167
ECA-USP Completa 20 Anos de Jornalismo
A Escola de Comunicações e Ar- tes da Universidade de São Paulo comemorou no último dia 5 de fe- vereiro o 20.° aniversário de fun- dação do seu Departamento de Jor- nalismo e Editoração (CJE), em cerimônia que reuniu cerca de 80 pessoas.
A solenidade iniciou-se com um discurso do vice-reitor da USP Ro- berto Leal Lobo e Silva Filho. A se- guir fizeram uso da palavra o prof. Walter Zanini, diretor da ECA, e o Prof. José Marques de Melo, fun- dador e atual chefe do Departa- mento de Jornalismo e Editoração.
Na cerimônia foram homenagea- dos o primeiro diretor da ECA, Prof. Júlio Garcia Morejón, seu pri- meiro chefe de oficina gráfica, Cé- lio Fávero, seu primeiro secretário de departamento, José Salvador Faro, seu primeiro professor, Flá- vio Galvão, seu primeiro aluno-mo- nitor, Carlos Marcos Avighi, hoje professor da ECA, e seu primeiro representante discente, Ethevaldo Siqueira.
Participaram, ainda, como con- vidados do Departamento o Prof. Crodowaldo Pavan (presidente do CNPq) e representantes das enti- dades de classe (Sindicato dos Jor- nalistas de São Paulo e FENAJ).
Ao final dos discursos um coque- tel marcou a solenidade. Os pre- sentes puderam ainda assistir a ví- deos produzidos pelos alunos dó CJE-ECA, além do lançamento do livro Jornalismo e Editoração na USP — um texto sobre a produção científico-acadêmica do seu corpo docente no período 67/87.
A data foi marcada, ainda, por ex- trema polêmica na imprensa paulis- ta. A Folha de S. Paulo publicou na sua edição de 5 de fevereiro ex- tensa matéria sobre o CJE (pági-
na inteira), onde tenta demonstrar o grande "desserviço" prestado pe- la escola nos últimos 20 anos, em termos dos profissionais que esta- ria lançando no mercado.
CEDI Discute Comunicação nos Movimentos Populares
O Centro Ecumênico de Docu- mentação e Informação (CEDI) publica uma revista mensal cha- mada Tempo e Presença, que acom- panha a realidade brasileira e lati- no-americana na perspectiva da pastoral popular e dos movimen- tos populares.
Em seu número 228, referente ao mês de março deste ano, traz nove textos interessantes sobre comuni- cação no movimento popular. "Pa- ra os movimentos populares e os setores católicos e evangélicos com eles comprometidos, a comunicação se coloca como um novo desafio que necessita de uma ampla dis- cussão, amparada na maturidade política", diz o editorial.
Os textos, inéditos e exclusivos, são "O Samba Cultural dos Desi- guais", por Luiz Roberto Alves; "Jornalismo Popular: Uma Expe- riência Democrática", por Pedro Gilberto Gomes; "A Imprensa dos Trabalhadores", por Sérgio dos Santos; "O Popular nas Escolas de Comunicação", por José Marques de Melo; "TV dos Trabalhadores", por Marô Silva; "O Teatro da Co- municação", pelo Núcleo Jorge Ba- tista de Comunicações; "Canal 13, TV Fanini", por Onésimo de Olivei- ra Cardoso; "A Pregação Milioná- ria da Salvação", por Amélia Tava- res C. Neves; "Políticas de Comu- nicação da Igreja Católica", por Is- mar de Oliveira Soares.
A revista poderá ser obtida atra- vés de pedido ao CEDI, localizado à Av. Higienópolis, 938 — CEP 01238 — São Paulo — SP.
168
DOCUMENTAÇÃO
Bibliografia corrente de Comunicação n. 53
Coordenação: Ada de Freitas Maneti Dencker (PORT-COM/INTERCOM)
Resumidores deste número: Ada de Freitas Maneti Dencker J. B. Pinho Marcelo Luís Da Viá — Bolsista CNPq/IBICT
Colaboração: Angélica Remy.
Publicação editada pelo PORT-COM — Centro de Documentação da Comunicação nos Países de Língua Portuguesa — órgão complemen- tar da INTERCOM, mantido em convênio com a Biblioteca da ECA/USP.
OBRAS DE REFERÊNCIA
CARVALHO, Mirian Rejowski, MELLO, Ivete Siqueira de. Jornalismo e Editoração na USP. São Paulo, ECA/USP, CJE, 1987 (135 pp.). Relaciona a produção cientifica e técnico-profissional do corpo docente no período 1967/1987.
CINEMA
AHAMED, Flávio Villela. Obscenas brasileiras: um estudo sobre a produção pornô no cinema brasileiro. Cine Imaginário, Rio de Janeiro, ano 2 (21): 15, agosto 1987. Trajetória do cinema pornô do Brasil e sua relação com as di- ferentes situações políticas desde 1916 até hoje.
169
CINEMA na África do Sul. Cine Imaginário, Rio de Janeiro ano 2 (21): 6, agosto 1987. A indústria cinematográfica negra, que realizada por produtores brancos se destina a audiência de cor; o problema da repressão do governo.
OMAR, Artur. Por uma teoria do cinema no Brasil (1972). Comunicações e Artes, São Paulo: ECA/USP. Ano II (17)- 73-79 1986. Relação entre cinema e cultura nacional.
COMUNICAÇÃO ARTÍSTICA
MISSENO, José C. Vidança (a dança na vida ou a vida na dança). São Paulo, Edição Independente, 1986 (59 pp.). Estudo da dança como a mais antiga das artes.
COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA
FRICK, Silvia Ferreira. A Comunicação na Ciência Econômica. Co- municação e Sociedade, São Paulo, IMS/Edições Liberdade Ano VII (15): 107-137, novembro 1987. Características da comunicação na área econômica e diferenças em relação às áreas política/científica/técnica. Levantamento jun- to a uma unidade de pesquisa, apresentação dos resultados/re- comendações para melhoria do sistema.
PROENÇA, José Luiz. Ciência e jornalismo: quem tem medo do quê? Comunicação e Sociedade, São Paulo, IMS/Edições Liber- dade, Ano VII (15): 139-143, novembro 1987. Relação cientista/jornalista: características das atividades, possi- bilidade de entendimento, sugestões para melhor atender ao in- teresse público.
COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO
BOTOMÉ, Sílvio Paulo. A universidade como objeto de estudo: a III Conferência Cientifica Internacional sobre Educação Superior, realizada em Havana. Ciência e Cultura, São Paulo, SBPC vo- lume 39 (5/6): 517-525, maio/junho 1987. Análise completa da educação superior na América Latina.
COMUNICAÇÃO POLÍTICA
ANTUNES, Elton e outros. Pesquisas eleitorais: os pequenos anún- cios políticos. Geraes — Revista de Comunicação Social, Belo
170
Horizonte, FAFICH/UFMG, Sina. Jorn. Prof./MG, (46) 26-30, ju- nho 1987. As funções que assumem as sondagens e como elas são tratadas pelos meios de comunicação.
NETO, Antônio Fausto. O porta-voz. Geraes — Revista de Comu- nicação Social, Belo Horizonte, FAFICH/UFMG, Sind. Jorn. Prof./ /MG, (46): 3-8, junho 1987. Análise da função de Porta-Voz na Presidência da República atra- vés da psicanálise.
COMUNICAÇÃO POPULAR
EQUIPE de coordenação da ALER. O noticiário popular. Manuais de comunicação, São Paulo: Edições Paulinas: ALER-Brasil, IBA- SE/FASE/SEPAC (6): 5-85, julho 1987. A busca de uma nova forma para os meios de comunicação.
COMUNICAÇÃO RELIGIOSA
SANCHIS, Pierre. Os brasis da igreja brasileira. Geraes — Revis- ta de Comunicação Social, Belo Horizonte, FAFICH/UFMG, Sind. Jorn. Prof./MG (46): 9-12, junho 1987. A "explicação do Brasil" feita pela igreja católica em diferentes situações históricas.
A comunicação na construção da Paz
ALMEIDA, Dom Luciano Mendes de. A paz e a comunicação social. In: A comunicação na construção da paz. Ismar de O. Soares e João Manoel Motta (organizadores). São Paulo, Edições Pau- linas/UCBC, 1987, pp. 17-21 (180 pp.) A igreja questiona a tarefa dos meios de comunicação.
PIMENTA, Aluísio. A comunicação na construção da paz. In: A co- municação na construção da paz. Ismar de O. Soares e João Ma- noel Motta (organizadores). São Paulo, Edições Paulinas/UCBC, pp.8-14. (180 pp.). Análise do tema escolhido para o Congresso: sua importância em relação a discriminação racial e os direitos humanos.
ROSSI, Clóvis. Obstáculos á construção da paz. In: A comunicação na construção da paz. Ismar de C. Soares e João Manoel Motta (organizadores). São Paulo, Edições Paulinas/UCBC, 1987, pp. 22-24. (180 pp.). A falta de justiça social. A miséria das massas.
171
Direito à informação
BICUDO, Hélio. A questão da paz e o direito à informação. In: A comunicação na construção da paz. Ismar de O. Soares e João Manoel Motta (organizadores). São Paulo, Edições Paulinas/ /UCBC, 1987, pp. 122-126. (180 pp.). Relação da opinião pública e liberdade, problemas sobre o aces- so a informações.
GAITAN, Glória. La cultura popular: herramienta de lucha en ei camino hacia una democracia participativa. In: A comunicação na construção da paz. Ismar O. Soares e João Manoel Motta (organizadores). São Paulo, Edições Paulinas/UCBC, 1987, pp. 83-90. (180 pp.). A necessidade de a América Latina adquirir consciência de seu poder para se libertar da dominação estrangeira.
JAMBEIRO, Othon. Democratizar a comunicação. In: A comuni- cação na construção da paz. Ismar de O. Soares e João Manoel Motta (organizadores). São Paulo, Edições Paulinas/UCBC. 1987, pp. 109-112. (180 pp.). Relação de poder entre o Estado e os meios de comunicação.
Movimentos e Conflitos
DIAS, Arcelina Helena Publio. Greve dos metalúrgicos do ABC, em 1980, vista pela ótica da grande imprensa nacional. In: A co- municação na construção da paz. Ismar de O. Soares e João Manoel Motta (organizadores). São Paulo, Edições Paulinas/ /UCBC, pp. 127-139. (180 pp.). Descrição da greve e dos tipos de pessoas envolvidas.
DUDLEY, Natham S. Os conflitos na América Central. In: A co- municação na construção ãa paz. Ismar de O. Soares e João Manoel Motta (organizadores). São Paulo, Edições Paulinas/ /UCBC, 1987, pp. 32-41. (180 pp.). Influência desses conflitos desde o Canadá à Argentina. Impor- tância da comunicação para a construção da paz.
MAZZAROLLO, Juvêncio. O tratamento dos conflitos sociais na im- prensa. In: A comunicação na construção da paz. Ismar de O. Soares e João Manoel Motta (organizadores). São Paulo, Edi- ções Paulinas/UCBC, 1987, pp. 29-31 (180 pp.). O falso interesse social das grandes empresas.
RUBIM, Antônio Albino Canelas. Os movimentos de solidariedade e seus instrumentos de comunicação. In: A comunicação na cons- trução da paz. Ismar de O. Soares e João Manoel Motta (orga- nizadores). São Paulo, Edições Paulinas/UCBC, 1987, pp. 113-121. (180 pp.).
172
O desenvolvimento da comunicação social no Brasil e falta de instrumentos de comunicação para os movimentos sociais. Ne- cessidade de democratização dos meios.
Militarização NETTLETON, Greta. A militarização da cultura nos Estados Uni-
dos. In: A comunicação na construção da paz. Ismar de O. Soares e João Manoel Motta (organizadores). São Paulo, Edi- ções Paulinas/UCBC, 1987, pp. 664-70 (180 pp.). Influência da militarização na comunicação: linguagem política, linguagem cultural.
OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Militarização — a agonia da nossa cul- tura. In: A comunicação na construção da paz. Ismar de O. Soares e João Manoel Motta (organizadores). São Paulo, Edi- ções Paulinas/UCBC, 1987, pp. 71-82. (180 pjU. Descrição do processo histórico das guerras e seus conquistado- res desde os romanos até hoje.
PAIVA Dídimo. A corrida armamentista. In: A comunicação na construção da paz. Ismar de O. Soares e João Manoel Motta (organizadores). São Paulo, Edições Paulinas/UCBC, 1987, pp. 25-28. (180 pp.). O destino do mundo à mercê da URSS e USA.
Rádio BLOIS, Marlene M. O uso cultural e educativo do rádio no Brasil.
In- A comunicação na construção da paz. Ismar de O. Soares e João Manoel Motta (organizadores). São Paulo, Edições Pauli- nas/UCBC, 1987, pp. 149-153. (180 pp.). Análise do conteúdo da programação das rádios educativas.
BURGOS Carlos Crespo. Os novos usos do rádio: o cultural e o educativo postos em questão. In: A comunicação na constru- ção da paz. Ismar de O. Soares e João Manoel Motta (organi- zadores). São Paulo, Edições Paulinas/UCBC, 1987, pp. 91-97. (180 pp.). Conceitos de educação e cultura. A relação de um novo concei- to de rádio na América Latina com uma nova cultura.
LOPES Maria Immacolata Vassalo de. Sensacionalismo e estereó- tipos sociais na cultura de massa — programa policial de radio e populações marginais. In: A comunicação na construção da paz Ismar de O. Soares e João Manoel Motta (organizadores). São Paulo, Edições Paulinas/UCBC, 1987, pp. 98-106. (180 pp.). Resultado'de uma pesquisa sobre o programa classificado como jornalismo policial sensacionalista de Gil Gomes.
SAMPAIO Mário Ferraz. Considerações sobre a comunicação e sua história cultural. In: A comunicação na construção da paz. Is-
173
mar de O. Soares e João Manoel Motta (organizadores). São Paulo, Edições Paulinas/UCBC, 1987, pp. 140-148. (180 pp.). Histórico sobre a comunicação, em especial sobre a radiodifusão.
Videoclip
SANTOS, Roberto Elísio dos Santos. Videoclip como multimídia. In: A comunicação na construção da paz. Ismar de O. Soares e João Manoel Motta (organizadores). São Paulo, Edições Paulinas/ /UCBC, 1987, pp. 154-160. (180 pp.). A linguagem da TV e do clip. O clip como uma peça publici- tária.
Violência
AVELINE, Carlos. A educação para a paz num universo cultural vio- lento. In: A comunicação na construção da paz. Ismar de O. Soares e João Manoel Motta (organizadores). São Paulo, Edi- ções Paulinas/UCBC, 1987, pp. 55-63. (180 pp.). Vários conceitos de violência e sua relação com o universo cul- tural,
LAGOA, Ana e VIEIRA, Gilda. A comunicação e a cultura da vio- lência. In: A comunicação na construção da paz. Ismar de O. Soares e João Manoel Motta (organizadores). São Paulo, Edi- ções Paulinas/UCBC, 1987, pp. 45-48. (180 pp.). Explicação do processo dos meios de comunicação como incen- tivadores da violência.
PACHECO, Elza Dias. A questão da construção da paz num univer- so cultural violento. In: A comunicação na construção da paz. Ismar de O. Soares e João Manoel Motta (organizadores). São Paulo, Edições Paulinas/UCBC, 1987, pp. 49-54. (180 pp.). Análise da personalidade da criança e sua relação de amor com os pais.
COMUNICAÇÃO RURAL
EMPRESA Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. PoZi- tica e diretrizes de formação extensionista. Brasília, Embrater, 1987 (52 pp.). Antecedentes/fundamentos/metodologia. Processo de formação do extensionista. Preparo dos técnicos/papel de coordenador pe- dagógico e do instrutor.
EMPRESA Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. A co- municação na extensão rural: fundamentos e diretrizes opera- cionais. Brasília, Embrater, 1987 (52 pp.). Análise crítica do projeto de extensão rural. Proposta do novo sistema de comunicação rural a partir de 1986, por região do Pais.
174
Avaliação do uso do vídeo e de fotografia. Política de edição da Embrater.
EMPRESA Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural. Sis- tema Embrater e o plano de metas. Brasília, Embrater, 1986 (60 pp.). Origem e histórico. Política na Nova República. O plano de me- tas: projetos, infra-estrutura, pré-requisitos para a atuação jun- to aos agricultores.
FIGUEIREDO, Romeu Padilha de. Política agrícola, reforma agrá- ria e extensão rural: proposições à Assembléia Nacional Cons- tituinte. Brasília, Embrater, 1987 ((40 pp.). Bases para a modernização da agricultura. As unidades familia- res de produção. Reforma agrária. Assistência técnica e ex- tensão rural adequadas à realidade brasileira.
KEARL, Bryant E. Comunicação para o Desenvolvimento Agrícola. Comunicação e Sociedade, São Paulo, IMS/Edições Liberdade, Ano VII (15): 71-95, novembro 1987. Políticas de comunicação orientadas para a transmissão a partir de uma fonte central e sua mudança em direção a comunicação com e entre todos os níveis em um país em processo de desen- volvimento agrícola. Analisa modelos de difusão/programa de pacotes, e a perspectiva de novos rumos para a comunicação.
MONTE, Antônio Fernando Pinheiro. Difusão de inovações — bar- reiras à comunicação para o desenvolvimento. Comunicação e Sociedade, São Paulo, IMS/Edições Liberdade, Ano VII a5): 23-40. novembro 1987. Análise do modelo de D.I., linear e mecanicista e sua inadequa ção à realidade das nações subdesenvolvidas, perdendo sua fun- ção educativa ao excluir o receptor. Esquematiza barreiras nos relacionamentos: pesquisa/produção/extensão.
NAKAMAE, Ivan J. Novos compromissos do jornalismo agrícola. Comunicação e Sociedade, São Paulo, IMS/Edições Liberdade, Ano VII (15): 97-105, novembro 1987. Conhecimento científico/tecnológico e sua aplicação na agricultu- ra: qual o papel do jornalista na difusão? Ressalta a necessida- de da postura crítica, com relação a conhecimentos e programas, aliada à postura pedagógica.
ROSINHA, Raul C. Desenvolvimento e Comunicação Rural. Comu- nicação e Sociedade, São Paulo, IMS/Edições Liberdade, Ano VII (15): 7-15, novembro 1987. Análise da evolução dos conceitos, idéias em discussão aplicáveis ao Brasil e alternativas que viabilizem a integração comunica- ção/desenvolvimento rural.
SECCHES, Paulo. O homem do campo que nós não vimos. Comuni- cação e Sociedade, São Paulo, IMS/Edições Liberdade, Ano VII (15): 17-21, novembro 1987.
175
sio etnocêntrica urbana, colocando-o como o proprietário agrí- cola, público — alvo dos fabricantes de insumos agropecuários, com valores, atitudes e comportamentos culturais próprios.
TUCUNDUVA Neto, Lino. Evolução histórica e gráfico-editorial da Folha Rural de Londrina. Comunicação e Sociedade, São Paulo. IMS/Edições Liberdade, Ano VII (15): 41-70, novembro 1987. Levantamento histórico descritivo da evolução temática, em re- lação ao desenvolvimento agropecuário da região norte do Pa- raná.
COMUNICAÇÃO SOCIAL
CLÁUDIO, Celina F. Bragança Rosa. Abordagens metodológicas na avaliação de impacto ambiental. Propostas de critérios de AI A em São Paulo. Ciência e Cultura, São Paulo, SBPC, Volume 39 (5/6): 493-488, maio/junho 1987. Estudo do 'desenvolvimento histórico das politicas ambientais. Método e procedimento aplicáveis.
Meios de Comunicação de Massa
AFONSO, Lúcia. A hipótese esquecida. Geraes — Revista de Comu- nicação Social, Belo Horizonte: FAFICH/UFMG, Sind. Jom. Prof./ /MG, (46) : 41-42, junho 1987. Estudos dos meios de comunicação e sua relação com a aliena- ção das pessoas.
BEM, Arim Soares do. Comunicação de massa: do mito à prática política. Revista Comunicações e Artes, São Paulo, ECA/USP, Ano 11 (17): 187-192, 1986. Identificação de cultura de massas com o processo de vulgariza- ção e decadência da cultura culta.
MACHADO, Marília Novais da Mata. Um terceiro escrito sobre psi- cologia e comunicação. Geraes — Revista de Comunicação So- cial, Belo Horizonte, FAFICH/UFMG, Sind. Jom. Prof./MG, (46): 42-43, junho 1987. Análise de textos sobre comunicação de massa e alienação.
EDITORAÇÃO
COM-ARTE: uma editora dos alunos. Jornal do Semana de Edito- ração, São Paulo, 3, outubro 1987. Descrição do projeto pioneiro no Brasil, uma editora-labora- tório.
COSTA, Sandra Mara. A hora e a vez das publicações populares. Jornal da Semana de Editoração, São Paulo, 5, outubro de 1987.
176
Debate da IX Semana de Estudos de Editoração no Departamen- to de Jornalismo e Editoração/ECA.
GERALDES, Elen Cristina. 15 anos de Curso. Jornal da Semana de Editoração, São Paulo, 7, 1987. Críticas ao curso de editoração e a análise da incompreensão do público externo em relação a essa especialidade.
PONTE, Carla Gil. Perspectiva na retrospectiva. Jornal da Sema- na de Editoração, São Paulo, 2, outubro 1987. História do desenvolvimento do curso de editoração desde sua criação em 1972.
ENSINO DE COMUNICAÇÃO
CARVALHO, Miriam Rejowski, OLIVEIRA, Antônio Gonçalves de. Desafio gerencial: a defasagem entre o dinamismo dos processos de comunicação e a morosidade da burocracia universitária. En- sino de Comunicação no Brasil: Impasses e desafios. José Mar- ques de Melo (organizador). Comunicação jornalística e edito- rial. Série Ensino, São Paulo, IPCJE/ECA/USP (2): 77-92, 1987. Reflexão sobre a morosidade da ECA/USP e suas conseqüên- cias negativas para o dinamismo dos processos de comunicação.
CASEIRO, Lucélia. Teoria e prática. Revista Abert. São Paulo, (26): 12-15, outubro 1987. A dificuldade de conciliação entre o ensino nas universidades e o mercado de trabalho.
EPSTEIN, Isaac. Um impasse curricular: Teoria da comunicação. Ensino de Comunicação no Brasil: Impasses e desafios. José Marques de Melo (organizador). Comunicação jornalística e edi- torial. Série Ensino, São Paulo, IPCJE/ECA/USP (2): 93-107, 1987. Discussão de currículo e análise da matéria de comunicação.
SILVA, Luiz Custódio de. órgãos laboratoriais: da resistência aos novos caminhos experimentais. Ensino de Comunicação no Bra- sil: Impasses e desafios. José Marques de Melo (organizador). Comunicação jornalística e editorial. Série Ensino, São Paulo, IPCJE/ECA/USP (2): 52-76, 1987. Descrição e avaliação dos laboratórios das escolas de comunica- ção social do País; o problema dos laboratórios nos cursos de jornalismo.
IMPRENSA
Direito a informação DOCUMENTO Final do Seminário Acadêmico. Direito à informa-
ção, direito de opinião. José Marques de Melo (organizador).
177
Comunicação Jornalística e Editorial, Série Profissão, São Pau- lo, IPCJE/ECA/USP, (2): 13-16, 1987. Debate de questões sobre o sistema de comunicação de massas no País.
GOLDEMBERG, José. Direito à informação, direito de opinião. Di- reito à informação, direito de opinião. José Marques de Melo (organizador). Comunicação Jornalística e Editorial, Série Pro- fissão, São Paulo, IPCJE/ECA/USP, (2): 9-11, 1987. Discussão do seminário sobre esse tema: o respeito ao direito à informação.
MELO, José Marques de. Nota introdutória. Direito à informação, direito de opinião. José Marques de Melo (organizador). Comu- nicação Jornalística e Editorial, Série Profissão São Paulo IPCJE/ECA/USP, (2): 5, 1987. Seminário acadêmio promovido em 2518/87 pela reitoria da USP.
MELO, José Marques de e SILVA, Carlos Eduardo Lins da. Os me- canismos de intervenção e participação da sociedade civil para assegurar a observância do direito à informação e do direito de opinião. Direito à informação, direito de opinião. José Marques de Melo (organizador). Comunicação Jornalística e Editorial, Série Profissão, São Paulo, IPCJE/ECA/USP, (2): 37-41, 1987. Critérios para assegurar o direito à informação numa sociedade em bases de livre concorrência de mercado.
NOBRE, José Freitas e FREITAS, Jeanna-Marie M. de. As institui- ções políticas e jurídicas como reguladoras do direito à informa- ção e do direito de opinião. Direito à informação, direito de opi- nião. José Marques de Melo (organizador). Comunicação Jor- nalística e Editorial, Série Profissão, São Paulo, IPCJE/ECA/USP (2): 17-22, 1987. Descrição das condições necessárias à formação de uma socie- dade democrática.
TORQUATO, Gaudêncio e MEDINA, Cremilda. O controle do direi- to à informação e do direito de opinião exercido dentro do pro- cesso de produção jornalística (ação dos proprietários e dos profissionais). Direito à informação, direito de opinião. José Marques de Melo (organizador). Comunicação Jornalística e Edi- torial, Série Profissão, São Paulo, IPCJE/ECA/USP (2)- 23-35 1987. Descrição do estágio em que se situa a sociedade brasileira e a comunicação.
Imprensa Italiana
BUITONI, DUICILIA. Revistas femininas: modelos italianos impor- tados. Imprensa italiana: perspectivas brasileiras. Carucci, Me- dina, Buitoni e Koshiyama (organizadores). Comunicação Jor-
178
nalística e Editorial. Série Pesquisa, São Paulo, IPCJE/ECA/ /USP, (5): 27-34, 1987. História da imprensa feminina no Brasil. A enorme influência italiana nas fotonovelas brasileiras.
CARUCCI, Riccardo. A imprensa diária na Itália. Imprensa italia- na: perspectivas brasileiras. Carucci, Medina, Buitoni e Koshi- yama (organizadores). Comunicação Jornalística e Editorial. Sé- rie Pesquisa, São Paulo, IPCJE/ECA/USP, (5): 10-16, 1987. História da imprensa diária na Itália. Dados estatísticos de ti- ragens de jornais italianos.
KOSHIYAMA, Alice Mitika. Italianos no Brasil através do jornalis- mo. Imprensa italiana: perspectivas brasileiras. Carucci, Me- dina, Buitoni e Koshiyama (organizadores). Comunicação Jor- nalística e Editorial, Série Pesquisa, São Paulo, IPCJE/ECA/USP, (5): 35-53, 1987. Análise da imprensa de língua italiana publicada no Brasil, como expressão da presença política e cultural dos imigrantes.
MEDINA, Cremilda. A técnica da entrevista em Orianna Fallaci. Im- prensa italiana: perspectivas brasileiras. Carucci, Medina, Bui toni e Koshiyama (organizadores). Comunicação Jornalística e Editorial, Série Pesquisa, São Paulo, IPCJE/ECA/USP, (5): 17-26, 1987. Perfil de uma estrela do jornalismo europeu: sua personalidade agressiva e independente.
INDÚSTRIA CULTURAL
AMARO, Regina Keiko O. F. Elementos comparativos iniciais da análise do produto cultural "Notícia" no capitalismo tardio. Re- vista Comunicações e Artes, São Paulo, ECA/USP, Ano 11 (17): 193-198, 1986. Discussão de resultados de pesquisas sobre o conteúdo dos pro- dutos nos meios de comunicação de massa.
IANNI, Octávio. O intelectual e a indústria da cultura. Revista Co- municações e Artes, São Paulo, ECA/USP, Ano 11 (17): 9-16, 1986. Características essenciais do trabalho do escritor, artista ou ou- tros profissionais da indústria cultural.
MARCONDES Filho, Ciro. Dominação sexual, mercadoria e castra- ção na cultura em massa. Revista Comunicações e Artes, São Pau- lo, ECA/USP, Ano 11 (17): 133-141, 1986. Atuação impositiva do erotismo transmitido pela televisão e pu- blicidade.
RUBIM, Antônio Albino Canela. Comunicação e Capitalismo. Sal- vador, Centro Editorial e Didático da UFB, 1988.
179
Analisa as relações entre a comunicação social e o capitalismo em sua fase concorrencial, interpretando em um segundo mo- mento estas relações na etapa monopolista e, finalmente, carac- terizando a indústria cultural.
JORNALISMO
CLEMENTE, Eivo Ir. A imprensa em São Lourenço do Sul. Veritas, Porto Alegre, Vol. 33 (129): 115-117, março 1988. Estudo em ordem cronológica dos jornais surgidos na localidade em alemão e português.
Ensino de jornalismo
FERNANDES, Terezinha Fátima Tagé Dias. Ler + escrever = viver. Cadernos de jornalismo e editoração. São Paulo, Com/Arte/ECA/ /USP, (20): 23-32. Análise sobre o ensino de leitura e redação em Língua Portu- guesa.
KOSHIYAMA, Alice Mitika. Professores pesquisam como ensinar. Cadernos de jornalismo e editoração. São Paulo: Com/Arte/ECA/ /USP, (20): 13-15. Análise das atividades do pedagogo e jornalista Mário Kaplun.
LIMA, Edvaldo Pereira. Psicodrama pedagógico: possibilidades no ensino de jornalismo. Cadernos de jornalismo e editoração. São Paulo, Com/Arte/ECA/USP, (20): 17-22. Definição da atividade profissional do jornalista.
GÊNEROS JORNALÍSTICOS
ARBEX José, Júnior. Editorial. Gêneros jornalísticos na Folha de S. Paulo. José Marques de Melo (organizador). Comunicação jornalística e editorial. Série Pesquisa, São Paulo, IPCJE/ECA/ /USP (1): 75-82, 1987. O editorial e sua importância para a opinião oficial da imprensa.
BRIL, Stefânia. Fotografia. Gêneros jornalísticos na Folha de S. Paulo. José Marques de Melo (organizador). Comunicação jor- nalística e editorial. Série Pesquisa, São Paulo, IPCJE/ECA/ /USP (1): 91-99, 1987. História e conceito do fotojornalismo.
CHAPARRO, Manuel Carlos da Conceição. Carta. Gêneros jorna- lísticos na Folha de S. Paulo. José Marques de Melo (organiza- dor). Comunicação jornalística e editorial. Série Pesquisa, São Paulo, IPCJE/ECA/USP (1): 51-59, 1987. A carta é a única participação do leitor nos jornais.
180
COELHO, Marco Flávio Simões. Comentário. Gêneros jornalísticos na Folha de S. Paulo. José Marques de Melo (organizador). Co- municação jornalística e editorial. Série Pesquisa, São Paulo, IPCJE/ECA/USP (1): 61-65, 1987. As características que diferenciam o comentário de outros gê- neros jornalísticos.
GOMES, Pedro Gilberto. Artigo. Gêneros jornalísticos na Folha de S. Paulo. José Marques de Melo (organizador). Comunicação jornalística e editorial. Série Pesquisa, São Paulo, IPCJE/ECA/ /USP (1): 13-25, 1987. Análise e descrição do gênero que expressa a opinião de perso- nalidades representativas da sociedade civil.
GUARACIABA, Andréa. Crônica. Gêneros jornalísticos na Folha de S. Paulo.' José Marques de Melo (organizador). Comunicação jornalística e editorial. Série Pesquisa, São Paulo, IPCJE/ECA/ /USP (1): 67-74, 1987. A crônica enquanto gênero jornalístico opinativo e a importân- cia da identidade do autor.
MEDINA, Cremilda. Entrevista. Gêneros jornalísticos na Folha de S. Paulo. José Marques de Melo (organizador). Comunicação jornalística e editorial. Série Pesquisa, São Paulo, IPCJE/ECA/ /USP (1): 83-90, 1987. O papel da entrevista na instituição jornalística e seu vínculo com o gênero informativo.
MEDITSH, Eduardo, BRAGANÇA, Aníbal. A questão curricular: do impasse à reinvenção. Ensino de Comunicação no Brasil: Im- passes e desafios. José Marques de Melo (organizador). Co- municação jornalística e editorial. Série Ensino, São Paulo, IPCJE/ECA/USP (2): 17-37, 1987. Análise crítica do currículo de comunicação no Brasil; o proble- ma da prática versus teoria.
MELO, José Marques de. Introdução. Gêneros jornalísticos na Fo- lha de S. Paulo. José Marques de Melo (organizador). Comuni- cação jornalística e editorial. Série Pesquisa, São Paulo, IPCJE/ /ECA/USP (1): 5-10, 1987. Descrição do estudo proposto por Marques de Melo, cujo obje- tivo consiste na busca de uma metodologia de ensino capaz de apreender as peculiaridades do campo da comunicação social.
MELO, José Marques de. Introdução. Ensino de comunicação no Brasil: Impasses e desafios. José Marques de Melo (organiza- dor). Comunicação jornalística e editorial. Série Ensino. São Paulo, IPCJE/ECA/USP (2): 5-12, 1987. O autor tem trabalhado para que os cursos de jornalismo encon- trem sua identidade.
181
NETO, Heitor da Silveira, ARAÜJO, Sílvia Pereira de. Teoria e prá- tica no ensino de comunicação: A didática e a questão do poder. Ensino de comunicação no Brasil: Impasses e desafios. José Marques de Melo (organizador). Comunicação jornalística e editorial. Série Ensino, São Paulo, IPCJE/ECA/USP (2): 39-49, 1987. Discussão e critica do ensino na ECA. As diferentes posturas pe- dagógicas e a falta de integração dos cursos.
SILVA, Rafael Souza. Caricatura. Gêneros jornalísticos na Folha de S. Paulo. José Marques de Mello (organizador). Comunica- ção jornalística e Editorial. Série Pesquisa, São Paulo, IPCJE/ /ECA/USP (1): 37-44, 1987. Gênero jornalístico opínatívo com característica de critica social.
Violência
WALTY, Ivete Iara Camargos. Violência: um caso de polícia? Ge- raes — Revista de Comunicação Social, Belo Horizonte, PAFICH/ /UFMG, Sind. Jorn. Prof./MG, (46): 20-25, junho 1987. Resultado de pesquisa sobre os limites das classificações dos tex- tos jornalísticos.
JORNALISMO CIENTÍFICO
COM o Pré-pauta, a USP fala aos jornalistas. Imprensa Brasileira (edição comemorativa): 8, São Paulo, setembro 1987. Função do Pré-pauta, que atende à demanda dos jornalistas na obtenção de novas fontes de informação e divulga a produção cientifica da universidade.
GLOBO ciência: No ar, o jornalismo científico. Imprensa Brasileira (edição comemorativa): 4, São Paulo, setembro 1987. As características e a evolução do programa de jornalismo cien- tífico da Globo.
JOSÉ REIS, patrono do jornalismo cientifico brasileiro. Imprensa Brasileira (edição comemorativa): 3, São Paulo, setembro 1987. O autor faz a divulgação científica nos jornais há quarenta anos. Trata tanto de temas biológicos quanto dos sociais.
O JORNALISMO científico ainda está esperando a sua vez. Impren- sa Brasileira (edição comemorativa): 2, São Paulo, setembro 1987. Segundo pesquisa do Gallup, 70% da população adulta brasileira reclama por mais noticias sobre novas descobertas cientificas e tecnológicas.
UM CANAL de comunicação com a opinião pública. Imprensa Bra- sileira (edição comemorativa): 6, São Paulo, setembro 1987.
182
As origens do jornalismo cientifico e a difícil relação cientista -jornalista.
JORNALISTA
ARAÚJO Hudson de. Stress em jornalistas. Geraes — Revista de Comunicação Sociaí, Belo Horizonte, FAFICH/UFMG, Sind. Jorn. Prof./MG, (46): 13-15, junho 1987. Definição do conceito de stress e as situações onde ele ocorre na profissão de jornalista.
MESA-Redonda. Jornalista e sociedade: onde fica a universidade? Geraes — Revista de Comunicação Social. Belo Horizonte, FAFICH/UFMG, Sind. Jorn. Prof./MG, (46): 31-40, junho 1987. Reflexão sobre o papel da universidade na formação do jorna- lista.
PESQUISA EM COMUNICAÇÃO
BRIOSCHI Lucila Reis, TRIGO, Maria Helena Bueno. Relatos de vida em ciências sociais: considerações metodológicas. Ciência e Cultura. São Paulo, SBPC, volume 39 (7): 631-637, julho 1987. Discussão de pressupostos metodológicos que fundamentam a pesquisa qualitativa em ciências sociais.
RADIO. Começa a funcionar o Instituto de Verificação de Audiência (IVA). ABERT, São Paulo, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, (24): 6-8, julho 1987. O IVA — entidade mantida por um pool de empresas de rádio — tem gerado reações contrárias principalmente por parte do IBOPE.
AVALIAÇÃO ABA. As perspectivas da propaganda para 88. Meio e Mensagem, São Paulo, Ano IX (287): 11, 14-12-87. Planejamos em curto prazo, buscando melhores resultados.
CASEIRO, Lucélia. Um novo alento. ABERT, São Paulo, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, (30): 12-13, março de 1987. Contestada pela incoerência, a legislação sobre propaganda parti- dária gratuita está sendo revista pelo Congresso Nacional.
COMUNICAÇÃO Dirigida. Expectativa de crescimento para o setor. Aíeio e Mensagem, São Paulo, Ano IX (287): 17, 14 de dezembro de 1987. O marketing rumo a maior segmentação e regionalização.
PINHO, J. B. Comunicação em Marketing: íipos, íécnicas e princí- pios. Campinas, Papirus, 1988 (196 pp.).
183
A partir da premissa de que o marketing moderno exige que toda empresa desenvolva programas eficientes de comunicação e pro- moção, analisa os instrumentos de comunicação mercadológica.
RÁDIO
ABERT na Constituinte. Revista ABERT, São Paulo (22): 8-17, maio 1987. As diversas opiniões que se tem da mídia e a análise de suas tendências.
ABERT, VII Seminário Técnico da. Revista ABERT. São Paulo: (27): 32-40, novembro 1987. Estudo da nova geração de receptores.
ABERT 25 anos. Revista ABERT. São Paulo: (27): 8-12, novembro 1987. Ameaça de estatização da radiodifusão reunindo empresários em associação nacional.
AMIRT, Seminário da. Revista ABERT. São Paulo: (27): 20-23, no- vembro 1987. Realizou-se em Contagem um seminário para discutir a radiodi- fusão.
DELFIM, Denise B. Sonho em UHF. Revista ABER, São Paulo: (27): 29-30, novembro 1987. O primeiro canal de UHF de São Paulo concedido à Abril-Video levará 18 meses para operar.
DELFIM, Denise B. Sonho em UHF. Revista ABERT, São Paulo: (27): (23): 26-28, junho de 1987. Dificuldades dos pequenos veículos de comunicação no setor de radiodifusão e a importância da livre iniciativa.
LOPES, Maria Immacolata V. O rádio dos pobres; comunicação de massa, ideologia e marginalidade social. São Paulo, Ed. Loyola, Coleção Educação Popular, n9 9, 198 (195 pp.). Reconhecendo a penetração popular dos discursos radiofônicos, coloca a necessidade de compreender que relação se estabelece entre o povo e os comunicadores, de compreender em nome de quem se fala, o que se transmite e a forma como o fazem.
ORTRIWANO, Gisla Swetlana. O jornalismo e as tendências do rádio contemporâneo. Cadernos de Jornalismo e Editoração. São Pau- lo, Com/Arte/ECA/USP, (20): 33-44. Descrição das principais tendências do rádio atual.
QUEIROZ, Regina. Impactos da crise. Revista ABERT, São Paulo, (23): 10-12, junho 1987. Problemas enfrentados pela radiodifusão em decorrência da cri- se da Nova República.
184
RADIO, o teatro da mente. Revista ABERT, São Paulo, (22): 22-23, maio 1987. Definição de radiodifusão e análise do seu desenvolvimento a partir de sua criação.
SUELY, Ana. Mais informações nas novas emissoras FM. O Berro, Recife, Ano V (17): 3, outubro/setembro 1987. Como surgiram as concessões de rádio FM em Recife abertas pelo Governo Federal.
RELAÇÕES PUBLICAS
AGUIAR, Edson Schettine. Vinte anos até hoje. O Público, São Pau- lo, ABRP, Ano IX (33): abril/maio 1988. Histórico da implantação dos cursos até a regulamentação da profissão de relações públicas. Traça perspectivas e funções atuais de R.P.
ESCUDERO, Regina Célia. Relações Públicas comunitárias. Comu- nicação e Sociedade, São Paulo, IMS/Edições Liberdade, Ano VII (15): 145-163, novembro 1987. R.P. e a possibilidade de nova práxis a serviço das classes popu- lares. Corpus teórico/estudo, ação/discussão sobre a prática em comunidade periférica de Londrina.
FONTANA, Mônica. Por um teatro popular. Micro-Meio. Recife. UFPE/Depart. Com. Social. (6): 19-22, junho 1987. Avaliação sobre o distanciamento do teatro e o povo. Descrição dos projetos para teatro infantil.
TELECOMUNICAÇÃO
QUEIROZ, Regina. Monopólio rompido. Revista ABERT, São Pau- lo: (28): 6-9, dezembro 1987. A Pan American Satellite obteve autorização para lançar o sa- télite de comunicações Simon Bolivar.
TELEVISÃO
BALTAZAR, Jelcy Maria. Os Flintstones: estereótipos da relação familiar. Comunicação e Sociedade, São Paulo, IMS/Edições Liberdade, Ano VII (15): 165-168, novembro 1987. Análise da estrutura familiar: marido/mulher: interação em cho- que, pai/filho: elementos que divergem entre si. Familia con- servadora e autoritária onde as crianças/filhos são apenas "fi- gurações", i
185
BOLAfíO, César Ricardo Siqueira. Mercado Brasileiro de Televisão. Aracaju, UFS/PROEX/CECAC, Projeto Editorial 1988 (173). Análise econômica do sistema comercial brasileiro de televisão: referencial teórico, termos gerais da concorrência em TV, dinâ- mica do mercado brasileiro, perspectivas para a década de 80.
CRUZ, Terezinha Maria de Carvalho. U povo (está) na TV? Geraes — Revista de Comunicação Social, Belo Horizonte, PAPICH/ /UFMG, Sind. Jorn. Prof./MG, (46): 15-20, junho 1987. Análise do poder de intervenção do público de auditório na ela- boração da mensagem televisiva no momento de sua emissão.
DELMANTO, Renato. Assinada a TV por assinatura. ABERT, São Paulo, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, (30): 6-9, março 1987. Descrição da técnica e do projeto presidencial e suas conseqüên- cias para a TV e o público em geral.
NETTO, Dermeval Coutinho. A recepção alternativa da TV brasilei- ra. Geraes — Revista de Comunicação Social, Belo Horizonte, FAFICH/UFMG, Sind. Jorn. Prof./MG, (46): 43-45, junho 1987. Análise da "TV Olho" da cidade de Caxias que produz programas sobre a comunidade e para a comunidade.
PIRATARIA. Em andamento o projeto de codificação do sinal da Globo. ABERT, São Paulo, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, (24): 8, julho 1987. Análise do projeto de codificação do sinal de satélite da Rede Globo.
ROSE, David. Entrevista. Revista ABERT. São Paulo: (28): 23-25, dezembro 1987. A inovação no conceito de TV na Inglaterra: a associação da TV e cinema gerando lucros para ambos.
VICTOR, Adriana. Mudanças à vista? MicroMeio, Recife, UFPE/Dept. Com. Social. (6): 2-3, junho 1987. Administração da TV tropical procura investir no jornalismo e criar programação local.
LINDLAU, Dagobert. A perda da realidade da televisão e seus críti- cos: uma revisão da razão jornalística. Cadernos de Jornalismo e Editoração. São Paulo, Com/Arte/ECA/USP, (20): 65-83. A manipulação da notícia, razões para a perda da realidade.
REZENDE, Guilherme Jorge de. Telejornalismo como espetáculo. Cadernos de Jornalismo e Editoração. São Paulo, Com/Arte/ECA/ /USP, (20): 45-63. Análise do objetivo de programa telejornalístico.
186
TEORIA DA COMUNICAÇÃO
BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo, Brasiliense, 1988 (376 pp.). Dividido em sete grandes temas, analisa escritores como Dante, Stendhal, em função da importância do ato de escrever e o pra- zer da leitura.
HALLIDAY, Tereza Lúcia (org.) Atos retóricos: mensagens estraté- gicas de políticos e igrejas, São Paulo, Summus, Novas Buscas de Comunicação, n9 27, 1988. Os autores combinaram suas experiências nas áreas de jornalis- mo político, literatura, teologia, história, comunicação, com a técnica de Análise Retórica para caracterização de mensagens públicas.
VÍDEO
A PELEJA do povo contra as elites. Boletim Vídeo Popular, São Paulo, Ano III (9): 3, ago./setembro 1987. Rompendo com a noção tradicional da ficção produzida em seis montados, o filme-vídeo trabalha em cima de situações cotidianas.
CURSO de vídeo na área popular. Boletim Vídeo Popular, São Pau- lo: Ano III (9): 2 ago./setembro 1987. O Instituto Cajamar e a ABVMP estão organizando um curso de desenvolvimento das potencialidades de grupos/pessoas/entidades que já trabalham na área popular.
FILLER, Ary. Sobre o Videobrasil e um pouco mais além. Bole- tim Vídeo Popular, São Paulo, Ano III: 4, ago./setembro 1987. Análise e crítica do 5? VídeobrasiZ organizado pela Fotóptica e apoio do Museu da Imagem e do Som.
GRUPO Audiovisual de Teresina. De Teixeira de Freitas direta- mente para ... o Piauí! Boletim Vídeo Popular, São Paulo, Ano III (9): 5, ago./setembro 1987. Descrição deste grupo de trabalho em vídeo e seus projetos.
IV ENCONTRO Nacional da Associação. Boletim Vídeo Popular, São Paulo, Ano III (9): I, ago./setembro 1987. Tema: A conjuntura nacional e seus desdobramentos sobre a educação e a comunicação popular.
ACESSO AOS DOCUMENTOS DESTA BIBLIOGRAFIA
Todo material aqui repertoriado encontra-se à disposição dos inte- ressados na Biblioteca da Escola de Comunicações e Artes/USP, Cidade Universitária, CEP 05508, SP. Tel. 210-2122 - ramal 692.
187
Publicações Integrantes da Rede Iberoamericana de Revistas de Comunicação e Cultura
DIA-LOGOS de Ia Comunicación é uma publicação semestral da Federacion Latinoamericana de Asociaciones de Facultades de
Comunicación Social (FELAFACS).
Correspondência: DIA-LOGOS de Ia Comunicación
Apartado Postal 18-0371 Lima 18 PERU
INTERCOM - Revista Brasileira de Comunicação é uma publicação semestral da Sociedade Brasileira de Estudos
Interdisciplinares da Comunicação — INTERCOM — com apoio do Programa MCT CNPq/FINEP.
INTERCOM Correspondência:
- Revista Brasileira de Comunicação Caixa Postal 20.793
01498-São Paulo, SP BRASIL
Estúdios sobre Ias CULTURAS CONTEMPORÂNEAS é uma publicação quadrimestral do Programa Cultura - CUIS - com o
apoio da Universidade de Colima, México.
r> Btixlk» sobre Ias 06 CULTURAS
CONTEMPORÂNEAS vriuroml; mayixltlQfl? /:
Correspondência: Programa Cultura - CUIS
Apartado Postal 294 Colima 28000
MÉXICO
Cadernos de Difusão e Tecnologia é uma publicação quadrimestral do Departamento de Difusão e Tecnologia (DDT) da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).
Correspondência: EMBRAPA/DDT
SCS, Quadra 8, Bloco B, n9 60 Supercenter Venâncio, 2000 4- andar, sala 440
70333 - Brasília, DF BRASIL
Comunicação & Sociedade é uma publicação semestral editada pelo mestrado em Comunicação Social do Instituto Metodista de
Ensino Superior.
Correspondência: Curso de Pós-Graduação em Comunicação Social
Revista Comunicação & Sociedade Rua do Sacramento, 230 - Rudge Ramos
09720 - São Bernardo do Campo, SP BRASIL
Revista CHASQUI é uma publicação do Centro Internacional de Estúdios Superiores de Comunicación - CIESPAL - com o apoio da
Fundação Friedrich Ebert e do Banco Central do Equador.
Chasqui
Correspondência; Revista CHASQUI Apartado Postal 584
Quito EQUADOR
Cadernos de Jornalismo e Editoração é uma publicação do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo
«ÜEBNOS oi jom«iiSMo I IDltOWCJO
JORNALISMO j ELETRÔNICO E ENSINO
Correspondência: Cadernos de Jornalismo e Editoração
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 bloco A Cidade Universitária - Butantã
05508 - São Paulo, SP BRASIL
ANÀLISI Quadems de Comunicació i Cultura é uma publicação semestral do Departament de Teoria de Ia Comunició da Facultat de
Ciènces de Ia Informacio, Universitat Autônoma de Barcelona.
íSPíCISS Ií MB:: ■.?.:"'
10/11
Correspondência Servei de Publicacions de Ia
Universitat Autônoma de Barcelona Bellaterra - Barcelona
ESPANYA
Revista Comunicações e Artes é uma publicação quadrimestral da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.
Correspondência Revista Comunicações c Artes
Caixa Postal 8.191 05508 - São Paulo, SP
BRASIL
INTERCOM — REVISTA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO
Originalmente denominada BOLETIM INTERCOM, esta publicação periódica firmou-se na comunidade acadêmica brasileira como canal de debate das questões político-culturais e científico-pedagógicas de interesse dos pesquisadores que atuam na área de comunicação so- cial. Trata-se de uma revista científica ágil, vibrante e atualizada, que circula em todo o território nacional e está sintonizada com as tendências internacionais dos estudos científicos sobre comunicação e cultura.
N. 0 a 34 — Edições esgotadas (março/78 a dezembro/81) N. 35 — A pequena Elis e sua grande obra (1982) N. 36 — CFE: soluções equivocadas para o ensino de comunicação
(1982) N. 37 — Figueiredo na Globo (1982) N. 38 — Televisão, futebol e controle social (1982) N. 39 — O império do silêncio (1982) N. 40 — A derrota da farsa (1982) N. 41 — Rádio e revolução em El Salvador (1983) N. 42/43 — Meios de comunicação e novos governadores: um iní-
cio tenso (1983) N. 44 — Marx, Bolívar e a comunicação (1983) N. 45 — Novas tecnologias de comunicação (1983) N. 46 — Campanha pelas diretas: a conspiração do silêncio (1984) N. 47 — Censura (1984) N. 48 — Sociedade digital (1984) N. 49/50 — Estado, sociedade civil e meios de comunicação (1984) N. 51 — O mercado da cultura (1984) N. 52 — O povo entre a vida e a morte de Tancredo Neves (1985) N. 53 — Enzensberger: poder e estética televisiva (1985) N. 54 — Comunicação na Selva Amazônica (1986) N. 55 — Comunicação e Desenvolvimento (1986) N. 56 — A crônica como gênero jornalístico na imprensa luso-bra-
sileira e hispano-americana: contrastes e confrontos (1987) N. 57 — Democracia, Comunicação e Cultura (1987).
N. 57 — Democracia, Comunicação e Cultura (1987). N. 58 — INTERCOM, 10 anos (1988). N. 59 — Comunicação Rural (1988).
Pedidos e assinaturas para INTERCOM: Caixa Postal 20793 CEP 01498 — São Paulo
INTERCOM 88 XI CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA COMUNICAÇÃO
Evento Principal:
XI CICLO DE ESTUDOS
WTERDISCIPUHARES DA COMUNICAÇÃO
Tema:
COMUNICAÇÃO RURAL
Eventos Paralelos: Sessões de comunicações sobre ^squisa na área
Comunicação Social
III Sinvósio Brasileiro de Divulgação Científica
II Encontro Brasileiro de Editoração Eletrônica
II Simpósio Brasileiro de Metodologia da Pesquisa
em Comunicação Social
I Simpósio Brasileiro de RR PP
Simpósio Interdisciplinar de Comunicação e
Admirust ração fiural
Mesa Redonda Comunicação e Política: as propostas
comunica ciofiais do governo mineiro
I Encontro Brasileiro de Radiodifusão
Promoção
Intercom - Sociedade Brasileira de Estudos
Interdisciplinares da Comunicação
EMATER MG - Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural de Mnas Gerais
Data De 02 a 07 de setembro de 1986
local:
Universidade Federal de Viçosa
Conselho de Extensão e Departamento de
Economia Rural
Inlormações e Inscrições
Intercom - Sociedade Brasileira de Estudos
Interdisaplmates da Comunicação
Av. Prol Luao Marins Rodrigues.-MS
Cidade Universitária - Butanta ■ Tel, 210-?122 R. 67C
Universidade Federal de Viçosa
Conselho de Extensão
CEP 3&570 ■ Viçosa ■ Mmas Gerais
Tel. (031) 8S1-1894/899-2156