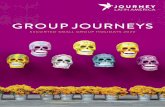The politics of regional integration in Latin America
Transcript of The politics of regional integration in Latin America
APOIO:
2A N O I
Rio de JaneiroNovembro 2010
ARTIGOS
“Causa Malvinas”, diplomacia y guer-ra. Una mirada de la historia a la luz de contribuciones recientes`Vicente Palermo
Instituições Políticas Domésticas e aPolítica Externa do Brasil e do MéxicoOctavio Amorim NetoJorge A. S chiavon
Esperando Godot? O Brasil e a Chinaalém da crise internacionalDiego S antos Vieira de Jesus
Brasil, Irã e a paz no Oriente Médio.Marcel Fortuna Biato
2 |
7 |
24 |
A nova União Européia do Tratado deLisboaRaquel Patrício
30 |
36 |
Global Governance - Brazilian Viewsfrom Cardoso to LulaTatiana Coutto
43 |
Mercosul Cultural: desafios e perspec-tivas de uma política culturalMônica Leite Lessa
50 |
ISSN 2177-7314
Mural Internacional é a revista eletrônica semestral do Programa dePós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade doEstado do Rio de Janeiro. Seu objetivo é debater temas relevantes dasRelações Internacionais em como a política internacional, políticasexternas, economia política internacional, processos de integraçãoregional, instituições internacionais, processos migratórios interna-cionais, relações culturais internacionais, discussões teóricas e/oumetodológicas e temas da atualidade de terminados países ou regiões.
As opiniões expressas nos artigos são de responsabilidade de seus respectivos autores.
Seu download é gratuito, a partir do site www.ppgri.uerj.br.© Todos os direitos são reservados ao PPGRI/UERJ.
Visite o site www.ppgri.uerj.br, em Publicações, aonde há mais informações sobrea revista e sobre suas normas para publicação.
Editora - Mônica Leite LessaEditora Adjunto - Miriam Gomes SaraivaAssistente de Editoração - Sandra Dutra e SilvaProjeto Gráfico e Webdesign - Alessandra Herrero | Conecte Estúdio Design
Comitê Científico:Alexis Toríbio DantasAntonio Carlos PeixotoCláudio de Carvalho SilveiraErica Simone Almeida ResendeHugo Rogelio SuppoLená Medeiros de MenezesWilliams da Silva Gonçalves
Correspondência:Programa de Pós-Graduação em Relações InternacionaisInstituto de Filosofia e Ciências SociaisUniversidade do Estado do Rio de JaneiroRua São Francisco Xavier, 524, 9º Andar, bloco F, sala 9037Rio de Janeiro RJ Cep 22071-030 BrasilTel. 55 21 2334-0678 / 55 21 9606-5754
[email protected] • [email protected]
Dabène, Olivier (2009) ´The politics ofregional integration in Latin America:theoretical and comparative explo-rations. New York: PalgraveMacmillan, xxviii + 259 p.Clarissa Dri
59 |
Cienfuegos, Manuel; Sanahuja, JoséAntonio (ed.) (2010) Una región enconstrucción: UNASUR y la intergra-ción en América del Sur. Barcelona:Fundació CIDOB, 422 p.S amuel da S i lva Rezende
61 |
RESENHAS
REALIZAÇÃO:
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
2
O Acordo de Teerã: uma proposta ingênua?
Avisita do Presidente Lula a Teerã, em maiode 2010, foi um marco na história diplomáti-ca brasileira. Como resultado de audacioso
esforço negociador, foi possível fazer o aparente-mente impossível: levar o Irã a retornar à mesa denegociações com a comunidade internacional emtorno de seu programa nuclear. Pelo Acordo de Teerãde 17 de maio, o governo do PresidenteAhmadinejad aceitou fazer concessões rechaçadasmeses antes em conversações com os EUA, França eRússia - o chamado Grupo de Viena. Esse gestoajuda a afastar suspeitas de que as autoridades emTeerã pudessem estar burlando seus compromissosem matéria de não-proliferação ao desenvolver pro-grama secreto de armas nucleares. O chamadoAcordo de Teerã representou um primeiro passo pararestaurar o diálogo, afastando a hipótese de um imi-nente agravamento das tensões na região. Afinal,não faltavam rumores – alimentados por Washington– de que Israel pudesse sentir-se tentado a lançar ata-que preventivo contra as instalações nucleares ira-nianas, com conseqüências imprevisíveis para a pazregional e a estabilidade internacional.
Explica-se assim a surpresa e frustração que seseguiu ao anúncio pelos EUA - nas horas seguintes àconclusão do Acordo - de que já obtivera apoio juntoaos membros permanentes do Conselho deSegurança para a imposição de uma nova – a quarta– rodada de sanções contra o regime dos ayatolás.Na avaliação norte-americana, o êxito dessa estraté-gia requeria que a comunidade internacional se apre-sentasse com voz única e uníssona. A adoção noConselho de Segurança por unanimidade das san-ções deixaria claro para Teerã o elevado custo de suainsubordinação. Alguns comentaristas, animadospela fragilização política do governo Ahmadinejadapós as contestadas eleições iranianas de 2009, che-garam a sugerir que essa pressão poderia mesmoacelerar uma “mudança de regime” em Teerã. Numalógica remanescente da Guerra Fria, imaginam quese poderia assim ajudar a insuflar uma iminenterevolta popular contra as crescentes dificuldades eprivações impostas pelo bloqueio econômico ecomercial determinado pelo Conselho de Segurança.
Afinal, perguntam-se muitos críticos de Teerã, have-ria motivos para confiar em regime que escondeuseu programa de enriquecimento? Já no Irã, pergun-tam-se: como negociar com países que buscam portodos os artifícios impedir o Irã de enriquecer urânioe, portanto, desenvolver uma indústria nuclear autô-noma? Na verdade, o prioritário é saber como evitar
Brasil, Irã e a paz no Oriente MédioMarcel Fortuna Biato1
1. Assessoria Especial de Política Externa da Presidência da República.
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
3
uma escalada das ameaças recí-procas que a ninguém interessa.Como dar ao Irã – e à AgênciaInternacional de Energia Atômica(AIEA) - uma oportunidade deprovar um ao outro que merecemconfiança? O acordo que o Brasil,juntamente com a Turquia, patro-cinaram não é a solução para oconflito no Oriente Médio, nemmesmo para as desavenças entre oIrã e a AIEA. O objetivo doAcordo de 17 de maio foi tãosomente restabelecer as condiçõespara a retomada das negociações.Isto é, moldar um clima de boa fémínima capaz de evitar que a con-frontação e a intimação sejam aúnica moeda de troca nessa nego-ciação. As concessões mútuaspropostas – o Irã aceitaria transfe-rir para fora de seu território oenriquecimento do urânio e aAIEA concordaria em fazê-lo naTurquia (e não na França ouRússia como originalmente preten-dido) – criará a moldura para ambosos lados fiscalizarem-se mutuamen-te. Não é garantia de paz, mas asse-gura o diálogo em torno das verda-deiras questões que condicionamuma duradoura solução para o con-flito no Oriente Médio.
Os setores mais conservadoresnos EUA e na Europa não hesita-ram em insinuar publicamenteque a iniciativa de Brasil eTurquia, mesmo se motivada porboa fé, era ingênua. Serviria naprática aos propósitos iranianosde postergar indefinidamente umacerto de contas com a AIEA.Dar-se-ia assim tempo a Teerãpara ultimar uma suposta bombasecreta e criar um fato consumado
irreversível no tabuleiro estratégi-co do Oriente Médio. Brasília eAncara estariam assim encorajan-do o Irã a burlar o regime de não-proliferação e fortalecendo a mãodos setores linha-dura dentro daGuarda Revolucionária iraniana.
Essas alegações não se sustentam.O Governo brasileiro tem sidoenfático, inclusive durante a visitado Presidente iraniano a Brasíliaem 2009, em condenar o descum-primento pelo Irã de suas obriga-ções no âmbito do Tratado deNão-Proliferação (TNP). O Brasiltem consistentemente expressadosua preocupação com a falta detransparência de Teerã em suastratativas com a AIEA e, maisrecentemente, com o anúncio deque estaria agora enriquecendourânio a 20% (necessário paraproduzir isótopos para uso médi-co, mas também mais próximodos 90% necessários para produ-zir material físsil para empregoem armas nucleares). O Brasilcontinuará, no entanto, a defendero direito do Irã de desenvolverenergia nuclear para fins pacíficosdesde que esclareça as pendênciasque mantém com a AIEA.
Sanções: a diplomacia da coerção
Na verdade, o pomo da discórdiareside alhures. O anúncio das san-ções referendou a preferência dosEUA por uma política de força ecoerção, lastrada no princípio,anunciado pela Secretária deEstado, Hillary Clinton, durantesua visita semanas antes aBrasília, de que o “Irã só negocia-ria em boa fé se estiver sob pres-
são”. Em que pesem declaraçõesantes e depois do Acordo deTeerã, de que apreciavam o esfor-ço brasileiro-turco e que encoraja-vam os dois países a continuaremseus bons ofícios, ficava claro queWashington – secundado poroutras capitais européias – aposta-va numa estratégia de constrangi-mento e isolamento. O Brasil, emcontraste, sempre questionou aeficácia de sanções como meio deencorajar diálogo e de construirconsenso. Experiências passadas– o exemplo do embargo a Cuba éeloqüente – sugerem que “empur-rar o Irã contra a parede”, naspalavras do Presidente Lula, serácontraproducente. Isto valemesmo para as sanções “inteli-gentes”, ou seja, que supostamen-te incidem exclusivamente sobre aliderança do regime e seus interes-ses financeiros. Por questionar aeficácia dessa estratégia, o Brasilvotou - pela primeira vez - contrauma resolução do Conselho deSegurança, não se limitando a abs-ter-se como em outras ocasiões.Reforça a convicção de que a atualrodada de sanções será tão ineficazquanto as anteriores o fato de querussos e chineses se empenharam –com êxito - em “aguar” as medidasaprovadas no Conselho, preservan-do assim seus interesses comerciaisestratégicos no Irã. Certo é que - sealguém vier a sofrer como resulta-do das restrições - serão os setoresmais carentes e vulneráveis dapopulação iraniana.
O verdadeiro risco das sanções éde transformarem-se em uma pro-fecia autocumprida: a necessidadede mostrar resultados gera a tenta-
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
4
ção de continuar aumentando asapostas muito além de qualquerexpectativa realista de êxito. Apolítica de sanções adotada contrao regime de Saddam Hussein eseu papel decisivo em empurrar aspartes rumo à guerra em2002/2003 oferecem uma liçãoacautelatória. Vale recordar queem 2002, meses antes, portanto,da invasão norte-americana, rela-tório das Nações Unidas denun-ciava a morte anual de 500 milcrianças no Iraque em decorrênciado caos criado pelo embargo: mánutrição e falta de medicamentosbásicos. A Washington não resta-va senão opções adversas.Suspender as sanções seria umaderrota política. Intensificá-lasimplicaria aumentar o desastrehumanitário. Não estranha queWashington não tenha resistido àtentação de resolver seu dilemainvadindo Bagdá.
A experiência brasileira
Àqueles que argumentam que o Irãestá simplesmente ganhando tempopara fazer avançar seu programamilitar secreto, vale recordar asambições nucleares do Brasil nopassado. Um acordo bilateral assi-nado em 1983 sobre monitoramen-to recíproco de materiais nuclearesfoi decisivo para esvaziar a rivali-dade nuclear com a vizinhaArgentina. Não apenas permitiu avigência do Tratado de Tlatelolcode 1968, que declarava a AméricaLatina uma zona livre de armasnucleares, mas ainda abriu caminhopara um projeto ambicioso de inte-gração econômica abarcando toda aAmérica do Sul. A experiência bra-
sileira em matéria de transição polí-tica e de superação da tentação dasarmas nucleares recomenda, sobre-tudo, perseverança e prudência.
Esta é uma estratégia indispensá-vel quando tratando com umanação vasta e complexa como oIrã. Imbuído de forte consciênciade seu rico passado persa, Teerãcultiva suas legítimas aspirações acontribuir para moldar o destinode uma região onde se entrecho-cam as principais placas tectôni-cas do tabuleiro político planetá-rio. Assim como o Brasil à época,o Irã vê-se hoje impelido por umalógica perversa que combina des-confiança e suspeita típicas deuma vizinhança imersa em atmos-fera de profunda insegurança.Explicam-se assim os excessosretóricos de Teerã, como quandoameaça aniquilar Israel, e a lin-guagem igualmente agressiva deTel Aviv sobre um eventual revidenuclear. O Irã está rodeado depotências na maioria hostis enuclearmente armadas. Isto ajudaa explicar – embora não justifique– a estratégia de guerra assimétri-ca que leva os ayatolás a mantervínculos com organizações acusa-das de atividades terroristas.Também como o Brasil dos anos70, o Irã é uma sociedade vibran-te e dinâmica que tateia rumo àmodernidade em meio às contra-dições da plenitude democrática.
Sob este ponto de vista, o Irã nãorepresenta um problema nem umaameaça. Constitui, sim, compo-nente indispensável de qualquersolução duradoura para as desa-venças no Oriente Médio. Na ver-
dade, o Irã e o desafio da paz sãoinseparáveis. O impasse em quese encontram as negociaçõessobre a política nuclear de Teerãfaz recordar as prolongadas trata-tivas entre israelenses e palesti-nos. De que servem esses esforçosquando os elementos essenciaisde um acordo são sobejamenteconhecidos, mas não são postosem prática? Foi com o intuito decontribuir para reorientar proces-so que claramente perdera seuprumo que o Brasil engajou-se naCúpula de Annapolis de 2008 sobreo futuro da Palestina. Atendendo aum pedido das autoridades emRamalá, o Brasil entendeu – e con-tinua a entender – que não se supe-rará a dinâmica viciada desse diálo-go sem a participação de atores quetragam à mesa não apenas novasidéias, mas, sobretudo renovadacredibilidade.
É com igual espírito que o Brasilaliou-se à Turquia para propor oAcordo de Teerã. O resultado éuma janela de oportunidade parafazer a racionalidade prevalecer.Foi convocada para as próximassemanas uma série de reuniõesentre o Irã e o Grupo de Vienapara buscar viabilizar os termosdo acordo. O Brasil espera quesejam esclarecidas as pendênciasmútuas, pois não haverá paz noOriente Médio – ou em qualqueroutra parte – se isolarmos algunspaíses. Foi com essa convicçãoque, em 2009, o Brasil recebeu avisita de alguns dos principaisatores no conflito do OrienteMédio: os Presidentes do Irã, deIsrael e da Autoridade Palestina.Em contrapartida, viajou já este
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
5
ano a Israel, Jordânia e Palestina.Em todos esses encontros e atodos os interlocutores levou umamesma mensagem. O engajamen-to do Brasil no Oriente Médio temmuito pouco a ver com a tradicio-nal política das grandes potências.Afinal, o país é auto-suficiente empetróleo – principal atrativo daregião – e não possui interesses ouvulnerabilidades estratégicas lá.Seu envolvimento se explica porforça de um sentido de obrigaçãoem ajudar a promover a paz eprosperidade no Oriente Médio. Ofaz, em parte, por conta do exem-plo dos 15 milhões de brasileirosde ascendência judia e árabe. Seaqui vivem em paz, construindojunto o futuro deste país, porquenão haveria esses povos irmãos defazê-lo também em seu lar ances-tral? Porque a paz no OrienteMédio parece tão distante? Quedevemos dizer às famílias queesperam a gerações por condiçõesde vida dignas e aos jovens queencaram um futuro sem esperan-ças ou perspectivas? Como pedir-lhes mais paciência quando inú-meras resoluções das NaçõesUnidas sobre a região permane-cem sem execução, ao mesmotempo em que os contornos de umeventual acordo para a criação deum Estado palestino são ampla-mente conhecidos?
Rumo à Governança Global
No entanto, estão em jogo nãoapenas os direitos e aspirações aobem-estar de milhões de cidadãosno Oriente Médio. Ninguém podealegar que a persistência desseconflito não lhes diz respeito,
quando os acontecimentos nessaconflagrada região sabidamenteincidem fortemente sobre a esta-bilidade internacional. Comopoderia o Brasil justificar sua can-didatura a membro permanente doConselho de Segurança dasNações Unidas se não se empe-nhasse pela paz em região sujeitaa potencialmente desastrosa crisepolítica com conseqüências béli-cas imprevisíveis.
A persistência do conflito noOriente Médio, após mais de meioséculo de esforços negociadores,é simbólico de falência ainda maisprofunda e ameaçadora. Não hámotivo para complacência ouindiferença. A verdade é que otempo não está a nosso favor. Masnão apenas no Oriente Médio. Acrise financeira de 2008 e a resul-tante recessão global, em particu-lar, sublinharam algo que já eraóbvio há muito: vivemos em meioa novas e crescentes ameaças glo-bais. Elas variam desde o aqueci-mento climático e a competição porrecursos energéticos e alimentíciosaté o crime transnacional e a vio-lência intra-estatal. Ao mesmotempo, velhos desafios, como apobreza de centenas de milhões aoredor do mundo, pandemias e aameaça de devastação termo-nuclear, continuam a desfiar aconsciência internacional.
O pior é que – como no caso dassanções contra o Irã - são os maispobres que pagam por esses desa-tinos. No que respeita à mudançaclimática, trata-se de fenômenooriginado fundamentalmente nospaíses hoje industrializados. A
crise de alimentos em países emdesenvolvimento, por sua vez,deriva da elevação especulativade cotações de commodities agrí-colas por investidores internacio-nais desejosos de proteger-se dadesvalorização do dólar norte-americano determinada pela polí-tica comercial de Washington. Jáa crise financeira resultante dabusca de maior rentabilidade porparte de acionistas em naçõesricas tocou mais duramente paísespobres sem condições de blindar-se contra a recessão global.
Num momento em que somoscada vez mais interdependentes,pareceria lógico que a comunida-de internacional desenvolvesseformas de coordenação e tomadade decisões mais inclusivas. Noentanto, a despeito de comparti-lharmos desafios globais comuns,não temos sido capazes de forjarum roteiro para ação conjunta.Como distribuir equanimenteesses custos e responsabilidades?Essa é a questão de fundo por trásdo debate sobre a governança glo-bal. A crescente interdependênciaem matéria econômica, ambientale de segurança deveria servir depoderoso estímulo para nações eindivíduos trabalharem de formamais cooperativa. Isto multiplica-ria os benefícios da globalizaçãoe, ao mesmo tempo, minorariasuas conhecias desvantagens. Noentanto, não é o que se vê. Asmesmas forças e correntes libera-das pela globalização ajudam aexacerbar diferenças sociais e dis-crepâncias econômicas pré-exis-tentes entre nações e no seu inte-rior. Como fazer para que diferen-
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
6
ças num mundo interconectadonão sirvam de pretexto para osque se consideram mais fortes oudotados de vantagens comparati-vas se sintam tentados a imporseus interesses unilateralmente?
Seja no âmbito do G-20 financeiro,dos Bric ou mesmo durante aCúpula de Copenhague sobremudanças climáticas, o Brasil temse empenhado na construção decoligações voltadas para moldarum marco institucional de gover-nança global mais equilibrado,transparente e, portanto, eficaz. Foicom esse mesmo espírito que oBrasil se coordenou com a Turquiano dossiê iraniano. Esses dois paí-ses foram motivados não por umacontestação pueril, um ativismoprimário voltado para obstruir asambições das tradicionais potên-cias na região. Pelo contrário, aTurquia é membro da Otan, aliadoestratégico dos EUA e aspirante amembro da União Européia.Motivou-a – assim como ao Brasil– a percepção de que era chegada ahora de atuar mais incisiva e direta-mente no encaminhamento da pazmundial. Àqueles que argumentamque o Brasil deveria concentraresforços nos conflitos na sua pró-pria vizinhança, ao invés de preo-cupar-se com o distante OrienteMédio, a resposta é simples: é oque já se está fazendo com a inicia-tiva da criação da Unasul e amediação brasileira em vários dife-rendos sul-americanos.
Receita da paz: um Oriente Médiodesnuclearizado
O Brasil está convencido de que oprincipal desafio no OrienteMédio não é interromper o pro-
grama nuclear iraniano a qualquerpreço. Afinal, o país tem o direito,consagrado no TNP, de desenvol-ver a energia nuclear para finspacíficos. É legítima, por certo, apreocupação dos EUA e de outrosem coibir a proliferação de artefa-tos nucleares. Isto não será alcan-çado, no entanto, tentando cons-tranger o Irã a desmantelar seuprograma atômico. A preocupanteproliferação que se vê mundial-mente – a começar por Índia,Paquistão e Coréia do Norte – nãoresulta da fragilidade do regimede não-proliferação. A saída nãoestá fundamentalmente em inten-sificar os mecanismos de controlee inibição do emprego de uma tec-nologia de uso dual. Está sim emcriar as condições de segurança econfiança regional que afastem atentação de adquirir instrumentosde dissuasão nucleares.
Este claramente é o caso doOriente Médio. Não parece realistaesperar que o Irã abra mão dopoder dissuasório enquanto Israeldetiver uma capacidade nuclear.Essa realidade foi reconhecidapelos EUA ao tabularem, em edi-ção anterior da Conferência deRevisão do TNP, proposta paradesnuclearizar o Oriente Médio.Essa iniciativa continua sobre amesa. Estariam os atores regionaisdispostos a aderir incondicional-mente a um acordo de desnucleari-zação regional abrangente, semque cada um busque assegurar parasi uma posição de vantagem estra-tégica? O Brasil está convencidode que o Acordo de Teerã pode serpasso decisivo nessa direção.Em 1996, ainda sob o impacto dobrutal assassinato do Primeiro-Ministro Itzak Rabin, o hoje
Presidente de Israel, ShimonPerez, recordou a necessidade deaceitar sacrifícios para alcançaruma paz duradoura. Disse na oca-sião: “A guerra tem um alto custo.A paz também. Mas se quisermoslegar à próxima geração ummundo sem guerras, nossa gera-ção deve passar pelas agonias dapaz e das decisões cruciais”. Esteé o espírito que o Brasil esperaprevalecerá nas tratativas previs-tas para as próximas semanas comrespeito ao Acordo de Teerã.Embora não façam parte doGrupo de Viena, Brasil e Turquiacontinuarão dispostos a colaborar.Esperam assim contribuir parafazer avançar o diálogo abrangen-te em curso entre os P-5 mais aAlemanha e o Irã em torno de umaagenda ampla de paz.
No âmbito dessas negociações, oIrã vem demonstrando disposiçãoem flexibilizar suas posições,sobretudo a insistência em preser-var o direito de enriquecer urânioa 20%. Alguns provavelmenteinterpretarão esse gesto comosinal de fraqueza; prova, portanto,de que as recém-aprovadas san-ções começam a ter o efeito dese-jado. Na visão brasileira, ao con-trário, o gesto de Teerã sinalizaque a busca do diálogo nuncadeve ser abandonada.
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
7
Apolítica externa do Brasil se caracteriza maispela continuidade do que pela ruptura,enquanto que a do México se encontra em
um franco processo de transição, onde a mudança éa norma mais do que a continuidade. As políticasexternas de ambos os países respondem tanto a fato-res de índole internacional como interna. Este artigodescreve e explica comparativamente a forma emque a política interna destes países condiciona demaneira fundamental suas políticas externas.
O artigo está dividido em duas seções. A primeira eprincipal se dedica a elucidar os mecanismos atravésdos quais as variáveis institucionais, políticas e eco-nômicas domésticas impactam e condicionam a polí-tica externa dos dois países; esta seção está, por suavez, dividida em duas partes, uma sobre o Brasil e aoutra sobre o México. Na segunda seção, apresen-tam-se as conseqüências políticas domésticas dasdiplomacias do México e do Brasil, depois das pos-ses de Vicente Fox e Luiz Inácio Lula da Silva – em2000 e 2003 respectivamente – discutindo-se osprincipais resultados deste artigo.
As Fontes Internas das Políticas Externas doBrasil e do México1. Brasil
Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves, gover-nador de Minas Gerais entre 1983 e 1984, foi eleitoPresidente da República por um Colégio Eleitoralintegrado por todos os membros do Congresso e porseis representantes de cada legislatura estatal. Poruma fatalidade da história, Tancredo, mortalmentedoente, não chegou a assumir o cargo para o qualfora eleito. Assim, em 15 de março de 1985, seuVice-Presidente, o Senador José Ribamar Sarney,recebeu a faixa presidencial. Foi o primeiro civil aocupar o cargo depois de 21 anos de ditadura militar.
A transição democrática no Brasil foi longa, tendo seiniciado em 1974, pouco depois do início do mandatodo terceiro general-Presidente, Ernesto Geisel.Caracterizou-se pela realização de eleições regularespara o Congresso Nacional, legislaturas estatais eassembléias municipais entre 1966 e 1978. Em 1982,a direção dos governos estatais foi igualmente disputa-da através de eleições livres. A existência, na décadade 1970, de um calendário eleitoral fixo permitiu aoentão Movimento Democrático Brasileiro (MDB), umdos dois partidos oficiais — o outro era a AliançaRenovadora Nacional (Arena) —, mobilizar o voto
Instituições Políticas Domésticas e a PolíticaExterna do Brasil e do MéxicoOctavio Amorim Neto1 e Jorge A. Schiavon2
1. Fundação Getúlio Vargas (FGV), Rio de Janeiro, Brasil.
2. Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), México.
popular contra o regime autoritário,dando às eleições m caráter cadavez mais plebiscitário. Entre 1974 e1982, a oposição foi aumentando onúmero de assentos no Congresso,bem como nos governos e assem-bléias estatais, debilitando conco-mitantemente as bases de sustenta-ção política do regime militar. Naspalavras de Lamounier (1984), oBrasil tinha “uma abertura atravésdas eleições”.
Em 1984, ano de sucessão presi-dencial, formou-se um movimentodissidente dentro do partido no qualse sustentava o regime militar, oPartido Democrata Social (PDS) —que era o nome que a velha Arenacomeçou a adotar a partir da refor-ma eleitoral de 1979. TancredoNeves, candidato do Partido doMovimento DemocráticoBrasileiro (PMDB) – as novassiglas do velho MDB depois dareforma –, não tardou em atrair osdissidentes, negociando a conces-são da vaga da vice-presidênciapara José Sarney. A aliança entre aoposição e os dissidentes do PDSse tornou irresistível. Tancredoobteve 480 votos no ColégioEleitoral contra 180 que ganhou ocandidato oficial, Paulo Maluf.
Uma vez que José Sarney foiempossado como Presidente,tomaram-se algumas medidas quebuscavam o aprofundamento dademocracia. Estabeleceram-seeleições livres para todos os car-gos executivos e legislativos,abriu-se a formação e o funciona-mento dos partidos políticos e foiconvocada uma AssembléiaNacional Constituinte (ANC) queincluiria todos os deputados que
foram eleitos em novembro de1986 e os senadores eleitos namesma data (2/3 do total doSenado) e no processo de 1982(1/3 do total desta câmara).
A ANC foi instalada em fevereirode 1987 e concluiu seus trabalhosem 5 de outubro de 1988, com apromulgação da nova Constituiçãode 1988. A partir desta data, o sis-tema político brasileiro está edifi-cado sobre seis pilares fundamen-tais. Primeiro, um sistema degoverno presidencial em que ochefe do Executivo possui impor-tantes prerrogativas legislativas,como o poder de promulgardecretos com força de lei (asmedidas provisórias), o poder deveto, a iniciativa exclusiva de pro-jetos de leis em áreas tributárias,orçamentárias e administrativas eo direito de pedir um procedimen-to urgente para certos projetos delei. Segundo, um sistema legislati-vo bicameral no qual a Câmara eo Senado possuem poderes simé-tricos. Terceiro, a adoção darepresentação proporcional para aCâmara de Deputados, legislatu-ras estatais e assembléias munici-pais e a adoção da representaçãopor maioria simples no Senado.Quarto, um sistema partidárioaltamente fragmentado, comoconseqüência, em boa medida, deregras eleitorais usadas para aseleições da Câmara de Deputadose assembléias legislativas. Quinto,uma federação robusta cujas uni-dades subnacionais dispõem deconsiderável autonomia legislati-va e administrativa, destinando-lhes também uma importante fatiado bolo tributário. Finalmente,sexto, uma Constituição detalhada
e rígida, com regras de emendaque requerem maiorias qualifica-das de 3/5 em ambas as câmaras.
Em suma, o Brasil tem um mode-lo de democracia que, por umlado, tende a dispersar considera-velmente o poder institucionalentre várias forças políticas devi-do aos últimos cinco atributos,enquanto que, por outro, conduz auma grande concentração depoder nas mãos do chefe doExecutivo e de seu partido, emfunção do primeiro atributo.Enquanto que a dispersão dopoder institucional freqüentemen-te contribui a tornar lento e com-plicado o processo decisório, aconcentração de poder nas mãosdo Presidente atua no sentido con-trário. Como veremos mais adian-te, esta concentração, no que dizrespeito à política externa, contri-bui para debilitar o papel doCongresso Nacional.
As relações Executivo-Legislativosob a Constituição de 1988
A parte mais importante paraentender à dinâmica das relaçõesentre Executivo e Legislativo emqualquer sistema democrático é osistema partidário. O Brasil tem,desde o princípio da década de1990, um dos sistemas partidáriosmais fragmentados do mundo(Amorim Neto et Al, 1997). OsQuadros 1 e 2 abaixo mostram aevolução do sistema de partidosbrasileiro, tanto na Câmara dosDeputados como no Senado,desde a eleição de 1982 — o pri-meiro processo multipartidáriorealizado depois do golpe militarde 1964.
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
8
9Mural InternacionalAno I, nº 2Novembro 2010|
Quadro 1: Porcentagem de assentos na Câmara deDeputados, por partido, no Brasil.
*PP uniu-se ao PPR para formar o PPB.
Fontes: O Globo, 10 de outubro de 2002, pág. 13; e DadosEleitorais do Brasil, http://www.iuperj.br/deb.
É fácil observar que, entre 1983 e 2003, o conjuntode partidos representados no Congresso evoluiu deum formato de aproximação bipartidária a um clara-mente multipartidário e altamente fragmentado,principalmente na Câmara de Deputados. Depois dasúltimas eleições realizadas em outubro de 2003, onúmero de partidos na Câmara aumentou para 19 e
no Senado para 11. Em termos do Número Efetivode Partidos (NEP), a Câmara tem 8,5 partidos,enquanto que o Senado possui 4,7.
Quadro 2: Porcentagem de assentos no Senado, porpartido, no Brasil.
Fontes: O Globo, 10 de outubro de 2002, pág. 13; Folha de SãoPaulo, Caderno Especial “Eleições”, 10 de outubro de 1998, p.2, e Scott Mainwaring (1999, 98).
Uma das conseqüências óbvias da alta fragmentaçãodo sistema de partidos é que o partido do Presidenteraramente consegue ter maioria absoluta noCongresso. Isto só aconteceu uma vez desde 1985,depois das eleições de 1986. Porém, a maioria que oPMDB conquistou durou pouco tempo, já que o par-tido se cindiu durante a ANC. A dissidência surgidano PMDB criou, em 1988, o PSDB, partido do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
A combinação de um sistema de governo presiden-cial com um sistema de partidos em que o partido doChefe do Executivo raramente tem a maioria doLegislativo gera uma dinâmica institucional batizadapor Abranches (1988) de “presidencialismo de coa-lizão”. Sob tal fórmula política, o Presidente, comoum primeiro-ministro em um regime parlamentar,
3. O número efetivo de partidos é uma medida que permite ponderara importância de cada partido nas Câmaras pelo número de assentosque controla na legislatura; calcula-se usando a seguinte fórmula:NEP = 1/[S(pi
2)], onde pi é a porcentagem de assentos que o parti-do i tem na câmara (Laakso e Taagepera, 1979).
forma maiorias oferecendo aospartidos políticos cargos ministe-riais em troca do apoio parlamen-tar. Para estabilizar este tipo deacordo político, o Presidente,coordenadamente com os líderesdos partidos, se vale de suas prer-rogativas legislativas, o que lhepermite controlar o volume e oritmo da agenda parlamentar,como bem mostram Figueiredo eLimongi (1999).
Porém, nota-se que, a partir dapromulgação da Constituição de1988, o presidencialismo de coali-zão funcionou plenamente, unica-mente sob os mandatos deFernando Henrique Cardoso, quecontou com o sólido apoio damaioria e exerceu um forte con-trole sobre a agenda legislativa.Os Presidentes Sarney (principal-mente ao final de seu mandato),Collor e Franco não conseguiramformar maiorias tão estáveis(Amorim Neto, 2002; AmorimNeto et Al, 2003). Ainda faltasaber como se comportará a presi-dência de Lula em relação a isso.
Uma das conseqüências mais rele-vantes do presidencialismo decoalizão é o predomínio doExecutivo em relação à formaçãoda agenda legislativa e à produçãode leis do país: nada menos que86% das leis promulgadas entre1989 e 1998 foram de autoria doPoder Executivo (Figueiredo eLimongi, 1999). É claro que aprerrogativa que o Presidente temde emitir decretos com força de lei
(as medidas provisórias) desem-penha um papel fundamentalneste resultado. Por definição, opredomínio do Executivo signifi-ca que o Congresso encontra difi-culdades para se afirmar como oprincipal espaço decisório do sis-tema político. Mas isto não ésomente conseqüência das medi-das provisórias. A baixa produçãode leis do Congresso está intima-mente vinculada às curtas carrei-ras parlamentares no Brasil. Emmédia, os deputados brasileiroscontam apenas com cinco anos naCâmara de Deputados e não écoincidência que somente 8%deles consigam aprovar um proje-to de lei ao longo de uma legisla-tura (Amorim Neto e Santos,2003).
Outro fato que dificultou a institu-cionalização do Congresso comoautor de legislação é a debilidadedo sistema de comissões. Estasvêem seu trabalho de avaliação deprojetos de leis interrompidovárias vezes, devido às freqüentesdemandas de revisão de iniciati-vas em caráter de urgência, feitaspelo Executivo e por líderes dospartidos (Figueiredo, 2000). Taisdemandas têm o efeito imediatode retirar um projeto de lei de umacomissão e introduzir o doExecutivo imediatamente paraconsideração do plenário.
A constatação da debilidade insti-tucional do Congresso não signifi-ca, porém, que este haja abdicadode seus poderes em benefício doExecutivo. Através dos mecanis-mos informais de controle sobre oPoder Executivo, como por exem-plo, a participação dos partidos
nos cargos ministeriais, oCongresso consegue, de algummodo, fazer com que o Executivoatenda às suas preferências(Amorim Neto e Tafner, 2002).Trata-se, porém, de uma maneiramuito indireta e pouco visível queo Congresso tem de exercer suainfluência e que, além disso,impede de responsabilizar oLegislativo diante do eleitorado,assim como de fortalecer sua ima-gem de debilidade institucional.
O Congresso e a política externa4
A Constituição de 1988 determinaque o Chefe do Executivo é osupremo responsável pelas rela-ções diplomáticas do país, caben-do-lhe, de maneira exclusiva,“manter relações com Estadosestrangeiros e acreditar seusrepresentantes diplomáticos”(artigo 84). Cabe ao Executivocelebrar tratados, convenções eatos internacionais (sujeitos aoreferendo do Congresso), celebrara paz e declarar a guerra com aanuência do Congresso. Tambémé responsabilidade do Congressodeliberar definitivamente sobretratados, acordos e atos interna-cionais que acarretem encargos oucompromissos gravosos ao patri-mônio nacional (artigo 49); oSenado deve aprovar a escolhados embaixadores (artigo 52).
Como em qualquer outra área depolítica governamental, os depu-tados e senadores têm o poder depropor projetos de leis que envol-vam assuntos internacionais.Entre 1985 e 2002, os deputadosapresentaram apenas 192 projetos(em média, 10,7 por ano) sobre
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
10
4. Esta seção se baseia substancialmente noexcelente trabalho descritivo de S. César(2002).
tais assuntos, e os senadores 36 (emmédia, 2 por ano) (Cesar 2002,Cap.2). Estes valores parecem serínfimos e estão em perfeita conso-nância com a afirmação anterior, deque a participação do Congresso naprodução legislativa nacional éconsideravelmente pequena.
Em relação à ratificação dosnomes indicados para o cargo deembaixador, área da políticaexterna na qual o Congresso podeexercer um importante papel,ainda que reativo, os dados indi-cam que há, aparentemente, gran-de harmonia entre o Executivo e oLegislativo. Quase todos osembaixadores indicados peloExecutivo, entre 1985 e 2002,foram aprovados pelo Senado.Uma das possíveis razões paraque a nomeação dos embaixado-res não tenha um caráter confli-tuoso é que tal processo não estápolitizado. Dos 557 embaixadoresindicados entre 1985 e 2002,somente 18 (3,2%) tiveram umanomeação política (idem).
O Ministério de RelaçõesExteriores e o Congresso
O Ministério de RelaçõesExteriores (doravante, MRE ouItamaraty) é uma instituição alta-mente profissionalizada, ondesomente se entra através de con-curso público e em que as promo-ções são outorgadas, em geral, deforma meritória. É a agência maisprestigiada da burocracia federal,contando com quadros altamentequalificados, que desfrutam deuma boa imagem aos olhos daelite e da opinião pública nacional(Cheibub, 1985).
O titular do MRE é chamado deChanceler da República ouMinistro de Relações Exteriores.Das 10 nomeações para a direçãodo Itamaraty feitas entre 1985 e2003, três foram de políticos comfiliação partidária: Olavo Setúbal(PFL, 15/03/1985 - 14/02/1986);Roberto de Abreu Sodré (PFL,14/02/1986 - 15/03/1990) eFernando Henrique Cardoso(PSDB, 05/10/1992 -20/05/1993); dois eram juristas ouacadêmicos: Francisco Rezek(15/03/1990 - 13/04/1992) eCelso Lafer, que também era filia-do ao PSDB, tendo sido chefe doMRE por duas vezes (13/04/1992-02/10/1992 e 29/01/2001-01/01/2003); e quatro foramdiplomatas de carreira: duas vezespara Felipe Lampreia (01/01/95-01/01/1999 e 01/01/1999-12/01/2001) e duas vezes paraCelso Amorim (20/07/1993-01/01/95 e 01/01/2003 - presente).Os políticos ocuparam o MREdurante aproximadamente 30% dotempo transcorrido entre março de1985 e julho de 2003. Esta é umaevidência que faz pensar na poucaimportância que a política externatem para os partidos.
Com alguma freqüência, o chan-celer é chamado a comparecerdiante das Comissões de RelaçõesExteriores e de Defesa Nacionalno Congresso, um mecanismoclássico de controle parlamentar.Porém, segundo César (2002),existem contatos informais entreos parlamentares e o chancelerque permitem que este tomeconhecimento do que aquelespensam, o que pode ser considera-do um mecanismo de coordena-
ção informal entre Executivo eLegislativo. Mesmo quando oMRE tem uma área especial derelações com o Congresso, César(idem) diz que parece que há pou-cos contatos informais entre diplo-matas e parlamentares. O maiorproblema sobre esta inexistência demecanismos de comunicação entreo MRE e os parlamentares se refe-re ao curso das negociações dos tra-tados internacionais.
Quanto aos tratados internacio-nais, foram processados 654 naCâmara entre 1985 e 2001 (38 tra-tados, em média, por ano; 6meses, em média, no tempo de suatramitação). Nenhum tratado foirejeitado em sua totalidade;somente 4 foram retirados. NoSenado, foram avaliados 564 tra-tados durante o mesmo período,depois de terem sido retiradossomente dois (César, 2002).
Os dados apresentados parecemindicar uma grande passividadedo Congresso na área da políticaexterna. Não são poucos os auto-res que pensam que isto é o queacontece. Por exemplo, paraOliveira (2001), o Parlamento e ospartidos brasileiros abdicaram detratar de assuntos de políticaexterna, sobretudo quanto ao pro-cesso de integração regional(Mercosul), uma das questõesmais importantes na agenda diplo-mática brasileira. De acordo como mesmo autor, a razão subjacentede tal abdicação está no escassorendimento eleitoral dos temasinternacionais (idem). Trata-se,porém, de um ponto polêmico.
Utilizando os argumentos de
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
11
12Mural InternacionalAno I, nº 2Novembro 2010|
Martin (2000) e de Neves (2002)oferecem uma interpretação dife-rente para a reação do Congressodiante dos desafios da integraçãoregional. Quando há convergênciade interesses entre o Executivo e oLegislativo, este último delega ple-nos poderes ao primeiro, e este é ocaso da conduta aparentementepassiva dos parlamentares em rela-ção ao Mercosul. Além disso,quando há divergência entre taisinteresses, o Legislativo buscainfluenciar direta ou indiretamenteo Executivo, manifestando postu-ras firmes sobre os assuntos e exi-gindo uma participação direta nasnegociações. Tal seria o caso dotratamento diplomático e comercialreferente à Área de Livre Comérciodas Américas (lca).
No que diz respeito à políticacomercial, Lima e Santos (2001)afirmam que a linha seguidadurante o governo de Sarney e oprocesso de abertura comercialrealizado durante os governos deCollor, Franco e Cardoso repre-sentaram uma abdicação doCongresso, já que tais políticasforam executadas, em grandemedida, através dos instrumentoslegislativos do Executivo, herda-dos do regime militar.
Pinheiro (2003) tece uma interpre-tação intermediária entre as pers-pectivas de abdicação e delegação.De acordo com a autora, o regimedemocrático instalado em 1985causou um crescente – por assimdizer – “des-isolamento” doItamaraty em relação a atoressociais e legislativos, gerandoassim um maior grau de representa-tividade para a política externa bra-
sileira. Porém, este “des-isolamen-to” não produziu uma plena res-ponsabilização da Chancelariadiante dos atores mencionados, porter esta não somente maior infor-mação e treinamento técnico que oCongresso e a sociedade organiza-da, como também devido a suaautonomia decisória tradicional.Em outras palavras, para Pinheiro,a política externa brasileira é for-malmente representativa, mas não éefetivamente responsável.
A principal lição que se podeextrair das diversas interpretaçõesanteriormente descritas sobre ograu da participação e do controledo Congresso brasileiro na políti-ca externa é que a relevância polí-tica e eleitoral dos temas interna-cionais é uma condição necessáriamas não suficiente para que opoder legislativo se mobilize eatue em relação a ela. A condiçãosuficiente é que os parlamentarespossuam informação de boa quali-dade para que possam saber se oExecutivo favorece os interessesdo país na área diplomática. Tudoo que foi anteriormente expostoindica que esta condição aindanão foi preenchida. Então, pode-se dizer que, sem dúvida, há umdéficit democrático na formulaçãoe execução da política externabrasileira.
Política externa e representaçãode interesses: as atitudes e per-cepções das elites
Recentemente, Souza (2002) rea-lizou um trabalho seminal sobreas atitudes e percepções das elitesbrasileiras em relação à políticaexterna. O trabalhou baseou-se
em uma pesquisa respondida por101 pessoas consideradas mem-bros das elites política, acadêmi-ca, empresarial, sindical e jorna-lística do país envolvidas, dealguma maneira, com a políticaexterna do país – a chamadacomunidade de política externa.A principal mensagem do estudopode resumir-se na seguintefrase: a política externa nacionalgoza de um bom conceito entreas elites, porém, a percepçãogeral é de que o Itamaraty dápouca atenção ao Congresso e àsopiniões e propostas de amplossegmentos da sociedade e deoutros ministérios (idem). Comose explica esta aparente contradi-ção entre o bom conceito da polí-tica externa e a imagem de faltade atenção que o MRE tem?
Uma possível resposta para estapergunta pode ser que o Itamaratyé uma burocracia de alta qualida-de. Porém, de acordo com o resul-tado da seção sobre o Congresso,os mecanismos de controle usadospor este são informais e, conse-qüentemente, de baixa visibilida-de pública. Além disso, como semencionou na seção anterior, éinegável a enorme assimetria deinformação que existe entre oMRE, por um lado, e a sociedadee o Congresso, por outro. Outraexplicação é que a política externado MRE é boa para os problemasdiplomáticos e estratégicos velhose clássicos do país. Porém, oItamaraty não parece estar prepa-rado – burocrática e politicamente– para as novas questões e atoresinternacionais descritos na pri-meira seção do artigo, nem paraalguns aspectos novos como o
Fórum Social de Porto Alegre e asnegociações comerciais da Alça(Herz e Lima, 2002). Daí se origi-na a dissociação que existe entre aboa avaliação da política externaem geral e a percepção críticasobre a relação do Itamaraty como Congresso e a sociedade. Emresumo, os resultados da pesquisacom as elites, feita por Souza, cor-roboram a noção de que existe um“déficit” democrático na formula-ção da política externa brasileira.Assim, a política externa doItamaraty é altamente profissionale favoravelmente percebida pelapopulação, embora não necessa-riamente recorra a ela ou a seusrepresentantes no Congresso paraformular ou executar tal política.
2. México
As relações Executivo-Legislativo no México
No que se refere à transiçãodemocrática, tratou-se de um pro-cesso muito lento – como noBrasil — e um tanto superficial;lento porque se iniciou compequenas concessões do regimepriista desde o governo de LuisEcheverría até o de ErnestoZedillo, e superficial, porquemesmo quando o PartidoRevolucionário Institucional
(PRI) perdeu a presidência darepública nas eleições de 2000, aestrutura institucional do sistemase manteve praticamente intacta.De acordo com a ConstituiçãoPolítica dos Estados UnidosMexicanos, promulgada em 1917e reformada em inúmeras oca-siões, o México é um sistemademocrático de tipo presidencial,bicameral forte (câmaras simétri-cas e incongruentes) e federal, istoé, em termos de divisão institucio-nal do poder, um dos casos emque esta é maior. Porém, durantepraticamente 70 anos de hegemo-nia priista, o México funcionoucomo um dos sistemas políticosmais centralizados em nível inter-nacional. Isto se devia à fusãoentre o Executivo federal e o par-tido oficial, o qual transformava oPresidente mexicano no ator prin-cipal do sistema, ao ostentar enor-mes poderes meta-constitucionais(presidencialismo) que se susten-tavam no fato de ser ele o líder dopartido que tinha a maioria emambas as câmaras legislativas e atotalidade dos governos estatais(até 1989). Ora, devido a fatoresestruturais (crise econômica), insti-tucionais (reformas eleitorais), cul-turais (modernização) e internacio-nais (globalização) (Schiavon,2005), a hegemonia do PRI foi-sedesgastando paulatinamentedurante as últimas décadas.Assim, o longo processo de demo-cratização chegou a suas etapasfinais quando o PRI perdeu amaioria na Câmara de Deputadosem 1997 e culminou com a elei-ção de Vicente Fox do Partido deAção Nacional (PAN) àPresidência da República, naseleições de 2000.
Em termos de política externa, nosistema político mexicano, opoder soberano encontra-se com-partilhado pelos três poderes dogoverno. De acordo com aConstituição, uma das atribuiçõesdo Executivo é “dirigir a políticaexterna e celebrar tratados inter-nacionais, submetendo-os à apro-vação do Senado” (artigo 89,parágrafo X).5 Uma vez que ostratados são concluídos, oExecutivo deve apresentá-los aoSenado para sua aprovação, obti-da com o voto a favor da maioriado plenário da Câmara Alta (arti-go 76, parágrafo I). Além disso,são atribuições exclusivas doSenado “analisar a política exter-na desenvolvida pelo ExecutivoFederal, com base nos relatóriosanuais que o Presidente daRepública e o Secretário do des-pacho correspondente prestam aoCongresso” (artigo 76, parágrafoI), “ratificar as nomeações que omesmo funcionário [o Presidente]faça de [...] agentes diplomáticos,cônsules gerais [...]” (artigo 76,parágrafo II), enquanto que oCongresso da União deve conce-der permissão ao Presidente daRepública para ausentar-se do ter-ritório nacional (artigo 88). Emrelação aos tratados, depois deobter a aprovação no âmbito inter-no, estes são ratificados interna-cionalmente pelo Executivo (arti-go 89, parágrafo X). Uma vez rati-ficados, e se não contradizem ouviolam a Constituição, os tratadosse convertem em parte da LeiSuprema da Nação, no mesmonível da Constituição. Assim, oPoder Judiciário tem a atribuiçãoe a obrigação de aplicá-los,mesmo que passando por cima
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
13
5. Na condução da política externa, oPresidente deve observar os princípios nor-mativos de política externa estabelecidosno mesmo artigo: “a autodeterminação dospovos; a não intervenção; a solução pacífi-ca de controvérsias; a proscrição da ameaçaou o uso da força nas relações internacio-nais; a igualdade jurídica dos Estados; acooperação internacional para o desenvol-vimento; e a luta pela paz e pela segurançainternacionais” (artigo 89, parágrafo X).
14Mural InternacionalAno I, nº 2Novembro 2010|
das disposições em contrário quepossam existir nas leis secundá-rias e nas constituições dosEstados (artigo 133).
Porém, na realidade, particular-mente antes de 1997, existia umaenorme assimetria de poder entreos três poderes do governo noMéxico. O grande poder doExecutivo e seu controle sobre oLegislativo e o Judiciário podemser entendidos analisando a rela-ção entre os atores centrais do sis-tema: o Presidente e o partido compoder hegemônico, o PRI. Em umsistema presidencial, o poder doExecutivo depende de quatro fato-res: os poderes constitucionais doPresidente, a força do partido doPresidente dentro do Congresso, ograu de disciplina imposta peloslíderes partidários aos membrosdo partido, e a concorrência que oPresidente enfrenta de rivais den-tro de seu próprio partido(Weldon, 1997). Desde a sua fun-dação, em 1929, até 1997, o PRIobteve a maioria absoluta — algu-mas vezes com mais de 90% dosassentos — em ambas as câmarasdo Congresso. Além disso, a partirda metade da década de 1930, oPresidente se tornou o líder de fatodo partido. Isto, combinado ao fatode que não existiu reeleição conse-cutiva no Congresso e nenhum tipode reeleição na presidência, desdeessa época, e que o partido delegouao Presidente o poder de designar
seu sucessor, controlar nomeações-chave dentro do partido e nomearos ministros da Corte Suprema,gerou uma supremacia doExecutivo sobre o Congresso e oPoder Judiciário, bem como sobreos governos estaduais.6
Portanto, o Presidente possuíaextensos poderes constitucionais,particularmente em matéria depolítica externa, e grandes pode-res informais, porque era o líderpraticamente indiscutível de umpartido altamente disciplinadoque manteve, ininterruptamenteaté 1997 (por mais de 60 anos), amaioria absoluta em ambas ascâmaras do Congresso e que con-trolava as nomeações dos minis-tros da Corte Suprema e de nume-rosos funcionários estatais.
Secretaria de RelaçõesExteriores e política externa
Em termos de política externa, oPresidente sempre gozou do direi-to de nomear seus secretários deestado, entre os quais seuSecretário de Relações Exterioresou Chanceler. Este sempre foiuma pessoa da inteira confiançado Presidente e, mesmo quandono passado se procurava que fosseum destacado diplomata de carrei-ra, nos quatro últimos sexênios(De la Madrid, Salinas, Zedillo eFox), o Secretário de RelaçõesExteriores não foi um membro doServiço Exterior Mexicano(SEM) – exceto nos últimos 11meses da administração Salinas,quando o Embaixador Tello subs-tituiu Manuel Camacho. Istomudou na administração de FelipeCalderón Hinojosa (2006-2012),que nomeou Patricia Espinosa,
embaixadora de carreira do SEM,como Chanceler.
Em relação ao pessoal diplomáticono México, até 2003, o SEM era oúnico serviço civil de carreira nopaís, onde o ingresso e as promo-ções se definiam de acordo com omérito, através de exames periódi-cos. Porém, diante do gigantescopoderio do Presidente, a burocraciaem matéria de política externa sem-pre esteve ao serviço do Executivoda vez. Um exemplo disso é queuma parte substancial dos embaixa-dores mexicanos no exterior nãoera diplomata de carreira, mas simpessoas designadas pelo Presidente– aproximadamente 40%; isto nãomudou significativamente na últi-ma administração priista nem nogoverno de Fox, onde 38 e 37%(em 1998 e 2001, respectivamente)dos embaixadores em postos noexterior não eram membros doSEM. O governo do PresidenteCalderón estabeleceu como parâ-metro uma distribuição de 65% denomeações de embaixadores decarreira ante a 35% de nomeaçõespolíticas.
Tudo o que foi anteriormenteexposto permitiu ao Presidenteimpor suas preferências de políti-ca pública na maior parte dotempo, já que os outros dois pode-res do governo estavam sob seucontrole indireto e, portanto,apoiavam suas políticas, particu-larmente na área de política exter-na. Porém, no caso de que oPresidente perdesse a maioria nascâmaras, ou deixasse de ser o líder indiscutível dentro de seu partido,ou começasse a agir de maneiraindisciplinada, perderia todos osseus poderes extraconstitucionais,mantendo apenas os estabelecidos
6. Este poder era exercido através da nomea-ção dos candidatos do partido aos governosestatais; em alguns casos, sua remoção dopoder se dava mediante mecanismos constitu-cionais através do Senado, controlado peloPRI, ou mediante renúncias negociadas.
Quadro 3: Instituições e distribuição de poder no México, 1982-2000-2006
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
15
na Carta Magna. Como será discutido na próximaseção, isto aconteceu paulatinamente entre 1997 e2000, consolidando-se com o triunfo de Vicente Foxnas eleições de julho de 2000 e mantendo-se naseleições de 2006.
Presidência, Congresso e política externa
A partir das variáveis institucionais e partidárias dosistema político mexicano, elaborou-se o Quadro 3,onde se compara a situação do México de 1982 a
2000 e 2006. Como se pode observar neste quadro,as prerrogativas em matéria de condução da políticaexterna no México têm sido uma constante; porém,devido à conjunção com as outras variáveis institu-cionais e partidárias, estas passam de uma situaçãode total controle por parte do Executivo (semnenhum questionamento por parte dos outrosPoderes da União) a uma situação em que oExecutivo verá questionadas suas ações em assuntosde política externa.
Fonte: Elaboração dos autores
7
8
9
10
Em 1982, o partido do Presidente,o PRI, controlava 74,8% e 98,4%dos assentos das Câmaras deDeputados e Senadores respecti-vamente, o que gerava uma frag-mentação partidária muito baixano sistema (NEP em Deputados:1.720; NEP em Senadores:1.032), ao mesmo tempo em que ofederalismo mexicano se via ofus-cado pelo fato da totalidade dosgovernadores estaduais serempriistas, dando lugar ao graumáximo de governo unitário.Adicionalmente, a disciplina doscongressistas do PRI era pratica-mente absoluta, uma vez que ofuturo de suas carreiras políticasdependia do líder do partido, aomesmo Presidente da República.Não é de surpreender que a com-binação das variáveis institucionale partidária anteriores fizesse dobicameralismo, da divisão depoderes, do federalismo e do con-trole sobre a gestão da política
externa variáveis sem transcen-dência. Em tal situação, a políticaexterna refletia as preferências doExecutivo federal, diante de seudomínio sobre o sistema, particu-larmente sobre o Legislativo.Porém, mesmo mantendo-se aconfiguração institucional intacta,o número de jogadores com veto esua natureza mudaram dramatica-mente ao longo dos últimos anos.Para o ano de 2000, a fragmenta-ção partidária aumentou conside-ravelmente, particularmente naCâmara alta (NEP Deputados2.769 (2000) e 3.520 (2006); NEPSenadores: 2.786 (2000) e 3.596(2006), ao mesmo tempo em quese observa um governo dividido,uma vez que o PAN ganha a presi-dência em 2000 e nenhum partidocontrola a maioria absoluta (50%+ 1 dos assentos) em nenhuma dascâmaras, embora o PRI tenha con-servado uma maioria simples deassentos em ambas as instâncias
em 2000 (42,2% e 46,1% nasCâmaras de Deputados eSenadores, respectivamente) e oPAN tenha fortalecido sua presen-ça em 2006 sem alcançar a maio-ria absoluta (41,4% e 40,6% nasCâmaras de Deputados eSenadores, respectivamente).
Além disso, observa-se um gover-no superposto, onde o PAN contro-la uma quarta parte dos governosestaduais em 2000 e 2006 (25,0%),enquanto que a disciplina partidáriaencontra-se em franco declive nostrês principais partidos políticos(PRI, PAN e PRD), por causa daslutas internas de poder entre fac-ções no interior de todos eles.Assim, dada esta combinação devariáveis institucionais e partidá-rias, o bicameralismo, o federalis-mo e a divisão de poderes noMéxico adquiriam uma renovada esubstancial importância, ao mesmotempo em que têm forte impacto
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
16
7 . As legislaturas simétricas são aquelas que são democraticamenteeleitas e com poderes constitucionais iguais ou ligeiramente desi-guais; inversamente, as assimétricas são aquelas cujos membros dacâmara alta não foram eleitos democraticamente e cuja distribuição depoderes entre as câmaras é muito desigual. Por outro lado, as legisla-turas incongruentes são aquelas cuja fórmula de eleição na câmara altabusca a sobre-representação de minorias nacionais (territoriais, étni-cas, culturais ou tradicionais) tendo, portanto, composição entre ascâmaras muito diferente; em oposição, as congruentes são aquelascom fórmulas de eleição similares que geram composições relativa-mente iguais. Lijphart (1999, 206-208).8. Existe governo justaposto em nível estadual quando a filiaçãopartidária da maioria dos governadores é diferente da do Executivofederal. Em 2005, no México, a filiação partidária dos executivosestaduais era a seguinte (no caso das coalizões, atribui-se o contro-le ao partido majoritário das mesmas): PRI, 58.13%; PAN, 28.12%;PRD, 18.75% (calculado pelos autores com dados do InstitutoFederal Eleitoral).9. A disciplina partidária pode ser medida com a utilização do índi-ce de Rice, de acordo com a seguinte fórmula: Ii = �%Favori -
%Contrai�. O índice representa a diferença de porcentagem devotos a favor menos a porcentagem de votos contra de uma fraçãoparlamentar “i”; varia entre 0 a 1, onde 0 significa total indiscipli-na (os membros da fração parlamentar votam metade a favor e meta-de contra: 0.50-0.50=0) e 1 implica total disciplina (todos osmembros de uma fração parlamentar votam no mesmo sentido: �1-0� = 1 ó �0-1� = 1). Na Câmara dos Deputados, o índice de Rice eo de Rice modificado (abstenções são tomadas como votos contrá-rios) para a 57ª legislatura (1997-2000) foram: PRI, 0.997 e 0.993;PAN, 0.928 e 0.882; PRD, 0.925 e 0.883; para a 58ª legislatura(2000-2003), foram: PRI, 0.931 e 0.900; PAN, 0.976 e 0.959;PRD, 0.934 e 0.926. Não existem dados confiáveis para legislatu-ras anteriores, mas a maioria dos autores afirma que a disciplina ten-dia a 1.00. Weldon (2003, 206-217).10. Na 60ª legislatura (2006-2009), durante o primeiro período desessões (segundo semestre de 2006), o índice de Rice modificadofoi: PRI, 0.96, PAN, 0.98 e PRD, 0.92. Ver: http://www.monitorlegislativo.org/indicadores.php?tab=1#disc_partido
sobre as liberdades do Executivo deNo futuro se observarão constantesquestionamentos na forma em queeste conduz as relações exterioresdo país, feitos pelo PoderLegislativo, preponderantementepelo Senado da República.
Tradicionalmente, o Senadomexicano havia sido completa-mente submisso diante doExecutivo em matéria de políticaexterna. Por exemplo, durantetodos os anos de hegemonia priis-ta, o Senado aprovou ligeiramentetodos os tratados internacionaissubmetidos pelo Executivo, alémde que nunca modificou partesdestes, já que, mesmo sem estarestabelecida na Constituição,vigorava a regra de que o Senadonão contava com veto parcial,pelo que só podia aprovar ou nãoos tratados, sem ter a oportunida-de de modificá-los. Porém, com otriunfo da oposição em 2000, narelação entre Executivo e
Legislativo – particularmente como Senado –, observaram-seenfrentamentos entre o Presidentee a Câmara Alta, chegando aomáximo quando a referidaCâmara negou ao Executivo pelaprimeira vez na história modernado país, em abril de 2002, umapermissão para viajar aos EstadosUnidos e ao Canadá.11
Ao tomar conhecimento da nega-tiva do Senado em autorizar a via-gem, o Presidente se reuniu comseus Secretários de Governo eRelações Exteriores, SantiagoCreel e Jorge Castañeda, paradefinir a resposta ao Senado; aestratégia que se decidiu adotarfoi que o Presidente se apresenta-ria nos meios de comunicaçãopara que a opinião pública deci-disse sobre este conflito entrepoderes. Fox apareceu nessamesma noite nos meios eletrôni-cos de comunicação para censu-rar, em uma transmissão emcadeia nacional, a atitude doSenado, e responsabilizar a oposi-ção no Congresso por criar obstá-culos para a mudança pela qual opovo do México votara nas elei-ções de julho de 2000. Em suamensagem, Fox acusou o PRI deser o responsável pelo cancela-mento da viagem presidencial e,conseqüentemente, de frustrartodos os objetivos da excursão(Marin, 2002). Esta foi a últimavez em que houve um enfrenta-mento direto entre Executivo eLegislativo, em matéria de políti-ca externa, já que, a partir desteepisódio, o Presidente buscouincluir em sua política externa asprioridades da oposição, como
ocorreu particularmente ao nãoapoiar os Estados Unidos noConselho de Segurança para reali-zar uma ação armada contra oIraque em fevereiro e março de2003 (Schiavon, 2004).
Assim, mesmo que o Executivosiga controlando a condução dapolítica externa, a transição demo-crática tem tido como conseqüên-cia a multiplicação dos atores quebuscam participar da mesma, emdiferentes instâncias: entre asdependências do Executivo fede-ral (já não só a Chancelaria), entreos Poderes da União (particular-mente o Senado), entre as ordensde governo (especialmenteEstados e municípios) (Schiavon,2006) e também com atores nãoestatais como ONGs, grupos depoder (empresariais, sindicais,partidários) e empresas transna-cionais. Em uma democracia, apolítica externa, como qualqueroutra política pública, deve refle-tir os interesses da população. Porisso, o Executivo federal, atravésda Chancelaria, é responsável porconsolidar uma política externademocrática que integre as posi-ções e interesses de todos estesatores, para evitar ter uma políticaexterna fragmentada; assim, énecessário que a Chancelaria con-duza uma política externa que sejaúnica e democrática, isto é, inte-gral e representativa dos interes-ses da maioria dos mexicanos.
As Conseqüências Políticas dasDiplomacias de Fox e Lula
1. Brasil
O Partido dos Trabalhadores (PT)é, tradicionalmente, o partido comas maiores preocupações em
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
17
11. O propósito desta visita era de fortaleceros esquemas de proteção aos mexicanos noestrangeiro, indiferentemente de sua situa-ção migratória, e ampliar, atrair e desenca-dear novas oportunidades de investimentose negócios para o México. O Senado argu-mentou que não possuía informação sufi-ciente sobre os motivos da viagem. Nos 16meses em que Fox estava como Presidente,o Senado autorizou 16 viagens ao exterior,mas esta, a viagem 17, não foi autorizada.As comissões de Governo e RelaçõesExteriores do Senado, ambas presididaspelo PRI, votaram a favor de autorizar a via-gem. Porém, quando o tema passou ao ple-nário da Câmara, o voto unido e majoritárioda oposição (PRI, PRD e Partido VerdeEcologista) negou ao Presidente a permis-são para ausentar-se do país; somente os 41membros do PAN votaram a favor. Issoreflete a submissão das comissões noSenado diante das diretrizes das dirigênciaspartidárias.
18Mural InternacionalAno I, nº 2Novembro 2010|
matéria de política externa em seuprograma de governo (Oliveira,2001). Conseqüentemente, com achegada de Lula ao poder, era dese esperar uma maior partidariza-ção e ideologização da conduçãodo MRE. Dois bons exemplosforam o esforço feito por Lula, noinício de seu mandato, de aproxi-mação com o debilitadoPresidente Hugo Chávez, comquem Fernando HenriqueCardoso havia mantido uma rela-ção distante, e a visita de Lula aCuba, em setembro de 2003. Aaproximação de Chávez foi vistapela oposição venezuelana comouma interferência do Brasil emassuntos internos do país, obri-gando Lula a afastar-se deChávez. A reação negativa daoposição venezuelana e de setoresda opinião pública brasileira for-çou a diplomacia de Lula a sermais pragmática, como o demons-tra sua moderada oposição àSegunda Guerra do Golfo e a acei-tação de concluir as negociaçõesda Alca em 2005, mesma posturamantida pelo governo deFernando Henrique Cardoso.
Porém, Lula terá sempre um incen-tivo para utilizar a diplomaciacomo um mecanismo para mostraraos radicais de seu partido e a seueleitorado tradicional que seugoverno ainda é de esquerda, ape-sar de seguir uma política econômi-ca conservadora. Foi esta a motiva-ção de sua visita a Cuba em setem-bro de 2003, muito criticada porvários setores políticos.
A entrada do PT no governo tam-bém pode significar uma partici-pação ainda menos ativa doCongresso nas questões de políti-ca externa, já que os partidos de
oposição, principalmente o PSDBe o PFL, não têm posturas firmesem seus programas em relação aum dos principais assuntos inter-nacionais dos próximos anos, asaber, a integração regional(Oliveira, 2001). A menos queeste assunto se torne mais rele-vante do ponto de vista eleitoral,ou que o PFL e o PSDB mobili-zem os temas de política externacomo uma forma de marcar suaoposição ao governo, é provávelque a relação do Congresso com oMRE não mude muito nos próxi-mos anos. Porém, visto que osprincipais desafios internacionaisque o Brasil enfrentará nos próxi-mos anos (Alca, Mercosul e asnegociações na OrganizaçãoMundial de Comércio / OMC)terão importantes impactos distri-butivos (Lima, 2003), pode-sedizer que as possibilidades de queos temas da política externafiquem mais politizados não sãomuitas, o que criará incentivospara que o Congresso e os atoresda sociedade civil organizada seenvolvam mais na formulação dapolítica externa brasileira.
2. México
Como afirmado anteriormente, amudança é a característica centralda política externa do México, oque reflete as mudanças econômi-cas e políticas do sistema interno. Éum mito que as grandes mudançasna política externa mexicana se ini-ciam no ano 2000 com a derrota doPRI nas eleições de 2 de julho e otriunfo de Vicente Fox na eleiçãopresidencial. A realidade é que apolítica externa do México temmudado paulatinamente há pelo
menos três sexênios: primeiro, len-tamente, no sexênio de Miguel dela Madrid, com o início da reformaeconômica ou estrutural; depois,durante a administração de Salinasde Gortari aprofunda-se estamudança na política econômicaexterna, com a negociação e assina-tura do Tratado de Livre Comércioda América do Norte (Nafta) e,finalmente, consolida-se no gover-no de Zedillo Ponce de León, coma assinatura do Acordo deAssociação Econômica,Concertação Política e Cooperaçãoentre o México e a União Européia,também conhecido como Tratadode Livre Comércio com a UniãoEuropéia (TLCUE), com a perdada maioria priista na Câmara deDeputados e, por último, com otriunfo da oposição nas eleições de2000.
Ora, esta mudança na políticaexterna do país tem sido lenta etem-se caracterizado por ficarpara trás diante de outras viradasinternas, na área econômica(reforma econômica e estrutural)e política (transição democrática),além de ser desigual em seus dife-rentes componentes, observando-se mudanças substanciais emquestões de política econômicainternacional e modificaçõesmenores em assuntos de seguran-ça internacional. Porém, não setrata da área mais atrasada dentrodas políticas públicas nacionais,sendo ainda menores as mudançasem outras matérias, como a políti-ca tributária e de impostos, asegurança nacional e segurançapública, no sistema judiciário e dedistribuição de justiça. Alémdisso, mesmo que os princípios
doutrinários tradicionais da políti-ca externa do México estejamintactos e impressos naConstituição, a prática diplomáti-ca tem se dinamizado, aprofun-dando a já existente separaçãoentre doutrina e ações.Finalmente, cabe destacar queexiste uma tendência clara em –pelo menos – três aspectos cen-trais da política externa do paísdurante os governos de Fox eCalderón. Primeiro, ela passou deser de caráter reativo a pró-ativo;segundo, está transformando suanatureza legalista em uma maispragmática; e, terceiro, passou deuma posição de isolamento relati-vo a uma de abertura ao mundo.Estas tendências já se observavamna área de política externa comer-cial desde o sexênio de Salinas,mas nas administrações de Fox eCalderón, se generalizaram atodas as áreas de política externa.Diante do complexo e mutantesistema internacional e das impor-tantes transformações econômicase políticas internas no México, ogoverno do Presidente Fox temcontinuado a modificar as priori-dades da política externa do país.Os pontos relevantes da políticaexterna de Fox, tanto com oChanceler Castañeda como comDerbez, referem-se a alcançar umequilíbrio entre dois pilares fun-damentais: em primeiro lugar,consolidar uma relação estratégi-ca com os Estados Unidos (dada àposição geo-estratégica doMéxico) e, em segundo lugar, a
dar andamento a uma política demultilateralismo estratégico comas demais regiões importantespara o México (América Latina eCaribe, Europa e Bacia doPacífico, particularmente) e nointerior dos diferentes organismosinternacionais dos quais o Méxicoé membro (Castañeda, 2001). Estaestratégia não foi modificadasubstancialmente durante o gover-no de Calderón.
Porém, a execução da nova políti-ca externa viu-se complicada pelaredução de poderes reais doPresidente diante do governo divi-dido no país e da maior participa-ção do Poder Legislativo, particu-larmente do Senado, em questõesde política externa. Para realmen-te poder tornar operativa a novapolítica externa, o governo de Foxdeve fazer uma reorganizaçãoburocrática em termos de políticaexterna no México. Para isso, aSecretaria de Relações Exterioresdeve ser o ator no país que agre-gue os interesses nacionais emrelação ao exterior, para o quedeve resolver conflitos fundamen-tais em cinco instâncias: primeiro,em seu interior, com o ServiçoExterior Mexicano que se sentiurelegado a um segundo planodurante a administração Fox,devido à distância de seus doisChanceleres dos interesses tradi-cionais do SEM; segundo, com osdemais órgãos e secretarias daadministração pública federal queestão conduzindo suas relaçõesexternas em suas áreas de respon-sabilidade, muitas vezes, seminformar à Chancelaria; terceiro,com os outros Poderes da União,
particularmente com os partidospolíticos representados noLegislativo, especialmente noSenado, que desejam participarmais ativamente da matéria; quar-to, com as outras ordens de gover-no (em conjunção com aSecretaria de Governo), especial-mente as entidades da Federação,que estão crescentemente estabe-lecendo relações com outrosEstados, províncias e ordenslocais de governo no âmbito inter-nacional; finalmente, quinto, antegrupos de interesse como partidospolíticos, grupos empresariais,sindicatos e organizações não-governamentais, entre outros.
De acordo com a Lei Orgânica daAdministração Pública Federal, aSRE é encarregada de promover,propiciar e assegurar a coordena-ção de ações no exterior das entida-des e departamentos daAdministração Pública Federal esem afetar as atribuições que a cadauma delas corresponda, conduzir apolítica externa12. Assim sendo, aSRE é, dentro do aparato governa-mental, a instância encarregada dacondução da política externa. Parafazê-lo efetivamente, deve cumprirduas funções essenciais: coordenare representar os interesses dosdiversos atores presentes em ques-tões externas.
Os novos atores podem ter inte-resses muito diversos em matériade política internacional, reque-rendo representação efetiva e efi-ciente ao redor do mundo. Antetal realidade, é necessário gerarmais que uma política exterior deEstado, uma política externa coor-
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
19
12. México, Leyes, Ley Orgánica de laAdministración Pública Federal, México,Porrúa, 2004, artigo 28, inciso I.
denada e representativa. A SREdeve conciliar o crescente númerode interesses – alguns provavel-mente divergentes – e integrá-losde maneira coerente e harmônica.Requer-se uma política externacujo resultado seja uma voz únicano exterior, composta pela agre-gação dos diferentes interessesrepresentados nos poderes daUnião, nas ordens de governo, nasinstâncias administrativas e nosgrupos de interesse.
Para melhorar e aperfeiçoar acoordenação e a representaçãointernacional por parte da SRE,deve-se fortalecer os laços institu-cionais de informação e tomadade decisões entre os diversos ato-res envolvidos. Algumas opçõesneste sentido seriam: 1) em rela-ção às instituições, criar comis-sões intersecretariais, um gabinetede política exterior e um órgão decoordenação com entidades fede-rativas e locais; 2) em matéria decapital humano, aprofundar a pro-fissionalização do ServiçoExterior Mexicano (SEM) e aper-feiçoar sua estrutura de incentivose de desenvolvimento profissionalcom base no mérito e no desempe-nho das funções; 3) em termos devontade política do executivofederal, gerar diretrizes e priorida-des claras em matéria externa, não
somente em termos de países,áreas geográficas, organismosinternacionais, temas da agendaou projetos específicos, comotambém através da reestruturaçãodos mecanismos de coordenaçãoburocrática e administrativa paraexecutá-las.
No que se refere à primeira e tercei-ra recomendações, a criação de umgabinete de política exterior podeajudar a estabelecer prioridadespresidenciais em matéria interna-cional e a fortalecer a coordenaçãoentre a SRE e as demais instânciasburocráticas com interesses emassuntos externos. Este gabinetepode resolver os problemas decoordenação burocrática, ao moni-torar a execução das instruções pre-sidenciais e reportar diretamente aoPresidente da República sobreestas. Assim, funciona como ummecanismo de designação de res-ponsabilidades específicas aosSecretários de Estado, de tal manei-ra que estes sejam pessoalmenteresponsáveis, ante o Presidente,pelas tarefas que lhes são atribuí-das. Isto contribuiria para uma con-dução da política externa commaior efetividade, eficiência erepresentatividade.13
Com relação à coordenação comestados e municípios, deve pro-mover-se uma diplomacia federa-tiva. Isso implicaria na aplicaçãoda breve, porém contundente frasedo estadista suíço Alfred Escher:“unidade no exterior, diversidadeno interior” (Ehrenzeller et Al,2003). Para alcançar tal objetivo,a SRE deve coordenar e represen-tar, o mais fielmente possível, os
diversos interesses dos governossubnacionais no âmbito externo.
De acordo com o direito interna-cional vigente, particularmente oartigo 7 da Convenção de Vienasobre Direitos dos Tratados, oexecutivo central possui o direitode representar o Estado em seuconjunto, e por tal razão, de con-duzir sua política externa. Nãoobstante, na Lei sobre Celebraçãode Tratados de 1992 se incluiu afigura dos acordos interinstitucio-nais, que são os convênios cele-brados entre qualquer departa-mento ou órgão do governo des-centralizado da administraçãopública federal, estadual ou muni-cipal e órgãos governamentaisestrangeiros ou organizaçõesinternacionais.14 Esta nova figuraassinala uma base legal que per-mite aos atores subnacionais subs-crever convênios com parceirosexternos para avançar seus inte-resses particulares.
Para assegurar que não haja con-tradição entre os acordos interins-titucionais e a política exterior dopaís, a lei estabelece que os pri-meiros devem ater-se exclusiva-mente às matérias sob a supervi-são dos órgãos de governo especí-ficos e que ademais, as instânciasque os subscreverem deverãomanter a SRE informada sobre osmesmos. A SRE possui a atribui-ção de qualificar a procedênciados acordos e se for o caso, apre-sentar parecer favorável e validá-los ao inscrevê-los em seu registrointerno. Isto é particularmenteimportante uma vez que, segundoo direito internacional, se uma
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
20
13. Para uma análise sobre o sistema degabinetes na administração do PresidenteCarlos Salinas (1988-2004), ver Schiavone Ortiz Mena (2001, p. 731-760).14. México, Leyes, Ley Sobre laCelebración de Tratados, México, DiarioOficial de la Federación, jueves 2 de enerode 1992, artículo 2, fracción II.
21Mural InternacionalAno I, nº 2Novembro 2010|
agência ou órgão do governofirma um acordo interinstitucional— dentro das matérias que lhessão atribuídas — cabe ao Estadomexicano a responsabilidade pelomesmo no âmbito externo(Palácios, 2002).
Infelizmente, na prática, a grandemaioria dos acordos firmados porentes da administração públicafederal, estadual e municipal nãoconta com o acompanhamento daSRE, e, portanto, não existe umregistro preciso destes instru-mentos jurídicos. Se não há coor-denação e controle por parte daSRE, a diversidade no interiorpode converter-se em falta deunidade no exterior, podendoresultar em contraposição dosinteresses municipais e estaduaiscom a política externa conduzidapelo executivo federal.
A SRE deve estabelecer incenti-vos positivos como apoio técnico,diplomático e jurídico aos gover-nos subnacionais na busca e assi-natura de acordos interinstitucio-nais, para assim controlar sua per-tinência e legalidade, assim comoseus ditames e registro; tambémdevem haver incentivos negati-vos, como sanções administrati-vas por não-cumprimento do pro-cedimento de origem e inscriçãona SRE, para que os entes dosdiferentes níveis de governo insi-ram suas iniciativas de participa-ção internacional dentro das dire-trizes de política externa definidaspela SRE. Apenas assim poderiahaver uma política externa única eunificada no México, sustentadapor uma diplomacia federativa
real (Schiavon, 2006).No que diz respeito à segundarecomendação, para que se tenhauma política externa profissionalé necessário fortalecer a diploma-cia mexicana, através do capitalhumano cuja responsabilidade eprofissão é a política externa: oSEM. Até o estabelecimento doServiço Profissional de Carreiraem 2003, o SEM era o único ser-viço civil, não-militar, de carreirano México, com uma tradição his-tórica que remonta a 1829, quan-do o Presidente Vicente Guerreroexpediu a primeira lei para umserviço exterior mexicano. Ogrande prestígio e qualidade deseu capital humano são resultadode que o ingresso, promoção edemissão do pessoal de carreira sebaseiam, em princípio, em seudesempenho (preparação, compe-tência, capacidade e superaçãoconstante).
Contudo, o SEM não está isentode aspectos que possam sermelhorados substancialmente. Osconcursos de ingresso e de ascen-são funcionam relativamente bem.Entretanto, sua principal limitaçãodiz respeito à demissão. É muitocustoso e administrativamentecomplicado prescindir de um mauelemento, quando sua trajetóriaprofissional e desempenho nosexames de ascensão e de carreirasão insatisfatórios. Outro aspectoque pode ser alvo de melhora, emtermos de recursos humanos, é acapacitação constante dos diplo-matas de carreira, através de cur-sos de atualização e especializa-ção. Sem se descuidar de umconhecimento geral da políticaexterna do México, deve-se privi-
legiar a formação de especialistaspor funções (multilaterais, bilate-rais e consulares), temas e regiõesgeográficas, evitando sempre quepossível às mudanças injustifica-das de áreas, as quais comprome-tem suas carreiras profissionais.
Uma vez aperfeiçoado o esquemade desenvolvimento profissionaldo SEM, seria conveniente pro-mover a ascensão de diplomatasde carreira à cargos de direção deassuntos internacionais ou equiva-lentes de outras secretarias deEstado e das entidades federati-vas. Ademais, seria desejável queas presidências ou secretarias dasComissões de Relações Exterioresdas Câmaras de Deputados e doSenado recaíssem nas mãos deprofissionais da diplomacia. Porfim, seria conveniente que todadelegação mexicana no exteriorfosse encabeçada por um membroda SRE, mesmo quando a compo-sição ou as funções do resto dadelegação sejam muito técnicasou especializadas e formadas pormembros de outros setores dogoverno.
Em suma, ante o crescente surgi-mento de atores nacionais cominteresses internacionais, é funda-mental ter uma política externaúnica e harmônica que representee coordene a diversidade de inte-resses e posições dos diferentesatores políticos, econômicos esociais do México democrático.Para isso, é necessário que se for-taleçam os mecanismos de coor-denação com o poder Legislativo,as entidades federativas, governoslocais e atores da sociedade civil;que se aperfeiçoe o esquema de
desenvolvimento profissional do SEM e que se rees-truture os mecanismos de coordenação burocrática eadministrativa para execução da política externa,com a finalidade de garantir a representação de seusinteresses em nível internacional e de dar coerênciae unidade à política externa mexicana.
Conclusão: Brasil e México comparados
Brasil e México são hoje duas democracias vibran-tes. Porém, as trajetórias políticas e os modelos degovernança de ambos os países são distintos, comimpactos diferentes sobre a formulação da políticaexterna de cada país. Desde o início da década de1980, o Brasil evoluiu de um regime militar a umademocracia cuja dinâmica institucional se caracteri-za pelo assim chamado presidencialismo de coali-zão, enquanto que o México transitou do presiden-cialismo autoritário com poder hegemônico a umpresidencialismo democrático de governo dividido,no regime foxista. O presidencialismo de coalizãodo Brasil é conseqüência da alta fragmentação deseu sistema de partidos. Os governos divididos doMéxico, de sua parte, são típicos de regimes presi-denciais com baixa fragmentação partidária, comoos Estados Unidos e a Argentina.
A configuração institucional doméstica no Brasil eno México faz com que o Presidente e o Congressointerajam com suas respectivas burocracias para pro-duzir um determinado estilo decisório de políticaexterna. Assim, no Brasil, a combinação do presi-dencialismo de coalizão com o alto grau de profis-sionalismo e baixo nível de politização do Itamaratycontribuem para a ampla autonomia de que desfrutao Executivo na formulação da política externa, compoucos questionamentos e intromissões doLegislativo. Isto explica, em parte, porque a políticaexterna do Brasil mudou muito pouco, desde a tran-sição democrática no começo da década de 1980. NoMéxico, com a passagem de um sistema autoritário– onde o Presidente podia impor sua preferência depolítica externa com a anuência do Legislativo e doserviço exterior – a um sistema onde a mistura degoverno dividido com um Congresso mais ativo epolitizado gera um estilo decisório que se caracteri-za pelo controle formal do Executivo sobre a políti-
ca externa, mas com questionamentos feitos peloCongresso. Mesmo se o Legislativo mexicano aindanão influi decisivamente em matéria de políticaexterna, sua participação na matéria aumentou subs-tancialmente a partir de 2000. Nossa conclusão éque, por mais surpreendente que pareça, hoje oLegislativo e os governos subnacionais no Méxicosão mais ativos que os brasileiros em relação à polí-tica externa, apesar de ser a democracia mexicanamais jovem que a brasileira.
Referências
Abranches, Sérgio H. Hudson de (1988)´Presidencialismo de Coalizão: O DilemaInstitucional Brasileiro` , Dados, 31, p.5-38.Amorim Neto, Octavio; Cox, Gary (1997) ‘ElectoralInstitutions, Cleavage Structures, and the Number ofParties`, American Journal of Political Science, 41.Amorim Neto, O. (2002) ´Presidential Cabinets,Electoral Cycles, and Coalition Discipline in Brazil`,in S. Morgenstern & B. Nacif, (Eds.), LegislativePolitics in Latin America, Nueva York, CambridgeUniversity Press.Amorim Neto, O.; Cox, G. W.; McCubbins,Matthew D. (2003) ‘Agenda Power in Brazil’sCamara dos Deputados, 1989-98`, World Politics,55, p. 50-578.Amorim Neto, O.; Tafner, Paulo (2002). ´Governosde Coalizão e Mecanismos de Alarme de Incêndiono Controle Legislativo das Medidas Provisórias`,Dados, 45, p.5-38. Amorim Neto, O; Santos, Fabiano (2003) ‘TheInefficient Secret Revisited: The Legislative Inputand Output of Brazilian Deputies`, LegislativeStudies Quarterly, 28, p.449-479.Castro Neves, João Augusto de (2002) AParticipação do Poder Legislativo na PolíticaExterna Brasileira: O Caso do Mercosul,Dissertação de Mestrado, Instituto Universitário dePesquisas do Rio de Janeiro.Castañeda, Jorge G. (2001) ´Los ejes de la políticaexterior de México`, Nexos, 23, nº 288, p.66-75.Cesar, Susan Elisabeth M. (2002) O CongressoNacional e a Política Externa Brasileira,Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília.Cheibub, Zairo Borges (1985) ´Diplomacia e
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
22
23Mural InternacionalAno I, nº 2Novembro 2010|
Construção Institucional: O Itamaraty em umaPerspectiva Histórica`. Dados, 28, p.113-131.Ehrenzeller, Bernhard; Hrbek, Rudolf; Malinverni,Giorgio; Thürer, Daniel (2003) ´Federalism andForeign Relations`, in R.Blindenbacher e A.Koller(Eds.), Federalism in a Changing World: Learningfrom Each Other, Montreal/Kingston, McGill eQueen’s University Press.Figueiredo, Argelina C.; Limongi, Fernando (1999),´Executivo e Legislativo na Nova OrdemConstitucional`, Rio de Janeiro, Editora FGV, e´Presidential Power, Legislative Organization, andParty Behavior in Brazil`, Comparative Politics,vol.32, 2000, p.151-170.Figueiredo, A. C. (2001) ´Instituições Políticas noControle do Executivo`, Dados, 44, p.689-728.Herz, Mônica; Lima, M. Soares de (2002) ´Contextointernacional, democracia e política externa`,Política Externa, 11, p.78-98. Lamournier, Bolívar (1984) ´Opening ThroughElections: Will the Brazilian Case Become aParadigm?`, Government and Opposition, 12, p.167-177.Lijphart, Arend (1999) Patterns of Democracy:Government Forms in Thirty-Six Countries, NewHaven, Yale University Press, p.206-208.Lima, Maria Regina S; Santos, Fabiano (2001) ´OCongresso e a política de comércio exterior`, LuaNova, 52, p. 121-149.Marin, Carlos (2002) ´El asalto a la razón: Senado yFox, o Gasolina al Fuego`, Milenio Diario, 10 /abr.;Sergio Sarmiento, ´Jaque mate: sin permiso`,Reforma, 11 /abr., e Jorge Fernández Menéndez,´Comenzó la campaña del 2003`, Milenio Diario,quinta-feira, 11 /abr.Martin, Lisa (2000) ´Democratic Commitments:Legislatures and International Cooperation`, NewJersey: Princeton University Press.Oliveira, Marcelo F. de (2001) Mercosul: A atuaçãodos partidos políticos e dos parlamentares brasilei-ros, Dissertação de Mestrado, Universidade EstadualPaulista.
Palacios, Jorge (2002) Tratados. Legislación yPráctica en México, México, SER.Pereira, Carlos; Mueller, Bernardo (2000) ´UmaTeoria da Preponderância do Executivo: O Sistemade Comissões no Legislativo Brasileiro`, RevistaBrasileira de Ciências Sociais, 15, p. 45-67.Pinheiro, Letícia (2003) ´Os véus da transparência:política externa e democracia no Brasil`, inA.Rebelo; L.Fernandes; C.H.Cardim (Eds.), Políticaexterna do Brasil para o século XXI, Brasília,Câmara dos Deputados/Coordenação dePublicações.Schiavon, J. A.; Ortiz Mena, Antonio (2001)´Apertura Comercial y Reforma Institucional enMéxico (1988-2000): Un Análisis Comparado delTLCAN y el TLCUE`, Foro Internacional, 41: 4,out.-dez., p. 731-760.Schiavon, J. A. (2004) ´Cohabitando en el Consejode Seguridad: México y Estados Unidos ante la gue-rra contra Iraq`, Revista Mexicana de PolíticaExterior, 72, p. 195-222.Schiavon, J. A. (2006) La Proyección Internacionalde las Entidades Federativas: México Ante elMundo, México, Instituto Matías Romero-SRE.Schiavon, Jorge A. (2005) Hurdling toward theMarket: Institutions and Structural Reform in LatinAmerica, Tese de Doutorado, University ofCalifornia.Souza, Amaury de (2002) A Agenda internacionaldo Brasil: um estudo sobre a comunidade brasileirade política externa, Rio de Janeiro, CEBRI.Weldon, Jeffrey (1997) ´The Political Sources ofPresidentialism in Mexico`, in S. Mainwaring eM.S.Shugart (Eds.), Presidentialism and Democracyin Latin America, Cambridge, Cambridge UniversityPress.Weldon, Jeffrey A. (2003) ´Disciplina partidista enla Cámara de Diputados, 1998-2002`, in A. OrtegaVenzor, C.A.Martínez Castillo e V.Zárate (Eds.),Gobernabilidad: Nuevos Actores, Nuevos Desafíos(Memorias 2002 Ibergop-México, México, Porrúa,p. 206-217.
En el derrumbe político y económico de la peordictadura de nuestra historia, tuvo lugar unode los acontecimientos que la distinguieron de
todas las otras dictaduras argentinas, la guerra, elconflicto bélico sostenido con Gran Bretaña en1982. Me interesa aquí discutir algunas interpreta-ciones sobre las consecuencias del conflicto bélico,en particular aquellas que permiten, a su vez, anali-zar la evolución de la disputa territorial por las islasMalvinas en el largo período que se extiende entre1965 (fecha de la declaración 2065 de la AsambleaGeneral de la ONU que insta a las partes de nego-ciar) y las vísperas de la ocupación de abril de 1982.
Comienzo por lo más reciente: actualmente se estáimponiendo, diría que a pasos agigantados, unainterpretación sobre las consecuencias de la guerraque, concisamente, sostiene: “si los militares nohubiesen ocupado las islas, entonces éstas ya habrí-an sido recuperadas”. Ejemplo claro de esta posturaes la opinión de quien fuera uno de los grandes nego-ciadores diplomáticos en la cuestión Malvinas, elembajador Carlos Ortiz de Rosas: “...estoy seguro deque habría un acuerdo en virtud del cual, pasadosunos años, se reconocería la soberanía plena argenti-na ...como máximo para 2030 las Malvinas hubieran
sido argentinas sin necesidad de disparar un tiro ysin necesidad de que hubieran muerto más de 600buenos argentinos, más todo lo que vino después”(“Sin guerra, ya serían nuestras las Malvinas”, LaNación, 01-04-2006). Pero debo recordar que almenos en forma pública, fueron los propios inglesesquienes abrieron este camino, con declaraciones deprotagonistas de aquel conflicto que, muy sueltos decuerpo, prefieren, comprensiblemente, las sentenciasmás impactantes. Es el caso, por ejemplo, del exce-lente periodista Simon Jenkins, que nos dice que laguerra “más que un paso atrás fue un verdaderodesastre. Si la invasión no se hubiera producido, hoyseguramente la Argentina tendría, por lo menos, lasoberanía compartida de las islas.“ (La Nación, 30-03-2003).
Aunque considero la guerra de Malvinas no sólo undesastre sino también un crimen, no comparto estepunto de vista. No lo comparto porque inspira, a mientender, conclusiones erradas sobre el período polí-tico-diplomático de la disputa por Malvinas entre1965 y 1982. Para comenzar, es curioso el modo enque esta nueva visión de la guerra - destinada, creoyo, a imponerse como relato por su fuerza persuasi-va, por mucho esfuerzo que podamos hacer aquí -choca frontalmente contra lugares comunes estable-cidos sobre el período previo a la misma, lugarescomunes que se plasmaron durante esos años y que,
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
24
“Causa Malvinas”, diplomacia y guerra.Una mirada de la historia a la luz de
contribuciones recientesVicente Palermo1
1. Conicet e Instituto Gino Germani/Universidad de Buenos Aires.
no obstante, permanecieron incó-lumes tras la guerra hasta ahora.
Destaco tres de ellos. El primerosostiene que durante esos añosArgentina desenvolvió un esfuer-zo impecablemente pacífico ydiplomático, una política - toman-do las palabras de un cancillerseguramente muy convencido delo que afirmaba - “basada en labuena fe y en el acatamiento delos principios de la Carta y de lasresoluciones de las NacionesUnidas” (Vignes, 22-09-1974). Elsegundo no contradice al primero,más bien lo confirma, pero crítica-mente, argumentando que aquellapolítica fue estéril, que no sehabía avanzado absolutamentenada y que estábamos cada vezmás lejos del objetivo de recupe-rar el archipiélago. Los malvine-ros más duros agregan: tuvimosdemasiada paciencia, demasiadoapego al derecho internacional, ladecisión de ocupar las islas se ten-dría que haber tomado antes (perose trata de un grupo menor de opi-nantes; no todos los que conside-ran infructífera aquella política,concluyen que habría que haberlaalterado del modo en que se lohizo, pero antes). El tercer lugarcomún es aún más espinoso; serefiere a los supuestos motivosingleses para retener las islas unavez que el gobierno británicodiera, entre 1965 y 1968, señalestan claras de su disposición atransferirlas. Sostiene que esasseñales eran engañosas, y que lasislas fueron retenidas en virtud deintereses económicos y estratégi-cos, en un cuadro neocolonial y/oimperialista.
Resultará patente al lector el cho-que entre estos lugares comunes y
la interpretación que actualmentecobra vigencia, de que si no ocu-pábamos las islas en 1982, éstascaían en nuestras manos comouna fruta madura. Si se cree eneste contrafáctico, no puede soste-nerse al mismo tiempo que elesfuerzo diplomático de guanteblanco entre 1965 y 1982 erainconducente, que nada se habíaavanzado, y que los ingleses tení-an poderosos intereses materialesy/o estratégicos para negarse atransferir la soberanía.
A mi entender, para resolver elintríngulis es indispensable quecuestionemos todo. En breve: noes cierto que si los militares de ladictadura no hubiesen ocupado laislas en abril de 1982 la políticaseguida hasta ese entonces porsucesivos gobiernos y equiposdiplomáticos habría llevado a larecuperación de las islas. No escierto que esa política entre 1965y 1982 haya sido pura y simple-mente de buena fe y acatamientode los principios del derechointernacional. No es cierto, tam-poco, que hasta 1982 no se hubie-ran producido algunos avancessignificativos en la resolución dela “disputa de fondo” (la sobera-nía por las islas). Y no es cierto,por fin, que los motivos británicospara resistirse a la transferencia desoberanía hayan sido de ordenneocolonial o imperialista.
Para empezar, el curso político-diplomático dominante hasta1982 estuvo lejos de ser el que elprimer lugar común nos cuenta.Por el contrario, puede calificarsede política de “amenaza verosí-mil”. Amenaza: “si la actitudnegativa del Reino Unido condu-
ce a un callejón sin salida, elgobierno argentino se verá obliga-do a revisar en profundidad lapolítica seguida hasta el presen-te...” - es un ejemplo entre miles,tanto de diplomáticos como depolíticos, una declaración real,pero cuyos antecedentes son muylejanos. La noción de que laArgentina es un país que aguantalas injusticias con abnegación porsu incuestionable compromisocon el derecho pero que, tarde otemprano, ante la indiferencia delos injustos y egoístas, se verá“obligada” a decir basta y hacerjusticia por mano propia, es unode los pilares básicos de la causaMalvinas cuya configuración seremonta a los tiempos del senadorsocialista Alfredo Palacios y elcanciller conservador SaavedraLamas, en la década del 30. Y“verosímil”: existe, en especial apartir de la publicación del librode Lawrence Freedman (2005),muchísima evidencia acerca deque tanto británicos como malvi-nenses estaban efectivamente pre-ocupados por la hipótesis, a la queasignaban posibilidades de con-creción, de que los argentinosfinalmente nos resolviéramos poruna acción militar. Nunca jamás,salvo hasta dos o tres días antes dela ocupación en abril del 82, creyóel gobierno inglés en la “inminen-cia” de una decisión de tal índole.Pero sí en que finalmente, y trasun período de gradual incrementode la tensión política y diplomáti-ca, una decisión así pudiera sertomada. Otra vez un ejemplo entremiles: cuando lord Chalfont,enviado por el Foreign Office,visita Buenos Aires en 1968,informa a su canciller: “a menosque la soberanía sea seriamentenegociada y transferida en el largo
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
25
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
26
plazo, es probable que termine-mos en un conflicto armado conla Argentina...”. El siguienteabunda y ayuda a entender enparte la actitud inglesa: “En juliode 1977, David Owen presentó uninforme a la Comisión deDefensa, donde argumentaba queera necesario realizar negociacio-nes serias y de fondo ya que lasislas eran militarmente indefendi-bles salvo que se hiciera una enor-me e inaceptable inversión derecursos corrientes” (InformeFranks, 1983).
Si nos ponemos en cínicos, podrí-amos decir: no cabe duda de queesta preocupación fue un acicatepara que, tanto laboristas comoconservadores, imaginaran solu-ciones de la “cuestión de fondo”.Sólo que, este curso de acción deamenaza verosímil, por muy“útil” que pareciera en el cortoplazo (sobre todo para los obse-sionados con la “causaMalvinas”), era a su vez autodes-tructivo e inviable en el medianoplazo. Llevaba - no temo en agre-gar, indefectiblemente - a uncallejón sin salida.
La amenaza, cabe la digresión, nose limitaba a declaraciones. Seextendía a la labor incesante deintelectuales públicos - ¿qué taluna del célebre periodistaMariano Grondona? En el progre-sista diario La Opinión (“Lapaciencia de las naciones”, 03-01-1975), afirmaba que “Las pers-pectivas petrolíferas son, enmanos inglesas, una nueva armade presión... Nos obligan a contra-atacar con presiones propias...¿Cómo hacerlo? La vía diplomáti-
ca ‘tercermundista’ no puede darmás de lo que dió... Queda la fuer-za. Queda - agrega Grondona, yprepárese el lector para una citaque lo va a impresionar por origi-nal y aguda, tan original y agudacomo que a la sazón la sabía dememoria hasta el menos leído delos militantes de cualquier partidopopular de cualquier barrio - lacontinuación de la política porotros medios... ¿Está dispuestaArgentina a usarla? ¿Está dispues-ta al menos a esgrimirla como unfactor de presión?”.Y sí, Argentina estuvo muy dis-puesta; de hecho, la opinión públi-ca activa cocinó y recocinó estoscomponentes de la causaMalvinas en calderos de derecha oizquierda, nacionalistas o libera-les, democráticos o autoritarios.
Pero no fueron estos los únicosinstrumentos de la pauta de “ame-naza verosímil” que gobernó lapolítica y la diplomacia en la dis-puta por las Malvinas en esos lus-tros; hubo al menos otros dos.Primero, una pocas medidas deacción directa, entre las que sedestaca el Operativo Cóndor de1966 y la ocupación militar - dis-frazada de actividad científica - en1977 de una isla del archipiélagoThule del Sur. Y segundo, la tesi-tura recurrente de querer “forzarla mano” tanto en las negociacio-nes como a través de las medidasde cooperación e integración entrelas islas y el continente (inteligen-tes en sí mismas y llevadas a cabo,por cierto, por personal diplomáti-co y militar que en muchos casosactuaba con la mejor buena fe ycon el propósito sincero de ganarla confianza y la amistad de los
isleños). Un ejemplo de la tesiturade forzar la mano en las negocia-ciones lo proporciona Perón, peroes doblemente significativo por-que a un diplomático competentey experimentado como Ortiz deRosas le parece muy bien, tantoque es él quien lo cuenta: “enjunio de 1974, la embajada britá-nica propuso un condominio enlas Malvinas. La propuesta eraextraordinaria... Perón, “inteligen-tísimo”, le dio instrucciones aVignes, su canciller, quien me diouna fotocopia de ese acuerdo. Ledijo: ‘Vignes, esto hay que acep-tarlo de inmediato. Una vez quepongamos pie en las Malvinas nonos saca nadie y poco despuésvamos a tener la soberaníaplena’.”. El ejemplo de irrefrena-ble impulso a forzar la mano enlas propuestas de cooperación loproporcionan los militares (perohay para todos los gustos); porcaso, en las conversaciones deabril de 1980, las propuestas britá-nicas en materia energética, pescao desarrollo económico, fueronaceptadas... pero anteponiendo elreconocimiento de soberaníacomo conditio sine qua non.
Como dije, esta política conducíaa un callejón sin salida. Y estotiene que ver, primero, con lasmotivaciones inglesas para rete-ner las islas. Las Malvinas habíanperdido ya todo valor estratégicoy hay evidencia de que los ingle-ses aunaban constantemente cual-quier perspectiva de desarrolloeconómico y/o explotación de losrecursos de todo tipo que pudieratener el área, no a un juego desuma cero con los argentinos sinoa un juego de suma positiva. No
27Mural InternacionalAno I, nº 2Novembro 2010|
veían - y así argumentaron una ymil veces ante los isleños - posibi-lidad alguna de aprovechamientoeconómico mientras se mantuvie-ra el conflicto abierto y la incerti-dumbre consecuente. Como expli-ca por ejemplo Mangold (2001),sobre todo a partir del impacto delfracaso en Suez, Gran Bretaña seasumía como habiendo perdidoirremisiblemente su status de GreatPower pero se esforzaba, al mismotiempo, por retener “tanto su auto-respeto como un buen desempeñoen lo que se refiere a su reputacióninternacional”. Traducido a los tér-minos del conflicto Malvinas, losingleses no podían pura y simple-mente arrasar con los isleños, dejarde lado toda consideración por suvoluntad y entregarlos de pies ymanos - admitámoslo, por muchoque duela – a la turbulencia san-grienta de la política argentina deesos años.
¿Porqué, con todo, cuestiono queno haya habido avances a lo largode aquel período? Porque losingleses, a pesar de su determina-ción de respetar los deseos de losmalvinenses, hicieron muchísimopor “darle forma a los deseos ypreferencias de estos”, a través deun juego múltiple en el que cuen-tan las iniciativas de negociaciónpropuestas a los argentinos (con-dominio, integración física conpostergación de la solución de ladisputa territorial, inserción delconflicto en un amplio programade cooperación científica y econó-mica en toda la región austral,retroarrendamiento, etc., etc.), y lapersuasión así como la presiónsobre los propios isleños (soltan-do poquísimo dinero, no aumen-
tando casi la defensa de las islas -más bien advirtiéndoles que lareducirían-, viajando constante-mente a las islas para ejercer unapresión moral y explicándoles quesi no se entendían con los argenti-nos no tendrían futuro, etc.).
¿Porqué, entonces, la políticaargentina de “amenaza verosímil”conducía a un callejón sin salida?Simplemente porque, combinadapor no decir potenciada en susefectos por lo poco presentableque era nuestra política doméstica(recuerdo al lector: Onganía,Isabel, Videla...), generaba más ymás desconfianza y rechazo nosolamente entre los isleños, sinotambién entre sectores de la opi-nión pública británica que impor-tan: los Comunes, la prensa. Enverdad, el trabajo de apriete quelos ingleses hicieron sobre losisleños había creado, hacia 1982,una profunda brecha entre lasautoridades gubernamentales y elForeign Office, por un lado, y losmalvineses, por otro.
Como observa Freedman (2005),un representante isleño, AdrianMonk, explicó a un diplomático-militar argentino que los isleños“apreciaban todo lo que los argen-tinos habían hecho en materia decomunicaciones, energía y salud,pero mantenían sus preocupacio-nes sobre los propósitos argenti-nos. La vasta mayoría de los mal-vinenses estaría de acuerdo conque había oportunidades de coo-peración, siempre y cuando nohubiera segundas intenciones“.
Es el equivalente perfecto a “tequiero pero como amigo” (just
friends). En 1980 habían tenidolugar elecciones de los consejosisleños, triunfando sectores muyduros (es dudoso que los hubiera“blandos”) en lo que se refiere acualquier entendimiento conArgentina en materia de sobera-nía. Pero es algo muy deplorablela amorosa obsesión argentina: ala tierra, no a sus habitantes; deestos se esperaba que fueran ellosquienes nos amaran. La informa-ción que proporciona Freedmanes clarísima en lo que se refiere alimpacto del comportamientoargentino sobre los malvinenses.Cuando la embajada inglesa enBuenos Aires renovó sus sugestio-nes para que mantuvieran con losargentinos conversaciones direc-tas sobre cooperación la respuestafue que aquellos no deseaban con-tactos que se prestaran a malen-tendidos. Para ellos la propuestaconsistía en nexos demasiado for-males e inquietantes. No queríanvínculos institucionalizados,temían “estar siendo arrastradoshacia lo que consideraban unatrampa para enredarlos en víncu-los aún más estrechos conArgentina”. Así las cosas, sepuede entender que cuandoNicholas Ridley llevara, despuésde un muy arduo trabajo de prepa-ración del terreno en BuenosAires y en las Malvinas (dondefue recibido con gran frialdad), alos Comunes la propuesta deretroarrendamiento, laboristas yconservadores lo chiflaran. “¿Estáconciente el ministro de que noexiste ningún apoyo, ni en lasislas ni en esta cámara, para losvergonzosos esquemas parasacarnos de encima a estas islas,que han estado pululando poraños en el Foreign Office?”, inter-
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
28
pela el diputado Russell Johnston.Y que el editorial del Times del 28de noviembre sostuviera(Cisneros y Escudé, 1999, TomoXII): “Ni siquiera puede pensarseen la posibilidad de entregar a losisleños a la Argentina en contra desu voluntad. Esto es así no impor-ta la clase de gobierno que tengael poder en la Argentina, y es par-ticularmente cierto en vista delsangriento historial del presenterégimen militar”. Como lo descri-be Peter Beck (1982), no se trata-ba solamente del principio deautodeterminación; además, “losComunes sentían simpatía por unpequeño pueblo amenazado porun vecino más grande, sobre todosi la forma de gobierno de laArgentina y su sociedad no sólono estaban libres de críticas, sinoque también amenazaban la formade vida británica que hasta elmomento se disfrutaba en las islasFalkland”.
Que la amenaza verosímil eraself-defeating, o un tiro en el pro-pio pié, precisamente se patentizaen el tramo final de este período,con Viola en la presidencia y elhábil Oscar Camilión en la canci-llería. Seis meses antes de la inva-sión (Charlton, 1989), los diplo-máticos británicos, impulsadospor un Camilión genuina o ficti-ciamente alarmado por el rumorde sables que decía escuchar entrelos militares, presionaron paraque el canciller Carrington (unimportante líder del partido con-servador) consiguiera que el temaMalvinas fuese de prioridad en elgabinete y una firme decisión afavor del leaseback. Carringtondijo que era imposible, aunque erasu preferencia. De las tres opcio-
nes que se le abrían, continuarhaciendo tiempo, romper lasnegociaciones o promover (nue-vamente) un retroarrendamiento,eligió la primera.
El lector se preguntará porqué,entonces, la Argentina sostuvoinfatigablemente esta política de“amenaza verosímil”. Mi respues-ta es que era la única compatible,no con una solución de un simpleconflicto territorial entre nacio-nes, o con nuestro mejor interésde inserción en el mundo, sinocon la “causa Malvinas” comoconfiguración político cultural. Yno sólo por eso: a partir de 1965,los sucesivos gobiernos (inclu-yendo el de la UCR hasta el golpede junio del 66), creen que larecuperación de las islas está alalcance de la mano, y depositanmuchísimas esperanzas de resol-ver sus problemas de legitimaciónpolítica en un éxito propio en elconflicto. Proceden, por tanto,exactamente del modo contrarioal que se precisaba: presionan,procuran forzar la mano, buscanapurar los tiempos, amenazan.
Más y más, la política y la diplo-macia argentinas se pusieron ensintonía con las orientaciones quese desprendían de la causa: había-mos sido despojados, la Argentinaestaba incompleta si no recupera-ba esa sagrada tierra, los isleñosno eran sino unos intrusos y losingleses no eran sino unos piratas,la razón estaba de nuestro lado yla paciencia tenía un límite.Escapar del callejón sin salida deesta política exigía una reformula-ción que ningún gobierno podíaencarar - fuera porque le resultaraodiosa, fuera porque carecía de
capital político para intentarlo – amenos que tuviera una dosis pococomún de valentía y capacidad deliderazgo. Cuando se llegó alfondo del callejón, Galtieri yAnaya (uno porque no tenía tiem-po para sus ambiciones y otro por-que llevaba la “causa Malvinas”en la mente y en el corazón) nopersistieron en él, sino que esca-paron con un cambio de políticahacia una todavía peor.
De paso y para concluir: es inevi-table que toda guerra haga prolife-rar los contrafácticos. La memoriay los relatos sobre esta guerra,potenciados por la plena vigenciaactual de la “causa Malvinas”,fabrica unos contrafácticos - a mientender - particularmente tóxi-cos. Traigo aquí otros dos: “dehaber aguantado una semana másen junio del 82 ganábamos la gue-rra” (v.g. Miguel Bonasso, 2002,12) o “si hubiéramos negociadomejor en abril y mayo una vez queocupamos Puerto Stanley nosquedábamos con las islas” (v.g.Rodolfo Terragno, 2002). El deque “si no ocupábamos las islasya serían nuestras” es uno más, alque le auguro larga vida. Todo locual pone de manifiesto cuán difí-ciles de interpretar son los legadoscrueles que nos dejó aquel episo-dio de 1982. Y hace patente, asi-mismo, la facilidad con que pode-mos borrar nuestro pasado en vezde asumirlo como tal y ponernosmanos a la obra “desde el lugar adonde llegamos, por incómodoque sea, y no desde el lugar dondenos gustaría estar de no haberocurrido tales o cuales cosas queefectivamente ocurrieron”.
29Mural InternacionalAno I, nº 2Novembro 2010|
Referencias
Beck, Peter (1982) ´Cooperative Confrontation inthe Falkland Islands Dispute`, Journal of Inter-American Studies and World Affairs, 24 (1), febrero.Cisneros, Andrés; Escudé, Carlos (Eds.) (1999)Historia General de las relaciones exteriores de laRepública Argentina, Tomo XII: La diplomacia deMalvinas (1945-1989), Buenos Aires, Grupo EditorLatinoamericano.Freedman, Lawrence (2005) The Official History ofthe Falklands Campaign, London, Routledge.
Informe Franks (1983) ´Report of a Comittee ofPrivy Counsellors`, Falkland Islands Review, enero.Mangold, Peter (2001) Success and Failure inBritish Foreign Policy. Evaluating the Record, 1900-2000, Oxford, Palgrave.Palermo, Vicente (2007) Sal en las heridas. LasMalvinas en la cultura argentina contemporánea,Buenos Aires, Sudamericana.Terragno, Rodolfo (2002) Falklands/Malvinas,Buenos Aires.
Suspensa nas contradições impostas pela indis-solubilidade dos processos do alargamento e doaprofundamento político, a União Europeia
(UE) vê, com a entrada em vigor do Tratado deLisboa, a 1 de Dezembro de 2009, abrir-se uma etapanova à já longa caminhada que tem permitido a cons-trução do edifício europeu. Uma caminhada concretade cinquenta e nove anos, mas de raízes seculares, quetrouxe para a prática política o desejo de unidade docontinente europeu. Um desejo sempre proclamado,mas apenas alcançado pela violência da imposição.
Um desejo que apenas os “pais fundadores” daEuropa Unida souberam tornar realidade sem imposi-ção, a partir da legitimidade de populações saturadasde guerras e conflitos. Um desejo alcançado comavanços e recuos a que hoje se depara o desafio deuma nova e, até, quem sabe, promissora era.
Assinado em Lisboa, no dia 13 de Dezembro de2007, pelos chefes de Estado e de Governo dos jávinte e sete Estados-membros da União Europeia, oTratado Reformador de Lisboa procura, num mundoem rápida mutação, ser capaz de permitir à Uniãodar respostas efectivas aos actuais desafios.Prevendo a respectiva entrada em vigor no dia 1 deJaneiro de 2009,2 o Tratado de Lisboa visa tornar aUnião Europeia mais eficiente (dotando-a deInstituições adaptadas a uma União alargada), maispróxima dos cidadãos, mais eficaz e coerente no seurelacionamento com a sociedade internacional emais apta a responder aos desafios globais que se lhedeparam neste início de século.3 De acordo com aPresidência Portuguesa do Conselho da União, “oTratado de Lisboa proporcionará à União um quadroinstitucional estável e duradouro. Não se prevêemalterações num futuro próximo, de modo que aUnião poderá consagrar-se inteiramente aos desafiospolíticos concretos que se avizinham, designada-mente as alterações climáticas e a globalização”.4
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
30
A nova União Européia do Tratado de LisboaRaquel Patrício1
1. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas/UniversidadeTécnica de Lisboa (ISCSP/UTL)2. De acordo com o artigo 6º do Tratado de Lisboa, este teria de serratificado pelos Estados-membros da União, segundo as respecti-vas normas constitucionais, para poder entrar em vigor no dia 1 deJaneiro de 2009, se então tivessem sido depositados todos os ins-trumentos de ratificação, ou, na falta destes, no primeiro dia do mêsseguinte ao do depósito do último instrumento de ratificação. Estesinstrumentos de ratificação, segundo o artigo 54º da VersãoConsolidada do Tratado da União Europeia, seriam depositadosjunto do governo da República Italiana.3. Conclusões resultantes da análise das Versões Consolidadas doTratado da União Europeia e do Tratado Sobre o Funcionamento daUnião Europeia, Jornal Oficial da União Europeia, C 115/1(2008/C 115/1).4. Cfr. Conclusões da Presidência – Lisboa, Conselho Europeu deBruxelas de 14 de Dezembro de 2007, 16616/07 CONCL 3,Bruxelas, 14 de Dezembro de 2007, p 2.
31Mural InternacionalAno I, nº 2Novembro 2010|
Após a assinatura do Tratado, oParlamento Europeu veio a apro-vá-lo. Naturalmente, a aprovaçãodeste pelo hemiciclo deEstrasburgo não era juridicamentenecessária para que o documentoentrasse em vigor; todavia, a suaaprovação pelo ParlamentoEuropeu é de grande relevânciapolítica, indo ao encontro dosobjectivos democráticos da novaUnião. O Parlamento Europeu foi,assim, a primeira entidade a pro-nunciar-se sobre o novo TratadoComunitário, fazendo-o nomomento em que tinham início osprocessos de ratificação nosEstados-membros de acordo comas respectivas normas constitucio-nais. Em fase de pleno entusiasmocom o novo Tratado, nada faziasupor que algum percalço viesse asuceder. Até porque, para evitardesaires, à semelhança do ocorridona França e na Holanda com oTratado Constitucional, a ComissãoEuropeia proibira, desde logo, a rea-lização de referendos. Apenas naIrlanda, por imperativos constitucio-nais, tal via seria adoptada, comresultados imprevisíveis e desastro-sos para o Projecto Europeu.
A verdade, de facto, é que proble-mas com a ratificação do Tratadosurgiram em França, naAlemanha, na Polónia, naRepública Checa e, especialmen-te, na Irlanda, onde o referendopopular de 12 de Junho de 2008seria vencido pelo “não” com53,4% dos votos, contra os 46,6%favoráveis ao “sim”, até que umnovo referendo levasse osIrlandeses a aprovar o Tratadoque, em função de todos os pro-blemas levantados, não entraria
em vigor sem que diversas excep-ções tivessem de ser feitas aalguns Estados-membros. Assim,foi necessário limitar os poderesdo Tribunal de Justiça para a Grã-Bretanha e para a Irlanda (a pro-pósito da preocupação dosIrlandeses com o ExércitoNacional e a oposição ao abortocomo formas de perder soberania)e desvincular a Polônia, aRepública Checa e a Grã-Bretanha da Carta dos DireitosFundamentais, para além de exis-tirem já, em protocolos anexos aoTratado assinados aquando daassinatura deste, cláusulas deexcepção e opting out para aIrlanda e a Grã-Bretanha emmatéria de aplicação de decisõesno âmbito da cooperação judiciale policial. Foi ainda necessárioconceder à Eslováquia a garantiade que a União Europeia nãotomará medidas que contradigamos Decretos de Benes, segundodeclaração política expressamentepresente nas Conclusões doConselho Europeu de 30 deOutubro de 2009.
Com estas excepções, o Tratadode Lisboa pôde entrar em vigor a1 de Dezembro de 2009, exacta-mente um mês antes da nova dataposteriormente prevista (1 deJaneiro de 2010). A cerimônia,realizada na Torre de Belém, emLisboa, sob Presidência Sueca doConselho da União, marcou assimuma nova etapa na construção doedifício europeu, aplaudida pelosVinte e Sete.
Apelidada como um novo começopelo primeiro-ministro português,José Sócrates (2009), e como um
“símbolo de uma Europa reunifica-da”, pelo presidente da ComissãoEuropeia, Durão Barroso (2009), aUnião Europeia do Tratado deLisboa torna-se mais livre e demo-crática, assim como mais capaz deenfrentar a crise financeiro-econô-mica e suas repercussões, emboraseja importante ressaltar que aentrada em vigor do Tratado deLisboa, por si só, não chega, sendonecessárias, acima de tudo, a deter-minação e a vontade política dosEstados-membros.
Não alterando o quotidiano doscidadãos europeus, o Tratado deLisboa vem agilizar o funciona-mento das InstituiçõesComunitárias, bem como os pro-cedimentos comunitários. Comodiria o presidente do ParlamentoEuropeu, o polaco Jerzy Busek(2009), no discurso do dia 1 deDezembro, “o Tratado de Lisboa ésobre a forma como a UniãoEuropeia se deve organizar e nãosobre a forma como as pessoas sedevem comportar ou sobre o quedevem fazer”.
Neste sentido, e perante o comple-xo processo de ratificação doTratado, que demorou dois anos,alguns pontos foram alteradosrelativamente ao Tratado deLisboa inicialmente assinado a 13de Dezembro de 2007 o qual, porsua vez, já constituía uma espéciede “reforma” ao TratadoConstitucional, em relação aoqual introduziu alguns “travões deemergência”, embora tenha man-tido, na essência, o espírito desseTratado Constitucional.
Assim, a referência ao método“convenção” para a revisão subse-
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
32
quente dos Tratados Comunitários éretirada ao Tratado Constitucional,não apresentando, o Tratado deLisboa, qualquer referência nessamatéria, embora fique implícito queesse será o método adoptado parapreparar as futuras conferênciasintergovernamentais.
Do mesmo modo, o Tratado deLisboa é omisso quanto à referên-cia aos símbolos da União – pre-sente no Tratado Constitucional5 –e quanto à “cláusula passerelle”introduzida pelo TratadoConstitucional,6 que iria permitirao Conselho Europeu, por unani-midade, após aprovação doParlamento Europeu e informaçãoaos parlamentos nacionais, reduziro número de matérias votadas porunanimidade (excepto as que tives-sem implicações nos domíniosmilitar e da defesa) e aplicar o pro-cesso legislativo ordinário noscasos em que estivessem previstosprocessos legislativos a priori.
O Tratado de Lisboa altera tam-bém, face ao TratadoConstitucional, a matéria relativaaos actos jurídicos da UniãoEuropeia, desaparecendo as figurasda lei europeia, da lei-quadro euro-peia e do regulamento europeu.7
Finalmente gostaria de ressaltarque o Tratado de Lisboa não fazreferência ao objectivo político da
União Europeia que o TratadoConstitucional enunciava como “aEU exerce em moldes comunitá-rios as competências que osEstados-membros lhe atribuem”,a qual já vinha em substituição daanterior expressão, “uma Uniãocada vez mais estreita entre ospovos europeus”.
Facto é que a entrada em vigor doTratado de Lisboa não representaa solução de todos os problemasda EU. Muito pelo contrário, esteacontecimento marca o início deuma nova era para o ProjectoEuropeu, mais exigente e comple-xa, que exigirá dos líderes euro-peus a capacidade de seguiremmantendo a evolução do trípticocomunitário enunciado por ValéryGiscard d`Estaign e HelmutSchmidt nos anos 1970: o apro-fundamento, o alargamento e oacabamento.
Neste sentido: “Quo VadisEuropa?” (Fischer, 2000). Maisde cinquenta anos após o início daconstrução europeia, é esta aquestão que surge hoje, como sur-giu já tantas vezes ao longo daHistória europeia. A discussãosobre o futuro da União Europeiaé uma questão, embora de longoprazo, central e essencial na vidacomunitária. Designadamentenum momento pautado por inú-meras dúvidas e incertezas resul-tantes da necessidade de conciliaro alargamento a Leste com o apro-fundamento da integração nodomínio político, processos indis-sociáveis a conduzir em paralelo.
Fácil se torna observar que os
valores sobre os quais assenta aconstrução da nova sociedade,embora consensuais, não suscitamo acordo quanto à forma de osorganizar na nossa Europa inte-grada e aberta, reestruturada emLisboa. Várias hipóteses se con-frontam, umas mais federalistas,outras mais confederalistas, ouunionistas, ou comunitaristas.Mas a verdade é que não se podereduzir o problema à discussão,eventualmente estéril, entre os“ismos” culturalmente hegemóni-cos, nem à confrontação entrefederalismo e nacionalismo. Aconstrução da Europa tende, cadavez mais, a ser feita de baixo paracima, graças ao peso crescenteque se deseja atribuir à opiniãopública.
Daqui ressalta a pertinência emreflectir sobre os modelos teóricosexistentes para a construção euro-peia, os quais se reconduzem, porum lado, aos modelos clássicos e,por outro, aos mais recentes. Osprimeiros podem ser de carácterintergovernamental ou apresentaruma tendência supranacional,havendo, neste último caso, quedistinguir entre os modelos comu-nitários ou funcionalistas e osmodelos federalistas, que englo-bam, desde logo, a federação clás-sica, a confederação, a quasefederação, o federalismo coopera-tivo, a federação dos Estados-nação, a federação das regiões e afederação dos Estados e dasregiões. A busca de novos concei-tos para interpretar as novas reali-dades existentes tem determinado,porém, o surgimento de modelosnão clássicos que se servem da
5. Referência constante do artigo I-8º doTratado Constitucional.6. Referência constante do artigo III-422ºdo Tratado Constitucional.7. Estas figuras foram previstas peloTratado Constitucional no seu artigo I-33º.
33Mural InternacionalAno I, nº 2Novembro 2010|
utilização de conceitos não con-vencionais, como a “governação,a democracia cosmopolita, ademocracia supranacional e pós-federal, o Estado-rede”.8
A União Europeia que hoje temosnão se reconduz a estes conceitos,embora muitos constituam verda-deiras propostas de organizaçãopara o futuro, enquanto outrossurgem como caminhos que aUnião tem vindo a abrir como for-mas de responder às alteraçõesvelozes da “sociedade internacio-nal global”; caminhos cujos tri-lhos vão ainda no início, mas quetêm já originado teorizações queprocuram denominar as novasrealidades desta sociedade tãocheia de mutações. Para já,porém, a União Europeia surgecomo uma entidade híbrida, decaracterísticas sui generis que, sequisermos, podemos denominarde “organização internacional deintegração de carácter supranacio-nal”, de acordo com a sugestão deAntónio José Fernandes (1994).
Na União Europeia, nem osTratados Constitutivos, nem oDireito Comunitário derivado,interferiram nas prerrogativassoberanas internas e externas dos
Estados-membros, na medida emque cada Estado mantém o direitode fazer a guerra, de estabelecerrelações diplomáticas e consula-res e o direito de reclamação inter-nacional de forma independenterelativamente à União, deixandoapenas de ter o direito de cunharmoeda. Apenas interferiram nodireito de os Estados celebraremtratados, acordos e convençõesinternacionais, mas exclusiva-mente em relação às questões esectores reservados à competênciadas Instituições Comunitárias, oque equivale, praticamente, adizer em relação às relações eco-nómicas e comerciais. Nos restan-tes domínios, o envolvimento dosEstados-membros no processo deintegração europeia não se saldoupor uma perda considerável dosseus poderes soberanos. Apenas aextensão das políticas comunitá-rias tem-se traduzido numa limita-ção gradual dessas prerrogativas,porque, na medida em que acei-tam harmonizar as legislações euniformizar procedimentos emvários sectores económicos esociais, os Estados-membrosestão a aceitar diluir parcelas dasrespectivas soberanias no contex-to comunitário. Porém, fazem-node livre vontade, reservando-se odireito de vetar projectos de deci-são nas matérias decididas peloprocedimento da unanimidade.
Por outro lado, a incapacidade doconceito clássico de soberaniaresponder e gerir o mundialismo,a globalização e o internacionalis-mo, colocou em jogo a adequaçãodos conceitos antigos às novasrealidades, o que levou o
Professor Doutor AdrianoMoreira a substituir o conceito deEstado soberano pelo de “sobera-nia de serviço”.9 Por isso, também,a decisão de aderir aos grandesespaços que organizam a respostaque supera as insuficiências dassoberanias clássicas, ou assumeminteresses novos que nunca estive-ram a cargo daquelas. A soberaniado Estado é então posta, voluntaria-mente, ao serviço de iniciativasinternacionais, em que participamdiversos Estados e organizaçõesinternacionais, na defesa de interes-ses comuns e humanos, de proble-mas que extravasam o âmbito inter-no e que, por isso, necessitam desoluções globais. O Estado deixa,assim, de ser soberano à maneiratradicional, para passar a ser uma“soberania de serviço”, ao serviçode valores e interesses globais,mundiais e internacionais. Por isso,uma vez mais, a soberania de servi-ço extrapola o âmbito territoriallimitado do Estado soberano paraabarcar áreas mais vastas de inte-resses e de acção.
Todos estes factores e circunstân-cias, resultantes de Lisboa e demuito antes, originam limitações àafirmação das prerrogativas sobe-ranas dos Estados. Porém, doponto de vista formal, a grandemaioria dos Estados mantémquase intactas essas prerrogativas,já que fazem depender o seuenvolvimento em compromissosinternacionais da vontade expres-sa dos seus órgãos de soberania, oque significa que as limitações aoexercício do poder soberanopodem decorrer de actos jurídicoslivremente assinados pelos
8. Observatório de Relações Internacio-nais, Modelos Teóricos para a ConstruçãoEuropeia, Janus 2001, Anuário de RelaçõesExteriores, p.106-107.9. Dissertação proferida no Seminário AEuropa e o Poder Aéreo, realizado noEstado-Maior da Força Aérea Portuguesa,em Maio de 1996.Dissertação proferida noSeminário A Europa e o Poder Aéreo, reali-zado no Estado-Maior da Força AéreaPortuguesa, em Maio de 1996.
Estados. Foi o que sucedeu com oenvolvimento dos Estados nasComunidades Europeias, atravésda assinatura dos Tratados deParis e de Roma e sucede hoje, naEuropa do Tratado de Lisboa.
Na verdade, considerada a dife-renciação da Europa como conti-nente, em povos, culturas, lín-guas, sociedades, as propostasapresentadas em diversos qua-drantes da sociedade europeia,não pode supor-se o desapareci-mento dos Estados nacionais,entidades, aliás, indispensáveispara a estruturação de qualquerque venha a ser o formato futuroda União Europeia. Um formatoque, reconhecido por Lisboa, nãopoderá senão assentar nos Estadosnacionais, que não se substitua aestes nem se assuma como novopoder soberano, antes conduza aintegração europeia pelos cami-nhos da divisão clara de poderesentre a Europa e os Estados-naçãoque a compõem, exprimindo intei-ramente o conceito de subsidiarie-dade formalizado em Maastricht eresultando da diferenciação develocidades da integração euro-peia considerada como tal.
Muito se tem falado, em todo estedebate sobre o futuro político daUnião Europeia alargada, na cons-tituição de um “núcleo duro” deEstados-membros – que poderá,eventualmente, ser compostopelos Estados da zona do Euro,aqueles que demonstram maiordesejo em avançar mais rapida-mente com a construção do edifí-cio europeu – que passarão a levaradiante a integração europeia,
assente nas cooperações reforça-das. Na verdade, numa Uniãoalargada, e, portanto, necessaria-mente mais heterogénea, o siste-ma de geometria variável surgecomo a opção certamente maisrealista, concretizando a integra-ção diferenciada assente em estru-turas múltiplas detentoras de dife-rentes tipos de competências epoderes, resultante da realizaçãode cooperações reforçadas emdiversos domínios. Solução que,embora apresente riscos, designa-damente de descaracterização daUnião num cenário de “Europa àla carte” a várias velocidades e deconsequente perda da coerênciainterna da União, podendo desen-cadear profundas crises endóge-nas, não deixa de surgir comoaquela que, provavelmente,melhor poderá servir o objectivode garantir algum grau de coesãoàs políticas comunitárias.
O momento actual da vida comu-nitária, após a ratificação doTratado de Lisboa, aponta para oeventual esgotamento do modelooriginal de integração europeia, omodelo dos passos lentos e pon-derados de Jean Monnet, exigindouma nova etapa em direção a umamaior integração política. E avan-ços sólidos e concretos no domí-nio da União Política só poderãoser alcançados a partir da flexibi-lização dos ritmos de integraçãoque têm que respeitar a vontadedos cidadãos de cada Estado-membro. Parafraseando Denis deRougemont (1996), “a naçãooculta a Europa como a árvoreoculta a floresta, pelo que umeuropeu que ficou nacionalista
pelo coração parece-se com umaárvore que continua a duvidar daexistência da floresta”. Mas istonão significa, como bem lembra oProfessor Doutor José AdelinoMaltez (1996), que se caia no ladooposto, “daqueles que, clamandopela floresta, esquecem que esta éfeita de árvores (...). Só possopensar a Europa, pensando emportuguês, porque só posso atingiro universal europeu através daminha diferença, enraizada na his-tória. A não ser que se tente umrevisionismo de repúdio da histó-ria portuguesa, negando a memó-ria e o projecto do abraço armilarque, aliás, constitui o cerne donosso símbolo nacional”.
O projeto de unidade europeiacongrega diversas dimensões,econômica, social, estratégica,ética, cultural, nas quais serevêem as diversas comunidadesnacionais que nele participam.Funciona como instrumento dedesenvolvimento, proporcionandoa melhoria das condições de vidade cada uma dessas comunidadese, nas partilhas de soberania queimplica, não afecta os valores daidentidade nacional que cada umadas comunidades considera seus.O projeto de unidade europeia sótem interesse enquanto correspon-der à conciliação entre o interessecomum e os anseios de cada umadas comunidades nacionais quenele se unem. A necessidade deconciliar o modelo de enquadra-mento dos alargamentos com estaperspectiva solidária constitui umdos grandes desafios que hoje secolocam ante a União Europeia.
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
34
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
35
Esperemos, após todo este processo, que a UniãoEuropeia não siga o mesmo caminho dos grandesimpérios, demonstrando que a grandeza territorial ea riqueza de recursos, por si sós, podem não evitar ocolapso, quando o sistema se torna inoperacional.Podem, pelo contrário, precipitá-lo, como sucedeusempre aos impérios do passado. Todos nasceram,cresceram e, quando atingiram um tamanho dema-siadamente grande, morreram, seguindo a teoria doperecimento dos impérios de Jean-BaptisteDuroselle (2000). Uma teoria de acordo com a qualos homens, em grupo, “criam um consenso paraserem mais fortes, depois o destroem, porque a efi-cácia vai de encontro à felicidade e esta é preferívelà eficácia quando os períodos de alta tensão termi-nam. Quando esse fenómeno se produz, assistimos àformação e à destruição dos impérios”(idem). Emmeio a todas estas reflexões, vislumbra-se um futurode dificuldades para a concretização, necessária, daintegração política no seio da União Europeia alargadaa Leste. Posicionada entre o aprofundamento políticoe o alargamento, a União principia já a solucionar osproblemas resultantes desta constante indissociável dahistória comunitária, mantendo-se, todavia, hesitanteante as contradições colocadas por todo este processo.Um processo que apenas com o tempo poderá julgar-se, na certeza de que qualquer perspectiva de êxito exi-girá, sempre, não apenas o envolvimento dos cidadãoseuropeus, como ainda o entendimento de que o desen-volvimento de uma verdadeira União Política exigeuma comunhão de interesses e objectivos que apenaso tempo poderá tornar real e efectiva.
Referências
Barroso, Durão (2009) ‘Discurso proferido na ceri-mônia da entrada em vigor do Tratado de Lisboa`.
Speech/10/560 in Europa – Communiqués de PresseRapid, Disponível em http://europa.euAcessibilidade: 02/dez./2009.Busek, Jerzy (2009) Discurso proferido na cerimô-nia da entrada em vigor do Tratado de Lisboa.Disponível emhttp://europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language_PT&refreshCache=yes&pageRank=18&id=66 .Acessibilidade: 02/dez/.2009.Duroselle, Jean-Baptiste (2000) Todo ImpérioPerecerá - Teoria das Relações Internacionais,Brasília, Editora UnB.Fernandes, António José (Ed.) (1994) A UniãoEuropeia de Maastricht - Federação, Confederaçãoou Comunidade de Estados?, Lisboa.Maltez, José Adelino (1996) Tudo Pela Europa,Nada Contra a Nação, Lisboa, ISCSP (Separata daConjuntura Internacional).Patrício, Raquel (Ed). (2009) Uma Visão do ProjectoEuropeu – História, Processos e Dinâmicas,Coimbra, Editora Almedina.´Relatório Corbett/Mendez de Vigo`, aprovado nasessão plenária do Parlamento Europeu no dia 20 deFevereiro de 2008.Sócrates, José (2009) ‘Discurso proferido na cerimô-nia da entrada em vigor do Tratado de Lisboa`.Jornal Público, versão on line de 01/dez./2009.Disponível em http://www.publico.pt/Mundo/trata-do-de-lisboa-e-um-novo-comeco-no-processo-de-integracao-europeia_1412185 Acessibilidade:01/dez./2009.Soromenho-Marques, Viriato (Ed.) (2005) Cidadaniae Construção Européia, Ideais e RumosEditora/Museu da Presidência da República, Lisboa.
36Mural InternacionalAno I, nº 2Novembro 2010|
Estragon: Espere! Eu me pergunto se não teria sido melhor que a gente tivesse ficado sozinho, cada um por si. Nós não fomos feitos para a mesma estrada.
Vladimir: Isso nunca se sabe.Estragon: Não, nunca se sabe nada.Vladimir: Nós ainda podemos nos separar; se você achar
melhor.Estragon: Agora é tarde demais.Vladimir: É, agora é tarde demais.Estragon: Então, vamos?Vladimir: Vamos.
(Samuel Beckett, “Esperando Godot”, 1952)
Após a crise internacional de 2007-2009, osnorte-americanos vêm perdendo a posiçãode motor da economia mundial, enquanto os
consumidores dos Bric – Brasil, Rússia, Índia eChina – lideram a sua recuperação. A estimativa dacorretora Goldman Sachs é de um crescimento de11,4% para a China, de 8,2% para a Índia e de 4,5%para a Rússia em 2010. Houve uma segunda mudan-ça de projeção em relação à previsão de crescimentodo PIB do Brasil: ela foi alterada de 5,8% para 6,4%para este ano. Além de ter uma excelente performan-
ce no seu ciclo econômico e em especial na atividademanufatureira – na qual os Bric mostraram forte recu-peração –, a China vem ultrapassando os EUA como oprincipal mercado mundial. Quanto às tendênciasrecentes nas vendas de varejo, por exemplo, seu cres-cimento no território chinês desde 2007 é maior do quea queda de consumo ocorrida nos EUA. Embora ocrescimento chinês seja visto como “fenomenal”, exis-tem questionamentos quanto à capacidade de sustenta-ção desse ritmo, pois não se sabe se tal PIB pode semanter sem a elevação da inflação.
Dentre os Bric, o Brasil é considerado por JimO’Neill, autor do acróstico, e por uma série de outroseconomistas como aquele que apresenta as melhorescondições de garantir um crescimento sustentável nolongo prazo e pode tornar-se uma das maiores potên-cias globais até 2050. Esse desempenho pode sercreditado ao bom resultado que o país vem obtendoem diversas áreas relacionadas ao crescimento sus-tentável. Em relação aos demais membros do grupo,o Brasil tem o melhor resultado no índice GrowthEnvironment Score, que considera 13 variáveis queapontam para o crescimento sustentável, a competi-tividade e a produtividade. O país tem uma pontua-ção de 5,3 numa escala de 0 a 10, em que pontuaçõesmais elevadas são consideradas positivas para ocrescimento. O Brasil é seguido por China (5,2),Rússia (5,1) e Índia (4,0) e, nos itens específicos
Esperando Godot?O Brasil e a China além da crise internacional
Diego Santos Vieira de Jesus1
1. Instituto de Relações Internacionais/Pontifícia UniversidadeCatólica do Riode Janeiro.
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
37
dessa planilha, obteve uma boapontuação em áreas como infla-ção (8,6), dívida externa (8,5) eeducação (7,4).
Este artigo investiga o desempe-nho dos dois Bric mais bem-suce-didos na superação da crise inter-nacional de 2007-2009 – Brasil eChina – e os elementos econômi-cos e políticos que viabilizaramseu crescimento. Na dimensãoeconômica, a maior solidez doregime macroeconômico e amenor alavancagem2 no sistemafinanceiro capitalizado permiti-ram uma abordagem mais equili-brada de regulação do mercadofinanceiro. Na área da políticaexterna, tais Estados procuraramdesenvolver regras, normas e pro-cedimentos que satisfizessem seusinteresses de desenvolvimento ede ampliação de sua autonomia eparticipação.
A economia
A crise internacional, segundoFraga (2010), representou uma“ressaca” após um período decrescimento acelerado e impulsio-
nado pelo crédito, o qual chegouao final quando se verificou quecertas características não eramsustentáveis: os cidadãos dosEUA tinham-se endividadodemais, e os preços dos imóveistinham subido de forma exorbi-tante, além de que os balanços dasinstituições financeiras no mundointeiro exibiam um grau de ala-vancagem extraordinário. Comseu prenúncio em agosto de 2007,a crise colocou em marcha ummovimento de desmonte dessaalavancagem e foi amortecidaporque governos puderam absor-ver o inchaço de crédito. Isso,todavia, não eliminou o problema:ele foi transferido dos balançosdas empresas e das famílias para odesses governos, de forma quenão houve uma saída definitiva(Fraga, 2010).
Como grande parte dos países emdesenvolvimento, o Brasil entrouna crise com balanços em bomestado, e o Banco Central vinhaimplementando a tarefa de admi-nistração do ciclo econômico. Arecessão foi bastante profunda,mas muito curta, na medida emque não havia sinais de superendi-vidamento. Mesmo não tendouma gestão tão conservadoraquanto à da China, o Brasil conse-guiu deixar a recessão em dois tri-mestres e demonstrou capacidadede administrar a crise (Fraga,2010). Segundo Affonso CelsoPastore, consultor e ex-presidentedo Banco Central, a maior solidezdo regime macroeconômico –câmbio flutuante, nível considerá-vel de reservas, dívida públicadesdolarizada, inflação controladae superávit primário – e a menor
alavancagem no sistema financei-ro capitalizado – proibido pelosmecanismos de regulação de ope-rar com ativos perigosos, como ostítulos no mercado norte-america-no de hipotecas subprime,empréstimos hipotecários de altorisco concedidos a clientes semcomprovação de renda e com his-tórico ruim de crédito – permiti-ram uma abordagem mais equili-brada de regulação do mercadofinanceiro (Dante, 2009) e, comoressalta O’Neill (2010), contive-ram uma crise bancária.
Dentre os fatores econômicos quejustificam o desempenho brasilei-ro na superação da crise e no cres-cimento posterior, cumpre desta-car as taxas de juros mais baixas –embora ainda sejam elevadas emtermos mundiais –, uma economiamais estável e previsível e melho-rias legais e regulatórias nos mer-cados de crédito. O déficit naconta corrente do balanço depagamentos3 aponta para o fatode que o mundo financia o paíspara que consuma muito – e assimpoupe pouco, o que pode gerarpreocupação – e também tenhacondições de investir, sendo taldéficit motivado não pelo endivi-damento como no passado, maspela entrada de investimentos(Fraga, 2010). Além disso, opadrão de consumo permitiu aopaís atuar como um dos principaisresponsáveis pela recuperação daeconomia mundial. Desde o PlanoReal, observa-se uma melhoria nopadrão de distribuição da renda ea redução da pobreza; entretanto,o Brasil ainda tem juros altos eum endividamento considerável.Logo, isso exige maior cautela dogoverno e da população caso as
2. No jargão econômico, o termo “alavan-cagem” refere-se à situação na qual uminvestidor ou uma empresa investem maisdo que permitem seus recursos. Eles utili-zam instrumentos financeiros ou recursosde outros atores a fim de ampliar o retornode suas operações, mas também potencia-lizando seu risco.3. O balanço de pagamentos sistematiza astransações econômicas do país com oresto do mundo. O saldo das transaçõescorrentes configura-se como a principalconta do balanço de pagamentos e é com-posto pela soma dos resultados da balançacomercial, da balança de serviços e dastransferências unilaterais.
38Mural InternacionalAno I, nº 2Novembro 2010|
taxas de juros baixem ainda mais:se com as taxas altas o nível deendividamento é alto, com taxasreduzidas pode ser ainda maior.Ainda assim, o ambiente econô-mico oferece ao empreendedormais espaço para trabalhar, alémde permitir ao país alavancar omercado de capitais, que tem sidouma fonte de investimento, emespecial para o aumento de capa-cidade produtiva e a geração deempregos (Fraga, 2010).
Já a China tem um sistema de pro-dução e organização muito centra-lizado e uma taxa de poupançaelevadíssima. Tal país adotou,quando partiu para o caminho daliberalização, um modelo socialque seria impensável numa demo-cracia, com uma rede de proteçãosocial mínima, quase inexistente,ao contrário da brasileira, maisextensiva em termos de cobertura.Porém, o modelo chinês criou asbases para mais exportações, comuma taxa de poupança muitomovida pela atitude de precaução,que tem a ver não só com fatoresculturais, mas com as lacunas deproteção social. Ademais, o paísconsolidou-se como grande centromanufatureiro do mundo, deforma que industriais de todo oplaneta temem a concorrência chi-nesa. Hoje, o país demonstramelhores condições de adminis-trar a situação de transição inter-rompida em função da crise paraum modelo de mais consumo,mais eficiência e menos depen-dência das exportações.Pensando-se no crescimentosendo determinado pelo tamanhoda força de trabalho e na produti-vidade, a China tem grande vanta-gem em face de sua população
enorme (O’Neill, 2010). Emborao país tenha tido um excelentedesempenho nos últimos 30 anos,tal crescimento enfatiza a pressãosobre os outros países. Uma forçade trabalho barata, disciplinada epraticamente ilimitada permite aprodução de bens intensivos emtrabalho para o resto do mundo,mais barata que para os competido-res. No longo prazo, isso pode levara um colapso da produção indus-trial em muitos países – em particu-lar na Rússia – e intensificar a pres-são sobre a política de câmbio chi-nesa (Aleksashenko, 2010).
A política externa
A inserção internacional do Brasilparece caracterizada pelo quePinheiro (2000, 326) classificacomo um “institucionalismo prag-mático”. Nesse contexto, o paísbusca atingir objetivos de maiordesenvolvimento e de ampliaçãode sua autonomia por meio dearranjos de cooperação interna-cionais de diferentes níveis de ins-titucionalização: com níveis maisaltos, o país procura ampliar suaoportunidade de voz no nível mul-tilateral – como na OrganizaçãoMundial do Comércio (OMC),por exemplo – e evitar a domina-ção indiscriminada de grandespotências; com níveis mais bai-xos, procura garantir sua posiçãode liderança em contextos sub-regionais e preservar sua posiçãode potência média. A flexibilidadepara responder aos desafios tantodomésticos como internacionaispassa a ser cada vez mais interna-lizada na posição brasileira, afe-tando as decisões de políticaexterna a partir da consolidaçãode um pragmatismo ainda mais
aprimorado às suas ações no nívelinternacional: ao mesmo tempoem que diversifica parceiroscomerciais e busca uma participa-ção ativa no gerenciamento dequestões regionais e mundiais emorganizações como a OMC, oBrasil coopera com os EUA emmúltiplas esferas, internalizandoposições defendidas por tal super-potência. Esgotam-se, assim, osparadigmas americanista e globa-lista em nome de uma políticaexterna ainda mais pragmática eassertiva, particularmente intensi-ficada nas duas últimas décadas.Esses traços da política externabrasileira justificam-se pelo fatode que, ao mesmo tempo em que oBrasil como “país emergente” via-biliza o diálogo entre as grandespotências e os países subdesen-volvidos e funciona como ele-mento garantidor da estabilidade eda segurança regionais, ele tam-bém opera como catalisador dasdemandas de inúmeros paísesmenos desenvolvidos em fórunsonde buscam ampliar suas oportu-nidades de voz; particularmenteem fóruns econômicos multilate-rais. Com base nesse papel, oBrasil aproveita janelas de oportu-nidade buscando desenvolverregras, normas e procedimentosque satisfaçam seus interesses dedesenvolvimento e de ampliaçãode sua autonomia e de participa-ção nas principais decisões inter-nacionais. Como lembra Marques(2005, 62), a imagem internacio-nal do Brasil sustenta-se tambémno soft power exercido em funçãode seu poder de persuasão e darealização de seu papel de media-ção. Para que possa exercer talmediação, a credibilidade é neces-
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
39
sária, e, no pós-Guerra Fria, essafonte de credibilidade assentava-se em valores como a preservaçãodos Direitos Humanos, a consoli-dação da democracia, o fortaleci-mento da economia de mercado, anão-proliferação de armas de des-truição em massa e a defesa domeio ambiente, de forma que onível de internalização deles naperspectiva de inserção interna-cional do Estado passa a definir ograu da participação que ele podeter nos principais fóruns de con-certação político-econômicaregionais e multilaterais. Após aredemocratização, as posiçõesinternacionais defendidas pelo paíspassavam a se sustentar também nalegitimidade conferida pela abertu-ra de um diálogo mais intenso –embora ainda hoje limitado – comsetores da sociedade civil acerca detemas internacionais.
O esgotamento do modelo econô-mico fechado diante da crise fis-cal e do avanço do liberalismo nofim da Guerra Fria sinalizava que,diante da necessidade do país depreservar sua estabilidade socioe-conômica, a dependência de umúnico parceiro comercial poderiaser prejudicial em face de crisessistêmicas, ao passo que a super-potência permitia a criação deespaços em que países em desen-volvimento poderiam articular aconcertação política acerca detemas de seu interesse, desde queem respeito às instituições inter-nacionais criadas sob a égide devalores e princípios tidos como“universais”. Além disso, apesarda crise do terceiro-mundismo,resquícios da crítica às relações depoder assimétricas e a busca da
cooperação em nível mundial paraa ampliação da projeção de paísesmenos desenvolvidos permane-ciam compondo a multiplicidadedo processo de inserção interna-cional brasileira, preservadosinclusive por vários setores daelite nacional e do próprio corpodiplomático. Em face de um con-texto onde poderia preservar espa-ços de autonomia e dos traços uni-versalistas que compõem a inser-ção internacional do país, o Brasilvê que nem a lógica de alinha-mento incondicional aos EUAnem uma concepção estritamenteglobalista de política externaseriam não só estrategicamenteinteressantes para um país queprecisa se adaptar a novos cons-trangimentos sistêmicos, mas queconsolidava seu papel de potênciaemergente no nível internacional.Embora elementos como a opçãopelo institucionalismo tenhamsido preservados na ação interna-cional brasileira, o pragmatismofortalecido supõe que, em face derecursos limitados de poder, podeser interessante para o país aderiràs normas internacionais densa-mente institucionalizadas pelasgrandes potências ocidentais a fimde ampliar suas oportunidades devoz e, simultaneamente, garantir oexercício de seu poder de formamais legítima e discreta por meiode organizações de nível maisbaixo de institucionalização emnível regional, preservando suaautonomia.
Já a China tem manifestado reite-radamente que a sua inserçãointernacional no mundo contem-porâneo deve ser entendida comouma nova fase histórica caracteri-
zada pela sua “ascensão pacífica”,na qual tal país mostra-se maisfavorável a fortalecer as suas rela-ções com o exterior. Como apon-tam Medeiros & Fravel (2003, 22-26), a China utiliza instituições,regras e normas internacionaiscomo um mecanismo de promo-ção de seus interesses nacionais.Isso se traduz numa perspectivamais construtiva e sofisticada emenos conflituosa de sua políticaexterna quanto às principais ques-tões mundiais e regionais, deforma que a flexibilidade e asofisticação tornam-se caracterís-ticas fundamentais de sua posiçãoquanto às relações bilaterais, àsquestões de segurança internacio-nal e às organizações multilaterais.Tal imagem busca não somenteproteger e promover os interesseseconômicos chineses, mas ampliara sua segurança, conter a influênciade outras grandes potências comoos EUA nas instituições internacio-nais e viabilizar o exercício dopoder de forma mais legítima(Grieco 1997, 163-201).
O interesse fundamental de segu-rança e de consolidação do Estadoestá ligado não somente à sobrevi-vência do regime comunista e àconsolidação da posse de territó-rios contestados sob firme contro-le chinês, mas ao impedimento deconflitos que a China não podevencer ou que limitariam suascampanhas na busca de moderni-zação econômica e maior influên-cia política. Tow (2001, 18-21)aponta que, na construção de umpoder nacional completo para adefesa do seu interesse fundamen-tal, a China pretende assimilar alta
40Mural InternacionalAno I, nº 2Novembro 2010|
tecnologia do exterior e desenvol-ver suas capacidades econômicasdomesticamente a fim de se afir-mar como uma grande potênciaautêntica no século XXI. Nesseprocesso, a percepção de que osEUA reafirmam-se como poderhegemônico global afeta a agendaestratégica de Pequim; na dimen-são econômica, preocupam aslideranças chinesas as redes dealianças estratégicas norte-ameri-canas que possam minar a suainfluência em mercados-chave.
Nesse contexto, a ampliação donúmero e da profundidade dosrelacionamentos bilaterais eregionais pós-1990 permitiram ofortalecimento da coordenaçãoeconômica da China com seusparceiros e a sua maior influênciaao lidar com as alianças regionaisjá construídas por grandes pode-res como os EUA. Embora aindareconheçam hoje a preponderân-cia dos EUA em uma série deáreas temáticas, as lideranças chi-nesas buscam conter o comporta-mento hegemônico e, assim,maximizar sua influência e racio-nalizar o exercício de seu podersobre seus parceiros. Isso ficouvisível no maior engajamento nacooperação com a Asean(Associação de Nações doSudeste Asiático) por meio doAsean +3 e Asean +1 e na Apec(Asia-Pacific EconomicCooperation na sigla em inglês,Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico em português); na cria-ção do primeiro grupo multilateralda Ásia Central, a Organizaçãopara Cooperação de Shanghai,para ampliar a cooperação na áreade segurança e o comércio regio-
nal; e na resolução de disputas ter-ritoriais com vizinhos. Tal posturatambém pôde ser percebida noabandono da aversão anterior àsorganizações multilaterais, parti-cularmente com o maior engaja-mento no Conselho de Segurançadas Nações Unidas e a participa-ção na OMC. As transformaçõesno conteúdo, no caráter e na exe-cução da política externa da Chinanessa década representam umasuperação de um destaque nahumilhação sofrida no passado,claro na caracterização da Chinapor Mao Tse Tung como uma“nação em desenvolvimento viti-mizada” e por Deng Xiaopingcomo uma potência pouco dispos-ta a aceitar grande parte das obri-gações e responsabilidades de suaposição. Tal perspectiva reativa ésubstituída pela adoção da menta-lidade mais participativa em faceda maior confiança nas décadasde crescimento econômico, agoraassumindo responsabilidades cadavez mais variadas (Medeiros &Fravel 2003, 23-28). Como sinali-za Tow (2001, 41-43), a Chinapode empregar sua adesão em ins-tituições internacionais, seuenvolvimento com grandes potên-cias e seu status como parceiro deblocos regionais para ampliar suaalavanca de negociação em facede Washington e Tóquio a fim degarantir arranjos comerciais e deinvestimento mais favoráveis.Embora ainda não deseje trazerquestões problemáticas para dis-cussão em fóruns multilateraiscomo o status de Taiwan, a Chinaparece estar se tornando mais con-fortável com arranjos multilate-rais, racionalizando sua influênciapelos canais institucionais e exer-
cendo seu poder de forma menoscustosa e mais previsível.
Esperando Godot... Até quando? A busca de umaagenda comum
Grande parte dos especialistasrecomenda que os Bric – em par-ticular o Brasil – enfatizem a rea-lização de ajustes macroeconômi-cos de longo prazo e de mais inves-timentos em setores como infraes-trutura e educação. O’Neill (2010),por exemplo, destaca a necessidadedo país de aumentar a pontuação noGrowth Environment Scores emáreas importantes nas quais aindaexiste muito trabalho a ser feito.Dentre aquelas em que o Brasilnão teve bom desempenho, cabedestacar utilização dos computa-dores (pontuação de 2,1), aberturada economia (2,2), taxa de inves-timento (3,8), domínio da lei(4,4), acesso à internet (4,7), esta-bilidade política (4,8) e corrupção(4,9). Na área de educação, embo-ra o país tenha uma boa posiçãono item na planilha de GrowthEnvironment Scores (7,4), é notó-rio que ainda falte mão-de-obraqualificada, inclusive técnicos emtodos os níveis. Ademais, o Brasilinveste menos de 20% do PIB, eessa taxa não é suficiente para umcrescimento sustentável nos pró-ximos anos. Embora essa taxa jáesteja subindo, seria necessárioque subisse mais – para cerca de23% a 25% do PIB em cerca decinco anos –, o que exigiria pou-pança, financiamento e capital derisco. A infraestrutura no Brasilainda é carente, e, se o país conti-nuar a crescer 5% ao ano, é neces-sário investir mais para que possamanter o padrão de crescimento,
41Mural InternacionalAno I, nº 2Novembro 2010|
em particular em estradas, ferro-vias, aeroportos, portos, sanea-mento e energia. Além disso, ocusto do capital no Brasil ainda éalto, mesmo que o país tenhaavançado muito no campomacroeconômico e em aspectosmicroeconômicos importantes,como os determinantes do custodos empréstimos bancários(Fraga, 2010).
Quanto ao desenvolvimento deuma agenda comum para os Bric,faz-se necessária a operacionali-zação da simetria entre os mem-bros do processo de cooperação edo equilíbrio entre eles. Comesses pontos em vista, a agendapoderia cobrir uma participaçãomais ativa na redefinição e natransformação do FMI com rela-ção à presença no gerenciamentoe na execução de pressão institu-cional sobre as economias maio-res, tornando a instituição maisrepresentativa (Aleksashenko,2010; O’Neill, 2010). Ademais,outras possibilidades seriam odesenvolvimento de um planopara transformar o SDR (SpecialDrawing Right na sigla em inglês,Direito Especial de Saque em por-tuguês) – uma espécie de “moedainternacional” desenvolvida peloFMI com o objetivo de tornar ofluxo de valores entre os bancoscentrais mais fácil – numa moedaglobal, vide o exemplo do euro, ea criação de um sistema de paga-mentos internacional, que funcio-naria inicialmente para os bancoscentrais e fundos soberanos e,posteriormente, para os bancoscomerciais (Aleksashenko, 2010).
Na visão do embaixador Marcosde Azambuja (2010), os Bric são
quatro países em busca de umaagenda e de como a operacionali-zar, num momento em que essanão é uma aliança natural nemuma associação que flua com “anaturalidade da história e da geo-grafia”. Parece mais “uma idéiaque encontrou ressonância”, tendoem vista que tais países não com-põem uma aliança militar ofensi-va ou defensiva, nem trazem osprotótipos de uma zona de livrecomércio, de uma união aduaneirae de um mercado comum ou deuma associação fundada em afini-dades étnicas, culturais e religio-sas. Eles não têm nem mesmo umaúnica visão do mundo, de formaque a diferença de perspectivas e dematrizes pode inclusive contribuirpara enriquecer ainda mais o grupo,mas pode dificultar a elaboração deuma agenda comum mais ambicio-sa no curto prazo.
Longe de representarem um blococoeso, tais países hoje buscamuma maior concertação político-econômica desde seu primeiroencontro em junho de 2009, emEcaterimburgo, na Rússia, visan-do especialmente à reforma dasinstituições financeiras interna-cionais. O caminho não é fácilnem simples, o que sugere, aomenos inicialmente, maiores cau-tela e modéstia de objetivos(Azambuja, 2010). Tendo emvista que o processo de coopera-ção não se dá em torno de umpoder hegemônico ou condutorque determine o rumo da coopera-ção, o “caminho do possível”sinaliza para um trabalho conjun-to na condução de passos aindamodestos de revisão de aspectosespecíficos da ordem internacio-
nal em face da reivindicaçãocomum de prestígio e de maisespaço. A afinidade entre elesreside, assim, na busca de maiorvisibilidade no sistema internacio-nal: os quatro países sentem-setratados de maneira que não refle-te inteiramente a influência e acredibilidade que julgam merecer.Juntos, eles representam 28% daárea total do mundo e representamcerca de 40% da população mun-dial. Essa cooperação legitima-sepela massa critica de cada um epelo que isso representa em ter-mos de porcentagem do poder, doespaço e da demografia mundiais(Azambuja, 2010).
Referências
Aleksashenko, S. (2010). ´Umaagenda para os Bric / Engagingin a Bric agenda.` Apresentaçãono Painel 1: Relevância interna-cional e os desafios no cenárioeconômico Rio de Janeiro,Prefeitura da Cidade do Rio deJaneiro/Puc-Rio, 22/fev. Azambuja, Marcos (2010) ´Umaagenda para os Bric / Engagingin a Bric agenda.` Apresentaçãono Painel 1: Relevância interna-cional e os desafios no cenárioeconômico. Rio de Janeiro,Prefeitura da Cidade do Rio deJaneiro/PUC-Rio, 22 fev. Dante, F. (2009) ´Um anodepois, Brasil passa no teste esai da crise maior do queentrou.` O Estado de S. Paulo,30 ago.Deng, Y.; Moore, T.G. (2004)´China views globalization:toward a new great-power poli-tics?` The WashingtonQuarterly, v.27, n.3, p.117-136.
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
42
Fraga, A. (2010). ‘Uma agenda para os Bric /Engaging in a Bric agenda`. Apresentação noPainel 1: Relevância internacional e os desafiosno cenário econômico. Rio de Janeiro, Prefeiturada Cidade do Rio de Janeiro/PUC-Rio, 22/fev.Grieco, J. (1997) ´Realist International Theoryand the study of world politics.`, in Doyle, M.W.;Ikenberry, G. J. (eds). New thinking inInternational Theory. Westview Press, p.163-201.Lima, Maria Regina.S. (1994)´Ejes analíticos yconflicto de paradigmas en la política exteriorbrasileña.` América Latina / Internacional, v.1, n.2, p.27-46.Marques, S.F. (2005) ´A imagem internacional doBrasil no governo Cardoso (1995-2002): uma lei-tura construtivista do conceito de potênciamédia.` Dissertação de mestrado. Instituto de
Relações Internacionai/Pontifícia UniversidadeCatólica do Rio de Janeiro.Medeiros, E.S.; Fravel, M.T. (2003) ´China’s newdiplomacy.` Foreign Affairs, v.82, n.6, nov../dez.O’Neill, J. (2010). ´Uma agenda para os Bric /Engaging in a Bric agenda.` Apresentação no Painel1: Relevância internacional e os desafios no cenárioeconômico. Prefeitura da Cidade do Rio deJaneiro/PUC-Rio, 22/fev.Pinheiro, Letícia. (2000) ´Traídos pelo desejo: umensaio sobre a teoria e a prática da política externabrasileira contemporânea.` Contexto Internacional,v.22, n.2, p.305-335. Tow, W.T. (2001) ´Great-power strategy I: China.`,in ___. Asia-Pacific strategic relations: seeking con-vergent security. Cambridge: Cambridge UniversityPres, p.12-43.
43Mural InternacionalAno I, nº 2Novembro 2010|
Introduction
Political leaders worldwide are confronted with aparadox: on the one hand, they are expected tosolve major problems that affect the societies
they represent. In fact, governments are usuallyregarded as the main – if not the only – responsiblefor creating conditions that lead to economic growth,ensuring financial and market stability, providingpublic services such as health and education,improving social indicators and environmental con-servation, and so on. On the other hand, the popula-tion increasingly distrusts politics and political insti-tutions, or simply do not formally engage in politicalparticipation.
The coexistence of policy demand and political dis-trust in numerous societies poses challenges for publicadministration entities throughout the world, and hasbecome a major concern in a number of states aswell as among non-governmental actors. In April2010, during the meeting of heads of government ofBrazil, India, Russia and China (Brics) in Brasília,Brazilian president Lula da Silva called for ‘creativeand pragmatic diplomatic articulation’ capable of
tackling global problems. Lula da Silva’s messagewas straightforward: something must change in theway states participate in the international system. Inthe European Union, the Commission identified thereform of European governance as a strategic objec-tive in early 2000. Since then, several programs thataim at narrowing the gap between EU citizens andCommunity institutions have been launched in orderto increase public participation in political decisionsand reduce the chronic problem of democratic deficitof which the EU has suffered since its early stages.In the now famous Prague speech of 2009, PresidentBarack Obama has heralded a “new era of engage-ment” for the United States and his strategy toaccommodate established and rising powers(Patrick, 2010).
The common denominator of these declarations isthe perception that existing decision and policy-making rules are becoming obsolete, and that it isnecessary to devise new rules that allow politicalactors worldwide to approach common challengesdespite their various interests. This context providesroom for the discussion of alternatives to handletransnational problems collectively according to thedynamics of this new scenario. The alternative waysof devising standards of rules that allow for coordi-nation and cooperation among players from coun-
Global GovernanceBrazilian Views from Cardoso to Lula
Tatiana Coutto1
1. Centro de Documentação de História Contemporânea, FundaçãoGetulio Vargas (CPDOC/FGV)
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
44
tries or regions, and across differentpolitical levels is generally named“governance”. However, the factthat several leaders agree thatrules need to be changed does notguarantee that they will convergespontaneously to common posi-tions. Whilst political actors cancertainly align to deal with com-mon agendas, their interestsstrongly differ on a number ofissues, and the design of the newrules of the game has a number ofpoints of tension and disagree-ment.
The modes of governance thatactors consider more appropriateare based on their interests, but alsotake into account the preferences ofother players, and the political-institutional context where deci-sions are made. Put shortly, thepreference for a certain mode ofgovernance in, above all, a strate-gic option of each player, or groupof players (Diermeier and.Krebhiel, 2003). Thus, suchoption is influenced by particularconceptions of the world system,and the role the actor expectsitself to play in this scenario.Governance changes over time.
The aim of this article is to analyzehow Brazilian views on gover-nance have evolved since presidentFernando Henrique Cardoso’sadministration. To what extent doCardoso and Lula’s administra-tions actually differ on this point?By which means have these viewson governance translated intopolitical institutions and how arethey expected to influenceBrazilian foreign policy in thecoming years? In order to answer
these questions, the paper isorganized as follows: first, thedefinition of the term ‘gover-nance’ is discussed, and a briefhistorical overview on the emer-gence of governance debate ispresented. The next section com-pares the views of Lula andCardoso on this matter, and towhat extent they have favoredcertain foreign policy strategies.Particular attention is given to thechoice of critical partners thatwould allow Brazil to improve itsglobal standing, and the relation-ship with the US and the EU. Thefinal section lays down conclu-sions and suggests possibilitiesfor further studies.
Definition
Governance can be broadlydefined as a dynamic system ofinteraction among political play-ers with varying interests thatseek to devise rules that help themmeet their preferences. The sys-tem concerns “every mode ofpolitical steering involving publicand private actors, including tradi-tional modes of government anddifferent types of political steeringfrom hierarchical imposition tosheer information measures”(Héritier, 2002). The numerousexisting modes of governanceresult from the traditions andinstitutions by which authority isexercised over time, and express,for example, the process by whichgovernments are selected andmonitored, and their capacity toformulate and implement publicpolicies, the level of corruption,and so on (Worldbank, 2009).
The concept of institution -humanly devised constraints thatshape human interaction (North,1990) - is central to understandthe debate around forms of gover-nance. Political actors (nationaladministrations, non-governmen-tal organizations, firms) are per-manently engaging in formal andinformal arrangements that allowthem to overcome collectiveaction problems and achieve pre-defined goals by informing andcommunicating with other actors(Milner, 1997). The interrelation-ship among institutions acrosspolitical levels over time leads tothe formation of developing sys-tems of codes and practices (for-mal or not) that orient decision-making and the behavior of indi-viduals and social groups. In anutshell: the interaction of severalinstitutional entities and the de-localization of decision-makingand policy–making loci leads tothe formation of a more complexsystem where players may havemore possibilities to exert influ-ence and authority over the others.
The attention driven by gover-nance studies is the expression ofsomething that scholars fromEurope and elsewhere havenoticed: although states remain themain actors in our predominantlyWestphalian system, traditionalnotions of government fail to cap-ture the complexity of today’spolitical decision-making processes.As a consequence, governance hasbeen associated to changes in therole of the state and the interna-tional system, namely due to theneed to engage emergent actors incooperative arrangements, and to
45Mural InternacionalAno I, nº 2Novembro 2010|
respond to changing contexts.Such changes stem from concep-tions of the international system,and from the way actors evaluatethreats and opportunities for thecoming years.
The way security is perceived byeach player plays a crucial role inthe definition of global gover-nance structures. A broader con-ceptualization of threat and secu-rity stresses the need of aggiorna-mento of the UN Chart to include,for example: the adaptation ofarticles VI and VII of the Chart,which refer to the redefinition ofwhat constitutes a threat to peaceand stability of the internationalsystem, responsibilities of UNmember states regarding peacekeeping and the conditions thatlegitimate the use of force.
Changes in the United Nationssystem – and, in particular, of theSecurity Council (SC) – are desir-able by countries as varied asBrazil, Turkey, Germany, Japan,the UK and France. In fact, thereform is regarded as inevitableby the majority of governmentrepresentatives and members ofnational delegations to the UN.2Set up in the late 1940s, theorganization no longer accurately
reflects the distribution of poweracross the international system.Over the last 50 years, the EU hasbecome a pivotal, albeit sui generis,player; the URSS collapsed, andsome of the so-called newlyindustrialized countries (NICs) nolonger accept to merely followrules, but rather seek to definethem (Soares de Lima, 1990). As aconsequence, they have articulatedvarious fora (G-20, Brics, Ibsa,Basic) in order to formulate acommon agenda and, wheneverpossible, common positions vis-à-vis established powers. Thesecountries have managed to blockdisadvantageous negotiations, asin the Doha Round, for example.By contrast, they have so far fallenshort of proposing an alternativeagenda. So far, emerging powers,OECD countries and developingnations have not come to termswith the reform of the presentworld order.
Brazilian views on the inter-national system and globalgovernance: Cardoso and Lulaadministrations
The position Brazil has adoptedsince the early 1990s in the inter-national arena reflects relativecontinuity guided by principles ofliberal democracy and multilateralism.The country’s different adminis-trations have, over the past 20years, underlined the importanceof new forms of governance andinstitutional development as ameans of addressing old issuesdifferently, and dealing with “newglobal agendas”.
Both Cardoso and Lula’s govern-ments express a strong commit-
ment with multilateralism and theimprovement of Brazil`s standingin the world scenario. Thus, bothreflect the willingness to enhanceBrazil’s actorness vis-à-visdeveloped countries and inter-national organizations.3 The maindifference between the twogovernments regards the strategyto strengthen Brazil’s insertion inthe international system. Cardosofavored the commitment withOECD countries and regionalintegration (Vigevani, 2003);under his administration, therelationship with the US wasdefined as essential, cooperativeand based on principles of inter-national law and good politicalrelations. Nonetheless, there hasbeen sharp disagreement in whatconcerns trade (cotton, steel) andproperty rights regimes, whichhampered the establishment of theFTAA as a hemispheric project. ToLula, such relationship remains strate-gic, but it is no longer regarded as theonly alternative to achieve Brazil’seconomic and diplomatic goals.
Lula and the Minister of ForeignRelations Celso Amorim havealso emphasized the importanceof partnerships with African andLatin American/Caribbean coun-tries, which has been translated inan increase of the number of con-sulates and embassies throughoutthe world, namely in Africa and inthe Caribbean. This initiative hasnot been immune to criticism,especially from the Senate’sPermanent Commission onForeign Relations.4 According tothe minister, such diplomatic repre-sentations respond to a demand forpolitical support from private and
2. Lord Hanny, former UK representativeto the UN. Declaration made upon the con-ference: “Why is the UN reform para-lyzed?” which took place at PontificalCatholic University of Rio de Janeiro(PUC-Rio), on 18/03/2010. 3. The concept of actorness is drawn fromliterature on the external dimension of theEuropean Union. See, for example, Jupille& Caporaso (1998) and Bretherton &Volgler (1999). 4. See, for example, public audience of theCommission on 29/04/2009.
state-owned companies, espe-cially in business areas involvingcivil engineering, oil, mining andagriculture. Mercosur has gaineda new momentum, in whichArgentinean president CristinaKirchner has been of fundamentalimportance, including in the com-mercial negotiations betweenMercosur and the EU, which isBrazil most important investorand trade partner. All in all, initia-tives to foster commercial inte-gration and cooperation in SouthAmerica through instrumentssuch as Unasur meetings, agree-ments with Andean countries, andMercosur enlargement with theentry of Venezuela5 represent thecountry’s willingness to seekdeeper and more intensive re-lations with its regional partnersand neighbors. This movementresults in large part from a moreactive participation of specificsectors that has been successful incoordinating industrial andforeign policies.
The rapprochement with Africanand Caribbean states – has beendriven by the potential payoffs ofthis cooperation, as well as onshared values (colonial past) andon the existence of common pro-blems (inequality, violence, envi-ronmental degradation).‘Solidarity’ is also a highly fre-quent term in Lula’s discourse,which draws a line between hisand Cardoso’s views. By callingfor solidarity, Lula approaches the
developing world, but at the sametime underlines Brazil’s capabilityto help poorer countries in theirpursuit for development. Thequest for a more prominent role inthe international system, on theother hand, has been a factor thathas shaped the various overlappingarrangements advanced by emer-gent powers such as Brics, Ibsa,Basic and the G20 (Cooper &Antkiewicz, 2008).
Another important differencebetween Cardoso and Lula’s pri-orities in terms of foreign policyand Brazil’s insertion in the inter-national system refers to a recon-figuration of the UN SecurityCouncil. Lula’s second adminis-tration (2006-2010) has been par-ticularly keen on an expansion ofthe SC, where Brazil, togetherwith other world powers(Germany, Japan), would occupya permanent seat. On one hand, apermanent seat would be the con-firmation that Brazil has become acritical player in the internationalrealm, mainly due to the adoptionof new conceptions of securitysince the 1990s. Of particularimportance is the concept ofenvironmental and food security,where Brazil stands out as a keyplayer in the definition of regimesto reduce the over exploitation ofnatural resources, to ensure theprovision of agricultural (food)products and to mitigate theeffects of ongoing changes in theenvironment and natural disasters.At the same time Brazil becomesincreasingly aware of the costs ofbecoming a permanent member.The costs comprise for, instance,the opposition of middle powers
such as Mexico, Argentina, Italyand Spain, to name a few exam-ples. Hence, a permanent seatrequires the adoption of clearpositions about highly sensitivepolitical issues such as disarma-ment, non proliferation and theuse of dual technologies by nondemocratic states. Historically,Brazil has avoided diplomaticoptions that lock out potentialpartners; instead, Brazilian diplo-macy has spread the idea of Brazilas a mediator, an actor capable toengage in (in)formal talks with awide number of states (Iran,Cuba, Venezuela, G7) withoutputting the stability of the inter-national system at stake. A perma-nent seat would therefore repre-sent a rupture with the country’sdiplomatic tradition.6
The reform of the SecurityCouncil depends on how securityis conceptualized. An alternativethat is currently under discussionin Brazil concerns the establish-ment of various ‘security coun-cils’ that would work on different(albeit coordinated) securitystrategies. In that sense, the insti-tutional reform of UN systemwould stem from a broader con-ception of threat and security.Such process does not lead toabrupt changes in today’s gover-nance framework, but to a conti-nuous and gradual process ofinstitutional evolution and change.Thus, a gradual reform in the UNsystem allows for the developmentof more specific arrangements(which would certainly include theinstitutionalization of the Brics) thatcan be carried out in separate fora.
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
46
5. Venezuela’s membership still dependson ratification by the Paraguayan con-gress.6. Interview with Brazilian ambassadorMarcos Azambuja, January 2010.
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
47
Relationship with the EU andthe US
Brazil regards the EU as animportant economic partner andpromoter of development;besides, the Union has providedinstitutional guidelines and ins-piration to regional cooperationand integration initiatives pro-posed by Brazil to other SouthAmerican countries. Alreadyunder Cardoso administration,Brazilian diplomacy (presidency,Ministry of Foreign Relations,executive branches and certainprivate actors) had identified the“advantages” of investing on astrategic partnership with the EU.Statements and informal declara-tions of Brazilian diplomacy wel-come an strategic partnership withthe EU because it somehow ba-lances US influence and reducesthe risk of depending on onepower. Following the samerationale, Brazil-US relationshipappears as critical to open spacesin EU overprotected policy areas,especially in what concerns agri-cultural products. On the otherhand, testimonials of Braziliandiplomats and Community offi-cials strongly suggest that aBrazil-EU relationship is morelikely to promote institutionalchanges at the international levelthan Brazil-US partnerships.
The unique character of the EUand its overlapping levels ofgovernance is perceived as a‘space of opportunity’ to thedevelopment of more intensecommercial relations betweenBrazil and the EU, along withcooperation in other realms such
as science & technology, energyand food security, for example.Brazilian strategy has been toapproach not only EU institutionssuch as the Commission and theEuropean Parliament. Thus, themixed participation ofCommunity institutions (namelythe Commission) and MemberStates has allowed Brazil toestablish various channelsthrough which policy specificnegotiations can be carried out.Examples of his strategy havecontributed, for example, to thesupport of Scandinavian countries(most notably Sweden) to the useof Brazilian sugar cane-based bio-fuels, to French support to aBrazilian seat in the SecurityCouncil, and to the permanentdialogue between Brazil andPortugal on a number of issues.The Commission remains as themost important interlocutor whenit comes to global issues such asclimate change, natural resources’management and biodiversityregimes. These are salient issueareas to Brazil and will becomemore important as scarcity ofnatural resources increase. Thus,increasing mobilization of domes-tic actors tends to pressure for theadoption of more strictenvironmental legislation, despiteheavy lobbies exercised byconstruction and energy sector;there is demand from the inter-national community for strongerregulation, and other playersrecognize Brazil as a key player.In a nutshell, there is aconstellation of aspects that favorBrazil strong agency in this realm.So far, development concerns andthe unwillingness of certainsectors to afford the costs ofmigrating to environmentally
friendly technologies andindustrial processes, coupled withthe relatively little importanceLula administration confers toenvironmental conservation havestopped Brazil from playing adecisive role
Final remarks
The existence of multiple levelsof governance provides stateswith more flexibility to make andto apply rules in different realmsof the international system. Thus,they provide room for the G20 tobecome a more institutionalizedgroup, capable of introducingreforms in several organizationslike the IMF, the World Bank, andthe WTO instead of “simply”opposing to existing proposals.These multiple forms of participa-tion drive attention to the fact thatthere is no “one size fits all” solu-tion to problems with inter-national impact. Internationalchallenges are increasingly trans-disciplinary; for this reason it isimportant to develop states andnon state actors with flexibility totackle different problems in moreadequate for a. in other words, tochoose the strategy and the insti-tutional tools more capable ofhelping players meeting theirpreferences.
The financial crisis the world hasgone through shows that the mar-ket alone has proved to be a badregulator of collective action. Inthe absence of mechanisms capa-ble of correcting predatorybehavior, market will lead not toequilibrium, but to distortions thatconcentrate resources. Institutions
48Mural InternacionalAno I, nº 2Novembro 2010|
can mitigate inequality bypunishing bad behavior andredistributing resources. The pres-ent institutions and legal struc-tures are still generating inequali-ties, instead of correcting marketfailures. As a consequence, crisestend to replicate in other policydomains, such as environment,energy, migration and commonresources.
The current international scenariocreates conditions for these “newpowers” to improve their globalstanding. The position expressedby Brazilian diplomacy todayhighlights the need to updateexisting institutions and to createnew ones specifically designed totackle novel issues of inter-national relations. A combinationof minilateralism - where smallergroups seek to define a commonagenda as well as positions theywill sustain vis-à-vis other groupsof states or organizations - andmultilateralism - a larger numberof players and a wider variety ofinterests - has been advocated bythe Brazilian diplomatic service.
Despite G20’s increasing impor-tance, it should be underscoredthat this is still a very heteroge-neous group, with various pointsof tension between emerging andestablished powers, as well aswithin each group. In 1989, thefall of the Berlin wall announcedthe emergence of a world free ofpolitical and economic barriers,but the idea proved unrealistic inthe subsequent years. By the sametoken, the so far increasing insti-tutionalization of the G20 seemsto herald a new era marked by the
participation of a larger number ofstates and non state actors. Therecognition of the group’s impor-tance to overcome internationalcrises drives attention to the needto develop arenas and mecha-nisms that allow for morecooperation. Both minilateralismand multilateralism are necessaryto modify the rules that regulateand influence the behavior ofstates and global ruling elites(Rothkopf, 2008).
Brazil can benefit enormouslyfrom the strategic dimensionacquired by issues such asenvironment, energy supply andfood provision without compro-mising its diplomatic tradition ofnot locking out potentialpartnerships worldwide. As put byBrazilian diplomats GelsonFonseca and Marcel Biato, thetime of the great utopias haspassed. Today, the only possibilityis the existence of “negotiatedutopias”, which provide a certainconception of peace, harmony andstability to be achieved throughmultilateral cooperation and thecontinuous development of(several and partially overlapping)governance structures.
References
Cooper, A.; A. Antkiewitz (eds)(2008) Emerging Powers inGlobal Governance: Lessons fromHeiligendamm Process, Waterloo,ON, The Centre for InternationalGovernance Innovation andWilfrid Laurier University Press. Diermeier, D.; K. Krebhiel (2003)‘Institutionalism as aMethodology’, Journal of
Theoretical Politics vol.15 n.2 p.123-144.Héritier, A. (2002) New Modes ofGovernance in Europe: Policy-Making Without Legislating?Political Science Series, Institutefor Advanced Studies, Vienna,http://www.ihs.ac.at/publica-tions/pol/pw_81.pdf Access on30/06/2010.Lima, M.R. Soares (1990) ‘AEconomia Política da PolíticaExterna Brasileira: uma Propostade Análise’. ContextoInternacional, 12, Rio de Janeiro,jul/dez, p 7-28.Milner, Helen. (1997) Interests,Institutions, and Information:Domestic Politics andInternational Relations,Princeton, Princeton UniversityPress.North, D. (1990) Institutions,Institutional Change andEconomic Performance,Cambridge, CambridgeUniversity Press.Ostrom, E. (1986) ‘An Agenda forthe Study of Institutions` PublicChoice n.48 p.3-25.Patrick, S. (2010) GlobalGovernance Reform: AnAmerican View of US Leadership.The Stanley Foundation.http://www.stanleyfoundation.org/publications/pab/PatrickPAB210.pdf Access on 15/08/2010.Risse-Kappen, Thomas. (1996)‘Exploring the Nature of theBeast: International RelationsTheory and Comparative PolicyAnalysis Meet the EuropeanUnion’, JCMS: Journal ofCommon Market Studies vol. 34p. 53–80.Rothkopf, D. (2008) Superclass -The Global Power Elite and the
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
49
World They Are Making. New York, Farrar/Strausand Giroux.Vaz, Alcides. (2004) Brazilian Foreign Policy underLula: Change or Continuity? FES Briefing Paper Aprilhttp://www.nuso.org/upload/evento/Costa%20Vaz%20Brazil.pdf Access on 15/03/2010.Vigevani, Tullo, Oliveira; Marcelo F. de; Cintra,Rodrigo (2003) ‘A política externa do governoCardoso: um exercício de autonomia pela integra-
ção.’ Tempo Social, n. 20, nov. p.31-61.Vigevani, T. e Cepaluni, Gabriel (2007) ‘ApolíticaExterna de Lula da Silva – Autonomia pelaDiversificação’. Contexto Internacional, Rio deJaneiro, vol. 29, n. 2, jul/dez, p. 273-335.Worldbank (2009) Governance Matters VIII:Governance Indicators for 1996–2008’,http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspAccess on 18/08/2010.
50Mural InternacionalAno I, nº 2Novembro 2010|
Introdução
Passada mais de uma década do primeiroEncontro de Secretários de Cultura eAutoridades Culturais do Mercosul (1992) e
da publicação do Protocolo de Integração Culturaldo Mercosul (1996), tem-se à disposição uma razoá-vel literatura acerca dos avanços e das dificuldadesda integração cultural do Bloco. Em verdade, desdeo Seminário Identidades, políticas culturais e inte-gração regional, realizado em Montevidéu, em1993, muitos especialistas tem se debruçado sobreos diversos aspectos da questão para, em sua amplamaioria, defenderem a importância da cultura noprocesso de integração. A percepção mais corrente,entretanto, é a de que o Mercosul Cultural ainda nãorecebe a atenção devida por parte dos Estados mer-cosulenhos. Em 2006, o próprio Ministério daCultura do Brasil (MinC) reconheceu, em documen-to intitulado “Diagnóstico sobre o Desempenho doMercosul Cultural”, apresentado durante a XXIIIReunião do Comitê Regional do Mercosul Cultural,que “dois desafios estruturais” persistiam desde a
instituição do Mercosul Cultural: a descontinuidadedas políticas acordadas e as assimetrias sistêmicasinerentes ao Bloco.
Marcado por mudanças globais e decisivas em suasúltimas décadas, como o desenvolvimento vertigi-noso das ciências e das tecnologias, a queda doMuro de Berlim, o fim da Guerra Fria, o triunfo doneoliberalismo e o “real ou ilusório” (Held, 2001)fenômeno da globalização, ao completar seu ciclo oSéculo XX ainda inaugurou, em várias partes doglobo, uma nova configuração geopolítica: a forma-ção dos chamados blocos regionais. Apresentadoscomo possíveis respostas às supostas ameaças que onovo cenário internacional representaria para osEstados nacionais, indiscriminadamente, a consti-tuição da União Europeia, do Mercosul e do Naftateria sido motivada por ideais solidários contra osefeitos colaterais da nova ordem internacional. Alista é longa, mas para os fins deste artigo basta lem-brar que co-existem com os fenômenos desse finalde Século a ideia de fim das utopias, a ideia de fimdas divisões ideológicas, a crença em uma tendênciapara emergência de conflitos culturais e os embatespolíticos em torno do status da cultura em organiza-ções internacionais como a OMC e a Unesco. Nessesentido, a idéia de que na “globalização”, ou na“pós-modernidade”, como prefere Jameson (2000),a cultura não é mais uma “expressão relativamente
Mercosul Cultural: desafios eperspectivas de uma política cultural
1
Mônica Leite Lessa2
1. Artigo originalmente apresentado no VII EncontroInternacional do Fórum Universitário do Mercosul.2. Programa de Pós-Graduação em Relações InternacionaisUniversidade do Estado do Rio de Janeiro.
autônoma da organização social”mas a “própria lógica” do capitalis-mo tardio aponta para a necessida-de de se repensar o lugar da cultu-ra a partir 1945, articulado com asexpectativas, perspectivas e as dis-putas travadas em seu nome.3
Por sua vez, contemple-se nomesmo período a situação naAmérica Latina. Ao longo dosanos 1980 e início dos anos 1990,as tentativas de integração regio-nal ganharam impulso acompa-nhadas de esforços para melhoradequação à reestruturação danova ordem mundial e às medidaspreconizadas pelo Consenso deWashington, especialmente for-mulado para as economias lati-noamericanas. O paradigma neo-liberal se impôs como pensamen-to único e passou a contestar semcerimônia a tradicional estatiza-ção das economias locais, quepassaram a sofrer toda sorte depressões em nome da globaliza-ção. No campo político, a novaordem em processo assumiu umcaráter homogêneo no qual o“pluralismo democrático comoforma legítima de organização”político-social tornou-se condi-ção sine qua non para um maisamplo acesso e trânsito na vidainternacional. Nesse contexto, aintegração da América do Suldespontou como a saída para oaquecimento das economiaslocais, para a projeção regionalno sistema internacional, para aproteção dessas economias contraos efeitos colaterais da globaliza-ção. Ao contrário de experiências
anteriores, contudo, notadamenteAlalc e Aladi, observa MiriamSaraiva (2007, 130), o modelo deintegração em curso na década de1990 orienta-se para o exterior dobloco regional, não se baseia nasubstituição de importações masaposta em projetos de desenvolvi-mento alicerçados sobre a abertu-ra econômica estimulada peloambiente internacional.
Por outro lado, a despeito dasdificuldades inerentes a qualquerprocesso de integração, e das crí-ticas formuladas em relação avários dos aspectos constitutivosda formação do bloco, como aausência, ou insuficiência, depolíticas de promoção social, oMercosul tem avançado agregan-do à sua proposta original outrasdimensões, além da política e daeconômica, que ampliaram asexpectativas e os horizonte fixa-dos pelo Tratado de Assunção. Seem seu documento fundador, oTratado de Assunção (1991), nãohouve sequer menção ao lugar dacultura na construção dessa inte-gração, em 1992 a cultura passoua ser incorporada nas formula-ções políticas do bloco, conformedemonstrou a organização do pri-meiro Encontro de Secretários deCultura e Autoridades Culturaisdo Mercosul. Nesse sentido,novamente diferentemente doocorrido em tentativas preceden-tes de integração regional do sub-continente, destaca-se o fato dacultura, finalmente, ocupar umlugar no processo de integraçãodo Cone Sul.
Na raiz dessa inedita iniciativa,acreditamos, encontram-se asrepercussões das transformações
externas e regionais rapidamenteacima aludidas. A influência dosdebates internacionais em tornoda cultura sem dúvida contoupara fortalecer a posição daquelesque assinalavam a defasagem deuma proposta que nascia “ampu-tada” por não contemplar adimensão cultural na estrutura dorecém criado Mercosul.
A despeito, contudo, dos avançosalcançados nessa área, as atribui-ções e realizações do MercosulCultural ainda são consideradasinsuficientes. Nesse artigo exami-namos rapidamente os avanços eos “desafios” do MercosulCultural, à luz da reflexão dosentusiastas e dos críticos domodelo de integração cultural dobloco. Buscamos introduzir umaanálise, a partir de uma perspecti-va multidisciplinar, que contem-ple a relação entre as principaisações do Mercosul Cultural, seuimpacto para a economia da cul-tura do bloco e sua contribuiçãopara a ampliação da integração doCone Sul. Por fim, cabe o regis-tro, sendo resultado preliminar deuma pesquisa ainda em curso,este trabalho não esgota todas aspossibilidades analíticas que seutema propõe, mas apenas avança,parcialmente, os primeiros dadoscoletados na investigação sobre otema em tela.
Cultura e Integração
A passagem abaixo, reproduzidapor Hugo Achugar em texto sobrea política cultural do Mercosul,reflete o debate acerca da equa-ção integração-soberania-cultura,e ilustra as diferentes expectati-
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
51
3. Para uma síntese dos conceitos e discus-sões teóricas sobre cultura e relações inter-nacionais ver Lessa e Suppo (2007).
vas em relação ao papel da cultu-ra no Mercosul:
[...] o deputado Machiñena, relatorgeral da Comissão, que estudou oAcordo Marco e apoiava a ratifica-ção, referiu-se a aspectos culturaisapenas para indicar a posição privi-legiada do Uruguai, em que, o“nível cultural de nosso povo” e sua“preparação torna o pais maisatraente para os investimentos”.[...] o relator da minoria, deputadoHélios Sarthou, que se opunha, afir-mou : “Temos muito receio da arti-culação do Tratado de Assunçãocom o chamado Tratado QuatroMais Um, além dos compromissostemporais, pela profundidade dasmedidas que podem nos relegar àsmargens da zona integrada, no papelde provedor de serviços em umadivisão de trabalho conveniente paraas multinacionais... com nossaidentidade nacional comprometida.[...] As carências sobre temáticasocial se reiteram também no quediz respeito aos aspectos culturais,de grande transcendência na hipótesede integração” (Achugar, 1994).
As duas posições acima sãoemblemáticas dos debates emtorno do status da cultura noMercosul. Et pour cause. Sistemade valores simbólicos, de repre-sentações e referência estruturanteda identidade dos povos, a cultura
é também responsável pelo com-portamento dos Estados(Freymond, 1980). Por sua vez,no processo de integração, chamaa atenção J.F. Sombra Saraiva(2003), a importância da culturapara o sucesso da empreitada étanto “romântica” quanto “prag-mática”, e a “materialidade eco-nômica da cultura permite a viabi-lidade dos desejos de aproxima-ção dos povos”. A cultura encerra,portanto, múltiplos desafios eperspectivas, assim como múlti-plas “funções”, como apontouGaudibert (1972), ou “conveniên-cias”, para empregarmos a expres-são de Yúdice (2004). Além disso,“longe de ser periférica ao desen-volvimento econômico”, assinalaDavid Throsby (2007, 6), a cultu-ra é “inextricável e central a ele,oferecendo tanto o contexto noqual o progresso econômico ocor-re, quanto o próprio objeto dedesenvolvimento, quando vistasob a perspectiva das necessida-des individuais.”4 Dessa forma,argumenta ainda José FlávioSaraiva (2003), “cultura, integra-ção e indústria podem vir a serdimensões que, se articuladas demaneira adequada, permitirãoabrir uma triangulação nova e ori-ginal no Mercosul”.
Em agosto de 1992, foi realizadaa primeira Reunião de Secretáriosde Cultura e AutoridadesCulturais do Mercosul, emBrasília, na qual foram determi-nadas as principais ações com ofito de se “examinar os modos emeios de iniciar processo de con-sultas periódicas a fim de coorde-nar e integrar as políticas cultu-rais respectivas, estimulando o
conhecimento mútuo dos valorese atuações culturais de cadaEstado Parte, bem comoempreendimentos conjuntos e ati-vidades regionais no campo dacultura.”5 Em seguida, foram ins-tituídas Reuniões Especializadasde Cultura (a partir de 1995), e deMinistros de Cultura do Mercosul(a partir de 1996), enquanto queparalelamente ocorreram Reuniõesda Comissão Técnica deCapacitação Cultural (desde1995).6 Ganhava assim impulsouma política cultural da integra-ção que, no entanto, continuavasendo mal avaliada:
O que foi estabelecido no Tratado erealizado pelas autoridades com rela-ção à cultura, durante esse períodochamado de transição, reduziu-se atrês aspectos : declarações sem efei-to jurídico sobre a cultura, sendoesta entendida em sentido tradicio-nal; uma ou duas reuniões referentesa aspectos educacionais e a possibi-lidade de compatibilizar currículos eestabelecer sistemas de revalidações– embora valha a pena destacar queas universidades foram as que maisavançaram nesse aspecto, comodemonstra a presente reunião dePorto Alegre; e problemas vincula-dos à propriedade intelectual.Justamente o terceiro aspecto é oque tem implicações econômicasevidentes, e tem sido impulsionadopor alguns setores da indústria cul-tural; concretamente, a indústria dis-cográfica, que se mostrou preocupa-da com a pirataria realizada poralguns setores da indústria para-guaia. Com relação a esse aspecto,formou-se uma subcomissão daequipe econômica, que trabalha noperíodo de transição do Acordo
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
52
4. Throsby, David. Economics and culture,p. 164, citado por Reis (2007).5. I Reunião de Secretários de Cultura eAutoridades Culturais, Brasília,25/08/1992. Disponível em:http://www2.mre.gov.br/unir/webunir/bila/esp/MERCOSUL/9seccul.htm. 6. Vide site do Mercosul Cultural:http://www.cultura.gov.br/mercosur/ .
Marco e é composta de representan-tes dos setores industriais e assesso-res técnicos do Ministério daEconomia. Essa espécie de subtextoeconômico ou de trama básica doMercosul relegou os temas culturaise acadêmicos para o espaço da retó-rica, e não conseguiu avançar emsuas projeções. Em outras palavras,os Estados participantes do AcordoMarco de Assunção limitaram-se aoque o Tratado estabelece: um merca-do comum em níveis industrial ecomercial tradicional, sem incorpo-rar a indústria cultural ou sem pen-sar que o peso econômico dessaindústria seja relevante. Ignorando,ou melhor, depreciando desse modoa possibilidade de permitir umespaço de integração cultural(Achugar, 1994).
Todavia, a despeito dos proble-mas apontados por Achugar, oprojeto de uma política culturaldo bloco avançou visando deitaras bases de uma estrutura compa-tível com as possibilidades edemandas dos países envolvidos.Em 1995, à ocasião da primeiraReunião Especializada deCultura do Mercosul, ocorridaem Buenos Aires, e na qual parti-ciparam Ministros e Secretáriosde Cultura dos Países Partes, foiproduzido um primeiro docu-mento com vistas ao entendimen-to para a institucionalização doaparato técnico-burocrático refe-rente às políticas culturais volta-das para a promoção das relaçõesculturais entre os países. Em1996, o chamado Encontro deFortaleza, organizado porRoberto da Matta e Felix Peñaentre 13 e 14 de dezembro, con-gregou pesquisadores, intelec-
tuais, diplomatas e políticos apensarem a questão cultural noprocesso de regionalização. NoTermo de Referência doEncontro, os organizadores ali-nharam-se na crítica ao Tratadode Assunção ao afirmarem, noprimeiro dos três pontos queconstituem esse documento, que,acima de tudo, o objetivo doencontro era:
Pensar a integração regional doponto de vista social e cultural,buscando incrementar a troca deexperiências políticas e intelectuais,tendo como propósito o exame dapossibilidade de criar-se uma redeinstitucional que contribua para aampliação do nosso intercambio,não só como produtores de bens eserviços, mas também como sóciosculturais que compartilham umconjunto de valores comuns. [...]Nossa reunião, portanto, deseja pen-sar a região e o Mercosul, para alémde seu conteúdo econômico Funag1997, 15).
Em seguida, em dezembro de1996, a Decisão Nº 2/95 doConselho do Mercado Comum, ea Ata Nº 2/96 da Reunião deMinistros da Cultura, realizadaem Fortaleza (Brasil), aprovou oProtocolo de Integração Culturaldo Mercosul. Composto de vinteartigos, esse será o documentoestruturante da política culturaldo Bloco. Desde 1996 buscou-seainda superar a inexperiênciaburocrática criando-se reuniõestécnicas que deram origem a umaburocracia especializada, insti-tuiu-se a dinâmica de reuniõesregulares de Ministros de Culturae envidou-se esforços para cum-
prir-se o previsto no Protocolo deIntegração Cultural do Mercosul.A participação de especialistas daárea da cultura e da área da inte-gração regional também se tornoucorrente para se repensar osrumos da integração cultural.Inúmeros projetos e ações foramestabelecidos nesse âmbito, emgrande parte sugeridos peloscientistas sociais envolvidos. OSelo Mercosul Cultural, porexemplo, que normatiza a circula-ção de bens culturais, é frutodessa política e tem por objetivopromover o intercâmbio artístico-cultural por meio de isenção detributos e garantias alfandegárias.
No entanto, passada mais de umadécada após a assinatura doProtocolo de Integração Culturaldo Mercosul, os avanços noâmbito dos assuntos culturaisparecem erráticos e insuficientes,se aferidos do ponto de vista daeconomia da cultura ou da agendada política externa dos países.Alguns autores estimam que oMercosul não tem uma políticacultural e isso porque a culturanão tem centralidade na constru-ção do bloco regional (Soares,2008). Concordamos, em parte,com essa visão, que, por sua vez,reflete uma realidade dos paísesmercosulenhos (Lessa, 2008a).Se, porém, considerarmos queantes do Mercosul Cultural poucoou quase nada existia em termosde relações culturais institucio-nais entre o Brasil e os demaispaíses da América do Sul, pode-mos ser mais otimistas em rela-ção à empreitada iniciada em1992 (Lessa, 2008b). A evoluçãoda institucionalização dessa polí-
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
53
tica regional não apenas progre-diu para a execução de ações cul-turais conjuntas mas ainda susci-tou e promoveu uma série dereflexões que, talvez em ummomento raro, reuniu uma plêia-de de intelectuais interessados emtrabalhar em prol de uma “culturada integração”.
Nesse sentido, Gregório Recondo(1997) escreve em uma de suasobras mais completas sobre otema da integração regional:“Vaticina-mos entonces que laintegración de nuestros pueblosfracasará en el largo plazo si noincorporamos la dimensión cultu-ral al proceso integrativo.” E maisadiante: “Tenemos en claro quellegar a la integración por la viade la cultura es propender a unanueva cultura de la integración.”Recondo esclarece que em suavisão integração cultural não éassimilação, fusão, homogeiniza-ção, hierarquização ou coopera-ção mas “congruência signficati-va de normas, papeles y valores”.É um fenômeno sobretudo espon-tâneo, “más producto de la reali-dad que consecuencia de delibe-raciones grupales”. Ou seja, aintegração cultural expressa uma“congruencia significativa depautas y valores entre las partesdiferenciadas que pueden ser losEstados nacionales que participande un proceso integrador.” Isto é, aintegração cultural deve ser a convi-vência de unidades separadas queformão um todo coerente e issoocorre quando os “fenômenos inte-ractuantes, causualmente relaciona-dos, se presentan entre si en conse-cuencia lógica”.
Essa visão, profundamente deter-
minada em relação à importânciada cultura para a integração regio-nal, não apenas nos marcos doMercosul mas em relação àAmerica Latina, se fundamenta nahistória da formação da civiliza-ção latinoamericana : “produto docarrefour de diferentes culturas”,da síntese entre o “universal” e o“nacional”, que a frase de AlfredoPalácios tão bem traduz: “Dentrode nuestras fronteras (iberoameri-canas) acampa la humanidad”(idem).
Perspectivas e desafios
Dentre as dificuldades reiteradasvezes denunciadas pelos pesqui-sadores do tema em foco, desta-ca-se a ausência e/ou dispersãodos dados estatísticos. No Brasil,eles estão dispersos entre o MinC,Itamaraty, IBGE, Ipea, FGV,BNDES e vários outros organis-mos. Muitos autores já apontaramessa dificuldade e a esperança éque o Sistema de InformaçãoCultural da América Latina e doCaribe (SICLaC) e o SIC-SUR(Sistema de Informação Culturaldo Mercosul) venham colmataressas lacunas e contribuir para aintegração regional de formamais efetiva. Essa dispersão dosdados estatísticos apenas reflete adescentralização das ações depolíticas culturais. Essa realidade,muitas vezes, prejudica a percep-ção dos avanços e das perspecti-vas da situação das relações cul-turais mercosulenhas. Essa é arazão, acreditamos, para que noplano das formulações e das aná-lises sobre a integração culturalno bloco, se observe grandesreservas e ceticismo acerca das
políticas culturais em curso. Navisão de Maria Susana Soares(2008):
Questões de grande relevância para aescolha do melhor caminho paraavançar na integração regional – apolítica, a cultura, a educação e asrelações sócio-laborais – têm recebi-do pouca ou nenhuma atenção dasdiplomacias governamentais. […]Os Estados-membros ao não pos-suírem uma diplomacia cultural,complementar à atividade diplomá-tica tradicional, revelam a prevalên-cia no Mercosul de estratégias ins-piradas pelo hard power e a sub-valorização do soft power. Poucossão os que percebem que, com oavanço dos processos de globaliza-ção econômica e tecnológica, asrelações internacionais passaram adepender, cada vez mais intensamen-te, da cultura, do soft power, do quedo poder econômico ou da força dasarmas. A liderança política dos paí-ses transformou-se numa concorrên-cia para atingir a atração, a legitimi-dade e a credibilidade internacional(Rabadán e Onofrio, citados porSoares 2008, p.54).
No entanto, o desafio assumidopelo Brasil para a criação daUniversidade Federal deIntegração Latinoamericana(Unila) é um claro exemplo docompromisso do país com o pro-jeto de integração regional. E oineditismo da iniciativa brasilei-ra, inclusive em promover o vín-culo entre educação e cultura,constitui uma resposta relevantepara a fundação de uma identida-de regional “solidária” e “integra-dora”. O desafio posto ao Brasil éduplo: cabe ao país, exclusiva-
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
54
mente, assegurar a construção e ofuncionamento da futura univer-sidade e, ao mesmo tempo,desenvolver um projeto pedagó-gico que privilegie a multidisci-plinariedade, promova a integra-ção do conhecimento e representeum “pólo de idéias” e de discus-sões sobre a realidade latinoame-ricana. Projetada para atingir, napróxima década, um contingentede dez mil estudantes (entre bra-sileiros e latinoamericanos) e qui-nhentos docentes, brasileiros elatinoamericanos, alocados emcursos de graduação, mestrado edoutorado, a Unila será a primei-ra universidade bilíngüe (portu-guês/espanhol) do continente eabrigará cursos planejados paraatender a temas candentes para aAmérica Latina: Energia, Meio-Ambiente, Migração e Trabalho,Saúde Pública, NovasTecnologias etc., entre outros queabarcam desde as Ciências Exatasàs Ciências Humanas.
A Unila cumprirá assim uma dasprincipais propostas do MercosulCultural que é promover a forma-ção dos estudos universitários naregião, ação considerada prioritá-ria para incentivar e consolidar ointercâmbio entre jovens, bemcomo a construção de uma cultu-ra da cooperação. Fruto de umapolítica cultural que, evidente-mente, não é destituída do inte-resse do Brasil em projetar suainfluência na região, ela tem, noentanto, o mérito do compromis-so com as iniciativas integradoras(Ferré, 2002).
Outro desafio a ser enfrentado foiapontado por Néstor Canclini
(1999) no âmbito estrito das polí-ticas culturais, ainda nos idos dosanos 1990. Para Canclini, cincograndes questões deveriam orien-tar a reformulação das políticasculturais na América do Sul: amaioria das mensagens e bensculturais recebidos pelas naçõesnão é mais produzida em territó-rio nacional; a maioria dos inves-timentos dos Estados no setorainda se concentra na tradicionaltríade: artes cultas, preservaçãode patrimônios monumentais epreservação do folclore, compoucos investimentos nas indús-trias culturais de massa; as gran-des empresas privadas transna-cionais são as principais detento-ras dos grandes meios de comuni-cação de massa, influindo assimna alienação cultural e política dopúblico; as ações culturais dosorganismos internacionais eaquelas originadas das reuniõesdos ministros da cultura reprodu-zem a visão da tradicional tríadecultural a ser priorizada. Canclini(p.235-237) assinalou ainda que oconsumo cultural, nas grandescidades sul-americanas, da altacultura escrita, das artes plásticase de música erudita atingia ape-nas 10% da população.
Por sua vez, segundo dados daUnesco, desde a década de 1980,bens e serviços culturais atendema uma demanda crescente de con-sumo a ponto do setor representar,em 2005, 7% do PIB mundial. Emescala mundial o comércio debens culturais passou de U$ 39,3bilhões em 1994 para U$ 59,2bilhões em 2002. Em 2002 aUnião Européia controlava 51,8%das exportações, seguida da Ásia
com 20,6%; dos Estados Unidos,que caiu de 25%, em 1994, para16,9% em 2002; da América doSul e das Caraíbas, que subiramde 0,8% em 1994 para 3% em2002; da África e Oceania, comapenas 1%. As mesmas análisesdestacam ainda que do ponto devista das importações, os paísescom altos índices de desenvolvi-mento são responsáveis por 90%do mercado consumidor. NaAmerica Latina, o México seria oúnico país da região a figurarentre os primeiros vinte importa-dores/exportadores mundiais debens culturais em 2003. O Brasilfoi considerado um eterno grandeimportador de bens culturais: em1994 essas importações foramcalculadas em U$ 165,9 milhões,enquanto as exportações não pas-saram de U$ 56,9 milhões. Em2003, a balança comercial perma-necia negativa mas com umaredução, devido sobretudo à perdade 1/3 do valor das importações,que totalizaram U$ 105,7milhões, enquanto o valor dasexportações permanecia nos mes-mos patamares de 1994. Duasexplicações são avançadas paraessa mudança: a diminuição dopreço dos jogos eletrônicos (video– games, sobretudo) em 50% dovalor, entre 1994-2002, e a cria-ção da zona livre de Manaus, nosanos 1990, que aumentou a capa-cidade produtiva do país e reduziuas importações. Em 2003, 45,1%das importações brasileiras esta-vam concentradas nas mãos dedois países: Estados Unidos(28,8%) e Inglaterra (16,3%), ospaíses da ex-futura ALCA foramresponsáveis por apenas 14%.Porém, a posição dos EUA, que
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
55
detinha 41,3% das importaçõesbrasileiras em 1994, caiu para28,8% em 2003. No mesmo perío-do, o Japão caiu de 10,9% para3,6%. Enquanto países comoArgentina, Chile, China,Inglaterra e Espanha tiverammaior participação.7
Por meio de um Diagnósticosobre o Desempenho do MercosulCultural, apresentado durante aXXIII Reunião do ComitêRegional do Mercosul Cultural(XXIII CCR), o MinC alertou: “Omaior desafio do MercosulCultural, segundo a visão doMinistério da Cultura do Brasil(MinC), será estabelecer uma basesólida e politicamente consistentepara conferir continuidade às dire-trizes do bloco; e, ao mesmotempo, conceber ferramentas fle-xíveis e isonômicas que permitama elaboração de ações conjuntasde interesse comum.”8 As propos-tas e os objetivos ambiciosos doMercosul Cultural esbarraramportanto nas dificuldades de cadapaís em diminuir suas própriasdesigualdades sócio-culturais.Enquanto isso, a construção doMercosul Cultural avança a des-peito da descontinuidade das polí-ticas acordadas e das assimetriassistêmicas inerentes ao bloco:
Ao assumir as funções, o Ministérioda Cultura brasileiro é convocado arefletir sobre essa parceria continen-tal e agregar mais alguns tijolos anossa construção coletiva […] Vejoque os acordos e pactuações feitosaqui pelos nossos governos são aospoucos absorvidos pela dinâmicainterna de nossos países e orientamexpectativas comuns de desenvolvi-mento regional, fazendo com quemedidas multilaterais impactem ocotidiano de nossas populações. […]Vejo a produção de conteúdos doMercosul como questão decisivapara que afirmemos a autonomia denossos territórios. O espaço virtualdesses veículos de comunicação é odispositivo que materializa oambiente sul-americano, mas issosó ocorrerá se nos associarmos coo-perativamente para reinventar diaria-mente nossa cultura comum. Creioque o que foi feito até aqui, atravésdo DOC TV, nos aponta caminhospara seguirmos nessa direção. […]foram destaques a assinatura daDeclaração de Integração Cultural doMercosul; a criação do Comitê dasArtes do Mercosul (ArteSul); a apro-vação da proposta do S ite doMercosul Cultural; e a previsão derealização do encontro Sulamericanode Culturas Populares, em Caracas,a ser coordenado pela Venezuela eBrasil; e o encontro dos PovosGuaranis. [nesse encontro, o diretorde Relações Internacionais doMinC, Marcelo Coutinho, afirmouque a reunião dos Ministros daCultura marcou um novo momentono Mercosul Cultural]. Passamospara uma etapa de institucionaliza-ção, com a proposta brasileira decriação de uma Secretaria TécnicaPermanente, além da implantação deprojetos de integração cultural, taiscomo o Selo Cultural e osItinerários Culturais.9
Conclusão
Céticos e integracionistas discor-dam sobre os avanços doMercosul mas concordam em quea integração regional deverá, atépara garantir sua sobrevivência,promover a dimensão cultural dobloco. Esta, por sua vez, é vistapela indústria cultural regionalcomo a oportunidade de expansãode um mercado dominado porgrandes conglomerados estrangei-ros que pela superioridade de con-dições impedem qualquer possibi-lidade de crescimento sustentáveldo setor:
A escala internacional, las industriasculturales y de la comunicación sona su vez, desde hace dos o tres déca-das las que generan más empleo quecualquier otro sector industrial.Consideradas en su conjunto, cons-tituyen hoy un negocio cercano a los1,6 billones de dólares, con ventasanuales que equivalen al 12% delvalor de la producción industrial entodo el mundo. […] “La consolida-ción del Mercosur y la incorporaciónde las industrias culturales en ladinámica del mismo, permitiría quelas empresas productoras puedancontar con un mercado mayor paracubrir sus costos de producción einsertarse en forma ventajosa en ter-ceros mercados. La regionalizaciónpermite la articulación flexible entrediferentes empresas para responder alas demandas de noticias u otros pro-ductos culturales y la posibilidad derecuperar los costos de producción enun mercado mayor permite mayoresinversiones, creación de puestos detrabajo y aumento del comercio delos productos de las industrias cultu-rales. Estas estrategias tendrán efec-to centrípeto, realineando las identi-
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
56
7. Cf. Échanges internationaux d’une sélec-tion des biens e services culturels, 1994-2003. Institut de statisque de l’UNESCO,2005. http://www.uis.unesco.org/tem-plate/pdf/cscl/IntlFlows_Fr.pdf8. http:www.cultura.gov.br/site/22/11/20069. Notícias sobre a XXVI Reunião deMinistros da Cultura do Mercosul, realizadaem Buenos Aires, em 12/6/2008, à ocasiãoda sucessão da Argentina pelo Brasil, na pre-sidência pro-tempore do Mercosul cultural.http://www.cultura.gov.br/site/2008.
dades a partir de la interacción”(Getino, 2001).
No caso do Brasil, e talvez dosdemais países do Mercosul, acomplexidade da relação nacionalcom sua cultura é o primeiro eprincipal desafio a ser enfrentadopela sociedade e pelos responsá-veis pela política cultural para queo setor garanta, efetivamente, umdesenvolvimento sustentável e àaltura de suas possibilidades.Porque em tempos de globaliza-ção, a cultura não apenas perma-nece como estruturante da identi-dade dos povos mas como um dossetores que mais crescem:
A pergunta que nos movimenta hojeé saber como a cultura pode colabo-rar no crescimento econômico enum novo padrão de desenvolvimen-to. No fim do ano passado, o IBGEapresentou ao Brasil como as ativi-dades culturais movimentam hojeuma receita líquida de R$156bilhões de reais o que indica umaparticipação do setor cultural de7,9% na receita líquida total do país.O IBGE revela com esse estudo quea cultura corresponde ao quarto itemde consumo das famílias brasileiras,superando os gastos com educação eabaixo apenas da habitação, alimen-tação e transporte. Existem cerca de290 mil empresas culturais noBrasil responsáveis por uma massasalarial de R$17,8 bilhões de reais.[…] O Brasil é o 10º maior mercadoconsumidor de música do mundo,tendo movimentado a cifra de US$265 milhões no ano de 2005. Éimportante frisar que 76% dessevalor foi despertado por conteúdos
brasileiros e por músicas nacionais.O disco, como mercadoria, chega a55% dos mais de 5.550 municípiosbrasileiros que possuem lojas de dis-cos e vendem CDs e DVDs. A forçadeste mercado interno repercute nainserção da música brasileira emoutros países. No ano de 2005,exportamos R$ 28 milhões em ven-das de discos e R$ 5 bilhões em apa-relhos de áudio, fonográficos e devídeo. Essas cifras tornariam-semais expressivas e detalhadas casocontabilizássemos a renda auferidaem shows e espetáculos dos músi-cos brasileiros em outros países. Nocaso do Brasil, esse poder é parte rea-lidade, e outra parte dele é aindapotência, é devir.10
A percepção do MinC, veiculadano “Diagnóstico sobre oDesempenho do MercosulCultural”, é que até 1999 houveuma concentração de esforçospara harmonização dos interessese procedimentos culturais visandoa coesão do bloco – contudo semmaiores avanços para edificaçãodas atividades projetadas, emparte devido às assimetrias entreos países, em parte devido às osci-lações da economia mundial; noentanto, consolidou-se a visãosobre a necessidade de formaçãode comissões e reuniões técnicaspara se alcançar progressos maissignificativos. Em 2000, observa-se mudanças “sutis” da filosofiade ação: prioridade à concepçãode projetos pontuais em detrimen-to de projetos vinculativos, comoo Selo Mercosul Cultural,Diversidade Cultural, Patrimônioimaterial ou o Protagonismo emforos internacionais, por exemplo.Em 2001, “a cultura ganhou umadefinição mais ampla como fenô-
meno catalisador da integraçãoregional” e do desenvolvimento(em sintonia com a agenda daUnesco), mas os resultados doMercosul Cultural ainda permane-ciam aquém de suas possibilida-des. Em 2003-2004, essa tendên-cia foi revertida pois os Ministrosresponsáveis passaram a exigirmais dos entes nacionais respon-sáveis pela formulação e execu-ção das ações fixadas peloMercosul Cultural. Quatro aspec-tos foram então consideradosabsolutamente prioritários peloBloco: capacitação de pessoal;institucionalização do SeloMercosul Cultural; consolidaçãodos Corredores Culturais (açõesem faixas de fronteiras) e daEconomia da Cultura (estreita-mente dependente dos ajustesalfandegários no Bloco, como oSelo do Mercosul Cultural).Emerge, portanto, da análise dosdados disponíveis, que os proble-mas do Mercosul Cultural, nãoderivam de falta de recursos ou depolítica cultural mas de deficiên-cias estruturais dos países mem-bros, que não necessariamenteestão ligadas à posição do país A ouB no ambiente internacional, assi-metrias que poderão ser superadasse houver vontade política e con-juntura favorável. Contudo, arrisca-mos em afirmar que nunca a aproxi-mação entre os países do Mercosul,o intercâmbio cultural e a coopera-ção técnico-científica foi tão signifi-cativa e plena de promessas.
Referências
Achugar, Hugo (1994) A política cultu-ral no acordo Mercosul. Estud. av. vol.8, n. 20, p. 215-229. Disponível em:http://www.scielo.br/pdf/ea/v8n20/v8n2
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
57
10. Discurso do Ministro Gilberto Gil em02/10/2007. httpp//:www. cultura.gov.br
0a21.pdf.Canclini, Néstor García (1999) Consumidores e cidadãos.Conflitos multiculturais da globalização, Rio de JaneiroEditora UFRJ.Ferré, Alberto Methol (2002) ‘Juventud universitária yMercosur`, in C.H.CARDIM e C. Huguenay Filho (eds.),Grupo de reflexão prospectiva do Mercosul, Brasília,IPRI/Funag, p.147-154.Freymond, Jean-Jacques (1980) Rencontres de cultures et rela-tions internationales. Relations Internationales n° 24, hiver, p.405.FUNAG (ed.) (1997) O MERCOSUL e a Integração Sul-Americana: Mais do que a Economia, Brasília, FUNAG.Gaudibert, Pierre (1972) Action culturelle: integration et/ousubversion, Paris, Casterman/Poche.Getino, Octavio (2001) Las industrias culturales del Mercosur.Observatorio de Industrias Culturales de La Ciudad de BuenosAires.Held, David e McGrew, Anthony (2001) Prós e contras da glo-balização, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor.Jameson, Frederic (2000) Pós-modernismo. A lógica culturaldo capitalismo tardio, São Paulo, Editora Ática.Lessa, Mônica Leite e Suppo, Hugo (2007) ‘O estudos dadimensão cultural nas Relações Internacionais: atribuições teó-ricas e metodológicas”, in M.L.Lessa e W.da S. Gonçalves
(eds.). História das Relações Internacionais. Teoria e Processos,Rio de Janeiro, EdUerj,p.223-250.Lessa, Mônica Leite (2008a) Bens e serviços culturais: o lugardo Brasil na cena internacional (2001-2006). Apresentado noXXXII Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu, outubro..Lessa, Mônica Leite (2008b) ‘O Mercosul e o Ministério daCultura do Brasil : 2003-2006`, in Anais do VIII Simpósio Y ICongresso Internacional, CEINLADI. Buenos Aires, outubro.Recondo, Gregório (1997) Identidad, integración y creación cul-tural en América Latina. El desafío Del Mercosur, BuenosAires, UNESCO/Editorial Belgrano.Reis, Ana Carla Fonseca (2007) Economia da cultura e desen-volvimento sustentável, Barueri, Manole.Saraiva, José Flávio Sombra. ‘Cultura, indústria e integração:uma nova esperança no Mercosul’, in G.Alvarez (ed.),Indústrias culturais no Mercosul, Brasília, p.15-27.Saraiva, Miriam Gomes (2007) ‘A evolução dos processos deintegração na América Latina`, in M.L.Lessa e W.da S.Gonçalves (eds.). História das Relações Internacionais. Teoria eProcessos, Rio de Janeiro, EdUerj, p.111-132.Soares, Maria Susana Arrosa (2008) A diplomacia cultural noMercosul. Revista Brasileira de Política Internacional v.51 n.1,Brasília.Yúdice, George (2004) A conveniência da cultura. Usos da cul-tura na era global, Belo Horizonte, Humanitas.
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
58
Grande parte dos trabalhos científicos noâmbito da integração regional latino-ameri-cana a consideram como fator explicativo
para outros processos, domésticos ou internacionais,ou tratam-na como um meio para a obtenção dedeterminados fins em termos de política externa oupolíticas públicas estatais. Em The politics of regio-nal integration in Latin America, Oliver Dabèneargumenta que essas perspectivas são insuficientespara se apreender a complexidade das iniciativas deintegração nessa região. Ele propõe-se, então, a lidarcom a integração regional como variável dependen-te, configurando o principal fenômeno a ser explica-do. Curiosamente, esse campo apontava uma lacunanos estudos latino-americanos: é raro encontrar umlivro que trate da integração regional no continentecomo elemento central, apesar de sua longa históriae nutrida trajetória. Diferentemente dos processos deintegração na Europa ou na África, que foram explo-rados e teorizados em inúmeros trabalhos, a integra-ção regional na América Latina carecia de uma aná-lise crítica abrangente que superasse a divisão tradi-cional dos estudos em sub-regiões e vinculasse asidas e vindas da integração com o percurso históricocompartilhado pelas nações latino-americanas. Outro traço distintivo da análise de Dabène é o foco
na dimensão política da integração. Diferenciando-se de trabalhos dedicados a aspectos econômicos ounormativos, esse livro concentra-se no estudo dosefeitos do poder e das interações sociais sobre ocaminho da integração. Calcada em anos de reflexãoe de trabalho empírico e pautada por rigorosidadehistórica e precisão argumentativa marcantes, a obraexplicita as motivações dos líderes, os processos deconstrução institucional e os principais temas emdebate nas arenas regionais. Impressiona também ograu de autonomia analítica do estudo, que discute aAmérica Latina por ela mesma dispensando compa-rações recorrentes com outros modelos de integraçãoregional. É certo que a relativa inspiração européiados projetos regionais latino-americanos requermenções a esse caso, mas o autor não faz da UniãoEuropéia sua âncora de análise. Ao contrário, explo-ra as origens históricas das instituições políticas lati-no-americanas e confronta as tentativas de integra-ção com períodos de crise e democratização no con-tinente, comparando internamente os processos econstruindo uma teia explicativa própria.
A obra está dividida em cinco partes que refletem asprincipais realizações e dificuldades do regionalis-mo latino-americano. O autor inicia com aponta-mentos históricos e teóricos, reportando-se ao con-texto pós-Segunda Guerra Mundial e revisando osprincipais autores na área. Ao definir indeterminação
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
59
RESENHA
Dabène, Olivier (2009)The politics of regional integration in Latin
America: theoretical and comparative explorations.New York: Palgrave Macmillan, xxviii + 259 p.
de Clarissa Dri1
1. Doutoranda do Instituto de Estudos Políticos/Université deBordeaux
e incerteza como os nomes dojogo, Dabène desafia postuladosracionalistas segundo os quais ossistemas políticos estão em situa-ção de equilíbrio: na AméricaLatina, a regra é a instabilidade daintegração. Esses momentos deparalisia e relance refletem-se, porexemplo, na instrumentalizaçãoda integração a fim de combatercrises e conflitos na AméricaCentral ou consolidar os novosregimes democráticos no ConeSul. Em seguida, abordando a ins-titucionalização da integração, oautor valida a idéia do mimetismoeuropeu, mas verifica tambémuma convergência interna dasestruturas dos diferentes blocosregionais e um isomorfismo comrelação aos sistemas nacionais, oque prolonga a influência dos pre-sidentes ao âmbito regional. Essalógica não impediu, contudo, osurgimento de mecanismos visan-do à inclusão de parlamentos,organizações da sociedade civil egovernos locais nas decisões regio-nais. O autor mostra-se céticoquanto ao real potencial democrati-zante dessas esferas e aposta priori-tariamente na democracia redistri-butiva, a exemplo dos fundosestruturais criados no Mercosul.Por fim, a obra traz uma análiseretrospectiva das Cúpulas dasAméricas e da influência norte-americana na região.
Na conclusão, o autor questiona ocurso atual da integração latino-americana e insiste na crítica aoregionalismo decorativo, que nãoé capaz de relacionar de modocoerente as expectativas dos ato-res com as ambições institucio-nais. É certo que os limites doregionalismo para lidar com cer-tas questões econômicas ou políti-
cas têm ficado cada vez mais evi-dentes, como demonstram as ini-ciativas superpostas na AméricaLatina – Unasul, Alba,Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos, paracitar as mais recentes. Tambémreforça essa tendência a novacategoria de “potências emergen-tes”, que poderia acentuar as assi-metrias entre nações vizinhas –considere-se, por exemplo, a par-ceria estratégia União Européia-Brasil. Por outro lado, a obraesforça-se por demonstrar, e o fazcom sucesso, que a integração naAmérica Latina é um longo pro-cesso permeado por avanços eretrocessos, contradições internase efeitos positivos à sua maneira.Esse processo está longe do fim eé provável que a configuraçãoatual dos blocos regionais e desuas instituições constitua apenasmais uma fase nessa complexatrajetória. Em outras palavras, aobra permite considerar, com rea-lismo, a América Latina integradacomo uma finalidade políticadessa época.
Assim como nos primórdios daintegração européia as principaisanálises chegavam da América doNorte, ainda hoje muitos estudossobre integração latino-americanasão gestados em universidadeseuropéias. Razões à parte, o certoé que perspectivas à distânciapodem contribuir para uma visãomais global e perspicaz (emboranunca neutra) do fenômeno, o queé o caso do livro de Dabène.Trata-se de uma obra-prima daintegração latino-americana cujatradução ao português e/ou espa-nhol é altamente desejável. Aomesmo tempo introdutório e pro-fundo, didático e analítico, o traba-
lho se presta tanto à compreensãoinicial do fenômeno por estudantesdos anos iniciais da graduaçãoquanto à reflexão de pesquisadoresmais experientes, que encontrarãonele respostas a antigas dúvidas epossibilidades de desenvolvimentodas hipóteses apresentadas.
Contrariamente ao que o autorafirma no prefácio, penso que aobra oferece uma visão com-preensiva da integração latino-americana, ao mesmo tempo emque convida o leitor a desenvolverseus próprios caminhos de espe-culação. Mas Dabène está certo aoassinalar que o livro não encerraos debates com uma propostadefinitiva de interpretação desseprocesso político. Por um lado,essa é uma qualidade dos pesqui-sadores comprometidos com aexplicação de fenômenos históri-cos concretos e preocupados emtrabalhar mais com vistas à reali-dade e às necessidades sociais doque para a teoria. Por outro, otema continua carecendo de umainterpretação teórica mais siste-mática, densa e ousada, ou, emoutros termos, paradigmática.Comprovada a falta de habilidadedas teorias da integração européiapara explicar a integração latino-americana, é preciso elaborar umquadro teórico próprio e adequadoà análise dessa região e inseri-lono rol das teorias da integração noplano mundial, como mais umaferramenta (vinda da AméricaLatina dessa vez) à disposição dacomunidade científica. The poli-tics of regional integration inLatin America mostra que essaidéia está mais perto do que seimagina. Está lançado o desafio.
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
60
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
61
No seminário internacional “A integraçãoregional na América do Sul”, ocorrido emfevereiro de 2008, em Barcelona, vários estu-
diosos debateram a atualidade e as perspectivas paraa integração sul-americana, a agenda de desenvolvi-mento, a governança democrática, a coesão social e amaior inserção internacional da região. A proposta dolivro foi a de reunir algumas das apresentações doseminário na forma de artigos, agregando, ao traba-lho final, as discussões ocorridas na reunião. O obje-tivo do livro foi, sobretudo, o de demonstrar que osacontecimentos políticos da região são, além de dinâ-micos, bastante complexos.
No primeiro capítulo, Félix Peña discorre sobre arelação entre integração regional e a estabilidade sis-têmica da região sul-americana, um tema bastanterelevante quando se considera a economia políticado subcontinente. A despeito da convergência dosvários acordos de comércio preferencial, na Aladi,grande parte dos investimentos diretos externos e dofinanciamento, importantes variáveis macroeconômi-cas, estão regionalmente dissociados. Nesse sentido, amaior interdependência econômica, diante do aprofun-damento da integração energética e de infraestrutura
na região, e por meio do aprofundamento de institui-ções e de regras mais previsíveis, e, tende a ser bené-fico a todos.
Considerando que a convergência dos países daAmérica do Sul baseia-se principalmente no comér-cio internacional, a transformação produtiva e com-petitividade internacional são o que Silvia Simonitaborda, no capítulo dois, quanto à integração. A auto-ra examina, no que se refere à estrutura produtiva, osgraus de heterogeneidade e de diversificação, bemcomo a distribuição setorial dos investimentos dire-tos externos. Quanto à competitividade internacional,ela avalia três grupos de parâmetros internos à econo-mia dos países: suprimento das necessidades básicas,fatores que possivelmente aumentam a eficiênciaprodutiva, e os que potencializam o grau de inovação.Conclui que dinamizadores de produtividade e decompetitividade devem fazer parte de um esforçoconjunto de setores governamentais e privados, obje-tivando o desenvolvimento sustentável da região.
José Antonio Sanahuja, no capítulo três, dissertasobre o regionalismo pós-liberal, que, na América doSul, é evidenciado tanto pela Unasul quanto pelaAlba. Com a incompatibilidade dos acordos Norte-Sul, com relação aos Sul-Sul assinados, torna-senecessário novo enfoque para a integração: importân-
RESENHA
Cienfuegos, Manuel; Sanahuja, José Antonio (ed.)(2010) Una región en construcción: UNASUR y la
intergración en América del Sur. Barcelona:Fundació CIDOB, 422 p.
Samuel da Silva Resende1
1. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em RelaçõesInternacionais/Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
cia mais política do que econômi-ca, cooperação para o desenvolvi-mento social, energético, pararedução de assimetrias, e projetosem infraestrutura, em segurança eem defesa. Essa qualidade de inte-gração contribui para uma discus-são menos limitada apenas àsagendas comerciais e, segundo oautor, permite uma integraçãoregional mais forte e mais cons-ciente das próprias demandas.
As grandes disparidades entre ospaíses da América do Sul sãoobjeto de estudo de Anna Ayuso.Nesse quarto capítulo, as assime-trias são classificadas segundo: otipo de divergência; o motivo; ascondições de vida, as políticas ouas estruturas internas; sua evolu-ção; o território em que a diver-gência ocorre. Realiza-se, ade-mais, um extenso levantamentodos modos para amenizar essasdisparidades, evidenciando a pos-sibilidade da aplicação dessesmecanismos para os casos daCAN e do Mercosul, nos contex-tos do aproveitamento da liberali-zação comercial, da melhoria dosníveis de desenvolvimento econô-mico e territorial, da convergênciasocial e interregional, e dos meca-nismos jurídico-institucionais. Aautora afirma que, para a Américado Sul, além da falta de diagnósti-cos adequados, alguns problemascomuns aos acordos da região,como o não cumprimento dosobjetivos acordados e a não com-plementaridade das políticasnacionais, servem de obstáculo àmaior equidade da região.
A integração energética comosendo motivo tanto de integração
quanto de conflito entre os gover-nos sul-americanos é a questãolevantada no capítulo cinco. KlausBodemer realiza estudos de casoconsiderando as políticas daArgentina e da Bolívia, os projetosdo “anel energético” e do gasodu-to sul-americano, e sobre a oportu-nidade de o etanol ser um dinami-zador da integração. A governabi-lidade regional pode ser profunda-mente afetada, de acordo com aforma definida da integração ener-gética, e o modo de maximizar obem-estar da região seria abando-nar a perspectiva das decisõesestritamente nacionais, algo, toda-via, muito difícil, a curto prazo.
Wilson Nerys Fernández trata, nocapítulo seis, da integração físicae a viabilidade da IIRSA, a pri-meira carteira de projetos deinfraestrutura que envolveu todosos países do subcontinente.Descreve, com grande detalhe, oseixos de integração e os vínculosque cada Estado tem com o proje-to. A conclusão é que, muitoembora o projeto seja verdadeira-mente regional, os benefíciosserão maiores aos países que maisexportem bens primários, fato quepode ser percebido como prejudi-cial aos esforços de redução dasatividades extrativas e, por conse-quência, ao meio ambiente.
No sétimo capítulo, Jordi BacariaColom discute os fins da integra-ção e as possibilidades financeirasdo Banco do Sul. A proposta ini-cial do banco era o de financiarprojetos de infraestrutura eempresas públicas e privadas,muito embora alguns governosobjetivem, por meio dele, a cria-
ção de uma moeda única para amaior integração econômica daAmérica do Sul. O autor comparacom os mecanismos de financia-mento atualmente existentes comos do Banco do Sul e conclui que,por um lado, utilizar as reservasdo banco como base para umamoeda regional é arriscado e que,por outro, sua existência não sig-nifica prescindir da ajuda deoutros mecanismos de financia-mento internacionais.
A associação econômica da UniãoEuropeia com os países sul-ameri-canos, os problemas e as perspec-tivas da associação com Mercosule com a CAN são os temas docapítulo oito, escrito por ManuelCienfuegos. Ao longo do texto,discutem-se as atuais relaçõeseconômicas com a região, osaspectos do acordo de associaçãovigente entre UE e Chile, os acor-dos em negociação, e como ofuturo da Rodada Doha influi naconclusão destes acordos. Aindaque um dos principais conflitosseja a agricultura, percebe-se quea cooperação e o diálogo perma-necem sendo os meios mais efeti-vos para a conclusão dos acordos.
Tanto as novas associações deintegração na América Latinaquanto as mudanças políticas naUE tem efeitos sobre o espaçopolítico que se forma entre as duasregiões. Noemí B. Mellano, nocapítulo nove, trata do histórico,da dimensão estratégica, da situa-ção política e dos consensos e dis-sensos que constituem essa rela-ção birregional em fase de muta-ção. Para a autora, o espaço políti-co deve considerar a disparidade
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
62
econômica, a diferente participação democrática e adiscrepância institucional entre as regiões, a fim depermitir um melhor aproveitamento das capacidadese das potencialidades de ambas as regiões.
Susanne Gratius, no capítulo dez, discute as agendasgovernamentais das Cúpulas UE-América Latina eCaribe, questionando os motivos para não se teremconstruído uma verdadeira parceria estratégica inter-regional, mas apenas associações bilaterais, de fato,relevantes. O tratamento diferenciado, às vezesbenéfico, às vezes prejudicial, aos países latinos,sustenta a recente tendência europeia ao bilateralis-mo, que contraria a sua preferência histórica pelointerregionalismo. Não obstante, as cúpulas fortale-
cem fortalecendo a identidade política e os interessesinternacionais compartilhados, e continuam a contri-buir para o fortalecimento de associações promisso-ras como a entre a UE e o Mercosul.
No último capítulo do livro, Lourdes Castro Garcíadefende que a participação da sociedade civil, nascúpulas e as negociações dos acordos de associaçãocom os países da CAN e da América Central. A socie-dade civil tem escasso acesso às negociações, no sen-tido de poder contribuir com inquietudes ou com reco-mendações, ainda que, dependendo do que é acordado,ela seja a mais prejudicada. A maior participaçãosocial certamente revitalizaria as relações birregionais,muito desgastadas com o passar do tempo.
| Ano I, nº 2Novembro 2010
Mural Internacional
63
DEF