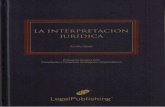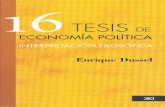Teoria Geral das obrigações na sistemática jurídica brasileira
Transcript of Teoria Geral das obrigações na sistemática jurídica brasileira
1
Teoria Geral das Obrigações na sistemáticabrasileira.
Dever jurídico é conceito amplo onde seencontra inserido o conceito de obrigação.Francisco Amaral ensina que o dever jurídicose contrapõe ao direito subjetivo, sendo oprimeiro constituído de uma situação passivaque se caracteriza pela necessidade dodevedor observar certo comportamentocompatível com o interesse do titular dodireito subjetivo.
O dever jurídico é comando imposto, pelodireito objetivo e dirigido a todas aspessoas para que observarem certa conduta,sob pena de receberam uma sanção pelo nãocumprimento do comportamento prescrito pelanorma jurídica.
O dever jurídico abrange não apenas odireito obrigacional ou de direito pessoal,mas também aqueles de natureza real,relacionado com o Direito das Coisas1, o1 O Direito das Coisas é o conjunto de normas jurídicas que rege aatribuição das coisas com eficácia real. Apesar de ser ramo do direitoprivado projeta-se juridicamente no âmbito do direito público postoque o regime dos direitos reais sofra interferência de institutospróprios do direito público, como por exemplo,
2
Direito de Família, Sucessões, o Direito deEmpresa e os direitos de personalidade.
Pela doutrina tradicional a obrigação2 é umarelação jurídica, do lado passivo do direitosubjetivo, consistindo no dever jurídico deobservar certo comportamento exigível pelotitular deste. E que tem como característicaser transitória, o que às vezes não éobservado no dever jurídico.
A relação jurídica obrigacional não éintegrada por qualquer espécie de direitosubjetivo. Somente aqueles dotados deconteúdo de econômico (direitos de crédito3)passíveis de circulação jurídica, poderãoparticipar de relações obrigacionais, o que
a função social da propriedade. A questão terminológica sobre oDireito das coisas sempre acarretou dúvidas infindas se confrontadacom a expressão “direitos reais”. Direito das coisas é ramo deDireito Civil cujo conteúdo é formado de relações jurídicas entrepessoas e coisas determinadas ou ao menos, determináveis. Entendendo-se que a coisa é tudo que não for humano. O que é radicalmentecontestado pela teoria personalista que reafirma claramente ser osdireitos reais, as relações entre pessoas porém intermediadas porcoisas. A teoria personalista nega a realidade metodológica aosDireitos Reais e ao Direito das Coisas, sendo entendidas como merasextensões metodológicas.2 A palavra obrigação decorre do verbo latino obligare, composto deligare, dando significado de ligar, atar, amarrar. Já o substantivoobligatus significa aquele que se obriga, obrigado. O recursoetimológico foi igualmente prestigiado por Caio Mário da Silva Pereiraque aponta que a expressão latina traz a ideia de vinculação, liame,cerceamento de liberdade de ação em benefício de pessoa determinada oudeterminável.3 Conveniente frisar que o direito de crédito corresponde ao dever de prestar que é de natureza essencial pessoal, não se confundindo, portanto com os direitos reais em geral.
3
descarta, de plano, os direitos dapersonalidade.
Como bem ressalta Cristiano Chaves de Fariase Nelson Rosenvald no mundo contemporâneo aestrutura da obrigação apresenta-se marcadapor grandes desigualdades sociais ejurídicas. E, tendo o direito o primado delutar e garantir o império da igualdade e dadignidade humana, além de servir demecanismo para a efetivação dos direitossociais já previstos constitucionalmente.
Também as relações obrigações não fogem àincidência da legalidade constitucional,exigindo-se que estejam sintonizadas com avalorização da cidadania. Portanto, aobrigação é vista como um processo, ou seja,uma série de atividades exigidas de ambas aspartes para consecução de uma finalidade,que é o adimplemento, evitando-se os danosde uma parte à outra nessa trajetória, deforma que o cumprimento se faça a forma maissatisfatória ao credor e ao mesmo tempomenos onerosa ao devedor.
Desta forma, nessa ótica dinâmica daobrigação há o reconhecimento e imposição deoutros deveres às partes, além daqueles
4
tradicionalmente descritos pela vontade ecom o fito de permitir que a relação alcanceseu término natural e normal, preservando-sea liberdade dos parceiros, impedindo-seassim, que no curso da relação jurídico, umsujeito seja reificado pela superioridadeeconômica do outro.
Portanto, o conceito da obrigação como umprocesso enfatiza a noção de pluralidade,aduzindo à dinâmica da relação jurídica einstituindo a relação de cooperação entre aspartes.
O direito das obrigações exerce notávelinfluência na vida econômica, principalmenteem face da alta frequência das relaçõesjurídicas obrigacionais no mundoconsumerista.
É através das relações obrigacionais que seestrutura o regime econômico, retratando aestrutura econômica social e traduzem asprojeções da autonomia privada na esferapatrimonial.
5
Com razão lecionou Josserand4 ao aludir quea teoria das obrigações situa-se na base,não somente do direito civil, mas de todo odireito, não sendo exagero afirmar que oconceito de obrigação constitui a armadura eo substractum do direito, e mesmo, de um modomais geral, de todas as ciências sociais.(In: Josserand, Louis, Cours de droit civil positiffrançais, v.2, p.2).
Os direitos obrigacionais ou jus ad remdiferem em linhas gerais dos direitos reaisou ius in rem, vejamos: a) quanto ao objeto,posto que exijam o cumprimento dedeterminada prestação, ao passo que estesincidam sobre uma coisa;
b) quanto ao sujeito, porque o sujeitopassivo é determinado ou determinável,enquanto nos direitos reais é indeterminado4 Ettiénne Louis Josserand (1868-1941) foi advogado francês e coautordo projeto de Código de Obrigações e Contratos libaneses. Era o decanoda Faculdade de Direito de Lyon, conselheiro do Tribunal de Cassaçãofrancês em 1938. Criticou veemente a noção de quase-contrato, sendo oprimeiro doutrinador a cogitar de contrato forçado. Foi principalmentepor iniciativa da teoria do risco de Raymond Saleilles, obrou um dosfundamentos da responsabilidade civil, tratando de princípio geral aresponsabilidade das coisas, conforme prevê o art. 1.384, primeiroparágrafo do Código Civil francês. Foi crítico da evolução do direitoprivado francês após a Primeira Guerra Mundial, que de acordo com elefora do direito comum criado uma "classe direita" levando a guerracivil. Foi autor da seguinte assertiva: “A liberdade é o estoque comumde direitos e deveres, é uma possibilidade, uma potencialidade dedireitos, nada menos e nada mais".
6
(são todas as pessoas do universo, que devemabster-se de molestar o titular). De acordocom a escola clássica, o direito real nãoapresenta apenas dois elementos: de um lado,uma pessoa, sujeito ativo de um direito, ede outro, uma coisa, objeto desse direito.
Para teoria personalista e anticlássica, odireito real não passa de uma obrigaçãopassiva universal. Coube a Planiol opor-se àbizarra concepção e sustentou ainviabilidade da afirmação que concebia umarelação entre a pessoa e coisa.
A relação jurídica é sempre entre duaspessoas, entre dois sujeitos, o ativo e opassivo. Desta forma, nunca poderia haverentre pessoa e coisa. Foi também Planiol quealertou que no direito real há uma obrigaçãopassiva universal, uma obrigação deabstenção de todas as pessoas.
Assim, analisando a relação jurídica em si,o poder jurídico exercitável diretamentecontra os bens e coisas em geral,independentemente da participação de umsujeito passivo.
7
No fundo, a abstenção coletiva 5nãorepresenta a verdadeira essência do direitoreal, senão apenas uma simples consequênciado poder direto e imediato do titular dodireito sobre a coisa;
c) quanto à duração, posto que sejamtransitórios e se extinguem pelo cumprimentoou por outros meios, enquanto que osdireitos reais são perpétuos, não seextinguindo pelo não uso, mas somente noscasos expressos em lei (desapropriação,usucapião em favor de terceiro, etc.);
d) quanto à formação posto que possamresultar da vontade das partes, sendoilimitado o número de contratos inominados(numerus apertus) ao passo que os direitosreais só podem ser criados por lei, tendo5 A concepção dos direitos reais como absolutos e erga omnes pressupõeque é um fato jurídico fundamental oponível a qualquer pessoa que nãoseja titular da coisa. Noutros termos, o proprietário poderá fazer usoda coisa como bem entender desde que atue na forma da lei e não cometanenhumato ilícito, e as demais pessoas tem o dever de não interferir nodireito real do proprietário. A expressão latina erga omnes significaliteralmente para todos, é particularmente usada no meio jurídico paraindicar os efeitos de algum ato, lei ou direito que atingem a todos osindivíduos. Em alguns processos é conhecido também o efeito erga omnes,tais como as Ações Diretas de Inconstitucionalidade, onde se ataca umato normativo e que a princípio teria validade contra todos, como sefosse uma lei. Também a inconstitucionalidade reconhecida em açãodevida que não tenha o efeito erga omnes, como no caso de recursoextraordinário contra decisão judicial interposto junto ao STF, a estadecisão poderá ser dado o efeito erga omnes por meio da Resolução doSenado Federal, conforme prevê o art.53, inciso X, da ConstituiçãoFederal.
8
seu número limitado e regulado por esta,daí, chama-los de numerus clausus;
e) quanto ao exercício, porque exigem umafigura intermediária, que é o devedor, aopasso que os direitos reais são exercidosdiretamente sobre a coisa sem necessidade daexistência de um sujeito passivo, que podeexistir apenas potencialmente;
f) quanto à ação que é dirigida somentecontra quem figure na relação jurídica comosujeito passivo (ação pessoal), ao passo quea ação real pode ser exercida contra quemquer que detenha a coisa.
É certo, porém, que por vezes os direitos decrédito tenham certos atributos próprios epeculiares dos direitos reais, comoacontecem com certos direitos obrigacionaisque facultam o gozo da coisa, os chamadosdireitos pessoais de gozo: os direitos dolocatário e os do comodatário, por exemplo.
Assim, se de um lado, a lei atribua eficáciareal a certos contratos, que normalmente sãoconstitutivos de simples direitos decrédito, conforme estabelece o direito dopromitente comprador ou o direito de
9
preferência presente no contrato de locaçãoe deferido ao locatário.
Ônus jurídico é definido pela necessidade deobservar determinado comportamento para aobtenção ou conservação de uma vantagem parao próprio sujeito e não para a satisfação deinteresses alheios.
Um típico exemplo é o ônus processualpresente no art. 333, I do CPC, de provar oque se alega.
Então, a obrigação visa obter comportamentopara satisfazer interesse do titular dodireito subjetivo, ao passo que o ônussatisfaz o próprio interesse do agente. Alei não o impõe, apenas faculta.
Segundo Orlando Gomes, o ônus jurídico é anecessidade de agir de certo modo para atutela de interesses próprios. O nãoatendimento do ônus gera consequênciasapenas para a parte que não o atendeu. Outroexemplo: levar um imóvel a registro.
10
Direito potestativo6 é o poder que a pessoatem de influir na esfera jurídica de outrem,sem que este possa fazer algo para não sesujeitar.
Na obrigação a sanção é estabelecida para atutela de interesse alheio, já na sujeiçãoquem não observar o comportamentodeterminado, não se cogita em sanção massuporta os efeitos da vontade do titular dodireito.
Exemplificando: Quem ajusta contrato porprazo indeterminado está sujeito a vê-lodenunciado a qualquer momento pelo outrocontratante; Quem recebe o mandato sesubordina à vontade do mandante de cassar aoutorga a qualquer momento; o condômino sesujeita à pretensão de divisão de qualquerdos outros comunheiros.
O estado de sujeição, por sua vez, constituium poder jurídico do titular do direito (por
6 É um direito que não admite contestações. É o caso, por exemplo, dodireito assegurado ao empregador de despedir um empregado, no âmbitodo direito do trabalho, cabe a este apenas aceitar esta condição; comotambém num caso de divórcio, uma das partes aceitando ou não, odivórcio será processado. Observa Francisco Amaral, o direitopotestativo atua na esfera jurídica de outrem, sem que este tenhaalgum dever a cumprir. Os direitos potestativos podem serconstitutivos, como por exemplo, o direito do dono de prédio encravado(aquele que não tem saída para via pública) de exigir que o dono doprédio dominante lhe permita a passagem.
11
isso é denominado potestativo) não havendocorrespondência a qualquer outro dever.
Resumindo, diferem substancialmente entre sios direitos subjetivos dos chamados direitospotestativos, eis que àqueles contrapõe-se aum dever enquanto a estes correspondemapenas ao estado de sujeição.
A propósito a prescrição está relacionadacom os direitos subjetivos, logo estárelacionada também com o dever, com aobrigação e a correspondenteresponsabilidade7. Desta forma atinge asações condenatórias (tais como ações decobrança e de reparação civil).
Atinge, pois a pretensão condenatória eexecutória. Por outro lado, a decadênciaestá relacionada com os direitospotestativos, e nesses casos, haverá estado7 A responsabilidade por dívida alheia pode nascer da vontade daspartes, constituindo garantia contratual ou mesmo por imposição legal(garantia legal). Pode-se confirmar pela dicção do art. 818 do C.C.,segundo o qual pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazerao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.Não se trata de dívida própria, mas de responder por obrigação deterceiro. Para o dever, vige a obrigação civil completa, em que hádívida e responsabilidade. Já para o fiador, há tão-somente aresponsabilidade de pagar integralmente a dívida, ficando sub-rogadonos direitos do credor (art. 831 do C.C.). E também responderá odevedor perante o fiador por todas as perdas e danos que este pagar, epelos que sofrer em razão da fiança (art. 832 do C.C.) e o fiador temdireitos aos juros do desembolso pela taxa estipulada na obrigaçãoprincipal, e, não havendo taxa convencionada, aos juros legais da mora(art. 833 do C.C.).
12
de sujeição. Por essa razão, se relaciona àsações constitutivas positivas e negativas(um bom exemplo é o da ação anulatória de umato ou negócio jurídico).
Porém, em alguns casos um direitopotestativo e um estado de sujeição estarãorelacionados com a imprescritibilidade, oumelhor, a não subordinação à prescrição oudecadência, conforme acontece nosimpedimentos matrimoniais e nulidadeabsoluta de negócio jurídico.
Enfim, a obrigação em sentido técnicopertence, portanto, à categoria dos deveresjurídicos especiais ou particulares.
A obrigação deve ser afinal visualizada sobo prisma dual, onde haverá inicialmente odébito, debitum8 ou schuld e em caso de
8 A responsabilidade por dívida alheia pode nascer da vontade daspartes, constituindo garantia contratual ou mesmo por imposição legal(garantia legal). Pode-se confirmar pela dicção do art. 818 do C.C.,segundo o qual pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazerao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.Não se trata de dívida própria, mas de responder por obrigação deterceiro. Para o dever, vige a obrigação civil completa, em que hádívida e responsabilidade. Já para o fiador, há tão-somente aresponsabilidade de pagar integralmente a dívida, ficando sub-rogadonos direitos do credor (art. 831 do C.C.). E também responderá odevedor perante o fiador por todas as perdas e danos que este pagar, epelos que sofrer em razão da fiança (art. 832 do C.C.) e o fiador temdireitos aos juros do desembolso pela taxa estipulada na obrigaçãoprincipal, e, não havendo taxa convencionada, aos juros legais da mora(art. 833 do C.C.).
13
inadimplemento surgirá a responsabilidade ouhaftung9.
Em face dessa dualidade é ainda possívelidentificar schuld sem haftung10 ou débito semresponsabilidade conforme ocorre naobrigação natural11 ou incompleta, que nãopode ser exigida.
9 Em geral, o haftung e o schuld, ou seja, a responsabilidade e o deverestão relacionados ao débito e repousam sobre o devedor. Sendo opatrimônio do devedor que deve responder por suas dívidas. Mas, porvezes, a responsabilidade sobre o débito pode recair sobre outrapessoa, como por exemplo, o fiador. Bem explica Judith Martins-Costaque a teoria dualista proposta por doutrinadores alemães dos finaisdos oitocentos, notadamente, Bekker e Brinz, e aperfeiçoada no iníciodo século XX por Von Gierke que decompunha a obrigação em doismomentos: o schuld, como um dever legal em lato sensu, mas em sentidoestrito significa a dívida autônoma em si mesma e que tem por conteúdoum dever legal. Já haftung que consiste na submissão ao poder deintervenção daquele a quem não se presta o que deve ser prestado.10 É comum no português ouvirmos referências ao schuld e o haftung, o querevela per si um equívoco posto que em alemão as referidas palavrassejam femininas.11 É bom destacar que os deveres morais não são e nunca foram deveresjurídicos e seu descumprimento ou cumprimento não gera efeitos senãono campo social. O dever de urbanidade que existe normalmente emsaudar uma pessoa com “bom dia, boa tarde ou boa noite”, é puramentemoral. Caso não seja feito, poderá ser moralmente punido, ou aindaangariar a pecha de mal-educado. Por outro lado, a obrigação naturalgera efetivos efeitos jurídicos, posto que uma vez feito o pagamentofeito voluntariamente não pode ser repetido, ou seja, pedir de volta.De sorte, que a obrigação natural não é moral, pois se o fosse, arepetição do pagamento indevido será possível.
14
Também é identificável haftung sem schuld12, ouseja, responsabilidade13 sem débito conformeocorre com a fiança.
O Direito das obrigações no Código Civil de1916, elaborado no final do século XIX(1899) refletia uma sociedade estável,12 Leciona José Carlos Moreira Alves que são duas importantesdistinções entre a dívida e a responsabilidade. A primeira decorre emmomentos diversos: a dívida desde a formação da obrigação e aresponsabilidade posteriormente quando o devedor não cumpre aprestação devida. A segunda é que o debitum é elemento não coativo (odevedor é livre para realizar ou não a prestação) já a obligatio é umelemento coativo. (In: MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano. v.1,p.5.).13 Inicialmente a responsabilidade recaia sobre o corpo do devedor eveio a sofrer fortes modificações com o decorrer dos anos. Sublinhe-seque no Império Romano não podia tolerar que um cidadão romano fosseescravo de outro e, por isto, o devedor era considerado servorum loco, ouseja, tinham uma condição especial pela qual não poderia serultrajados impunemente pelo senhor e poderiam adquirir sua liberdademesmo contra a vontade do senhor. Concluiu Bonfante, a condiçãoimposta aos devedores foi motivo de longa luta entre os patrícioscredores e os plebeus devedores, conforme noticia algumas históriastumultuadas. Mas teria a Lex Poetelia Papiria efetivamente acabado com apossibilidade de prisão do devedor? A questão é bem polêmica. CharlesDemangeat afirmava que a lei suavizava a condição do devedor porque ocredor fica proibido de acorrentá-lo, mas isto não impede que sejaaprisionado (Cours élémentaire de droit romain. 3.ed. Paris: A. Maresq Ainé,1876, v.1. p.153). Bonfante afirmava que a possibilidade de manter-sepreso o devedor ou quem se oferecesse em seu lugar fora então,proibida, salvo exceções, desaparecendo o caráter penal do vínculoobrigatório segundo o qual o objeto do direito de crédito era, emprimeiro lugar, o corpo do devedor. Foignet e Dupont, por outro lado,afirmavam que a lei apenas impediu o exercício da manus iniectio sem umprévio julgamento do devedor e este foi o motivo de conduzir o nexumao desuso (Le droit romain des obligations. 5.ed., Paris, Rousseau e Cie, 1945,p.38. Já Alexandre Correia e Gaetano Sciacia entendem que ocorrera asupressão da própria manus iniectio (Manual de direito romano, 2.ed., SãoPaulo: Saraiva, 1953, v.1, p.277). E, ainda na opinião Charles Maynz alei aboliu o próprio nexum ( MAYNZ, Charles. Courses de droit romain, v.1,p. 85). Note-se que a responsabilidade é sempre maior que a dívida nashipóteses de solidariedade e de indivisibilidade.
15
agrária e conservadora, além de recém-saídada escravidão.
Desta forma é justificável o posicionamentodo Livro das Obrigações colocado após oDireito de Família e do Direito das Coisase, por essa razão, não contemplavam aspectosimportantes da economia capitalista como,por exemplo, a correção monetária, asindenizações por danos extrapatrimoniais, ascláusulas de escala variável ou indexadores,além de tratar de forma insuficiente dosjuros compensatórios e moratórios.
O Direito das Obrigações no Código Civil de2002, a Lei 10.406/2002 que alterou algunsaspectos do Livro de Obrigações.
Primeiramente, posicionou-o logo após aParte Geral, abrindo, portanto, a sua ParteEspecial. Tal modificação veio a atendertanto o pedido da doutrina, como a umentendimento lógico.
Apesar de não ter operado mudançassubstanciais na teoria geral das obrigações,alguns institutos ganharam assentoprivilegiado em título específico é o caso,por exemplo, da cessão de crédito e aassunção de dívida.
16
Tendo ainda o referido diploma legalreconhecido em diversos pontos, a correçãomonetária como efeito da desvalorização damoeda.
Outras características relevantes também sãoimportantes, como: a) a conservação dasistemática tradicional das modalidades deobrigações, deixando-se, de se referir, porser trabalho da doutrina, sobre o problemadas fontes das obrigações;
b) aceitação da revalorização da moeda nasdívidas de valor;
c) no campo da responsabilidade civil,matéria mereceu tratamento em título próprio(o Título IX), consagrou-se aresponsabilidade objetiva, além de expressoreconhecimento do dano extrapatrimonial;
d) alteração da medida determinativa daindenização, relativizando-se o critério daextensão do dano, ao se permitir a reduçãodo quantum indenizatório, a critério dojuiz, e por equidade, se houver excessivadesproporção entre a gravidade da culpa e odano (art. 944, parágrafo único do C.C.).
Seguindo o vetor traçado pelo Código CivilSuíço, a teoria geral das obrigações,
17
unificando as obrigações civis e comerciais,perfazendo uma unificação parcial do DireitoPrivado, com a absorção, inclusive, deregras gerais de Direito Cambiário, em seuTítulo VIII – Dos Títulos de Crédito.
No Brasil, o doutrinador Clóvis do Couto eSilva pondera que o tratamento da relaçãoobrigacional como totalidade define umaordem de cooperação em que credor e devedornão ocupam posições antagônicas.Hodiernamente, não mais prevalece o statusformal das partes, mas a finalidade a qualse dirige a relação dinâmica. É precisamentea finalidade que determina a concepção daobrigação como processo.
Por isso, concluímos que as obrigaçõesemanadas de negócios jurídicos são complexase acrescendo-se as obrigações principais oschamados deveres anexos ou laterais.
Seriam obrigações de conduta honesta e lealentre as partes, vazadas em deveres deproteção, informação e cooperação, a fim deque não sejam frustradas as legítimasexpectativas de confiança dos contratantesquanto ao fiel cumprimento da obrigaçãoprincipal derivada da autonomia privada.
18
O regramento contratual contemporâneo éresultado de heteronomia de fontes,principalmente por acrescentar à autonomiaprivada os deveres impostos pela boa-féobjetiva.
Para além da perspectiva tradicional desubordinação do devedor do credor, existe obem comum da relação obrigacional, voltadaao adimplemento da forma mais satisfatóriaao credor e menos onerosa ao devedor14.
O bem comum na relação obrigacional traduz asolidariedade mediante a cooperação dosindivíduos na busca de satisfação de
14 O art. 5º, LXVII da CF/1988 prevê a possibilidade de prisão doresponsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigaçãoalimentícia e a do depositário infiel. Quanto ao depositário infiel,deve-se frisar que a prisão restou inviabilizada pela SúmulaVinculante nº 25 do Supremo Tribunal Federal, bem como pela Súmula 419do STJ. As súmulas decorem do entendimento do Supremo Tribunal Federalpelo qual “diante do inequívoco caráter especial dos tratadosinternacionais que cuidam da proteção dos direitos humanos, não édifícil entender que a sua internalização no ordenamento jurídico, pormeio do procedimento de ratificação previsto na Constituição, tem ocondão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplinanormativa infraconstitucional com ela conflitante. Nesse sentido, épossível concluir que, diante da supremacia da Constituição sobre osatos normativos internacionais, a previsão constitucional da prisãocivil do depositário infiel (art. 5º, inciso LXVII) não foi revogadapela ratificação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos(art. 11) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto deSan José da Costa Rica (art. 7º, 7), mas deixou de ter aplicabilidadediante do efeito paralisante desses tratados em relação à legislaçãoinfraconstitucional que disciplina a matéria, incluídos o art. 1.287do Código Civil de 1916 e o Decreto- Lei n° 911, de 1º de outubro de1969” (RExt. 466.343-1).
19
interesses patrimoniais recíprocos, semcomprometimento dos direitos depersonalidade e da dignidade de credor edevedor.
A liberdade de contratar será exercida emrazão e nos limites da função social docontrato, eis que a cláusula geral previstono art. 421 do C.C. indica que afuncionalidade da relação obrigacionalreside na preservação da harmonia de seusparticipantes.
A intervenção da sociedade sobre o contratoé benévola principalmente por estimular oadimplemento da relação obrigacional,mediante a cooperação dos contratantes, paraque seja possível o resgate da liberdade quefora cedida em razão da contratação.
Justamente pela tutela da liberdade15, asobrigações serão efêmeras, de naturezapuramente transitória. Lembremos que noCódigo Civil de 1916 de feição marcadamente15 Antes da preocupação atual da liberdade e com a dignidade humana, nodireito romano já apontava Menezes Cordeiro asseverava que a ideia deprisão do devedor por inadimplência já estava contida na Tábua III econfirmava que o período de cárcere privado era de sessenta dias,podendo, inclusive, o credor acorrentar o devedor, havendo, contudo, odever do primeiro alimentá-lo. Informa que o devedor era conduzido atrês feiras consecutivas, trans Tiberium (fora de Roma) ou matá-lo,partes secanto (cortando em postas) sendo as partes proporcionais àsdívidas, no caso de concurso de credores. In: Tratado de Direito CivilPortuguês, II, Tomo III, Coimbra: Almedina, 2010, p. 298.
20
individualista, visualizava a obrigaçãoapenas pelo olhar do credor, pois o devedorera mero coadjuvante.
Atualmente percebemos a ideia desolidariedade e responsabilidade, até mesmoperante a sociedade, pois esta demanda ocumprimento da obrigação como forma depacificação do tecido social e incremento dotráfico negocial.
O conteúdo da relação obrigacional é dadopela autonomia privada e integrado pela boa-fé. Os deveres principais da prestaçãoconstituem o núcleo dominante, a alma darelação obrigacional.
Daí que sejam estes que definem o tipo decontrato. Exemplificando, a compra e venda(art. 481 do C.C.) consiste em intercâmbiode obrigações de dar coisa certa e quantiacerta, com base na autonomia negocial doscontratantes.
Todavia, outros deveres impõem-se na relaçãoobrigacional, completamente desvinculados davontade de seus participantes. Trata-se dosdeveres de conduta, também conhecidos comodeveres acessórios, anexos ou laterais ouinstrumentais.
21
Tais deveres de conduta são conduzidos pelaboa-fé ao negócio jurídico, destinando-se aresguardar o fiel processamento da relaçãoobrigacional em que a prestação integra-se.
Estes incidem tanto sobre o devedor como ocredor, a partir de uma ordem de cooperação,proteção, informação, em via de facilitaçãodo adimplemento, tutelando-se a dignidade dodevedor, o crédito do titular ativo e asolidariedade entre ambos.
Arnoldo Wald16 aduz que, mormente o contratose transformou em bloco de direitos eobrigações de ambas as partes, sendo certoque a plasticidade do contrato transforma asua própria natureza, fazendo com que osinteresses divergentes do passado sejamconvertidos numa verdadeira parceria, commaior ou menor densidade.
Visualiza-se o contrato como relaçãojurídica dinâmica, total e contínua, quenasce, vive e morre. E, como osdoutrinadores germânicos costumam aduzir que
16 Arnoldo Wald é doutor, Livre-Docente, Professor Catedrático deDireito Civil da UERJ, Doutor Honoris Causa da Universidade de ParisII, ex-Procurador do Estado, ex-Procurador-Geral da Justiça, ex-membrodo Conselho Federal da OAB por mais de vinte anos, membro da Comissãode Revisão do Projeto do Código Civil, Presidente da AcademiaInternacional de Direito e Economia, Membro do Comitê Executivo daCâmara Internacional do Comércio e Advogado.
22
as relações obrigacionais formam uma fila dedeveres de conduta, vistos no tempo,ordenados logicamente por uma finalidade,consistente na realização dos interesseslegítimos das partes.
É consagrada a relevância da boa-fé comoprincípio, cláusula geral e especialmentegeradora de deveres de conduta destinados àexata satisfação dos interesses globaisenvolvidos na relação complexa, não eixandode lembrar sobre a centralidade da vontadena determinação do objeto do negóciojurídico.
A própria neodimensão da autonomia privada atraduz como poder dos particulares decriação da norma individual nos limitesdados pelo ordenamento, visa justamenteproteger e reforça a volição, a fim de queseja real, fiel e equilibrada. Uma vontadedas partes, e não apenas do credor.
23
Se a dogmática17 do século XIX fora guiadapelo império da vontade, que fizera com queos juristas apontassem unanimemente quetodos os deveres derivassem desta.
Deu-se um giro de cento e oitenta graus,onde se conclui que todos os deveres emanamatualmente do princípio da boa-fé. Devendo oequilíbrio apontar a existência de deveresque resultem da vontade e outros decorrentesda boa-fé e da proteção jurídica e social docontrato.
Há um novo direito para uma nova economiadescortinada pela sensível evolução doscontratos e do Código Civil de 2002.
Referências:
AMARAL, Francisco. Direito Civil,Introdução. 5.ed., Rio de Janeiro: Renovar,2004.17 Dogmática é palavra que deriva de dokein, que significa ensinar,doutrinar. O conceito é trazido por Tércio Sampaio como o enfoquezetético, que vem de zetein, significando perquirir, pesquisar,questionar e indagar. O enfoque dogmático releva o ato de opinar eressalva algumas das opiniões. O zetético, ao contrário, desintegra,dissolve as opiniões, pondo-as dúvida. Questões zetéticas têm umafunção especulativa explícita são infinitas. As questões dogmáticastêm função diretiva explícita e são finitas. Nas primeiras, o problematematizado é configurado com um ser (que é algo)? Nas segundas, asituação nelas captadas configura-se como um dever-ser (com dever-seralgo?). Por isso, o enfoque zetético vai saber o que é alguma coisa.Enquanto que o enfoque dogmático preocupa-se em possibilitar umadecisão e orientar a ação.
24
ANTUNES VARELA, João de Matos. Dasobrigações em geral. vol.1, 10.ed., Coimbra:Almedina, 2005.
CORDEIRO, Antonio Manuel da Rocha e Menezes.Da boa-fé no direito civil. Coimbra:Almedina, 2001.
FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson.Direito das Obrigações. 2.ed., Rio deJaneiro: Editora Lúmen Juris, 2007.
GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, RodolfoPamplona. Novo Curso de Direito Civil.Obrigações. Vol. II, 9.ed., 2008.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito CivilBrasileiro. Volume2, Teoria Geral dasObrigações. 9.ed., São Paulo: EditoraSaraiva, 2012.
JOSSERAND, L. E., Cours de droit civil positiffrançais. Paris: Rousseau Cie., 1967.
LEITE, Gisele. A diferença entre os direitosreais e direitos pessoais, direitosobrigacionais ou de crédito. Disponível em:http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=5160 Acesso em 20.02.2014.
25
LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado. SãoPaulo: Editora Saraiva, 2003.
MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao CDC.São Paulo: Editora RT, 2003.
MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direitoprivado. São Paulo: Editora Revista dosTribunais, 2006.
MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito Romano.v.1. Rio de Janeiro: Forense, 1985.
NETTO LÔBO, Paulo Luiz. Direito dasObrigações. Brasília: Brasília Jurídica,1999.
OLIVEIRA, J.M. Leoni Lopes. Novo CódigoCivil Comparado. Rio de Janeiro: EditoraLúmen Juris,2004.
POTHIER, Robert Joseph. Oeuvres complètes dePothier: Traité des obligationes. Paris: EugèneCrochard, 1830.
RIPERT, Georges. A regra moral nasobrigações civis. Campinas: Bookseller,2000.
RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Obrigações.7.ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, GrupoGen, 2013.
26
TARTUCE, Flávio. Direito Civil 2. 7.ed., SãoPaulo: Editora Método, 2012.
SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso deDireito Civil – obrigações em geral. 6.ed.,Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995.
SIMÃO, José Fernando. Direito CivilContratos. Série Leituras Jurídicas, Provase Concursos. 3.ed., São Paulo: EditoraAtlas, 2008.
WALD, Arnoldo. Um novo direito para a novaeconomia: a evolução dos contratos e oCódigo Civil. São Paulo: Saraiva, 2003.