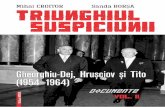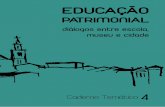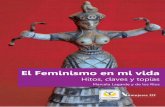Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]
Temas em Psicologia do
Envelhecimento (Vol.II)
REVISTA E-PSI
REVISTA ELETRÓNICA DE
PSICOLOGIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE
https://www.revistaepsi.com
Ano 5, Volume 1
2015
Coordenação:
Catarina MARQUES-COSTA
Pedro Armelim ALMIRO
Corpo Editorial/ Editorial Board
Editores-Fundadores & Diretores Editoriais/
Founding Editors & Editors-in-Chief
Pedro Armelim ALMIRO (PT) Catarina MARQUES-COSTA (PT)
Editores Associados/ Associate Editors
Hudson F. GOLINO (BR) Octávio MOURA (PT)
Editora Assistente/Assistent Editor
Silvana MARTINS (PT)
Editores/Editors
Cláudia CANDEIAS, M.Sc. (PT)
Marcello DELLA MORA, M.Sc. (AR)
Inês FERREIRA, PhD. (PT)
Cláudia GOMES, M.Sc. (PT)
Mariana TELES, M.Sc. (BR)
Leigh Adams TUCKER, M.Sc. (ZA)
Conselho Científico/ Scientific Board
Madalena ALARCÃO, PhD. (Univ. de Coimbra, PT)
Isabel Maria Marques ALBERTO, PhD. (Univ. de Coimbra, PT)
Leandro S. ALMEIDA, PhD. (Univ. do Minho, PT)
Carla ANTUNES, PhD. (Univ. Lusófona, Porto, PT)
Catarina do Vale BRANDÃO, PhD. (Univ. do Porto, PT)
Joaquim Luís COIMBRA, PhD. (Univ. do Porto, PT)
Michael Lamport COMMONS, PhD. (Harvard University, MA, US)
James Meredith DAY, PhD. (Univ. Catholique de Louvain, BE)
Anastasia EFKLIDES, PhD. (Aristotle University of Thessaloniki, GR)
José FERREIRA-ALVES, PhD. (Univ. do Minho, PT)
Denise de Souza FLEITH, PhD. (Univ. de Brasília, BR)
Ana Paula Couceiro FIGUEIRA, PhD. (Univ. de Coimbra, PT)
Miguel GALLEGOS, PhD. (Univ. Nacional de Rosário, AR)
Cristiano Assis GOMES, PhD. (Univ. Federal de Minas Gerais, BR)
Margarida Rangel HENRIQUES, PhD. (Univ. do Porto, PT)
Helena MARUJO, PhD. (Univ. de Lisboa, PT)
Teresa McINTYRE, PhD. (Univ. of Houston, TX, US)
Félix NETO, PhD. (Univ. do Porto, PT)
Maria Salomé PINHO, PhD. (Univ. de Coimbra, PT)
Ricardo PRIMI, PhD. (Univ. de São Francisco, BR)
Carlos SAIZ, PhD. (Univ. de Salamanca, ES)
Joana Vieira dos SANTOS, PhD. (Univ. do Algarve, PT)
Mário R. SIMÕES, PhD. (Univ. de Coimbra, PT)
Pierre TAP, PhD. (Univ. Toulouse-Le-Mirail, Professeur Emérite, FR)
Revisora Convidada/Invited Reviewer
Cidália Ferreira ALVES, PhD. (Inst. Politécnico Porto, PT)
A Nossa Missão / Sinopse
A Revista E-Psi é um periódico eletrónico científico português de Acesso Livre com
revisão por pares, que foi criado a 12 de Maio de 2011 por Pedro Armelim Almiro e
Catarina Marques-Costa. A revista publica artigos científicos nas áreas de psicologia,
educação e saúde.
Embora este seja um espaço preferencialmente dedicado à divulgação de resultados de
investigações, através da publicação de artigos empíricos, a Revista E-Psi também
publica artigos de revisão teórica, de revisão de estudos, de estudo de caso, ou artigos de
reflexão que sejam pertinentes.
O acesso aos artigos é livre e gratuito [Acesso Livre para autores e leitores (no fees),
com licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0].
Este periódico possui indexações internacionais nomeadamente: no Directory of Open
Access Journals (DOAJ), no Academic Journals Database e no Latindex.
Garante-se assim uma publicação rápida com qualidade e rigor, como também uma
divulgação internacional.
Os Editores Fundadores
(E-mail: [email protected])
Our Mission/Synopsis
The Revista E-Psi is a peer-reviewed, open access electronic journal from Portugal that
publishes scientific papers in the fields of Psychology, Education and Health. Revista
E-Psi was developed by Pedro Armelim Almiro and Catarina Marques-Costa.
Although this journal is dedicated to the dissemination of research results through
publication of empirical articles, Revista E-Psi also publishes papers of theoretical
review, meta-analysis, case study, or relevant for reflection papers.
The access to published papers is free [open access to authors and readers (no fees),
licensed by Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0].
This journal is indexed in: Directory of Open Access Journals (DOAJ), Academic
Journals Database, Latindex.
So we ensure a rapid and high quality publication, with an international dissemination.
The Founding Editors
(Email: [email protected])
Índice
Editorial: Desafios atuais na psicologia do envelhecimento
CATARINA MARQUES-COSTA, & MARIA SALOMÉ PINHO
........................................................................................................................................... 1
Penser autrement le vieillissement et la maladie d’Alzheimer
MARTIAL VAN DER LINDEN, & ANNE-CLAUDE J. VAN DER LINDEN
………………………...………………………...……...………………….…………………….……….…4
Intervenção em grupo com pessoas de idade avançada: A importância da relação
MARGARIDA P. LIMA, & ALBERTINA L. OLIVEIRA ............................................................ 23
Possibilidades para envelhecer positivamente: Um estudo de caso com base na
psicologia positiva
MARIA A. D’ARAÚJO, MARGARIDA ALPUIM, CATARINA RIVERO, &
HELENA Á. MARUJO ......................................................................................................... 40
Validade preditiva dos testes psicológicos na capacidade de condução em pessoas
idosas
INÊS FERREIRA, & MÁRIO R. SIMÕES ................................................................................ 76
(…)
REVISTA E-PSI
REVISTA ELETRÓNICA DE PSICOLOGIA, EDUCAÇÃO E SAÚDE
https://www.revistaepsi.com
(…)
Intervenções psicoeducativas e distress psicológico em cuidadores informais:
Análise comparativa de dois projetos comunitários
SARA ALVES, DANIELA BRANDÃO, LAETITIA TEIXEIRA, MARIA JOÃO AZEVEDO,
MAFALDA DUARTE, ÓSCAR RIBEIRO, & CONSTANÇA PAÚL ............................................ 94
Reserva cognitiva, envelhecimento e demências
MARGARIDA SOBRAL, & CONSTANÇA PAÚL .................................................................. 113
1
Editorial
Desafios atuais na psicologia do envelhecimento
Ao longo das últimas décadas, tem-se assistido a um aumento significativo da
esperança média de vida. Este prolongamento da existência convoca as sociedades dos
diferentes países industrializados para um maior enfoque no envelhecimento no que diz
respeito, designadamente, às suas políticas sociais, de saúde, de justiça, de educação, de
transportes, de turismo.
Neste contexto, tem-se igualmente assistido a um interesse crescente da investigação
científica em torno desta problemática, nas áreas das ciências da saúde e das ciências sociais
e humanas (Psicologia, Neurociências, Medicina, Ciências Farmacêuticas, entre outras),
tendo surgido inúmeras pesquisas orientadas tanto para a prevenção como para o
tratamento de problemas de saúde e doenças associados ao envelhecimento.
É do conhecimento comum que envelhecer faz parte do processo natural e evolutivo
do ser humano. Mas, apesar disso, a perceção do envelhecimento não é igual em todas as
culturas. Por exemplo, em África e na Ásia, as pessoas idosas são consideradas autênticas
bibliotecas vivas, isto devido ao conhecimento que adquiriram ao longo da sua experiência
de vida. Em contraste, na maioria dos países ocidentais industrializados, o ser idoso não é
visto desta forma positiva, sendo enfatizado o declínio das suas funções físicas e mentais.
Envelhecer com qualidade de vida permanece um dos maiores desafios do ser
humano. Com efeito, os fatores internos, biológicos, genéticos e psicológicos influenciam o
modo como se envelhece e determinam a propensão para o aparecimento de problemas de
saúde e doenças ao longo da vida. Mas, em muitas situações, o declínio inerente ao
envelhecimento está relacionado com fatores de ordem externa (ambientais e sociais),
sendo estes que desencadeiam o seu surgimento e progressão. A ciência tem contribuído
ativamente para o conhecimento destes fatores, para o seu controlo e para uma intervenção
precoce, procurando soluções que promovam a adaptação do sujeito ao decurso do seu
envelhecimento e ao seu meio.
No que concerne à psicologia do envelhecimento, esta procura identificar padrões de
mudança nos indivíduos à medida que envelhecem, tentando definir quais os que são típicos
ou atípicos, normais ou patológicos (Birren & Schroots, 1996)1. Em meados do século XX,
alguns investigadores na área da gerontologia dedicaram-se ao seu estudo, propondo
diversos conceitos e teorias de relevo. Atualmente (cerca de meio século depois), ainda
1 Birren, J. E., & Schroots, J. F. (1996). History, concepts, and theory in the psychology of aging. In J. E. Birren & K. W. Schaie (Eds.),
Handbook of the psychology of aging (4th ed., pp. 3-23). San Diego, CA: Academic Press.
2
existem trilhos reflexivos a percorrer, investigações a realizar, teorias por construir e validar
e, provavelmente, novos paradigmas a desenvolver.
É com base nestas considerações que surge este segundo Volume dedicado à
Psicologia do Envelhecimento, com o qual se pretende pensar esta etapa da vida sob
diferentes prismas, sem descurar a heterogeneidade que esta faixa etária comporta. Este
novo volume “Psicologia do Envelhecimento II” nasce, assim, da necessidade de uma
reflexão alargada sobre os novos desafios do século XXI quanto a esta temática.
Neste âmbito, no primeiro artigo, MARTIAL VAN DER LINDEN e ANNE-CLAUDE VAN DER LINDEN
convidam os leitores a pensar os processos demenciais, não num sentido médico (que é o
dominante), mas sob uma outra perspetiva menos frequente, todavia não menos
importante, considerando os resultados de investigações das últimas décadas que revelam
que as demências correspondem a uma heterogeneidade de estados e decorrem de uma
grande multiplicidade de fatores.
No segundo artigo, MARGARIDA LIMA e ALBERTINA OLIVEIRA debruçam-se sobre a
importância da relação nas terapias de grupo com pessoas idosas, em Portugal. Chamam a
atenção para a demora na implementação destas terapias no nosso país, devido a fatores
como o idadismo ou a aceitação exclusiva de modelos biológicos do desenvolvimento.
No terceiro artigo, MARIA ALEXANDRA D’ARAÚJO, MARGARIDA ALPUIM, CATARINA RIVERO
E
HELENA ÁGUEDA MARUJO exploram o “florescimento humano” no âmbito da psicologia positiva.
Trata-se de um estudo de caso realizado em Portugal (Alentejo), que foi desenvolvido ao
longo de três anos e que procurou analisar os benefícios do programa social denominado
“Chá das Quartas” na comunidade. Neste programa procura-se desenvolver as
potencialidades das pessoas idosas tendo como orientação o significado subjectivo de
felicidade.
No quarto artigo, considerando o aumento do número médio de anos em que as
pessoas idosas se mantêm ativas, INÊS FERREIRA e MÁRIO R. SIMÕES incidem sobre o tema dos
condutores idosos, apresentando uma recensão crítica sobre os principais métodos de
avaliação que podem ser utilizados neste contexto. Na medida em que a identificação de
pessoas idosas com uma capacidade de condução deficitária pode, de facto, contribuir para
prevenir o risco da ocorrência de acidentes de viação, a avaliação neuropsicológica
adequada destes condutores afigura-se crucial.
No quinto artigo, SARA ALVES, DANIELA BRANDÃO, LAETITIA TEIXEIRA, MARIA JOÃO AZEVEDO,
MAFALDA DUARTE, ÓSCAR RIBEIRO e CONSTANÇA PAÚL abordam a problemática do cuidador
informal da pessoa idosa dependente, que muitas vezes se encontra desgastado, tanto física
como emocionalmente. Neste artigo empírico comparam-se os resultados de dois
programas de intervenção psicoeducativa aplicados a cuidadores informais, com os quais se
visa promover o bem-estar destes.
No sexto artigo, MARGARIDA SOBRAL e CONSTANÇA PAÚL procedem a uma análise sobre o
conceito de “reserva cognitiva” nas pessoas idosas considerando quais os fatores mais
Como citar/How to cite this paper: Marques-Costa, C., & Pinho, M.S. (2015). Editorial: Desafios atuais na
psicologia do envelhecimento. [Temas em Psicologia do Envelhecimento (vol.II)], Revista E-Psi, 5(1), 1-3
3
importantes. Esta capacidade de “reserva cognitiva” reveste-se de enorme relevância na
modulação do impacto de processos de natureza neurodegenerativa.
Em suma, os artigos que integram este segundo Volume Temático da Revista E-Psi,
dedicado à psicologia do envelhecimento, procuraram ir ao encontro da necessidade
crescente de reflexão sobre a pessoa idosa, o seu meio e a sociedade em geral.
Catarina Marques-Costa
Revista E-Psi (Co-fundadora)
Maria Salomé Pinho
FPCE - Universidade de Coimbra
Revista E-Psi, 2015, 5 (1) Published Online http://www.revistaepsi.com Revista E-Psi
Como citar/How to cite this paper: Van der Linden, M., & Van der Linden, A.J. (2015). Penser autrementle vieillissement et la maladie d’Alzheimer. Revista E-Psi, 5(1), 4-22.
Penser autrement le vieillissement et la maladie d’Alzheimer
Martial Van der Linden1, & Anne-Claude Juillerat Van der Linden2
Copyright © 2015. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License 3.0 (CC BY-NC-ND). http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
1Faculté de Psychologie et des Science de l’Education, Université de Genève, Suisse.
E-mail: [email protected] 2
Faculté de Psychologie et des Science de l’Education, Université de Genève, Suisse.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 4-22 Van der Linden & Van der Linden
5
Résumé
Selon la conception médicale dominante, la maladie d’Alzheimer est décrite comme une maladie ayant des
symptômes spécifiques et une cause précise, qui la distinguent d’autres maladies neurodégénératives ainsi que
du vieillissement normal. Elle est présentée comme un état épidémique qu’il faut vaincre à tout prix : il faut ainsi
placer tous les efforts afin d’en trouver la cause neurobiologique, d’élaborer des procédures permettant de la
diagnostiquer le plus tôt possible et d’identifier des traitements pharmacologiques à appliquer précocement
pour en différer la survenue et, finalement, la guérir. Nous présenterons les nombreuses et importantes limites
de cette conception, laquelle conduit à une médicalisation croissante du vieillissement. Nous montrerons
également en quoi l’évolution plus ou moins problématique du vieillissement cérébral et cognitif paraît
dépendre de très nombreux facteurs (environnementaux, psychologiques, biologiques, médicaux, sociaux et
culturels) qui interviennent tout au long de la vie. Ce changement de conception nous amènera à considérer que
nous partageons tous les vulnérabilités liées au vieillissement cérébral et cognitif et que des modifications
importantes s’imposent dans la manière d’envisager les « défis liées à l’âge », que ce soit dans l’évaluation,
l’intervention psychologique et sociale, la prévention ou les structures d’hébergement à long terme.
Mots-clés Démence, maladie d’Alzheimer, mise en question du modèle biomédical, pratiques d’évaluation et
d’intervention, prévention, structures d’hébergement.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 4-22 Van der Linden & Van der Linden
6
Introduction
De fréquentes annonces alarmistes prévoient, pour les prochaines décennies, une
augmentation considérable du nombre de personnes âgées vivant avec des troubles
cognitifs associés à une perte d’autonomie (une « démence »). Face à ces prévisions, la
position biomédicale dominante, qui s’est mise en place dès les années 1970 et qui est
constamment relayée par les médias, considère qu’il faut mettre davantage de moyens dans
la recherche en neurosciences afin de trouver la cause neurobiologique de la démence,
d’élaborer des procédures neurobiologiques permettant de la diagnostiquer le plus tôt
possible et d’identifier des traitements pharmacologiques —à appliquer précocement—,
pour en différer la survenue et, finalement, la guérir. Cette conception décrit le
vieillissement cérébral et cognitif problématique à partir de catégories de maladies
différentes (comme la maladie d’Alzheimer). Ainsi, la maladie d’Alzheimer est présentée
comme une « épidémie », contre laquelle il faut se battre et qu’il convient de vaincre (guérir)
à tout prix. Cette maladie est associée à un état catastrophique, et évoque pour le
caractériser les termes de « perte d’identité », de « mort mentale », de « soi pétrifié », ou
encore de « mort vivant ».
Dans ce contexte, des catégories diagnostiques correspondant à des états
intermédiaires entre le vieillissement normal et la démence ont été élaborées.
Historiquement, les personnes âgées manifestant des difficultés cognitives légères étaient
considérées comme ayant des problèmes bénins, liés à l’âge. Cependant, l’approche
biomédicale a conduit à considérer que ces personnes avaient une maladie, ou à tout le
moins un état susceptible de progresser vers une maladie démentielle (p. ex., une maladie
d’Alzheimer). C’est ainsi que les concepts de trouble cognitif léger (Mild Cognitive
Impairment ou MCI) et de maladie d’Alzheimer préclinique (asymptomatique) ont été créés.
En parallèle, on a vu naître de nombreuses consultations mémoire, lesquelles ont
constitué une structure pivot de l’approche biomédicale de la démence. Quand elles ont été
ouvertes dès les années 1980, leur but principal était de recruter des patients pour entrer
dans des essais cliniques sur des médicaments « anti-Alzheimer ». Elles ont permis
d’accroître la consommation de ces derniers, qui ont fait l’objet d’une intense promotion
indiquant qu’ils constituaient un traitement efficace malgré l’absence de données
convaincantes appuyant leur utilisation. Plus récemment, les consultations mémoire ont de
plus en plus eu pour objectif de diagnostiquer les personnes présentant un MCI et de leur
prescrire des médicaments « anti-Alzheimer », en dépit de l’absence de données attestant
de l’efficacité de ces substances chez ce type de personnes. Enfin, on voit maintenant
apparaître, dans certaines consultations, une activité de diagnostic encore plus précoce,
visant à repérer, au moyen de biomarqueurs, des personnes présentant une maladie
d’Alzheimer préclinique (sans symptômes). Ces biomarqueurs, obtenus par l’analyse du
Revista E-Psi (2015), 5(1), 4-22 Van der Linden & Van der Linden
7
liquide céphalo-rachidien ou des techniques de neuroimagerie, visent à détecter des
caractéristiques neuropathologiques et des atteintes cérébrales considérées comme
« typiques » de la maladie d’Alzheimer.
On a donc assisté à un renforcement de l’approche biomédicale réductionniste de la
démence (et de la maladie d’Alzheimer). C’est cette conception que Whitehouse et Georges
(2009) ont assimilée à un mythe, à savoir une construction sociale à laquelle les personnes
adaptent leur manière de penser et leur comportement, qui donne confiance et qui incite à
l'action, mais qui peut être fausse ou ne pas correspondre à la réalité. Cette façon de
présenter les aspects problématiques du vieillissement cérébral a été guidée par deux
motivations principales. Tout d’abord, face à l’important accroissement de l’espérance de
vie observé dans les pays occidentaux et des problèmes qui y étaient associés, il fallait
financer la recherche et il était plus facile d’obtenir des crédits pour une « abominable
maladie contre laquelle il fallait se battre », que pour des difficultés —plus ou moins
importantes— liées au vieillissement. De plus, décrire le vieillissement du cerveau en
identifiant diverses maladies (dont la maladie d’Alzheimer) que l’on arrivera à guérir, c’est
aussi entretenir le mythe de l’immortalité, l’illusion que l’on pourra vaincre le vieillissement
et, en particulier celui du cerveau. Cela s’inscrit parfaitement dans le contexte de la
neuroculture qui gouverne ce début de 21e siècle (voir Williams, Higgs, & Katz, 2012) et dans
une vision du monde focalisée sur l’efficacité, le rendement, la compétition et
l’individualisme, un monde où la fragilité et la finitude n’ont pas leur place. Relevons
également que le maintien et l’amplification de cette conception biomédicale ont eu pour
effets de préserver des positions de pouvoir et d’influence et de garantir les intérêts des
entreprises pharmaceutiques.
Cette conception a eu de nombreuses conséquences néfastes. D’abord, elle a extrait
les manifestations de la démence du cadre général du vieillissement cérébral et cognitif. Ce
faisant, elle a contribué à la médicalisation et à la pathologisation du vieillissement et en a
propagé une vision réductrice. Elle a également suscité l’attente désespérée d’un traitement
médicamenteux ou biologique miracle, mettant ainsi à l’arrière-plan l’ensemble des
démarches susceptibles d’optimiser le bien-être, la qualité de vie, le sentiment d’identité, et
ce tant chez la personne démente que chez les proches aidants. Elle a favorisé une vision du
vieillissement en termes de fardeau et de crise (aux plans social et économique), plutôt que
de considérer que celui-ci offre l’opportunité d’élaborer un autre type de société, une
société dans laquelle les personnes âgées ont toute leur place, avec leurs forces, leurs
talents, leurs compétences, et aussi leur vulnérabilité. Enfin, elle a enfermé les personnes
âgées présentant des troubles cognitifs dans des étiquettes stigmatisantes.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 4-22 Van der Linden & Van der Linden
8
Les limites de l’approche biomédicale dominante
Différents constats empiriques ont conduit à mettre en question les fondements de
l’approche biomédicale du vieillissement cérébral et cognitif (une description détaillée de
ces constats et des études sur lesquelles ils se fondent peut être trouvée dans M. Van der
Linden & A. Van der Linden, 2014a, 2014b).
Tout d’abord, il existe de très grandes différences dans la nature des difficultés
cognitives présentées par les personnes ayant reçu le diagnostic de maladie d’Alzheimer
(McKhann et al., 2011). Ainsi, outre des déficits de mémoire —et parfois sans troubles
importants de ce type—, les personnes peuvent montrer une grande variété de difficultés
cognitives (de perception du monde, de réalisation de gestes, d’organisation des actions, de
langage, d’attention, etc.). De plus, l’évolution des difficultés cognitives varie très fortement
d’une personne à l’autre et, chez bon nombre d’entre elles, la situation peut rester stable et
évoluer très lentement pendant plusieurs années, voire s’améliorer, indépendamment de la
prise de médicaments « anti-Alzheimer » (Bozoki, An, Bozoki, & Little, 2009 ; Tschanz et al.,
2011). Il a également été montré, sur un suivi de 2 ans, que certaines personnes ayant reçu
un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou de MCI pouvaient présenter une amélioration du
fonctionnement cognitif avec, en parallèle, une amélioration au niveau des atteintes
cérébrales, ce qui suggère le caractère dynamique du vieillissement cérébral et cognitif
(Song et al., 2013).
La maladie d’Alzheimer n’est pas non plus strictement associée à des changements
spécifiques dans le cerveau. D’une part, on constate des modifications dans des régions du
cerveau très variables selon les personnes – et pas nécessairement dans les régions
temporales médianes (incluant l’hippocampe) comme l’indiquaient les critères diagnostiques
traditionnels (voir, p. ex., Wolk, Dickerson, & The Alzheimer’s Disease Neuroimaging
Initiative, 2010). D’autre part, quand on examine le cerveau de personnes décédées ayant
reçu de leur vivant un diagnostic de maladie d’Alzheimer, on constate, chez bon nombre
d’entre elles, divers types d’anomalies : pas uniquement celles considérées comme typiques
de la maladie d’Alzheimer (les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires), mais
aussi de nombreuses autres anomalies, comme des lésions vasculaires variées, des corps de
Lewy, etc. (Wharton et al., 2011). De plus, la frontière entre le vieillissement dit normal et la
maladie d’Alzheimer n’est pas claire. Par exemple, on observe dans le cerveau de certaines
personnes âgées qui n’ont pourtant pas présenté de difficultés cognitives importantes (pas
de démence) de leur vivant un taux important des signes neuropathologiques considérés
comme caractéristiques de la maladie d’Alzheimer (voir Dugger et al., 2014). Il faut aussi
relever qu’un grand nombre de difficultés cognitives observées chez les personnes ayant
reçu le diagnostic de maladie d’Alzheimer sont de même nature que les difficultés cognitives
rencontrées dans le vieillissement dit normal, mais plus importantes (Walters, 2010). Le
vieillissement normal s’accompagne de modifications cérébrales dans les mêmes régions
Revista E-Psi (2015), 5(1), 4-22 Van der Linden & Van der Linden
9
que celles où l’on observe des changements — quoique plus marqués — chez les personnes
ayant reçu le diagnostic de maladie d’Alzheimer (Fjell, McEvoy, Holland, Dale, & Walhovd,
2014). Plus généralement, comme l’ampleur des difficultés cognitives et des modifications
cérébrales varie considérablement, tant chez les personnes âgées considérées comme
normales que chez celles ayant reçu un diagnostic de MCI ou de maladie d’Alzheimer
(Mungas et al., 2010), il n’est pas possible de définir de façon précise la limite entre le
normal et l’anormal.
Par ailleurs, de nombreuses études ont relevé la faible validité prédictive du diagnostic
de MCI pour la maladie d’Alzheimer ou d’autres types de démence (Stephan et al., 2010). En
fait, le devenir dominant des personnes ayant reçu ce diagnostic n’est pas la démence, mais
plutôt la stabilité, le retour à la normale, voire une amélioration (Matthews et al., 2008). De
nombreuses données ont également mis en question la validité diagnostique des
biomarqueurs (voir, p. ex., Knopman et al., 2013). Il faut d’ailleurs relever qu’environ 65%
des personnes âgées de plus de 80 ans ont une positivité amyloïde (révélée par l’imagerie) et
pourraient donc être diagnostiquées comme ayant une maladie d’Alzheimer ou une
pré-maladie d’Alzheimer (Rowe et al., 2010). De plus, chez les personnes au-delà de 85 ans,
la prévalence de la pathologie de type Alzheimer (plaques amyloïdes et dégénérescences
neurofibrillaires) devient similaire, que les personnes aient ou non une démence (Mattsson
et al., 2012). Rappelons également que, au plan neuropathologique, la plupart des
personnes âgées ayant reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer présentent, outre des
plaques séniles (plaques amyloïdes) et des dégénérescences neurofibrillaires, d’autres types
de changements neuropathologiques, notamment des atteintes vasculaires de différents
types (Wharton et al., 2011). Il apparaît dès lors très vraisemblable que divers mécanismes
soient impliqués dans cet état étiqueté de maladie d’Alzheimer. De façon plus directe,
Castellani et Perry (2012 ; voir également Drachman, 2014) contestent l’approche
dominante de la maladie d’Alzheimer, selon laquelle la cascade amyloïde ou la
phosphorylation de la protéine tau constitueraient les facteurs causaux de la maladie
d’Alzheimer – les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires qui en découlent
étant ainsi considérées comme des éléments toxiques pour le cerveau. Castellani et Perry
indiquent combien la communauté scientifique s’est laissée séduire par ces modifications
neuropathologiques et n’a pas pu résister à la tentation de croire que ces modifications
représentaient la cause de la maladie d’Alzheimer. Ce faisant, les chercheurs auraient
confondu cause et effet. Considérant l’absence totale de progrès dans la mise en place de
traitements curatifs de cette maladie, ainsi que l’absence de données convaincantes
concernant le caractère causal et la spécificité de ces modifications neuropathologiques,
Castellani et Perry suggèrent aux chercheurs et cliniciens de prendre davantage au sérieux
l’hypothèse selon laquelle ces modifications constitueraient plutôt un mécanisme adaptatif
ou une réponse protectrice du cerveau face à certaines atteintes dont il fait l’objet. Ainsi,
Revista E-Psi (2015), 5(1), 4-22 Van der Linden & Van der Linden
10
tenter d’intervenir sur ces modifications neuropathologiques (p. ex., en tentant de les faire
disparaître) ferait courir le risque d’accélérer le processus neurodégénératif. Dans cette
perspective, Le Couteur, Doust, Creasey et Brayne (2013), quatre spécialistes des domaines
de la gériatrie, de l’épidémiologie et de la santé publique, ont clairement mis en question les
politiques publiques incitant à dépister les états de « pré-démence », en indiquant en quoi
ces incitations ne reposaient pas sur des données empiriques probantes et ignoraient les
méfaits pouvant y être associés.
Il faut aussi mentionner que l’on ne dispose aujourd’hui d’aucun médicament ayant
une réelle efficacité sur l’autonomie et la qualité de vie des personnes ayant reçu un
diagnostic de maladie d’Alzheimer ou qui puisse entraver le développement de cet état
(Cooper et al., 2013). Par ailleurs, les médicaments « anti-Alzheimer » ont été associés à
divers effets indésirables, parfois graves (Schneider, 2013 ; Sona et al., 2012). Dans la même
perspective, une méta-analyse et revue systématique de Tricco et al. (2013) a montré que
les inhibiteurs de la cholinestérase, ainsi que la mémantine, n’améliorent pas les capacités
cognitives et l’état fonctionnel des personnes ayant reçu un diagnostic de MCI.
Enfin, des données en nombre croissant montrent que la présence, plus ou moins
importante, de difficultés cognitives chez les personnes âgées, résulte de facteurs très
divers, dont l’influence peut se manifester aux différents âges de la vie. Ces facteurs incluent
l’activité physique, le niveau scolaire et socio-économique, les activités cognitivement
stimulantes, le stress, le fait d’avoir des buts dans la vie, le sentiment de solitude, les
stéréotypes négatifs sur le vieillissement, les toxines environnementales, les facteurs de
risque et troubles vasculaires, le diabète de type 2, le fait d’avoir subi un traumatisme
crânien, le tabagisme, la prise de benzodiazépines, les problèmes de sommeil, etc. (pour
une description des études ayant mis en évidence ces facteurs de risque, voir M. Van der
Linden & A. Van der Linden, 2014b).
Une autre approche du vieillissement cérébral et cognitif
L’ensemble de ces constats a conduit plusieurs auteurs à défendre une autre approche
du vieillissement cérébral et cognitif, qui réintègre ses manifestations plus ou moins
problématiques dans le contexte plus général du vieillissement, sous l’influence de
nombreux facteurs et mécanismes intervenant tout au long de la vie (voir, p. ex., Chen et
al.,2011 ; Herrup, 2010 ; de la Torre, 2012; Brayne & Davis, 2012).
Ainsi, Chen, Maleski et Sawmiller (2011), dans un article intitulé Vérité scientifique ou
faux espoir ? Comprendre la maladie d’Alzheimer du point de vue du vieillissement, ont
proposé un modèle selon lequel la racine de la démence se trouverait dans l’accroissement
de l’espérance de vie. En d’autres termes, le vieillissement naturel jouerait un rôle important
dans les phénomènes neurodégénératifs, lesquels feraient ainsi partie intégrante des
modifications du corps qui se produisent dans la dernière étape de la vie. Par ailleurs, le fait
Revista E-Psi (2015), 5(1), 4-22 Van der Linden & Van der Linden
11
que toutes les personnes âgées ne présentent pas de démence conduit à faire appel, non
pas à un facteur pathogène, mais à différents facteurs de risque : à l’âge avancé, la fragilité
des cellules cérébrales font qu’elles sont vulnérables à toutes sortes d’influences négatives,
telles qu’une absence d’activité physique et cognitive, une nutrition inadéquate, un
isolement social, etc. En agissant de manière additive et durant les dernières étapes d’une
longévité étendue, les facteurs de risque déclencheraient la mort cellulaire ou amplifieraient
les effets négatifs des phénomènes neurodégénératifs naturels. Du fait de la variabilité des
contextes de vie, l’action de ces facteurs de risque aurait un caractère essentiellement
probabiliste. Les auteurs ajoutent que d’autres problèmes peuvent affecter le cerveau
vieillissant et contribuer à son évolution problématique, en particulier les problèmes
vasculaires et infectieux, les effets d’un traumatisme crânien ou des mutations génétiques.
Ainsi, les auteurs envisagent la maladie d’Alzheimer comme une condition hétérogène, liée à
l’âge avancé, sous l’influence de différents facteurs de risque. Dans ce contexte, les
interventions ne devraient pas viser à inhiber des processus pathogènes (comme c’est le cas
dans les maladies singulières), mais plutôt cibler les facteurs de risque (la prévention) et la
protection des neurones âgés. Selon Chen et al., une telle approche ne conduira cependant à
des progrès substantiels que si une prise de conscience générale se développe, amenant
notamment à des priorités de financement. A ce propos, ils montrent en quoi la recherche
scientifique dans le domaine du vieillissement est soumise à une importante pression
sociale : la peur aurait infiltré la recherche scientifique, en poussant les chercheurs à trouver
un traitement curatif au détriment de la vérité scientifique.
De même, Brayne et Davis (2012) considèrent que la conception selon laquelle les
processus physiopathologiques de la maladie d’Alzheimer seraient clairement distincts de
ceux impliqués dans le vieillissement semble de plus en plus contestable. Cette conception
découlerait de la tendance à réifier les entités diagnostiques (c.-à-d. à les considérer comme
des entités concrètes, stables), de postulats réducteurs concernant les facteurs étiologiques
et du fait que peu d’études longitudinales ont été menées sur des échantillons représentatifs
de la population réelle (la plupart des études ayant été menées sur des volontaires, sur des
personnes recrutées dans des cliniques de mémoire et sur des personnes âgées de moins de
85 ans, ce qui limite considérablement la généralisation des résultats obtenus). Ainsi, Brayne
et Davis plaident pour la mise en place de recherches sur la démence davantage ancrées
dans la population réelle.
Ces conceptions conduisent donc à sortir d’une approche d’intervention focalisée sur
un processus pathogène qui serait spécifique à chaque « maladie » singulière. L’objectif doit
être au contraire de diversifier les interventions, en prenant en compte la pluralité des
facteurs biologiques impliqués, mais aussi et surtout en visant tout particulièrement à
protéger les neurones âgés et à cibler les facteurs de risque (et les événements initiateurs)
environnementaux et de style de vie (c’est-à-dire intervenir au plan de la prévention). Il
Revista E-Psi (2015), 5(1), 4-22 Van der Linden & Van der Linden
12
s’agira également d’élaborer des interventions taillées sur mesure en fonction des
perturbations spécifiques de chaque personne.
Les recherches s’inscrivant dans une telle approche devraient considérer le
vieillissement cérébral/cognitif en termes de continuum et non plus sur base de catégories
de maladies (Walhovd, Fjell, & Epseseth, 2014). Elles devraient en outre tenter d’identifier,
de façon plus précise, les différents facteurs (biologiques, médicaux. psychologiques,
sociaux, environnementaux), ainsi que leurs relations, impliqués dans la survenue, plus ou
moins progressive et rapide, de déficits affectant certains domaines cognitifs, variables selon
les personnes. Au plan plus strictement neurobiologique, il s’agirait de s’affranchir de
l’approche réductionniste basée sur l’exploration de cascades de petites molécules pour
explorer d’autres hypothèses, impliquant en particulier des interactions entre diverses
combinaisons de mécanismes neurobiologiques. Il n’est nullement question de contester
l’intérêt qu’il y a à étudier la validité prédictive de certains marqueurs biologiques
concernant le vieillissement cérébral/cognitif problématique. Par contre, ces biomarqueurs
devraient être envisagés comme étant le reflet de certains mécanismes généraux, au sein
d’un ensemble complexe de mécanismes en interaction pouvant se présenter de façon
variable et dans des combinaisons également variables chez des personnes âgées présentant
des difficultés cognitives plus ou moins importantes. Par ailleurs, plutôt que de suivre une
approche cérébrale localisatrice, il semblerait plus pertinent d’explorer les facteurs pouvant
contribuer, avec l’avancement en âge, à une réduction, plus ou moins progressive et rapide,
de la coordination (de l’intégration) de l’activité cérébrale entre différents réseaux cérébraux
à grande échelle, laquelle peut s’accompagner de difficultés cognitives dans plusieurs
domaines (Andrews-Hanna et al., 2007 ; Neill, 2012).
Il faut enfin rappeler que les troubles cognitifs font partie intrinsèque du vieillissement.
Ainsi, Brayne et al. (2006) ont montré que, même si des mesures de prévention sont à même
de réduire le risque de démence à un âge donné (soit d’allonger l’espérance de vie en bonne
santé cognitive), cette réduction conduira à une extension ultérieure de la vie, et donc le
risque cumulatif de développer des difficultés cognitives importantes restera élevé (avec 30
à 40 % de démence à 90 ans), même pour les populations à risque plus faible de démence à
certains âges. En d’autres termes, le vieillissement de la population amènera à un
accroissement du nombre de personnes qui mourront avec des troubles cognitifs
importants, même en présence de programmes préventifs.
Des changements dans les pratiques cliniques et les mesures d’insertion sociale
Une conception du vieillissement cérébral et cognitif qui assume la complexité et la
diversité des facteurs en jeu et qui réintègre les manifestations problématiques dans le
contexte plus large du vieillissement doit aussi nous inviter à une réflexion sur nous-mêmes
et à plus d’humilité concernant les défis liés à l’âge auxquels nous devons ou devrons faire
Revista E-Psi (2015), 5(1), 4-22 Van der Linden & Van der Linden
13
face. Elle devrait nous amener à ne pas considérer le monde comme étant divisé entre ceux
qui ont la maladie d’Alzheimer et ceux qui ne l’ont pas, mais plutôt à penser que nous
partageons tous les vulnérabilités liées au vieillissement cérébral et cognitif. Cela devrait
contribuer à créer davantage d’unité entre les générations et à mettre en place des
structures sociales dans lesquelles les personnes âgées, quels que soient leurs problèmes,
peuvent trouver des buts, avoir un rôle social valorisant, maintenir des relations
intergénérationnelles, etc. En ce sens, la démence devrait être considérée comme une
expérience de vie, qui peut amener des changements dans la perception que la personne a
du monde, mais durant laquelle des apprentissages sont possibles, un potentiel de
développement personnel existe et où il s’agit de maintenir le bien-être et l’autonomie par
des aides et un environnement individualisés, ainsi que des partenaires de soin, plutôt que
des soignants (Power, 2014). En d’autres termes, il s’agirait de concevoir une société
personnes âgées admises, y compris quand elles ont des troubles cognitifs importants, et
d’amener les membres de cette société à considérer que, même en présence de difficultés
cognitives, la personne âgée conserve un potentiel de vitalité, une identité et une place dans
la communauté : une société qui serait d’ailleurs bénéfique à chacun d’entre nous, quel que
soit notre âge ! Whitehouse (2013a et b) a adopté la formulation de « défis cognitifs liés à
l’âge » pour dénommer les aspects problématiques du vieillissement cérébral et cognitif : ce
faisant, il souhaitait indiquer qu’un défi, ça se relève et peut même, parfois, constituer une
source de développement.
De façon plus spécifique, cette approche différente du vieillissement cérébral et
cognitif devrait amener à des changements importants dans les évaluations
neuropsychologiques (voir Van der Linden & Juillerat Van der Linden, 2014a). En effet,
l’hétérogénéité des manifestations cognitives et socio-émotionnelles de la démence (des
maladies neurodégénératives) et les recouvrements observés entre les différents types de
maladies rendent globalement peu pertinente l’utilisation de l’examen neuropsychologique
à des fins de diagnostic différentiel (à savoir repérer les signes cognitifs distinctifs de ces
maladies) ou dans une fonction prédictive (c.-à-d. prédire l’évolution des difficultés
cognitives). Cependant, l’évaluation neuropsychologique aura toujours pour objectif
d’identifier l’apparition de difficultés cognitives, socio-émotionnelles et fonctionnelles chez
la personne âgée, d’en comprendre la nature et d’en suivre l’évolution. Au vu des enjeux
majeurs, aux plans personnel, familial et social, associés à la mise en évidence d’un
vieillissement cérébral/cognitif problématique (d’une démence), cette évaluation devrait
pouvoir disposer d’un temps suffisant pour aborder, avec la personne âgée et une personne
proche, l’ensemble des facteurs pouvant être impliqués dans les changements observés.
Par ailleurs, cela devrait aussi conduire à donner davantage d’importance aux
interventions psychologiques et sociales individualisées visant à optimiser la qualité de vie et
le bien-être des personnes âgées. Dans ce contexte, d’autres dimensions de l’évaluation
Revista E-Psi (2015), 5(1), 4-22 Van der Linden & Van der Linden
14
neuropsychologique s’avéreront essentielles : explorer le vécu des personnes âgées (et de
leurs proches) présentant des difficultés, identifier des facteurs de risque qui pourraient
faire l’objet de mesures de prévention, comprendre la nature des problèmes dans la vie
quotidienne afin de proposer une intervention psychosociale et déterminer les objectifs
spécifiques de cette intervention. Il est essentiel que cette évaluation se fonde sur le point
de vue de la personne elle-même et pas uniquement sur celui de ses proches. En effet, il a
été constaté que les personnes ayant reçu un diagnostic de démence, à un stade léger à
modéré, étaient capables de fournir un compte-rendu valide de leur bien-être, de leur
qualité de vie et de la qualité des soins qui leur sont prodigués (voir, p. ex., Mak, 2010). Il
importe dès lors que les méthodes permettant aux personnes âgées de s’autoévaluer soient
adaptées à leurs difficultés cognitives spécifiques.
Plus généralement, il s’agira d’adopter une démarche d’évaluation qui favorise la
formulation d’une interprétation psychologique individuelle et intégrée (une formulation de
cas), prenant en compte différents types de processus psychologiques (cognitifs, affectifs,
motivationnels, relationnels) et conduisant aussi à l’identification du rôle possible des
facteurs sociaux, des événements de vie et des facteurs biologiques. Cette démarche
d’évaluation s’inscrit bien dans le contexte d’un modèle qui considère que les facteurs
biologiques, les facteurs sociaux et les événements de vie peuvent conduire à des difficultés
psychologiques via leurs effets conjoints sur différents processus psychologiques. En d’autres
termes, selon ce modèle, les processus psychologiques sont conçus comme des médiateurs
de la relation entre, d’une part, les facteurs biologiques, les facteurs sociaux et les
événements de vie et, d’autre part, les troubles psychologiques (Kinderman, 2005 ; Van der
Linden & Billieux, 2011).
Il importe également de prendre clairement le tournant de la prévention, en visant à
différer ou réduire les expressions problématiques du vieillissement cérébral et cognitif et
ce, par des interventions préventives multiples durant la vie entière (p. ex., accroissement
du niveau scolaire chez l’enfant et le jeune adulte, contrôle actif des facteurs de risque
vasculaires durant l’âge adulte, maintien d’une vie socialement, physiquement et
mentalement active durant le milieu de la vie adulte et la vieillesse ; Barnett, Hachinski, &
Blackwell, 2013).
La mise en place de mesures ayant pour but de valoriser et renforcer le potentiel des
aînés, de prendre en compte leur point de vue et leurs souhaits, de faciliter leur
participation citoyenne, de briser leur isolement et de maintenir le plus longtemps possible
leur santé, leur autonomie et leur bien-être, passe par le développement d’interventions et
de structures insérées dans les collectivités locales, en lien direct avec les services
communaux, les associations, les structures d’hébergement à long terme, les médecins de
famille, etc. Il s’agit donc d’envisager la personne dans son cadre de vie élargi, et non plus de
la laisser faire face, seule ou presque et sans guère d’horizon, à l’annonce d’un diagnostic
Revista E-Psi (2015), 5(1), 4-22 Van der Linden & Van der Linden
15
associé à de terribles perspectives. Dans ce contexte, on peut légitimement se demander si
la mise en place d’un réseau de consultations mémoire, établies dans un contexte
hospitalier, constitue une stratégie pertinente, ou s’il ne faudrait pas plutôt pas changer de
politique afin d’offrir aux personnes âgées présentant un vieillissement cérébral
problématique, ainsi qu’à leurs proches, des possibilités d’évaluation, de conseils,
d’interventions et de suivi au sein même de leur milieu de vie, c’est-à-dire dans des
structures de soins primaires. Un débat sur cette question a vu le jour en Angleterre dans le
cadre du plan stratégique (National Dementia Strategy) publié en février 2009. Plusieurs
personnes ont en effet contesté la nécessité d’adresser automatiquement les personnes
âgées présentant des difficultés cognitives à des structures spécialisées en milieu hospitalier
(soins de santé secondaires) et ont plaidé pour la mise en place de structures de soins
primaires, insérées dans les communautés locales et accordant un rôle essentiel aux
médecins généralistes (Greaves & Jolley, 2010). Commentant les propositions d’accroître le
rôle des soins de santé primaires dans le domaine de la démence, Iliffe (2010) indique en
quoi le plan stratégique anglais (National Dementia Strategy) a été façonné sous l’influence
de groupes de pression divers (médias, politiciens, médecins spécialistes, firmes
pharmaceutiques, association Alzheimer) ayant chacun un intérêt direct à promouvoir une
approche alarmiste, spécialisée et biomédicale du vieillissement cérébral.
En fait, comme l’indique Woods (2012), l’amélioration du bien-être et de la qualité de
vie des personnes âgées présentant une démence ne se résume pas à l’application
d’interventions thérapeutiques, même si certaines interventions psychosociales et focalisées
sur la vie quotidienne peuvent contribuer à cette amélioration. Le défi le plus important est
de favoriser l’engagement des personnes âgées présentant une démence au sein même de
la société et des structures (sportives, culturelles, associatives) destinées à la population
générale, dans des activités qui leur permettront d’interagir avec d’autres (en particulier,
dans une perspective intergénérationnelle), de prendre du plaisir, de se développer
personnellement et d’avoir un rôle social valorisant. Selon Woods, il s’agit d’entrer dans une
ère nouvelle, dans laquelle, au-delà des préoccupations médicales et de soins, nous
apprendrons à vivre bien avec la démence, pour le bénéfice de tous.
Potts (2013) en appelle lui aussi à sortir des sentiers battus dans la façon d’améliorer la
qualité de vie des personnes ayant reçu un diagnostic de démence. Il s’agit également, selon
lui, d’essayer de rendre chaque moment de la vie de ces personnes aussi bon que possible,
en facilitant leur créativité, leur expression d’elles-mêmes, leur communication, leur
compréhension et en rétablissant leur dignité. Cette position rejoint celle de Cartwright, cité
par Natalie Rigaux (2009), qui incite, à la manière des alchimistes cherchant à transmuter la
pierre en or, à créer des moments de plaisir et de sens, tant pour la personne aidante que
pour la personne aidée, à partir des « métaux ordinaires » que sont les instants du quotidien.
Potts considère que l’art, sous ses différentes formes, est particulièrement à même de
Revista E-Psi (2015), 5(1), 4-22 Van der Linden & Van der Linden
16
contribuer à cet objectif. Les activités artistiques peuvent aussi contribuer à la transmission
de récits de vie (un facteur important pour le sentiment d’identité et de continuité
personnelle), qui ne pourraient pas être partagés de façon plus conventionnelle. En
reprenant le titre de l’article de Potts, la créativité artistique peut être considérée
comme contribuant à l’art de préserver la qualité d’être humain ou l’identité
personnelle (The art of preserving personhood).
Le développement d’une autre approche du vieillissement cérébral et cognitif, prenant
réellement en compte la personne âgée dans toute sa complexité et son individualité,
nécessitera de contrecarrer des forces multiples, culturelles et idéologiques (avec,
profondément ancré, le rêve de la jeunesse éternelle), mais aussi le pouvoir de ce que
Whitehouse et George appellent l’Empire Alzheimer, dans ses composantes médicales,
scientifiques, politiques, industrielles et associatives. En particulier, il importe de relever
l’inféodation des associations Alzheimer, ou du moins de certaines d’entre elles, au modèle
biomédical dominant. Il s’agit là d’un problème important, car ces associations servent très
souvent de caution à ce modèle biomédical vis-à-vis du grand public et des institutions
politiques et sociales. Il faut enfin mentionner les liens d’intérêt étroits que certains
« spécialistes de la maladie d’Alzheimer» entretiennent avec les laboratoires
pharmaceutiques.
Changer de culture dans les structures d’hébergement à long terme
S’affranchir de la médicalisation du vieillissement cérébral/cognitif, c’est aussi changer
de culture dans les structures d’hébergement à long terme destinées aux personnes âgées,
en passant de pratiques qui se focalisent sur les questions médicales, la sécurité, l’uniformité
et les directives bureaucratiques, à une approche dirigée vers le résident en tant que
personne singulière, vers la promotion de son bien-être et elle de sa qualité de vie.
Il existe un large consensus, au niveau international, sur le fait que l’organisation et le
fonctionnement actuels de la majorité des structures d’hébergement à long terme pour
personnes âgées, en particulier celles qui accueillent des personnes présentant une affection
démentielle, ne favorisent pas prioritairement ces aspects. Les résidents eux-mêmes, quand
ils sont consultés, considèrent que leur existence dans ce type de structure n’est pas
vraiment digne (voir, p. ex., Heggestad & Nortvedt, 2013). Il ne suffit pas de fournir le
meilleur service hôtelier possible, la meilleure « résidence médicalisée » possible (dans
lequel les personnes âgées seront servies, soignées, « animées ») – un marché au demeurant
très lucratif, comme en atteste l’essor considérable des groupes privés qui se sont spécialisés
dans les maisons de retraite. Ce que les personnes âgées appellent de leurs vœux (voir
Cadieux, Garcia, & Patrick, 2013), c’est un lieu de vie dans lequel elles ont le
sentiment d’être reconnues dans toutes leurs dimensions (y compris spirituelle), de pouvoir
exprimer leurs valeurs, intérêts et réalisations, d’avoir une vie privée (englobant l’intégrité
Revista E-Psi (2015), 5(1), 4-22 Van der Linden & Van der Linden
17
physique et morale, le droit à l’autonomie et au développement personnels, le droit d’établir
et d’entretenir des rapports –y compris amoureux et sexuels– avec d’autres personnes, ainsi
que des contacts avec le monde extérieur), d’avoir le contrôle sur leur vie (et donc de
pouvoir prendre leurs propres décisions et d’être directement impliquées dans les décisions
relatives au fonctionnement quotidien), d’appartenir à une communauté et de se sentir chez
elles, d’être pleinement engagées dans la vie et en contact direct avec la société, de pouvoir
vivre et susciter des interactions et des événements inattendus et imprévisibles, d’avoir
accès à des activités qui ont un sens et d’avoir des buts, d’avoir un rôle social, ou encore de
pouvoir apporter leur aide et leur soutien à d’autres.
On est loin du compte! Alors que l’environnement social est pourtant une composante
essentielle de la qualité de vie, de nombreux résidents présentant une démence passent une
bonne partie de leurs journées seuls, en ne faisant rien. Pour ces résidents, les interactions
avec les membres du personnel constituent pratiquement les seuls contacts sociaux qu’ils
peuvent avoir. Or, il a été observé que les interactions entre le personnel et les résidents
étaient très peu fréquentes et ce constat ne s’est pas modifié depuis 30 ans (Ward, Vass,
Aggarwal, Garfield, & Cybyk, 2008). Les résidents avec une démence passent en moyenne
10% de la journée en communication directe avec d’autres personnes et 2,5% avec les
soignants. De plus, 77% des interactions avec les soignants sont en lien avec des rencontres
liées aux tâches de soins et seul un tiers des contacts implique des échanges verbaux. Ainsi,
comme le relèvent Ward et al. (2008), le silence est le mode dominant des rencontres de
soins.
Un véritable changement de culture dans les structures d’hébergement à long terme
destinées aux personnes âgées (qu’elles présentent ou non une démence) implique des
actions à différents niveaux, que l’on peut résumer comme suit (White-Chu, Graves,
Godfrey, Bonner, & Sloane, 2009) :
– proposer des soins, des interventions et des aménagements individualisés, qui
prennent prioritairement en compte les souhaits et les habitudes du résident, plutôt
que le respect de normes administratives de qualité des soins ;
– faire en sorte que les personnes gardent un sentiment de contrôle et de
responsabilité sur leur vie et sur les événements quotidiens. Cela suppose d’entendre et
de respecter leur point de vue, ainsi que de les inclure directement dans l’organisation
et la réalisation des activités quotidiennes (préparation des repas, soins, activités, liens
avec la société, etc.) ;
– modifier le langage (infantilisant et pathologisant) utilisé dans la vie quotidienne,
en considérant que les mots constituent un agent puissant de changement ;
– ne pas pathologiser les comportements dits problématiques. Cela implique de
passer d’une interprétation essentiellement biomédicale (qui attribue automatiquement
ces comportements à la « maladie » démentielle, dépressive, ou autre) à une
Revista E-Psi (2015), 5(1), 4-22 Van der Linden & Van der Linden
18
interprétation qui prenne en compte la signification des actions des résidents, ainsi que
les facteurs relationnels, situationnels, contextuels et environnementaux pouvant avoir
suscité ces comportements. Comme le relève Caspi (2013), les comportements ne
doivent plus être considérés comme des symptômes comportementaux, mais comme
des expressions comportementales ;
– dans la ligne du point précédent, réduire la surconsommation (très fréquente)
de médicaments (notamment de psychotropes), médicaments parfois administrés sans
que les personnes en aient connaissance (en les dissimulant dans la boisson ou la
nourriture) et sans que leur consentement soit obtenu. Pour ce faire, il importe de
donner toute leur place aux interventions psychosociales et environnementales
individualisées ;
– constituer des environnements de vie de plus petite taille, plus proches des
environnements habituels et familiaux, avec une attribution constante du personnel au
même environnement, un accès à la nature et aux animaux, des relations
intergénérationnelles et des connexions directes à la société ;
– réduire l’aspect hiérarchique du leadership, en privilégiant des équipes de travail
autogérées. Une approche centrée sur la personne devrait conduire « naturellement » à
la mise en place de pratiques davantage autogérées, impliquant conjointement les
membres du personnel (principalement considérés comme des facilitateurs) et les
résidents, ainsi que l’entourage de ces derniers.
Conclusions
Changer de perspective, en ne laissant plus le vieillissement cérébral et cognitif aux
mains de « maladies dévastatrices de fin de vie », c’est aussi changer profondément le
regard que la personne âgée porte sur elle-même et celui que les autres (la société) lui
adressent. La question du regard social qui est posé sur la démence — et des pratiques
sociales qui en découlent sous l’influence du réductionnisme biomédical dominant —
renvoie en fait à la question plus générale de la place accordée aux citoyens vulnérables
dans notre société. Selon Zeilig (2013), la démence peut être considérée comme une image
de notre société (une métaphore culturelle), « révélant ce que nous sommes réellement ».
Elle nous conduit à considérer les similitudes entre la manière dont nous vivons (dans une
société « démente ») et la façon dont la personne ayant reçu un diagnostic de démence —
mais aussi toute autre personne vulnérable (jeune ou âgée) — tente de s’intégrer dans ce
monde : un monde qui valorise l’efficacité, l’individualisme et l’acquisition incessante
d’habiletés cognitives au détriment de la compassion, de la solidarité, de l’engagement
social et de la « mémoire de notre humanité partagée ». La démence constitue ainsi un
prisme au travers duquel nous pouvons voir plus clairement l’état de notre société et la
Revista E-Psi (2015), 5(1), 4-22 Van der Linden & Van der Linden
19
nécessité de la faire évoluer. Ainsi, défendre une autre manière de penser le vieillissement,
c’est aussi s’engager pour un autre type de société, dans laquelle la vulnérabilité, la
différence et la finitude ont toute leur place !
Références Andrews-Hanna, J. R., Snyder, A. Z., Vincent, J. L., Lustig, C., Head. D., Raichle, M., …Buckner, R. L. (2007). Disruption of
large-scale brain systems in advanced aging. Neuron, 56, 924-935. Barnett, J. H., Hachinski, V., & Blackwell, A. D. (2013). Cognitive health begins at conception: addressing dementia as a
lifelong and preventable condition. BMC Medicine, 11, 246. Bozoki, A. C., An, H., Bozoki, E. S., & Little, R. J. (2009). The existence of cognitive plateaus in Alzheimer's disease.
Alzheimer's & Dementia, 5, 470-478. Brayne, C., & Davis, D. (2012). Making Alzheimer’s and dementia research fit for populations. Lancet, 380, 1441-1443. Brayne, C., Gao, L., Dewey, M., Matthews, F. E., Medical Research Council Cognitive Function and Aging Study Investigators
(2006). Dementia before death in ageing societies. The promise of prevention and the reality. PLoS Medicine, 3, 1922-1929.
Cadieux, M.-A., Garcia, L. J., & Patrick, J. (2013). Needs of people with dementia in long-term care: A systematic review. American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias, 28, 723-733.
Caspi, E. (2013). Time for change: Persons with dementia and "behavioral expressions", not "behavioral symptoms". JAMDA, 14, 768-769.
Castellani, R. J., & Perry, G. (2012). Pathogenesis and disease-modifying therapy in Alzheimer’s disease: The flat line of progress. Archives of Medical Research, 43, 694-698.
Chen, M., & Maleski, J., & Sawmiller, D. R. (2011). Scientific truth or false hope? Understanding Alzheimer’s disease from an aging perspective. Journal of Alzheimer’s Disease, 24, 3-10.
Cooper, C., Mukadam, N., Katona, C., Lyketsos, C.G., Blazer, D., Rabins, P., …Livingston, G. (2013). Systematic review of the effectiveness of pharmacological interventions to improve quality of life and well-being in people with dementia. American Journal of Geriatric Psychiatry, 21, 173-183.
de la Torre, J.C. (2012). A turning point for Alzheimer’s disease? Biofactors, 38, 78-83. Drachman, D. (2014). The amyloid hypothesis, time to move on: Amyloid is the downstream result, not the cause, of
Alzheimer’s disease. Alzheimer’s and Dementia, doi:10.1016/j.jalz.2013.11.003. Dugger, B. N., Hentz, J. G., Adler, C. H., Sabbagh, M. N., Shill, H. A., …Jacobson, S. (2014). Clinicopathological outcomes of
prospectively followed normal elderly brain bank volunteers. Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, 73, 244-252.
Fjell, A. M., McEvoy, L., Holland, D., Dale, A.M., & Walhovd, K. B. (2014). What is normal in normal aging? Effects of aging, amyloid, And Alzheimer’s disease on the cerebral cortex and the hippocampus. Progress in Neurobiology, 117, 20-40.
Greaves, I., & Jolley, D. (2010). National Dementia Strategy: well intentioned – but how well founded and how well directed? British Journal of General Practice, 60, 193-198.
Heggestad, A. K. T., & Nortvedt, P. (2013). ‘Like a prison without bars’: Dementia and experience of dignity. Nursing Ethics, 8, 881-892.
Herrup, K. (2010). Reimagining Alzheimer’s disease. An age-based hypothesis. The Journal of Neuroscience, 15, 16755-16762.
Iliffe, S. (2010). National Dementia Strategy. British Journal of General Practice, 60, 193-198. Kinderman, P. (2005). A psychological model of mental disorder. Harvard Review of Psychiatry, 13, 206-217 Knopman, D. S., Jack, C. R., Wiste, H. J., Weigand, S. D., Vemuri, P., Lowe, V. J., …Petersen, R. C. (2013). Brain injury
biomarkers are not dependent on β-amyloid in normal elderly. Annals of Neurology, 73, 472-480. Le Couteur, D. G., Doust, J., Creasey, H., & Brayne, C. (2013). Too much medicine. Political drive to screen for pre-dementia:
not evidence based and ignores the harms of diagnosis. British Medical Journal, 347:f5125. Mak, W. (2010). Self-reported goal pursuit and purpose in life among people with dementia. Journal of Gerontology:
Psychological Sciences, 66B, 177-184. Matthews, F. E., Blossom, C. M. S., McKeith, I. G., Bond, J., Brayne, C., and the Medical Research Council Cognitive Function
and Ageing Study (2008). Two-year progression from mild cognitive impairment to dementia: To what extent do different definitions agree? Journal of the American Geriatrics Society, 56, 1424-1433.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 4-22 Van der Linden & Van der Linden
20
Mattsson, N., Rosén, E., Hansson, O., Andreasen, N., Parnetti, L., Jonsson, M., …Zetterberg H. (2012). Age and diagnostic performance of Alzheimer disease CSF biomarkers. Neurology, 78, 468-476.
McKhann, G. M., Knopman, D. S., Chertkow, H., Hyman, B. T., Jack, C. R., Kawas, C. H., …Phelps, C.H. (2011). The diagnosis of dementia due to Alzheimer’s disease : Recommendations from the National Institute on Aging – Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimer’s & Dementia, 7, 263-269.
Mungas, D., Beckett, L., Harvey, D., Tomaszewski Farias, S., Reed, B., Carmichael, O., …DeCarli, Ch. (2010). Heterogeneity of cognitive trajectories in diverse older persons. Psychology and Aging, 25, 606-619.
Neill, D. (2012). Should Alzheimer’s disease be equated with human brain aging?: A maladaptive interaction between brain evolution and senescence. Ageing Research Reviews, 11, 104-122.
Potts, D. C. (2012). The art of preserving personhood. Neurology, 78, 836-837. Power, A.G. (2014). Dementia beyond disease. Enhancing well-being. Baltimore: Health Professions Press. Rigaux, N. (2009). L'aide informelle aux personnes âgées démentes : fardeau ou expérience significative? Psychologie et
Neuropsychiatrie du vieillissement, 7, 57-63. Rowe, C. C., Ellis, K. A., Rimajova, M., Bourgeat, P., Pike, K.E., Jones, G., …Villemagne, V.L. (2010). Amyloid imaging results
from the Australian Imaging, Biomarkers and Lifestyle study of aging, Neurobiology of Aging, 31, 1275-1283. Schneider, L.S. (2012). Could cholinesterase inhibitors be harmful overt the long term? International Psychogeriatrics, 24,
171-174. Sona, A., Zhang, P., Ames, D., Bush, A. I., Lautenschlager, N. T., Martins, R. N., …Ellis, K. A. and AIBL Research Group. (2012).
Predictors of rapid cognitive decline in Alzheimer’s disease: results from the Australian Imaging, Biomarkers and Lifestyle (AIBL) study of ageing. International Psychogeriatrics, 24, 197-204.
Song, X., Mitnitski, A., Zhang, N., Chen, W., Rockwood, K., for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (2013). Dynamics of brain structure and cognitive function in the Alzheimer’s disease neuroimaging initiative. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Neuropsychiatry, 84, 71-78.
Stephan, B. C. M., Matthews, F. E., Ma, B., Muniz, G., Hunter, S., Davis, D., …Brayne, C. and The Medical Research Council Cognitive Function and Ageing Neuropathology Study (2012). Alzheimer and vascular neuropathological changes associated with different cognitive states in a non-demented sample. Journal of Alzheimer’s Disease, 29, 309-318.
Tricco, A. C., Soobiah, S., Beliner, S., Ho, J. M., Ng, C. H., Ashoor, H. M., …Straus, S. E. (2013). Efficacy and safety of cognitive enhancers for patients with mild cognitive impairment: A systematic review and meta-analysis. Canadian Medical Association Journal, 185, 1393-1401.
Tschanz, J.T., Corcoran, C.D., Schwartz, S., Treiber, K., Green, R.C., Norton, M.C., … Lyketsos, C. G. (2011). Progression of cognitive, functional, and neuropsychiatric symptom domains in a population cohort with Alzheimer dementia. The Cache County Dementia Progression Study. American Journal of Geriatric Psychiatry, 19, 532-542.
Van der Linden, M., & Billieux, J. (2011). La contribution de la psychopathologie cognitive à l’intervention psychologique. In J. Monzée (Ed.), Ce que le cerveau a dans la tête. Perception, apparences et personnalité (pp. 145-172). Montréal: Editions Liber.
Van der Linden, M., & Van der Linden, A.C.J. (2014a). L’évaluation neuropsychologique dans la démence: Un changement d’approche. In X. Seron & M. Van der Linden (Eds.), Traité de neuropsychologie clinique de l’adulte (pp. 575-598). Paris: De Boeck-Solal.
Van der Linden, M., & Van der Linden, A.C.J. (2014b). Penser autrement le vieillissement. Bruxelles: Mardaga. Ward, R., Vass, A. A., Aggarwal, N., Garfield, C., & Cybyk, B. A. (2008). A different story: exploring patterns of
communication in residential dementia care. Aging & Society, 28,629-651. Walters, G.D. (2010). Dementia: Continuum or distinct entity. Psychology and Aging, 25, 534-544. Walhovd, K. B., Fjell, A. M., & Epseseth, T. (2014). Cognitive decline and brain pathology in aging – Need for a dimensional,
lifespan and systems vulnerability view. Scandinavian Journal of Psychology, 55, 244-254. Williams, S. J., Higgs, P., & Katz, S. (2012). Neuroculture, active ageing and the “older brain”: Problems, promises and
prospects. Sociology of Health & Illness, 34, 64-78. Wharton, S., Brayne, C., Savva, G., Matthews, F. E., Forster, G., Simpson, J., … Ince, P. (2011). Epidemiological
neuropathology: the MRC cognitive function and aging study experience. Journal of Alzheimer’s Disease, 25, 359-372.
White-Chu, E. F., Graves, W. J., Godfrey, S. M., Bonner, A., & Sloane, Ph. (2009). Beyond the medical model: The culture change revolution in long-term care. JAMDA, 10, 370-378.
Whitehouse, P. (2013a). The challenges of cognitive aging: Integrating approaches from science to intergenerational relationships. Journal of Alzheimer’s Disease, 36, 225-232.
Whitehouse, P. (2013b). The challenges of cognitive aging: Integrating approaches from science to intergenerational relationships. Journal of Intergenerational Relationships, 11, 105-117.
Whitehouse, P., & George, D. (2009). Le mythe de la maladie d’Alzheimer. Ce qu’on ne vous dit pas sur ce diagnostic tant redouté (traduit par A.-C. Juillerat Van der Linden & M. Van der Linden). Bruxelles: DeBoeck/Solal.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 4-22 Van der Linden & Van der Linden
21
Wolk, D. A., Dickerson, B. A., & The Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (2010). Apoliprotein E (ApoE) genotype has dissociable effects on memory and attentional-executive network function in Alzheimer’s disease. PNAS, 107, 10256-10261.
Woods, B. (2012). Well-being and dementia - How can it be achieved? Quality in Ageing and Older Adults, 13, 205-211. Zeilig, H. (2013). Dementia as a cultural metaphor. The Gerontologist, 54, 258-67.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 4-22 Van der Linden & Van der Linden
22
Another way of thinking about ageing and Alzheimer’s disease
Abstract According to the dominant biomedical position, Alzheimer’s disease has specific symptoms and a precise
neurobiological cause, which distinguish it from other neurodegenerative diseases and normal ageing. In
addition, it is presented as an "epidemic", which must be fought and overcome at all costs. The biomedical
conception considers it necessary to put all efforts into implementing the tools of the fundamental and clinical
neurosciences to find the neurobiological cause of dementia, to develop neurobiological procedures to diagnose
it as early as possible, and to identify pharmacological or other treatments to delay its onset and, ultimately, to
cure it. Different types of evidence specifically led to questioning of the foundations of the dominant biomedical
approach. Thus, it seems more and more evident that the dementing diseases are not homogeneous entities
caused by specific pathogenic (molecular) factors, but that they represent heterogeneous states, determined by
multiple factors and mechanisms that interact and intervene throughout life. This other way of conceiving the
brain and cognitive aging requires a change of research objectives, but also a modification of clinical
assessment, psychosocial intervention practices and culture in nursing homes.
Keywords Dementia, Alzheimer’s disease, questioning the biomedical model, assessment and intervention
practices, prevention, nursing homes.
Uma outra forma de pensar o envelhecimento e a doença de Alzheimer
Resumo De acordo com o modelo biomédico vigente, a doença de Alzheimer tem sintomas específicos e uma causa
neurobiológica precisa, que a permite distinguir de outras doenças neurodegenerativas e do envelhecimento
normal. Para além disto, é apresentada como “epidémica”, devendo ser combatida e erradicada a qualquer
custo. Este modelo biomédico considera que é necessário colocar todos os esforços na implementação de
ferramentas das neurociências para encontrar a causa neurobiológica da demência, de desenvolver
procedimentos neurobiológicos para diagnosticar tão cedo quanto possível, e de descobrir tratamentos
farmacológicos ou outros tratamentos para atrasar o seu desenvolvimento, e como ultima finalidade cura-la.
No entanto, diferentes evidências levam a um questionamento das bases deste modelo biomédico dominante.
Assim, parece cada vez mais evidente que as demências não são entidades homogéneas causadas por fatores
específicos patogênicos (moleculares), mas que representam estados heterogêneos, determinados por múltiplos
fatores e mecanismos que interagem e intervêm no decorrer da vida humana. Este modo de conceber o cérebro
e o envelhecimento cognitivo requerem uma mudança de objetivos de pesquisa, mas também uma modificação
da avaliação clínica, das práticas de intervenção psicossociais e da cultura nos lares para idosos.
Palavras-chave Demência, doença de Alzheimer, questionamento do modelo biomédico, práticas de avaliação e
intervenção, prevenção, lares de idosos.
Received: 19.10.2014 Revision received: 20.10.2014
Accepted: 12.11.2014
Revista E-Psi, 2015, 5 (1) Published Online http://www.revistaepsi.com Revista E-Psi
Como citar/How to cite this paper: Lima, M.P., & Oliveira, A.L. (2015). Intervenção em grupo com pessoas de idade avançada: A importância da relação. Revista E-Psi, 5(1), 23-39.
Intervenção em grupo com pessoas de idade avançada: A importância da relação
Margarida Pedroso de Lima1, & Albertina Lima de Oliveira2
Copyright © 2015. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License 3.0 (CC BY-NC-ND). http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
1Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. E-mail:[email protected]
2Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. E-mail:[email protected]
Revista E-Psi (2015), 5(1), 23-39
Lima & Oliveira
24
Resumo
O desenvolvimento lento da intervenção em geral, e da psicoterapia em particular, com pessoas mais
velhas em Portugal, deve-se a muitos fatores, de entre os quais se salientam o idadismo e a
predominância dos modelos biológicos de desenvolvimento. Efetivamente, a tomada de consciência
pública sobre a discriminação contra as pessoas com base na idade está aquém do desejável e a
escolha dos modelos de desenvolvimento a orientar a prática e a intervenção depende, em grande
medida, da formação e especialização dos técnicos – domínio onde há ainda muito caminho a
desbravar em Portugal.
Neste artigo apresenta-se uma revisão sobre aspetos históricos, conceptuais e práticos da
intervenção em grupo na idade avançada sublinhando-se a importância da relação para a eficácia
deste tipo de intervenção.
Palavras-chave
Intervenção em grupo, psicoterapia, relação, idade avançada.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 23-39
Lima & Oliveira
25
Introdução
“Don’t tell us, show us” (Moreno)
Muito embora existam evidências empíricas e práticas claras que sugerem que
abordagens tais como a terapia cognitivo–comportamental, interpessoal, psicodinâmica e
sistémica podem ajudar numa variedade de problemas (que vão desde as perturbações
emocionais às perturbações de personalidade e à demência), em termos de formato, a
intervenção em grupo tem sido identificada como uma abordagem preferencial para a maior
parte dos problemas e desafios da idade avançada (Aday & Aday, 1997). Quer os grupos
temáticos (e.g., centrados em tópicos como a adaptação à reforma ou a aprendizagem de
atividades de lazer), quer os grupos com participantes com características específicas (e.g.,
grupos para homens idosos veteranos de guerra, amputados ou pessoas em luto), quer os
grupos organizados em contextos diversos (e.g., lares, hospitais, centros comunitários ou de
dia) são recomendados para intervir nesta etapa da vida. A generalidade dos estudos
existentes sobre a intervenção em grupo com pessoas idosas apontam para a sua eficácia.
Por exemplo, segundo alguns autores (Lima, 2012; Yalom, 2005) é possível obter uma
redução significativa em sintomas depressivos de pessoas idosas com apenas 12 sessões de
terapia de grupo.
Porém, as investigações e experiência, tanto nacionais como internacionais, ainda se
consideram a este nível escassas. Por um lado, porque a existência de tantas pessoas a
chegarem a idades acima dos 60 anos é algo novo historicamente. E, por outro, o modelo de
desenvolvimento predominante continua a ser o do declínio, apesar da avassaladora
quantidade de investigação a corroborar um modelo inteiramente diferente – o do ciclo de
vida (Baltes & Smith, 2008). Neste sentido, é que neste artigo fazemos uma revisão dos
aspetos teóricos e práticos a considerar na intervenção em grupo com pessoas idosas.
Aspetos históricos e conceptuais
A primeira referência à utilização da terapia de grupo com pessoas mais velhas foi, de
acordo com Saiger (2001), o relatório de Silver, datado de 1950, sobre uma intervenção
realizada num Hospital de Montreal. O trabalho de Silver baseou-se, fundamentalmente, nos
princípios de Joseph Pratt (1907) - considerado por muitos um dos pais da psicoterapia de
grupo moderna - ao aplicar um método de grupo ao tratamento de doentes com
tuberculose (Halperin, 1989). A originalidade de Pratt consistiu na utilização, pela primeira
vez, das emoções coletivas com uma finalidade terapêutica, vindo os seus procedimentos a
ser, posteriormente, denominados de psicoeducativos. Porém, foi Moreno, em 1931
(Moreno, 1934), que cunhou a expressão “Psicoterapia de grupo”. Pratt (assim como Silver)
enfatizaram a importância da instrução, da inspiração e do apoio emocional proporcionados
Revista E-Psi (2015), 5(1), 23-39
Lima & Oliveira
26
pelo grupo. Todavia, estes princípios vieram a revelar-se apenas exequíveis com alguns
grupos, sendo difíceis de aplicar em pessoas idosas com limitações cognitivas, em que o
esquecimento do nome ou das instruções é habitual.
A partir da década de 50, surge o interesse pelas abordagens de grupo de inspiração
psicodinâmica aplicadas às pessoas mais velhas (Linden, 1955, 1954, 1953). Estas reforçaram
a ideia da importância pivot das relações ao longo do ciclo de vida. Frequentemente isoladas
e privadas de outros significativos, a interação social, o apoio empático, e a validação dada
pelo grupo geram um contexto onde a pessoa idosa isolada pode enriquecer-se
emocionalmente. Recordemos que Silver e Linden trabalharam com pessoas idosas com
muitas limitações e institucionalizadas (Shyam & Yadev, 2006), e, neste âmbito, as
intervenções em grupo revelaram claros benefícios económicos e grande eficácia no
combate ao isolamento, para além de terem permitido questionar o pressuposto de que as
pessoas mais velhas não respondiam à intervenção terapêutica ou à mudança emocional.
Por volta dos anos 90, o interesse do psicoterapeuta existencial Irving Yalom pela
terapia com pessoas de idade avançada colocou a intervenção numa perspetiva
predominantemente existencial. A obra de Leszcz (1992), na mesma linha, promove a
abordagem interpessoal na psicoterapia de grupo com pessoas mais velhas, sublinhando a
importância da coesão grupal, da vivência do aqui e do agora, do feedback na aprendizagem
interpessoal e da experiência emocional corretiva, proporcionada pelo microcosmo que é o
grupo.
Na atualidade, um leque variado de abordagens terapêuticas (e.g.,
cognitivo-comportamental, dinâmica, construtivistas) são usadas com pessoas desta faixa
etária (Lima, 2013).
Benefícios da intervenção grupal
Para além do que já referimos, hoje sabemos que são inúmeras as vantagens da
intervenção em grupo com adultos de idade avançada. As principais razões, na perspetiva de
Chiu (1999), prendem-se com o facto da intervenção em grupo: revelar eficácia e eficiência,
a longo prazo; promover, mais facilmente, a adesão das pessoas mais velhas, em contexto
institucional; constituir uma opção de tratamento mais viável (dado o número crescente de
pessoas idosas); apresentar um menor custo (são necessários menos profissionais e menos
tempo para intervir com o mesmo número de pessoas); possibilitar, mais facilmente, o
desenho de planos de investigação experimental sobre a intervenção; e acarretar, nalguns
casos, ganhos a nível emocional e cognitivo, superiores às intervenções de cariz individual.
As vantagens terapêuticas resultam, de acordo com Yalom (2008, 2005, 1985), dos 11
fatores ‘terapêuticos’ da terapia de grupo, a saber: dar esperança, ou seja, o grupo promove
a crença de que o tratamento pode ser e será eficaz; universalidade, que é entendida como
a demonstração de que não estamos sozinhos na nossa ‘miséria’ e nos nossos problemas; a
Revista E-Psi (2015), 5(1), 23-39
Lima & Oliveira
27
partilha de informação, que consiste em fornecer informação didática sobre a saúde ou o
problema alvo do grupo ou elemento do grupo; altruísmo, que consiste na oportunidade de
sair de si e ajudar outra pessoa, dando conselhos e envolvendo-se em interajuda; a
recapitulação corretiva de problemáticas familiares, que cria a oportunidade de
reinterpretar e clarificar essas relações; desenvolvimento de técnicas de socialização
aprendizagem social ou desenvolvimento de aptidões interpessoais; comportamento
imitativo, ou seja, aprender a modelar o comportamento observando os membros do grupo
que funcionam mais adequadamente ao nível, por exemplo, da flexibilidade, criatividade e
autoexposição; a aprendizagem interpessoal, que possibilita a aprendizagem de novas
estratégias de confronto, na medida em que cada pessoa partilha, com os diferentes
membros do grupo, formas diversificadas de superação de dificuldades, recebendo feedback
dos mesmos e, assim, experimentando novas formas de se relacionar; a coesão grupal, que
corresponde à relação terapêutica ou rapport da terapia individual; a catarse, que consiste
na oportunidade para experienciar e expressar afetos fortes; por fim, seguem-se os fatores
existenciais – reconhecimento, através da partilha com os outros, dos aspetos básicos da
existência (e.g., solidão, morte, responsabilidade pelas nossas ações). Este fator remete para
o ‘darmo-nos conta’ da nossa responsabilidade última em relação à nossa vida diminuindo o
sentimento de solidão e desesperança.
Como enfatiza Yalom (2005), a terapia de grupo permite à pessoa aperceber-se de que
não está sozinha no(s) seu(s) problema(s) (há uma partilha de experiências), dando-lhe a
possibilidade de falar acerca dele(s) e de se ‘abrir’, num ambiente seguro. A pessoa idosa,
membro de um grupo, desenvolve, igualmente, a auto empatia e a aceitação incondicional
de si, consequência, em parte, da integração das devoluções dos outros sobre si própria. Em
termos práticos, os benefícios da intervenção em grupo com idosos incluem a normalização
das suas preocupações acerca do declínio físico, a diminuição do isolamento social, o acesso
a uma rede de suporte que lida com dificuldades semelhantes, e a possibilidade de ajudar os
outros, o que contribui para diminuir os sentimentos e pensamentos negativos, e o
desenvolvimento do sentido de valor pessoal. É sabido também que as pessoas idosas em
contexto institucional atingem mais rapidamente a coesão grupal devido talvez ao contacto
mais intenso e, muitas vezes, diário das relações interpessoais (Yalom, 2005).
Podemos ainda acrescentar, que esta abordagem potencia o planeamento realista de
objetivos e a independência em relação ao técnico, promovendo a autonomia e o controlo.
Este último aspeto é muito importante, já que aumentar o poder das pessoas mais velhas é
uma das ferramentas mais eficazes na promoção do seu bem-estar e na prevenção do abuso
e do mau trato (Ferreira-Alves, 2004, 2005, 2010).
Revista E-Psi (2015), 5(1), 23-39
Lima & Oliveira
28
Limitações da intervenção grupal
Como seria também de esperar, este tipo de intervenção terapêutica com pessoas de
idade avançada não está isento de limitações. Altolz (1978, cit. por Fernandes, 2006) refere,
por exemplo, a dificuldade de algumas pessoas idosas discutirem, em grupo, as suas
problemáticas pessoais, ou de apresentarem alguma relutância em entregar-se ao grupo,
com receio de mais perdas emocionais, sobretudo tendo em conta que, no horizonte da sua
vida, a consciência da sua aproximação à morte está mais presente.
Encontram-se ainda dificuldades resultantes do eventual curto tempo de foco da
atenção, da persistência ideativa, das dificuldades de memória e dos estados confusionais de
algumas pessoas idosas. Estes problemas têm sido contornados com estratégias, como uma
atividade mais intensa por parte do terapeuta, sessões de grupo mais frequentes,
coorientação para mais apoio e utilização das possibilidades transferenciais (Foster & Foster,
1989). Por outro lado, nem todos os pacientes estão à priori indicados para terapia de grupo
a intervenção individual é recomendável quando temos pacientes com psicopatologia severa
e perturbações cerebrais, pessoas agressivas em relação ao grupo ou ao terapeuta. Há ainda
a ter em conta que pessoas com potenciais conflitos culturais ou religiosos devem ser
colocadas em conjunto com cautela.
Terapia ou terapias de grupo?
Devido ao vasto número e espectro de métodos e terapias com recurso ao grupo,
Yalom (2005) defende que se deve falar de terapias de grupo e não de terapia de grupo.
Mais especificamente, a literatura sobre a terapia de grupo com pessoas de idade avançada
inclui populações de pacientes em contexto clínico e institucional e enquadramentos não
clínicos. Abarca desde as pessoas saudáveis até às que sofrem de desordens funcionais (e.g.,
depressão, estados paranoides, desordens de carácter) e que apresentam limitações
orgânicas significativas (resultantes, por exemplo, de acidentes cérebro vasculares).
As abordagens de grupo têm sido utilizadas em todos os tipos de problemas
psicológicos e psiquiátricos e, com o surgimento de estudos que relacionam os fatores
psicossociais com a saúde, também em pacientes com problemas físicos. Neste último caso,
uma das grandes vantagens iniciais foi de natureza paliativa ajudar os pacientes a
adaptarem-se ao estigma psicossocial de terem contraído uma determinada doença. A partir
dos anos 80, alguns estudos começaram a revelar que fatores psicossociais contribuíam
também para o desenvolvimento das doenças orgânicas (Szasz, 1961). Neste sentido, as
intervenções dirigidas à promoção da qualidade de vida, e não apenas à doença, começaram
a ter lugar (Spira, 1997; Oliveira, 2011; Oliveira, Lima, & Godinho, 2011; Oliveira & Lima,
2011).
No presente, são múltiplas as intervenções e terapias de grupo usadas com pessoas de
idade avançada, em vários contextos. Os grupos podem ser heterogéneos ou homogéneos
Revista E-Psi (2015), 5(1), 23-39
Lima & Oliveira
29
com pessoas com as mesmas características, na mesma situação, ou que partilham as
mesmas dificuldades - ou, ainda, de casais ou famílias (Figueiredo, 2007; Lima, 2008;
Figueiredo, Lima & Sousa, 2009). Este último tipo de intervenção é de grande utilidade, na
medida em que aborda a questão das reações emocionais dos diferentes membros da
família, a respeito dos problemas da pessoa idosa e do envelhecimento. Porém, a respeito
da homogeneidade/heterogeneidade, alguns autores têm defendido a importância da
relativa homogeneidade dos grupos (e.g., Levine & Schild, 1969), dado que facilita os
sentimentos de empatia (Rogers, 1951, 1970, 1980) e de aceitação e, consequentemente,
atenua a alienação e o medo de rejeição.
Os grupos podem ainda ter uma orientação teórica mais explícita (e.g., dinâmica,
cognitivo-comportamental) ou funcionar segundo propostas mais marginais ou menos
conhecidas. Como exemplo destas últimas temos os grupos autobiográficos guiados de
Birren (guided autobiography groups; Birren & Deutchman, 1990), que é um método usado
para explorar o sentido da vida (Bruner, 1990).
Tendo em consideração a vasta panóplia de intervenções vislumbradas, Gazda e
Pistole (1985) arrumam em três categorias os principais tipos de intervenção em grupo:
grupos psicoeducativos (sobretudo preventivos e desenvolvimentistas), grupos de
aconselhamento (preventivos e remediativos, usados quando dar informação, só por si, não
é suficiente) e grupos psicoterapêuticos (essencialmente remediativos e curativos,
direcionados para pessoas com manifestos problemas de ordem mais profunda).
A literatura sobre a intervenção psicoeducativa e psicossocial com idosos sugere, aliás,
que os grupos de entreajuda (também conhecidos por grupos de pares, cujo melhor
exemplo são os Alcoólicos Anónimos) e de aconselhamento terão um papel crescente no
arsenal de ferramentas e de tipos de intervenção no âmbito da gerontologia. Sintomas e
síndromas depressivos, como as dificuldades de adaptação e do pós-luto, podem ser
aliviados, através da participação em grupos de entreajuda.
Os grupos de desenvolvimento, em sentido lato, são grupos temporários, destinados à
aprendizagem experiencial de novos padrões emocionais, relacionais, cognitivos,
comportamentais e corporais (Shapiro, 1978; Dornelles, 2010). Estes decorrem da
experiência imediata do grupo, e são testados num clima favorável à mudança. Neste
ambiente protegido e securizante, permitem desenvolver o autoconhecimento, promover
aptidões várias, aumentar a sensibilidade em relação ao outro, estabelecer relações
interpessoais mais satisfatórias e tomar consciência dos processos que facilitam ou inibem o
funcionamento do grupo, diminuindo, consequentemente, a ansiedade e o conflito.
Foster e Foster (1989), nesta linha de organizar as diferentes modalidades de
intervenção em grupo, organizam em três categorias os tipos de intervenção, e apresentam
as técnicas, composição do grupo e procedimentos para cada uma delas. Na primeira
categoria incluem intervenções como a estimulação sensorial, a terapia de orientação para a
Revista E-Psi (2015), 5(1), 23-39
Lima & Oliveira
30
realidade e a terapia da remotivação, direcionadas para as pessoas cognitivamente
limitadas, bem como institucionalizadas em unidades geriátricas.
A segunda categoria integra técnicas verbais e psicodinâmicas de grupo com pessoas
idosas institucionalizadas. Este tipo de intervenção é mais complexo e diverso, opera em
função de variáveis como o estilo terapêutico, os objetivos da intervenção e o diagnóstico do
paciente, e requer que este tenha capacidade de estabelecer uma relação interpessoal,
possua alguma orientação para a realidade e coerência verbal. Para aquelas pessoas em que
tal não é possível, Feil (1999) propõe a Terapia da Validação, que se baseia no
estabelecimento de uma relação sincera, com consideração empática pelo cliente que sofre.
Os estilos dos grupos verbais são variados. Lichtenberg (1954, cit. por Lichtenberg &
Duffy, 2000) facultava um tea party com conversa, refrescos e jogos com os pacientes
geriátricos psicóticos, que melhoravam o humor, a aparência física e a higiene e Wolff (1957,
cit. por Lichtenberg & Duffy, 2000) a abordagem do ‘irmão compreensivo’ (em que os
membros do grupo dão apoio uns aos outros de forma fraterna).
Para os pacientes geriátricos institucionalizados, cujas funções linguísticas estão
intactas e que conseguem manter a atenção durante algum tempo, pode recorrer-se a
processos de grupo mais convencionais, dando atenção inicial às questões somáticas dos
elementos do grupo e às solicitações para relatar acontecimentos passados e, com o
decorrer do processo, avançar o centro das discussões do grupo para a expressão de
conflitos e sentimentos internos sobre as circunstâncias de vida presente. Relatórios de
avaliação destas intervenções mostram, recorrentemente, melhorias em áreas como a
autoestima, aptidões de socialização e na ‘alegria de viver’ (Zarit & Knight, 1996; Lima,
2011). Mais recentemente tem sido referida a utilização de grupos de reminiscência e de
revisão da vida (Gonçalves, Albuquerque & Martín, 2008) com pessoas mais velhas,
considerando-se que estas técnicas aumentam a coesão do grupo e a integração de conflitos
antigos.
A última categoria referida por Foster e Foster (1989) é a dos grupos verbais
psicodinâmicos com pessoas idosas não institucionalizados. Estes grupos, com pessoas que
sofrem de perturbações de humor ou dificuldades neuróticas e caracterológicas,
assemelham-se, na sua estrutura e funcionamento, aos grupos com pessoas mais jovens. Os
ganhos são claros no que respeita ao funcionamento interpessoal e ao decréscimo de
sentimentos depressivos. Muitos destes grupos são focalizados nas disfunções e limitações
físicas, com o objetivo de ajudar os pacientes a aceitar e a viver melhor com as suas
condições, potenciando novos comportamentos que suscitem sentimentos de mais-valia
pessoal. Tanto as abordagens cognitivistas como as psicodinâmicas têm-se mostrado
igualmente eficazes, ao sublinharem a importância dos relacionamentos estabelecidos
dentro do grupo, da sua capacidade de repautar as matrizes relacionais padrão dos
pacientes (Foster & Foster, 1989).
Revista E-Psi (2015), 5(1), 23-39
Lima & Oliveira
31
Os grupos terapêuticos podem ainda ser categorizados em função da sua duração
(prolongada ou não) no tempo, do foco do problema e da forma como os seus membros são
selecionados.
De facto, a terapia de grupo pode ter um caráter permanente ou possuir um número
pré-determinado de sessões. Enquanto um grupo terapêutico de caráter permanente, uma
vez formado, continua indefinidamente no tempo e permite a entrada de novos elementos -
a abertura do grupo é uma característica sua - nos grupos de tempo limitado, o número de
sessões é definido à priori, sendo caracterizados por, normalmente, não integrarem mais
membros após as primeiras sessões (Yalom, 2005; Lima, 2012; Ribeiro & Lima, 2012). Nestes
últimos grupos, o número de sessões varia, geralmente, entre um mínimo de oito a dez e um
máximo de vinte. Contudo, esta duração depende sempre do objetivo do grupo e das
peculiaridades dos membros que o constituem.
No que respeita ao foco, alguns grupos são relativamente abrangentes, possuindo
metas relacionadas com a promoção da satisfação geral com a vida e com um eficaz
funcionamento ao longo da mesma, especialmente na área das relações interpessoais. Estes
grupos tendem a ser heterogéneos, o que significa que os seus membros apresentam
preocupações diversas e diferentes problemas pessoais. Tendem, ainda, a ser abertos,
devido à natureza do processo terapêutico, apesar de alguns deles serem de duração
limitada (embora possam durar mais tempo do que os ‘grupos de tempo limitado’, acima
mencionados). Por outro lado, existem grupos formados com base numa problemática
específica (por exemplo, para pessoas amputadas), enfatizando alguns deles a aprendizagem
de estratégias para lidar com o problema e/ou a mudança de comportamentos ou crenças
disfuncionais. Este tipo de grupo terapêutico pode ter uma duração indeterminada ou
constituir-se como um grupo de tempo limitado (Yalom, 2005; Lima, 2013).
A terapia de grupo com idosos: objetivos e duração
Como se depreende pelo já afirmado, a terapia de grupo não se baseia numa única
abordagem teórica — foi elaborada a partir de diferentes conceptualizações e correntes e
abarca, pelo menos, três diferentes conjuntos de técnicas, a saber: técnicas de dinâmica de
grupo, que utilizam, com um fim terapêutico, os movimentos e as interações estabelecidas
entre os vários elementos do grupo; técnicas psicanalíticas verbais não-diretivas, que
utilizam a psicanálise como terapia de eleição (Greenberg, 2009); técnicas de expressão
psicomotora e dramática que, para além do que é verbalizado, utilizam a arte (Johnson,
Forrester, Dintino, James, & Schnee, 1996), jogos, dramatizações e atividades expressivas,
corporais e experienciais (Espenak, 1981; Riley & Carr, 1989; Lima, Costa, Silva, Carvalho &
Simões, 2013).
Finalmente, podemos referir que os grupos podem variar em função do tamanho e da
duração da sessão, embora o tamanho mais comum de um grupo psicoterapêutico se situe
Revista E-Psi (2015), 5(1), 23-39
Lima & Oliveira
32
entre 6 a 12 pacientes e cada sessão dure, normalmente, entre 75 a 120 minutos (Yalom,
2005; Lima, 2013).
Decorre do que temos vindo a afirmar que a intervenção em grupo e, mais
especificamente, a terapia de grupo necessita de uma estrutura de base para o seu
adequado funcionamento (Douglas, 1976, cit. por Fernandes, 2006; Leal, 2005). É necessário
saber o que se pretende com a intervenção, preparar e selecionar os diferentes elementos a
incluir no grupo, ter em atenção as variáveis do contexto que podem afetar a intervenção,
ter noção sobre a duração da terapia e as técnicas a usar durante o processo, compreender
as fases de desenvolvimento do grupo e a definição clara do papel que cabe ao
animador/terapeuta (e aos coterapeutas, caso existam).
Terá que haver, assim, uma razão muito clara para que se forme um grupo. Não basta
ter na ideia a junção de pessoas, com o mesmo tipo de dificuldades, ou a vantagem de
economizar recursos. Quando se opta por este tipo de terapia, que preconiza o
autoconhecimento e o desenvolvimento das relações interpessoais, o terapeuta deve ter
objetivos e métodos muito claros de intervenção para uma determinada situação,
enquadrando, adequadamente, todos os seus elementos. Efetivamente, esta pode
contemplar vários objetivos, podendo ser utilizada para atender a diversos tipos de
problemas psicológicos (desde promover a autoestima, a gerir as emoções, ou adaptar-se a
novas situações), bem como ser usada numa enorme variedade de outras situações e
problemas, e.g., para redução de quedas (Hakim, 2004); para cuidadores, via internet,
(Marziali & Donahue, 2006); com pessoas idosas com VIH, via videoconferência, (Heckman,
2010); com pessoas com doenças degenerativas (Marziali & Donahue, 2006); com pessoas
idosas com desordem generalizada de ansiedade (Wetherell, 2002). Os objetivos e a duração
da intervenção devem ser dados antes de iniciar as sessões do grupo, bem como,
informações sobre a eventualidade de virem a ser usadas técnicas muito diferentes do
habitual ou de as sessões serem, por exemplo, filmadas. Os direitos e princípios éticos da
intervenção (e.g., confidencialidade, possibilidade de sair a qualquer momento, respeito
pela dignidade pessoal) devem ser sempre tidos em consideração.
Na prática: dar importância à relação Para que o processo terapêutico com adultos mais velhos se desenrole com sucesso,
para além da formação teórica e especialização técnica, da qual depende a orientação da
intervenção, é também necessária a aptidão para estabelecer uma relação terapêutica em
grupo (Zarit & Knight, 1996; Duffy, 1999; Haley, 1999; Lima, 2004, 2008, 2013; Leal, 2005;).
Tal implica que o terapeuta consiga trabalhar de forma não convencional, seja mais flexível
no estabelecimento do lugar, duração e frequência das sessões e tenha a capacidade de
assumir vários papéis (Haley, 1999; Lima, 2011, 2013), de molde a responder a clientes que,
muitas vezes, têm múltiplos problemas físicos e psicossociais. Independentemente do
Revista E-Psi (2015), 5(1), 23-39
Lima & Oliveira
33
contexto da intervenção, as aptidões comunicacionais do terapeuta são essenciais para o
sucesso da intervenção (Woolhead et al., 2006). Escutar e responder, concertadamente, é
sempre importante, mais ainda, quando a pessoa idosa tem dificuldades auditivas. Neste
sentido, falar de forma não categórica, simples e direta, com clareza e objetividade, sem
usar linguagem técnica, é essencial, tendo em atenção a comunicação não-verbal.
Sublinha-se ainda a importância de estar na relação e ‘no aqui e agora’ ficando com o
‘óbvio’, ‘não remando contra a corrente’, estando o terapeuta aberto a experimentar, a usar
o humor quando apropriado, tendo atenção aos seus próprios preconceitos e reconhecendo
naturalmente os seus limites como técnico (Lima, 2013).
Antes de iniciar um grupo é necessário ter em atenção todo o setting terapêutico ou
seja todos os pormenores relativos ao enquadramento e à disposição física da sala, bem
como prevenir possíveis interrupções (Frazer, Hinrichsen, & Jongsma, 2011).
Efetivamente, lidar com a desconfiança é a tarefa base do grupo num estádio inicial.
Neste sentido, é necessário prestar atenção às necessidades e dificuldades individuais dos
membros e dar-lhes oportunidades para falarem sobre os seus eventuais sentimentos de
insegurança (Shapiro, 1978). Se o sentimento de confiança não for edificado e o líder forçar
uma agenda prematura, é possível prever problemas graves, tais como falta de entusiasmo,
pouca energia, silêncios constrangedores (Corey, 1999). Pelo contrário, quando há confiança
os membros expressam as suas reações sem medo da censura e empenham-se ativamente.
É neste sentido que é importante identificar eventuais resistências, torná-las explícitas e não
fazer de conta que não existem. A resistência diminui quando os membros do grupo
assumem responsabilidade pelo modo como o grupo funciona (Egan, 1986).
No decorrer do processo terapêutico, as técnicas devem ser usadas para explorar o
material fornecido e não para provocar o material e, deste modo, ir consolidando a
aprendizagem e aumentando a responsabilidade individual.
Tudo o que um orientador de grupo faz pode ser encarado como técnica, mas, para
fins operacionais, em geral, usa-se o termo para referir os casos em que o terapeuta/líder do
grupo «faz uma solicitação explícita e diretiva a um membro, para fins de focalizar o
material, aumentar ou exagerar o afeto, praticar comportamentos ou solidificar a
compreensão interna (insight)» (Corey et al., 1983, p. 21). No entanto, as técnicas são meios
e não fins, e não devem desviar o terapeuta da relação criativa com o grupo e da atenção ao
material emergente numa sessão. Neste sentido, não são ‘receitas’ que devamos seguir, mas
ferramentas e orientações flexíveis a que podemos recorrer, quando trabalhamos com um
grupo. Não são para ser usadas ‘contra’ o grupo, mas a favor do seu desenrolar natural. De
certo modo, é necessário ‘aprender a dançar’ com os nossos clientes. Assim, de acordo com
Corey e colaboradores (1983, p. 24), «introduzir uma técnica para fazer com que as coisas
evoluam é ignorar o óbvio e impor uma dinâmica prematura para o grupo ou estranha ao
carácter do grupo... em vez disso, ao introduzir uma técnica que enfatize e esclareça o que
Revista E-Psi (2015), 5(1), 23-39
Lima & Oliveira
34
está acontecendo, favorecemos o processo, em vez de nos intrometermos nele. Nesse caso,
a técnica completa o processo e não o ignora».
No entanto, a mudança não se faz apenas com base nas técnicas, advém sobretudo do
suporte no relacionamento com o terapeuta e entre os elementos do grupo. Da mesma
forma que muitos dos comportamentos inadaptados dos membros do grupo nasceram de
uma relação com falhas, também é possível que novos comportamentos, mais funcionais,
sejam cimentados através de um novo modelo de relação. Será a qualidade da relação que
ditará, aduzida à sensibilidade do terapeuta, o momento de usar determinada técnica.
«Fazer um ataque às defesas, sem levar em conta a importância delas para a manutenção do
equilíbrio, é expor o cliente a um dano psicológico...» (Corey et al., 1983, p. 26). Por outro
lado, o uso das técnicas pode, muitas vezes, mascarar a qualidade da relação entre os
membros do grupo e o terapeuta. Consequentemente, as qualidades pessoais e a filosofia de
vida do líder são mais importantes e poderosas do que as técnicas, no que se refere ao
facilitar dos processos do grupo. Neste sentido, o terapeuta deve prestar atenção a si
próprio, confiar na sua intuição e ser autêntico, visto as técnicas serem recebidas à luz das
atitudes dos dinamizadores que as empregam (Corey et al., 1983; Egan, 1986). Em suma, as
técnicas são valiosas e importantes, mas devem ser usadas com cautela (Corey et al. 1983;
Yalom, 1985, 2005; Lima, 2013, 2011). Se o terapeuta tiver uma formação sólida, e
experiência supervisionada de grupo, a sua própria terapia e respeito pelos clientes, não é
provável que venha a abusar das técnicas (Corey et al., 1983). Os terapeutas de pessoas mais
velhas beneficiam, ainda, em ser mais flexíveis (e.g., dar comida ao paciente, ajudá-lo a
telefonar, fomentar as relações fora do grupo) e mais ativos e participativos (e.g., falam
deles próprios, exemplificam...) (Knight, 2004; Lima, 2004, 2013).
A escolha de que técnica usar é, muitas vezes, ditada pelo enquadramento conceptual
e personalidade do terapeuta, bem como pela relação com as pessoas com quem vai
trabalhar (há uma variabilidade imensa de possibilidades, em função da idade, finalidade e
nível de funcionamento do paciente; por exemplo, a utilização de animais com pessoas com
demência; Crowley-Robinson, Fenwick, & Blackshaw, 1996). Não obstante, o terapeuta deve,
recorrentemente, questionar-se sobre a adequação de determinada técnica aos elementos
do grupo que está orientar. Depende das técnicas o nível de explicação a dar aos clientes
sobre as mesmas, porém, é importante indagar da vontade dos clientes participarem, bem
como de eventuais resistências que possam manifestar-se. Não é papel do terapeuta
resolver os problemas, mas criar as condições para que as pessoas descubram, por si
mesmas, as soluções para as dificuldades com que lutam – as técnicas intensificam
experiências, geram informações, dão oportunidade aos clientes de expressarem os seus
sentimentos e de estabelecerem conexões entre a vivência proporcionada pela técnica e a
sua realidade.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 23-39
Lima & Oliveira
35
A «imagem negativa dos grupos resulta do abuso das técnicas que substituíram aquilo
que um grupo fundamentalmente é - um campo para a interação humana autêntica e
interessada» (Corey et al., 1983, pp. 64-65). Neste sentido, as técnicas não devem ser
encaradas como truques, mas ferramentas a serem usadas em prol das necessidades dos
clientes.
A análise da contratransferência do terapeuta (‘como me sinto com o que disse o
cliente/grupo? O que significa para mim?’) torna-se crucial numa relação que é,
frequentemente, regulada por mudanças pouco usuais no contexto terapêutico, como é o
caso de muitas intervenções com pessoas mais velhas, por exemplo, o cliente estar acamado
(Genevay & Katz, 1990; Altschuler & Katz, 1999). Contudo, a transferência e a
contratransferência, que dependem das relações prévias, podem levar ao impasse
terapêutico e à resistência ao tratamento (Knight, 2004). Os tabus e a complexidade dos
contextos institucionais podem tornar a gestão desta dinâmica um desafio. Neste sentido, o
terapeuta tem a responsabilidade de examinar os seus preconceitos, em relação à idade e ao
género, bem como eventuais crenças ou conflitos com os seus pais e avós. Se tal não
acontecer, está a limitar as possibilidades de ajudar os clientes a desenvolverem-se. De um
modo geral, o terapeuta ficará bloqueado onde costuma ter dificuldades, enquanto pessoa
(Perls, 1976).
Quando os clientes são considerados especialistas das suas próprias vidas, sentem-se
mobilizados e encorajados a usarem os seus recursos, em direção aos seus objetivos (Smith,
2006) e a serem agentes ativos e interventivos no seu próprio processo de mudança
(Christopher, Christopher, Dunnagan & Schure, 2006; Smith, 2006; Lima, 2010). Esta
perspetiva sobre os clientes, dotados de um repositório de recursos, ao invés de serem
vistos como uma confluência de problemas, favorece a aliança terapêutica.
Conclusões
Na promoção da qualidade de vida das pessoas de idade avançada, a disponibilidade de uma
panóplia de possibilidades terapêuticas é fundamental em face dos problemas e dificuldades
vários, da diversidade de perfis de personalidade (Lima & Abigail, 2011; Lima, 2012), e de
necessidades e desejos múltiplos das pessoas na última fase do seu ciclo de vida.
Neste sentido, inúmeras terapias psicológicas (e não só) têm vindo a evidenciar a sua
eficácia no apoio a pessoas mais velhas. O movimento crescente de tornar a
gerontopsicologia e a gerontopsiquiatria essencialmente uma ‘especialidade do cérebro’
(brain specialty), assente em modelos biológicos e sociais de intervenção (biological and
social-care models), só pode ser contrariada com a iniciativa dos clínicos em fazerem
formação, supervisão e ganharem experiência em terapias psicológicas como o núcleo
central do seu trabalho, num movimento positivo de dotar todos os técnicos da capacidade
de compreender cada pessoa como uma totalidade biopsicossocial (Hepple, 2004). Neste
Revista E-Psi (2015), 5(1), 23-39
Lima & Oliveira
36
processo, de dar protagonismo à ‘relação’, sublinha-se também a dimensão axiológica do ser
humano e as suas qualidades de aprendizagem ao longo de todo o ciclo de vida,
independentemente das condições e contextos.
De entre as abordagens existentes, a intervenção em grupo apresenta, como vimos,
inúmeras vantagens no trabalho com pessoas mais velhas a residir na comunidade ou em
contexto institucional. Este facto implica que todos os profissionais envolvidos tenham
formação pessoal nas técnicas/abordagens que vão utilizar e que façam supervisão regular.
O foco na relação, no ‘encontro’ que o grupo proporciona (na expressão moreniana),
permite a atualização de alguns dos princípios, mais do que confirmados pela investigação,
que recorrentemente, devido a vicissitudes burocráticas várias, tendemos a esquecer, a
saber: a importância da humanização dos nossos serviços educativos e de saúde; a
importância de conferir poder e responsabilização pessoal nos processos individuais de
desenvolvimento, educação e saúde; o permitir o florescimento humano.
Referências Aday, R. H., & Aday, K. L. (1997). Group work with the elderly: An annotated bibliography. Westport, CT: Greenwood. Altschuler, J. & Katz, A.D. (1999). Methodology for discovering and teaching countertransference toward elderly clients.
Journal of Gerontological Social Work, 32(2), 81-93. Baltes, P. B., & Smith, J. (2008). The fascination of wisdom. Its nature, ontogeny and function. Perspectives on psychological
science, 3(1), 56-64. Birren, J., & Deutchman, D. (Eds.). (1990). Guiding Autobiography Group for Older Adults: Exploring the Future of Life.
Baltimore: Johns Hopkins University Press. Bruner, J. (1990). Acts of Meaning. Cambridge: Cambridge University Press. Buber, M. (2008). I and Thou. Amazon. USA. Bush, S. S. (2008). Geriatric mental health ethics: A casebook. New York: Springer. Chiu, R. K. (1999). Relationship among role conflicts, role satisfaction and life satisfaction: Evidence from Hong Kong. Social
Behavior and Personality, 26, 409-414. Christopher, J. C., Christopher, S. E., Dunnagan, T., & Schure, M. (2006). Teaching Self- Care Through Mindfulness Practices:
The Application of Yoga, Meditation, and Qigong to Counsellor Training. Journal of Humanistic Psychology, 46, 494. Corey, G. et al. (1983). Técnicas de grupo. Rio de Janeiro: Zaha. Corey, G. (1999). Theory and practice of counselling and psychotherapy (5th ed.).Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.
Crowley-Robinson, P., Fenwick, D., & Blackshaw, J. (1996). A long-term study of elderly people in nursing homes with visiting and resident dogs. Applied Animal Behaviour Science, 47, 137-148.
Duffy, M. (1999). Handbook of counselling and psychotherapy with older adults. New York: John Wiley & Sons, Inc. Dornelles, A. (2010). Uma intervenção psicoeducativa com cuidadores de idosos com demência. Dissertação de Mestrado
(não publicada). Universidade Federal de São Carlos, Brasil. Egan, G. (1986). The Skilled Helper: A Systematic Approach to Effective Helping (3rd Ed.). Monterey: Brooks/Cole Publishing
Company. Espenak, L. (1981). Dance Therapy: Theory and Application. Springfield: Thomas Books. Feil, N. (1999). Current Concepts and Techniques in Validation method. In M. Duffy (Ed.) Handbook of Counseling and
Psychotherapy with Older Adults, (pp 590-615). New York: John Wiley & Sons. Fernandes L. (2006). A Psicossomática do Envelhecimento. In H. Firmino, L. Cortez Pinto, A. Leuschner, J. Barreto J (Eds.).
Psicogeriatria (pp. 69-82). Coimbra: Psiquiatria Clínica. Ferreira-Alves, J. (2004). Fatores de risco e indicadores de abuso e negligência de idosos. Polícia e Justiça (pp.133-151)
Coimbra: Coimbra Editora.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 23-39
Lima & Oliveira
37
Ferreira-Alves, J. (2005) Abuso e negligência de pessoas idosas: contributos para a sistematização de uma visão forense de maus-tratos. In R. Abrunhosa Gonçalves & C. Machado (Eds.), Psicologia Forense (pp. 319-342). Coimbra: Quarteto Editora.
Ferreira-Alves, J. (2010). Prática Psicológica com Pessoas Idosas: Uma Leitura Substanciada das orientações da APA. Revista de Psiquiatria. CHPL - Hospital Júlio de Matos, 3, 129-139.
Figueiredo, D. (2007). Cuidados Familiares ao Idoso Dependente. Lisboa: Climepsi. Figueiredo, D., Lima, M. P., & Sousa, L. (2009). Os “Pacientes esquecidos”: satisfação com a vida e perceção de saúde em
cuidadores familiares de idosos. Kairós. Revista da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, 12 (1), 97-112. Foster, R.P., & Foster, J.R. (1989). Group therapy with geriatric patients. In D. Halperin (Ed.), Group psychodynamics: New
paradigms and new perspectives (pp. 297-310). Year book medical publishers, inc. USA. Frazer, D. W., Hinrichsen, G. A., & Jongsma, A. E. (Eds.). (2011). The older adult psychotherapy treatment planner. New
York: Wiley. Gazda, G., & Pistole, C. (1985). Life skills training: A model. Counselling and Human Development, 19, 1-7. Genevay, B., & Katz, R.S. (Eds.). (1990). Countertransference and older clients. CA: Sage Publications, Inc. Gilbert, P. (2005). Compassion: Conceptualisations, Research and Use in Psychotherapy. East Sussex: Routledge. Glicken, M. (2009). Evidence-Based Counselling and Psychotherapy for an Aging Population. San Diego: Elsevier. Gonçalves, D., Albuquerque, P., & Martín, I. (2008). Reminiscência enquanto ferramenta de trabalho com idosos: Vantagens
e limitações. Análise Psicológica,1, 101-110. Greenberg, T. (2009). Psychodynamic Perspectives on Aging and Illness. New York: Springer. Halperin, D. A. (1989). Group psychodynamics: new paradigms and new perspectives. New York: Year Book Medical
Publishers. Hakim, R. M., Newton, R. A., Segal, J. & DuCette, J. P. (2004). A Group Intervention to Reduce Fall Risk Factors in Community
Dwelling Older Adults. Physical and Occupational Therapy in Geriatrics, 22(1), 1-20. Haley, J. (1999). Problem-Solving Therapy (2nd Ed.). San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Hepple, J. (2004). Psychotherapies with older people: an overview. Advances in Psychiatric Treatment. 10, 371-377. doi:
10.1192/apt.10.5.371 Johnson, D. R., Forrester, A., Dintino, C., James, M., & Schnee, G. (1996). Towards apoor drama therapy. The Arts in
Psychotherapy, 23(4), 293-306. Knight, B. G. (2004). Psychotherapy with older adults (3rd Ed.). New York: Sage. Leal, I. (2005). Iniciação às psicoterapias. Lisboa: Fim de Século. Leszcz, M. E. (1992). The interpersonal approach to Group psychotherapy. International Journal of Group Psychotherapy.
42(1), 37-62. Levine, B. & Schild, J. (1969). Group treatment of depression. Social work, 14, 46-52. Lichtenberg, P. A., & Duffy, M. (2000). Psychological assessment and psychotherapy in long-term care. Clinical Psychogy
Science & Practice, 7(3), 317-328. Lima, M. P. (2004). Como posso não me perder com tantas perdas. Psychologica, 22, 133-145. Lima, M. P. (2008). Counselling older adults with family issues: forgiving and empowering. In L. Sousa (Ed.). Families in later
life: emerging themes and challenges (pp.75-96). New York: Nova Science Publishers, Inc. Lima, M. P. (2010). Envelhecimentos. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra. Lima, M. P. (2011). Intervenção em grupo com pessoas idosas. In P. M. Matos, C. Duarte & M.E. Costa (Coords.), Famílias:
Questões de desenvolvimento e intervenção (pp.229-242). Porto: LivPsic. Lima, M. P. (2012). A arquitetura incompleta da personalidade na velhice. In Ó. Ribeiro & C. Paúl (Coords.), Manual de
Gerontologia (pp. 129-140). Porto: Lidel. Lima, M. P. (2013, 3ª edição atualizada e revista). Posso participar? Atividades de desenvolvimento pessoal para pessoas
idosas. Coimbra: Imprensa da Universidade. Lima, M.P.; Costa, J.J.; Silva, C.; Maia de Carvalho, M.; Simões, P. (2013). Promoção do bem-estar num grupo de
desenvolvimento pessoal através da aplicação de uma intervenção baseada nos princípios do mindfulness. Revista Iberoamericana de Gerontologia, 2, 38-51.
Lima, M. P., & Abigail (2011). Posso ser? Personalidade e envelhecimento. Coimbra: Minerva. Linden, M. E. (1954). The significance of dual leadership in gerontologic Group psychotherapy. International Journal of
Group Psychotherapy, 4, 262-73. Linden, M. E. (1953). Group psychotherapy with institutionalized senile women. International Journal of Group
Psychotherapy, 3, 150-270. Linden, M. E. (1955). Transference in Gerontological Group Psychotherapy. International Journal of Group Psychotherapy. 5,
61-79. Marziali, E., & Donahue, P. (2006). Caring for Others: Internet Video-Conferencing Group Intervention for Family Caregivers
of Older Adults with Neurodegenerative Disease. The Gerontologist, 46(3), 398-403.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 23-39
Lima & Oliveira
38
Moreno, Jacob, L. (1934). Who shall survive?: A new approach to the problem of human interrelations, Washington, DC: Nervous & Mental Disease Publishing.
Oliveira, A. L. (2011). Desenvolver a auto-eficácia para os cuidados de saúde de pessoas seniores: Construção de uma escala no âmbito do projecto europeu PALADIN. In A. B. Lozano et al. (Eds.), Libro de actas do XI Congreso Internacional Galego-Português de Psicopedagoxí, (pp. 447-455). Coruña: Universidade da Coruña.
Oliveira, A., Lima, M. P., & Godinho, P. (2011). Promover o bem-estar de idosos institucionalizados: um estudo exploratório com treino em Mindfulness. Revista Portuguesa de Pedagogia, 45 (1), 121-139.
Oliveira, J., & Lima, M. (2011). Terapia de Esperança: Uma intervenção grupal que visa promover a esperança de idosos institucionalizados. Psicologia, Educação e Cultura, 15 (2), 229-244.
Perls, F. S. (1976). The Gestalt Approach and Eye Witness to Therapy. New York: Bantam Books. Pratt, J. H. (1907). The class method of treating consumption in the homes of the poor. Journal of the American Medical
Association. 49, 755-759. Riley, K., & Carr, M. (1989). Group Psychotherapy With Older Adults: The Value of an Expressive Approach. Psychotherapy,
26, 366-371. Ribeiro, L., & Lima, M. (2012). Positividade. Impulso Positivo: Porto. Rogers, C. (1951). Client-centered Therapy: Its Current Practice, Implications and Theory. London: Constable. Rogers, C. (1970). On Encounter Groups. New York: Harrow Books. Rogers, C. (1980). A Way of Being. Boston: Houghton Mifflin. Saiger, G. M. (2001). Group psychotherapy with older adults. Psychiatry, 64 (2),132-145. Shapiro, J.L. (1978) Methods of Group Psychotherapy and Encounter: A Tradition of Innovation. Itasca, Illinois: Peacock
Publishing. Shyam, R. & Yadev, S. (2006). Indices of well-being of older adults: a study amongst institutionalized and
non-institutionalized elderly. Pakistan Journal of Psychological Research, 21(3), 79-94. Silver, A. (1950). Group therapy with senile psychotic patients. Geriatrics, 5, 147-50. Smith, E. (2006). The strength-based counseling model. The Counseling Psychologist, 34, 13-79. Szasz, T. (1961). The myth of mental illness: foundations of a theory of personal conduct. New York: Delta. Wetherell, J. L. (2002). Treatment of generalized anxiety disorder in older adults. Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 71(1), Feb 2003, 31-40. Woolhead, G., Tadd, W., Boix-Ferrer, J., Krajcik, S., Schmid-Pfahler, B., Spjuth, B., Stratton, D., & Dieppe, P. (2006). “Tu” or
“Vous?” A European qualitative study of dignity and communication with older people in health and social care settings. Patient Education and Counseling, 61, 363-371.
Yalom, I. (1985). The theory and practice of group counseling and psychotherapy (3rd Ed.). New York: Basic Books. Yalom, I. (2005). The theory and practice of group counseling and psychotherapy (5rd Ed.). New York: Basic Books. Yalom, I. (2008). De olhos fixos no sol. Parede: Saída de Emergência. Yang, J. A., & Jackson, C. L. (1998). Overcoming obstacles in providing mental health treatment to older adults: Getting in
the door. Psychotherapy, 35(4), 498-505. Zarit, S.H. & Knight, B.G. (Eds.), (1996). A guide to psychotherapy and aging: Effective clinical interventions in a life-stage
context. Washington: American Psychological.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 23-39
Lima & Oliveira
39
Group intervention with elderly people: The importance of the relationship
Abstract The slow development of intervention and psychotherapy with older people in Portugal is due to many factors,
among which stands out ageism and the predominance of biological development models. Effectively, the public
awareness on discrimination against people based on age is poor and the choice of development models that
guide our practice and intervention depends largely on training and technical expertise - domains where there is
still a long way to go in Portugal.
This paper presents an overview of historical, conceptual and practical aspects of group intervention in old age
underlining the importance of the therapeutic relation (rapport) to the effectiveness of this type of intervention .
Keywords
Group Intervention, psychotherapy, therapeutic relation, old age.
Received: 17.08.2014 Revision received: 18.11.2014
Accepted: 03.12.2014
Revista E-Psi, 2015, 5 (1) Published Online http://www.revistaepsi.com Revista E-Psi
Como citar/How to cite this paper: d’Araújo, M.A., Alpuim, M., Rivero, C., & Marujo, H.A. (2015) Possibilidades para envelhecer positivamente: Um estudo de caso com base na psicologia positiva. Revista E-Psi, 5(1), 40-75.
Possibilidades para envelhecer positivamente: Um estudo de caso com base na psicologia positiva
Maria Alexandra d’Araújo1, Margarida Alpuim2, Catarina Rivero3, & Helena Águeda Marujo4
Copyright © 2015. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License 3.0 (CC BY-NC-ND). http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
1Mestrado Executivo em Psicologia Positiva Aplicada, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – Universidade de
Lisboa (ISCSP-UL). Membro da Associação Portuguesa de Estudos e Intervenção em Psicologia Positiva (APEIPP). E-mail: [email protected] 2 Psicóloga Comunitária. Mestre (M.S.Ed.) em Psicologia Comunitária, School of Education and Human Development –
University of Miami. 3 Mestrado Executivo em Psicologia Positiva Aplicada, ISCSP-UL. Membro Fundador da Associação Portuguesa de Estudos e
Intervenção em Psicologia Positiva (APEIPP). 4 Professora Auxiliar, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – Universidade de Lisboa (ISCSP-UL). Membro
investigador integrado do Centro de Administração e Políticas Públicas do ISCSP, UL.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d'Araújo et al.
41
Resumo
A promoção de bem-estar e do florescimento humano tem sido o grande foco da investigação e intervenção na
área da Psicologia Positiva, integrando a busca de prazer (hedonismo), e de crescimento pessoal e propósito de
vida (eudaimonia). Neste artigo abordamos o envelhecimento a partir da dialética entre ganhos e perdas, numa
perspetiva orientada para a compensação das dificuldades e promoção do potencial de cada um. A Psicologia
Positiva poderá contribuir para esta área social, tendo em conta as possibilidades e limitações da fase avançada
da vida, bem como os significados pessoais de felicidade. Foi com base nesta abordagem que se desenvolveu
um programa de investigação-ação que tem vindo a decorrer nos últimos três anos, no Alentejo. A
população-alvo foi um grupo de 43 mulheres com idades avançadas, em quem se fazia notar a solidão, com
pouco (ou nenhum) envolvimento comunitário. O projeto Chá das Quartas surge assim como uma resposta
complementar socialmente eficaz e economicamente viável, com resultados positivos ao nível do bem-estar
subjetivo, propósito de vida, relacionamento interpessoal, e da participação e envolvimento na comunidade.
Palavras-chave Envelhecimento, psicologia positiva, bem-estar subjetivo, sentido de comunidade.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d'Araújo et al.
42
Introdução
A procura da felicidade é tão antiga quanto o próprio Homem (Bruni, 2010). Se
durante séculos este tema foi amplamente considerado pela filosofia, cada vez mais a
ciência psicológica se debruça sobre a Felicidade e o Bem-Estar, com vista à sua
compreensão, definição e promoção. É neste âmbito que surge o movimento da Psicologia
Positiva, cuja fundação é comummente associada à edição de um número especial do
Journal of American Psychologist inteiramente dedicado ao tema da Felicidade por
Seligman e Csikszentmihalyi (2000, p.5), onde afirmavam que a psicologia não estava a
produzir “conhecimento suficiente sobre o que faz com que a vida mereça a pena ser
vivida”.
Não obstante a Psicologia Positiva ser frequentemente considerada a nova ciência da
felicidade, este é um tema estudado cientificamente desde o início do século XX. Já em 1917,
Myerson propõe o conceito de eupahtics, definido como o “estudo do bem-estar dos
normais” (cit. por Angner, 2011, p.5). Desde então, outros autores contribuíram para uma
tendência a nível da ciência psicológica no sentido de conhecer mais sobre o bem-estar e
funcionamento ótimo do ser humano, tendência que após a II Guerra Mundial inverte para
um foco no negativo e/ou patológico (Linley, Joseph, Harrington, & Wood, 2006). Estas
tentativas de abordar a existência humana foram porém contributos pontuais, que se
enquadravam fora do mainstream (Delle Fave, Massimini, & Bassi, 2011). No pós II Guerra
Mundial, a atenção dada ao negativo, disfuncional ou patológico teve um crescendo já que
as exigências do momento iam no sentido de tratar e/ou minimizar danos provocados. Foi
tempo de melhor perceber a violência, o stress, a depressão e tantas perturbações
psicológicas que afetaram os que viveram tempos de guerra (Gable & Haidt, 2005;
Fredrickson & Kurtz, 2011), e que nos permitiu desenvolver metodologias de intervenção
para fazer frente a diversos desafios tanto na saúde mental como no bem-estar social.
Contudo, como referem Gable e Haidt (2005), é como se a psicologia “tivesse aprendido
como trazer as pessoas de oito negativos para zero, mas nem tanto compreender como
levá-las de zero a oito positivos” (p.103). Nesta perspetiva, o facto de apenas retirarmos a
dor, não será condição suficiente para vivermos no nosso melhor ou mesmo para garantir a
prevenção de situações futuras. É preciso conhecer os processos que conduzem ao
funcionamento ótimo do ser humano.
O movimento da Psicologia Positiva vem então juntar vários profissionais que, um
pouco por todo o mundo, orientavam o seu trabalho de investigação e intervenção numa
lógica de promover o bem-estar. Tal é facilitado a partir da potenciação de forças de caráter
(como a criatividade, a gratidão ou a esperança) e talentos individuais e coletivos, bem como
do questionar daquele que era sentido como um trabalho centrado nas falhas e problemas.
A Psicologia Positiva afirma-se, assim, como o “estudo das condições e processos que
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
43
contribuem para o florescimento ou funcionamento ótimo das pessoas, grupos e
instituições” (Gable & Haidt, 2005, p.104). Podemos identificar duas abordagens essenciais
na investigação da Psicologia Positiva e que cada vez mais são integradas nos modelos
explicativos de bem-estar: o estudo das emoções positivas, numa perspetiva da filosofia
hedónica (Helliwell & Wang, 2012), e o estudo dos talentos, virtudes humanas e desafios
para realizar o potencial de cada um, na perspetiva da eudaimonia (Keyes, Shmotkin, & Ryff,
2002). Embora ambas as tradições tenham em comum o considerarem os processos
inerentes à busca de uma vida boa – tal como concebido por Aristóteles –, estas podem ser
consideradas segundo três grandes polaridades: “estado versus processo; sentir versus
funcionar; realização pessoal versus realização integrada” (Delle Fave & Bassi, 2007, cit. por
Delle Fave et al., 2011, p.5).
No âmbito do hedonismo, procura-se compreender o impacto das atividades
gratificantes, bem como os processos para maximizar prazer e diminuir a dor (Peterson,
Park, & Seligman, cit. por Giannopoulos & Vella-Brodrick, 2011), numa aproximação à
filosofia de Epicuro (Delle Fave et al., 2011). Uma das teorias que emergiu na linha da
felicidade hedónica, com grande relevo, é a de Alargamento e Construção –
Broaden-and-build Theory – de Barbara Fredrickson (Fredrickson, 2003), cuja vasta
investigação desenvolvida aponta no sentido de que a experiência de emoções positivas
alarga a capacidade dos indivíduos em termos da atenção, perceção, flexibilidade de
pensamento ou criatividade, ampliando assim o seu reportório de comportamentos e
soluções perante os problemas, com impacto positivo a nível cognitivo, mas também
psicológico, social e físico (Fredrickson, 2003; Delle Fave et al., 2011; Fredrickson & Kurtz,
2011). Em 15 anos de investigação, Fredrickson tem vindo a sugerir fortes correlações entre
as emoções positivas que um indivíduo experiencia e o seu crescimento pessoal e
florescimento, para além de reforçar o papel evolutivo destas emoções na espécie humana
ao nível da construção de recursos pessoais e sociais (Fredrickson, 2013).
A perspetiva eudaimónica, por seu turno, é fortemente influenciada pelas ideias de
Aristóteles, que propôs uma abordagem da felicidade centrada na busca do significado de
viver uma vida boa (Ryan, Huta, & Deci, 2008). A felicidade eudaimónica é então
considerada enquanto processo contínuo (Delle Fave et al., 2011), com particular relevo no
alcance de objetivos pessoais, florescimento, significado e propósito, mais do que prazer ou
divertimento (Delle Fave et al., 2011; Helliwell & Wang, 2012). Passa pela realização do
daimon, a verdadeira natureza de cada pessoa (Deci & Ryan, 2008). Uma das áreas de
estudo de maior relevo no âmbito da eudaimonia tem sido o Sentido para a Vida (Meaning),
que valoriza a forma como os indivíduos constroem propósito para a sua existência, bem
como lidam com a dor e a integram na sua experiência de vida. Verifica-se que face a
situações mais desafiantes, os indivíduos diminuem o nível de felicidade hedónica, mas
podem reforçar o Sentido e Propósito de Vida (Baumeister, Vohs, Aaker, & Garbinsky, 2013),
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
44
satisfazendo assim “as necessidades de propósito, valor, sentido de eficácia e valor próprio”
(Baumeister & Vohs, 2002, cit. por Delle Fave et al., 2011, p.9).
Embora durante anos tenha havido uma tendência para se considerar cada uma das
perspetivas de forma isolada, cada vez mais autores integram hedonismo e eudaimonia no
modelo explicativo de bem-estar e florescimento humano (Huta & Ryan, 2010). Ryff (1995),
por exemplo, conceptualizou um modelo teórico para o bem-estar psicológico (Psychological
Well-Being, PWB) onde elege seis pressupostos distintos: 1-Autonomia (conservar a
individualidade num contexto social mais lato, autodeterminação); 2-Domínio do Meio
(adaptar o ambiente envolvente de forma a dar resposta às necessidades e desejos
pessoais); 3-Crescimento Pessoal (valorizar as capacidades e talentos pessoais); 4-Relações
Interpessoais Positivas (desenvolver e manter relações afetivas e de confiança); 5-Propósito
de Vida (dar significado aos esforços e desafios); e 6-Auto-Aceitação (reconhecer as virtudes
e capacidades próprias, bem como as limitações pessoais). Não obstante a autora propor o
PWB numa perspetiva eudaimónica, Huta e Ryan (2010) consideram que este integra as duas
dimensões. Através da escala criada para medir o PWB os autores consideram que se
medem não só a forma de viver (eudaimonia) como os outcomes do bem-estar (hedonismo).
Ainda que cada uma das filosofias tenha diferentes papéis no bem-estar, como verificado no
caso da vitalidade ou satisfação com a vida (Huta & Ryan, 2010), o hedonismo parece estar
mais associado a experiências transitórias, à ausência de preocupações e a resultados a
curto prazo, enquanto a eudaimonia estará mais relacionada com o sentido e capacidade de
apreciar, bem como com resultados a longo prazo (Huta & Ryan, 2010), e com uma relação
de mútua influência e complementaridade (Keyes et al., 2002) no processo humano de
florescer.
Envelhecimento e psicologia positiva
O envelhecimento humano é um processo pessoal, contínuo, incontornável, inevitável
e inerente à condição humana, a que se pode chamar desenvolvimento humano. Começa na
conceção e termina com a morte do indivíduo (Vaillant, 2003).
Considerando a vida como um ciclo ou lifespan, existem perdas e ganhos, sendo que
em determinada fase as primeiras tendem a superar as segundas (Baltes, 1987; Baltes &
Baltes, 1990). Em cada fase da vida há um possível olhar próprio e adequado para a
realidade do presente (Vaillant, 2003; Ebner, Baltes, & Freund, 2006), sendo que no
envelhecimento “o declínio físico é incontornável” (Gonçalves, Martín, Guedes, Cabral-Pinto,
& Fonseca, 2006, p.137). Verifica-se uma adaptação do ser humano ao longo da vida, tal
como descrito pelo Modelo da Seleção, Otimização e Compensação – SOC – em que Seleção
é um processo em que se estabelecem metas pessoais; a Otimização refere-se à aquisição e
à aplicação de meios relevantes para atingir melhores níveis de funcionamento; e na
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
45
Compensação são geridas as perdas já verificadas, passíveis de antever e/ou previsíveis
(Baltes & Baltes, 1990; Baltes, Baltes, Freund, & Lang, 1999; Freund & Baltes, 2002).
Vaillant (2003) adaptou e enriqueceu um modelo de desenvolvimento, propondo seis
etapas ao longo da vida, sendo suposto que a primeira aconteça na adolescência e decorra
até ao final da vida: 1-Identidade; 2-Intimidade; 3-Consolidação da Carreira;
4-Generatividade; 5-Sentido/Propósito Continuado; 6-Integridade. O autor salienta que o
processo nem sempre é linear, e que cada indivíduo tem o seu ritmo (Vaillant, 2003).
Na perspetiva de Vaillant (2003), são propostos sete indicadores que mostram o que
pode ter maior impacto e predizer um maior bem-estar em idades avançadas: a) as boas
companhias e amizades que se fazem durante a vida (que terão maior impacto do que os
acontecimentos negativos); b) a dedicação a alguém de forma genuína; c) um bom
casamento (ter uma conjugalidade positiva aos 50 anos prediz um maior bem-estar aos 80
anos do que os bons níveis de colesterol); d) um consumo controlado de álcool, tabaco e
outros estimulantes (os abusos de álcool comprometem negativamente um envelhecimento
positivo); e) a saudável ocupação do tempo; f) o cultivo das relações sociais, da curiosidade
intelectual e das aprendizagens ao longo da vida (depois da reforma este fator tem mais
impacto no bem-estar do que o rendimento económico auferido com essa reforma); e g) o
bem-estar subjetivo (sentir-se bem tem mais impacto no processo de bem envelhecer, do
que ter realmente saúde).
Os campos lexicais utilizados para definir o envelhecimento revelam e confirmam um
novo paradigma nesta temática (Fernández-Ballesteros, 2011). Assim, o envelhecimento
ativo é tido “como um processo de otimização de oportunidade para a saúde, participação e
segurança, no sentido de aumentar a qualidade de vida durante o envelhecimento” (Paúl,
2005, p.276); o envelhecimento produtivo coincide com uma visão otimista sobre as
capacidades dos idosos (Gonçalves et al., 2006); e o envelhecimento bem sucedido “pode ser
compreendido através do modelo de seleção, otimização e compensação, mecanismos de
adaptação interativos que procuram sempre a maximização dos ganhos e a minimização das
perdas” (Baltes, Staundinger, & Lindenberg 1999, cit. por Gonçalves et al., 2006, p.138).
Gergen e Gergen (2006), baseando-se no modelo do construcionismo social,
consideram o envelhecimento como um período gerador de vida, e não negando as perdas
inerentes ao processo de envelhecimento, referem quatro pontos que compõem o
Diamante do Lifespan: 1) Recursos relacionais (apoio da família e amigos, companheiros de
conversa, amigos imaginários e virtuais); 2) Bem-estar físico (bom funcionamento do cérebro
e do corpo); 3) Estados mentais positivos (bem-estar, felicidade, otimismo e satisfação com a
vida); e 4) Atividades envolventes (participação ativa em atividades físicas e mentais).
Os vários modelos sobre envelhecimento aqui descritos apontam assim para fatores
diversos que poderão contribuir e/ou influenciar o processo de envelhecer positivamente –
por exemplo, as relações de proximidade, o isolamento social, a saúde percebida, a atividade
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
46
social, entre outros. Nesta linha, foi criado, concretizado e avaliado um projeto de
intervenção, que a seguir se descreve.
Chá das Quartas: Um projeto de intervenção com mulheres em idade avançada
Apresentação do projeto
O envelhecimento da população, em especial no Alentejo, é uma questão que tem
desafiado a sociedade portuguesa a refletir e a implementar novos formatos de resposta
social que incluam a população mais envelhecida de forma positiva e construtiva.
O projeto Chá das Quartas nasce em 2010 em Vila Viçosa e surge no âmbito da atuação
da Conferência de S. Vicente de Paulo de Vila Viçosa (CSVPVV), instituição católica que tem
como propósito dar resposta e apoio de ordem material e espiritual a quem deles precise. O
projeto teve início com um grupo de mulheres de idade avançada, autónomas, e em quem
se fazia notar a solidão. Estas mulheres eram inicialmente assistidas pelas voluntárias da
CSVPVV, e o Chá das Quartas emerge de inquietações sentidas, quer pelas voluntárias, quer
pelas idosas: falta de recursos humanos, vontade de mais momentos de convívio, e
necessidade de aprofundamento das relações de proximidade. Surge uma convergência de
interesses e é criado um espaço de encontro semanal para as idosas com o
acompanhamento das voluntárias. Foi então sugerido às mulheres que as visitas
domiciliárias individuais fossem substituídas por esta nova forma de intervenção, orientada
para uma abordagem relacional e comunitária. Aceite o convite – que não era de caráter
obrigatório – era ainda permitido que as participantes trouxessem outras idosas da
comunidade, independentemente de receberem ou não apoio social dos serviços locais.
O Chá das Quartas tem vindo a decorrer nos últimos três anos, e o nome do grupo
resulta do facto de o encontro ser semanal – às quartas feiras – e terminar com um chá. As
sessões são ritualizadas – atividades práticas, dialogo livre, oração e lanche – e em grupo,
num horário fixo e com a duração de duas horas. Há uma dinâmica participada e
co-construída – momentos de partilha, realização de trabalhos manuais, tais como rendas,
bordados, pinturas, desenho, e realização de artigos para vendas ocasionais. Estas atividades
podem ser livres ou orientadas.
O objetivo deste projeto foi conceber uma resposta socialmente eficaz e
economicamente viável para este grupo e esta comunidade, por forma a garantir um
envolvimento relacional e comunitário efetivo e construtivo. Pretendia-se promover uma
plena integração das idosas na comunidade com ganhos bilaterais, quer para as
participantes quer para a comunidade, e dar resposta e/ou prevenir situações de solidão
cujo risco foi percebido pelos agentes envolvidos. De realçar que, numa fase inicial, a adesão
foi muito positiva e a tendência manteve-se nos três anos seguintes.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
47
Áreas Específicas da Psicologia Positiva
O presente projeto foi desenvolvido integrando a Psicologia Positiva, nomeadamente
algumas áreas específicas que passamos a apresentar: a) esperança, de Snyder (2002), como
um processo de definição de objetivos concretos e realistas, no sentido de estarem
adequados à idade e realidade de cada indivíduo, e os respetivos caminhos e recursos para
os alcançar, potenciando um sentido pessoal de autoeficácia; b) flow (Csikszentmihalyi,
1990) como um estado interior de envolvimento com uma tarefa, desenvolvida com um
elevado nível de concentração e atenção, para a qual os indivíduos consideram que têm
competência e onde sentem um nível ótimo de desafio. Durante esta vivência, denominada
também “experiência ótima”, a noção do tempo, do próprio “eu” e de eventuais problemas
tende a desaparecer ou a distorcer-se; c) espiritualidade, que proporciona um sentimento
de pertença e de segurança a experiências de apaziguamento interior, abertura para
relações positivas, esperança e maior sentido de e para a vida e para o próprio sofrimento.
Há uma aceitação da vida e seus desafios, onde a idade e maior proximidade da morte estão
incluídas (Vaillant, 2003; Vaillant, 2008); d) reforço positivo é um elemento relevante para o
bem-estar (Seligman, 2002) e tende a ser gerador não só de emoções positivas, mas também
funciona como um convite a reproduzir a ação positiva, ao mesmo tempo que é facilitador
de envolvimento social e promove relações positivas (Gable, Impett, Reis, & Asher, 2004;
Gable, Strachman, & Gonzaga 2006; Gable, 2007); e) escuta ativa construtiva (Maisel, Gable,
& Strachman, 2008), enquanto forma de comunicação relevante na área relacional, e cujos
benefícios em relações de proximidade se revelam positivos e facilitadores de relações de
confiança; f) emoções positivas, quer pelo impacto ao nível da saúde, quer para atenuar
emoções negativas, ou ainda por forma a aumentar a capacidade de sentir e perceber o que
de bom acontece. Permitem aumentar a propensão para interagir com os outros, apreciar e
desfrutar de novas experiências e desafios, e ainda estimular a capacidade de ajudar o outro
(Lyubomirsky, 2000; Frederikson, 2003); g) gratidão, uma virtude relevante para a felicidade
dos indivíduos. É transformativa e tem impacto positivo ao nível das relações interpessoais,
do altruísmo e da capacidade de lidar com os desafios. Tende a diminuir os impulsos
negativos e destrutivos, e aumenta as emoções positivas (Emmons, McCullough, Kilpatrick,
& Larson, 2001; Emmons & McCullough, 2003; Emmons & Paloutzian, 2003; Emmons &
Kneezel, 2005; Emmons 2009); h) humor positivo, dimensão que integra a capacidade de
criar sentido de humor, apreciar o humor e disfrutar da vida, otimismo face a problemas, e o
estabelecer de relações positivas, com benefícios físicos e emocionais (Larrauri, 2006;
Laurrari, 2010); e i) relações de proximidade, no sentido da necessidade de pertença e de
fazer face à natural inadaptação para a solidão, que faz com que o grupo de pares funcione
como um lugar de referência e segurança. As relações de proximidade têm impacto
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
48
positivo na saúde dos indivíduos, ajudam a lidar melhor com o stress e com os eventos
negativos (Myers, 1999).
Metodologia
Contexto da investigação
No momento em que se começaram a formalizar os encontros semanais do Chá das
Quartas, em 2010, a organização pediu apoio a especialistas e estudantes da área de
Psicologia Positiva para a criação de estratégias que pudessem facilitar o acolhimento das
idosas no grupo e o desenvolvimento de um sentimento de pertença e coesão. Com o passar
do tempo e a conquista de espírito de grupo foi colocada a hipótese de elevar o diálogo para
um registo de investigação-ação. Seria assim possível, por um lado aplicar práticas e
instrumentos da Psicologia Positiva de forma mais sistemática de maneira a estimular as
potencialidades do grupo, e por outro ir descrevendo e percebendo o impacto do Chá das
Quartas, quer nas mulheres, quer na comunidade.
À medida que o grupo foi ganhando dinâmica e visibilidade, foi-se sentido no discurso
e atitude das mulheres o impacto positivo das questões apreciativas e das práticas de
promoção de emoções e relações positivas, e houve um envolvimento crescente na
comunidade. Assim, pareceu estar fundamentada a pertinência de continuar com esta
abordagem investigativa, tendo o percurso culminado, em 2013, num manuscrito onde é
feita a descrição do processo e a análise detalhada de todo o corpo de dados (d’Araújo,
2013b). Este artigo é o resultado de uma leitura centrada nos fatores de bem-estar subjetivo
e nas práticas que mais parecem estar a contribuir para o bem-estar das idosas.
Participantes
O Chá das Quartas é formado por um grupo de 43 mulheres todas autónomas, na sua
maioria multidesafiadas por situações de doença, limitações físicas, contextos familiares e
económicos, e/ou isolamento. A idade das participantes distribui-se entre os 57 e os 95
anos, e a maioria das mulheres tem uma idade igual ou superior a 80 anos.
A entrada no grupo Chá das Quartas foi aberta a todas as mulheres que manifestaram
interesse em participar, embora o projeto tenha sido concebido para dar resposta a
mulheres de idade avançada. Neste artigo, optou-se por usar o termo “idade avançada” para
caracterizar os indivíduos que se encontram na terceira e na quarta idade. Smith &
DeFrates-Densch (2009) balizam a terceira idade entre os 65 e os 80 anos, e a quarta idade
entre os 80 e os 100 anos.
No Quadro 1 apresentam-se os indicadores sociodemográficos deste grupo.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
49
No que diz respeito ao nível de escolaridade, uma grande parte das mulheres (49%)
tem estudos até ao 4º ano. A adesão das mulheres ao grupo deu-se em diferentes
momentos: muitas começaram a participar no primeiro ano (42%), algumas entraram a meio
do projeto (30%), e um número mais reduzido aderiu ao Chá das Quartas no último ano
(16%). A situação de vida das mulheres antes da entrada no grupo é reveladora de duas
realidades bem distintas: por um lado, a existência de relações familiares relevantes (39%) e
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
50
de alguma atividade social (23%) e, por outro lado, as situações de isolamento, sejam elas
referentes à solidão povoada (16%) – quando existem relações familiares, mas pouco ou
nada afetivas e com pouco ou nenhum contacto – ou à solidão efetiva (12%).
Instrumentos
No presente artigo são analisados os dados recolhidos através de sete instrumentos
(ver Quadro 2)5: três questionários aplicados às participantes (Questionário I, Questionário II
e Questionário III), duas cartas de gratidão aplicadas às participantes (Carta de Gratidão I e
Carta de Gratidão II), um questionário aplicado às voluntárias que acompanham este grupo
de mulheres (Questionário às Voluntárias), e um questionário aplicado a elementos da
comunidade local com relações próximas às mulheres – familiares, vizinhos, amigos – sendo
que os respondentes foram escolhidos pelas próprias participantes (Questionário à
Comunidade).
5 Na investigação de maior escala que serve de base ao presente artigo foram ainda utilizados outros
instrumentos para a recolha de dados que não são analisados no âmbito deste artigo, pelo que aqui não é feita referência a esses instrumentos (ver d’Araújo, 2013b).
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
51
A organização dos guiões dos diferentes instrumentos teve em conta os objetivos do
estudo, as questões de investigação e as referências metodológicas dos estudos descritos na
revisão da literatura da Psicologia Positiva. A maioria das questões é de resposta aberta, de
carácter apreciativo e generativo, e inspiradas nos princípios do Inquérito Apreciativo
(Cooperrider & Whitney, 2001; Marujo, Neto, Caetano, & Rivero, 2007). De salientar os
princípios a) da simultaneidade – ao questionar já se está a intervir; b) antecipatório – ao
colocar questões sobre sonhos, objetivos e novas realidades promove-se a mudança; e c)
positivo – a formulação de questões de um ponto de vista positivo apela a uma
transformação positiva (Marujo et al., 2007).
Os instrumentos foram criados de forma ajustada à realidade em causa, sem que
tenham sido usadas escalas formais por não haver a pretensão de fazer uma descrição
métrica dos fenómenos psicológicos das participantes. Ainda assim, para a construção dos
guiões recorremos à adaptação de algumas ferramentas metodológicas já existentes,
nomeadamente: a) as Três Bênçãos – Three Blessings (Seligman, 2012) – em que é pedido
aos participantes para registarem os três momentos de cada dia mais positivos e/ou com os
quais se sentem gratos; b) as Cartas de Gratidão, baseadas na investigação de Robert
Emmons (2009), em que se pede aos participantes para escreverem uma carta em que
demonstrem gratidão por situações ou eventos experienciados. Considerando o
enquadramento religioso do grupo e o contexto deste estudo, e tendo em conta que neste
caso a totalidade das participantes se identifica com a religião católica, foi pedido que as
cartas fossem dirigidas a Nossa Senhora, já que se trata de uma figura de referência e
segurança, e muito presente na história, vida e discurso das participantes; c) a Escala do
Bem-Estar Psicológico (Ryff, 1995; Ferreira & Simões, 1999) e, em particular, as dimensões
que a integram – autonomia, domínio do meio, crescimento pessoal, relações interpessoais
positivas, propósito de vida, e autoaceitação; e d) a abordagens à satisfação com a vida e a
felicidade (e.g., Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985; Myers & Diener, 1995;
Lyubomirsky, & Lepper, 1999).
Assim, os questionários compreendem perguntas relativas aos sonhos, às bênçãos, aos
melhores momentos, aos índices de felicidade e gratidão (registo da auto-perceção do nível
de felicidade e de gratidão numa escala de 1 a 10), entre outras.
Procedimentos
Paradigma
Os pressupostos ontológicos, epistemológicos, ideológicos e metodológicos do
presente estudo assentam no paradigma construtivista (Nelson & Prilleltensky, 2010).
Partimos para a investigação conscientes de que o real é multifacetado e composto por
múltiplas perspetivas e que o investigador, bem como os participantes e restantes equipas
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
52
ou comunidades, estão interligados nessa mesma complexidade. O paradigma construtivista
é ainda muito relevante para os estudos e investigações com âmbito social e comunitário,
implica ação, e está muitas vezes ligado a abordagens de investigação-ação permitindo ou
sendo um convite impulsionador para a mudança social (Nelson & Prilleltensky, 2010).
A presente investigação enquadra-se no método de estudo de caso. Segundo Yin
(2009), o estudo de caso é o formato mais desafiante para a investigação social. O cuidado
com a análise da informação revela-se premente e a sistematização e organização da
informação é fundamental para dar corpo e forma ao estudo. Dentro das ciências sociais, o
estudo de caso revela-se de uma grande aplicabilidade uma vez que permite um estudo
rigoroso de fenómenos complexos. A forma como se aborda a realidade permite muitas
vezes que sejam levantadas questões para futuros estudos (Yin, 2009).
Questões de investigação
O projeto de investigação que serviu de base a este artigo procurou dar resposta às
seguintes questões de investigação: a) Como reduzir o sentimento de solidão deste grupo de
mulheres com as práticas da Psicologia Positiva?; e b) Como aumentar o envolvimento e o
sentido de comunidade neste grupo de mulheres através das práticas da Psicologia Positiva?
(cf. d’Araújo, 2013b). Neste artigo, iremos procurar perceber essencialmente: a) Quais os
fatores de felicidade (bem-estar subjetivo) percebidos pelas participantes, ao longo do
projeto; e b) Quais as práticas do projeto que parecem ter mais impacto na promoção do
bem-estar das mulheres.
Recolha de dados
No momento da entrada no Chá das Quartas, as mulheres foram questionadas acerca
da sua disponibilidade/vontade para integrar a investigação. Todas as mulheres
responderam afirmativamente, pelo que o estudo recai sobre a totalidade das mulheres do
projeto. A caracterização do grupo (ver Quadro 1) foi feita através da recolha de
informações junto das mulheres, dos familiares, dos serviços de apoio social da Conferência
de São Vicente Paulo e da Câmara Municipal de Vila Viçosa, e de outros elementos da
comunidade (e.g., vizinhos). Sempre que não foi possível aferir com exatidão os dados para
determinados indicadores, as respostas foram contabilizadas na categoria “Sem resposta”.
Os instrumentos foram distribuídos pelas mulheres que se encontravam presentes na sessão
nos dias da aplicação, sem que houvesse aviso prévio. Uma vez que a presença no grupo não
era obrigatória, os instrumentos não foram aplicados à totalidade das mulheres, sendo o
número de respondentes variável para cada instrumento (ver Quadro 2). Dado o caráter
voluntário do preenchimento dos instrumentos, as mulheres responderam livremente às
questões; assim sendo, em cada instrumento existem perguntas às quais algumas das
inquiridas não responderam. As participantes que não sabem escrever ou que revelaram
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
53
dificuldades em fazê-lo foram ajudadas pelas voluntárias de apoio ao grupo. Estas leram os
guiões e reproduziram as respostas dadas. Os eventuais constrangimentos de uma aplicação
de instrumentos por terceiros foram justificados pelo facto de não estarem a ser aplicadas
escalas formais e protocolos normativos, mas antes instrumentos que procuraram respeitar
critérios de naturalidade.
Análise de dados
Neste estudo foi usada uma abordagem de métodos mistos para analisar os dados –
análise temática e estatística descritiva6. A análise de conteúdo permitiu respeitar o valor
associado às palavras utilizadas pelas participantes nos vários instrumentos de recolha de
dados – Pressman e Cohen (2007) salientam a relevância das palavras para a compreensão
de fenómenos sociais – ao mesmo tempo que os dados quantitativos permitiram ler os
resultados de forma mais descritiva. Tal abordagem é recomendada para estudos de caso
em que se quer dar uma visão mais completa da realidade, e para estudos etnográficos onde
são aplicados questionários breves (O’Leary, 2010).
Dado o carácter qualitativo prevalente da investigação e a natureza da informação
recolhida, a análise dos dados primordial foi feita com recurso à técnica de análise temática
das narrativas recolhidas nos vários instrumentos. Os procedimentos decorreram de uma
adaptação do processo de análise temática sugerido por Braun e Clarke (2006). Não foi
utilizado nenhum software para análise qualitativa de dados, uma vez que se optou pela
criação de matrizes feitas à medida para o estudo em causa. A eventual perda de vantagens
na utilização de métodos manuais de análise – em detrimento de softwares de gestão de
dados qualitativos – foi compensada pela sistematização rigorosa do método de codificação
e pela presença de mais de um avaliador – análise de conteúdo inicialmente realizada por
um investigador e, posteriormente, revista e discutida com um segundo elemento.
Resultados
Os resultados apresentados remetem para as categorias emergentes da análise de
conteúdo, e serão analisados tendo em conta a quantificação das ocorrências nos
instrumentos aplicados. Neste estudo, são valorizadas todas as respostas mesmo quando
existe apenas uma ocorrência, dado que nestas idades o facto de um elemento demonstrar
uma determinada capacidade abre portas à possibilidade de explorar as potencialidades de
cada idoso.
6O recurso à estatística descritiva serviu o propósito de agilizar a leitura de alguns dados, para que se pudesse
evoluir para uma descrição das categorias que se revelaram mais ou menos prementes em cada resposta. Tendo em conta os princípios da Psicologia Positiva, o modelo de investigação-ação e a abordagem qualitativa e construtivista que serviram de base ao presente estudo, optámos por analisar os dados considerando a sua utilidade e pertinência para o processo contínuo de mudança da comunidade implicada, em detrimento de critérios de significância estatística.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
54
Índices de felicidade e gratidão
Tal como podemos constatar na Figura 1, tanto os índices de gratidão como os de
felicidade são elevados, verificando-se uma evolução positiva em ambos, ao longo do
projeto. De notar que o Índice de Felicidade começou a ser avaliado apenas em 2011.
Envolvimento na comunidade
No Quadro 3, estão listados os dezanove eventos comunitários7 relevantes em que as
mulheres participaram, desde 2010 até Setembro de 2013. Estas são atividades que se
constituem como uma novidade na vida da maior parte das mulheres do grupo. De notar
que uma grande parte destes eventos comunitários estão associados a práticas religiosas,
tais como: o jantar de homenagem ao Pe. Mário Tavares, a peregrinação a Fátima, a
participação nas reuniões mensais do Apostolado de Oração, e a hora semanal de adoração
no Santuário. Um evento de grande impacto foi a publicação de um livro em que todas as
participantes colaboraram, com o registo de memórias positivas, nomeadamente histórias
de vida, lendas e tradições do seu passado, e apresentação pública do mesmo à comunidade
(d’Araújo, 2013a).
7Consideram-se eventos comunitários de relevo todos aqueles que cumpram seis dos sete seguintes
pressupostos: 1) ser convidado ou inscrito como grupo; 2) o grupo organizar-se enquanto grupo para permitir a sua participação; 3) participação voluntária do grupo; 4) papel ativo do grupo; 5) haver outras pessoas envolvidas para além do grupo; 6) haver uma organização diferente da organização do grupo; ou 7) o grupo organizar-se para prestar serviços ou realizar eventos a ou para terceiros (Araújo, 2013b).
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
55
O envolvimento das participantes na comunidade parece ser sentido de forma positiva
pela população. Em todas as respostas dadas nos questionários pelas voluntárias do projeto
verifica-se uma perceção positiva da atitude da comunidade face ao grupo, como se pode
ver na Figura 2.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
56
No que respeita ao envolvimento comunitário, é demonstrado nas respostas das
voluntárias (100%) um aumento neste aspeto, reconhecendo assim um crescendo do
envolvimento comunitário das participantes do projeto (Figura 3).
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
57
Bênçãos: Os melhores momentos percebidos
A partir das respostas à questão das Três Bençãos verificámos na análise das mesmas
que o contacto com a família (26% em 2010, e 35% em 2011), a saúde própria e dos outros
(26% em 2010, e 13% em 2011), bem como o próprio projeto chá das Quartas (26% em
2010, e 57% em 2011), foram as principais bênçãos referidas (Figura 4).
De destacar o facto de grande parte das participantes ter referido o Chá das Quartas
como uma das bênçãos mais valorizadas, e de este evento quase duplicar a percentagem das
respostas de 2010 para 2011. Verifica-se ainda a redução da percentagem na categoria
“saúde”, do primeiro para o segundo ano. Das respostas obtidas no exercício Carta de
Gratidão verificámos uma especial predominância da gratidão pela família (100% em ambos
os exercícios de gratidão realizados), sendo também relevante a questão da saúde, própria
ou dos familiares (62% em 2011, e 69% em 2013). Ainda de referir a gratidão relacionada
com a espiritualidade, nomeadamente a “proteção de Nossa Senhora” (38% e 46%), “todas
as graças” (27% e 46%) e o “dom da vida”/“vida” (23% e 42%). Destacamos ainda o facto de
o Chá das Quartas não ser referido neste exercício em 2011, e surgir em 23% das cartas
redigidas em 2013 (Figura 5).
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
58
Relações interpessoais
Na análise das respostas dadas à questão “O Chá das Quartas é…” verifica-se que as
participantes descrevem este grupo como um espaço de interação com outros, como
constatado nas categorias “convívio” (57%) e “amizade” (9%) (Figura 6).
Sobre a forma como é percebido o encontro do Chá das Quartas, as respostas
demonstram que este é um espaço positivo [“bom/muito bom” (31%), “espaço agradável”
(26%) e “fonte de bem-estar” (9%)]. Outras categorias referidas foram “fuga/quebra de
solidão” (13%), “dia diferente” (13%), e “distração” (9%).
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
59
Quando questionadas acerca dos sonhos que têm para o futuro, as participantes dão
respostas considerando sobretudo as relações de proximidade e a saúde: em primeiro lugar
o “bem-estar da família” (26%) e a “saúde e bem-estar da própria” (26%), seguindo-se
“outros/família” (17%) e ainda a “ajuda ao próximo” (13%) (Figura 7).
Por seu lado, e agora do ponto de vista das voluntárias, a “realização de atividades”
(50%) é vista como um dos momentos mais ricos em termos de vivências pessoais para as
participantes (Figura 8). De salientar, também, a referência feita pelas voluntárias aos
“eventos comunitários” (38%) como momentos altos da experiência do projeto.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
60
Ainda do ponto de vista das voluntárias, quando questionadas acerca do melhor
momento do grupo, as respostas consideraram as próprias “sessões” (25%), alguns “eventos
comunitários” (25%) e as “conversas entre as mulheres” (13%). De destacar que 50% das
respostas fizeram referência às “emoções resultantes da interação” (Figura 9).
Voltando à perspetiva das participantes, as mesmas foram inquiridas acerca do seu dia
da semana favorito. Dos resultados apresentados nas Figuras 10 e 11, emergem as
categorias “Domingo” (52%) e “Quarta-feira” (30%) (Figura 10), pelas atividades e práticas
religiosas (52%), pela possibilidade de estar com a família (30%), e pelo convívio no Chá das
Quartas (30%) (Figura 11).
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
61
Foi questionado às participantes quais os equipamentos sociais a que recorrem e quais
aqueles que mais contribuem para o seu bem-estar. De destacar que grande parte das
mulheres indica o Chá das Quartas (73%) e a Conferência de S. Vicente de Paulo (27%) como
os equipamentos que mais lhes proporcionam bem-estar (Figura 12).
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
62
Saúde percebida
Relativamente à saúde subjetiva, destacamos que a maioria das mulheres (90%)
percebeu alterações no seu estado de saúde desde que começou a frequentar o projeto
(Figura 13), ainda que não existam indicadores objetivos que possam confirmar tal perceção.
Foi ainda referido um aumento do bem-estar geral (50%) e maiores níveis de distração
(25%), no sentido de quebra de rotinas (Figura 14).
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
63
Nos questionários aplicados aos elementos da comunidade com relação próxima com
as participantes do projeto, 100% dos respondentes referiram também uma perceção de
melhoria da situação de saúde das mulheres, desde o início das atividades do projeto (Figura
15). Do ponto de vista da comunidade, destaca-se ainda a clara perceção de aumento dos
níveis de atividade (100%), aumento da boa disposição (83%) e entusiasmo com o convívio
(67%) (Figura 16).
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
64
Quando perguntado diretamente às participantes “Nos últimos tempos sente maior
facilidade ou dificuldade em andar, deslocar-se e em fazer as suas coisas?”, a maioria relata
sentir menos agilidade na execução das atividades de vida diária (55%), mais dificuldades
gerais (40%) e mais dificuldade em andar (40%) (Figura 17 e Figura 18). Embora a agilidade
pareça ter diminuído, 25% das participantes reporta manter as suas rotinas do dia-a-dia. De
salientar que a mera deslocação semanal para os encontros acarreta em si esforço físico (o
apoio antes era feito no domicílio), para além de a maioria das mulheres aceitar as novas
solicitações feitas pela comunidade e decorrentes da sua participação no grupo.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
65
Artes e habilidades
Em relação à dimensão artes e habilidades, observamos que quase todas as
respondentes, não só consideram ter habilidades, como também identificam as suas áreas
de eleição (Figura 19).
Destacamos “trabalhos domésticos gerais” (22% em 2010, e 43% em 2011), “costura”
(43% em 2010, e 22% em 2011), “trabalhos de campo” (13% em 2010, e 35% em 2011),
“crochet/malha” (13% em 2010, e 26% em 2011) e “bordados” (26% em 2010, e 22% em
2011).
Discussão e Conclusão
Os dados serão analisados à luz dos modelos de Bem-Estar Subjetivo de Ryff (1995) e
de Sentido de Comunidade de McMillan e Chavis (1986), recorrendo a excertos das
narrativas das mulheres extraídos da análise de conteúdo. Estes excertos pretendem
contribuir para ilustrar os resultados discutidos, enfatizar o caráter humano do projeto Chá
das Quartas, e reforçar a natureza descritiva e qualitativa da investigação.
A busca de felicidade é um processo continuado ao longo de todo o ciclo vital. As
“duas faces da felicidade, a centrada nas virtudes do ser e outra orientada para a satisfação
do ter, relacionam-se com as perspetivas teóricas dominantes em torno do bem-estar no
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
66
âmbito da Psicologia.” (Novo, 2005, p. 184). Por seu turno, o envelhecimento desafia os
indivíduos para uma adaptação e novos equilíbrios, tendo em conta ganhos e perdas
experimentados, em que florescer é, ainda assim, possível.
As mulheres que participam nas atividades do Chá das Quartas parecem demonstrar
que a felicidade é possível em idades avançadas e que tal passa por integrar a
complexidade de múltiplos fatores que podem convergir para o aumento do bem-estar
(d’Araújo, 2013b).
Os resultados analisados no presente artigo são passíveis de cruzar com o conceito de
bem-estar psicológico de Ryff (1995), sendo que algumas das dimensões consideradas neste
modelo evidenciam uma presença mais forte do que outras nas narrativas destas mulheres.
Uma dimensão que se evidencia é o Relacionamento Interpessoal Positivo, presente
nos resultados em que as participantes consideram o Chá das Quartas como um espaço de
convívio, amizade e fuga/quebra da solidão, para além de que a própria comunidade
considera perceber um entusiasmo destas mulheres com a participação no projeto. Este vem
assim fortalecer a rede de suporte deste grupo. Nas Cartas de Gratidão há um elevado
número de respostas que se referem à família e, nas perguntas dos questionários sobre as
suas bênçãos, são referidos o espaço do Chá das Quartas e o contacto com a família.
Relevante será ainda o facto de elegerem o Domingo e a Quarta-Feira como os dias da
semana favoritos, pelas atividades comunitárias e o contacto com a família. Destacamos
ainda nesta dimensão o facto de todas as voluntárias, que dinamizam este projeto,
considerarem que houve um aumento de participação comunitária das participantes. Nos
vários instrumentos de avaliação aplicados às voluntárias, sobressai o grande impacto
percebido deste projeto nas relações interpessoais positivas das participantes, sublinhando
como foi importante “Ver a alegria delas” ou como se destaca a forma como “Expõem as
dificuldades umas às outras”.
O Propósito de Vida é outra área que se destacou ao longo do projeto nos registos
considerados, em particular no que diz respeito às crenças que dão sentido à vida. No
âmbito da espiritualidade, verificámos um aumento das referências às atividades religiosas
nas bênçãos descritas pelas mulheres, e um maior número de eventos comunitários de cariz
religioso em que o grupo participa - “só quando vim para o convívio é que comecei a rezar
mais. Agora vou sempre à missa”. Contudo, não podemos afirmar que tenha havido um
aumento da espiritualidade em si. As participantes demonstram ainda, nas respostas dadas,
estarem orientadas para a concretização de objetivos na sua vida, quando questionadas
sobre os seus sonhos. Estes prendem-se maioritariamente com questões de bem-estar
próprio e dos familiares - “que seja feliz e ver os meus filhos e netos felizes” - e com a
aspiração de manter uma vida ativa e útil - “saúde para ajudar o próximo” e “poder
proporcionar aos outros alguns ensinamentos que me foram facultados”.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
67
No que se refere ao Crescimento Pessoal, é notório o aumento de abertura a novas
experiências como se evidenciou em várias atividades das quais destacamos a participação
ativa na edição do livro “Lavrar o Tempo no Chás das Quartas” (d’Araújo, 2013a). Para tal foi
necessário desafiar rotinas e mesmo o contacto com o público e comunidade, com quem
partilharam narrativas e tradições da sua história de vida. Há ainda a potenciação de
talentos e capacidades na medida em que houve um aumento significativo das referências a
atividades como a malha ou o crochet, para além de prática continuada de bordados e
costura. Consideramos, porém, que quando as participantes identificam as suas “artes e
habilidades”, as respostas comparativas de 2010 para 2011 podem não espelhar claramente
a variação da prática das atividades em si, mas sim a valorização destes conhecimentos e
talentos nas suas vidas. Tal é visível no aumento significativo de “trabalhos de campo” – que
naturalmente não corresponde à vivência real dada a idade avançada – ou de “trabalhos
domésticos gerais”.
Relativamente à dimensão Autonomia, os resultados mostram evidência de que estas
mulheres mantêm as suas vivências e metas, de acordo com o que lhes faz sentido. Note-se
que uma grande parte vive só, mantendo rotinas da vida diária e atividades, quer ligadas à
sua crença religiosa, quer ao contacto com a comunidade. Há ainda um cuidar da sua saúde
autonomamente, por exemplo, respeitando a medicação. Independentemente de pressões
familiares ou de outras pessoas da comunidade, e de limitações devidas à idade e saúde, as
participantes demonstram uma forte autodeterminação para manter o seu quotidiano. Tal é
verificado no esforço físico que as diferentes atividades requerem: “E eu, apesar de estar há
uns anos invisual, ainda continuo a trabalhar em malhas”.
No âmbito do Domínio do Meio, há efetivamente um decréscimo das competências,
tal como apontado por Ryff e Singer (2002, 2006) relativamente às pessoas de idade
avançada. Contudo, consideramos ser de grande relevo, mesmo que nem sempre seja visível
nos resultados, que todas as mulheres se mantêm ativas, gerindo as suas casas e muitas
vezes adaptando-as de forma a manter a maior funcionalidade possível, tendo em conta as
limitações crescentes - “custa-me já mais a fazer as coisas, mas ainda vou fazendo, até tenho
caiado a pouco e pouco”. Em muitos casos, procuram compensar as dificuldades com
adaptações ou estratégias que vão descobrindo no seu dia-a-dia para fazer face às
necessidades, “Agradeço o dom para cozinhar (pois embora com sacrifício porque pouco
vejo) e por isso consegui governar-me sempre”.
Finalmente, ao nível da Autoaceitação, verifica-se ao longo do decorrer do projeto um
convite ao reconhecimento dos talentos e virtudes de cada mulher, com efeitos positivos na
atitude face ao self e no bem-estar. Ao reportarem as suas artes e habilidades, as mulheres
têm a oportunidade não só de recuperar e eventualmente dar sentido e valor aos seus
talentos passados – “Fazia crochet, cozia, qualquer trabalho (doméstico, campo,
comerciante)” – mas também de enriquecer o seu presente – “Normalmente dedico o meu
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
68
tempo à pintura, desenho e bordados”. O facto de as mulheres parecem sentir-se mais vivas
aquando da realização de atividades, na perspetiva das voluntárias, poderá ser indicador de
que o sentimento de utilidade tem impacto na perceção de uma vida mais plena – “Já pouca
coisa me resta fazer, mas desejava continuar a ser útil naquilo que sei fazer”. Uma atitude
positiva face ao self não recusa as limitações inerentes à idade avançada, tal como é
demonstrado pelo aumento dos níveis de atividade, em simultâneo com a diminuição da
agilidade.
O florescimento humano em idades avançadas parece, assim, passar pela experiência
de emoções positivas, numa perspetiva hedónica, bem como pela busca de sentido para a
vida (eudaimonia). Considerando a perspetiva de Huta e Ryan (2010) sobre o conceito de
Bem-Estar Psicológico de Ryff (1995), que contempla ambas as abordagens (hedónica e
eudaimónica), haverá um equilíbrio ajustado ao longo da vida integrando as potencialidades
e limitações, sonhos e aspirações, e significados atribuídos.
Práticas de sucesso na intervenção com mulheres em idade avançada
Procurámos compreender o que neste projeto contribui especificamente para os
resultados positivos alcançados, ao nível de bem-estar subjetivo, relacionamento
interpessoal positivo, participação e envolvimento na comunidade (d’Araújo, 2013b). A
partir da segunda pergunta de investigação - Quais as práticas do projeto que parecem ter
mais impacto na promoção do bem-estar das mulheres - e sabendo que o bem-estar
subjetivo é influenciado pelo Sentido de Comunidade de McMillan e Chavis (Davidson &
Cotter, 1991), passaremos a identificar esta relação nas práticas do Chá das Quartas.
O Sentido de Comunidade, desenvolvido no âmbito da Psicologia Comunitária,
refere-se ao "sentimento de que somos parte de uma rede de relacionamentos de suporte
mútuo, sempre disponível e da qual podemos depender" (Sarason, 1974, p.1) e tem em conta
quatro elementos-chave (McMillan & Chavis, 1986): 1. Estatuto de Membro (“Membership”)
– sentimento de identificação com os outros membros, sentido de pertença a um grupo, e
partilha de um espaço que confere segurança emocional; 2. Influência (“Influence”) – o
grupo tem impacto em cada membro e cada membro influencia os processos do grupo; 3.
Integração e Satisfação das Necessidades (“Integration and Fulfillment of Needs”) –
validação das necessidades dos membros, reforço enquanto motivador do comportamento,
e obtenção de recompensas (e.g., estatuto na comunidade, benefícios inerentes à dinâmica
do grupo); e 4. Ligações Emocionais Partilhadas (“Shared Emotional Connection”) – partilha
de histórias, espaços comuns e experiências conjuntas; contactos regulares que fortalecem
os laços; ligação espiritual em comunidades religiosas; e sentimento de cumplicidade pelo
tempo e dedicação investidos no grupo.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
69
Poderemos conceber as diferentes práticas do Chá das Quartas a partir dos princípios
do Sentido de Comunidade identificados, pese embora tenhamos a perspetiva de que cada
prática pode tocar um ou mais elementos do modelo descrito.
Ao nível do Estatuto de Membro, o sentido de identificação e segurança são
potenciados pelo facto de se tratar de um grupo exclusivamente de mulheres e de faixas
etárias próximas (participantes e voluntárias), levando-nos a refletir sobre os critérios a
considerar no momento da criação de um grupo, e no impacto que tal pode ter ao nível do
sentimento de pertença. Outras práticas que demonstram fortalecer este sentimento de
pertença prendem-se com o formato ritualizado das sessões, conferindo uma segurança e
previsibilidade no tempo que permite renovar significados, reforçar a coesão e facilitar a
gestão de eventuais mudanças nas vidas individuais destas mulheres.
O sentimento de Influência mútua no seio do grupo é essencialmente promovido por
duas características: as relações de igualdade em termos de poder nas tomadas de decisão
contribuem para um processo inclusivo desenvolvido numa lógica de co-construção e de
validação do contributo individual para o todo. Muitas das atividades são decididas por
todas em cada sessão, bem como os projetos conjuntos; por outro lado há uma motivação
para contribuir, quer da parte das mulheres quer das voluntárias, numa relação de
reciprocidade entre os atores do projeto, mas também entre o que dão e recebem por
integrar este grupo (como utilizadoras ou voluntárias do mesmo). Tal vai ao encontro do
conceito de reciprocidade incondicional de Bruni (2008), em que a satisfação vem do
comportamento em si, numa lógica de motivação intrínseca, e não de uma eventual
expectativa de reação do outro. A título de exemplo, citamos algumas afirmações das
voluntárias sobre o Chá das Quartas: ”troca de afetos muito rica”, “oportunidade de se
enriquecer espiritualmente” ou “experiência gratificante”.
Para a criação e desenvolvimento da intervenção com este grupo foi utilizado um
leque vasto de práticas em termos de Integração e Satisfação das Necessidades das
participantes. Houve um cuidado em respeitar estas necessidades, quer em termos da
liberdade das mulheres – caráter não obrigatório das sessões, abertura do grupo para
receber tanto participantes como voluntárias em qualquer momento – quer em termos de
dar resposta a obstáculos potencialmente impeditivos da participação – disponibilização de
uma carrinha para o transporte de e para o espaço do convívio, e gratuidade das sessões.
Uma outra dimensão deste elemento está relacionada com o reforço das ações e
competências das participantes, o que é feito através da garantia de que todas as tarefas
têm sentido e muitas vezes um cariz produtivo, dando maior visibilidade ao trabalho das
idosas na comunidade (Gonçalves et al., 2006). Ainda, as sessões do projeto não são
interrompidas para férias estando garantida às participantes a possibilidade da presença no
encontro, dado o entusiasmo e empenho que têm manifestado.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
70
Por fim, as Ligações Emocionais Partilhadas revelam-se muito fortes neste grupo. O
facto de haver uma crença religiosa que é comum a todas as mulheres contribui para a
coesão do grupo. Há a partilha de uma espiritualidade vivida com intensidade, através da
criação e vivência de momentos significativos, como sejam a hora semanal da Adoração no
Santuário, a oração do terço nos encontros, e as peregrinações. Contribuem ainda para o
desenvolvimento de um sentimento de cumplicidade a participação e organização de
eventos – Festas de Natal, venda de livros em segunda mão, rifas, entre outros – e os
momentos de convívio informais – e.g., lanche no final de cada sessão do Chá das Quartas.
A promoção do Sentido de Comunidade num grupo de mulheres de idade avançada
parece, assim, estar associada à “satisfação das necessidades” e às “ligações emocionais
partilhadas”, pelo que há que ter em consideração as práticas que conduzem à promoção
destes elementos em contextos desta natureza.
Do ponto de vista metodológico, queremos salientar que os instrumentos de recolha
de dados utilizados foram criados para dinamizar sessões e promover o bem-estar das
participantes. Existem, por isso, questões inerentes à validação dos instrumentos de recolha
de dados que poderão ser melhoradas no futuro. Ainda assim, a informação recolhida com
estes exercícios e a respetiva análise de conteúdo traz um contributo pertinente, como
esperamos ter demonstrado no presente artigo.
De referir também que o projeto contou com a participação, desde a sua fundação, de
um dos elementos da equipa de investigação. Este elemento esteve envolvido no desenho
inicial do projeto e no acompanhamento ao nível da avaliação de impacto dos exercícios
desenvolvidos baseados na Psicologia Positiva, com vista à promoção de bem-estar destas
mulheres, e na respetiva análise de dados. Trata-se ainda de uma pessoa com fortes ligações
pessoais e familiares à comunidade. Embora haja um nível de subjetividade acrescido no
olhar deste elemento, tal revelou ser de uma grande riqueza no trabalho de análise e
discussão dos dados, na medida em que este elemento da equipa tem uma vivência da
realidade desta vila alentejana, que lhe confere uma potencial competência cultural na
compreensão do processo investigativo.
O projeto Chá das Quartas, para além dos recursos comunitários que mobiliza, tem
ainda um grande facilitador: a não implicação de qualquer investimento financeiro para a
sua concretização. Nesse sentido, consideramos que este projeto é um exemplo de boas
práticas por se manter baseado nas sinergias co-criadas na comunidade.
A investigação continua a decorrer e o próximo passo será a consulta a representantes
significativos da comunidade, nomeadamente: forças de segurança, serviços da Câmara
Municipal de Vila Viçosa, serviços de saúde, Universidade Sénior, entre outros. Os seus
contributos serão muito relevantes para perceber a pertinência e o impacto do projeto, não
só ao nível individual das mulheres, mas também ao nível da comunidade mais alargada.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
71
Concluímos que há fortes indícios de que o Chá das Quartas permite às mulheres de
idade avançada que nele participam experienciar bem-estar psicológico em todas as suas
dimensões, em maior ou menor grau, e que são fatores como a participação na comunidade,
relacionamento interpessoal, propósito de vida e espiritualidade, que para ele contribuem.
Verificamos igualmente que um projeto desenvolvido a partir da aplicação da Psicologia
Positiva pode dar lugar a metodologias e práticas inclusivas e de sucesso, promotoras de
envolvimento comunitário.
O estudo aqui apresentado revela-se, assim, socialmente eficaz e economicamente
viável. A abordagem proposta evidencia o impacto positivo dos ganhos bilaterais para as
participantes e para a comunidade, tornando possível a co-construção de uma nova
realidade ecossistémica mais rica. A nível coletivo, o elevado número de novos eventos
comunitários, o aumento da atividade social local, e a riqueza do contributo das idosas para
o património cultural são sinais de que o esforço para promover a autonomia e a
independência nestas idades tem um impacto positivo. Em termos do relacionamento
interpessoal, vários são os atores sociais que reportam formal e/ou informalmente ter visto
as suas relações com os elementos do grupo melhoradas e enriquecidas. Ao nível individual,
verifica-se que o recordar de memórias positivas do passado permitiu às mulheres a
construção de novas narrativas. Re-narrar a sua história foi uma oportunidade de tornar o
presente mais rico e próximo: “Por vezes a velhice é suportável esquecendo os aspetos
negativos. Todos nós passamos a nossa vida a reconstruir as nossas biografias para tornar o
nosso presente mais harmonioso” (Vaillant, 2003, pp.101-102). Consideramos, assim, que a
Psicologia Positiva poderá contribuir para esta área social tendo em conta as possibilidades,
limitações, objetivos e metas da pessoa de idade avançada.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
72
Referências Angner, E. (2011). The evolution of ‘eupathics’: The historical roots of subjective measures of wellbeing. International
Journal of Wellbeing, 1(1), 4-41. doi:10.5502/ijw.v1i1.14.
d’Araújo, M. A. (2013a). Envelhecer positivamente no Chá das Quartas. Vila Viçosa: Fundação da Casa de Bragança, Câmara
Municipal de Vila Viçosa e Conferência de S. Vicente de Paulo.
d’Araújo, M. A. (2013b).”Lavrar o tempo: Aplicação de práticas de Psicologia Positiva em mulheres de idade muito avançada
no Alentejo-Sul de Portugal”. Manuscrito não publicado, realizado no âmbito do Mestrado Executivo em Psicologia
Positiva Aplicada, apresentado no ISCSP-UL.
Baltes, P. B. (1987). Theorical propositions of life-span developmental psychology: On the dynamics between growth and
decline. Developmental Psychology, 23(5), 611-626.
Baltes, P. B., & Baltes, M. M. (1990). Psychological perspectives on successful aging: The model of selective optimization
with compensation. In P. B. Baltes, & M. M. Baltes (Eds.), Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences
(1-34). Cambridge, MA: Cambridge University Press.
Baltes, P. B., Baltes, M. M., Freund, A.M., & Lang, F. (1999). The measurement of selection, optimization, and compensation
(SOC) by self report: Technical report. Berlim: Max-Planck-Institut fur Bildungsforschun.
Baltes, P.B., Staudinger, U.M., & Linderberger, U. (1999). Lifespan psychology: Theory and application to intellectual
functioning. Annual Review of Psychology, 50, 471-507.
Baumeister, R. F., Vohs, K. D., Aaker, J. L., & Garbinsky, E. N. (2013). Some key differences between a happy life and a
meaningful Life. The Journal of Positive Psychology, 8(6), 505-516.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101.
Bruni, L. (2008). Reciprocity, altruism and the civil society. New York, NY: Routledge.
Bruni, L. (2010). A ferida do outro. Abrigada: Cidade Nova.
Cooperrider, D. L., & Whitney, D. (2001). A positive revolution in change: Appreciative inquiry. In D.L. Cooperrider, P.F.
Sorenson, D. Whitney, & T.F. Yearger (Eds.), Appreciative Inquiry (pp.3-28). Champaign, IL: Stipes Publishing.
Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. New York, NY: Harper and Row.
Davidson, W., & Cotter, P. (1991). The relationship between sense of community and subjective well-being: A first look.
Journal of Community Psychology,19, 246-253.
Deci, E.L., & Ryan, R. (2008). Hedonia, eudaimonia and wellbeing: An introduction. Journal of Happiness Studies, 9, 1-11.
Delle Fave, A., Massimini, F., & Bassi, M. (2011). Hedonism and eudaimonism in positive psychology. In A. Delle Fave, F.
Massimini, & M. Bassi (Eds.) Psychological selection and optimal experience across cultures: Social empowerment
through personal growth (pp.3-18). New York: Springer.
Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality
Assessment, 49, 71-75.
Ebner, N. C., Baltes, P. B., & Freund, A. M. (2006). Developmental changes in personal goal orientation from young to late
adulthood: From striving for gains to maintenance and prevention of losses. Psychology and Aging, 21(4), 664-678.
Emmons, R. (2009). Obrigado!. Alfragide: Estrela Polar.
Emmons, A., & Kneezel, T. T. (2005). Giving thanks: Spiritual and religious correlates of gratitude. Journal of Psychology and
Christianity, 24(2), 140-148.
Emmons, A., McCullough, M. E., Kilpatrick, S. D., & Larson, D. B. (2001). Is gratitude a moral affect?. Psychological Bulletin,
127(2), 249-266.
Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude
and subjective well-being in daily life. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377-399.
Emmons, A., & Paloutzian, R. F. (2003). The psychology of religion. Annual Review of Psychology, 54, 377-402.
Fernández-Ballesteros, R. (2011, Março). Envejecimiento saludable. Comunicação apresentada no Congreso sobre
Envejecimiento: La investigación en España, Madrid, Espanha.
Ferreira, J., & Simões, A. (1999). Escalas de bem-estar psicológico. In M.R. Simões, M.M. Gonçalves, & L.S. Almeida (Eds.),
Testes e provas psicológicas (vol. 2). Braga: APPORT/SHO.
Fredrickson, B. L. (2003). The value of positive emotions. American Scientist, 91, 330-335.
Fredrickson, B. L. (2013, July 15). Updated thinking on positivity ratios. American Psychologist, 68(9), 814-822. doi:
10.1037/a0033584.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
73
Fredrickson, B., & Kurtz, L. E. (2011). Cultivating Positive Emotions to Enhance Human Flourishing, In S.I. Donaldson, M.
Csikszentmihalyi, & J. Nakamura (2011). Applied Positive Psychology: Improving everyday life, health, schools, work
and society (pp.35-47). Psychology Press: Taylor & Francis Group.
Freund, A. M., & Baltes, P. B. (2002). Life-management strategies of selection, optimization, and compensation:
Measurement by self-report and construct validity. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 642-662.
Gable, S. L. (2007, Janeiro). Approach and avoidance motivation in close relationships. Comunicação apresentada no Sydney
Symposium for Social Psychology, Sidney, Austrália.
Gable, S. L., & Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology?. Review of General Psychology, 9(2), 103-110.
Gable, S. L., Impett, E. A., Reis, H. T., & Asher, E. R., (2004). What do you do when things go right?: The intrapersonal and
interpersonal benefits of sharing positive events. Journal of Personality and Social Psychology, 87(2), 228-245.
Gable, S. L., Strachmam, A., & Gonzaga, G. C. (2006). Will you be there for me when things go right?: Supportive responses
to positive event disclosures. Journal of Personality and Social Psycology, 91(5), 904-917.
Gergen, M. M., & Gergen, K. J. (2006). Positive Aging: Reconstructing the Life Course. In J. Worell & C.D. Goodheart (Eds.)
Handbook of girls’ and women’s psychological health (pp.416-426). Oxford: University Press.
Giannopoulos, V. L., & Vella-Brodrick, D. A. (2011). Effects of positive interventions and orientations to happiness on
subjective well-being. The Journal of Positive Psychology, 6(2), 95-105.
Gonçalves, D., Martín, I, Guedes, J., Cabral-Pinto, F., & Fonseca, A. M. (2006). Promoção da qualidade de vida dos idosos
portugueses através da continuidade de tarefas produtivas. Psicologia, Saúde & Doenças, 7(1), 137-143.
Helliwell, J. F., & Wang, S. (2012). The state of world happiness. In J.F. Helliwell, R. Layard, & J. Sachs (Eds.), World
Happiness Report (pp.10-57). New York, NY: Earth Institute, Columbia University.
Huta, V., & Ryan, R. M. (2010). Pursuing pleasure or virtue: The differential and overlapping well-being benefits of hedonic
and eudaimonic motives. Journal of Happiness Studies, 11(6), 735-762.
Keyes, C. L., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: the empirical encounter of two traditions. Journal of
personality and social psychology, 82(6), 1007-1022.
Larrauri, B. G. (2006). Programa para mejorar el sentido del humor: Porque la vida con buen humor merece la pena!.
Madrid: Ediciones Pirámide.
Larrauri, B. G. (2010). Una ventana abierta al sentido del humor en aula. Tándem Didáctica de la educación física, 11(32),
7-24.
Linley, P. A., Joseph, S., Harrington, S., & Wood, A. M. (2006). Positive psychology: Past, present, and (possible) future.
Journal of Positive Psychology, 1, 3-16.
Lyubomirsky, S. (2000). On studying positive emotions. Prevention & Treatment, 3(1).
Lyubomirsky, S., & Lepper, H. (1999). A measure of subjective happiness: Preliminary reliability and construct validation.
Social Indicators Research, 46, 137-155.
McMillan, D. W., & Chavis, D. M. (1986). Sense of community: A definition and theory. Journal of Community Psychology,
14, 6-23.
Maisel, N. C., Gable, S. L., & Strachman, A. (2008). Responsive behaviors in good times and in bad. Personal Relationships,
15, 317–338, doi: 10.1111/j.1475-6811.2008.00201.x.
Marujo, H. A., Neto L. M., Caetano A., & Rivero, C. (2007). Revolução positiva: Psicologia positiva e práticas apreciativas em
contextos organizacionais. Comportamento Organizacional e Gestão,13(1), 115-136.
Myers, D. G. (1999). Close relationships and quality of life. In D. Kahneman, E. Dienner, & N. Schwarsz (Eds.), Well-being:
The foundations of hedonic psychology (pp.376-393). New York, NY: Russell Sage Foundation.
Myers, D. G., & Diener, E. (1995). Who is happy?. Psychological Society, 6(1), 10-19.
Nelson, G., & Prilleltensky, I. (Eds.) (2010). Community psychology: In pursuit of liberation and wellbeing. New York, NY:
Palgrave MacMillan.
Novo, R. F. (2005). Bem-estar e psicologia: Conceitos e propostas de avaliação. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y
Evaluación Psicológica, 20(2), 183-203.
O'Leary, Z. (2010). The essential guide to doing your research project. California: Sage Publications.
Paúl, C. (2005). Envelhecimento ativo e redes de suporte social. Sociologia, 15, 275-287.
Pressman, S. D., & Cohen, S. (2007). Use of social words in autobiographies and longevity. Psychosomatic Medicine, 69,
262-269.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
74
Ryan, R., Huta, V., & Deci, E. (2008). Living well: A self-determination theory perspective on eudaimonia. Journal of
Happiness Studies, 9, 139-170.
Ryff, C. (1995). Psychological well-being in adult life: Current directions in psychological science. American Psychological
Society, 4(4), 99-104.
Ryff, C. D., & Singer, B. (2002). From social structure to biology: Integrative science in pursuit of human health and
well-being. In C. R. Snyder, S. J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology (pp.541-555). Oxford: Oxford
University Press.
Ryff, C. D., & Singer, B. (2006). Best news on the six-factor model of well-being. Social Science Research, 35, 1103 - 119.
Sarason, S. B. (1974). The psychological sense of community: Prospects for a community psychology. San Francisco, CA:
Jossey-Bass.
Seligman, M. E. P. (2002). Felicidade autêntica: Usando a nova psicologia positiva para a realização permanente. Rio de
Janeiro: Objetiva.
Seligman, M. E. P. (2012). A vida que floresce. Alfragide: Estrela Polar.
Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American psychologist, 55(1), 5-14.
Smith, M. C., & DeFrates-Densch, N. (2009). Handbook of research on adult learning and development. New York, NY:
Routledge.
Snyder, C. R. (2002). The hope theory: Rainbows in the mind. Psychological Inquiry, 13(4), 249-275.
Vaillant, G. E. (2003). Aging well. New York, NY: Little Brown.
Vaillant, G. E. (2008). Spiritual evolution: A scientific defense of faith. New York, NY: Broadway Books.
Yin, R. K. (2009). Case study research design and methods. California: Sage.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 40-75
d’Araújo et al.
75
Possibilities for a positive ageing: A case study based on positive psychology
Abstract The promotion of well-being and human flourishing has been the main focus of research and intervention in the
area of Positive Psychology, encompassing the pursuit of pleasure (hedonism), and of self-growth and purpose
in life (eudaimonia). In this paper we approach ageing within a ‘gains and losses’ dialectic, and from a
perspective formed towards the compensation of difficulties and the promotion of individual potential. Positive
Psychology can contribute to this social field, taking into account the possibilities and limitations of the very old
age, as well as the individual meanings of happiness. Based on this approach, an action-research program was
developed, which has been taking place for the past three years in Alentejo. The target population was a group
of forty-three women of very old age, experiencing some levels of loneliness or with very little (or none)
community involvement. The program - Chá das Quartas (Wednesdays' Tea) - came along as a socially effective
and economically viable response that complemented local interventions. Findings suggest positive outcomes
regarding subjective well-being, life purpose, positive relationships, and community participation and
involvement.
Keywords Ageing, positive psychology, subjective wellbeing, sense of community.
Received: 11.07.2014 Revision received: 13.09.2014
Accepted: 04.11.2014
Revista E-Psi, 2015, 5 (1) Published Online http://www.revistaepsi.com Revista E-Psi
Como citar/How to cite this paper: Ferreira, I., & Simões, M.R. (2015). Validade preditiva dos testes psicológicosna capacidade de condução em pessoas idosas. Revista E-Psi, 5(1), 76-93.
Validade preditiva dos testes psicológicos na capacidade de condução em pessoas idosas
Inês S. Ferreira1, & Mário R. Simões2
Copyright © 2015. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License 3.0 (CC BY-NC-ND). http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
1Universidade Europeia, Laureate International Universities, Lisboa. Laboratório de Avaliação Psicológica e Psicometria,
Centro de Investigação do Núcleo de Estudos e Intervenção Cognitivo-Comportamental (CINEICC), Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. E-mail: [email protected] Endereço Institucional: Rua do Colégio Novo, 3000-115 Coimbra, Portugal. 2 Laboratório de Avaliação Psicológica e Psicometria, Centro de Investigação do Núcleo de Estudos e Intervenção
Cognitivo-Comportamental (CINEICC), Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 76-93
Ferreira & Simões
77
Resumo
A condução automóvel constitui atualmente uma atividade de vida diária essencial para pessoas idosas. O
envelhecimento demográfico e o aumento previsível do número de condutores idosos com alterações cognitivas
associadas à idade ou a patologias médicas explicam o interesse crescente em métodos de avaliação que
permitam a identificação de pessoas com diminuição da capacidade de condução e maior risco de acidente de
viação.
Um número considerável de investigações evidencia a validade dos resultados nos testes psicológicos,
nomeadamente nos testes de natureza cognitiva, para prever indicadores de desempenho na condução. A
validade preditiva de instrumentos de avaliação psicológica em relação ao desempenho em atividades de vida
diária é, no entanto, determinada pelas características e especificidades do critério externo utilizado.
O presente texto elabora uma recensão crítica sobre os principais métodos de avaliação e investigação da
capacidade de condução. Especificamente, descreve e analisa as características dos testes psicológicos,
incluindo as suas potencialidades e limites, histórico de acidentes de viação, condução simulada e condução em
contexto real de trânsito, perspetivando a implementação de trabalhos futuros em Portugal neste domínio.
Palavras-chave Avaliação psicológica, capacidade de condução, pessoas idosas, validade preditiva, métodos de
investigação.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 76-93
Ferreira & Simões
78
Introdução
A condução automóvel constitui atualmente uma atividade de vida diária essencial
para pessoas idosas. O uso do automóvel particular tem sido relacionado com os conceitos
de mobilidade, independência e bem-estar psicológico, correspondendo ao meio de
transporte preferencial e dominante na população idosa (European Road Safety
Observatory, 2009). No entanto, a atividade de condução é uma das mais complexas e
exigentes para pessoas de idade avançada. O declínio funcional (motor, percetivo, cognitivo)
associado ao avanço da idade e/ou a patologias médicas, como é o caso das doenças
cerebrovasculares e neurodegenerativas, contribui para uma diminuição da capacidade de
condução (Freund & Smith, 2011; Rizzo, 2011). O atual cenário do envelhecimento
demográfico e da população condutora justificam o interesse crescente em métodos de
avaliação que permitam a identificação de condutores com maior risco de acidente de
viação.
Um número considerável de investigações e publicações comprova a utilidade de
testes psicológicos, nomeadamente testes de natureza cognitiva, para prever resultados em
medidas de desempenho da condução em pessoas idosas. Neste âmbito, têm sido propostos
testes e protocolos específicos de avaliação que examinam os domínios documentados
como determinantes da capacidade de condução. Os constructos mais valorizados nestes
protocolos incluem funções visuo-percetivas, visuo-espaciais, atenção visual, funções
executivas, velocidade de processamento e memória de trabalho (Ferreira & Simões, 2009;
Mathias & Lucas, 2009; Emerson, Johnson, Dawson, Uc, Anderson, & Rizzo, 2012; Martin,
Marottoli, & O'Neill, 2013). Neste contexto, é importante conhecer elementos relativos à
validade preditiva dos testes incluídos nos protocolos. A validade preditiva de instrumentos
de avaliação psicológica em relação a medidas de desempenho da condução é geralmente
determinada pelas características e especificidades do critério externo (ou de referência)
utilizado, como o histórico de acidentes, o desempenho de condução simulada ou real.
O presente texto elabora uma recensão crítica sobre os principais métodos de
avaliação e investigação da capacidade para a condução, incluindo a respetiva validade
preditiva. Especificamente são analisados tópicos como as características dos testes
psicológicos, incluindo as suas potencialidades e limites, histórico de acidentes de viação,
condução simulada e condução em contexto real de trânsito, perspetivando a
implementação de novas investigações portuguesas e, consequentemente, a ampliação do
conhecimento neste domínio.
Instrumentos de avaliação psicológica
O uso de instrumentos e protocolos de avaliação psicológica para a condução tem por
finalidade a realização de um exame sistemático (formal, estandardizado, quantificado) de
processos psicológicos, nomeadamente cognitivos, que determinam o comportamento de
Revista E-Psi (2015), 5(1), 76-93
Ferreira & Simões
79
condução automóvel e a segurança. Embora não exista um consenso formal alargado sobre
quais os testes e protocolos de avaliação psicológica mais indicados para identificar
condutores idosos com inaptidão em prova de condução e/ou maior risco de acidente
(decorrente da presença de défices cognitivos), é possível ilustrar as potencialidades de
alguns instrumentos estudados em grupos representativos desta população.
Potencialidades
Em condutores idosos sem diagnóstico de demência, um estudo de meta-análise de
Mathias e Lucas (2009) assinala os seguintes preditores cognitivos mais significativos de
inaptidão em prova de condução real: Ergovision Movement Perception Test (perceção do
movimento), UFOV Test (atenção visual), Complex Reaction Time Task (tempos de reação de
escolha), Paper Folding Task (perceção visuo-espacial), Dot Counting (atenção visual),
Reprodução Visual da WMS-III (memória visual) e Computerized Visual Attention Test
(atenção visual). Nesta meta-análise foram considerados sete estudos incluindo
desempenhos em testes cognitivos e prova de condução real (critério de classificação apto
ou inapto), num total de 544 condutores com 55 ou mais anos de idade e provenientes da
comunidade. Dos 25 testes cognitivos utilizados nos estudos, o tamanho ou magnitude do
efeito (effect size) dos preditores mais significativos foi grande (0.85≤d≤2.14) e positiva
(condutores inaptos obtiveram resultados inferiores nos referidos testes, em comparação
com os condutores aptos).
No âmbito de condutores idosos com diagnóstico de demência, um outro estudo de
meta-análise destaca, em termos globais, a magnitude da relação entre resultados em testes
de perceção visuo-espacial e o desempenho de condução real (Reger, Welsh, Watson,
Cholerton, Baker, & Craft, 2004). O estudo de revisão sistemática mais recente da American
Academy of Neurology (Iverson, Gronseth, Reger, Classen, Dubinsky, & Rizzo, 2010) enfatiza
também o valor prognóstico da Clinical Dementia Rating (CDR; versão portuguesa, Garret,
Santos, Tracana, Barreto, Sobral, & Fonseca, 2008; Santana, Vicente, Freitas, Santiago, &
Simões, 2015) na identificação de condutores com demência e inaptidão em prova de
condução real.
Em condutores com doença de Parkinson, outra doença neurodegenerativa frequente
na população idosa, o UFOV Test, o Trail Making Test A & B (Cavaco et al., 2013) e a cópia da
Figura Complexa de Rey (Bonifácio, Cardoso-Pereira, & Pires, 2003; Espírito-Santo et al.,
2015) constituem preditores significativos do desempenho de condução real (Klimkeit,
Bradshaw, Charlton, Stolwyk, & Georgiou-Karistianis, 2009). A CDR, em conjunto com o
exame motor da Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, evidencia também um valor
incremental na avaliação clínica de condutores com doença de Parkinson (Devos et al.,
2013).
Revista E-Psi (2015), 5(1), 76-93
Ferreira & Simões
80
Em casos de acidente vascular cerebral (AVC), a principal causa de incapacidade em
pessoas idosas, e segunda causa mais comum de demência, as pontuações no Road Sign
Recognition (teste de sinais de trânsito), no Square Matrices Compass (perceção
visuo-espacial) e no Trail Making Test B (funções executivas), constituem fortes indicadores
de risco de inaptidão em prova de condução real em condutores com AVC (Devos,
Akinwuntan, Nieuwboer, Truijen, Tant, & De Weerdt, 2011). As duas primeiras provas fazem
parte do Stroke Drivers Screening Assessment (SDSA; versão portuguesa, Lincoln, Ferreira &
Simões, 2009), uma bateria de testes concebida para o rastreio cognitivo de condutores com
AVC.
Neste contexto, importa referir que o Mini-Mental State Examination (MMSE; versão
portuguesa, Guerreiro, Silva, Botelho, Leitão, Castro-Caldas & Garcia, 1994; Morgado, Rocha,
Maruta, Guerreiro & Martins, 2009; Freitas, Simões, Alves, & Santana, 2015), um
instrumento breve de avaliação cognitiva global de uso tradicional e generalizado em
contexto clínico, carece de evidências empíricas válidas e consistentes para ser considerado
um indicador específico de risco para a condução em pessoas idosas, nomeadamente com
diagnóstico de demência. Os dados de investigação corroboram que este instrumento não
constitui um preditor significativo do envolvimento em acidentes futuros em condutores
com diagnóstico de demência (Fox, Bowden, Bashford, & Smith, 1997; Zuin, Ortiz, Boromei,
& Lopez, 2002), apresentando também um fraco poder discriminante do desempenho
(critério de classificação apto ou inapto) em prova de condução real em pessoas idosas
provenientes da comunidade (Crizzle, Classen, Bédard, Lanford, & Winter, 2012). Uma linha
de justificação para estes resultados poderá corresponder à natureza do teste ser
predominantemente verbal e limitada na avaliação de domínios cognitivos considerados
essenciais para o comportamento de condução, nomeadamente a perceção visual, a atenção
visual e o funcionamento executivo (Marcotte & Scott, 2009). Neste sentido, outros testes
de rastreio cognitivo que incorporem tarefas de avaliação das funções executivas e
visuo-espaciais poderão constituir um potencial método mais válido na identificação de
condutores de risco. Os resultados de investigação realizada com o Addenbrooke’s Cognitive
Examination Revised (ACE-R; versão portuguesa, Firmino, Simões, Pinho, Cerejeira, &
Martins, 2010; Simões et al., 2015; cf. Igualmente, Gonçalves, Pinho, Cruz, Pais, Gens,
Santana, & Santos, 2015) indicam que a cotação ACE-R apresenta uma eficiência
classificatória superior à cotação MMSE na deteção de condutores idosos com inaptidão em
prova de condução real, com as subcotações Fluência e Visuo-espacial a demonstrar maior
valor incremental na previsão do desempenho de condução (Ferreira, Simões, & Marôco,
2012).
Revista E-Psi (2015), 5(1), 76-93
Ferreira & Simões
81
Limites
Existem numerosos fatores que podem restringir a validade de instrumentos de
avaliação psicológica em relação ao desempenho da condução no mundo real. Embora
tenham a potencialidade de examinar capacidades que determinam o exercício da condução
em segurança, os testes psicológicos não permitem antecipar completamente o
funcionamento (ou exercício efetivo) dessas capacidades no contexto real.
Consequentemente, os condutores podem evidenciar um comportamento manifesto
distinto do que seria esperado com base nos resultados nos testes (Goldstein, 1996). A título
exemplificativo: alguns condutores que obtêm resultados inferiores em testes psicológicos
podem evidenciar um comportamento de condução eficaz em contexto real de trânsito com
base na potenciação da sua experiência prévia de condução (que permite otimizar o
conhecimento das situações de trânsito, incluindo os repertórios cognitivos e
comportamentais) e na mobilização de estratégias de compensação das dificuldades (que
possibilita evitar situações de trânsito potencialmente complexas como cruzamentos,
conduzir apenas em percursos familiares, etc.). Ou, noutro cenário, um condutor com um
nível de escolaridade superior poderá obter pontuações dentro dos intervalos normativos
em alguns testes psicológicos, nomeadamente quando estes não consideram de forma
articulada normas por idade e escolaridade, mas um fraco desempenho na tarefa de
condução real.
As tarefas dos testes psicológicos são muito distintas das atividades implicadas em
contexto real de trânsito. Neste sentido, os constructos medidos pelos testes poderão ser
insuficientes para prever a totalidade dos resultados funcionais (cf., Sadek & van Gorp, 2010)
numa atividade tão abrangente, complexa e dinâmica como a condução.
Por outro lado, os desempenhos em testes psicológicos são frequentemente sensíveis
a variáveis como a idade e a escolaridade, embora os requisitos exigidos para a tarefa de
condução sejam universais e independentes de características sociodemográficas (Morgan &
Heaton, 2009; Silverberg & Millis, 2009; Barrash, Stillman, Anderson, Uc, Dawson, & Rizzo,
2010). Adicionalmente, as situações de testing contrastam também com as atividades no
mundo real, uma vez que são mais estandardizadas e controladas no que concerne a uma
série de variáveis, sem envolver um ambiente em constante mudança (e.g., fluxo de trânsito,
infraestruturas rodoviárias, fatores atmosféricos) e diferentes contextos (Tupper & Cicerone,
1990).
Histórico de acidentes de viação
O histórico de acidentes tem por finalidade a recolha de informação sobre o
envolvimento em acidentes de viação num período temporal definido. Os dados podem ser
integrados em estudos retrospetivos (e.g., Rolison, Hewson, Hellier, & Husband, 2012) ou
Revista E-Psi (2015), 5(1), 76-93
Ferreira & Simões
82
prospetivos (e.g., Hoggarth, Innes, Dalrymple-Alford, & Jones, 2013), e estarem acessíveis
através de entidades oficiais (polícia, seguradora automóvel) ou testemunhos (pessoais, de
terceiros).
Potencialidades
Este método evidencia validade externa e ecológica ao quantificar o comportamento no
mundo real e ao longo do tempo, sem refletir algumas limitações dos métodos de avaliação
laboratorial (apenas possibilitam um registo de amostras do comportamento, circunscrito no
espaço e tempo) (Marcotte & Scott, 2009).
O processo de recolha de dados poderá ser baseado numa entrevista ou questionário,
sendo menos dispendioso comparativamente a outros métodos de avaliação (ex., condução
real). Um aspeto de interesse é a possibilidade de explorar informação específica e
detalhada sobre as circunstâncias em que ocorreram os acidentes e potenciais fatores
causais (Ferreira, Simões, & Godinho, 2008, Julho). Em termos práticos, este método é
exequível em amostras numerosas, permitindo comparar, por exemplo, resultados em
testes psicológicos em condutores com e sem acidentes de viação (e.g., Ball et al., 2006).
Limites
Existem inúmeras situações que podem limitar o acesso ou a validade da informação
recolhida sobre o histórico de acidentes de viação. No âmbito dos estudos de validade
preditiva das pontuações nos testes psicológicos, importa ter acesso a dados sobre
acidentes de viação com responsabilidade, determinados por fatores humanos de natureza
psicológica. No entanto, é conhecido que os acidentes podem ter múltiplas causas (e.g.,
infraestrutura, veículo, comportamento de outros condutores), nem sempre devidamente
apuradas ou documentadas (Lajunen & Özkan, 2011), o que por si só pode diminuir a
validade interna de uma investigação.
Os registos de entidades oficiais, como a polícia e seguradoras de automóvel,
correspondem a dados confidenciais e de acesso restrito, o que pode limitar o acesso e
utilização para efeitos de investigação (Kweon, 2011). Apesar das garantias sobre o carácter
verídico dos dados, importa ter em consideração que os registos oficiais são
tendencialmente incompletos, uma vez que nem todos os acidentes são sinalizados às
autoridades ou seguradoras, nomeadamente quando não envolvem danos materiais e/ou
vítimas. Por exemplo, existem evidências de um nível de concordância baixo entre os dados
auto-reportados e registos oficiais, com os condutores idosos a reportar um maior número
de acidentes do que os registados por entidades (Arthur, Bell, Edwards, Day, Tubre, & Tubre,
2005).
Os dados reportados pelo condutor (e.g., Ferreira, Marmeleira, Godinho, & Simões,
2007) são também sensíveis a diferentes enviesamentos que podem limitar o acesso ou a
Revista E-Psi (2015), 5(1), 76-93
Ferreira & Simões
83
validade dos elementos recolhidos, por exemplo: (a) défices ou declínio do funcionamento
cognitivo (Brown, Ott, Papandonatos, Sui, Ready, & Morris, 2005) ou presença de
perturbação psicopatológica ou psiquiátrica (Zingg, Puelschen, & Soyk, 2009), incluindo
alteração da capacidade de raciocínio, memória e juízo crítico (variáveis que afetam o
pensamento lógico, a rememoração de factos e a capacidade de reconhecimento dos défices
funcionais e dos riscos inerentes à atividade de condução); (b) presença de comportamentos
de desejabilidade social com o objetivo de proporcionar uma imagem positiva como
condutor ou mesmo com a intenção deliberada de omitir, denegar ou minimizar dificuldades
na condução (af Wåhlberg, 2010; Sullman & Taylor, 2010). Acrescem ainda evidências de
que as pessoas idosas têm uma perceção relativa a si mesmas, como condutores, mais
positiva do que a realidade dos seus desempenhos (Windsor, Anstey, & Walker, 2008).
Em condutores com diagnóstico de demência, os familiares ou informadores
colaterais podem ser considerados uma fonte de informação. No entanto, também neste
contexto, importa referir que os dados reportados podem não ser fidedignos por omissão ou
distorção de informações, por exemplo, em situações de falta de informação ou presença de
perceções erróneas sobre a capacidade de condução do visado (Carr, Schwartzberg,
Manning, & Sempek, 2010).
No desenvolvimento de estudos de validade, importa considerar uma outra questão
que remete para o facto dos acidentes constituírem acontecimentos raros. Este dado coloca
o problema da quantificação do número de acidentes enquanto variável e aponta para a
importância de utilizar amostras numerosas (e.g., sem acidentes versus com dois ou mais
acidentes) necessárias para constituir modelos de previsão com significância estatística
(Hole, 2007).
Os modelos de previsão são ainda condicionados pelo desenho experimental e
período temporal entre o critério externo (acidentes) e os resultados em testes psicológicos
(potenciais preditores). Os estudos retrospetivos assumem uma relação direta entre o
envolvimento em acidente (passado) e o funcionamento cognitivo (presente). Contudo, é
possível que o funcionamento cognitivo não seja estável ao longo do tempo e,
simultaneamente, coexistirem sequelas neurocognitivas decorrentes dos próprios acidentes
de viação (Arthur et al., 2005). A utilidade dos estudos prospetivos (previsão do risco de
acidente futuro a partir do funcionamento cognitivo presente) também pode ser limitada
pela mortalidade experimental, a consequente diminuição do tamanho da amostra e do
poder estatístico dos dados, o que reforça uma vez mais o interesse em considerar amostras
numerosas.
Condução simulada
Os simuladores de condução têm sido utilizados nas últimas décadas como um método
de avaliação da capacidade de condução. Os avanços tecnológicos na área da computação
Revista E-Psi (2015), 5(1), 76-93
Ferreira & Simões
84
gráfica têm ocasionado uma transição no uso de simuladores estáticos e com imagens
semelhantes a um videojogo, para simuladores dinâmicos e com imagens reais. Para um
aprofundamento do tema sobre equipamentos e aplicações recentes na área da Psicologia,
remetemos o leitor para o livro de Fisher, Rizzo, Caird e Lee (2010).
Potencialidades
Uma prova de condução simulada não envolve qualquer risco para o participante ou
para a segurança rodoviária. À partida, a realização da prova possibilita um maior grau de
controlo experimental em comparação com a tarefa de condução real; por exemplo, os
cenários e situações de trânsito são previamente definidos e estandardizados, os
desempenhos ou resultados (como tempos de reação, erros de travagem ou na direção) são
registados informaticamente e de modo fiável (Carsten & Jamson, 2011).
Um aspeto com particular interesse é a possibilidade dos simuladores permitirem uma
análise do comportamento do condutor (e.g., antecipação, perceção, execução da ação) em
situações de risco para a segurança ou potencialmente perigosas de reproduzir em contexto
real de trânsito (e.g., Stinchcombe & Gagnon, 2013).
Existem evidências sobre a validade preditiva da condução simulada realizada por
condutores idosos, considerando quer o desempenho de condução real, quer o
envolvimento em acidentes de viação. Com recurso a uma amostra de 129 condutores
idosos, os estudos de Lee e colaboradores suportam uma associação positiva elevada
(r=0.716) entre os índices de desempenho num simulador (STISIM) e numa prova de
condução real (Lee, Cameron, & Lee, 2003), bem como associações significativas entre a
condução simulada e o envolvimento em acidentes, num período retrospetivo de um ano
(Lee, Lee, Cameron, & Li-Tsang, 2003) e prospetivo de três anos (Lee & Lee, 2005). Estes
resultados são sugestivos das potencialidades de um simulador para prever o desempenho
de condução real e o risco de envolvimento em acidente em pessoas idosas.
Limites
Apesar dos avanços tecnológicos na área da simulação da condução automóvel, os
equipamentos e cenários reproduzidos podem ser simplistas e artificiais, isto é, pouco
realistas em comparação com as situações práticas de trânsito. A natureza menos realista da
prova pode também diminuir a motivação para evitar as situações de risco, e aumentar o
limiar de aceitação do risco, enviesando os desempenhos e a generalização das respostas
(Hole, 2007).
Finalmente, uma diferença substancial entre a condução simulada e a condução real
remete para a experiência que cada pessoa tem nestas tarefas. Neste contexto, uma
questão em aberto é a de saber se este método de avaliação pode ser considerado válido
em condutores com problemas de aprendizagem ou dificuldades de adaptação a situações
Revista E-Psi (2015), 5(1), 76-93
Ferreira & Simões
85
novas, nomeadamente associados a casos de deterioração cognitiva ou resultantes apenas
da idade avançada.
Condução em contexto real de trânsito
As provas de condução em contexto real de trânsito têm sido frequentemente
conceptualizadas como a gold standard para a identificação de condutores com diminuição
da capacidade de condução (Lincoln & Radford, 2013). Em regra, o comportamento de
condução é observado por um especialista com formação e treino específicos, ao longo de
um percurso predefinido. A avaliação é habitualmente realizada com recurso a uma grelha
de observação estandardizada, estruturada em categorias, podendo incluir um número
variável de itens. Regra geral, o conteúdo dos itens remete para as capacidades operacionais
(controlo dos comandos do veículo como volante, pedais, caixa de velocidades) e táticas
(tomada de decisão e manobras realizadas durante a condução como pesquisa visual,
distância de segurança, mudança de via) do condutor (e.g., Marques & Ferreira, 2009). O
sistema de avaliação poderá ser quantitativo e mais objetivo (pontuações específicas em
vários critérios) e/ou qualitativo e mais subjetivo (categorias gerais como apto/inapto).
Potencialidades
A prova de condução constitui um método de avaliação com validade ecológica elevada,
possibilitando a observação direta de comportamentos de condução reais, envolvendo
situações de trânsito simultaneamente verídicas/efetivas, mutáveis e imprevistas. Neste
plano, a possibilidade de observar eventuais estratégias ou comportamentos de
compensação em condutores com declínio cognitivo (e.g., Man-Son-Hing, Marshall, Molnar,
& Wilson, 2007), constitui um aspeto com particular interesse.
A par do recurso a uma grelha de observação, pode ser considerado igualmente o uso
de aparelhos de registo de dados com tecnologia Global Positioning System (GPS) e vídeo,
possibilitando uma análise objetiva e repetida do desempenho por parte de diferentes
observadores (Porter & Whitton, 2002).
Limites
Uma prova de condução real corresponde a uma situação de testing, relativamente
controlada, permitindo a observação de uma amostra do comportamento de condução em
situação de vida real, mas os seus resultados não podem ser totalmente generalizados para
o comportamento de condução no dia-a-dia do condutor.
Um percurso de condução, mesmo que estandardizado, não garante a exposição dos
condutores a cenários exatamente iguais, uma vez que não é possível controlar todos os
fatores externos mutáveis e imprevistos (ex., intensidade de trânsito, comportamento de
outros condutores e peões) que podem influenciar o desempenho de condução (Marcotte &
Revista E-Psi (2015), 5(1), 76-93
Ferreira & Simões
86
Scott, 2009). Este aspeto pode limitar negativamente a estandardização do processo de
avaliação e a comparabilidade de resultados. Concomitantemente, um percurso de
condução pode ser mais adaptado apenas aos hábitos de condução de alguns participantes
mas não de todos os participantes.
O recurso a um veículo instrumental, com duplo comando, apresenta a vantagem de
possibilitar a intervenção do observador em situação de risco eminente para a segurança
rodoviária. Todavia, o facto de não corresponder ao veículo pessoal do condutor pode
restringir o desempenho de condução em pessoas com dificuldade de adaptação a situações
novas. Por outro lado, um veículo instrumental pode não estar adaptado a características
específicas do condutor, reduzindo assim a possibilidade de avaliar por exemplo pessoas
com incapacidades físicas (Lincoln & Radford, 2013).
Adicionalmente, a presença de observadores dentro do veículo pode potenciar
ansiedade e influenciar negativamente o desempenho de condução ou, pelo contrário,
mobilizar um nível de atenção e concentração muito superior ao utilizado em circunstâncias
habituais. Também as instruções direcionais por parte do observador podem tornar a tarefa
menos exigente do ponto de vista da orientação espacial, limitando a possibilidade de aferir
as capacidades de planeamento e decisão relativas ao percurso (Marcotte & Scott, 2009).
Importa acrescentar que o observador desempenha uma dupla tarefa de observação e
supervisão das condições de segurança, pelo que variáveis relativas às condições do
observador (e.g., experiência, imparcialidade, atenção, memória) podem igualmente
influenciar a objetividade da avaliação.
Não menos importante, este método envolve a exposição dos participantes aos riscos
inerentes à tarefa de condução, existindo o risco ou probabilidade de acidente com
eventuais danos físicos e/ou materiais. Adicionalmente, a condução em contexto real
corresponde a um método de avaliação muito exigente do ponto de vista dos recursos
humanos (observadores treinados) e materiais indispensáveis (e.g., veículo, combustível,
seguro automóvel).
Discussão e Conclusão
A escolha e definição de métodos de avaliação da capacidade de condução é um tema
complexo para os investigadores, ponderando os inúmeros fatores que podem interferir na
validade dos resultados. Se os resultados nos testes psicológicos nem sempre traduzem, em
termos de correspondência, os desempenhos em medidas da condução, importa também
reconhecer que os critérios externos de validade habitualmente valorizados (histórico de
acidentes de viação, condução simulada, condução em contexto real de trânsito) podem
apresentar problemas que limitam o rigor da informação recolhida sobre a capacidade de
condução.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 76-93
Ferreira & Simões
87
A avaliação psicológica de condutores pressupõe o recurso a instrumentos e
protocolos válidos, isto é, fundamentados em estudos empíricos de validação com recurso a
critérios externos como é o caso das medidas de condução. Por essa razão, é premente
assegurar a validade dos métodos de avaliação funcional da condução, de modo a evitar
inferências erróneas sobre a capacidade de condução dos indivíduos (Ferreira, Simões, &
Marôco, 2013), e todas as implicações pessoais, familiares e sociais associadas (Curl, Stowe,
Cooney, & Proulx, 2013). Embora sejam conhecidos inúmeros problemas que podem limitar
a validade dos métodos de avaliação, um número considerável de estudos empíricos
corrobora que os testes psicológicos têm a potencialidade de examinar funções cognitivas
determinantes da condução e segurança em pessoas idosas e em diferentes grupos clínicos
(Ferreira & Simões, 2015). O racional de um protocolo de testes psicológicos para
condutores idosos deverá considerar os preditores cognitivos mais significativos do
desempenho de condução real, abrangendo domínios funcionais como a perceção do
movimento, atenção visual, memória visual, funcionamento visuo-percetivo e visuo-espacial,
e medidas de velocidade psicomotora em tarefa de tempos de reação complexa (Mathias &
Lucas, 2009). Em grupos clínicos específicos, a CDR (escala que avalia o estádio de gravidade
da demência) e o SDSA (bateria para rastreio cognitivo de condutores com AVC) podem
ainda integrar os protocolos de avaliação (Iverson et al., 2010; Devos et al., 2011; Devos et
al, 2013).
Na perspetiva de desenvolvimento de trabalhos futuros em Portugal, envolvendo a
interface entre testes psicológicos e medidas de desempenho de condução, formulamos
seguidamente algumas sugestões de natureza prática.
Assim, e apesar das limitações referidas sobre o histórico de acidentes, a articulação
sistemática de diferentes fontes de informação (dados auto-reportados e registos oficiais) e
interlocutores (condutor e informador colateral) constitui a melhor solução de compromisso
para obter um conhecimento mais objetivo sobre os acidentes do indivíduo. Adicionalmente
é importante aferir elementos sobre os hábitos de condução de modo a contextualizar (e
melhor compreender) a ocorrência do acidente: nomeadamente, a exposição à condução,
isto é, a distância percorrida num determinado período de tempo (e.g., km/mês); o tipo de
estradas utilizado (qualidade e complexidade das infraestruturas rodoviárias, intensidade de
trânsito); o estilo de condução (agressivo, defensivo) ou os comportamentos de
compensação durante a tarefa de condução.
Um simulador de condução, enquanto método de avaliação da capacidade de
condução, contém um valor incremental na validade ecológica de um protocolo de
investigação. A escolha ou definição de um simulador não deve ser, contudo, arbitrária. Se
os equipamentos e cenários devem ser o mais realistas possível, e desejavelmente
congruentes com as infraestruturas e a sinalização rodoviária em Portugal, um aspeto
essencial a definir são os objetivos de avaliação e as tarefas a realizar. Uma prova de
Revista E-Psi (2015), 5(1), 76-93
Ferreira & Simões
88
condução simulada deverá ser, sempre que possível, fundamentada em estudos de validade
em relação ao desempenho de condução real (cf., Lee et al., 2003) e à probabilidade de
envolvimento em acidentes futuros (cf., Lee & Lee, 2005). Na nossa perspetiva, um
simulador pode ser conceptualizado como um método de avaliação complementar da prova
de condução real, particularmente em pessoas com declínio funcional ou idade avançada,
atendendo à possibilidade de poderem mobilizar estratégias de compensação em contexto
real de trânsito.
Na implementação de uma prova de condução em contexto real de trânsito, importa
propiciar a uniformização das condições de avaliação e o controlo de variáveis que possam
influir no desempenho de condução, como por exemplo: o percurso de condução, fixo e
aberto ao trânsito, possibilitando um fluxo simultaneamente variável e naturalístico; o
horário de circulação, predefinido, de modo a propiciar a exposição dos participantes a uma
intensidade de trânsito congénere; e os fatores atmosféricos, não condicionantes da
visibilidade e das condições de segurança do piso (cf., Ferreira et al., 2012, 2013). O objetivo
é assegurar, o melhor possível, um nível comum de exigência e de similitude no processo de
avaliação.
De modo particular, na avaliação de condutores idosos, consideramos relevante a
adequação do método de avaliação às especificidades deste grupo da população condutora.
A título exemplificativo, um percurso de condução deve ser diversificado e possibilitar a
exposição a situações de trânsito exigentes para pessoas idosas, nomeadamente situações
que abrangem uma diversidade de estímulos e respostas (e.g., interseções, mudanças de via)
ou que impliquem ações face à sinalização (e.g., sinais de cedência de passagem) (European
Road Safety Observatory, 2009; Clarke, Ward, Bartle, & Truman, 2010). As características do
percurso devem ser também conformes com os hábitos de condução mais representativos
na população idosa (Rosa, 2011), de modo a evitar que os participantes sejam expostos a
situações de trânsito excessivamente simples, complexas ou mesmo atípicas. O observador
deve ser treinado na avaliação de condutores experientes, e não apenas na avaliação de
candidatos a condutores, sabendo distinguir erros que afetam a segurança, de erros
decorrentes de maus hábitos (adquiridos ao longo dos anos de experiência de condução)
mas que não prejudicam necessariamente a segurança (Selander, Lee, Johansson, &
Falkmer, 2011). Neste contexto, o processo geral de avaliação deverá incluir uma grelha de
observação de comportamentos de condução para idosos (cf., Marques & Ferreira, 2009),
com indicadores de fiabilidade adequados (Ferreira et al., 2012), sendo também relevante o
desenvolvimento de estudos de validade em relação a outros métodos como o histórico de
acidentes (Hoggarth et al., 2013).
Neste trabalho procurámos descrever e analisar, do ponto de vista da validade
preditiva, as potencialidades e limites de diferentes métodos para avaliação da capacidade
de condução. Em Portugal, o processo de avaliação psicológica de condutores não prevê o
Revista E-Psi (2015), 5(1), 76-93
Ferreira & Simões
89
recurso adicional a provas de condução simulada ou em contexto real de trânsito, pelo que
os resultados em testes psicológicos são mais decisivos na inferência acerca da capacidade
de condução das pessoas (cf., Ferreira, Maurício, & Simões, 2013). Nestas circunstâncias são
essenciais novas investigações para ampliar o conhecimento atualmente disponível sobre a
validade das pontuações nos testes psicológicos comummente utilizados no nosso país, em
relação a medidas de desempenho de condução em adultos idosos.
Agradecimentos Os autores agradecem os comentários e sugestões de aperfeiçoamento do manuscrito proposto formulados por um revisor anónimo.
Referências af Wåhlberg, A. E. (2010). Social desirability effects in driver behavior inventories. Journal of Safety Research, 41(2), 99-106.
doi: 10.1016/j.jsr.2010.02.005 Arthur, W., Bell, S. T., Edwards, B. D., Day, E. A., Tubre, T. C., & Tubre, A. H. (2005). Convergence of self-report and archival
crash involvement data: A two-year longitudinal follow-up. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 47(2), 303-313. doi: 10.1518/0018720054679416
Ball, K. K., Roenker, D. L., Wadley, V. G., Edwards, J. D., Roth, D. L., McGwin, G., . . . Dube, T. (2006). Can high-risk older drivers be identified through performance-based measures in a department of motor vehicles setting? Journal of the American Geriatrics Society, 54(1), 77-84. doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.00568.x
Barrash, J., Stillman, A., Anderson, S., Uc, E., Dawson, J., & Rizzo, M. (2010). Prediction of driving ability with neuropsychological tests: Demographic adjustments diminish accuracy. Journal of the International Neuropsychological Society, 16(4), 679-686. doi: doi:10.1017/S1355617710000470
Bonifácio, V., Cardoso-Pereira, N., & Pires, A. M. (2003, Novembro). Aferição do Teste da Figura Complexa de Rey-Osterrieth numa amostra nacional. Conferência apresentada no “Congresso de Neurociências Cognitivas”. Universidade de Évora, Évora.
Brown, L., Ott, B., Papandonatos, G., Sui, Y., Ready, R., & Morris, J. (2005). Prediction of on-road driving performance in patients with early Alzheimer's disease. Journal of the American Geriatrics Society, 53(1), 94-98. doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.53017.x
Carr, D., Schwartzberg, J., Manning, L., & Sempek, J. (2010). Physician’s guide to assessing and counseling older drivers (2nd
ed.). Washington, DC: NHTSA. Carsten, O., & Jamson, H. (2011). Driving simulators as research tools in Traffic Psychology. In B. Porter (Ed.), Handbook of
Traffic Psychology (pp. 87-96). San Diego: Academic Press. ISBN: 978-0-12-381984-0 Cavaco, S., Gonçalves, A., Pinto, C., Almeida, E., Gomes, F., Moreira, I., . . . Teixeira-Pinto, A. (2013). Trail Making Test:
Regression-based Norms for the Portuguese Population. Archives of Clinical Neuropsychology, 28(2), 189-198. doi: 10.1093/arclin/acs115
Clarke, D. D., Ward, P., Bartle, C., & Truman, W. (2010). Older drivers’ road traffic crashes in the UK. Accident Analysis & Prevention, 42(4), 1018–1024. doi: 10.1016/j.aap.2009.12.005
Crizzle, A. M., Classen, S., Bédard, M., Lanford, D., & Winter, S. (2012). MMSE as a predictor of on-road driving performance in community dwelling older drivers. Accident Analysis & Prevention, 49(0), 287-292. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2012.02.003
Curl, A. L., Stowe, J. D., Cooney, T. M., & Proulx, C. M. (2013). Giving up the keys: How driving cessation affects engagement in later life. The Gerontologist. doi: 10.1093/geront/gnt037
Devos, H., Akinwuntan, A. E., Nieuwboer, A., Truijen, S., Tant, M., & De Weerdt, W. (2011). Screening for fitness to drive after stroke. Neurology, 76(8), 747-756. doi: 10.1212/WNL.0b013e31820d6300
Devos, H., Vandenberghe, W., Nieuwboer, A., Tant, M., De Weerdt, W., Dawson, J. D., & Uc, E. Y. (2013). Validation of a screening battery to predict driving fitness in people with Parkinson's disease. Movement Disorders, 28(5), 671-674. doi: 10.1002/mds.25387
Emerson, J. L., Johnson, A. M., Dawson, J. D., Uc, E. Y., Anderson, S. W., & Rizzo, M. (2012). Predictors of driving outcomes in advancing age. Psychology and Aging, 27(3), 550-559. doi: 10.1037/a0026359
Revista E-Psi (2015), 5(1), 76-93
Ferreira & Simões
90
Espírito-Santo, H., Lemos, L., Ventura, L., Moitinho, S., Pinto, A.L., Rodrigues, F., …. Daniel, F. (2015, in press). Teste da Figura Complexa de Rey-Osterrieth-A. In M.R. Simões, I. Santana, & Grupo de Estudos de Envelhecimento Cerebral e Demência (GEECD) (Eds.), Escalas e Testes na demência (3ª ed., pp.94-101). Lisboa: Novartis.
European Road Safety Observatory (2009). Older Drivers. Brussels: ERSO Publications. Ferreira, I. S., & Simões, M. R. (2009). Avaliação neuropsicológica de condutores idosos: Relações entre resultados em
testes cognitivos, desempenho de condução automóvel e acidentes. Psychologica, 51, 225-247. Ferreira, I. S., & Simões, M. R. (2015, in press). Contributo da avaliação psicológica no exame clínico de condutores com
doença neurológica e psiquiátrica: Revisão teórica. Revista Portuguesa de Saúde Pública. Ferreira, I. S., Marmeleira, J. F., Godinho, M. B., & Simões, M. R. (2007). Cognitive factors and gender related to
self-reported difficulties in older drivers. In L.N. Boyle, J.D. Lee, D.V. McGehee, M. Raby, & M. Rizzo (Eds.), Proceedings of the 4
th International Driving Symposium on Human Factors in Driver Assessment, Training and
Vehicle Design (pp.511-518). Iowa: University of Iowa Public Policy Center. ISBN: 0874141583 9780874141580 Ferreira, I. S., Maurício, A., P., & Simões, M. R. (2013). Avaliação psicológica de condutores idosos em Portugal: Legislação
e linhas de orientação prática. Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica, 35(1), 201-223. Ferreira, I. S., Simões, M. R., & Godinho, M. B. (2008, Julho). Auto-relato no exame de condutores idosos: Valor relativo e
limites. Poster apresentado no “XIII Congresso do Centro de Psicopedagogia da Universidade de Coimbra”. Universidade de Coimbra, Coimbra.
Ferreira, I. S., Simões, M. R., & Marôco, J. (2012). The Addenbrooke’s Cognitive Examination Revised as a potential screening test for elderly drivers. Accident Analysis & Prevention, 49, 278-286. doi: 10.1016/j.aap.2012.03.036
Ferreira, I. S., Simões, M. R., & Marôco, J. (2013). Cognitive and psychomotor tests as predictors of on-road driving ability in older primary care patients. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 21, 146-158. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.trf.2013.09.007
Firmino, H., Simões, M., Pinho, S., Cerejeira, J., & Martins, C. (2010). Avaliação Cognitiva de Addenbrooke – Revista (ACE-R): Versão final portuguesa. Serviço de Avaliação Psicológica, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Coimbra.
Fisher, D. L., Rizzo, M., Caird, J., & Lee, J. D. (Eds.) (2010). Handbook of driving simulation for Engineering, Medicine, and Psychology. Boca Raton, FL: CRC Press. ISBN: 978-1420061000
Fox, G., Bowden, S., Bashford, G., Smith, D. (1997). Alzheimer's disease and driving: Prediction and assessment of driving performance. Journal of the American Geriatrics Society, 45(8), 949-953.
Freitas, S., Simões, M. R., Alves, L., & Santana, I. (2015, in press). The relevance of sociodemographic and health variables on MMSE normative data. Applied Neuropsychology: Adults.
Freund, B., & Smith, P. (2011). Older drivers. In B. Porter (Ed.), Handbook of Traffic Psychology (pp. 339-351). San Diego: Academic Press. ISBN: 978-0-12-381984-0
Garret, C., Santos, F., Tracana, I., Barreto, J., Sobral, M., & Fonseca, R. (2008). Avaliação clínica da demência. In A. Mendonça, & M. Guerreiro (Eds.), Escalas e testes na demência (pp.17-32). Lisboa: Grupo de Estudos de Envelhecimento Cerebral e Demências.
Goldstein, G. (1996). Functional considerations in neuropsychology. In R. J. Sbordone, & C. J. Long (Eds.), Ecological validity of neuropsychological testing (pp.75-89). Delray Beach, FL: GR Press/St. Lucie Press. ISBN: 9781574440249
Gonçalves, C., Pinho, M. S., Cruz, V., Pais, J., Gens, H., Santana, I., & Santos, J. M. (2015, in press). The Portuguese version of Addenbrooke’s Cognitive Examination-Revised (ACE-R) in the diagnosis of subcortical vascular dementia and Alzheimer’s Disease. Aging, Neuropsychology and Cognition.
Guerreiro, M., Silva, A. P., & Botelho, M. A. (1994). Adaptação à população portuguesa da tradução do "Mini Mental State Examination" (MMSE). Revista Portuguesa de Neurologia, 1, 9-10.
Hoggarth, P. A., Innes, C. R. H., Dalrymple-Alford, J. C., & Jones, R. D. (2013). Prospective study of healthy older drivers: No increase in crash involvement or traffic citations at 24 months following a failed on-road assessment. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 16(0), 73-80. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.trf.2012.08.012
Hole, G. (2007). Methodological issues in the study of driving. In G. Hole (Ed.), The Psychology of Driving (pp. 1-19). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. ISBN: 978-0805859782
Iverson, D. J., Gronseth, G. S., Reger, M. A., Classen, S., Dubinsky, R. M., & Rizzo, M. (2010). Practice Parameter update: Evaluation and management of driving risk in dementia. Neurology, 74(16), 1316-1324. doi: 10.1212/WNL.0b013e3181da3b0f
Klimkeit, E., Bradshaw, J., Charlton, J., Stolwyk, R., & Georgiou-Karistianis, N. (2009). Driving ability in Parkinson's disease: Current status of research. Neuroscience Biobehavior Research, 33(3), 223-231. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.neubiorev.2008.08.005
Kweon, Y-J. (2011). Crash data sets and analysis. In B. Porter (Ed.), Handbook of Traffic Psychology (pp. 97-105). San Diego: Academic Press. ISBN: 978-0-12-381984-0
Lajunen, T., & Özkan, T. (2011). Self-report instruments and methods. In B. Porter (Ed.), Handbook of Traffic Psychology (pp. 43-59). San Diego: Academic Press. ISBN: 978-0-12-381984-0
Revista E-Psi (2015), 5(1), 76-93
Ferreira & Simões
91
Lee, H. C., & Lee, A. H. (2005). Identifying older drivers at risk of traffic violations by using a driving simulator: A 3-year longitudinal study. American Journal of Occupational Therapy, 59(1), 97-100.
Lee, H. C., Cameron, D., & Lee, A. H. (2003). Assessing the driving performance of older adult drivers: On-road versus simulated driving. Accident Analysis & Prevention, 35(5), 797-803. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S0001-4575(02)00083-0
Lee, H. C., Lee, A. H., Cameron, D., & Li-Tsang, C. (2003). Using a driving simulator to identify older drivers at inflated risk of motor vehicle crashes. Journal of Safety Research, 34(4), 453-459. doi: 10.1016/j.jsr.2003.09.007
Lincoln, N. B., & Radford, K. A. (2013). Driving in neurological patients. In L.H. Goldstein, & J.E. McNeil (Eds.), Clinical neuropsychology: A practical guide to assessment and management for clinicians (2
nd ed.; pp. 567-588). UK:
Wiley-Blackwell. ISBN: 978-0-470-68371-2 Lincoln, N. B., Ferreira, I. S., & Simões, M. R. (2009). Stroke Drivers Screening Assessment. European Portuguese
Experimental version (SDSA; F. Nouri, N. Lincoln, 1994®). University of Nottingham & Psychological Assessment
Department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Coimbra. Man-Son-Hing, M., Marshall, S. C., Molnar, F. J., & Wilson, K. G. (2007). Systematic review of driving risk and the efficacy of
compensatory strategies in persons with Dementia. Journal of the American Geriatrics Society, 55(6), 878-884. doi: 10.1111/j.1532-5415.2007.01177.x
Marcotte, T. D., & Scott, J. C. (2009). Neuropsychological performance and the assessment of driving behaviour. In I. Grant, & K. Adams (Eds.), Neuropsychological assessment of neuropsychiatric and neuromedical disorders (pp.652-687). New York: Oxford University Press. ISBN: 978-0195378542
Marques, S., & Ferreira, I. S. (2009). Grelha de observação de comportamentos de condução para idosos (GOCCI). Lisboa: Automóvel Club de Portugal & Serviço de Avaliação Psicológica da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.
Martin, A. J., Marottoli, R., & O'Neill, D. (2013). Driving assessment for maintaining mobility and safety in drivers with dementia. Cochrane Database of Systematic Reviews, 8. doi: 10.1002/14651858.CD006222.pub4
Mathias, J., & Lucas, L. (2009). Cognitive predictors of unsafe driving in older drivers: A meta-analysis. International Psychogeriatrics, 21(4), 637-653. doi:10.1017/S1041610209009119
Morgado, J., Rocha, C. S., Maruta, C, Guerreiro, M., & Martins, I. P. (2009). Novos valores normativos do Mini-Mental State Examination. Sinapse, 2(9), 10-16.
Morgan, E., E. & Heaton, R. K. (2009). Neuropsychology in relation to everyday functioning. In I. Grant, & K. Adams (Eds.), Neuropsychological assessment of neuropsychiatric and neuromedical disorders (3
rd ed., pp.632-651). New York:
Oxford University Press. ISBN: 978-0195378542 Porter, M. M., & Whitton, M. J. (2002). Assessment of driving with the global positioning system and video technology in
young, middle-aged, and older drivers. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 57(9), M578-M582. doi: 10.1093/gerona/57.9.M578
Reger, M., Welsh, R., Watson, G., Cholerton, B., Baker, L., & Craft, S. (2004). The relationship between neuropsychological functioning and driving ability in dementia: A meta-analysis. Neuropsychology, 18(1), 85-93. doi: 10.1037/0894-4105.18.1.85
Rizzo, M. (2011). Impaired driving from medical conditions. The Journal of the American Medical Association, 305(10), 1018-1026. doi: 10.1001/jama.2011.252
Rolison, J. J., Hewson, P. J., Hellier, E., & Husband, P. (2012). Risk of fatal injury in older adult drivers, passengers, and pedestrians. Journal of the American Geriatrics Society, 60(8), 1504-1508. doi: 10.1111/j.1532-5415.2012.04059.x
Rosa, A. (2011). Condutores seniores em Portugal. Tese de Mestrado em Saúde e Envelhecimento. Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa.
Sadek, J. R., & van Gorp, W. G. (2010). Prediction of vocational functioning from neuropsychological performance. In T.D. Marcotte, & I. Grant (Eds.), Neuropsychology of everyday functioning (pp.113-135). New York: Guilford Press. ISBN: 978-1606234594
Santana, I., Vicente, M., Freitas, S., Santiago, B., & Simões, M. R. (2015, in press). Avaliação Clínica da Demência (CDR). In M.R. Simões, I. Santana, & Grupo de Estudos de Envelhecimento Cerebral e Demência (GEECD) (Eds.), Escalas e Testes na demência (3ª ed., pp.6-11). Lisboa: Novartis.
Selander, H., Lee, H. C., Johansson, K., & Falkmer, T. (2011). Older drivers: On-road and off-road test results. Accident Analysis and Prevention, 43(4), 1348-1354. doi: 10.1016/j.aap.2011.02.007
Silverberg, N. D., & Millis, S. R. (2009). Impairment versus deficiency in neuropsychological assessment: Implications for ecological validity. Journal of the International Neuropsychological Society, 15(1), 94-102. doi: doi:10.1017/S1355617708090139
Simões, M. R., Pinho, M. S., Prieto, G., Sousa, L. B., Ferreira, I. S., Gonçalves, C.,… Firmino, H. (2015, in press). Addenbrooke’s Cognitive Examination Revised (ACE-R). In M.R. Simões, I. Santana, & Grupo de Estudos de Envelhecimento Cerebral e Demência (GEECD) (Eds.), Escalas e Testes na demência (3ª ed., pp.26-31). Lisboa: Novartis.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 76-93
Ferreira & Simões
92
Stinchcombe, A., & Gagnon, S. (2013). Aging and driving in a complex world: Exploring age differences in attentional demand while driving. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 17, 125-133. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.trf.2012.11.002
Sullman, M. J. M., & Taylor, J. E. (2010). Social desirability and self-reported driving behaviours: Should we be worried? Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 13(3), 215-221. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.trf.2010.04.004
Tupper, D. E., & Cicerone, K. D. (1990). Introduction to the neuropsychology of everyday life. In D.E. Tuppe,r & K.D. Cicerone (Eds.), The neuropsychology of everyday life (pp.3–17). Boston: Kluwer. ISBN: 978-0792306719
Windsor, T. D., Anstey, K. J., & Walker, J. G. (2008). Ability perceptions, perceived control, and risk avoidance among male and female older drivers. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 63(2), P75-P83.
Zingg, C., Puelschen, D., & Soyka, M. (2009). Neuropsychological assessment of driving ability and self-evaluation: a comparison between driving offenders and a control group. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 259(8), 491-498. doi: 10.1007/s00406-009-0019-z
Zuin, D., Ortiz, H., Boromei, D., & Lopez, O. L. (2002). Motor vehicle crashes and abnormal driving behaviours in patients with dementia in Mendoza, Argentina. European Journal of Neurology, 9(1), 29-34. doi: 10.1046/j.1468-1331.2002.00296.x
Revista E-Psi (2015), 5(1), 76-93
Ferreira & Simões
93
Predictive validity of psychological tests in driving capacity of older adults
Abstract The automobile driving is currently an essential activity of daily living for older people. The demographic aging
and expected increase of the number of older drivers with neuropsychological changes related with aging or
medical conditions, explains the great interest for assessment methods allowing the identification of people
with diminished driving capacity and major risk of road accident.
Considerable research has shown the validity of results in psychological tests, namely cognitive tests, to predict
outcomes of driving performance. The predictive validity of psychological instruments in relation to
performance in daily living activities is, however, determined by the characteristics and specificities of the
external criterion.
This paper presents a critical review of the main assessment and research methods of driving capacity.
Specifically, it describes and analyses the characteristics, including potentialities and limits of psychological
tests, road traffic accidents, on-road and simulated driving, envisaging the implementation of future work in
this field in Portugal.
Keywords Psychological assessment, cognitive tests, driving capacity, older adults, predictive validity, research
methods.
Received: 14.07.2014 Revision received: 16.11.2014
Accepted: 12.12.2014
Revista E-Psi, 2015, 5 (1) Published Online http://www.revistaepsi.com Revista E-Psi
Como citar/How to cite this paper: Alves, S., Brandão, D., Teixeira, L., Azevedo, M.J., Duarte, M., Ribeiro, O., & Paúl, C. (2015). Intervenções psicoeducativas e distress psicológico em cuidadores informais: Análise comparativa de dois projetos comunitários. Revista E-Psi, 5(1), 94-112.
Intervenções psicoeducativas e distress psicológico em cuidadores
informais: Análise comparativa de dois projetos comunitários
Sara Alves1, Daniela Brandão2, Laetitia Teixeira3, Maria João Azevedo4,
Mafalda Duarte5, Óscar Ribeiro6, & Constança Paúl7
Copyright © 2015. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License 3.0 (CC BY-NC-ND). http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
1Unidade de Investigação e Formação sobre Adultos e Idosos (UNIFAI/ICBAS-UP) e Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto (FMUP). E-mail: [email protected] 2
Unidade de Investigação e Formação sobre Adultos e Idosos (UNIFAI/ICBAS-UP). E-mail: [email protected] 3
Unidade de Investigação e Formação sobre Adultos e Idosos (UNIFAI/ICBAS-UP). E-mail: [email protected] 4
Unidade de Investigação e Formação sobre Adultos e Idosos (UNIFAI/ICBAS-UP). E-mail: [email protected] 5 Unidade de Investigação e Formação sobre Adultos e Idosos (UNIFAI/ICBAS-UP) e Instituto Superior de Saúde
do Alto Ave (ISAVE). E-mail: [email protected] 6 Unidade de Investigação e Formação sobre Adultos e Idosos (UNIFAI/ICBAS-UP). Escola Superior de Saúde da
Universidade de Aveiro (ESSUA-UA) e Instituto Superior de Serviço Social do Porto (ISSSP). E-mail: [email protected] 7 Unidade de Investigação e Formação sobre Adultos e Idosos (UNIFAI/ICBAS-UP) e Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar (ICBAS-UP) E-mail: [email protected]
Revista E-Psi (2015), 5(1), 94-112 Alves et al.
95
Resumo Cuidar de alguém dependente é uma tarefa exigente que muitas vezes conduz a um desgaste físico e emocional.
As exigências do cuidado informal, associadas ao impacto que esta tarefa poderá ter na saúde do cuidador, têm
levado a uma crescente preocupação com este grupo. Se por um lado é fundamental intervir com cuidadores
informais é, igualmente, fundamental perceber qual o verdadeiro impacto destas intervenções. O presente
estudo pretende comparar dois programas de intervenção psicoeducativa no distress psicológico experienciado
pelos cuidadores informais. Foi considerada uma amostra de 168 cuidadores informais de pessoas dependentes
participantes em dois projetos de intervenção comunitária (Cuidar de Quem Cuida e Cuidar em Casa). De um
modo geral, os resultados apontam para uma diminuição dos níveis de distress entre os momentos de pré-teste
e pós-teste em ambos os programas, apesar de existirem diferenças nas metodologias adotadas. A aposta na
implementação deste tipo de programas para cuidadores informais deve ser reforçada, bem como a
sensibilização dos profissionais de saúde e do social para a sua importância numa ótica de trabalho em rede.
Palavras-chave Cuidadores informais, distress psicológico, intervenções psicoeducativas.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 94-112 Alves et al.
96
Introdução As redes de suporte informais são, geralmente, constituídas por algum familiar, amigo,
vizinho ou outro que presta cuidados a pessoas com algum grau de dependência, e que não
são remunerados economicamente pelos cuidados que prestam (Cruz, Loureiro, Silva, &
Fernandes, 2010). Estas pessoas são denominadas por cuidadores informais e assumem em
muitos casos, o papel principal no apoio ao idoso sem terem conhecimentos adequados ao
papel que desempenham, facto que torna essa tarefa muito mais exigente e desgastante
quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista emocional (Andrade, 2009).
De acordo com Neri (2000), podem ser considerados quatro domínios de atuação
relativos à prestação de cuidados pelos cuidadores informais a indivíduos com perda de
autonomia: (i) apoiar nas atividades instrumentais da vida diária como, por exemplo, cuidar
da casa, preparar as refeições, ir às compras e pagar as contas; (ii) auxiliar nas dificuldades
funcionais de autocuidado, como, dar banho, vestir, alimentar, posicionar e deambular; (iii)
apoiar, emocionalmente, o recetor de cuidados, fazer companhia e conversar; (iv) lidar com
as pressões resultantes de cuidar. Este último domínio reporta ao envolvimento do cuidador
em múltiplas tarefas, resultado do apoio que presta diretamente à pessoa dependente, mas
também dos outros papéis que ocupa na sociedade (e.g. esposo/a, trabalhador/a, filho/a,
pai/mãe), levando a um grande esforço para dar resposta às inúmeras exigências e
conduzindo a uma sobrecarga elevada. Estes momentos de tensão experienciados pelo
cuidador podem desencadear efeitos adversos na saúde do cuidador, impacto que se
designa de sobrecarga subjetiva. A sobrecarga subjetiva é conceptualizada como o grau de
ansiedade e depressão reportados pelo cuidador e está relacionada com o grau de distress
(Lage, 2007).
A sobrecarga pode ser resultado de problemas aos níveis físico, psicológico, financeiro
e/ou social (Santos, 2008). Segundo Hoffman e Mitchel (1998, cit. por Ribeiro, 2007, p. 59) as
consequências físicas traduzem-se sobretudo em «debilitação do estado de saúde, cansaço,
alterações no sistema imunológico, alterações cardiovasculares, lesões musculares». Os
mesmos autores referem, ainda, que ao nível psicológico a prestação de cuidados informais
pode desencadear consequências como «depressão, ansiedade, frustração, problemas de
sono», e ao nível social «restrição de atividades, isolamento, conflitos familiares e laborais».
De salientar que o stress é um fator importante nos cuidadores informais de pessoas idosas,
pois o stress relacionado com o ato de cuidar de alguém está mais associado aos elementos
emocionais da situação e à forma como ela é percecionada pelo cuidador do que com o
número de tarefas objetivas ou o grau de dependência física ou mental do doente (Paúl,
1997).
Quando o cuidador enfrenta momentos de pressão e, na ausência de respostas
imediatas para resolver a situação, este fica exposto a sentimentos de maior tensão (e.g.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 94-112 Alves et al.
97
ansiedade, culpa, medo), podendo provocar um estado de confusão psicológica e social
(Paúl, 1997; Sousa, Mendes, & Relvas, 2007; Shah, Wadoo, & Latoo, 2010). Este estado de
mal-estar e tensão não é suportável durante muito tempo, fazendo com que o indivíduo
mobilize recursos de coping que o poderão conduzir a uma adaptação às exigências do
cuidado (Ribeiro, 2007). Contudo, estes recursos pessoais podem não ser suficientes, o que
pode desencadear uma situação de exaustão (burnout), com graves implicações no estado
de saúde e qualidade de vida do cuidador e do recetor de cuidados (Hudson et al., 2013). É
precisamente dadas estas circunstâncias que os cuidadores se assumem como um eixo
prioritário de intervenção, apresentando necessidades para as quais é fundamental dar uma
resposta profissional eficaz no sentido de diminuir as consequências negativas advindas da
prestação de cuidados, seja pela promoção de conhecimentos específicos sobre a tarefa do
cuidar (e da condição clínica do recetor de cuidados em causa), seja pela dotação de
competências de gestão socio-emocional das consequências que a mesma implica na vida do
cuidador.
Programas de intervenção psicoeducativa
Hoje sabe-se que cuidar de alguém dependente pode ter repercussões gratificantes
para o cuidador informal, mas ao mesmo tempo muito desgastantes (Ribeiro, 2007) e com
um impacto negativo na sua saúde física e mental, pelo que tem havido uma grande
preocupação em desenvolver intervenções específicas para esta população (Northouse,
Katapodi, Song, Zhang, & Mood, 2010; Ponce et al., 2011; Marques, Teixeira, & Souza, 2012;
Hudson et al., 2013; Ribeiro, Pires, Brandão & Martín, 2013). Nesse sentido, das medidas de
intervenção específicas para os cuidadores, destacam-se aquelas que têm como objetivo
principal aumentar os recursos pessoais para enfrentar o cuidado e/ou reduzir as exigências
intrínsecas do papel, potenciando os aspetos positivos que possam ser identificados (Ribeiro,
2007). Algumas medidas centram-se em respostas estruturadas nos serviços de apoio social
disponíveis para a população idosa (e.g. serviço de apoio domiciliário), mas podem ser
complementadas por serviços disponibilizados no âmbito da saúde (e.g. serviços de alívio
temporário) e mesmo por serviços de saúde mental, estabelecendo-se uma relação direta
entre o apoio prestado e a situação em que se encontra o recetor de cuidados.
Segundo Ribeiro (2007), uma das medidas específicas de suporte para cuidadores
informais são os programas de intervenção psicoeducativa. Estes contemplam uma
intervenção de suporte educativo e de suporte emocional, permitindo ao cuidador obter
conhecimentos e, ainda, partilhar dúvidas e vivências, através de momentos organizados
para o efeito, permitindo desse modo a normalização de sentimentos (Zarit & Femia, 2008).
Esta metodologia de intervenção integra não só os recursos sociais como também o apoio e
a ajuda profissional de forma otimizada, constituindo assim uma medida de elevada
importância terapêutica (Yanguas, Leturia, Leturia, & Uriarte, 1998; Gonçalves-Pereira &
Revista E-Psi (2015), 5(1), 94-112 Alves et al.
98
Sampaio, 2011). Este modelo contempla o apoio de técnicos especialistas nos temas das
sessões - os dinamizadores - que ajudam a preparar os cuidadores para os momentos de
transição, aumentando as suas competências, autoeficácia e autoconfiança para lidar com as
situações, disponibilizando informação acerca de serviços formais e facilitando o
desenvolvimento de redes informais de suporte (Ducharme, Lachance, Lévesque, Kergoat, &
Zarit, 2012). O incremento de novas competências possibilita ao cuidador o
desenvolvimento das capacidades de comunicação com o recetor de cuidados e a promoção
do autocuidado (Zarit & Femia, 2008).
A combinação simultânea de suporte educativo e emocional pressupõe que a
conceção dos programas psicoeducativos obedeça a características e objetivos muito
específicos. Alguns autores (Sousa et al., 2007; Zarit & Femia, 2008; Ponce et al., 2011) têm
vindo a sistematizar alguns dos objetivos subjacentes a uma intervenção psicoeducativa, os
quais incluem, de uma forma geral e entre outros: (i) rever com o cuidador as estratégias de
coping do idoso e da família face à situação existente; (ii) ajudar a criar na família uma rede
de relações que permita dar resposta ao apoio necessário; (iii) oferecer orientações
concretas e suporte na crise; (iv) apoiar na resolução de problemas; (v) reduzir o stress; (vi)
preparar para as transições; (vii) preparar a família para o desenvolvimento da doença. Os
programas de intervenção psicoeducativa têm sido alvo de um grande interesse ao nível
internacional, levando a um crescente número de estudos nesta temática (Hudson, Aranda,
& Hayman-White, 2005; Shah et al., 2010; Sharif, Shaygan, & Mani, 2012; Fallahi Khoshknab,
Sheikhona, Rahgouy, Rahgozar, & Sodagari, 2014). Porém, no contexto nacional, verifica-se
um reduzido número de estudos acerca dos programas de intervenção psicoeducativa, facto
que, por si só, evidencia a pertinência de se aprofundar o conhecimento neste domínio. É
precisamente neste âmbito que surge este estudo que visa contribuir para o aumento do
conhecimento deste tema através da análise de dois programas de intervenção
psicoeducativa de base comunitária implementados no Norte do país, o Cuidar de Quem
Cuida (CQC) e o Cuidar em Casa (CC). Mais especificamente, o estudo, tem como objetivos
principais explorar as principais diferenças entre duas intervenções psicoeducativas e
comparar as mesmas nos níveis de distress psicológico experienciado por cuidadores
informais de pessoas idosas.
Metodologia
Amostra
Neste estudo foram considerados 168 cuidadores informais de pessoas com idade
igual ou superior a 60 anos, participantes em dois projetos de intervenção comunitária – o
Cuidar de Quem Cuida (n= 115) e o Cuidar em Casa (n=53). O primeiro é um projeto
implementado na região Entre Douro e Vouga (EDV) entre 2009 e 2013 e que abrange cinco
Revista E-Psi (2015), 5(1), 94-112 Alves et al.
99
municípios, Santa Maria da Feira, Arouca, São João da Madeira, Vale de Cambra e Oliveira de
Azeméis, financiado pelo Alto Comissariado para a Saúde, Câmara Municipal de Santa Maria
da Feira e Fundação Calouste Gulbenkian. O propósito geral do projeto era promover
respostas de apoio especializado a cuidadores informais de pessoas idosas com demência ou
em situação de pós Acidente Vascular Cerebral (AVC). O projeto assentou em diversas linhas
de intervenção, entre elas a implementação de grupos psicoeducativos dirigidos aos
cuidadores informais, resultando num programa de intervenção psicoeducativo com o
mesmo nome do projeto. O Cuidar em Casa é um projeto de intervenção destinado a
cuidadores informais de pessoas idosas, implementado no município de Guimarães entre
2010 e 2011, e financiado pelo Alto Comissariado para a Saúde. Dentro dos seus objetivos
principais, encontra-se a prevenção do risco de danos psicossociais e físicos associados à
prestação de cuidados a pessoas idosas, dotando os participantes de competências para
lidar com as especificidades da pessoa a seu cargo, assim como de competências de
autocuidado e gestão da sobrecarga. Tal como o Cuidar de Quem Cuida, o projeto Cuidar em
Casa incluiu, igualmente, várias linhas de intervenção, entre elas, a implementação de
grupos psicoeducativos dirigidos a cuidadores informais. Sendo ambos os projetos de raiz
comunitária, a sinalização dos cuidadores informais a integrar nos programas resultou de um
formulário de sinalização preenchido pelos agentes parceiros de cada projeto, tendo sido
debatidos alguns critérios de inclusão indispensáveis a uma adequada integração dos
cuidadores no âmbito deste tipo de resposta psicoeducativa. Assim, no âmbito do projeto
Cuidar de Quem Cuida, foram incluídos cuidadores que (i) fossem cuidadores de uma pessoa
com doença de Alzheimer ou em situação de pós-AVC, a residir na comunidade; (ii)
assumissem um papel primário (preferencial) ou secundário na prestação de cuidados; (iii)
fossem autónomos e (iv) tivessem capacidade para integrar um grupo (e.g. sem grandes
dificuldades ao nível sensorial). No projeto Cuidar em Casa, os critérios de inclusão foram: (i)
ser cuidador de um recetor de cuidados com 60 ou mais anos, a residir na comunidade; (ii) o
recetor de cuidados devia ter algum grau de dependência; (iii) ter disponibilidade para
frequentar as sessões. Foi considerado como critério de exclusão estar a beneficiar de outro
tipo de programa de apoio ao cuidador.
As intervenções psicodeducativas
O programa psicoeducativo do projeto Cuidar de Quem Cuida consistiu em 10 sessões
semanais (2 horas cada), perfazendo um total de 20 horas. As sessões foram orientadas por
um psicólogo e por um enfermeiro, verificando-se, ainda a participação de outros
profissionais (e.g. assistentes sociais, juristas, gerontólogos) em sessões específicas. No
âmbito deste projeto, foram delineados dois programas: um primeiro destinado aos
cuidadores informais de pessoas com demência de tipo Alzheimer e um segundo destinado a
cuidadores informais de pessoas em situação pós-AVC. Os programas incluíam informação
Revista E-Psi (2015), 5(1), 94-112 Alves et al.
100
sobre a doença, estratégias de coping, auto-cuidado, e recursos legais e da comunidade a
que os cuidadores podiam recorrer. Por sua vez, o programa psicoeducativo Cuidar em Casa
foi estruturado em 7 sessões semanais (2 horas cada), perfazendo um total de 14 horas. As
sessões foram conduzidas por um psicólogo (coordenador), que se manteve ao longo de
todas as sessões, e um ou mais técnicos especialistas no tema da sessão (assistente social,
enfermeiro ou terapeuta ocupacional). O programa incluiu diferentes temáticas,
nomeadamente: informação sobre o processo de envelhecimento, informação genérica
acerca de patologias mais comuns, cuidados à pessoa idosa, estratégias de coping,
autocuidado e recursos legais e da comunidade a que os cuidadores podiam recorrer.
Instrumentos
Foi desenvolvido um protocolo de avaliação no âmbito dos dois projetos de
intervenção, contemplando a avaliação das principais características do cuidador, recetor de
cuidados e contexto da prestação de cuidados. Mais especificamente foi recolhida
informação sociodemográfica e informação referente ao enquadramento da prestação de
cuidados, ou seja, à duração do cuidado prestado, circunstâncias (e.g. co-residência), bem
como ao tipo de apoio prestado. Em relação especificamente ao cuidador, o protocolo de
avaliação contemplou as seguintes áreas:
• Saúde física e mental. A saúde subjetiva dos cuidadores foi avaliada através da
versão portuguesa do MOS Short-Form 12 Health Survey (SF-12v2) (Ferreira, 2000)
desenvolvida a partir da versão original 36 - Short Form Health Survey (SF-36) (Ware &
Gandek, 1998). Este instrumento é constituído por 12 itens segundo uma escala tipo Likert
de 5 pontos, variando de acordo com as questões, entre 1 (ótimo, sempre, absolutamente
nada) a 5 (fraca, nunca, imenso) e permite avaliar duas dimensões de saúde: saúde física e
saúde mental. Não há dados referentes à consistência interna da versão portuguesa do
instrumento, contudo, no estudo da versão original foram encontrados valores de correlação
teste-reteste de .89 e .76, para as dimensões Física e Mental, respetivamente. Valores
elevados da escala correspondem a melhores níveis de saúde subjetiva.
• Sobrecarga. A sobrecarga experienciada pelos cuidadores foi avaliada através da
versão portuguesa do Modified Caregiver Strain Index (M-CSI) (Thornton & Travis, 2003;
Martín, Ribeiro, Brandão, Duarte, & Teixeira, submetido) originalmente desenvolvida por
Robinson (1983). Utilizou-se a versão modificada que apresenta três hipóteses de escolha,
em vez de duas hipóteses como a versão original, e é por isso mais sensível, apresentando
um coeficiente α de Cronbach de .90 maior do que o da sua antecessora e um coeficiente de
consistência teste-reteste de .88 (Onega, 2008). Este instrumento é constituído por 13 itens
e apresenta três hipóteses de escolha: 0 (não), 1 (sim) e 2 (sim, regularmente). Valores
elevados da escala correspondem a maiores níveis de sobrecarga. Este instrumento permite
Revista E-Psi (2015), 5(1), 94-112 Alves et al.
101
ainda avaliar de modo fácil e rápido a sobrecarga associada à prestação de cuidados nos
seguintes domínios: emprego, finanças, saúde física, relações sociais e tempo. A pontuação
obtida na escala pode variar de 0 a 26 pontos.
• Gratificação. A gratificação com a prestação de cuidados foi avaliada através da
versão portuguesa da Escala dos Aspetos Positivos do Cuidar (Gonçalves Pereira et al., 2010),
desenvolvida a partir da versão original Positive Aspects of Caregiving Scale (PAC) (Tarlow et
al., 2004). O instrumento original apresenta um α de Cronbach de .89 para escala total, que
é o mesmo que dizer que tem forte consistência interna. Este instrumento é constituído por
11 itens, segundo uma escala de Likert de 4 pontos, variando de 1 (discordo muito) a 5
(concordo muito). Valores elevados da escala correspondem a maior satisfação e aspetos
positivos da prestação de cuidados, sendo que a pontuação obtida pode variar de 11 a 55
pontos.
• Distress psicológico. O distress psicológico experienciado pelos cuidadores foi
avaliado com recurso à versão portuguesa (Laranjeira, 2008) da General Health
Questionnaire (GHQ-12), originalmente desenvolvida por Goldberg and Hillier (1979). Este
instrumento é constituído por 12 itens, cotado numa escala tipo Likert de 0 a 4 com
pontuações mais elevadas a indicar maiores níveis de distress. Possui uma consistência
interna aceitável com um α de Cronbach de .91 (Laranjeira, 2008) bem como rigor na sua
validade, devidamente atestada pelo método de validade de constructo e pelo método da
validade concorrente. No âmbito do presente estudo, as respostas foram dicotomizadas,
adotando-se o ponto de corte de 4, seguindo a metodologia utilizada em estudos
portugueses anteriores (Paúl, Ayis, & Ebrahim, 2006; Paúl & Ribeiro, 2007). Neste caso, a
pontuação obtida na escala pode variar de 0 a 12 pontos, sendo que a partir de 4 pontos os
sujeitos foram classificados como casos positivos de distress.
Procedimentos
A sinalização e o recrutamento dos participantes foram realizados a partir das
entidades parceiras dos dois projetos, designadamente instituições de saúde, Câmaras
Municipais e instituições sociais da região. A divulgação dos projetos foi efetuada com
recurso a diversos meios (e.g. flyers, newsletters, divulgação em paróquias, comunicação
social), tendo sido todos os potenciais participantes contactados telefónica ou pessoalmente
para averiguar o seu interesse em participar no estudo e responder ao protocolo de
avaliação. A aplicação dos questionários foi realizada com a supervisão de profissionais
especializados e devidamente treinados. Os participantes foram informados dos objetivos e
condições do estudo, e assinaram um consentimento informado, salvaguardando-se os
preceitos éticos deste tipo de investigação.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 94-112 Alves et al.
102
Análise Estatística
Num primeiro momento, foi efetuada uma descrição das amostras em estudo através
da análise exploratória dos dados de caracterização do cuidador informal, recetor de
cuidados e contexto da prestação de cuidados, bem como análise dos níveis de distress, por
score global da escala (recorrendo a medidas de tendência central e de dispersão e
frequências absolutas e relativas de acordo com a natureza das variáveis). A distribuição das
variáveis contínuas foi explorada com recurso ao teste de Shapiro-Wilk. A exploração das
diferenças entre os dois grupos de participantes foi efetuada com recurso ao teste t-Student
ou ao teste de Qui-Quadrado. A comparação das intervenções psicoeducativas foi realizada
com recurso à análise de medidas repetidas (ANOVA para medidas repetidas). A amostra
total compreende 168 participantes (CQC, n= 115; CC, n=53), podendo este valor ser menor
quando consideradas algumas variáveis dada a existência de valores em falta para as
mesmas.
Todas as análises foram efetuadas com recurso ao software estatístico IBM SPSS
Statistics Versão 21 e em todas as análises foi considerado o nível de significância α=.05.
Resultados
Cuidadores informais
Considerando os dois grupos, a análise das características dos cuidadores informais
permite verificar que a maioria é do sexo feminino (81.0%), casada/em união de facto
(80.2%), apresenta baixos níveis de escolaridade (48.2% tem habilitações iguais ou inferiores
ao 1º ciclo do Ensino Básico) e dispõe de baixos rendimentos (52.3% aufere menos que o
ordenado mínimo). No que respeita à relação entre cuidador e recetor de cuidados, é
possível verificar que a maioria são filhos (61.3%) ou cônjuges (22.6%) da pessoa de quem
cuidam, refletindo-se no facto de que a maioria dos cuidadores (61.7%) reside na mesma
habitação que o recetor de cuidados. De acordo com a informação descrita na Tabela 1,
pode ainda constatar-se a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os
dois grupos em algumas variáveis, nomeadamente na idade do cuidador informal, situação
ocupacional deste e na relação com o recetor de cuidados. O grupo de cuidadores do CQC
apresenta uma média de idades superior à apresentada pelo grupo do CC (≈ 58 anos e ≈ 52
anos respetivamente). No que diz respeito à situação ocupacional, o grupo CQC está
maioritariamente desempregado, enquanto no grupo CC apresenta uma distribuição mais
balanceada. Por fim, analisando a relação com o recetor de cuidados, o grupo CC é
composto, maioritariamente, por filhos, enquanto no grupo do CQC existe uma elevada
percentagem de cuidadores cônjuges/companheiros.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 94-112 Alves et al.
103
Tabela 1. Caracterização sociodemográfica dos cuidadores informais, total e por grupo
Total CQC CC p X
2
P t Student
M (DP) M (DP) M (DP)
Idade (anos) 55.93 (12.48)
57.76 (13.33)
51.96 (9.31)
.004
N (%) n (%) n (%)
Sexo Masculino Feminino
32 (19.0) 136 (81.0)
26 (22.6) 89 (77.4)
6 (11.3) 47 (88.7)
.083
Grau de Escolaridade ≤ 1º ciclo do Ensino Básico > 1º ciclo do Ensino Básico
81 (48.2) 87 (51.8)
56 (48.7) 59 (51.3)
25 (47.2) 28 (52.8)
.854
Estado Civil Casado
Não Casado 134 (80.2) 33 (19.8)
95 (83.3) 19 (16.7)
39 (73.6) 14 (26.4)
.141
Situação Ocupacional Empregado
Não empregado 35 (20.8)
133 (79.2) 16 (13.9) 99 (86.1)
19 (35.8) 34 (64.2)
.001
Rendimentos ≤ SMN > SMN
80 (52.3) 73 (47.7)
54 (50.0) 54 (50.0)
26 (57.8) 19 (42.2)
.380
Relação com o Recetor de Cuidados
Cônjuge/Companheiro Filho Outro
38 (22.6) 103 (61.3) 27 (16.1)
36 (31.3) 62 (53.9) 17 (14.8)
2 (3.8) 41 (77.4) 10 (18.9)
<.001
Distância entre o cuidador e o recetor de cuidados
Vivem na mesma casa/edifício Vivem com distâncias entre si
112 (67.1) 55 (32.9)
79 (68.7) 36 (31.3)
33 (63.5) 19 (36.5)
.505
SMN = Salário Mínimo Nacional
Recetores de cuidados
A análise das características dos recetores de cuidados revela que estes são,
maioritariamente, do sexo feminino (73.2%), com uma média de idades de 80.26 anos
(DP=8.23). Numa análise comparativa inter-grupos, observa-se, mais uma vez, diferenças
estatisticamente significativas entre eles, nomeadamente no que diz respeito à presença de
patologia (maior percentagem de presença de patologia mental no CQC) e no grau de
Revista E-Psi (2015), 5(1), 94-112 Alves et al.
104
dependência do recetor de cuidados. Mais informações acerca dos recetores de cuidados
são apresentadas na Tabela 2.
Tabela 2. Caracterização sociodemográfica dos recetores de cuidados, total e por grupo
Total CQC CC P X
2
p t Student
M (DP) M (DP) M (DP)
Idade (anos)
80.26 (8.23) 78.74 (8.44) 83.55 (7.47) .454
N (%) n (%) n (%)
Sexo Masculino Feminino
45 (26.8) 123 (73.2)
30 (26.1) 85 (73.9)
15 (28.3) 38 (71.7)
.763
Circunstância em que vive Sozinho/Outra situação Com a família
23 (13.9) 143 (86.1)
15 (13.2) 99 (86.1)
8 (15.4) 44 (84.6)
.700
Presença de patologia Física Mental Ambas
27 (16.2) 74 (44.3) 66 (39.5)
9 (7.9) 63 (55.3) 42 (36.8)
18 (34.0) 11 (20.8) 24 (45.3)
<.001
Caracterização da prestação de cuidados
No que respeita aos cuidados prestados pelos cuidadores informais, verifica-se uma
predominância de situações de supervisão regular (89.4%), gestão da medicação (84.7%) e
ajuda nos cuidados pessoais (84.1%). Os apoios institucionais para o recetor de cuidados
mais frequentes são, na área social, o centro de dia (17.5%) e na área da saúde, a
enfermagem domiciliária (17.5%). Considerando as variáveis da situação de prestação de
cuidados, apenas três cuidados prestados pelo cuidador (cuidados pessoais, mobilidade e
apoio emocional) revelaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, sendo
o grupo do CC a apresentar maior percentagem. As Tabelas 3,4,5 apresentam estas e outras
informações complementares referentes ao contexto da prestação de cuidados.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 94-112 Alves et al.
105
Tabela 3. Situação de prestação dos cuidados, total e por grupo
Total CQC CC p X
2
P t Student
M (DP) M (DP) M (DP)
Há quanto tempo presta cuidados (meses)
50.18 (43.45)
47.14 (43.6) 56.51 (43.60) .107
Horas por dia de prestação de cuidados
15.50 (8.98)
16.11 (8.90) 14,17 (9.11) .611
N (%) n (%) n (%)
Periodicidade do cuidado Sempre
Durante a semana Outro
127 (75.6)
19 (11.3) 22 (13.1)
88 (76.5) 12 (10.4) 15 (8.9)
39 (73.6) 7 (13.2) 7 (13.2)
.866
Presença de cuidador secundário
Sim Não
116 (70.3) 49 (29.7)
81 (71.1) 33 (28.9)
35 (68.6) 16 (31.4)
.753
Presença de outro recetor de cuidados
Sim Não
34 (20.6) 131 (79.4)
23 (20.2) 91 (79.8)
11 (21.6) 40 (78.4)
.838
Presença de apoio institucional ao Recetor de
Cuidados (Sim*) Setor social
Apoio Domiciliário Centro de Dia
Centro de Convívio Outro apoio social
Setor da Saúde Cuidados em ambulatório Enfermagem domiciliária
Fisioterapia Terapia da Fala
Terapia Ocupacional Outro apoio saúde
28 (16.9) 29 (17.5)
0 (0.0) 14 (8.4)
11 (6.6) 29 (17.5) 18 (10.8)
0 (0.0) 2 (1.2) 2 (1.2)
20 (17.5) 21 (18.4)
0 (0.0) 1 (0.9)
6 (5.3) 18 (15.8) 11 (9.6) 0 (0.0) 1 (0.9) 1 (0.9)
8 (15.4) 8 (15.4) 0 (0.0)
13 (25.0)
5 (9.6) 11 (21.2) 7 (13.5) 0 (0.0) 1 (1.9) 1 (1.9)
.730
.633 - -
.296
.399
.464 - - -
*Nesta tabela apenas constam os sujeitos que responderam Sim a cada um destes serviços, pelo que o Nnão será de 168 participantes (n do CQC =115 e n do CC=53) pois nem todos os cuidadores recebem os serviços
mencionados.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 94-112 Alves et al.
106
Tabela 4. Cuidados prestados pelos cuidadores, total e por grupo
Total CQC CC p
X2
Tipo de cuidados prestados (% Sim*)
Cuidados pessoais
Mobilidade
Trabalhos domésticos
Gerir medicamentos
Gerir dinheiro
Ir às compras
Tratar de assuntos administrativos
Transporte do familiar
Passear/Atividades de lazer
Apoio emocional/psicológico
Apoio monetário
Supervisão regular
138 (84.1%)
100 (64.1%)
130 (80.2%)
138 (84.7%)
114 (70.4%)
135 (82.8%)
125 (76.7%)
117 (72.2%)
113 (70.2%)
133 (82.6%)
72 (45.6%)
143 (89.4%)
87 (77.0%)
63 (55.8%)
88 (77.9%)
95 (84.1%)
81 (71.7%)
91 (80.5%)
85 (75.2%)
80 (70.8%)
78 (69.0%)
89 (78.8%)
55 (48.7%)
101 (89.4%)
51 (100.0%)
37 (86.0%)
42 (85.7%)
43 (86.0%)
33 (67.3%)
44 (88.0%)
40 (80.0%)
37 (75.5%)
35 (72.9%)
44 (91.7%)
17 (37.8%)
42 (89.4%)
<.001
<.001
.250
.753
.579
.244
.506
.538
.622
.048
.215
.997
* Nesta tabela apenas constam os sujeitos que responderam Sim a cada um destes cuidados, pelo que oN não será de 168 participantes (n do CQC =115 e n do CC=53) pois nem todos os cuidadores prestam oscuidados mencionados.
Tabela 5. Pontuações médias nos instrumentos considerados para avaliação dos cuidadores, total e por grupo
Total CQC CC p t Student
M(DP) M(DP) M(DP)
Níveis de sobrecarga (M-CSI) 11.28 (5.46) 11.75 (5.56) 10.17 (5.09) .937
Gratificação (PAC) 44.97 (9.63) 43.32 (9.84) 48.76 (8.00) .154
Saúde Mental (SF-12 v2) 42.99 (11.74) 42.15(11.94) 45.31 (10.99) .394
Saúde Física (SF-12 v2)
Distress Psicológico (GHQ-12)
42.93 (8.72)
3.60 (3.29)
43.01 (8.59)
4.33 (3.53)
42.69 (9.17)
2.02 (1.93)
.982
<.001
Revista E-Psi (2015), 5(1), 94-112 Alves et al.
107
Efeito das intervenções psicoeducativas no distress psicológico
Analisando o Figura 1, é possível verificar que houve uma evolução favorável nos níveis
de distress experienciados pelos cuidadores, em ambos os projetos.
Figura 1 - Evolução do nível de distress (momentos pré e pós teste) de acordo com o grupo.
* ANOVA de medidas repetidas, valor de p=.015 para GHQ*projeto.
Constata-te, ainda, que no projeto Cuidar de Quem Cuida os cuidadores tinham, à
partida, níveis mais elevados de distress comparativamente com os cuidadores do projeto
Cuidar em Casa (ver Tabela 5). Através da análise de variância de medidas repetidas (Fig. 1),
verifica-se a existência de uma interação entre o distress psicológico e o projeto (p=.015).
Este facto indica que a evolução do nível de distress varia de acordo com o projeto. De facto,
dado que os participantes do CQC apresentam níveis de distress superiores no início do
estudo, verifica-se uma evolução mais favorável deste grupo relativamente aos participantes
do CC. No entanto, os participantes do CQC continuam a apresentar níveis de distress
superiores no final do estudo. Quando ajustado para algumas variáveis sociodemográficas e
de saúde (idade, situação ocupacional, relação com o recetor de cuidados e presença de
patologia) o termo de interação não permanece significativo (p>.05), indicando que
ajustando para as diferenças estruturais dos grupos, a evolução dos dois grupos
relativamente ao distress psicológico é favorável e semelhante.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 94-112 Alves et al.
108
Discussão
Este estudo permitiu efetuar uma análise comparativa de dois programas de
intervenção psicoeducativa para cuidadores informais de pessoas dependentes
implementados no âmbito de dois projetos comunitários, o Cuidar de Quem Cuida e o Cuidar
em Casa, dando particular atenção ao efeito desta medida de intervenção nos níveis de
distress psicológico.
De acordo com os resultados obtidos, foi possível verificar que os cuidadores informais
participantes no projeto Cuidar de Quem Cuida apresentavam no momento pré-teste
valores mais elevados de distress, o que poderá estar associado ao facto destes cuidadores
prestarem cuidados a pessoas com demência ou em situação de pós-AVC, condições clínicas
que, comummente, estão associadas a níveis de exigência e sobrecarga muito elevados,
pautando-se por uma intensidade maior de cuidados. Estes dados estão de acordo com o
que a literatura tem apontado (Shah et al., 2010; Navidian, Kermansaravi, & Rigi, 2012;
Hudson et al., 2013) e reforçam que, apesar dos programas terem alguns aspetos comuns na
sua estrutura e conteúdos, a sua génese foi orientada para objetivos específicos
diferenciados (e.g. cuidadores de pessoas com patologia específica versus cuidadores de
pessoas idosas dependentes), o que pode explicar o facto de a condição de base dos
participantes ser, à partida, diferente. Analisando os dados, é ainda possível verificar que,
apesar de ter existido esta melhoria nos dois grupos, a sua evolução é diferenciada. Os
participantes do projeto Cuidar de Quem Cuida apresentaram uma melhoria mais acentuada
nos níveis de distress psicológico enquanto os participantes do projeto Cuidar em Casa,
ainda que tenham apresentado melhorias, evoluíram de forma menos acentuada. Este facto
poderá deve-se, em parte, ao nível de distress existente no pré-teste. Outra razão que
poderá explicar as diferenças encontradas poderá dever-se à localização geográfica em que
os projetos tiveram lugar, sabendo-se que o CQC surgiu para suprir a escassez de respostas
nessa região especificamente orientadas para esta população (Ribeiro, Brandão, Pinto &
Martín, 2011) o que poderá justificar uma condição de base menos favorável dos
participantes do CQC em relação aos participantes do CC.
Tendo em conta as especificidades de cada um dos programas, foram realizadas
análises complementares para perceber se as diferenças encontradas se deviam a
características dos participantes de cada grupo ou à intervenção propriamente dita
(programa específico CQC vs programa generalista CC). Os grupos foram, então, comparados
entre si a fim de verificar diferenças em aspetos estruturais, tendo-se observado diferenças
em algumas variáveis (e.g. situação ocupacional dos cuidadores, rendimentos, presença de
patologia). Uma nova análise, considerando estas diferenças entre os grupos, demonstrou
que a evolução entre os momentos de pré e pós teste mantém-se significativa, sendo em
ambos os programas uma evolução muito semelhante. Este resultado sugere que ambas as
Revista E-Psi (2015), 5(1), 94-112 Alves et al.
109
intervenções psicoeducativas produzem efeitos positivos no distress psicológico,
evidenciando que as diferenças encontradas se devem às diferenças estruturais entre os
grupos e não à intervenção propriamente dita. Corrobora-se, deste modo, o que tem sido
amplamente apontado por outros estudos em relação ao efeito positivo dos programas
psicoeducativos em cuidadores informais (e.g. Northouse et al., 2010; Navidian et al., 2012;
Sharif et al., 2012; Fallahi Khoshknab et al., 2014) e que apontam para a existência de
melhorias no bem-estar dos cuidadores, redução das necessidades sentidas e da sobrecarga,
aumento da qualidade de vida e do conhecimento acerca da sintomatologia/estado dos
recetores de cuidados.
Os resultados do presente estudo mostram uma diminuição do distress psicológico em
cuidadores informais de pessoas idosos. Contudo, existem algumas limitações que devem
ser tidas em conta na interpretação dos resultados decorrentes dos objetivos de cada um
dos programas de intervenção psicoeducativo. A etiologia da dependência/causa dos
cuidados deve ser tida em consideração na interpretação dos resultados, pois no CQC os
participantes eram cuidadores de doentes de AVC e Doença de Alzheimer e no CC os
participantes eram cuidadores de pessoas idosas dependentes, abrangendo um largo
espetro de situações (físicas, mentais ou ambas). Outros fatores que deverão ser tidos em
conta em futuros estudos são a análise da manutenção dos ganhos obtidos em follow-up
(e.g., perceber se os ganhos se mantiveram com o decorrer do tempo) e a análise dos custos
associados aos mesmos numa lógica socioeconómica. Estes dados poderão dar mais pistas
sobre o impacto dos programas de intervenção psicoeducativa a longo prazo, dados que se
encontram neste momento em apreciação num dos projetos aqui considerados - CQC. De
igual modo, importará reforçar os resultados encontrados nesta investigação com a inclusão
futura de uma avaliação qualitativa capaz de mostrar alguns efeitos mais específicos no
dia-a-dia do cuidador, atendendo aos relatos informais reportados pelos cuidadores aos
profissionais que implementaram ambas as intervenções psicoeducativas.
Conclusão
Existem inúmeros fatores que contribuem para o distress psicológico (e.g. idade,
estado de saúde) e que devem ser tidos em conta na programação e implementação de
intervenções para cuidadores (Shah et al., 2010). Têm sido desenvolvidos vários esforços no
sentido de identificar e tratar o distress psicológico de forma multidisciplinar (Shah et al.,
2010), reforçando a importância dos profissionais de saúde em ajudar os cuidadores a
aumentar as estratégias de coping, favorecendo as competências existentes e facilitando o
desenvolvimento de novas (Saad et al., 1995). Os resultados deste estudo revelaram uma
diminuição do distress psicológico e, estão em linha com os resultados já demonstrados por
outros estudos internacionais (e.g. Ducharme et al., 2012; Navidian et al., 2012; Fallahi
Khoshknab et al., 2014), reforçando a importância e a necessidade deste tipo de prática
Revista E-Psi (2015), 5(1), 94-112 Alves et al.
110
interventiva. O crescente interesse e popularidade que estas intervenções apresentam neste
momento no nosso país tem contribuído para a necessidade de aprofundar o conhecimento
sobre esta metodologia e, principalmente, sobre o seu efeito no bem-estar psicológico dos
cuidadores. Este estudo, pese embora as suas limitações, pretendeu ser um contributo nesse
sentido.
Agradecimentos Este trabalho é financiado por fundos do ACS – Alto Comissariado para a Saúde no âmbito do
projeto Cuidar em Casa (Ref. O09-80) e por fundos da Fundação Calouste Gulbenkian,
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e do ACS – Alto Comissariado para a Saúde, no
âmbito do projeto Cuidar de quem Cuida (Ref. M54M/2008) bem como por Fundos FEDER
através do Programa Operacional Fatores de Competitividade – COMPETE e por Fundos
Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do projeto
PEST-C/SAL/UI0688/2014
Referências Andrade, F. (2009). O cuidado informal à pessoa idosa dependente em contexto domiciliário: necessidades educativas do
cuidador principal. Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, Universidade do Minho, Braga.
Borges, L., & Argolo, J. (2002). Adaptação e validação de uma escala de bem-estar psicológico para uso em estudos
ocupacionais. Avaliação Psicológica, 1, 17-27.
Cruz, D., Loureiro, H., Silva, M., & Fernandes, M. (2010). As vivências do cuidador informal do idoso dependente. Revista de
enfermagem, 2 (III Série), 127-136.
Ducharme, F., Lachance, L., Lévesque, L., Kergoat, M.-J., & Zarit, S. (2012). Persistent and delayed effects of a
psycho-educational program for family caregivers at disclosure of dementia diagnosis in a relative: a six-month
follow-up study. Healthy Aging Research, 1(2), 1-11.
Fallahi Khoshknab, M., Sheikhona, M., Rahgouy, A., Rahgozar, M., & Sodagari, F. (2014). The effects of group
psychoeducational programme on family burden in caregivers of Iranian patients with schizophrenia. Journal of
Psychiatric and Mental Health Nursing. 21(5), 438-46.
Ferreira, P. (2000). Criação da versão portuguesa do MOS SF-36. Parte I – Adaptação cultural e linguistica. Acta Médica
Portuguesa, 13, 55-66.
Goldberg, D., & Hillier, V. (1979). A scaled version of the general health questionnaire. Psychological Medicine. 9(1),
139-145.
Gonçalves-Pereira, M., & Sampaio, D. (2011). Psicoeducação familiar na demância: da clínica à saúde pública. Revista
Portuguesa de Saúde Pública, 29(1), 3-10.
Gonçalves Pereira, M., Carmo, I., da Silva, J., Papoila, A., Mateos, R., & Zarit, S. (2010). Caregiving experiences and
knowledge about dementia in Portuguese clinical outpatients settings. International Psychogeriatrics, 22(2),
270-280.
Hudson, P., Trauer, T., Kelly, B., O'Connor, M., Thomas, K., Summers, M., & White, V. (2013). Reducing the psychological
distress of family caregivers of home-based palliative care patients: short-term effects from a randomised
controlled trial. Psycho-Oncology, 22(1), 1987-1993.
Hudson, P. L., Aranda, S., & Hayman-White, K. (2005). A psycho-educational intervention for family caregivers of patients
receiving palliative care: a randomized controlled trial. Journal of Pain and Symptom Management, 30(4), 329-341.
Laranjeira, C. A. (2008). General health questionnaire--12 items: adaptation study to the Portuguese population.
Epidemiologia e Psichiatria Sociale, 17(2), 148-151.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 94-112 Alves et al.
111
Lage, I. (2007). Avaliação dos cuidados informais aos idosos: estudo do impacto do cuidado no cuidador informal. Tese de
Doutoramento, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto, Porto.
Marques, M. J. F., Teixeira, H. J. C., & Souza, D. C. D. B. N. d. (2012). Cuidadoras informais de Portugal: vivências do cuidar
de idosos. Trabalho, Educação e Saúde, 10, 147-159.
Martín, I., Ribeiro, O., Brandão, D., Duarte, M., & Teixeira, L. (submetido). Portuguese version of the Modified Caregiver
Strain Index (M-CSI): a validation study.
Navidian, A., Kermansaravi, F., & Rigi, S. N. (2012). The effectiveness of a group psycho-educational program on family
caregiver burden of patients with mental disorders. BioMed Central Research Notes, 5(399), 1-7.
Neri, A. (2000). Qualidade de vida na velhice e atendimento domiciliário. In Y. Duarte & M. Diogo (Ed.), Atendimento
domiciliar. Um enfoque gerontológico. (pp.34-47). S.Paulo: Atheneu.
Northouse, L. L., Katapodi, M. C., Song, L. X., Zhang, L. L., & Mood, D. W. (2010). Interventions With Family Caregivers of
Cancer Patients Meta-Analysis of Randomized Trials. Ca-a: Cancer Journal for Clinicians, 60(5), 317-339.
Onega, L. (2008). How to try this: Helping those who help others: The modified caregiver strain index. American Journal of
Nursing, 108(9), 62-69.
Paúl, C. (1997). Lá para o fim da vida. Idosos, família e meio ambiente. Coimbra: Livraria Almedina.
Paúl, C., Ayis, S., & Ebrahim, S. (2006). Psychological distress, loneliness and disability in old age. Psychology, Health &
Medicine, 11(2), 221 - 232.
Paúl, C., & Ribeiro, O. (2007). Psychological distress in very old women. In W. Handson & E. Olsson (Eds.), New perspectives
on women and depression (pp.183-189). New York: Nova Science.
Ponce, C., Ordonez, T., Lima-Silva, T., Santos, G., Viola, L., Nunes, P., . . . Cachioni, M. (2011). Effects of a psychoeducational
intervention in family caregivers of people with Alzheimer's disease. Dementia e Neuropsychologia, 5(3), 226-237.
Ribeiro, O. (2007). O Idoso Prestador Informal de Cuidados: Estudo sobre a experiência masculina do cuidar. Tese de
Doutoramento, Porto: Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto.
Ribeiro, O., Brandão, Pinto, M. & D.Martín, I., (2011). Serviços de descanso ao cuidador: soluções de internamento
temporário na região EDV. Porto: UNIFAI/ICBAS-UP.
Ribeiro, O., Pires, C., Brandão, D., & Martín, I. (2013). Cuidar de quem Cuida - Projecto de Intervenção Municipal na Região
EDV - Relatório Final. Porto: UNIFAI/ICBAS-UP.
Robinson, B. (1983). Validation of a Caregiver Strain Index. Journal of Gerontology. 38:344-348.
Saad, K., Hartman, J., Ballard, C., Kurian, M., Graham, C., & Wilcock, G. (1995). Coping by the carers of dementia sufferers.
Age & Ageing, 24(6), 495-498.
Santos, D. (2008). As Vivências do Cuidador Informal na Prestação de Cuidados ao Idoso Dependente. Um Estudo no
Concelho da Lourinhã. Dissertação de Mestrado em Comunicação em Saúde. Universidade Aberta, Lisboa.
Shah, A., Wadoo, O., & Latoo, J. (2010). Psychological Distress in Carers of People with Mental Disorders. British Journal of
Medical Practitioners, 3(3), a327.
Sharif, F., Shaygan, M., & Mani, A. (2012). Effect of a psycho-educational intervention for family members on caregiver
burdens and psychiatric symptoms in patients with schizophrenia in Shiraz, Iran. BioMed Central Psychiatry,
12(48),1-9.
Sousa, L., Mendes, A., & Relvas, A. (2007). Enfrentar a velhice e a doença crónica. Lisboa: Climepsi Editores.
Tarlow, B., Wisniewski, S., Belle, S., Rubert, M., Ory, M., & Gallagher-Thompson, D. (2004). Positive Aspects of Caregiving.
Contribution of the REACH project to the development of new measures for Alzheimer's caregiving. Research Aging,
26(4), 429-453.
Thornton, M., & Travis, S. S. (2003). Analysis of the reliability of the modified caregiver strain index. J Gerontol B Psychol Sci
Soc Sci, 58(2), S127-132.
Travis, S., Bernard, M., McAuley, W., Thornton, M., & Kole, T. (2002). Development of the family caregiver medication
administration hassles scale. The Gerontologist, 43(3), 360-368.
Ware, J., & Gandek, B. (1998). Overview of the SF-36 Health Survey and the International Quality of Life Assessment (IQOLA)
Project. Journal of Clinical Epidemiology, 51(11), 903-912.
Yanguas, J. J., Leturia, F. J., Leturia, M., & Uriarte, A. (1998). Intervención Psicosocial en Gerontología. Madrid: Cáritas
Española.
Zarit, S., & Femia, L. (2008). Behavioral and psychosocial intervention for family caregivers. Journal of Social Work
Education, 44(3), 47-53.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 94-112 Alves et al.
112
Psychoeducational interventions and psychological distress in informal caregivers: Comparative analysis of two community projects
Abstract Caring for someone dependent is a demanding task that often leads to physical and emotional exhaustion. The demands of informal care related with the impact that this task may have on caregiver health have led to a growing concern with this group. Along with developing interventions targeted at informal caregivers, of equal concern is the need for a greater understanding of the effective impact of these interventions. This study aims to analyze the impact of two community programs of psychoeducational intervention on psychological distress experienced by informal caregivers. A sample of 168 informal caregivers of dependent persons participating in two projects (Caring for the Caregiver and Caring at Home) was considered. Overall results showed a decrease in the levels of distress between the pre and post intervention moments in both programs despite their different methodological approaches. Promoting this kind of interventions for informal caregivers should be reinforced, as well as their acknowledgment within a network partnership of health professionals and those from the social sector.
Keywords Caregivers, distress, psychoeducational interventions.
Received: 08.09.2014 Revision received: 24.02.2015
Accepted: 26.02.2015
Revista E-Psi, 2015, 5 (1) Published Online http://www.revistaepsi.com Revista E-Psi
Como citar/How to cite this paper: Sobral, M., & Paúl, C. (2015). Reserva Cognitiva, envelhecimento e demências. Revista E-Psi, 5(1), 113-134.
Reserva Cognitiva, envelhecimento e demências
Margarida Sobral1, & Constança Paúl2
Copyright © 2014. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License 3.0 (CC BY-NC-ND). http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
1Serviço de Psicogeriatria, Hospital de Magalhães Lemos, Porto (PT); Unidade de Investigação e Formação sobre Adultos e
2UNIFAI – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Universidade do Porto (PT).
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
114
Resumo
A população portuguesa tem vindo a envelhecer ao longo das últimas décadas. As demências são um dos
problemas de saúde mental mais frequentes nos idosos. A Reserva Cognitiva (RC) é um constructo hipotético
usado para informar sobre o envelhecimento cognitivo, que descreve a capacidade do cérebro adulto em lidar
com os efeitos de processos neurodegenerativos. Este artigo teórico teve como objetivos: (a) Conhecer a
associação entre RC e envelhecimento; (b) Analisar e sintetizar estudos sobre a associação entre RC e
demências; (c) Demonstrar a importância da quantificação da RC no envelhecimento cerebral e demências. Os
estudos apontam para que fatores como o nível de escolaridade, a ocupação profissional ao longo da vida e a
participação em atividades de lazer, parecem contribuir para a RC e esta tem influência no aparecimento da
sintomatologia clínica da demência, sendo a quantificação nível da RC de grande importância.
Palavras-chave Envelhecimento, Reserva Cognitiva, Demências.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
115
Introdução
A população residente em Portugal tem envelhecido de uma forma significativa nas
últimas décadas, em particular na faixa etária superior a 85 anos. Segundo o INE (2012),
Portugal tem mantido a tendência de envelhecimento demográfico, sendo evidenciado pela
alteração do perfil que as pirâmides etárias apresentam nos últimos anos, observando-se um
estreitamente na base da pirâmide, devido à redução dos efetivos populacionais jovens,
causado pela baixa natalidade e observando-se também um alargamento do topo da
pirâmide, devido ao acréscimo de pessoas em idade mais avançada, causado pelo aumento
da esperança de vida.
As previsões sobre a mortalidade causada por doenças de caráter neurodegenerativo
nas próximas décadas indicam um aumento marcado do número de casos, sendo as
demências nas suas diversas manifestações as que mais afetarão as pessoas mais idosas
(Ritchie & Lovestone, 2002; Berr, Wancata, & Ritchie, 2005). A prevalência aumenta
exponencialmente com a idade (Fratiglioni et al., 2000; Lopes & Bottino, 2002;
Ziegler-Graham, Brookmeyer, Johnson, & Arrighi, 2008). As demências são um dos
problemas de saúde mental mais frequentes nos idosos, com grande impacto junto da
população portuguesa. Segundo Alzheimer Portugal (2009) “os mais recentes dados
epidemiológicos apontam para a existência de 153 000 pessoas com demência em Portugal”.
A demência é uma síndroma caracterizada pela presença de défices adquiridos, persistentes
e progressivos em múltiplos domínios cognitivos que determinam, sem que ocorra
compromisso do nível de consciência, uma deterioração das faculdades intelectuais
suficientemente severa para afetar a competência social e/ou profissional do indivíduo
(DSM-IV-TR – American Psychiatric Association, 2000; Sobral, 2006; Sobral & Paúl, 2013a).
Em 2013 foi publicado o DSM-V, tendo o termo "Demência" sido eliminado e criado um
capítulo chamado “Perturbações Neurocognitivas”. Os critérios para o diagnóstico das
“Perturbações Neurocognitivas” major e ligeira são baseados na evidência de um declínio de
uma ou mais áreas do domínio cognitivo, relatado e documentado através de testes
padronizados, causando prejuízo na independência da pessoa na realização das atividades
de vida diária (American Psychiatric Association, 2013; Araújo & Neto, 2014).
A Doença de Alzheimer (DA) constitui a forma mais comum de demência verificada no
idoso (Fratiglioni et al., 2000; Lopes & Bottino, 2002; Cumming, 2004; Jalbert, Daiello, &
Lapane, 2008; Sobral & Paúl, 2013a). A DA é uma doença neurodegenerativa crónica,
acompanhada por disfunção cerebral complexa, manifestando-se clinicamente por um
declínio cognitivo e funcional, com progressão gradual e por frequentes perturbações
psicológicas e do comportamento (Villareal & Moris, 1999; Jalbert et al., 2008). Não faz
muito tempo que o diagnóstico clínico da DA baseava-se em comprovar a existência de uma
demência progressiva e lenta e excluir outras causas de deterioração cognitiva, como por
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
116
exemplo, a hidrocefalia, um hematoma subdural crónico, um tumor cerebral, uma
deficiência crónica de vitamina B12 ou um hipotiroidismo intenso e persistente (cf.
NINCDS-ADRDA – Mckhann, Drachman, Folstein, Katzman, Price, & Stadlan, 1984; DSM-IV-TR
– American Psychiatric Association, 2000; ICD-10 – World Health Organization, 2010).
Recentemente a Alzheimer´s Association e o Nacional Institute on Aging introduziram
novos critérios e diretrizes para o diagnóstico de DA, melhorando as anteriormente
publicadas em 1984 (Mckhann et al., 1984; Albert et al., 2011; Jack et al., 2011; Mckhann et
al., 2011; Sperling et al., 2011). A Alzheimer´s Association e o Nacional Institute on Aging
constituiram um grupo de trabalho que procurou desenvolver os critérios para uma fase pré
sintomática de DA, a que se refere o DCL devido à DA. O grupo de trabalho propôs dois
conjuntos de critérios: (1) os critérios clínicos básicos que podem ser usados por
profissionais de saúde sem acesso a técnicas avançadas de imagem ou de análise do líquido
cefalorraquidiano e (2) os critérios de pesquisa que podem ser usados em contexto de
investigação, incluindo ensaios clínicos. Neste segundo ponto, estão incorporados o uso de
biomarcadores com base em imagens e avaliação do líquido cefalorraquidiano. Neste último
conjunto de critérios, para o diagnóstico de DCL devido a DA, existem 4 níveis de certeza,
dependendo da presença e natureza dos biomarcadores encontrados (Mckhann et al., 2011;
Albert et al., 2011). A grande diferença nestes novos critérios é uso de biomarcadores, como
a avaliação da atrofia do hipocampo, e a formalização dos estádios anteriores ao
aparecimento de sintomas clínicos de demência, como o Declínio Cognitivo Ligeiro (DCL)
devido à DA e o estádio pré-clínico de DA (Mckhann et al., 2011; Jahn, 2013).
A Reserva Cognitiva (RC) é um constructo hipotético usado para informar sobre o
envelhecimento cognitivo, que descreve a capacidade do cérebro adulto em lidar com os
efeitos de processos neurodegenerativos (Stern, 2013).
Através de uma revisão da literatura produzimos este artigo teórico que teve como
objetivos: (a) Conhecer a associação entre RC e envelhecimento; (b) Analisar e sintetizar
estudos sobre a associação entre RC e demências; (c) Demonstrar a importância da
quantificação da RC no envelhecimento cerebral e demências.
Reserva Cognitiva
A deterioração das capacidades cognitivas e funcionais associadas ao envelhecimento
e às demências neurodegenerativas não ocorre da mesma forma para todos os idosos, nem
segue um padrão fixo, diferindo de pessoa para pessoa a capacidade para enfrentar e
resolver os desafios da sua vida quotidiana. A Reserva é considerada a capacidade do
cérebro tolerar uma lesão cerebral até um determinado limiar em que ainda não há
evidências de sintomas de doença neurodegenerativa (Stern, 2006, 2011, 2012, 2013;
Scarmeas & Stern, 2004).
Stern cria um modelo passivo de Reserva, a Reserva Cerebral e um modelo ativo de
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
117
reserva, a Reserva Cognitiva (Stern, 2002, 2009, 2012, 2013, Scarmeas & Stern, 2003; Orueta,
Bueno, & Lezaun, 2010; Steffener & Stern, 2012; Tucker & Stern, 2014). A hipótese passiva
postula que os cérebros grandes (assim como com mais neurónios ou mais sinapses) toleram
mais a lesão antes de mostrar uma disfunção (Katzman et al., 1988). A hipótese ativa postula
que as diferenças individuais da forma como as pessoas processam as tarefas permitem que
algumas pessoas lidem melhor com patologia cerebral do que outras. Uma maior RC
manifesta-se no uso mais eficaz de redes cerebrais alternativas, sendo uma capacidade
excelente para mudar as operações ou circuitos alternativos. Alguns fatores, como por
exemplo, a escolaridade e a participação em atividades de lazer seriam um indicador da
capacidade do cérebro para compensar as patologias por meio do uso dessas redes
alternativas (Stern, 2002; Baldivia, Andrade, & Bueno, 2008). A RC está relacionada com a
inteligência (Alexander et al., 1997), a qual se usa para definir a capacidade adaptativa, a
eficiência e a flexibilidade na resolução de problemas, através de vários domínios, como a
escolaridade ou a experiência. Este conceito foi utilizado inicialmente para explicar a
discrepância entre a extensão da lesão ou histopatologia do cérebro e as implicações clínicas
da lesão cerebral (Scarmeas & Stern, 2003; Stern, 2006, 2009, 2013; Tucker & Stern, 2014).
Variáveis da Reserva Cognitiva
RC é concebida como uma construção dinâmica e o seu estado deve-se um a conjunto
de variáveis (La Rue, 2010; Tucker & Stern, 2011; Stern, 2013; Barulli & Stern, 2013;
Robertson, 2014; Sobral, Pestana, & Paúl, 2014): as variáveis genéticas (Lee, 2007), a
escolaridade (Carnero-Pardo & Del Ser, 2007; Sobral & Paúl, 2013b), o tipo de trabalho
desempenhado ao longo da vida (Greene, 2013), a participação em actividades de lazer
((Fratiglioni, Paillard-Borg, & Winblad, 2004; Sobral & Paúl, 2013b, 2013c), o estilo de vida
(Balfour, Masaki, White, & Launer; 2001) e o nível socioeconómico (Bisckel & Cooper, 1994).
As pessoas experienciam desafios intelectuais ao longo das suas vidas (por exemplo,
aprender a ler e a escrever, ocupação profissional, gestão de vida pessoal) que contribuem
para o acumular de reserva, o que permite que as competências cognitivas se mantenham
em idades mais tardias (Staff, Murray, Deary, & Whalley, 2004). Nas variáveis associadas
com benefícios cognitivos durante a idade adulta, incluem-se: a atividade física (Dik, Deeg,
Visser, & Jonker, 2003; Richard & Sacker, 2003; Rovio et al., 2005; Larson et al., 2006), o
compromisso social (Scarmeas & Stern, 2003) e intelectual (Valenzuela, & Sachdev, 2006).
No entanto, no estudo de Reed e colaboradores (2010) verificou-se que as atividades
cognitivas durante a vida adulta eram as melhores preditoras de RC.
Reserva Cognitiva, envelhecimento e demências
A RC está associada com a realização de determinadas atividades intelectuais e
cognitivas ao longo da vida (mesmo nas fases mais avançadas do envelhecimento), e nesse
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
118
sentido, será um processo normal, utilizado pelo cérebro saudável durante a execução de
tarefas intelectuais e cognitivas (Rodríguez Álvarez & Sánchez Rodrígues, 2004). A Reserva, a
capacidade do cérebro de suportar uma maior quantidade de neuropatologia antes de
chegar a um limiar onde a sintomatologia clínica se começa a manifestar, poderá ser o
resultado de uma capacidade inata e dos efeitos das experiências vividas, tais como a
escolaridade, a participação em actividades de lazer ou a ocupação laboral.
Muitos estudos têm demonstrado uma associação entre níveis mais elevados de
escolaridade e melhores resultados nas provas cognitivas em qualquer idade e esse efeito
também se verificou em adultos mais velhos (Snowdon, Ostwald, Kane, & Keenan, 1989;
Ganguli, Ratcliff, Huff, & Kancel, 1991; Bäckman, Small, Wahlin, & Larson, 1999; Ganguli et
al., 2010). Por exemplo, no estudo de Anstey e Christensen (2000) constatou-se que o nível
de escolaridade é preditor de declínio cognitivo na idade adulta avançada, assim como
Albert e colaboradores (1995) demonstraram uma relação entre um nível elevado de
escolaridade e um declínio mais lento numa idade avançada. Já James, Wilson, Barnes, e
Bennett (2011) mostraram que uma vida social ativa em adultos mais velhos contribuía para
um menor declínio cognitivo na idade avançada.
As evidências epidemiológicas sugerem que as pessoas com um alto nível de
escolaridade, atividades profissionais ou participação em atividades de lazer têm um menor
risco de desenvolver DA (Fratiglioni, Paillard-Borg, & Winblad, 2004; Karp, Paillard-Borg,
Wang, Silverstein, Winblad, & Fratiglioni, 2006; Scarmeas, Albert, Manly, & Stern, 2006;
Stern, 2006, 2009, 2012, 2013; Paillard-Borg, Fratiglioni, Winblad, & Wang, 2009; Stern &
Munn, 2010).
No que concerne a escolaridade, existem estudos que verificam uma associação entre
os níveis elevados de escolaridade e a diminuição do risco de uma pessoa desenvolver uma
demência (Stern et al., 1994; Evans et al., 1997; Launer et al., 1999; Yamada et al., 1999;
Anttila et al., 2002; Herrera, Caramelli, & Silveira, & Nitrini, 2002; Rapp et al., 2013). No
entanto, outros estudos não vão ao encontro destes resultados (Graves et al., 1996;
Chandra, Ganguli, Pandav, Johnston, Belle, & Dekosky, 1998; Hall, Gao, Unverzagt, &
Hendrie, 2000; Ravaglia et al., 2005; van Oijen, de Jong, Hofman, Koudstaal, & Breteler,
2007). No Quadro 1 apresentam-se estudos longitudinais relativos à associação entre a
escolaridade e o risco de demência.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
119
Quadro 1. Estudos relativos à associação entre a escolaridade e risco de demência
Estudo País Tamanho
da amostra Idade na baseline Escolaridade Follow-up (anos) Resultado
Stern et al., 1994 EUA 593 60-99 Baixa escolaridade (<8 anos) vs alta
escolaridade (≥8 anos). 1-4 A baixa de escolaridade duplicou o risco de demência.
Paykel et al., 1994 UK 1195 >75 Idade de abandono escolar: >14 e ≤14. 2,4 As taxas de incidência de demência não diferiram
significativamente com a escolaridade.
Cobb et al., 1995 EUA 3330 55-88 <Escola primária, <Ensino médio, Ensino médio
ou para além do Ensino médio. 17
A baixa escolaridade está associada com o maior risco de demência não DA. Não existe uma associação significativa entre demência no
geral ou DA.
Graves et al., 1996 EUA 1985 ≥ 65 Baixa escolaridade (0-7 anos) vs ≥8 anos . Em fases ao longo de 2
anos Não foi encontrada uma associação entre escolaridade e o risco de
desenvolver uma demência.
Evans et al., 1997 EUA 642 + de 65 Anos de escolaridade: 0-7, 8-11, ≥12. 4,3 O risco de demência diminuiu 17% por cada ano/aumento na escolaridade. Taxa de incidência de demência diminuiu com o
aumento da escolaridade.
Ott et al., 1999
Holanda 6827 + de 55 Nível elevado de escolaridade (11 anos), nível médio de escolaridade (7-10 anos), nível baixo
de escolaridade (<7 anos). 2,1
Associação entre baixa escolaridade e demência em mulheres, mas não em homens.
Letenneur et al., 1999
França 2881 + de 65 Sem escolaridade, escola primária (0-5), escola
secundária (6-12 anos), e nível universitário (>12 anos).
5 Depois de um ajustamento para a idade e sexo, os participantes
com um nível de escolaridade baixo têm um maior risco de desenvolverem DA.
Yamada et al., 1999 Japão 637 homens e 1585 mulheres
≥ 60 Nº de anos de escolaridade. Av. médica bianual (desde 1958) e av. cognitiva (em
1992 e 1996). Um maior nível de escolaridade é protetor contra DA e DV.
Launer et al., 1999 Europa 13205 ≥ 65 Anos de escolaridade: <8, 8-11,>11.
2,1 (Dinamarca); 2,8 (França);
2,1 (Holanda); 2,0 (Reino Unido).
Baixos níveis de escolaridade aumentam significativamente o risco de desenvolver DA (relação mais forte nas mulheres).
Ganguli et al., 2000 EUA 1298 + de 65 Menos escolaridade que o ensino secundário
vs ensino secundário. 2
Entre as pessoas com CDR = 0.5, com uma escolaridade menor que o ensino secundário foi associado com maior incidência de todas as
demências e DA.
Kawas et al., 2000 EUA 1236 55-97 Ensino secundário ou menos (4-12 anos),
ensino superior (13-16 anos), pós-graduação (17-25 anos).
13
Uma não significativa associação entre uma baixa escolaridade e maior risco de DA, mas foi observada uma tendência a um aumento da taxa de incidência da DA com a diminuição da
escolaridade.
Tyas et al., 2001 Canadá 694 + de 65 Anos de escolaridade: média (DP) 10,6 (3,2). 5 Menor escolaridade está significativamente relacionado com a
ocorrência de DA.
Qiu et al., 2001
Suécia 1296 ≥75 Ensino básico (<8 anos/ou treino vocacional) vs. Ensino secundário (8-10 anos) ou ensino
universitário (≥11 anos). 8
A baixa escolaridade aumenta o risco de desenvolvimento clínico de DA. Forte efeito na mulher.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
120
Manly et al., 2003
EUA
136
≥ 65 a
Grupo com baixa alfabetização e grupos com
elevada alfabetização.
5,1
As competências obtidas com a escolaridade são protetoras contra
o declínio da memória entre os idosos não demenciados
Fitzpatrick et al., 2004
EUA 3602 ≥65 Menos do que ensino secundário, ensino
secundário, frequência do ensino universitário/ensino universitário.
5,5 Taxas de incidência de demência variou de acordo com o nível de escolaridade, mas os resultados foram apenas estatisticamente
significativos entre os caucasianos.
Lindsay & Anderson, 2004
Canadá 10263 + de 65 Anos de escolaridade: 0-6, 7-9, ≥10. 5 Baixo nível de escolaridade ligado ao risco de desenvolvimento da
DA.
Wilson et al., 2002 EUA 835 + de 65 Nível baixo de escolaridade (ensino básico), nível médio de escolaridade e nível alto de
escolaridade. 4,5 (média)
A escolaridade está inversamente relacionada com o risco de DA, mas o efeito foi substancialmente reduzido quando a atividade
cognitiva foi adicionada ao modelo.
Ravaglia et al., 2005 Itália 937 + de 65 Anos de escolaridade. 4 Um maior nível de escolaridade era de proteção contra o risco de
demência e DA, mas não para Demência Vascular.
van Oijen et al., 2007
Holanda 6927 + de 55 Nível de escolaridade. 9 (média) Tanto os homens como as mulheres com um nível de escolaridade alto tiveram um menor risco de AD, embora a associação pareceu
mais forte nos homens.
ECLipSE Collaborative
Members, 2010 Europa 872
MRC CFAS: >65; CC75C: >75 e Vantaa
85+: >85. 0-3 anos; 4-7anos; 8-11 anos; >12 anos. Com intervalos de 1-7
Mais anos de escolaridade foram associados com uma diminuição do risco de demência
Rapp et al., 2013 EUA 1390 + de 65 Anos de escolaridade. Avaliações anuais Um maior nível de escolaridade foi associado a um atraso no
diagnóstico de demência em face a um aumento carga neuropatológica.
No que diz respeito à associação entre os níveis elevados de participação em atividades de lazer e a diminuição do risco de
demência, esta foi alvo de estudos que parecem confirmar esta relação (Wang, Larson, Bowen, & van Belle, 2006; Hughes, Chang,
Vander, & Ganguli, 2010; Sobral & Paúl, 2013c; Grande et al., 2014). Stern e Munn (2010) evidenciaram que a participação em
atividades de lazer de natureza cognitiva (que exigem uma resposta mental individual face à atividade, como por exemplo a leitura)
durante a vida adulta e na idade mais avançada pode trazer benefícios na prevenção do risco de DA e de outras demências em idosos.
No entanto, estes autores demonstraram que a evidência não é suficientemente forte para permitir inferir uma relação causal direta.
No quadro 2, apresentam-se estudos longitudinais relativos à associação entre a participação em atividades de lazer e o risco de
demência.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
121
Quadro 2. Estudos sobre a associação entre participação em atividades de lazer (mentais, sociais e físicas) e o risco de desenvolver demência.
Estudo País Tamanho
da amostra
Idade na baseline
Atividades Follow-up
(anos) Resultado
Fabrigoule et al., 1995
França 2040 >65 Atividades culturais, produtivas, e sociais; Atividades
desportivas. 3
Viajar, fazer biscates, fazer malha/crochet e jardinagem estava associado ao risco de demência.
Yoshitake et al., 1995
Japão 828 >65 Atividade de lazer e exercício físico. 7 Atividade física diária estava associada a um baixo risco de desenvolver DA.
Broe e tal. 1998
Austrália
327 >75 Exercício físico (Jardinagem, desporto, caminhada). 3 Não existia uma associação entre exercício físico e risco de demência.
Helmer et al., 1999
França 3675 >65 Estado civil, rede social, nº de atividades. 5 Nunca ter casado estava associado com o aumento do risco de demência e DA; Não
foi encontrada uma associação entre redes sociais e atividades de lazer.
Fratiglioni et al., 2000
Suécia 1203 >75 Estado civil, situação de vida, ligações sociais, sentimentos
de satisfação e Índex de rede social. 3
Não ser casado, viver sozinho, ou não ter sentimentos de satisfação estava associado com o aumento de demência; Pobre ou limitada rede social estava associada com o
aumento de demência.
Scarmeas et al., 2001
EUA 1772 >65 13 atividades selecionadas (físicas, culturais, recreativas e
sociais). 1-7 (média
2,9) Uma única atividade ou fatores de pontuações (intelectual, física, e social) estavam
associados à diminuição do risco de DA.
Wilson et al, 2002
EUA
801 freiras,
padres e irmãos
>65
Usadas medidas de frequência de atividade cognitivas. Tempo normalmente despendido em 7 atividades: ver televisão, ouvir rádio, ler jornais, ler revistas, ler livros,
jogar (cartas, damas, fazer palavras cruzadas, fazer puzzles) e ir a museus.
4,5 A participação em atividades cognitivamente estimulantes está associada a um risco
reduzido de DA.
Linday et al., 2002
Canadá 6434 >65 Regular exercício físico 5 A regular atividade física estava associada com o baixo risco de DA.
Yamada et al., 2003
Japão 1774 Atividade física Avaliados
entre 1965-1970
Não efetuar exercício físico estava associado ao risco de demência.
Verghese et al, 2003
EUA 469 >75 6 Atividades cognitivas e 11 Atividades físicas. 5,1 (média)
A participação em atividades de lazer estava associada à diminuição do risco de demência. Ler, jogar jogos de tabuleiro e tocar instrumentos musicais estava
associado ao baixo risco de demência e DA. A atividade física não estava associada com o baixo risco de demência. A dança era a única atividade física associada com o
baixo risco de demência.
Crowe et al., 2003
Suécia 107 >75 Atividades intelectuais - culturais, atividades de autoaperfeiçoamento e atividades domésticas.
1,5 A diminuição da atividade estava associada com risco de demência em geral.
Abbott et al., 2004
EUA 2257 71-93 Frequência na participação em 6 pré-definidas atividades
cognitivas e 11 atividades físicas 4,7
Os resultados sugeriram que a caminhada está associada a uma redução do risco de demência. Promover estilos de vida ativos em homens fisicamente capazes poderia
ajudar a função cognitiva de fim de vida.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
122
Podewils et al., 2005
EUA 3375 >65 Gasto energético na caminhada, trabalho doméstico jardinagem, jogging, ciclismo, ginástica, dança golfe,
natação, etc. 5,4 (média)
Os participantes com um maior de gasto de energia física tiveram um menor risco relativo de demência em comparação com outros participantes e os participantes
que se envolveram em> ou = 4 atividades tiveram também um menor risco relativo de demência relativamente aos outros.
Wang et al., 2006
EUA 2288 >65 Atividade física Seguidos durante 6
anos
Os baixos níveis de performance física estavam associados com um aumento do risco de demência e DA. O estudo sugere que uma baixa atividade física pode preceder ao
aparecimento de demência e DA e níveis mais elevados de atividade física podem estar associada a um início tardio de demência.
Larson et al., 2006
EUA 1740 >65 Nº de dias/semanas de exercício por ≤15 min. 6,2 Os resultados do estudo sugeriram que o exercício regular está associada a um atraso
do início da demência e DA, sendo este facto mais forte nas pessoas idosas.
Karp et al., 2006
Suécia 776 >75 Atividades mentais, sociais e físicas 3 Os resultados sugeriram que variadas atividades, que continham mais de que uma componente, pareciam ser mais benéficas do que envolver uma pessoa em apenas
um tipo de atividade.
Saczynski et al., 2006
Hawai, USA
Meia Idade
(1748); Mais
velhos (2513)
45-60 71-86
Av. do envolvimento social na vida adulta: estado civil; viver sozinho ou acompanhado; participação social, politica
ou em grupos comunitários; participação em eventos sociais com colegas de trabalho e a existência de um
confidente. Av. do envolvimento social na idade avançada: estado civil; viver sozinho ou acompanhado; participação social, politica ou em grupos comunitários; nº de contatos face-a-face ou por telefone com amigos próximos por mês e a existência
de um confidente.
27,5 4,6
Embora o baixo envolvimento social na vida tardia esteja associado com o risco de demência, os níveis de envolvimento social nesta fase avançada de vida já podem
estar modificados pelo processo demencial.
Akbaraly et al, 2009
França 5698 >65 Estimulação de atividades de lazer. 4 A estimulação cognitiva das atividades de lazer estarão atrasar o aparecimento de
demência em idosos.
Scarmeas et al., 2009
EUA 1880 Atividades físicas 1,5
Adesão à dieta mediterrânea e atividades físicas (participar por semana em várias atividades físicas ponderadas pelo tipo de atividade física (leve, moderada e intensa).
A dieta mediterrânea e a elevada atividade física estavam independentemente associadas à redução do risco da DA.
Hughes et al., 2010
EUA 942 >65 Leitura, passatempos, artesanato, jogos, palavras cruzadas,
quebra-cabeças, tocar um instrumentos musical jardinagem, pintura, etc.
6 O envolvimento em atividades de lazer por 1 ou mais horas por dia pode proteger
contra a demência no fim da vida.
Chang et al., 2010
EUA, com amostra
colhida na Islândia.
4761 51
(media) Tempo usado na prática de desporto durante a vida adulta
no inverno e no verão. 26
A atividade física durante a vida adulta pode contribuir para a manutenção da função cognitiva e pode reduzir ou retardar o risco de demência no fim de vida.
Scarmeas et al., 2011
EUA 357 >65
O tempo despendido normalmente em atividades intensas, moderadas ou leves. Atividade física em tempo e em 3
categorias: não faz atividade física, alguma atividade física e muita atividade física.
5,2
O exercício pode afetar não só o risco de DA, mas também a duração da doença. A atividade física está associada com uma sobrevivência mais prolongada (curso mais
longo da doença).
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
123
Sörman et al., 2014
Suécia 1478 65 Atividade total, atividade social, atividade mental 1-5, 6-10,
11-15
Os resultados deste estudo dão pouco suporte à hipótese de que o frequente envolvimento em atividades de lazer de pessoas em idade avançada permite proteger
do risco de demência durante um longo período de tempo. Os resultados demonstraram que relativamente a um primeiro período (1-5 anos após início do
estudo) poderá haver efeitos protetores de curto prazo, mas também pode refletir causalidade reversa.
Grande et al., 2014
Itália 176
doentes com DCL
A pontuação a nível social, cognitiva, e física foi obtida com base na assiduidade dos contactos interpessoais e na
frequência de participação em atividades de lazer individuais.
2,59 Este estudo demonstrou que os altos níveis de participação em atividades físicas de lazer estavam associados com risco reduzido de demência em indivíduos com DCL.
Alguns estudos comprovam a existência de uma associação entre o nível de ocupação laboral e a diminuição do risco de demência
(Stern et al., 1994; Anttila et al., 2002; Scarmeas & Stern, 2004; Karp, 2005; Greene, 2013; Moskowitz & Miller, 2014), mas outros
estudos não verificaram esta relação (Jorm, Rodgers, Henderson, Korten, Jacomb, & Christensen, 1998; Helmer et al., 2001). No quadro
3 apresentam-se estudos longitudinais relativos à associação entre ocupação laboral e o risco de demência.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
124
Quadro 3. Estudos sobre a associação entre ocupação e risco da demência.
Estudo
País Tamanho da amostra
Idade na baseline
Follow-up (anos) Resultados
Stern et al., 1994 EUA 593 >60 4 Pessoas com uma baixa ocupação ao longo da vida tinham um maior risco de desenvolver demência.
Schmand et al., 1997
Holanda 2063 65-84 Seguimento ao longo de 4 anos
Um nível profissional elevado (tendo posição de chefia) teve um efeito protetor do desenvolvimento de uma demência.
Jorn et al., 1998 Austrália 518 >70 3,5 Não foi encontrada uma associação entre a ocupação e o risco de demência.
Helmer et al., 2001 França 3675 >65 8 O nível de ocupação mais complexa não foi significativamente associado com a sobrevivência em pessoas com demência.
Anttila et al., 2002 Japão 1449 >65 até 79 Recolha de dados: 1972, 1977, 1982 e 1987. Depois o follow-up médio de 21 anos.
Uma ocupação sedentária (escritório, serviço ou trabalho intelectual) foi associada a uma diminuição do risco de demência entre os participantes.
Qui et al., 2003
Suécia 913 >75 Observados 2 x durante 6 anos
O trabalho manual foi associado com um aumento do risco de demência.
Bosma et al., 2003
Holanda 630 >50 até 80 3 As pessoas com trabalhos mentalmente mais exigentes tinham menor risco de sofrerem deterioração cognitiva em comparação com outras pessoas com trabalhos menos exigentes.
Karp, 2005 Suécia 1473 >75 6 Uma ocupação complexa estava associada a uma diminuição do risco de demência e de DA, mas esse efeito é mais fortemente explicado pela escolaridade.
Kröger et al., 2008 Canadá 3557 ≥65 5 As análises de subgrupos de acordo com a duração média (23 anos) da principal ocupação mostraram que as associações com a complexidade variam de acordo com a duração do emprego. Alta complexidade do trabalho parece estar associada com o risco de demência (trabalho complexo reduz o risco de demência), mas os efeitos podem variar de acordo com o subtipo.
Greene, 2013 EUA 4138
65 até 105 Seguimento ao longo de 13 anos. Avaliações: na baseline, 3º, 7º e 10º anos.
Compreender que uma ocupação profissional complexa tem impacto na RC e no risco de demência/DA permitirá a criação de atividades que aumentem a RC e que possibilitem aumentar o número de anos vividos sem sintomas de demência/DA.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
125
Instrumentos de avaliação da Reserva Cognitiva
O conceito de RC é muito complexo, o que leva ao aparecimento de diferentes
propostas de avaliação. No entanto, as investigações não têm tido em atenção
simultaneamente os fatores genéticos e ambientais que podem afetar conjuntamente a RC.
A influência de cada uma das variáveis ainda não se encontra completamente definida.
Atualmente, ainda não existe um consenso formal alargado sobre quais os testes de
avaliação mais indicados para avaliar a RC.
Alguns estudos com o uso da Tomografia de Emissão de Positões (TEP) encontraram
em doentes com DA e com uma elevada escolaridade uma capacidade de resistência
cognitiva que se assemelhava a outros doentes também com DA e com menos escolaridade,
no entanto os primeiros apresentavam maior patologia cerebral (Roe et al., 2008). Nos
últimos anos, investigadores têm elaborado questionários e escalas que procuram avaliar a
RC através da participação em diferentes atividades de lazer a nível cognitivo, físico e social
(Scarmeas, Levy, Tang, Manly, & Ster, 2001; Léon, Roldán-Tapia, & García, 2012; Sobral,
Pestana, & Paúl, 2014). Segundo Léon e colaboradores (2012), procuram refletir as
experiências ao longo da vida em conjunto com as estimações da RC que podem
proporcionar às pessoas uma série de competências para lidar com lesões cerebrais e
também procuraram demonstrar a existência de uma flexibilidade na RC como resultado de
fatores muito diferentes.
O Lifetime of Experiences Questionnaire (LEQ; versão inglesa, sem versão portuguesa),
de Valenzuela e Sachdev (2007), possibilita uma estimação da RC das pessoas mediante a
realização das diferentes atividades ao longo da vida. A estrutura do LEQ está subdividida
em três etapas (adulto jovem, meia idade e maiores de 65 anos) e para cada uma delas são
avaliadas diferentes atividades, subdivididas em atividades mentais específicas e atividades
mentais não específicas. Este questionário é constituído por 42 itens. No estudo de validação
(Valenzuela & Sachdev, 2007), relativamente à consistência interna, a maioria das subescalas
da LEQ obteve um Alfa de Cronbach superior a .70, denotando uma boa consistência interna.
Nesse estudo, numa amostra de 79 idosos saudáveis, o LEQ mostrou capacidade para
discriminar entre pessoas com altos e baixos níveis de atividade mental. A pontuação total
do LEQ apresentou uma correlação positiva (avaliada com coeficiente de correlação de
Pearson) com a Cognitive Activities Scale (Wilson, Barnes, & Bennett, 2003; versão inglesa,
sem versão portuguesa), que avalia a frequência em que se realizam 7 atividades cognitivas
em diferentes períodos da vida; os participantes com pontuações mais elevadas no LEQ
apresentaram menor declínio cognitivo após 18 meses.
León, García, e Roldán-Tapia (2014) desenvolveram a Escala de Reserva Cognitiva (ERC;
versão espanhola, sem versão portuguesa), que é um instrumento que pode ser usado como
uma medida de RC e que reflete a frequência de participação em atividades cognitivamente
estimulantes ao longo da vida. A versão final do instrumento é constituída por 24 itens e
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
126
apresenta uma boa consistência interna (Alfa de Cronbach = .77). O seu estudo de validação,
realizado com uma amostra de 117 participantes saudáveis, sugere que a ERC é adequada
para avaliar a RC na população espanhola. A escolaridade influenciou significativamente a
pontuação da ERC [teste t-student: t=-2.98; p=.004] e foram encontradas associações
positivas moderadas (avaliadas através do coeficiente de correlação de Pearson) entre a ERC
e as provas de memória e entre a ERC e as provas dos domínios de raciocínio abstrato.
Rami e colaboradores (Rami et al., 2011) criaram um questionário breve de RC, o
Questionário de Reserva Cognitiva (QRC), que avalia diversos aspetos da atividade
intelectual e que são considerados pelos autores do questionário como os mais importantes
para a formação de RC. Este questionário é constituído por 8 itens [1. Escolaridade; 2.
Escolaridade dos pais; 3. Cursos de formação; 4. Ocupação laboral; 5. Formação musical; 6.
Línguas (mantém uma conversa); 7. Atividade de leitura; 8. Jogos intelectuais (xadrez,
puzzles, palavras cruzadas)]. Este instrumento foi validado para a população portuguesa por
Sobral, Pestana, e Paúl (2014), que consideram ser um instrumento adequado para a
avaliação da RC. Na produção da primeira versão portuguesa deste questionário foram
realizadas adaptações de acordo com aspetos linguísticos e culturais. No estudo de Sobral,
Pestana e Paúl (2014), com recurso a uma amostra de 75 participantes, foi examinada a
validade de constructo do QRC através da Análise Fatorial Exploratória (rotação varimax) e
da Análise Fatorial Confirmatória, e a consistência interna através do Alfa de Cronbach. O
índice Kaiser-Meyer-Olkin (.761) e o valor do teste de esfericidade de Bartlett [2=204.159;
df=28; p<.01] demonstraram a adequabilidade da amostra. Os dados da análise fatorial
apresentaram um bom ajustamento e evidenciaram a unidimensionalidade do QRC
[Goodness of Fit Index = .99; Root Mean Square Residual = .048]. O QRC evidenciou também
uma boa consistência interna (Alfa de Cronbach = .795).
Conclusão
Em Portugal, o aumento do envelhecimento da população tem vindo a acontecer de
forma generalizada em todo país, e simultaneamente, tem sido uma realidade o aumento do
aparecimento de novos casos de demências ao longo das últimas décadas. RC tem sido
usada para informar sobre o envelhecimento cognitivo e, fundamentalmente, descrever a
capacidade do cérebro adulto em lidar com os efeitos de processos neurodegenerativos,
como é o caso das demências neurodegenerativas.
Neste trabalho teórico foram analisados estudos longitudinais selecionados sobre a
associação entre a RC e as demências. Nos estudos revistos não se encontraram consensos
relativamente à associação entre variáveis como o nível de escolaridade, o tipo de trabalho
ao longo da vida, as atividades de lazer que parecem contribuir para a RC e o risco de uma
pessoa desenvolver uma demência. Como se pode verificar, na maioria dos estudos
encontrou-se uma associação entre os níveis elevados de escolaridade, participação em
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
127
atividades de lazer ou de ocupação profissional e a diminuição do risco do aparecimento de
sintomatologia da demência, embora em outros estudos essa associação não tenha sido
encontrada.
A RC não é fixa e continua a evoluir ao longo da vida e neste artigo ficou evidenciada a
importância da quantificação da RC. Pois em muitos estudos foram encontrados benefícios
da RC, nomeadamente, ao nível da escolaridade, da ocupação profissional ao longo da vida e
da participação em atividades de lazer na vida adulta. Assim, devem ser implementadas as
mudanças necessárias nos estilos de vida e dadas oportunidades de aumento da RC às
pessoas em todas as idades, nomeadamente através da estimulação cognitiva ao longo da
vida, com a manutenção de uma vida ativa, tanto do ponto de vista cognitivo como físico. Os
programas de prevenção comunitária da DA devem apostar na melhoria do nível de
escolaridade em Portugal e devem incluir uma promoção da participação em atividades de
lazer na idade adulta (como a leitura, jogos, atividade física, passeios, socialização com os
amigos, etc.).
Referências
Abbott, R. D., White, L. R., Ross, G. W., Masaki, K. H., Curb, J. D., & Petrovitch, H. (2004). Walking and dementia in physically
capable elderly men. The Journal of the American Medical Association, 292(12), 1454-1461.
Akbaraly, T. N., Portet, F., Fustinoni, S., Dartigues, J.-F., Artero, S., Rouaud, O., …& Berr, C. (2009). Leisure activities and the
risk of dementia in the elderly: Results from the three-city study. Neurology, 73(11), 854-861.
Albert, M. S., DeKosky, S. T., Dickson, D., Dubois, B., Feldman, H. H., Fox, N. C., … & Phelps, C. H. (2011). The diagnosis of
mild cognitive impairment due to Alzheimer's disease: recommendations from the National Institute on
Aging-Alzheimer's Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. Alzheimers Dementia,
7(3), 270-279. doi: 10.1016/j.jalz.2011.03.008.
Albert, M. S., Jones, K., Savage, C. R., Berkman, L., Seeman, T., Blazer, D., & Rowe, J. C. (1995). Predictors of cognitive
change in older persons: MacArthur studies of successful aging. Psychology and Aging, 10(4), 578-589.
Alexander, G. E., Furey, M. L., Grady, C. L., Pietrini, P., Brady, D. R., Mentis, M. J., & Schapiro, M. B. (1997). Association of
premorbid intellectual function with cerebral metabolism in Alzheimer's disease: implications for the cognitive
reserve hypothesis. The American Journal of Psychiatry, 154(2), 165-172.
Álvarez, F. R. & Rodrígues, J. S. (2004). Reserva cognitiva y demencia. Anales de psicologia, 20(2), 175-186.
Alzheimer Portugal (2009). Plano Nacional de Intervenção Alzheimer: Trabalho preparatório para a conferência “Doença
Alzheimer: Que Políticas?”, Lisboa: Alzheimer Portugal.
American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR) (4th
ed. test
revision). Washington DC: American Psychiatric Association.
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (5th
ed.).
Washington DC: American Psychiatric Association.
Anstey, K., & Christensen, H. (2000). Education, activity, health, blood pressure and apolipoprotein E as predictors of
cognitive change in old age: a review. Gerontology, 46(3), 163-177.
Anttila, T., Helkala, E. L., Kivipelto, M., Hallikainen, M., Alhainen, K., Heinonen, H., …& Nissinen, A. (2002). Midlife income,
occupation, APOE status, and dementia: a population-based study. Neurology, 59(6), 887–893.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
128
Araújo, A. C., & Neto, F. L. (2014). A nova classificação americana para os transtornos mentais: o DSM-5. [The new north
american classification of Mental Disorders – DSM – 5]. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva,
16(1), 67–82.
Bäckman, L., Small, B. J., Wahlin, A., & Larson, M. (1999). Cognitive functioning in very old age. In F. I. M. Craik & T. A.
Salthouse (Eds.), Handbook of aging and cognition, Vol. 2 (pp. 499-558). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Baldivia, B., Andrade, V. M., Bueno, O. F. A. (2008). Contribution of education, occupation and cognitively stimulating
activities to the formation of cognitive reserve. Dementia & Neuropsychologia, 2(3),173-182.
Balfour, T.Y., Masaki, K., White, L., & Launer, L.J. (2001). The effect of social engagement and productive activity or incident
dementia: The Honolulu Asis Aging Stud. Neurology, 56 (Suppl): A239.
Barulli, D., & Stern, Y. (2013). Efficiency, capacity, compensation, maintenance, plasticity: emerging concepts in cognitive
reserve. Trends in cognitive sciences, 17(10), 502-509. doi: 10.1016/j.tics.2013.08.012
Berr, C., Wancata, J., & Ritchie, K. (2005). Prevalence of dementia in the elderly in Europe. European
Neuropsychopharmacology, 15(4), 463-471. doi:10.1016/j.euroneuro.2005.04.003
Bickel H, & Cooper B. (1994). Incidence and relative risk of dementia in an urban elderly population: Findings of a
prospective field study. Psychological Medicine, 24, 179–192.
Bosma, H., Van Voxtel, M.P.J., Pounds, R., Houx, P., Burdorf, A., & Jolles, J. (2003). Mental work demands protect against
cognitive impairment: MAAS prospective cohort study. Experimental Aging Research, 29(1), 33-45.
Broe, G. A., Creasey, H., Jorm, A. F., Bennett, H. P., Casey, B., Waite, L. M., … Cullen, J. (1998). Health habits and risk of
cognitive impairment and dementia in old age: A prospective study on the effects of exercise, smoking and alcohol
consumption. Australian and New Zealand Journal of Public Health, 22(5), 621–623.
Carnero-Pardo, C., & Del Ser, T. (2007). La educación proporciona reserva cognitiva en el deterioro cognitivo y la demencia.
Neurologia, 22 (2), 78-85.
Chandra, V., Ganguli, M., Pandav, R., Johnston, J., Belle, S., & Dekosky, S.T. (1998). Prevalence of Alzheimer´s disease and
other dementia in rural India: the Indo-US study. Neurology, 51(4), 1000-1008.
Chang, M., Jonsson, P. V., Snaedal, J., Bjornsson, S., Saczynski, J. S., Aspelund, T., …& Launer, L. J. (2010). The effect of
midlife physical activity on cognitive function among older adults: AGES-Reykjavik Study. The Journals of
Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences, 65(12), 1369-1374. doi: 10.1093/gerona/glq152.
Cobb, J. L., Wolf, P. A., Au, R. White, R., & D´Agostino, R. B. (1995). The effect of education on the incidence of dementia
and Alzheimer´s disease in the Framingham Study, Neurology, 45(9), 1707-1712.
Crowe, M., Andel, R., Pedersen, N. L., Johansson, B., & Gatz, M. (2003). Does participation in leisure activities lead to
reduced risk of Alzheimer's disease? A prospective study of Swedish twins. The Journals of Gerontology. Series B:
Psychological Sciences and Social Sciences, 58(5), 249-255.
Cummings, J. L. (2004). Alzheimer´s Disease. The New England Journal of Medicine, 351, 56-67. doi: 10.1056/NEJMra040223
Dik, M., Deeg, D. J., Visser, M., & Jonker, C. (2003). Early life physical activity and cognition at old age. Journal of Clinical and
Experimental Neuropsychology, 25(5), 643-653. doi: 10.1076/jcen.25.5.643.14583
EClipSE Collborative Members, Brayne, C., Ince, P.G., Keage, H.A., McKeith, I.G., Matthews, F.E.,…& Sulkava, R. (2010).
Education, the brain and dementia: neuroprotection or compensation? Brain, 133, 2210-2216. doi:
10.1093/brain/awq185.
Evans, D. A., Hebert, L. E., Beckett, L. A., Scherr, P. A., Albert, M. S., Chown, M. J., …& Taylor, J. O.(1997). Education and
other measures of socioeconomic status and risk of incident Alzheimer disease in a defined population of older
person. Archives of Neurology, 54, 1399-1405.
Fabrigoule, C., Letenneur, L., Dartigues, J. F., Zarrouk, M., Commenges, D., & Barberger-Gateau, P. (1995). Social and leisure
activities and risk of dementia: a prospective longitudinal study. Journal of the American Geriatrics Society, 43(5),
485-490.
Fitzpatrick, A. L., Kuller, L.H., Ives, D. G., Lopez, O. L., Jagust, W., Breitner, J. C., … & Dulberg, C. (2004). Incidence and
prevalence and prevalence of dementia in Cardiovascular Health Study. Journal of the American Geriatrics Society,
52(2), 195-204.
Fratiglioni, L., Launer, L. J., Andersen, K., Breteler, M. M, Copeland, J. R., Dartigues, J. F., …& Hofman, A. (2000). Incidence of
dementia and major subtypes in Europe: A collaborative study of population-based cohorts. Neurologic Diseases in
the Elderly Research Group. Neurology, 54(5), S10-S15.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
129
Fratiglioni, L., Paillard-Borg, S., & Winblad, B. (2004). An active and socially integrated lifestyle in late life might protect
against dementia. The Lancet Neurology, 3(6), 343-353.
Ganguli, M., Dodge, H. H., Chen, P., Belle, S., & DeKosky, S.T., (2000). Ten-year incidence of dementia in a rural elderly US
community population: the MoVies Project. Neurology, 54(5), 1109-1116.
Ganguli, M., Ratcliff, G., Huff, F. J., & Kancel, M. J. (1991). Effects of age, gender, and education on cognitive tests in a rural
elderly community sample: norms from the Monongahela Valley Independent Elders Survey. Neuroepidemiology,
10(1), 42-52.
Ganguli, M., Snitz, B. E., Lee, C. W., Vanderbilt, J., Saxton, J. A., & Chang, C. C. (2010). Age and education effects and norms
on a cognitive test battery from a population-based cohort: the Monongahela-Youghiogheny Healthy Aging Team.
Aging & Mental Health, 14(1), 100-107.doi:10.1080/13607860903071014
Grande, G., Vanacore, N., Maggiore, L., Cucumo, V., Ghiretti, R., Galimberti, D., …& Clerici, F. (2014). Physical activity
reduces the risk of dementia in mild cognitive impairment subjects: a cohort study. Journal of Alzheimer's disease,
39(4):833-839. doi: 10.3233/JAD-131808.
Graves, A. B., Larson, E. B., Edland, S. D., Bowen, J. D., McCormick, W. C., McCurry, S. M., …& Uomoto, J. M. (1996).
Prevalence of dementia and its subtypes in the Japanese American population of King County, Washington state.
The Kame Project. American Journal of Epidemiology, 144(8), 760-771.
Greene, D. R. (2013). Relationship between occupational complexity and dementia risk in late life: A population study
(Unpublished doctoral dissertation). Utah State University, Utah.
Hall, K. S., Gao, S., Unverzagt, F. W., & Hendrie, H. C.(2000). Low education and childhood rural residence: risk for
Alzheimer´s disease Americans. Neurology, 54, 95-99.
Helmer, C, Damon, D., Letenneur, L., Fabrigoule, C., Barberger-Gateau, P., Lafont, S., … & Dartigues, J.F. (1999). Marital
status and risk of Alzheimer´s disease: a french population-based cohort study. Neurology, 53, 1953-1958.
Helmer, C., Letenneur, L., Rouch, I., Richard-Harston, S., Barberger-Gateau, P., Fabrigoule, C., … & Dartigues, J.F. (2001).
Occupation during life and risk of dementia in French elderly community residents. Journal of Neurology,
Neurosurgery, and Psychiatry, 71(3), 303-309. doi:10.1136/jnnp.71.3.303
Herrera, E. Jr., Caramelli, P., & Silveira, A. S. (2002). Epidemiologic survey of dementia in a community-dwelling Brazilian
population. Alzheimer Disease and Associated Disorders, 16(2), 103-108. doi:
10.1097/01.WAD.0000020202.50697.df
Hughes, T.F., Chang, C.C, Vander, B.J, & Ganguli, M. (2010). Engagement in reading and hobbies and risk of incident
dementia: the MoVIES project. American Journal of Alzheimer's Disease and other Dementias, 25(5), 432-438. doi:
10.1177/1533317510368399.
Instituto Nacional de Estatística (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos - Portugal. Lisboa: INE
Jack Jr, C. R., Albert, M., Knopman, D. S., Mckhann, G. M., Sperling, R. A., Carrillo, M., ...& Phelps, C. H. (2011). Introduction to
the recommendations from the National institute on Aging-Alzheimer´s Association workgroups on diagnostic
guidelines for Alzheimer´s disease. Alzheimer´s & Dementia, 7, 257-262. doi: 10.1016/j.jalz.2011.03.004
Jahn, H. (2013). Memory loss in Alzheimer’s disease. Dialogues in Clinical Neuroscience, 15(4), 445–454.
Jalbert, J. J., Daiello, L. A. & Lapane, K. (2008). Dementia of the Alzheimer Type. Epidemiologic Reviews, 30, 15-34.
James, B. D., Boyle, P. A., Buchman, A. S., & Bennett, D. A. (2011). Relation of Late-Life Social Activity with incident disability
among community-dwelling older adults. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical
Sciences, 66A(4), 467-473. doi: 10.1093/gerona/glq231
James, B.D., Wilson, R.S., Barnes, L.L., & Bennett, D.A. (2011). Late-life Social Activity and Cognitive Decline in old Age. Journal
of the International Neuropsychological Society, 17(6), 998-1005. doi:10.1017/S1355617711000531.
Jorm, A.F., Rodgers, B., Henderson, A.S., Korten, A.E., Jacomb, P.A., & Christensen, H. (1998). Occupation type as a predictor
of cognitive decline and dementia in old age. Age Ageing, 27(4), 477-483.
Karp, A. (2005). Psychosocial factors in relation to development of dementia in late-life: a life course approach within the
Kungsholmen Project. Stockholm: Karolinska University Press.
Karp, A., Paillard-Borg, S., Wang, H.-X., Silverstein, M., Winblad, B., & Fratiglioni, L. (2006). Mental, Physical and Social
Components in Leisure Activities Equally Contribute to Decrease Dementia Risk. Dementia and Geriatric Cognitive
Disorders, 21, 65-73. doi:10.1159/000089919
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
130
Katzman, R., Brown, T., Thal, L.J., Fuld, P.A., Aronson, M., & Butters, N. (1988). Comparison of rate of annual change of
mental status score in four independent studies of patients with Alzheimer's disease. Annals of Neurology, 24,
384–389.
Kawas, C., Gray, S., Brookmeyer, R., Fozard, J., & Zonderman, A. (2000). Age-specific incidence rates of Alzheimer´s disease:
the Baltimore Longitudinal Study of Aging. Neurology, 54, 2072-2077.
Kroger, E., Andel, R., Lindsay, J., Benounissa, Z., Verreault, R., & Laurin, D. (2008). Is Complexity of Work Associated with
Risk of Dementia? The Canadian Study of health and Aging. American Journal of Epidemiology, 167(7), 820-830.
La Rue, A. (2010). Healthy brain aging: Role of cognitive reserve, cognitive stimulation and cognitive exercises. In A. K. Desai
(Ed.), The healthy aging brain: Evidence based methods to preserve brain function and prevent dementia. Clinics in
Geriatric Medicine, 26, 99–111.
Larson, E.D., Wang, L., Bower, J.D., McCormick, W. C., Teri, L., Crane, P. & Kukull, W. (2006). Exercise is associated with
reduced risk for incident dementia among person 65 years of age and older. Annals of Internal Medicine, 144, 73-81.
Launer, L. J., Andersen, K., Dewey, M. E., Letenneur, L., Ott, A., Amaducci, L.A.,… & the EURODEM Incidence Research Group
and Work Groups (1999). Rates and risk factors for dementia and Alzheimer’s disease: Results from EURODEM pooled
analyses. Neurology, 52, 78-84. doi: 10.1212/WNL.52.1.78
Lee, J.H. (2007). Understanding cognitive reserve through genetics and genetic epidemiology. In Y. Stern (Ed.), Cognitive
reserve: Theory and applications (pp.5-36). New York: Taylor & Francis.
León, I., García, J., & Roldán-Tapia, L. (2011). Development of the scale of cognitive reserve in Spanish population: a pilot
study. Revista de Neurologia, 52(11), 653–660.
León, I., García, J., & Roldán-Tapia, L. (2014) Estimating Cognitive Reserve in Healthy Adults Using the Cognitive Reserve
Scale. PLoS ONE, 9(7), e102632. doi:10.1371/journal.pone.0102632
Léon, I., Roldán-Tapia, M.D., & García, J. (2012). Reserva cerebral y Reserva cognitiva. In P.M-L., Álvarez, S.C.,
Martínez-Conde, & M.A.M. Molina, (Eds.), Alzheimer 2012, 2000 Años de ConstiTAUción y “viva la PePa”: Estimular
el Ingenio, Reserva Cognitiva y Alzheimer (pp. 25-35). Madrid: Enfoque Editorial, SC.
Letenneur, L., Gilleron, V., Commenges, D., Helmer, C., Orgogozo, J.M., & Dartigues, J.F. (1999). Are sex and educational level
independent predictors of dementia and Alzheimer’s disease? Incidence data from the PAQUID project. Journal of
Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 66, 177–183.
Lindsay, J., & Anderson, L. (2004). Dementia / Alzheimer´s Disease. BMC Women’s Health, 4 (1), 20.
Lindsay, J., Laurin, D., Verreault, R., Hébert, R., Helliwell, B., Hill, G.B., & McDowell, I. (2002). Risk factors for Alzheimer´s
disease: A prospective analysis from the Canadian Study of Health and Aging. American Journal of Epidemiology, 156,
445-453.
Lopes, M. A., & Bottino, C. M. C. (2002). Prevalência de demência em diversas regiões do Mundo. Análise dos estudos
epidemiológicos de 1994 a 2000. Arquivos de Neuropsiquiatria, 60(1), 61-69.
Manly, J. J., Touradji, P., Tang, M., & Stern, Y. (2003). Literacy and Memory Decline Among Ethnically Diverse Elders. Journal
of Clinical Experimental Neuropsychology, 25(5), 680-690.
McKhann, G. M., Knopman, D. S., Chertkow, H., Hyman, B.T., Jack Jr, C. R., Kawas, C.H., …& Phelps, C. H. (2011). The
diagnosis of dementia due to Alzheimer’s disease: Recommendations from the National Institute on
Aging-Alzheimer’s Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer’s disease. Alzheimers Dementia,
7(3), 263–269. doi:10.1016/j.jalz.2011.03.005.
McKhann, G., Drachman, D., Folstein, M., Katzman, R., Price, D., & Standlan, E.M. (1984). Clinical diagnosis of Alzheimer´s
disease: report of the NINCDS-ADRDA Work Group under the auspices of Department of Health and Human Services
Task Force on Alzheimer´s Disease. Neuroloy, 34, 939-944.
Moskowitz, J., & Miller, S. (2014). Occupational Complexity as a Predictor of Cognitive Reserve. Journal for Undergraduate
Research Opportunities, March, 38-43.
Orueta, U. D., Bueno, C. B., & Lezaun, J. Y. (2010). Reserva cognitiva: evidencias, limitaciones y líneas de investigación
futura. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 45(3), 150-155.
Ott, A., van Rossum, C. T. van Harskamp, F., van Mheen, H., Holman, A., & Breteler, M. M. (1999). Education and the
incidence of dementia in a large population-based study: the Rotterdam Study. Neurology, 52, 663-666.
Paillard-Borg, S., Fratiglioni, L., Winblad, B., & Wang, H-X. (2009). Leisure Activities in Late Life in Relation to Dementia Risk:
Principal Component Analysis. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. 28, 136-144.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
131
Paykel, E. S., Brayne, C., Huppert, F. A., Gill, C., Barkley, C., & Gehlhaar, E. (1994). Incidence of dementia in a population older
than 75 years in the United Kingdon. Archives of General Psychiatry, 51(4), 325-332.
doi:10.1001/archpsyc.1994.03950040069009
Podewils, L. J., Guallar, E., Kuller, L. H., Fried, L. P., Lopez, O. L., Carlson, M,. Lyketsos, C. G. (2005). Physical activity, APOE
genotype, and dementia risk: Findings from the Cardiovascular Health Cognition Study. American Journal of
Epidemiology, 161, 639-651.
Qiu, C., Karp, A., von Strauss, E., Winblad, B., Fratiglioni, L., & Bellander, T. (2003). Lifetime principal occupation and risk of
Alzheimer's disease in the Kungsholmen project. American Journal of Industrial Medicine, 43, 204–211.
Qui, C., Backman, L., Winblad, B., Aguero-Torres, H., & Fratiglioni, L. (2001). The influence of education on clinically
diagnosed dementia incidence and mortality data from the Kungsholmen Project. Archives of Neurology, 58,
2034-2039.
Rami, L., & Bartrés-Faz, D. (2011). Reserva Cognitiva: estudios científicos y cuestionarios. Circunvalación del Hipocampo.
Retirado de http://www.hipocampo.org/originales/original/0010.asp.
Rami, L., Valls-Pedret, C., Bartrés-Faz, D., Caprile, C., Solé-Padullés, C., Castellví, M., … & Molinuevo, J.L. (2011). Cuestionario
de reserva cognitiva. Valores obtenidos en población sana y con enfermedad de Alzheimer [Cognitive reserve
questionnaire. Scores obtained in a healthy elderly population and in one with Alzheimer's disease]. Revista de
Neurologia, 52(4), 195-201.
Rapp, S. R., Espeland, M. A., Manson, J. E., Resnick, S. M., Bryan, N. R., Smoller, S., …& Women's Health Initiative Memory
Study. (2013). Educational attainment, MRI changes, and cognitive function in older postmenopausal women from
the Women's Health Initiative Memory Study. International Journal of Psychiatry in Medicine, 46, 121-143.
Ravaglia, G., Forti, P., Maioli, F., Martelli, M., Servadei, L., Brunetti, N., … & Mariani, E. (2005). Incidence and etiology of
dementia in a large elderly Italian population. Neurology, 64, 1525–1530.
Reed, B. R., Mungas, D., Farias, S. T., Harvey, D., Beckett, L., Widaman, K., & DeCarli, C. (2010). Measuring cognitive reserve
based on the decomposition of episodic memory variance. Brain, 133(8), 2196–2209. doi:10.1093/brain/awq154.
Richards, M., & Sacker A. (2003). Lifetime antecedents of cognitive reserve. Journal of Clinical and Experimental
Neuropsychology, 25, 614-624.
Ritchie, K., & Lovestone, S. (2002). The dementias, The Lancet, 360, 1759-1766.
Robertson, I. H. (2014). A Right Hemisphere Role in Cognitive Reserve. Neurobiology of Aging, 35(6), 1375-1385. doi:
10.1016/j.neurobiolaging.2013.11.028.
Roe, C. M., Mintun, M. A., D´Angelo, G., Xiong, C., Grant, E. A., & Morris, J. C., (2008). Alzheimer disease and cognitive
reserve: variation of education effect varies with carbon 11-labeled Pittsburgh Compound B uptake. Archives of
Neurology, 65, 1467–1471.
Rovio, S., Kåreholt, I., Helkala, E. L., Viitanen, M., Winblad, B., Tuomilehto, J., …, & Kivipelto, M. (2005). Leisure-time physical
activity at midlife and risk of dementia and Alzheimer´s disease. The Lancet Neurology, 4(11), 705-711.
doi:10.1016/S1474-4422(05)70198-8
Saczynski, J. S., Pfeifer, L. A., Masaki, K., Korf, E. S. C., Laurin, D., White, L. & Launer, L. J. (2006). The Effect of Social
Engagement on Incident Dementia. The Honolulu-Asia Aging Study. American Journal of Epidemiology, 163(5),
433-440. doi: 10.1093/aje/kwj061.
Scarmeas N, & Stern Y. (2004). Cognitive Reserve: Implications for Diagnosis and Prevention of Alzheimer`s Disease. Current
Neurology and Neuroscience Reports, 4, 374-380.
Scarmeas, N., & Stern, Y. (2003). Cognitive Reserve and Lifestyle. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 25,
625-633.
Scarmeas, N., Albert, S. M., Manly, J. J., & Stern, Y. (2006). Education and rates of cognitive decline in incident Alzheimer´s
disease. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, 77(3), 308-316. doi: 10.1136/jnnp.2005.072306
Scarmeas, N., Levy, M.D., Tang, M.-X., Manly, J., & Stern, Y. (2001). Influence of leisure activity on the incidence of
Alzheimer´s Disease. Neurology, 57, 2236-2242.
Scarmeas, N., Luchsinger, J. A., Brickman, A. M., Cosentino, S., Schupf, N., Xin-Tang, M., …, & Stern, Y. (2011). Physical
activity and Alzheimer disease course. American Journal of Geriatric Psychiatry, 19(5), 471-481. doi:
10.1097/JGP.0b013e3181eb00a9.
Scarmeas, N., Luchsinger, J. A., Schupf, N., Brickman, A. M., Cosentino, S., Tang, M. X., & Stern, Y. (2009). Physical activity,
diet, and risk of Alzheimer disease. The Journal of the American Medical Association, 302(6), 627–637.
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
132
Schmand, B., Smit, J. H., Geerlings, M. I., & Lindeboom, J. (1997). The effects of intelligence and education on the
development of dementia. A test of the brain reserve hypothesis. Psychological Medicine, 27, 1337–1344.
Snowdon, D.A., Ostwald, S.K., Kane, R.L. & Keenan, N.L. (1989). Years of life with good and poor mental and physical
function in the elderly. Journal of Clinical Epidemiology, 42, 1055-1066.
Sobral, M. (2006). A contribuição da psicologia na avaliação do idoso. In H. Firmino (Ed.), Psicogeriatria (pp. 499-512).
Coimbra: Almedina.
Sobral, M., & Paúl, C. (2013a). Reserva Cognitiva e Doença de Alzheimer. Actas de Gerontologia: Congresso Português de
Avaliação e Intervenção em Gerontologia Social, l(1), 1-9.
Sobral, M., & Paúl, C. (2013b). Education, leisure activities and cognitive and functional ability of Alzheimer's disease
patients: A follow-up study. Dementia & Neuropsychologia, 7(2), 181-189.
Sobral, M., & Paúl, C. (2013c). Relationship of Leisure Activities and Alzheimer´s Disease. International Journal of Advances
in Psychology, 2(4), 179-185. doi: 10.14355/ijap.2013.0204.01.
Sobral, M., Pestana, M. H., & Paúl, C. (2014). Measures of Cognitive Reserve in Alzheimer´s disease. Trends in Psychiatry and
Psychotherapy, 36(3), 160-168.
Sörman, E. D., Sundstrom, A., Ronnlund, M., Adolfsson, R., & Nilsson, L. G. (2014). Leisure activity in old age and risk of
dementia: a 15-year prospective study. Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences,
69(4), 493–501, doi:10.1093/geronb/gbt056.
Sperling, R. A., Aisen, P. S., Beckett, L. A., Bennett, D. A., Craft, S., Fagan, A. M.,… & Phelps, C. H. (2011). Toward defining the
preclinical stages of Alzheimer's disease: recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's
Association workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease. Alzheimers Dementia, 7(3), 280-292. doi:
10.1016/j.jalz.2011.03.003.
Staff, T. R., Murray, A. D., Deary, I. J., & Whalley, L, J. (2004). What provides cerebral reserve? Brain, 127(5), 1191-1199.
Steffener, J., & Stern; Y. (2012). Exploring the neural basis of cognitive reserve in aging Biochimica et Biophysica Acta,
1822(3), 467–473, doi:10.1016/j.bbadis.2011.09.012.
Stern, C., & Munn, Z. (2010). Cognitive leisure activities and their role in preventing dementia: a systematic review.
International Journal of Evidence Healthcare, 8, 2-17.
Stern, Y (2011). Elaborating a Hypothetical Concept: Comments on the Special Series on Cognitive Reserve. Journal of the
International Neuropsychological Society:JINS, 17(4), 639–642. doi:10.1017/S1355617711000579.
Stern, Y (2012). Cognitive reserve in ageing and Alzheimer´s disease. The Lancet. Neurology, 11(11), 1006-1012. doi:
10.1016/S1474-4422(12)70191-6.
Stern, Y. (2002). What is cognitive reserve? Theory and research application of the reserve concept. Journal of the
International Neuropsychological Society, 8, 448-460.
Stern, Y. (2006). Cognitive Reserve and Alzheimer Disease. Alzheimer Disease and Associated Disorders, 20(2), 112-117. doi:
10.1097/01.wad.0000213815.20177.19
Stern, Y. (2009). Cognitive reserve. Neuropsychology, 47, 2015-2028.
Stern, Y. (2013). Cognitive reserve: Implications for Assessment and Intervention. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 65(2),
49-54.doi: 10.1159/000353443.
Stern, Y., Gurland, B., Tatemichi, T. K., Tang, M. X., Wilder, D., & Mayeux, R. (1994). Influence of education and occupation
on the incidence of Alzheimer´s disease. The Journal of the American Medical Association JAMA, 271, 1004-1010.
Tucker, A. M., & Stern, Y. (2014) Cognitive Reserve and the Aging Brain. In A.K. Nair & M.N. Sabbagh (Eds), Geriatric
Neurology (pp.118-125). Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd. doi: 10.1002/9781118730676.ch5
Tucker, A. M., & Stern, Y. (2011). Cognitive Reserve in Aging. Current Alzheimer Research, 8(4), 354-360. doi:
10.2174/156720511795745320
Tyas, S. L., Manfreda, J., Strain, L. A., & Montgomery, P. R. (2001). Risk factors for Alzheimer´s disease: a population-based,
longitudinal study in Manitoba, Canada. International Journal of Epidemiology, 30(3), 590-597.doi:
10.1093/ije/30.3.590
Valenzuela, M. J., & Sachdev, P. (2006). Brain reserve and dementia: a systematic review, Psychological Medicine, 36,
441-454.
Valenzuela, M. J., & Sachdev, P. (2007). Assessment of complex mental activity across the lifespan: development of the
Lifetime of Experiences Questionnaire. Psychological Medicine, 37, 1015-1025. doi:10.1017/S003329170600938X
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
133
van Oijen, M., de Jong, F. J., Hofman, A., Koudstaal, P. J., & Breteler, M. M. (2007). Subjective memory complaints,
education, and risk of Alzheimer's disease. Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association,
3(2),92-97. doi: 10.1016/j.jalz.2007.01.011.
Verghese, J., Lipton, R. B., Katz, M. J., Hall, C. B., Derby, C. A., Kuslansky, G., … & Buschke, H. (2003). Leisure Activities and
the Risk of Dementia in the Elderly. The New England Journal of Medicine, 348, 2508-16.
Villareal, D. T. & Moris, J. C. (1999). The Diagnosis of Alzheimer´s Disease. Journal of Alzheimer´s Disease, 1, 249-263.
Wang, L., Larson, E.B., Bowen, J.D., & van Belle, G. (2006). Performance-based physical function and future dementia in older
people. Archives of Internal Medicine, 166(10), 1115–1120. doi:10.1001/archinte.166.10.1115
Wilson, R.S., Barnes, L.L., & Bennett, D.A.(2003). Assessment of lifetime participation in cognitively stimulating activities.
Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 25, 634-42.
Wilson, R.S., Mendes de Leon, C.F., Barnes, L.L., Schneider, J.A., Bienias, J.L., Evans, D.A., & Bennett, D.A. (2002).
Participation in cognitively stimulating activivities and risk of incident Alzheimer disease. Journal of the American
Medical Association, 287, 742-748.
World Health Organisation [WHO]. (2010). The International Classification of Diseases and Related Health Problems.
Volume 2, 10th Revision, Geneva: WHO.
Yamada, M., Kasagi, F., Sasaki, H., Masunari, N., Mimori, Y., & Suzuki, G. (2003). Association between dementia and midlife
risk factors: the Radiation Effects Research Foundation Adult Health Study. Journal of the American Geriatrics Society,
51, 410-414.
Yamada, M., Sasaki, H., Mimori, Y., Kasagi, F., Sudoh. S., Ikeda, J., …& Kodama, K. (1999). Prevalence and risks of dementia in
the Japanese population: RERF's adult health study Hiroshima subjects. Radiation Effects Research Foundation.
Journal of the American Geriatrics Society, 47(2), 189-195.
Yoshitake, T., Kiyohara, Y., Kato, I., Ohmura, T., Iwamoto, H., Nakayama, K., …& Fujishima, M. (1995). Incidence and risk
factors of vascular dementia and Alzheimer's disease in a defined elderly Japanese population: The Hisayama Study.
Neurology, 45, 1161–1168. doi: 10.1212/WNL.45.6.1161.
Zhang, M.Y., Katzman, R., Salmon, D., Jin, H., Cai, G.J., Wang, Z.Y., … & Liu, W.T. (1990). The prevalence of dementia and
Alzheimer´s disease in Shanghai, China: impact of age, gender, and education. Annals of Neurology, 27(4), 428-437.
doi: 10.1002/ana.410270412
Ziegler-Graham, K., Brookmeyer, R., Johnson, E., & Arrighi, H.M. (2008). Worldwide variation in the doubling time of
Alzheimer´s disease incidence rates. Alzheimer’s Disease, 4(5), 316-23. doi:10.1016/j.jalz.2008.05.2479
Revista E-Psi (2015), 5(1), 113-134
Sobral & Paúl
134
Cognitive reserve, aging, and dementias
Abstract
The population has been aging on a continuous basis over the past decades. Dementias are one of the most
common problems of mental health in older adults. Cognitive Reserve (CR) is defined as the ability of
progressive activation of neuronal networks in response to the increasing needs. The objectives of this study
were: (a) To reflect on the association between CR and aging; (b) To reflect on the association between CR and
dementias; (c) To reflect on the importance of quantification of the CR in the context of brain aging and
dementia. Research suggests that factors such as the level of education, type of work throughout life, leisure
activities contribute strongly to the CR and with great impact on the emergence of clinical symptoms of
dementia.
Keywords Aging, Cognitive reserve, dementias.
Received: 05.08.2014 Revision received: 13.02.2015
Accepted: 20.02.2015
AJUDE-NOS
A Revista E-Psi é de
acesso totalmente livre
para si,
mas não é livre de
encargos para nós.
Ajude-nos a fazer crescer este
projeto com uma doação no valor
que considerar possível para si.
Veja como em:
www.revistaepsi.com
HELP US
Revista E-Psi is totally free
for you,
but not free for us.
Consider a donation to help us
making our project stronger.
See how:
www.revistaepsi.com
REVISTA E-PSI,
Because Knowledge should be for free!
Thank you for supporting this FREE Open Access Journal.
See more and Download PDF in:
www.revistaepsi.com/
EMAIL: [email protected]
![Page 1: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/35.jpg)
![Page 36: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 37: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/37.jpg)
![Page 38: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/39.jpg)
![Page 40: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/40.jpg)
![Page 41: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/44.jpg)
![Page 45: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/45.jpg)
![Page 46: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/46.jpg)
![Page 47: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/48.jpg)
![Page 49: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/49.jpg)
![Page 50: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/50.jpg)
![Page 51: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/51.jpg)
![Page 52: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/52.jpg)
![Page 53: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/53.jpg)
![Page 54: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/54.jpg)
![Page 55: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/55.jpg)
![Page 56: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/56.jpg)
![Page 57: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/57.jpg)
![Page 58: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/58.jpg)
![Page 59: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/59.jpg)
![Page 60: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/60.jpg)
![Page 61: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/61.jpg)
![Page 62: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/62.jpg)
![Page 63: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/63.jpg)
![Page 64: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/64.jpg)
![Page 65: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/65.jpg)
![Page 66: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/66.jpg)
![Page 67: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/67.jpg)
![Page 68: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/68.jpg)
![Page 69: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/69.jpg)
![Page 70: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/70.jpg)
![Page 71: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/71.jpg)
![Page 72: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/72.jpg)
![Page 73: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/73.jpg)
![Page 74: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/74.jpg)
![Page 75: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/75.jpg)
![Page 76: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/76.jpg)
![Page 77: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/77.jpg)
![Page 78: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/78.jpg)
![Page 79: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/79.jpg)
![Page 80: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/80.jpg)
![Page 81: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/81.jpg)
![Page 82: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/82.jpg)
![Page 83: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/83.jpg)
![Page 84: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/84.jpg)
![Page 85: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/85.jpg)
![Page 86: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/86.jpg)
![Page 87: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/87.jpg)
![Page 88: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/88.jpg)
![Page 89: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/89.jpg)
![Page 90: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/90.jpg)
![Page 91: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/91.jpg)
![Page 92: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/92.jpg)
![Page 93: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/93.jpg)
![Page 94: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/94.jpg)
![Page 95: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/95.jpg)
![Page 96: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/96.jpg)
![Page 97: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/97.jpg)
![Page 98: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/98.jpg)
![Page 99: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/99.jpg)
![Page 100: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/100.jpg)
![Page 101: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/101.jpg)
![Page 102: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/102.jpg)
![Page 103: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/103.jpg)
![Page 104: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/104.jpg)
![Page 105: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/105.jpg)
![Page 106: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/106.jpg)
![Page 107: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/107.jpg)
![Page 108: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/108.jpg)
![Page 109: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/109.jpg)
![Page 110: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/110.jpg)
![Page 111: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/111.jpg)
![Page 112: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/112.jpg)
![Page 113: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/113.jpg)
![Page 114: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/114.jpg)
![Page 115: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/115.jpg)
![Page 116: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/116.jpg)
![Page 117: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/117.jpg)
![Page 118: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/118.jpg)
![Page 119: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/119.jpg)
![Page 120: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/120.jpg)
![Page 121: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/121.jpg)
![Page 122: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/122.jpg)
![Page 123: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/123.jpg)
![Page 124: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/124.jpg)
![Page 125: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/125.jpg)
![Page 126: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/126.jpg)
![Page 127: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/127.jpg)
![Page 128: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/128.jpg)
![Page 129: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/129.jpg)
![Page 130: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/130.jpg)
![Page 131: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/131.jpg)
![Page 132: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/132.jpg)
![Page 133: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/133.jpg)
![Page 134: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/134.jpg)
![Page 135: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/135.jpg)
![Page 136: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/136.jpg)
![Page 137: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/137.jpg)
![Page 138: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/138.jpg)
![Page 139: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/139.jpg)
![Page 140: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/140.jpg)
![Page 141: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/141.jpg)
![Page 142: Temas em psicologia do envelhecimento - Vol.II [Volume Temático]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023032323/6328cc32d77d985e070fe105/html5/thumbnails/142.jpg)