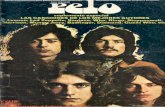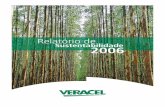sustentabilidade do desenvolvimento pelo turismo em uma ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of sustentabilidade do desenvolvimento pelo turismo em uma ...
i
FEAD – Centro de Gestão Empreendedora
Mestrado em Administração
Modalidade Profissionalizante
Entre tradição e modernidade:
sustentabilidade do desenvolvimento pelo turismo
em uma comunidade tradicional de Minas Gerais
Estudo de caso em Milho Verde, Alto Jequitinhonha
Jorge Renato Lacerda Arndt
Belo Horizonte
2007
ii
Jorge Renato Lacerda Arndt
Entre tradição e modernidade:
sustentabilidade do desenvolvimento pelo turismo
em uma comunidade tradicional de Minas Gerais
Estudo de caso em Milho Verde, Alto Jequitinhonha
Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado em Administração –
Modalidade Profissionalizante, da FEAD, como requisito parcial para obtenção do título
de Mestre em Administração – Área de concentração Organizações, Gestão e Mudanças
Orientadora
Profª. Drª Solange Maria Pimenta
FEAD – Centro de Gestão Empreendedora
Belo Horizonte
2007
iii
Resumo
Esta pesquisa avalia as condições para a efetivação de um desenvolvimento por meio de atividadeseconômicas relacionadas ao turismo no contexto da comunidade de Milho Verde, Minas Gerais.Remanescente da exploração colonial de minerais preciosos na região de Diamantina, a pequenalocalidade inseriu-se na demanda turística contemporânea trazendo estruturas tradicionais - sociais,culturais e econômicas - em grande medida ainda inalteradas, preservadas pela depressão daatividade econômica que atingiu todo o Vale do Jequitinhonha após o declínio da mineração. Jáconfrontada por crescentes solicitações de uma racionalização de suas atividades, e por uma sériede impactos ecológicos, culturais e urbanísticos relacionados à visitação turística, a comunidade,junto com os empreendimentos informais de turismo estabelecidos pela população, está sendoincorporada a um contexto ampliado e intensificado de solicitações externas, determinado pelaimplementação de propostas planificadas de fomento à atividade turística - o Prodetur NE II e oPrograma de Desenvolvimento da Estrada Real. Aquilatando as possibilidades para umdesenvolvimento que efetivamente considere os públicos locais e que contemple a indispensávelmanutenção de condições comunitárias e ecológicas que perpetuem a atratividade turística, apesquisa discute o papel da autonomia sociopolítica local como uma condição sine qua non para aconsecução de uma proposta de desenvolvimento.
Palavras-chave
Milho Verde, São Gonçalo do Rio das Pedras, Baú, Ausente, Três Barras, Capivari, Serro, Vila doPríncipe, Diamantina, Tejuco, Tijuco, Alto Jequitinhonha, Águas Vertentes, Itambé, DistritoDiamantino, Capitania das Minas Gerais, Intendência dos Diamantes, Real Extração, Colônia,colonial, vila, arraial, mineração, garimpo, garimpeiro, mineiro, extrativismo, ouro, diamante,quilombo, quilombola, escravo, escravidão, escravatura, coronelismo, comunidade tradicional,estudo etnográfico, modernidade, modernização, globalização, racionalidade capitalista,instrumental, instrumentalização, impacto ambiental, impacto socioambiental, impacto ecológico,urbanização, gestão social, exclusão social, informalidade, trabalho informal, economia solidária,turismo, turismo social, organização não-governamental, Terceiro Setor, desenvolvimentosustentável, sustentabilidade, desenvolvimento alternativo, cidadania, ação comunicativa, razãocomunicativa, Estrada Real, Prodetur NE II, Turismo Solidário, Felício dos Santos, Saint-Hilaire,Mawe, Spix, Martius, Mello e Souza, Krippendorf, Rita Mendonça, Coriolano, Fonteles, Tofani,Colin Hall, Carrieri, P imenta, Corrêa, Habermas.
iv
Abstract
This study evaluates the conditions to the effectiveness of a development by means of economicactivities related to the tourism in the context of Milho Verde community, State of Minas Gerais,Brazil. Remained from the colonial exploration of precious minerals in the region of Diamantina,the small locality was inserted in the contemporary touristic demand bringing traditional structures- social, cultural and economic - largely unaltered, preserved by the depression of the economicactivity that affected all the Jequitinhonha Valley after the decline of the mining activity. Alreadyconfronted to the increasing requests of a rationalization of its activities, and to a series ofecological, cultural and urbanistic impacts related to the touristic demand, the community, with theinformal enterprises in tourism established by the population, is now being incorporated to anenlarged and intensified context of external requires, determined by the implementation of plannedproposals of touristic activity - the Prodetur NE II and the Estrada Real Development Program("Royal Road"). Appraising the possibilities of a development that effectively considers the localpublics and the necessary maintenance of community's and ecological conditions that perpetuatesthe touristic attractiveness, the research discusses the importance of the local sociopoliticalautonomy as an essential condition to the consecution of a development proposal.
Keywords
Milho Verde, São Gonçalo do Rio das Pedras, Baú, Ausente, Três Barras, Capivari, Serro, Vila doPríncipe, Diamantina, Tejuco, Tijuco, Alto Jequitinhonha, Águas Vertentes, Itambé, DistritoDiamantino, Diamond District, Capitania das Minas Gerais, Intendência dos Diamantes, RealExtração, colony, colonial, vila, villa, village, arraial, mining, garimpo, garimpeiro, miner,extrativism, gold, diamond, quilombo, quilombola, slave, slavery, coronelismo, traditionalcommunity, ethnographic study, modernity, modernization, globalization, capitalist rationality,instrumental, instrumentalization, environmental impacts, socioenvironmental impacts, ecologicalimpacts, urbanization, social management, social exclusion, informality, informal work,cooperative economy, tourism, social tourism, non-governmental organization, Third Sector,sustainable development, sustainability, alternative development, citizenship, communicativeaction, communicative rationality, Estrada Real, Prodetur NE II, Turismo Solidário, Felício dosSantos, Saint-Hilaire, Mawe, Spix, Martius, Mello e Souza, Krippendorf, Rita Mendonça,Coriolano, Fonteles, Tofani, Colin Hall, Carrieri, P imenta, Corrêa, Habermas.
6
Agradecimentos
A Solange Pimenta, mapa mundi.
A Maria Laetitia Corrêa, Hércoles Jaci, Luiz Fernando Ferreira Leite, Martin Kuhne, Vítor
Kawakami, Cristina Ferreira, Thomas Kuberek, Tarcísio Ferreira, Heloísa Starling, Frederico
Tofani, Luís Santiago, Maria de Fátima Lanna, Evandro Sathler e Céres Spínola Castro.
A Janice, Walter, Márcio, Shauma, Cláudio e Érika; penhor absoluto; ao Marcelo Closel,
irmão também; a Lindalva, Pedro, Don’Anna, Lourdes Menezes, Vânia Rodrigues e Vânia Sá; a
Jandira Porto , nessa empreitada “na barca dos homens”; e a Ani, que esteve lá, e apostou.
E a todos os anônimos entrevistados.
7
Sumário
1. Introdução, 8
1.1. Percurso metodológico, 15
2. Aspectos teóricos e empíricos, 35
2.1. Uma modernidade inatingida, 37
2.1.1. Um enclave fiscal, 38
2.1.2. Espinhaço: obstáculo, jazida e caminho, 53
2.1.3. Entre o oficial e o clandestino, 59
2.1.4. Articulação e desarticulação das economias mineradora e agrícola, 76
2.1.5. Uma pré-modernidade ilhada, 102
2.1.6. Res incognita, 121
2.2. Mercado: o novo bandeirante, 163
2.2.1. “O sistema vem aí”, 174
2.2.2. Uma inexorabilidade programada?, 187
2.2.3. O setor informal, 194
2.2.4. Informalidade e cidadania, 202
2.2.5. A sociopolítica do turismo, 211
2.2.6. (Des)articulações entre comunidade, empreendedores e turismo, 220
2.3. Para sustentar a sustentabilidade, 240
2.3.1. Desenvolvimento alternativo e sustentabilidade, 240
2.3.2. Uma sustentabilidade de fora para dentro?, 254
2.3.3. Racionalidade e modernidade, 274
2.3.4. Fins, meios e mediações, 290
3. Considerações finais, 303
Referências, 314
Índice de quadros e figuras, 324
Glossário, 327
Anexo, 332
8
1. Introdução
Mas, o senhor sério tenciona devassar a raso este mar deterritórios, para sortimento de conferir o que existe?Tem seus motivos. Agora – digo por mim – o senhor vem,veio tarde. Tempos foram, os costumes demudaram. Quaseque, de legítimo leal, pouco sobra, nem não sobra mais nada.
Riobaldo Tatarana 1
Inflexão peculiar entre passado colonial e presente capitalista, palco de questões
contemporâneas como a exclusão social e o trabalho informal, a localidade de Milho
Verde, em Minas Gerais, abriga, sob a aparência pacata de um vilarejo histórico,
significativas articulações entre trabalho, comunidade, Terceiro Setor e políticas de
desenvolvimento, conjunto de temáticas interrelacionadas enfocado pela presente pesquisa.
A demanda turística experimentada por Milho Verde é determinante deste quadro de
múltiplas referências e propicia a observação de um encontro, nitidamente contrastado,
entre racionalidade de mercado e sociedade tradicional, e entre políticas de estímulo ao
desenvolvimento e condições de trabalho informal. Dado o papel econômico relevante do
turismo, é de grande importância qualquer observação que possa contribuir para um
aprimoramento no desempenho de todas as atividades relacionadas, seja na orientação dada
às iniciativas de fomento – visando-se à sustentabilidade – empreendidas nos âmbitos
privado, público ou do Terceiro Setor, seja com relação aos interesses individuais e
coletivos dos trabalhadores e empresas envolvidos, ou ainda com relação às mobilizações
1 Guimarães Rosa (2006 [1956]: 25-26).
9
comunitárias das localidades que, em número e intensidade crescentes, inserem-se na
economia do turismo.
Assim, a pesquisa ora apresentada tematiza a inserção sócio-econômica do trabalho,
seja em relação à informalidade, à cidadania, à economia solidária, a modelos produtivos
alternativos, à gestão de programas privados e públicos na área social, e à gestão de
organizações do Terceiro Setor. Refere-se também ao panorama de transformação social de
modernidade e globalização, no que tange às relações entre trabalho, organizações e
sociedade.
Considerou-se, para os fins da presente dissertação, como pertencentes a um
“Terceiro Setor” as organizações não-privadas correspondentes aproximadamente às
designações comumente utilizadas de “organizações da sociedade civil”, ou “organizações
de fins não-lucrativos”. Assim, o termo Terceiro Setor designará organizações diversas
relacionadas ao tema pesquisado – desde instituições mais estruturadas, articuladas em
proximidade ao Estado e a grandes empresas, até movimentos informais, não-
institucionalizados, como grupos de tradições culturais ou associações comunitárias.
Atuando em organizações do Terceiro Setor ao longo dos últimos sete anos, o
pesquisador travou contato com a comunidade de Milho Verde. Assim, foram
acompanhadas, periodicamente, a evolução do turismo na região e as concomitantes
modificações na vida comunitária. As indagações motivadas por estas observações
informais constituíram o impulso inicial para a tematização da pesquisa ora apresentada.
A composição de esforços produtivos em serviços de turismo por parte de membros
da comunidade de Milho Verde poderia – esta era uma das questões evocadas a partir das
10
observações – estar se relacionando de maneira articulada ou desarticulada às questões de
aquisição e construção de cidadania, e ao fortalecimento comunitário.
Na medida que a composição dos esforços estivesse ocorrendo de forma
desarticulada em relação às questões de cidadania e fortalecimento comunitário, o
incremento da atividade do turismo, exogenamente determinado por projetos de
desenvolvimento – ora em fases iniciais de implantação na região –, e passivamente
assimilado pela população no que se refere às conseqüências, poderia vir a provocar uma
desagregação da comunidade, com conseqüentes perdas em autonomia, identidade cultural,
identidade comunitária, articulação política, além de sacrifício de valores culturais e perda
de qualidade de vida.
Por outro lado, se a composição dos esforços pudesse ocorrer de forma articulada às
questões de cidadania e fortalecimento comunitário, fatores sociais locais poderiam, talvez,
configurar uma reação particular e contextualizada às novas demandas em serviços de
turismo, em formulações que apropriadamente considerassem as dimensões comunitárias,
políticas, sociais e culturais, a par do aprestamento de membros da comunidade para o
atendimento às solicitações do mercado.
A composição de esforços produtivos em serviços para o atendimento das demandas
turísticas, por parte de membros individuais e de grupos da comunidade de Milho Verde,
poderia estar ocorrendo de maneira apenas reativa, condicionada por estímulos externos,
com ameaças para um desenvolvimento sustentável a partir da debilitação dos processos de
construção de cidadania, fortalecimento comunitário e afirmação cultural; ou os esforços
produtivos poderiam conter elaborações próprias que contemplassem as identidades
individuais e coletivas, traduzindo necessidades e valores intrínsecos, e constituindo,
assim, uma mobilização endógena da comunidade com vistas a atingir-se maior autonomia,
11
e produzindo um equilíbrio entre as dimensões políticas, sociais e culturais da participação
na atividade econômica.
A coletividade, bem ou mal consolidada em uma comunidade que compartilha
múltiplos interesses, poderia estar influindo na composição dos esforços produtivos, na
medida mesma em que estes esforços imbricam-se na própria organização coletiva, e
também afetam profundamente os objetivos da comunidade.
A progressiva, e possivelmente inexorável, adoção de uma racionalidade
instrumental de mercado poderia estar impactando negativamente valores tradicionais e a
vitalidade social da comunidade. Assim, o fortalecimento da identidade cultural e
comunitária, tal como vem sendo estimulado por organizações do Terceiro Setor que
atuam localmente, poderia estar mediando a adesão a essa racionalidade. Um caminho
sustentável para adoção dos modelos produtivos racionais capitalistas se daria, assim,
através de uma consolidação, em paralelo, da esfera dos valores intrínsecos, e da adoção de
um posicionamento político participativo. Além disso, a formulação dos esforços
produtivos em turismo poderia estar sendo, talvez, empreendida pelo uso de modelos de
organização e de gestão peculiares à formação cultural e social locais.
O conceito de “racionalidade instrumental” vem da distinção weberiana entre “ação
social racional orientada de acordo com fins”, “ação social orientada de acordo com
valores”, “ação social afetiva” e “ação social tradicional” (WEBER, 1964 [1922]: 20).
Equivalente às expressões mais utilizadas de “instrumentalização” e de “funcionalização”,
a ação social racional orientada pelos fins abrange as atitudes que correspondem à conduta
geral de utilização de meios com relação a fins (tal como se observa em Maquiavel ou no
utilitarismo de Mills e Hume), e à racionalidade técnica, incorporando também, portanto, a
racionalidade do modo de produção e de organização social e econômica capitalista.
12
Definições e explanações acerca de “racionalidade capitalista”, conceito também forjado
por Weber (1996 [1905]), serão expostas adiante, nos termos de uma atualização proposta
por Jürgen Habermas.
O conceito de “racionalidade substancial”, elaborado por Karl Mannheim, designa
não uma organização sistemática e finalística, como a da racionalidade instrumental, mas
um reconhecimento das implicações das relações entre os fatos, atitudes e intenções,
implícito na ação social orientada por valores, ou por convicções, proposta por Weber
(MANNHEIM, 1962:63;68).2
Definições para os termos “desenvolvimento sustentável” e “sustentabilidade” serão
providas no tópico 2.3.2, junto a uma discussão sobre uma controvérsia acerca destes
conceitos.
Dentro do panorama descrito de, pelo menos aparentemente, grandes riscos e parcas
potencialidades, se configurou o problema de pesquisa a ser abordado. Apresentar-se-á a
seguir o que foi possível objetivar a respeito destas questões, obedecendo-se a uma linha
de indagações que remonta ao quadro completo das condições da formação histórica local,
além de investigações sobre as condições comunitárias e do trabalho atuais na localidade, e
sobre toda a multiplicidade de impactos culturais, sociais e econômicos que ora interferem
na composição de esforços produtivos efetivados por membros da população. Em síntese,
foi necessário observar a comunidade como um todo, em sua relação com a economia do
2 Para uma revisão teórica sobre o tema das ações sociais racionais em relação à gestão de organizações doTerceiro Setor – em termos da proposição de Guerreiro Ramos de uma racionalidade administrativa(RAMOS, 1983: 42-48) –, vide Arndt e Oliveira (2006).
13
turismo, para que a compreensão dos aspectos de trabalho e empreendedorismo locais
pudessem ser avaliados.
As oportunidades de geração de renda pelo turismo dão-se em meio a um contexto
atual de precarização do trabalho e exclusão social, em que a informalidade configura as
condições sociopolíticas concernentes às formulações produtivas e à gestão, com efeitos
que dizem respeito a toda a conjuntura da implementação de projetos de desenvolvimento
pelo turismo. Assim, seria válido discutir-se como, em meio à condição prevalecente de
informalidade, a miríade de pequenos empreendimentos situados nas diversas localidades
componentes das “meta-organizações” conformadas por roteiros turísticos está
estruturando-se, e discutir também os posicionamentos assumidos por estes componentes,
nos eixos mesmos em que a pesquisa ora apresentada se propôs a investigar: trabalho,
comunidade e cidadania. Essa avaliação das condições locais no âmbito pesquisado,
concernente às múltiplas funções sociais do trabalho e dimensões da atuação
organizacional, por si só, já constitui relevante justificativa para a realização do presente
estudo.
A importância da produção de serviços em turismo para a melhoria das condições de
vida da população refere-se, evidentemente, não só à comunidade pesquisada, mas a
qualquer localidade atrativa que esteja integrando sua vida comunitária ao eixo de
referências mercadológicas e culturais ampliado representado pela atividade turística
contemporânea. As comunidades que participam de atividades econômicas relacionadas ao
turismo, tanto no que importe aos poderes públicos municipais das diversas localidades
integradas, quanto às organizações da sociedade civil locais ou de atuação local, bem como
às organizações e trabalhadores em negócios do turismo, apreciarão quaisquer diretivas
úteis para uma maior efetividade e sustentabilidade de suas ações.
14
Estas organizações e comunidades não se estruturam em um espaço econômico
abstrato de demandas por serviços. A compreensão da inserção social do pequeno
empreendimento deve ser vista, no caso de grande parte das comunidades ora visadas por
projetos de incentivo ao turismo, como uma via para a consecução de um desenvolvimento
sustentável.
A adoção de modelos organizacionais racionais de mercado no seio de comunidades
de cultura tradicional é um objeto de interesse abrangente, tanto mais considerando-se a
imbricação – no contexto particular pesquisado da comunidade de Milho Verde – entre os
temas trabalho, gestão, informalidade e cidadania, todos relevantes para a situação
econômica, social e política brasileira contemporânea, em um panorama determinante para
a atuação das organizações privadas, públicas e do Terceiro Setor, especialmente no que
corresponde às relações entre trabalho, gestão de organizações e estratégias de gestão
social.
Assim, além da assinalada importância da presente proposta de estudo para os
empreendimentos de turismo situados em Milho Verde, e ao longo de roteiros como o da
Estrada Real, deve-se considerar também o interesse de pesquisadores, consultores e
gestores em turismo, organizações privadas, públicas e do Terceiro Setor atuantes em
localidades onde o turismo afete significativamente o modo de vida e a economia locais,
bem como para as comunidades em seu caráter geral, dado o impacto que a crescente
atividade turística já tem representado e irá, cada vez mais, representar. A compreensão das
necessidades comunitárias implícitas nesse desenvolvimento é importante para a
manutenção dos valores presentes atualmente e para a aquisição sustentada de novos
valores econômicos, sociais e culturais.
15
1.1. Percurso metodológico
Para a consecução da pesquisa foram designados os seguintes objetivos:
i) Identificar e avaliar as transformações ocorridas a partir da inserção de Milho
Verde na economia do turismo e os efeitos desta inserção sobre aspectos
econômicos e sociopolíticos da comunidade.
ii) Identificar e analisar a formação sócio-histórica de Milho Verde, no que diz
respeito à elaboração, por parte da comunidade, de respostas à inserção na
economia do turismo.
iii) Identificar e analisar as respostas à inserção na economia do turismo, por parte de
indivíduos, grupos e organizações da comunidade de Milho Verde, em termos de
i) elaboração de esforços produtivos em serviços para o turismo; ii) mobilizações
das entidades comunitárias locais; iii) mobilizações dos poderes estatais locais;
iv) mobilizações de entidades diversas, sejam privadas ou do Terceiro Setor.
iv) Identificar os efeitos da inclusão da localidade em propostas planificadas de
desenvolvimento pelo turismo e das respostas elaboradas a essa inclusão, em
termos de i) elaboração de esforços produtivos em serviços para o turismo; ii)
mobilizações das entidades comunitárias locais; iii) mobilizações dos poderes
estatais locais; iv) mobilizações de entidades diversas, sejam privadas ou do
Terceiro Setor.
v) Identificar uma possível adequação ou inadequação, aplicabilidade ou
inaplicabilidade dos modelos de organização adotados nos esforços produtivos
locais em serviços de turismo, em relação à conjuntura econômica e social da
comunidade de Milho Verde.
16
Referenciando a problematização designada e o empreendimento de tarefas de
campo e análises em uma abordagem qualitativa, adotou-se uma orientação pelos preceitos
da teoria crítica. Segundo Alves-Mazzotti (2004), o vocábulo “crítica”, com relação à
denominação do paradigma teórico, refere-se a uma auto-crítica capaz de avaliar
rigorosamente as argumentações e o método empregados, e também a uma crítica
direcionada à análise das condições de regulação social, desigualdade e poder, enfatizando-
se, assim, o papel transformador da ciência na sociedade. A abordagem crítica constitui-se,
portanto, como essencialmente relacional, procurando deslindar, entre as estruturas
culturais, organizacionais, sociais e políticas humanas, a produção, mediação e
transformação das redes de poder, pressupondo também a interligação entre todos os
fenômenos sociais, incluindo-se aí a produção do saber. “A pesquisa torna-se, assim, um
ato político” (ALVES-MAZZOTTI, 2004: 139-141). Dessa forma, a teoria crítica foi
considerada mais próxima da visão de mundo e dos interesses de desenvolvimento
acadêmico deste pesquisador.
Caracterizando-se, portanto, como i) destinada à transformação da sociedade e
emancipação do homem, ii) orientada para uma visão abrangente iii) da sociedade e da
ciência como componentes de um único fenômeno, iv) valendo-se de uma postura de
investigação orientada para o fenômeno, em que a metodologia desempenha um papel
secundário e em que v) a objetividade é tratada como uma ideologia que encobre
estratégias de dominação, fazendo portanto com que vi) pesquisador e pesquisado sejam
co-participantes do estudo e que vii) os julgamentos de valor sejam relevantes para os
resultados da pesquisa (cf. ALVES-MAZZOTTI, 2004: 118), a teoria crítica aparece como
abrangente dos objetivos e do caráter da presente pesquisa. A teoria crítica pode ser vista
em contraposição a uma postura abstraída e, por isso, pretensamente mais objetiva, de
ciência:
17
A exigência fundamental dos sistemas teóricos [...] seria a de que todos oselementos fossem ligados entre si de modo direto e livre de contradições. [...] Aoseguir esse modelo, a ciência tradicional teria se tornado abstrata e afastada darealidade, não se ocupando da gênese dos problemas nem das situações concretasnas quais os conhecimentos são aplicados [...] O pensamento crítico, aocontrário, procura a superação das dicotomias entre saber e agir, sujeito e objeto,e ciência e sociedade, enfatizando os determinantes sócio-históricos da produçãodo conhecimento científico e o papel da ciência na divisão social do trabalho(ALVES-MAZZOTTI: 117).
Na citação a seguir, a teoria crítica é referenciada em termos de uma proposição de
dialética social:
[...] cabe destacar que a noção de verdade na Teoria Crítica, seguindo umestatuto do próprio processo de Modernidade, reside no esforço de desvelar asestruturas de dominação e alienação da realidade presentes no imaginário socialcontemporâneo. Ainda que influenciados por Nietzsche, os pensadores daprimeira geração da Escola de Frankfurt, notadamente Adorno e Horkheimer,não abdicam da herança marxista de uma verdade capaz de romper as estruturasde dominação e alienação. [...] A Teoria Crítica se apresenta como um constructocapaz de melhor compreender o movimento de superação do capital, quer sejapor carregar em si simultaneamente o questionamento e a meta da emancipaçãodos indivíduos e da sociedade, quer seja por entender as mudanças sociais e,portanto, aquilo que se apresenta como novo, a partir de uma dinâmica dialéticade transformação social (TEODÓSIO, 2005).
Dentro desse quadro, cumpre ainda esclarecer que o emprego de uma abordagem
qualitativa possibilitou o estudo dos fenômenos enfocados no contexto em que ocorrem e
de que fazem parte, em uma análise empreendida sob uma perspectiva integrada (GODOY:
21, 1995). Mencionando uma caracterização sintética elaborada por Patton, Alves-Mazzotti
destaca como principal característica da abordagem qualitativa a inserção em uma tradição
compreensiva ou interpretativa de pesquisa, que pressupõe a necessidade de se desvelar o
sentido, ou significado, dos fenômenos sociais estudados, em função das crenças,
percepções, sentimentos e valores implicados (PATTON apud ALVES-MAZZOTTI,
2004: 131).
Em função da problemática e dos objetivos anteriormente assinalados, foram
estabelecidas demandas descritivas e explicativas, visando-se a compreensão das
percepções, opiniões, intenções, interações e mediações dos atores organizacionais e
18
sociais, em meio a um universo simbólico intersubjetivamente compartilhado, e face a
determinadas solicitações do ambiente.
Referindo-se a um exame extensivo de um único exemplo de um fenômeno, a
presente pesquisa constituiu-se de um estudo de caso único (COLLIS e HUSSEY, 2005:
72), justificado por prover condições para o estudo dos caracteres singulares da
comunidade anteriormente assinalados. Segundo Yin, o estudo de caso “é a estratégia
escolhida ao se examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem
manipular comportamentos relevantes” (2001: 27) ou, completando-se com uma afirmação
de Godoy, aplica-se quando é necessário responder a questões do tipo “ ‘como’ e ‘por que’
certos fenômenos ocorrem, quando há pouca possibilidade de controle sobre os eventos
estudados, e quando o foco de interesse é sobre fenômenos atuais, que só poderão ser
analisados dentro de algum contexto de vida real” (1995: 25). É importante ressaltar que os
estudos de caso permitem o aprofundamento de uma determinada indicação teórica, não se
prestando porém à elaboração de enunciados de aplicação genérica.
Uma enumeração de características proposta por Ludke e André (1986) indica a
adequação do estudo de caso para a pesquisa ora apresentada. Segundo as autoras, os
estudos de caso i) possuem sempre um potencial exploratório, ii) enfatizam a interpretação
contextualizada, iii) buscam retratar a realidade de forma completa e profunda, iv) utilizam
fontes de informação variada, v) permitem o compartilhamento direto de experiências, vi)
permitem a representação do objeto de estudo a partir de pontos de vista diversos ou
contraditórios, e vii) podem ser relatados por meio de uma linguagem acessível (1986: 18-
20).
Para a consecução dos objetivos assinalados, recorreu-se à observação participante e
a entrevistas. Observações e entrevistas são instrumentos comumente utilizados em
19
pesquisas realizadas segundo uma metodologia etnográfica. Vergara estipula, com relação
ao método etnográfico:
[...] exige do pesquisador contato direto e prolongado com seu objeto de estudo.Vale-se, predominantemente, da observação participante e da entrevista nãoestruturada para obter dados sobre pessoas, espaços, interações, símbolos e tudoo mais que possa interessar à sua investigação. Embora parta de algumreferencial teórico, o pesquisador não é a ele escravizado. Confronta teoria eprática o tempo todo e vai reconstruindo a teoria (2005b: 14).
O tema tratado – em uma proposta de identificação de significados sociais
abrangentes, aferidos de forma participante em meio a uma comunidade, sob uma
perspectiva totalizante – demandou, portanto, sob alguns aspectos, uma abordagem
etnográfica.
A rigor, etnografia, em sua proposta no âmbito da Antropologia, é o estudo de povos,
religiões, grupos e castas pelos aspectos culturais. Conforme Vergara, “consiste na
inserção do pesquisador no ambiente, no dia-a-dia do grupo investigado” (2005a: 72).
Como método, a etnografia, em seu geral, preocupa-se em fornecer descrições globais das
culturas abordadas. “A etnografia, na sua acepção mais ampla, pode ser entendida, segundo
Fetterman, como a arte e a ciência de descrever uma cultura ou grupo” (apud GODOY,
1995: 28). Ou, então, “uma maneira de tratar um assunto na qual o pesquisador usa o
conhecimento adquirido e compartilhado socialmente para entender os padrões observados
de atividade humana”, conforme indicado por Collis e Hussey (2005: 75), que também
mencionam que “etnografia é qualquer descrição completa ou parcial de um grupo”
(SCHOEPFLE apud COLLIS e HUSSEY, 2005: 75).
Para a consecução da presente pesquisa, a abordagem etnográfica revelou-se útil para
a evidenciação dos valores sociais presentes nos contextos organizacionais e comunitários
a serem estudados. Além disso, considerando-se o contexto social, econômico e político da
20
comunidade a ser abordada pela pesquisa ora proposta, pode-se mencionar a seguinte
observação a respeito da utilidade do método etnográfico:
A etnografia como abordagem de investigação científica traz algumascontribuições para o campo das pesquisas qualitativas que se interessam peloestudo das desigualdades e exclusões sociais: primeiro, por preocupar-se comuma análise holística ou dialética da cultura, isto é, a cultura não é vista comoum mero reflexo de forças estruturais da sociedade, mas como um sistema designificados mediadores entre as estruturas sociais e a ação humana; segundo,por introduzir os atores sociais com uma participação ativa e dinâmica noprocesso modificador das estruturas sociais. O “objeto” de pesquisa, agora“sujeito”, é considerado como “agência humana” imprescindível no ato de “fazersentido” das contradições sociais [...] (MATTOS, 2001: 1-2).
Isso também pode ser visto em Collis e Hussey, que estipulam com relação à
etnografia: “O objetivo da metodologia é poder interpretar o mundo social do mesmo
modo que os membros desse mundo em particular o fazem” (2005: 75). Ou ainda, no dizer
de Paulo Freire, mencionado por Mattos, “falar com eles, e não sobre eles” (apud 2001: 9),
tratando-se portanto, no que se refere ao estudo das organizações e comunidades, de
buscar-se descrever as interações e valores de uma maneira significativa para os atores
sociais estudados.
A comunidade de Milho Verde, incluindo todos os seus integrantes, foi enfocada nos
esforços de pesquisa empreendidos, considerando-se mais especificamente os indivíduos e
grupos relacionados aos esforços produtivos em serviços de turismo, seja como i) atores
organizacionais, seja como ii) participantes de entidades ou de públicos da comunidade, ou
atuantes na comunidade, que direta ou indiretamente, passiva ou ativamente, estejam sendo
afetados por, ou relacionem-se a estes esforços produtivos.
Segundo o Dicionário Oxford de Sociologia, o conceito de comunidade refere-se a
“um ambiente de relações sociais construído sobre algo que os integrantes tenham em
comum, geralmente um sentido de identidade” (MARSHAL, 1996: 72 – tradução livre).
Uma caracterização provida por Allan Johnson serve como complemento a essa definição,
21
estipulando que o compartilhamento de um sentido comum não implica necessariamente
coabitar-se um determinado lugar, podendo-se formar uma comunidade a partir de um
“senso de ligação com outras pessoas, de integração e identificação, como em ‘espírito de
comunidade’ ou ‘senso de comunidade’ ” (1997: 45 – aspas cf. Johnson)3. O autor estipula
também um outro sentido mais cotidiano e concreto de comunidade: um “conjunto de
pessoas que compartilham um território geográfico e de algum grau de interdependência
que proporciona a razão para viverem na mesma área”; esta foi uma definição considerada
apropriada para o uso do termo na presente pesquisa, relacionando-se a “interdependência”
mencionada por Johnson aos variados, e por vezes conflitivos, interesses e necessidades
dos habitantes de Milho Verde no que se refere às condições de convívio e sobrevivência
na localidade.
Tendo em vista proposições críticas de Bourdieu quanto às falsas acepções de
neutralidade assumidas nos empreendimentos de pesquisa social (BOURDIEU,
CHAMBOREDON e PASSERON, 2000: 54-72), Michel Thiollent (1985) apresentou,
entre diversos outros tópicos, preocupações metodológicas que foram consideradas
necessárias à execução da pesquisa ora apresentada: i) o inatingível requisito de isenção do
3 “Chamamos comunidade a uma relação social quando e na medida que a atitude na ação social [...] seinspira no sentimento subjetivo (afetivo ou tradicional) dos participantes de constituir um todo” Com essadefinição, Max Weber associa a noção de “comunidade” (em termos de um tipo puro, ou ideal) às açõessociais dos tipos afetiva e tradicional, e distingue-a do conceito de sociedade. Sociedade, segundo Weber,seria um agupamento determinado pelas ações sociais de tipo racional – a orientada de acordo com valores, ea orientada de acordo com fins (WEBER, 1964 [1922]: 33-35 – citação grifada em itálicos cf. Weber;tradução livre a partir de versão em espanhol). Embora a definição weberiana de comunidade contenhareferências potencialmente úteis ao presente estudo, em termos da avaliação de prováveis impactos a umsentido comunitário como decorrência de uma progressiva racionalização de condutas, foi considerado que,por ser calcada em um tipo puro de interação social, não seria apropriada ao uso recorrente como termodesignador do gupo humano estudado, heterogêneo em sua origem e orientações, e geograficamentecircunscrito. (“Sem dúvida, em sua imensa maioria, as relações sociais podem ser caracterizadas, cada qual,em parte como uma “comunidade”, e em parte como uma “sociedade” – 1964: 33 – tradução livre; aspas eitálicos cf. Weber.)
22
pesquisador não será suficientemente preenchido simplesmente por meio de uma
neutralidade axiológica, tal como proposta por Weber, ou seja, apenas pelo cuidado de se
neutralizar avaliações ou valores próprios, em uma postura compreensiva frente aos
valores alheios (1985: 41-44); ii) a partir da estipulação de Bourdieu de que “toda técnica é
uma ‘teoria em atos’ ”, Thiollent demonstra não haver coleta de dados sem pressupostos
teóricos; assim, mais claramente, fica descartado o “mito do objetivismo observacional”, e
requer-se uma atenção adicional do pesquisador quanto ao risco de uma interferência na
compreensão global do fenômeno estudado por parte dos pressupostos assumidos para a
coleta de dados (1985: 44-47; BOURDIEU, CHAMBOREDON e PASSERON, 2000: 57-
60); iii) o relacionamento entre pesquisador e pesquisados deve ser monitorado em termos
do relativismo cultural implícito, tanto em termos de um desnível de compreensão quanto
em termos da diferença nos modos de comunicação (THIOLLENT, 1985: 52-56); e, por
fim, v) devem ser consideradas as conjunturas da coleta de dados, ou seja, a avaliação dos
dados deve contemplar as interferências do contexto de interação entre pesquisador e
pesquisado nas atitudes e comportamentos dos pesquisados, um cuidado a ser
especialmente observado no que se refere aos dados obtidos por meio de entrevistas (1985:
47-63).
Os riscos de um empirismo na adoção indiscriminada da diversidade de técnicas de
coleta de dados enseja a observação, por parte de Thiollent, de alguns preceitos
metodológicos específicos a cada técnica. Com relação às entrevistas, o autor estipula que,
talvez, devam elas ser consideradas técnicas indiretas de observação, tal como a análise
documental, e não técnicas diretas pois, embora pressuponham a interação direta de
pesquisador e pesquisado, ao introduzirem questionamentos, as entrevistas traduzem as
hipóteses da pesquisa para o contexto da observação e intervêm ativamente no fenômeno
observado, suscitando reações nos entrevistados. E isto, já em um contexto artificialmente
23
criado que é o da entrevista. Assim, é solicitada uma atenção especial na elaboração dos
roteiros, pois dependendo de como sejam formuladas e organizadas, as perguntas ou
tematizações podem causar maior ou menor interferência (1985: 32).
Thiollent prevê as seguintes categorias de entrevistas: i) a entrevista padronizada ou
dirigida, realizada a partir de perguntas pré-determinadas em que a intervenção do
entrevistador não é demandada; ii) a entrevista semi-estruturada, baseada em poucas
perguntas abertas; iii) a entrevista centrada, em que o entrevistado discorre livremente
sobre temas ou hipóteses pré-estabelecidos; iv) a entrevista não-diretiva ou aprofundada,
em que a interação entre pesquisado e pesquisador ocorre sem que este ultimo estabeleça
uma estruturação do problema, e vi) a entrevista clínica, uma entrevista do tipo não-
diretivo destinada à observação sociopsicológica da situação ou personalidade do
entrevistado (1985: 35).
A não-diretividade das entrevistas não representa, como foi visto anteriormente, um
estatuto que por si só lhes assegure alguma neutralidade, pois guardam, tal como os demais
instrumentos de coleta, limitações relativas à adoção de pressupostos teóricos e ao uso de
dispositivos de sociabilidade. A não-diretividade, conforme Thiollent assinala, “não
constitui um remédio ao problema da imposição de problemática”, pois contém em
contraponto à sua espontaneidade e informalidade (muitas vezes apenas aparente) os riscos
de i) esvaziamento ou distorção do conteúdo face à prevalência de censuras quanto a
determinados temas a serem discutidos; ii) de deriva aleatória, captando-se aí, em
conseqüência, apenas “o vazio da fala ordinária”; iii) de mascaramento da hierarquia
inerente à relação entre pesquisador – que monopoliza o saber e representa sua
institucionalidade – e pesquisado – que não tem controle ou mesmo acesso à utilização da
informação social produzida; e de iv) artificialismo discursivo, em grande parte causado
24
por diferenças de status e pela inibição em expressar-se na presença de um ouvinte
desconhecido (1985: 80-83). Com relação a este último item, Thiollent cita Bourdieu:
[...] a entrevista não-diretiva que rompe com a reciprocidade das trocas habituais(desigualmente exigível, segundo os meios sociais e situações) incita os sujeitosa produzir um artefato verbal que é desigualmente artificial, segundo a distânciaexistente entre a relação com a linguagem favorecida pela classe social dossujeitos e a relação artificial com a linguagem deles exigida” (BOURDIEU apudTHIOLLENT: 80-81 – grifado cf. Thiollent; BOURDIEU, CHAMBOREDON ePASSERON, 2000: 55).
A eleição dos sujeitos da pesquisa se deu por critérios de tipicidade-
representatividade e acessibilidade. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas e não-
diretivas, gravadas para transcrição. As entrevistas relacionaram-se com os objetivos de
investigação propostos, ao permitirem a averiguação dos modos de inserção da localidade
de Milho Verde, e dos efeitos dessa inserção pelos pontos de vista dos pesquisados.
Procurou-se abranger todos os públicos relevantes para essa dupla caracterização
(modos de inserção e efeitos), enfocando-se, assim, quatro grupos temáticos que
demandaram entrevistados consoante as atividades exercidas individualmente (havendo
sido realizadas entrevistas que se encaixam em dois ou em três destes grupos temáticos).
Realizaram-se dezessete entrevistas, todas utilizadas na análise e também na
apresentação de material pesquisado. Os critérios de representatividade e acessibilidade,
mencionados anteriormente, foram contemplados na seleção dos entrevistados para as
quatro diferentes temáticas, apresentadas a seguir:
Grupo 1
Entrevistas semi-estruturadas com membros de entidades que fomentam o turismo,
ou que promovem projetos de desenvolvimento pelo turismo. A amostragem visou, a
partir das explanações conduzidas pelos entrevistados, tornar possível uma
caracterização dos objetivos e das ações de entidades que promovem a inserção da
25
localidade na economia do turismo. Incluíram-se aí entrevistas com membros de
entidades de fomento, e de orgãos públicos das instâncias estadual (Governo do
Estado de Minas Gerais) e municipal (Prefeitura Municipal do Serro). Quatro das
entrevistas realizadas incluem-se neste grupo.
Grupo 2
Entrevistas semi-estruturadas e entrevistas não-diretivas com membros da
comunidade que influem ativamente na vida comunitária, seja por meio da promoção
de atividades culturais, consciência ecológica, propostas de desenvolvimento
alternativo, assistência social e educação, ou como membros de organizações
comunitárias. A amostragem buscou possibilitar uma caracterização precisa da
inserção da localidade nas atividades do turismo sob o ponto de vista dos aspectos
sociopolíticos e sócio-econômicos da vida comunitária. Este tópico relaciona-se a
sete das entrevistas realizadas.
Grupo 3
Entrevistas semi-estruturadas e entrevistas não-diretivas com membros da
comunidade diretamente envolvidos com atividades produtivas de serviços para o
atendimento a demandas do turismo. A amostragem procurou permitir uma
caracterização precisa, tanto das atitudes e expectativas dos empreendedores locais,
quanto da relação destas atitudes e expectativas com os aspectos sóciopolíticos e
econômicos da vida comunitária. Neste tópico incluem-se nove das entrevistas.
Grupo 4
Entrevistas não-diretivas com membros da comunidade que não atuam em fomento
do turismo ou em empreendimentos turísticos e que não possuem atuação
significativa em mobilizações comunitárias. A amostragem favoreceu uma
26
caracterização da inserção da localidade na atividade turística sob os aspectos sócio-
econômicos e sociopolíticos da vida comunitária, privilegiando-se, com vistas a esse
objetivo, a seleção de entrevistados que nasceram na localidade. Este último tópico
refere-se a mais três entrevistas.
Dado o pequeno número de pessoas e organizações relacionadas à comunidade
estudada, fez-se absolutamente necessário, em alguns dos trechos de entrevistas transcritos,
amostrados para apresentação, omitir-se completamente a codificação que remete aos
dados de perfis dos entrevistados. Isso se fez imperativo não somente devido à
necessidade, por si só fundamental, de assegurar o anonimato ao entrevistado (dadas as
dimensões restritas da coletividade pesquisada, pequenas informações explícitas ou
indutíveis contidas nos comentários bastariam à identificação), mas, também, devido ao
contexto de conflito social, por vezes violento, a que muitos dos comentários se referem –
ou em que mesmo se inserem. Justificativas suficientes para esse procedimento serão dadas
pela própria caracterização do contexto social pesquisado, um dos tópicos a ser detalhado
no decorrer desta apresentação.
Assim, em obediência ao preceito de se garantir o anonimato, alguns dos
comentários apresentados não se farão acompanhar da letra em itálico entre colchetes,
posicionada ao final do trecho transcrito (por exemplo: [k]), e indicativa do entrevistado
citado em relação aos perfis apresentados no Quadro 1, disposto adiante. Obedecendo-se
ao mesmo critério de preservação do anonimato, a seleção dos comentários apresentados
atendeu à restrição de não se permitir, pelo conteúdo citado, a identificação do entrevistado
ou das pessoas mencionadas. Nomes próprios mencionados por entrevistados foram,
sempre que necessário, substituídos pelos termos “Fulano”, “Sicrano” e “Beltrano”,
27
conforme a ordem em que os nomes substituídos apareceram, e encontram-se destacados
em itálico na primeira vez em que aparecem.
O Quadro 1, disposto a seguir, indica características dos entrevistados e respectivas
entrevistas, consideradas úteis à avaliação dos trechos de transcrição apresentados.
Também para a caracterização dos entrevistados provida por este quadro, prevalece o
critério de impedir-se a identificação, omitindo-se dados quando necessário. Os
entrevistados foram listados no quadro – e codificados – obedecendo-se à mesma ordem
em que seus comentários primeiramente aparecem ao longo do presente texto. Para
especificar a forma de pertencimento dos entrevistados à comunidade, fez-se uma distinção
entre os que nasceram (“naturais”) na localidade ou na região (Alto Jequitonhonha) e os
que imigraram para Milho Verde ou para localidades próximas (“adventícios”). Estas
mesmas denominações, natural ou adventício, serão a nomenclatura utilizada doravante
para assinalar, quando necessário, a naturalidade de indivíduos mencionados pertencentes à
comunidade estudada.
28
Tipo deentrevistarealizado
Idade Sexo OcupaçãoNaturalidade eresidência em relaçãoà localidade estudada
Grupos de entrevista a que oentrevistado pertence e dadosadicionais de caracterização
a Semi-estruturada 40 MEmpreendedorde turismo Adventício
Grupo 3Atuou em organização do TerceiroSetor sediada na região
b Semi-estruturada 40 FAdministradorapública
Natural da região eresidente na região
Grupo 2Empreende pesquisas relacionadasà sociedade e histór ia regionais
c Não-diretiva 80 M Aposentado NaturalGrupo 4Atuou em garimpo e comércio
d Não-diretiva 80 M Aposentado NaturalGrupo 4Atuou em garimpo e comércio
e Semi-estruturada 40 FEmpreendedorade turismo Natural Grupo 3
f Semi-estruturada 50 MEmpreendedorde turismo Adventício Grupo 3
g Semi-estruturada 50 MEmpreendedorde turismo Adventício Grupo 3
h Não-diretiva 50 M Aposentado NaturalGrupo 4
Trabalhou na lavoura
i Semi-estruturada 50 MEmpreendedorde turismo Natural
Grupo 3, Grupo 2Atuou em mobilização comunitár iae na política do município
j Não-diretiva 70 MOcupa cargopolítico nainstância municipal
Adventício,residente na região
Grupo 2, Grupo 1, Grupo 3Atuou em mbilização comunitár ia,em organização do Terceiro Setorsediada na região e comoempreendedor de tur ismo
k Semi-estruturada 50 FEmpreendedorade turismo Natural
Grupo 3, Grupo 2Atua em mobilização comunitár ia
l Semi-estruturada 40 FEmpreendedorade turismo
Adventícia,residente na região
Grupo 3, Grupo 2Atua em mobilização comunitár ia
m Semi-estruturada 40 FEmpreendedorade turismo Adventícia
Grupo 3, Grupo 2Atuou em mobilização comunitár iae atua em organização do TerceiroSetor sediada na região
n Semi-estruturada 40 MAtua em entidadede fomento aoempreendedorismo
Externo Grupo 1
o Semi-estruturada 40 M Administrador públicoAdventício,residente na região Grupo 1, Grupo 2
p Semi-estruturada 40 FAtua em entidadede fomento aoempreendedorismo
Externa Grupo 1
q Semi-estruturada 60 MAtua em entidade defomento ao turismo Externo Grupo 1
Quadro 1 – Codificação e dados de entrevistas e entrevistados
A idade dos entrevistados foi informada de maneira apenas aproximada, para preservar o anonimato. Aindicação da pertinência de um entrevistado a mais de um grupo temático de entrevistas (Grupos 1, 2 e 3 – osentrevistados do Grupo 4 não pertencem a nenhum outro grupo) foi feita para cada entrevistado, segundouma ordem de relevância. Os trechos de entrevistas a serem apresentados estarão correlacionados aos dadosdos entrevistados que os proferiram por meio da letra em itálico constante da primeira coluna deste quadro.
29
As observações participantes foram registradas por meio de notas de campo e,
quando necessário, por fotografias. Tal como as entrevistas, visaram possibilitar a
identificação dos modos de inserção da comunidade na economia do turismo e dos efeitos
sociais, econômicos e políticos associados. Os critérios de amostragem para o
empreendimento de observações também foram os de acessibilidade e representatividade,
com relação a estes âmbitos:
i) Comparecimento a situações da vida política comunitária – local e municipal.
ii) Observação das atividades profissionais de indivíduos e grupos atuantes na
prestação de serviços de turismo: pousadas, hospedarias domiciliares e
estabelecimentos de alimentação e entretenimento.
iii) Observação de atividades comunitárias influenciadas pela inclusão da cidade nas
atividades turísticas: festas tradicionais, reuniões dos grupos folclóricos,
atividade diurna e noturna das casas de comércio.
iv) Prestação de serviço voluntário em organizações do Terceiro Setor que possuam
atuação comunitária relevante.
A realização de uma grande parte dessas observações e entrevistas foi precedida da
elaboração de roteiros específicos ao contexto particular de cada entrevista e observação.
Mesmo quando uma determinada observação se dava de forma fortuita, não-antecipada,
era registrada em um formulário de anotações genéricas que correlacionava o conteúdo da
observação a tópicos temáticos previamente assinalados. Em alguns casos, anotações
foram feitas durante as observações; mas, na maior parte das vezes, de modo a não
interferir com uma atitude informal nos locais de observação, os registros foram feitos em
seqüência às observações.
30
Com relação ao empreendimento de observações participantes, Godoy assinala o
papel essencial dos procedimentos de observação em estudos de caso, acrescentando que
esse tipo de observação é especialmente recomendado para o estudo de grupos e
comunidades, porque coloca o pesquisador “na mesma posição dos outros elementos
envolvidos no fenômeno em questão” (1995: 27). Freitas e Nunes acrescentam que o
pesquisador deve buscar “compartilhar, mesmo que superficialmente, os papéis e hábitos
dos grupos abordados, a fim de “[...] observar fatos, situações e comportamentos que não
ocorreriam ou seriam alterados na presença de estranhos” (2003: 7).
De um modo geral, o método utilizado considerou a possibilidade de partilha de
significados, intersubjetivamente, entre pesquisador e pesquisados, havendo-se adotado o
pressuposto de que a atitude do pesquisador deveria ser de i) apreensão dos significados
das ações e eventos vividos pelos membros da comunidade, entre eles os participantes dos
esforços produtivos em serviços para o turismo, ii) mantendo-se, a par de uma perspectiva
da totalidade, uma atenção constante quanto aos focos de interesse específicos da pesquisa
a ser empreendida (cf. GODOY, 1995: 27).
É difícil caracterizar pormenorizadamente o rol de atividades de observação
empreendidas. Durante 78 dias (maio, junho e julho de 2006), o pesquisador dedicou-se
integralmente aos trabalhos de campo, participando diuturnamente das atividades de
entrevista e observação prescritas, nas localidades de Milho Verde, São Gonçalo, Serro e
Diamantina. Compareceu a praticamente todos, senão todos, os eventos comunitários
significativos ocorridos em Milho Verde, fossem de ordem política ou cultural. Para
exemplificar, contabilizaram-se, a seguir, as reuniões de cunho político comunitário ou
administrativo comunitário a que o pesquisador presenciou integralmente: quatro reuniões
da Associação Cultural e Comunitária de Milho Verde, uma reunião da Associação
31
Comunitária de uma região da zona rural (Barra da Cega), três reuniões da comunidade
com políticos e administradores públicos no Serro, seis reuniões da comunidade
relacionadas à elaboração do Plano Diretor distrital (promovidas a partir de estímulos da
Prefeitura Municipal) e cinco reuniões administrativas formais no Instituto Milho Verde,
organização do Terceiro Setor de sede e atuação local.
A justaposição das atividades de observação e entrevista também pode ser
exemplificada pelo tópico político: dois dos entrevistados atuam, e outro já atuou na
política municipal, e três ocuparam cargos relevantes na administração da associação
comunitária local. A quase totalidade dos entrevistados mencionou fatos políticos passados
ou atuais e expressou opiniões relativamente à política do município.
Assim, as esferas da vida social, política, cultural e econômica da comunidade de
Milho Verde foram atentamente acompanhadas por meio de uma interação constante,
planejada e registrada do pesquisador, tanto com os habitantes individuais, como com as
organizações privadas, estatais e comunitárias que incidem sobre a vida da localidade.
A esse período mais “intenso” de campo também antecedeu e sucedeu um variado
leque de interações com a comunidade estudada, por meio de correspondência e, também,
pela realização de trabalhos voluntários diversos. Acrescente-se ainda a participação em
seminários e fóruns de debate referentes a problemáticas da região.
A análise dos dados obtidos por meio dos trabalhos de campo não foi realizada
exclusivamente após o término da coleta. Acompanhou a execução das observações e
entrevistas e permitiu o aprofundamento ou redirecionamento das investigações, nas
circunstâncias em que os dados já coletados apontavam esta necessidade. A realização
simultânea de entrevistas, observações e análises permitiu, além disso, não somente a
32
validação dos procedimentos, como também o aprofundamento das análises. A transcrição
das entrevistas gravadas fez parte dos procedimentos de análise, havendo sido empreendida
pessoalmente pelo pesquisador.
O instrumental metodológico utilizado para a análise dos dados foi a análise de
conteúdo, aplicada à transcrição das entrevistas e às anotações das observações. Vergara
associa a análise de conteúdo tanto aos significados quanto aos significantes do material
estudado, atribuindo-lhe procedimentos ditos “sistemáticos, ou “objetivos” de
interpretação, e procedimentos hermenêuticos, tais como deduções ou induções (2005b:
14). Bardin estipula a aplicação de procedimentos variados como organização, codificação,
categorização, ordenação, inferência e interpretação na análise de conteúdo, definida por
ele como:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, porprocedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo dasmensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência deconhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas)destas mensagens (BARDIN, 1986: 42).
Conforme descrição sintética, elaborada por Godoy (1995: 24), do método proposto
por Bardin (1986: 95-139), a análise de conteúdo deve ser organizada em três fases
distintas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. Embora a
obediência a estas três fases possa ser assinalada para o método de análise empregado,
cumpre destacar que estas não foram etapas estritamente separadas cronologicamente,
havendo, sob alguns dos aspectos dos trabalhos empreendidos, uma justaposição entre pré-
análise e exploração, e entre exploração e tratamento. Isso se deve, em grande parte, ao
procedimento de validação em campo dos métodos de coleta de dados empregados.
Descreve-se, a seguir, o método sugerido por Godoy, tal como foi aproximadamente
utilizado nos procedimentos de análise empreendidos para o tratamento dos dados
coletados para a presente pesquisa.
33
A pré-análise, compreendida como uma fase de organização, envolve procedimentos
de familiarização com o material obtido, requerendo-se inicialmente uma i) leitura
flutuante e, a seguir, ii) uma escolha dos documentos (ou informações pertinentes), a ser
feita sobre um corpus previamente delimitado de informações, e obedecendo-se aos
critérios de exaustividade (ou não-seletividade), representatividade, homogeneidade e
pertinência; após isso, será útil uma iii) formulação das hipóteses e dos objetivos e uma iv)
referenciação dos índices e elaboração dos indicadores, ou seja, o estabelecimento de
parâmetros de correlação entre o material a ser analisado e os objetivos da pesquisa; e por
fim a v) preparação do material selecionado, em tratamentos formais ou edições que
auxiliem na posterior elaboração das análises (GODOY, 1994: 24-25, cf. BARDIN, 1986:
95-101).
Na fase de exploração, devem ser realizados arranjos, ordenações e interpretações,
obedecendo-se às prescrições estabelecidas para a realização da pesquisa, em termos de
problemas, suposições, referenciais teóricos e objetivos. Cabe, nesta etapa, retornar-se dos
dados à problemática, e daí à teoria, e vice-versa, de modo a averiguar-se a consistência
das análises em relação aos objetivos estipulados e às referências teóricas utilizadas.
Adotando-se uma certa postura exploratória, cabe também, nesta etapa, proceder-se a
tentativas diversas, ou experimentações, rearranjando-se os dados até se obter o resultado
analítico mais satisfatório e consolidado.
Por fim, realiza-se a etapa denominada por Godoy tratamento dos dados ou
interpretação (1995: 24, cf. BARDIN, 1986: 101-102). A interpretação é a transformação
dos dados brutos em uma elaboração teórica válida e significativa, em que se evidenciem
padrões, tendências ou relações implícitas, para além do conteúdo explícito ou aparente
dos eventos, declarações e documentos analisados: “[...] interessa ao pesquisador o
conteúdo latente, o sentido que se encontra por trás do imediatamente apreendido [...] A
interpretação envolve uma visão holística dos fenômenos analisados, demonstrando que os
34
fatos sociais sempre são complexos, históricos, estruturais e dinâmicos” (GODOY, 1995:
24).
Tal como especificado anteriormente, os procedimentos de análise empregados
integraram-se a uma atividade de validação e aprimoramento dos trabalhos de campo. A
elaboração de arranjos, ordenações, modelos e interpretações dos dados obtidos era
confrontada com novas observações e, também, com especificidades de investigação
contidas em interações posteriores com entrevistados. Após a realização dos trabalhos de
campo, teve lugar um processo de confrontação de todos os dados obtidos entre si, o que
foi realizado mediante a elaboração e teste de interpretações que integrassem,
consistentemente, a literatura relativa às condições da formação histórica da região
estudada, o referencial teórico analítico empregado, as correlações e disparidades entre os
pontos de vistas dos entrevistados e a multifacetada realidade social local, enfocada pelo
plano abrangente de observações empregado. Após o processo de análise que, com suas
diferentes fases, demandou aproximados seis meses, passou-se à elaboração do documento
ora apresentado.
As referências teóricas empregadas, além de um aprofundamento da compreensão
das bases sócio-históricas da formação local, prestaram-se à averiguação das articulações
entre trabalho e construções sociopolíticas, notadamente no que se refere à informalidade,
Terceiro Setor, desenvolvimento alternativo, turismo em pequenas comunidades e à
organização sociopolítica geral. Além destes tópicos específicos, buscou-se também o
quadro amplo de referências representado pela dialética designada por Habermas entre
racionalidade técnica capitalista e sociedade tradicional (1983 [1968]).
35
2. Aspectos teóricos e empíricos
Demócrito ria porque todas as coisas humanas lhepareciam ignorâncias; Herác lito chorava porque todas lhepareciam misérias; logo, maior razão tinha Heráclito dechorar que Demócrito de rir, porque neste mundo hámuitas misérias que não são ignorâncias, e não háignorânc ia que não seja miséria.
Defesa do pranto perante os males do mundo à Cristina da Suécia,por Antônio Vieira 4
Como diversos outros povoados do período colonial, Milho Verde – sede de distrito
no município do Serro, em Minas Gerais – originou-se da lavra de minerais preciosos. Três
séculos de mineração não foram suficientes para assegurar a prosperidade da região:
esgotadas as jazidas, restaram apenas destruição da natureza e uma população, em sua
maior parte, desprovida de outra fonte de renda que não a agropecuária de subsistência.
Do distrito de pouco mais de 1.000 habitantes, aproximadamente metade vive,
atualmente, na área urbana (PIVA et al, 2007: 6), onde foram instaladas, ao longo dos últimos
vinte anos, luz elétrica, telefonia fixa e celular, serviços que ainda não atingem a zona rural.
De aspecto e modo de vida tradicionais – casario e igrejas antigas cercados de montanhas de
pedra da Serra do Espinhaço, distantes da velocidade e tecnologia do mundo moderno e
próximos a inúmeras cachoeiras –, Milho Verde veio a se tornar um dos mais vívidos
cartões-postais de Minas Gerais, sendo muito visada pela atividade turística, e atraindo um
grande número de novos moradores, com impactos diversos para a população local.
Em sua vertente ecológica, o turismo possui um forte potencial em Milho Verde.
Além disso, a localidade perfila-se entre os atrativos históricos do ciclo colonial mineiro.
4 2001 [1673]: 121.
36
Nos sécs. XVIII e XIX, foi um importante entreposto militar, guardião do acesso à região
mineradora de diamantes. Urbanizada em solo adjacente ao antigo caminho fiscalizado,
Milho Verde era uma passagem obrigatória para os antigos viajantes.
Distante poucos quilômetros de Diamantina, a localidade integra roteiros turísticos
de cunho histórico, cultural e ecológico, tais como o da Estrada Real. Encontra-se,
entretanto, pouco equipada para satisfazer os critérios de consumo geralmente associados
aos padrões globalizados de atividade turística. Não possui hotéis, cafés, museus, casas
culturais, bancos e comércio. As pousadas são simples e a atividade noturna é restrita a
alguns poucos bares e restaurantes.
Dentre as comunidades do ciclo minerador colonial, será na região de Diamantina e
ainda mais ao norte, no restante do Vale do Jequitinhonha, que se encontrará um maior
contraste, em termos de rentabilidade e modo de organização, entre as atividades econômicas
tradicionalmente praticadas (até há bem pouco tempo o garimpo, hoje quase extinto, e uma
agropecuária de baixa produtividade) e a alternativa cada vez mais importante representada
pelo turismo, saudada como uma grande oportunidade econômica para muitas localidades.
Em locais assim, onde a Bolsa-Família e outros benefícios providos pelo Estado representam
uma fonte de renda substancial para muitos lares, a possibilidade de proventos adicionais por
meio de atividades relacionadas ao turismo assume uma importância preponderante, sendo
grande o seu poder de mobilização junto à população.
A disparidade entre o baixo desenvolvimento local (em uma região em que a
sociedade encontra-se em grande parte estruturada segundo moldes econômicos e culturais
tradicionais, e em que o desempenho produtivo ocorre, principalmente, por meio do
trabalho informal) e a atividade turística (com seus componentes de adoção de uma lógica
de mercado e de vinculação a um panorama ampliado de processos sócio-econômicos) foi
o contexto determinante dos fenômenos estudados pela pesquisa ora apresentada.
37
2.1. Uma modernidade inatingida
As Minas, junto aos que nelas laboraram ao longo do violento séc. XVIII colonial,
produziram um importante fator de aceleração das transformações do mundo moderno: o
metal amoedável que aprovisionou o surgimento do capital industrial, abastecendo, assim,
a ascensão inglesa à supremacia mundial e o conseqüente desmantelamento de antigas
estruturas políticas e econômicas européias (SODRÉ, 1964: 140-141). Alheadas deste
cenário de revoluções, as Minas reviravam os rios e escavavam o chão, atadas a uma
dominação colonial fundada justamente nos antigos alicerces feudais que o fruto de seu
trabalho ajudaria a demolir.
Aos olhos contemporâneos, o retraso obscurantista deste sistema colonizador
contrasta com as transformações do mundo ocidental de então. Uma nódoa de
anacronismo, restada por apagar somente aos tardios movimentos modernizadores da
República. Mas, retirados alguns véus tênues de ufanismo, apostos por sucessivas facções
políticas, a trajetória brasileira exibe ainda a conexão clara entre a semente colonial e as
searas do presente. O sociólogo, psicólogo e educador pernambucano, Manoel Bomfim,5
sintetizou rispidamente a origem das nações latinoamericanas como um “parasitismo feroz
de um grupo sobre outro”, em um “sacrifício puro e simples da colônia à metrópole”
(BOMFIM, 2005: 137;152). Bomfim foi dos primeiros autores a assinalar, nestas estruturas
exangües do passado, o leitmotiv das condições excludentes, reacionárias e improdutivas
que acompanharam o Brasil ao longo de toda a sua história.
5 Bomfim expôs pioneiramente em seu livro América Latina: males de origem, uma análise do ônus culturaloriginal que coube às nações surgidas a partir da colonização ibérica nas Índias Ocidentais. Publicadoinicialmente na França, em 1905, a obra foi repelida pelos preconceitos positivistas e eurocêntricos dahistoriografia e sociologia brasileiras de sua época, e relegada ao ostracismo até à segunda metade do séc.XX (vide prefácio de Darcy Ribeiro em BOMFIM, 2005: 11-22).
38
2.1.1. Um enclave fiscal
Exercer o fisco sobre as Minas foi o mais rentável empreendimento colonial da
Coroa portuguesa. O interesse fazendário sobre um arcabouço de empresas mercantis e
escravistas constituiu, de fato, a essência do modelo colonizador português (BOMFIM, 2005:
158-159; SOUZA, 1997: 44-47). A manifestação mais nítida deste sistema de exploração
terá ocorrido, possivelmente, no contexto da atividade mineradora e, mais especificamente,
na atividade de extração de diamantes (SOUZA, 1997, 40-42; 75-77), em um monopólio
oficial que se extendeu a toda região de Diamantina. O episódio diamantino oferece uma
demonstração nítida da mentalidade predatória que, ainda nos dizeres de Bomfim acerca
do espírito colonial ibérico, visava exclusivamente “arrancar deste eldorado o máximo de
riqueza, no menor prazo possível”, e em que “os princípios do direito feudal apareciam
aqui transformados em monopólios mercantis” (BOMFIM, 2005: 146;159).6
O escritor e político português Antero de Quental, em seu discurso célebre As causas
da decadência dos povos peninsulares [1871], assinalou três falhas na formação da
mentalidade ibérica. Além de um atraso moral, associado por Quental ao catolicismo da
Contra-Reforma, haveria ainda o atraso político e o atraso econômico, este último
intimamente relacionado à conduta de espanhóis e portugueses na colonização: “[...] a
indústria [...] é o oposto do espírito de conquista, antipático ao trabalho e ao comércio.
Assim, enquanto as outras nações subiam, nós baixávamos. Subiam elas pelas virtudes
modernas; nós descíamos pelos vícios antigos, concentrados, levados ao sumo grau de
desenvolvimento e aplicação” (QUENTAL).
6 Vide a respeito também Freyre (1966 [1934]: 22-23), Sodré (1964: 27-34), Santos (1976: 45-48) e Frieiro(1957: 165).
39
Quando a lavra de diamantes no ribeirão aurífero do Tejuco já não mais
convenientemente poderia ser ocultada da Metrópole, e se procedeu, portanto, a um
comunicado oficial do achado de “ ‘umas pedrinhas brancas’ ”, remetendo-se amostras a
Lisboa em 1726 (cf. ANTUNES, 2006: 10), teve início um novo capítulo da história
colonial mineira. O ouro havia sido descoberto na região do Serro Frio nos últimos anos do
séc. XVII. Quando da notícia do diamante, o Tejuco, atual Diamantina, encontrava-se em
franca ascendência, pululando de mineradores vindos de toda a parte – ao início da Vila do
Príncipe e, depois, rapidamente, de toda a Colônia e de além-mar –, espalhando-se pelas
regiões à volta, explorando os ribeirões.
À notíficação da descoberta do diamante seguiram-se sucessivos ajustes,
rapidamente promulgados pela Coroa, no regime de exploração mineradora da região
circundante ao Arraial do Tejuco (SANTOS, 1976: 49-57), e que culminaram na
implementação de um aparato administrativo e fiscal especificamente designado.
Configurando um verdadeiro enclave em meio às restantes terras mineradoras, foi criado
um Distrito Diamantino, governado por um Intendente, encarregado, essencialmente, de
garantir uma fiscalização absoluta e o monopólio real sobre o diamante aluvional (SAINT-
HILAIRE, 1974: 13-14; 19), única reserva disponível no mundo ocidental de então.
Devido às inúmeras dificuldades a serem enfrentadas nessa posição e à confiança de que
deveria ser merecedor, o cargo de Intendente era considerado a nomeação mais delicada
em toda a Capitania (SANTOS, 1976: 69; MAWE, 1978: 171).
Ao iniciar-se a Intendência dos Diamantes, em 1739, a mineração foi proibida aos
faiscadores (mineradores independentes – o nome vem do exame visual em busca do brilho
de fragmentos de minerais preciosos), o que desalojou grande parte da população do
Tejuco e arredores. Forçados a abandonar suas lavras e fazendas, muitos se refugiaram na
40
Vila do Príncipe, enquanto outros se deslocaram para a extensa região mineradora que se
prolongava pela bacia do Jequitinhonha (SANTOS, 1976: 41-44;49-51; 59-63).
Na demarcação inicial, de 1734, o Distrito Diamantino compreendia uma área mais
ou menos elíptica de, aproximadamente, 80 km no sentido norte-sul, e 50 km no sentido
leste-oeste, tendo o Arraial do Tejuco mais ou menos ao centro. Incluía também o leito e as
margens do Jequitinhonha, desde a nascente até à Capitania da Bahia. Em 1745, a
Demarcação foi ampliada, estando já àquele momento proibidas a livre entrada e
residência no Distrito. Os limites da Demarcação ainda seriam expandidos para incorporar
novos achados de leitos mineríferos e visando, ainda, isolar a região, dificultando o
contrabando (SANTOS, 1976: 57;71; SAINT-HILAIRE, 1974: 13; MARTINS, 2000: 282;
FURTADO, 1976: 77-78).
Toda a região da Capitania das Minas já consistia, por si, um território
permanentemente vigiado, a que se aplicavam regulamentos, taxações, penalidades e
restrições exclusivos desde a primeira descoberta do ouro (LUNA, 1980: 93, PEREIRA
FILHO, 2006: 10). Mas as dificuldades do controle da mineração de diamantes, com o fim
de se obter a exclusividade de sua exploração, impunham o recurso a meios extremos de
repressão legal e de arbitrariedade policial. Eram excessos aplicados, por vezes, a par de
abusos patrimonialistas perpetrados pela administração diamantina, e da conivência desta
com o contrabando e com a mineração ilegal (SANTOS: 61;69; SOUZA, 1999: 139;144;
1997: 49-51; FURTADO, 1996: 32-33;80;85-86;90;107-111;127-129;133;148-149;174-175;
FURTADO: 2;11; MENESES, 2000: 123).
Em 1771, à época do Marquês de Pombal, dentro de uma política de monopólio real
extensiva a toda a Colônia, e buscando-se intensificar a repressão ao contrabando, a
legislação diamantina foi consolidada em um códice que se reputa draconiano pelas
41
páginas da historiografia tradicional: o Livro da Capa Verde (SANTOS, 1976: 132-133;
FURTADO, 1996: 80-81). Segundo a caracterização legada por cronistas do séc. XIX e
propagada por historiadores mais recentes, este regulamento configuraria, ainda mais
nitidamente, a separação, independência e exclusividade legal do Distrito Diamantino em
relação ao governo da Colônia brasileira, e uma direta subordinação do Intendente dos
Diamantes à Corte real em Portugal.
O Distrito dos Diamantes ficou como que isolado do resto do Universo; situadoem um país governado por um poder absoluto, esse distrito foi submetido a umdespotismo ainda mais absoluto; os laços sociais foram rompidos ou pelo menosenfraquecidos; tudo foi sacrificado ao desejo de assegurar à coroa a propriedadeexclusiva dos diamantes (SAINT-HILAIRE, 1974: 14).7
Hoje, porém, a partir de uma análise mais aprofundada da documentação da época,
sabe-se que o Regimento Diamantino não constituía de fato uma legislação exclusiva, mas
sim uma compilação sistematizada de regulamentos que haviam sido gradativamente
aplicados a toda a região mineradora ao longo dos setecentos. Quanto à autonomia do
Intendente, esta era questionada por intervenções dos governadores da Capitania, que
espionavam e mesmo interferiam oficialmente na administração do Distrito, em atuações
solicitadas pela Metrópole. Sabe-se também que, na verdade, a opressão do regime
diamantino recaía, de fato, era sobre escravos e negros libertos e, principalmente, sobre a
figura desautorizada do minerador independente, cabendo, assim, à elite tejucana um certo
grau de organização, autonomia e privilégio (FURTADO, 1996: 33-34;85-86;219;
FURTADO: 1-2; MARTINS, 2000: 283; MENESES, 2000: 124).8 A repressão exercida no
contexto diamantino talvez seja melhor compreendida, portanto, nos termos de uma
7 Spix e Martius comentam a excepcionalidade do regime de administração diamantino: “Única na História éessa idéia de isolar uma região, na qual toda a vida civil foi subordinada à exploração de um bem exclusivoda coroa” (1981: 30).8 Vide Glossário – Historiografia do Distrito Diamantino.
42
manutenção, por parte do Estado, da “clivagem estrutural da sociedade escravista”, base
mesma do sistema produtivo e de dominação colonial (CUNHA e MONTE-MÓR, 2000:
315).9
No âmbito oficial, a atividade de mineração dos diamantes era desempenhada pelo
trabalho escravo. No início, os proprietários dessa mão-de-obra foram contratados para os
trabalhos de lavra e escavação, na etapa que foi denominada a Intendência dos Diamantes,
ou o Contrato, vigente desde o início da exploração, em 1739.10
Durante o período subseqüente, o da Real Extração, iniciado em 1772, as tarefas de
mineração passaram a ser empreendidas diretamente pela Coroa, em um monopólio que
empregava grande parte da população livre do Distrito, e que também alugava daqueles
habitantes o grande contingente de escravos utilizado. A Real Extração prolongou-se até à
época do Império, findando somente em 1841. Apesar da denominação “Intendência”
atribuída ao período anterior, o cargo de Intendente permaneceu existindo até à falência da
Real Extração (SOUZA, 1999: 138, SANTOS, 1976: 301; MARTINS, 2000: 284;
(INSTITUTO TERRAZUL, 2006: 20).
Vigiados continuamente por feitores – que acompanhavam minuciosamente os
trabalhos de lavra para evitar o fácil extravio dos pequenos diamantes –, os escravos eram
submetidos a condições de trabalho extremamente extenuantes e insalubres (SOUZA,
1997: 68; SAINT-HILAIRE, 1974: 16-17; 19; 38; MAESTRI, 1994: 74-76; 87-90). Mal-
9 Vide a respeito também Furtado (1996: 90;97;111) e Bomfim (2005: 147).10 O mais célebre dos contratadores foi João Fernandes de Oliveira, que, junto com a mulata Chica da Silva,protagonizou na história colonial brasileira um episódio de contornos lendários: uma ex-escrava, casada como homem mais rico de todo o reino, impõe-se à sociedade tejucana. Chica da Silva nasceu e foi batizada emMilho Verde, na Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres (SANTIAGO, 2006: 112, SOUZA, 1997: 42; umaprofundamento biográfico e histórico centrado em Chica da Silva encontra-se em FURTADO, 2003).
43
alimentados, seviciados, castigados brutalmente por seus senhores e alojados em condições
sub-humanas, tinham em geral uma existência curta, mas, ainda assim, compunham uma
maioria esmagadora no cômputo da população total da Capitania das Minas, bem como do
Distrito, dando razões à administração e à população branca para um contínuo temor
quanto à possibilidade de insurreição e espartaquismo tal como outrora havia sido
manifestado em Palmares (SOUZA, 1997: 69-73, 1999: 94-98;112;151; MAESTRI, 1994:
90-91;95; FRIEIRO, 1957: 234; MAWE, 1978: 171; BOMFIM, 2005: 146-150;164-165).
Extra-oficialmente – e ilegalmente – a mineração era praticada nos recônditos do
Distrito Diamantino por escravos fugidos, escravos forros, colonos brasileiros de
ascendência ibérica, aventureiros portugueses e mestiços de variadas etnias. Essa era a
composição heterogênea de bandos proscritos, continuamente perseguidos por tropas
regulares de dragões montados e por caçadores de escravos fugidos – os capitães-do-mato
(SANTOS, 1976: 59;72; FURTADO, 1996: 98-105;138-139;174; MAESTRI, 1994: 91-95;
SPIX e MARTIUS, 1981: 34). Eram exploradas, em geral, lavras distantes e de difícil
acesso, em localizações secretas, às vezes reveladas à administração colonial mediante
tortura (SOUZA, 1997: 63).
Toda a região das Minas recebeu, ao longo das primeiras décadas do séc. XVIII,
levas de imigrantes de todas as partes da Colônia, e esse grande êxodo interno incluiu
também a massa trabalhadora escrava. Além disso, o número de habitantes oriundos de
Portugal, vindos em busca do eldorado, decuplicou no decurso do século. Devido à maior
urbanização e às condições peculiares de trabalho do garimpo, que requerem iniciativa e
atividade independente, até mesmo no que se refere à mão-de-obra escrava, teve lugar uma
gradativa transformação na organização social e econômica da Colônia, o que representou,
inclusive, segundo Werneck Sodré, “o primeiro abalo sério e profundo no trabalho
44
escravo” (1964: 136-137). Surgiam, gradativamente, entre a população das Minas, novas
camadas sociais, livres, heterogêneas e intermediárias entre as de senhor e escravo. Esse
corpo intermediário era, em sua maioria, composto por miseráveis, “desclassificados”, em
termos de sua quase impossível inserção na vida econômica de uma comunidade
mineradora precária e continuamente espoliada pelo Estado, além de exclusivista: os
critérios de concessão das datas (demarcações de lavra) priorizavam os empreendimentos
da elite escravista, proporcionalmente à posse da abundante e (ainda) barata mão-de-obra
escrava (SOUZA, 1997: 32;45; SANTOS, 1976: 47). Mas, apesar de não inseridas, as
camadas intermediárias tornavam-se cada vez mais volumosas, alimentadas, inclusive, a
partir de novas possibilidades de ascenção social, tanto para os escravos – alforria,
coartação11 (SOUZA: 1999, 152-163; LUNA, 1980: 95-96) – quanto para o homem livre,
que acorria em busca da chance oferecida pela mineração, de realizar uma empresa
rentável a partir de seus próprios pequenos recursos (SODRÉ, 1964: 137). As
possibilidades para o exercício de atividades de mineração independente foram se
multiplicando à medida que a produção decaiu e as lavras de ouro foram sendo
abandonadas pelos grandes senhores (SOUZA, 1997: 54). No que se refere, porém, ao
Distrito Diamantino, o corpo social intermediário não encontrava vinculação direta à
economia da mineração, senão mediante o recurso à clandestinidade e ao subterfúgio.
Na página a seguir, o mapa (Figura 1) ilustra a configuração geral da Comarca do
Serro:
11 Vide Glossário – Coartação.
45
Figura 1 – Delimitação aproximada da Comarca do Serro, e trajeto de acesso à região diamantina
A descoberta de ouro na região do Serro Frio – assim chamada devido ao clima das montanhas; o nomeindígena da região, Ivituruí, quer dizer “montanha fria” – (SANTOS, 1976: 41) estimulou uma rápidacolonização a partir do início do séc. XVIII e, já em 1714, a Vila do Príncipe tornava-se sede da novaComarca. Segundo Luís Santiago, foram os quilombolas, também em busca de ouro, os que primeirohabitaram a região do Serro, antes dos mineradores de origem portuguesa (2006: 7-8). A colonização aolongo do vale do rio Jequitinhonha, já impulsionada pela mineração do ouro, acelerou-se a partir da notíciada descoberta do diamante. A extração de diamantes, iniciada no corrégo do Tejuco (que emprestou seunome ao Arraial), rapidamente se estendeu a vários afluentes do Jequitinhonha na região ao redor, e tambémao extenso leito do rio (ANTUNES, 1998: 4). A ocupação de Minas Novas do Araçuaí, próxima a umafluente também minerífero do Jequitinhonha, data de 1727. A conformação da Comarca do Serro (e,conseqüentemente, dos limites setentrionais do futuro Estado de Minas Gerais) encontra-se, assim, tambémvinculada à história da mineração. Estas regiões mais ao norte, porém, só passaram a integrar a Comarca doSerro – desmembrando-se da Capitania da Bahia – a partir de 1757 (ANTUNES, 1998: 4; MAWE, 1978:150;163-165;173). O acesso à Vila do Príncipe era feito por um caminho que vinha de Vila Rica, bordejandoo Espinhaço a leste, ao longo dos arraiais de Catas Altas (Serra do Caraça), Conceição e Itapanhoacanga. Oprolongamento dessa estrada até o Arraial do Tejuco se tornaria o caminho obrigatório para entrada e saídado Distrito Diamantino. Os comboios que escoltavam os carregamentos de diamantes a percorriam até VilaRica e continuavam, atravessando a Mantiqueira em direção ao Rio de Janeiro, por um caminho aberto em1707 (chamado o Caminho Novo), e que constituía a principal rota de abastecimento das Minas(STARLING, 2004: 30). Os territórios a leste e a nordeste da Vila do Príncipe – a densa mata atlântica que seestendia ao longo dos vales dos rios Doce e Mucuri – somente começaram a ser desbravados no séc. XIX(aniquilando-se nesse movimento os povos indígenas, descendentes dos Aimorés, que habitavam a região).Do Tejuco até à divisa oeste da Comarca do Serro, à margem do rio São Francisco, estendia-se uma amplaregião de fazendas de gado (MAWE, 1978: 165-166), em inúmeros pontos também produtora de de ouro egemas preciosas (mapa elaborado pelo autor, a partir de referências constantes em ROCHA e RESENDE,1995; ESTADO DE MINAS, 2005; e SATHLER, 2003; vide a respeito também MAXWELL, 2005: 273).
46
No início do séc. XIX, já à época da corte portuguesa no Rio de Janeiro, o
mineralogista inglês, John Mawe, visitando o Tejuco e seus arredores criticou – como um
cronista dotado de espírito prático anglo-saxão – a ineficiência do sistema de administração
das Minas e a incúria dos colonos, em um país “tão rico de produtos naturais e, ao mesmo
tempo, tão abandonado por falta de habitantes esclarecidos e industriosos” (MAWE, 1978:
170-175; 186-188). De fato, muitos dos viajantes europeus em solo brasileiro (que, com
suas reportagens, finalmente desvendavam para o Velho Mundo a famosa região das Minas
do Brasil) interpretavam os costumes locais, não apenas pelo ângulo das dificuldades
naturais, como também pelo da inoperância, tanto por parte da administração, como da
população em geral (SAINT-HILAIRE, 1974: 26-34;43-45; MAWE, 1978: 149-154;158-
159;162;166-167;172-176; SPIX e MARTIUS, 1981: 35-36; SANTIAGO, 2006: 10).12
Em geral estes visitantes (que certamente usavam como parâmetro os próprios
hábitos natais, e a capacidade de organização peculiar aos países do norte europeu),
invariavelmente, qualificavam a mineração e muitas outras atividades no Brasil como
contraproducentes, improdutivas, atrasadas, além de injustas e desumanas.
Um tanto quanto contrastadamente, entretanto, e denotando assim uma acentuada
diferenciação entre a elite local e o restante da população, os viajantes eram também
unânimes em elogiar a sociedade tijucana que conheceram (na época mais civilizada e
cortês, cumpre lembrar, em que o Distrito era administrado pelo Intendente Manoel
12 Vários viajantes registraram observações sobre a região exploradora de diamantes. O acesso à Capitaniadas Minas, antes impossível, lhes foi granjeado devido à presença da corte no Brasil. Além da abertura dosportos e da permissão de se montarem indústrias, também estava sendo implementada uma s iderurgia emMorro do Pilar, sob a direção de técnicos estrangeiros; aos poucos, perdia sentido a restrição de acesso àsminerações. Além de John Mawe, Auguste de Saint-Hilaire, Carl Friedrich Philipp von Martius e JohannBaptist von Spix, entre os aventureiros, artistas e pesquisadores que viajaram às regiões mineradoras nesseperíodo, podem ser mencionados Georg Heinrich von Langsdorff, Johann Emannuel Pohl e Johann MoritzRugendas.
47
Ferreira da Câmara13) e o aspecto agradável e bem cuidado das ruas e casas da sede do
Distrito. Com as palavras de Mawe:
Não encontrei em nenhuma parte do Brasil sociedade mais escolhida eagradável: pode-se dizer que é a corte do Distrito Diamantino. As suas maneirasnão são cerimoniosas, nem usam os requintes da Corte, mas sua conduta emgeral é de pessoas gentis e bem-educadas, animadas por um bom humorespontâneo [...] (1978: 159).14
Segue a Figura 2, uma reprodução do mapa constante do livro em que Mawe
descreve sua viagem:
13 Podem ser mencionados a esse respeito Spix e Martius (1981: 31;36;39-40;47-48;51).14 O diplomata e explorador inglês Richard Francis Burton, meio século depois, também não poupariaelogios: “Meus três dias passados em Diamantina deixaram-me a melhor impressão acerca de sua sociedade.Os homens são os mais francos, as mulheres as mais bonitas e as mais amáveis que até agora tive a fortuna deencontrar no Brasil [...] Falando socialmente, é o lugar mais cheio de s impatia no Brasil conforme minhaexperiência” (BURTON apud SATHLER, 2003: 253). Vide a respeito também os diários da expedição deLangsdorff, outro visitante europeu a se encantar com o Tejuco (SILVA, 1997: 274-308), Aires da MataMachado Filho, em sua descrição do tipo diamantinese da primeira metade do séc. XX (1980: 156-160), eSaint-Hilaire (1974: 27-28;33).
48
Figura 2 – A delimitação do Distrito Diamantino, segundo o mapa da viagem de Mawe
Itinerário das Travels in the Interior of Brazil, particularly in the Gold and Diamond Districts of thatCountry (1ª edição inglesa de 1812). John Mawe recebera de D. João VI uma autorização inédita paraconhecer as regiões mineradoras e as descreveu com um olhar atento a questões administrativas e comerciais.Na descrição do Distrito Diamantino, uma região “onde há inúmeros pequenos ribeiros”, aparecem invertidasas posições de Milho Verde e São Gonçalo. A confusão pode-se dever a que o relato da passagem do autorpor estes locais não obedece a uma narrativa linear (MAWE, 1978: 151-152; MAWE, 1812; a reproduçãodeste mapa também consta de MAWE, 1978: 183).
49
A história reporta a ineficiência colonial como desastrosa não somente para a
população, que vivia em condições marginais e sem perspectiva, mas também para a
Metrópole, que, buscando, ao mesmo tempo, manter subordinada a Colônia e arrecadar-lhe
o máximo possível, estancava por completo o desenvolvimento das atividades, e
estimulava um mercado clandestino que escamoteava grande parte da produção. Em sua
caracterização do parasitismo colonizador, Manoel Bomfim salienta essa posição do
Estado monárquico português como um “órgão de opressão”, que impunha às colônias um
programa que visava exclusivamente “empobrecê-las” e impedir sua organização e
emancipação (BOMFIM, 2005: 153-161; SOUZA, 1997: 42-43; 45-47; 73-79; SANTOS,
1976: 47; STARLING, 2004: 29; SODRÉ, 1956: 138; FURTADO, 1996: 140-142;149-
151; MAWE, 1978: 172; 174; FRIEIRO, 1957: 164-170).
Nessa colônia segregada de todo o restante, como a descreveram alguns, nesse
verdadeiro “presídio ao céu aberto” (PRADO JÚNIOR apud FURTADO: 1) que se tornara
toda a região do Tejuco, nessa “devassa geral, sempre aberta, interminável” (SANTOS,
1976: 70), emaranhavam-se jogos de interesse entre a administração e os vários grupos
sociais oficial ou clandestinamente envolvidos na atividade mineradora (FURTADO. 1996:
98-100;105-106;111). As atuações policiais eram recompensadas por participações no que
fosse confiscado. O principal instrumento utilizado para coibir o exercício da mineração
ilegal nos primórdios da implementação do Distrito Diamantino foi a delação,
recompensada com uma fração do valor de diamantes e ouro que fossem confiscados,
acrescida da libertação, no caso de um escravo que denunciasse seu senhor (SANTOS,
1976: 59-63;69-72). Ao que tudo indica, a intimidação, constantemente exercida pelo
aparato repressor, gerava pânico e desagregação social e tornava a delação e a
dissimulação meios comuns de sobrevivência do cidadão, que podia ver decretados, sem
necessidade de provas, o confisco de seus bens, o banimento do Distrito ou mesmo o
50
degredo para a África, através de ritos judiciais sumários e celebrados entre quatro paredes
(FURTADO: 6; FURTADO, 1996: 107-110; SANTOS, 1976: 61;70;72; SOUZA, 1997:
42, SAINT-HILAIRE, 1974: 13-15; MAWE, 1978: 170; 173; SPIX e MARTIUS: 1981:
30-31).
Nesse cenário conturbado, figuravam entre os principais protagonistas,
significativamente, os tenazes e versáteis mineradores independentes (SANTOS, 1976:
162), que acorriam às lavras clandestinas aos milhares (SOUZA, 1999: 143), e cuja
atividade ilegal era duramente reprimida e – de forma alternada ou, por vezes mesmo
simultânea, corruptamente cooptada – pelo aparelho administrativo e pela elite
empreendedora escravista (SOUZA, 1999: 146-147, 1997: 49; SANTOS, 1976: 71-72). A
ilegalidade consistia, em muitos casos, um imperativo de sobrevivência para o habitante
local que, com a proibição de mineração, fora privado da única atividade econômica que
justificava a colonização daquela região (SOUZA, 1997: 42-43). A designação
“garimpeiro”, antes indicativa dos mineradores ilegais (“grimpa” era o nome dado aos
refúgios acidentados de que se utilizavam na fuga ao alcance da polícia montada),
terminou passando ao vernáculo como sinônimo de minerador de aluvião em geral (MATA
MACHADO FILHO, 1985: 22; SAINT-HILAIRE, 1974: 20).
A repressão à clandestinidade não era o único obstáculo ao livre exercício de
atividades econômicas e ao trânsito e moradia de pessoas no interior do Distrito
Diamantino. Embora as Minas, em seus primeiros anos, não possuíssem produção própria
de mantimentos e matérias-primas que bastassem para o sustento (SOUZA, 1997: 45),
gradativamente foram se constituindo em seu território, tal como descrito por Meneses,
“complexos agropecuários mercantis voltados ao abastecimento colonial”. Analisando a
economia de abastecimento alimentar na Comarca do Serro (que incluía o suprimento do
51
Distrito Diamantino, dependente da importação de gêneros), José Meneses descreve uma
estrutura de mercado complexa, estável e elástica, que somente poderia se manifestar em
uma sociedade que, como quer o autor, ativamente buscava e lograva organizar-se,
adquirindo certa autonomia empreendedora em meio ao contexto de opressão estatal
(2000: 123;144).
Porém, a despeito dos esforços de seus habitantes (alguns dos alijados da mineração
encontraram inserção econômica na lavoura ou na pecuária) e a crescente organização da
logística de suprimentos, formando um quadro de “economia ordenada e abastecimento
estável” (MENESES, 2000: 130), o interior do Distrito era, em geral, inadequado para o
plantio e bastante escasso no que se referia à disponibilidade de pastagens e ao
fornecimento de madeira.15 Além disso, a restrição à moradia e atividade no interior do
Distrito criou obstáculos à ocupação rural e a um progressivo desenvolvimento de uma
atividade agrária adaptada às condições locais, reforçando, assim, as dificuldades de
abastecimento na região (SANTOS, 1976: 62;65;72; MAWE, 1978: 174; STARLING:
2004: 33).
Muito dos víveres e outros mantimentos consumidos na região diamantina eram
obtidos através de importações, vindas em geral da própria Comarca do Serro Frio, mas
15 Surpreendido com a natureza inóspita dos arredores do Tejuco, John Mawe relatou, após sua visita em1811: “A estrada era áspera e des igual; descíamos e subíamos continuamente montanhas de extensãoconsiderável formadas de camadas alternadas de areia e de xisto micáceo [...] massas grosseiras de grés eseixos de quartzo [...] A região era quase inteiramente desprovida de bosques [...] Nem uma só cabeça degado” (1978: 153) Alguns anos após a viagem de Mawe, o naturalista francês Auguste de Saint-Hilairemanifestou em algumas passagens seu desagrado com a região diamantina, e descreveu assim o alívio de suajornada para fora do Distrito (que havia visitado nos meses de seca): “Após vários meses, somente tinha sobas vistas rochedos pardacentos e ervas queimadas pelo sol. Compreende-se facilmente a satisfação queexperimentei ao rever fetos arbóreos, reencontrando bela verdura, sombra, frescura. Mas foi com maioralegria que avistei Vila do Príncipe [...] Parecia-me que repentinamente eu havia transposto uma imensadistância que me separava da França” (1976: 45).
52
também de São Paulo, da Bahia e de outras regiões das Minas. Todos estes produtos eram
taxados, tal como os minerais preciosos exportados, na intenção de um fisco indireto da
Coroa sobre a mineração preciosa, mas que resultava em consequências negativas para a
eficiência da indústria extrativista, para a prosperidade da população local e,
conseqüentemente, para a própria arrecadação (SOUZA, 1997: 40-42; 47-48; 53-55;
MENESES, 2000: 130; FURTADO, 1996: 139-143;149-151; FRIEIRO, 1957: 165-166,
210-216).
53
2.1.2. Espinhaço: obstáculo, jazida e caminho
Indo hoje do Serro a Diamantina, passando-se por uma estrada de terra que é o único
acesso rodoviário a Milho Verde, é possível percorrer praticamente o mesmo caminho dos
antigos viajantes autorizados a adentrar o Distrito Diamantino. A barreira pétrea da
cordilheira do Espinhaço oferece a sensação nítida de elevação dos caminhos, modificação
do terreno e da vegetação: uns 5 km após deixar a Vila do Príncipe (hoje Serro), o antigo
caminho, como a atual estrada, escalava os contrafortes leste do Espinhaço. A mudança da
paisagem era observada também no escasseamento das lavouras e habitações, o que se
atribui às condições inóspitas mas, também, tal como se mencionou anteriormente, ao
regimento específico de administração do Distrito Diamantino (MAWE, 1978: 151;
SAINT-HILAIRE: 44).
Chegando a Milho Verde (22 km do Serro) e São Gonçalo, subiu-se à altitude média
de 1.100 metros encontrada nestes dois trechos urbanos; no entorno das localidades,
atingem-se os limites superior de 1.423 m (Pico do Raio) nas regiões escarpadas, e inferior
de 850 m, nos baixios onde corre o Jequitinhonha (no trecho correspondente ao Vau).
Após a travessia do Vau, já nas imediações do antigo Tejuco, novamente a estrada se
ergue, passando por um longo trecho mais plano, em que as altitudes variam entre 1.000 e
1.200 m. Esta última é também a altitude média da conformação montanhosa em que se
situa a maior parte da área urbana de Diamantina, alcançada após 60 km de viagem.
Um relevo mais plano predomina no interior do perímetro da antiga Demarcação, a
uma altura de 1.200 m, soerguendo-se, em trechos mais rugosos e escarpados, de 1.300 até
54
quase 1.600 m (IBGE, 1977a e 1997c; MRS, 2005: 8). São os altiplanos16, comuns no
Distrito Diamantino, e que se devem à composição estratificada do subsolo granítico.
Entretanto, quando mais acentuamente esfoliado pela erosão, este solo exibe a rugosidade
característica das elevações da região (IGA, 1998; MRS 2005: 6).
O solo17 presente em geral nos arredores montanhosos de Milho Verde (relevos mais
abruptos estão bastante próximos a nordeste) é de composição quartzo-arenítica,
encontrado em associação freqüente com vegetações do tipo campo limpo, campo rupestre
e campo cerrado, com uma extraordinária diversidade de espécies, muitas delas endêmicas,
constituindo um grande laboratório natural para pesquisadores nas áreas de ciências
naturais. A leste, praticamente ao mesmo nível da área urbana, extende-se um grande platô,
hoje quase exclusivamente recoberto por campos. Por ali se aproximavam os viajantes
vindos do Serro. Milho Verde era avistada à distância, interceptando uma passagem crítica
do caminho: na extremidade noroeste do platô, a estrada utiliza a única travessia permitida
pelo terreno, formando uma exclusiva e estreita passagem aos que continuavam para o
Tejuco.
As fotos dispostas a seguir (Figuras 3 e 4) ilustram o aspecto geral da vegetação dos
terrenos planos e do solo dos terrenos montanhosos nos arredores de Milho Verde:
16 Vide Glossário – Altiplano.17 Vide no Glossário – Subsolo e solo em Milho Verde.
55
Figura 3 – Campo de altitude
Vegetação de campo de altitude, característica dos arredores de Milho Verde (foto do autor – junho de 2006).
Figura 4 – Terreno rochoso
Formação rochosa característica dos arredores de Milho Verde (foto do autor – junho de 2006).
56
A melhor descrição da natureza no Distrito Diamantino parece ter sido dada por
Saint-Hilaire:
Rochedos sobranceiros, altas montanhas, terrenos arenosos e estéreis, irrigadospor um grande número de riachos, sítios os mais bucólicos, uma vegetação tãocuriosa quanto variada, eis o que se nos apresenta nos Distritos dos Diamantes; eé nesses lugares que a natureza se contenta em esconder a pedra preciosa queconstitui para Portugal a fonte de tantas riquezas (1974: 13).18
O impulso econômico extrativista que motivou a criação de grande parte dos núcleos
coloniais em Minas Gerais encontra-se hoje esgotado e estes “estéreis esconderijos” não
oferecem mais condições para a exploração de minerais preciosos. Muitas das localidades
do ciclo minerador, embora turisticamente atraentes graças a seu rico legado histórico-
cultural e à bela natureza do entorno, herdaram também condições econômicas e
urbanísticas precárias. De ordinário localizados nestas regiões pedregosas e áridas, e
organizando-se originalmente à volta de acampamentos mineradores de aluvião, os
povoados expandiram-se montanha acima, escalando ribanceiras de rios e encostas
íngremes, muitas vezes acompanhando a exploração realizada por meio de escavações (as
grupiaras) dos veios de minério no interior do terreno.
Conforme assinalado por Roberto Luís Monte-Mór, ao espaço de produção sobrepõe-
se, nestes arraiais e vilas, um espaço de reprodução (MONTE-MÓR apud CUNHA e
MONTE-MÓR, 2000: 309-310; CUNHA e MONTE-MÓR, 2000: 308-311).19
18 Saint-Hilaire parece ter feito eco às palavras de Mawe, que especulou sobre os benefícios de uma práticada agricultura no interior do Distrito: “[…] resultaria enfim a inapreciável vantagem de espalhar no Distritoos primeiros princípios da agricultura, dando assim ao Estado um recurso mais permanente que as minas deouro ou de diamantes, no caso em que estes se esgotassem […] a natureza parece ter colocado nessas regiõesafastadas ricos tesouros para obrigar os homens civilizados a nelas se fixarem” (1978: 175).19 Vide a respeito também Santos (1997: 28-29) e Frieiro (1957: 164-172; 215).
57
Cunha e Monte-Mór comentam a respeito da formação das cidades mineradoras
mineiras, processo singular em meio à colônia brasileira:
Avaliando com um pouco mais de propriedade o processo de urbanização,historicamente pode-se divisar o surgimento das cidades a partir da distinçãoespacial motivada pela conformação de um excedente, que por sua vez éprecipitado no processo de diferenciação social. [...] Entremeiam-se então olocus do excedente – sua dinâmica da diferenciação e o caráter da apropriação –,o locus do poder – na presença do Estado bem como nas especificidadesassociativas e conformação dos interesses coletivos via Irmandades religiosas –,e por fim o locus da festa – na sociabilidade que institui o vocabulário do barroconas terras mineiras” (CUNHA e MONTE-MÓR, 2000: 310).
Muitas das localidades mineiras do ciclo colonial dotadas de atrativos históricos para
o turismo desenvolveram em suas regiões alternativas econômicas que já as inserem, há
um longo tempo, em atividades extrativistas ou agropastoris (primárias), industriais
(secundárias) e de serviços, incluindo-se nestas últimas o turismo (terciárias). Em geral, os
municípios com atrações históricas situados mais ao sul de Minas ou nos Estados de São
Paulo e Rio de Janeiro pertencem a regiões de ocupação econômica bastante mais
estruturada, favorecida pela povoação mais densa, fertilidade, melhor utilização do solo,
maiores índices pluviais e pelo melhor acesso físico a indústrias e centros metropolitanos.
Em outros locais, porém, após o completo esgotamento das condições econômicas que
determinaram a colonização mineradora, não foram encontrados substitutos relevantes.
Esta é uma carência que pode ser indicada não somente para algumas localidades, mas
também para um âmbito regional: o Vale do Jequitinhonha como um todo, por exemplo, a
partir do declínio da atividade mineradora, desvinculou-se dos eixos econômicos mais
ativos do país. Junto ao mapa disposto a seguir (Figura 5), discutem-se alguns dos fatores
históricos e geográficos associados às condições de defasagem do Vale do Jequitinhonha
em relação à economia e sociedade da maior parte do restante da Região Sudeste.
58
Figura 5 – Condicionantes econômicas e geográficas para o isolamento do Vale do Jequitinhonha
Como mencionado anteriormente, a busca de metais preciosos mobilizou os colonizadores da região doJequitinhonha, que se estabeleceram ao longo do curso do rio e de seus afluentes. Esgotadas as lavras,esvairam-se as trocas econômicas e o Vale desconectou-se das demais regiões do Sudeste, não sendo inseridonos processos subseqüentes de desenvolvimento (MARTINS, 2000: 296). As condições de solo e climalocais, em geral, determinam uma baixa fertilidade, o que enfraquece a economia de base. As matas fechadasdos vales dos rios Doce e Mucuri permaneceram inexploradas nos tempos da mineração colonial, comoconvenientes obstáculos naturais ao contrabando de ouro e diamante. Somente foram colonizadas ao longodo séc. XIX, o que acentuou o isolamento do Vale do Jequitinhonha. Além disso, a mudança da capital deOuro Preto para Belo Horizonte desarticulou o antigo sistema viário, desconectando ainda mais o Vale dosgrandes centros ao sul. Em busca de alternativas econômicas, mineradores e fazendeiros da regiãoempreenderam, ao longo do séc. XX, atividades que agrediram gravemente a natureza: as bombas de sucçãoutilizadas no garimpo concorreram para assorear grande parte dos rios; a carvoagem para a siderurgia, e aconseqüente abertura de pastos, entre outros fatores, reduziram a cobertura vegetal na região de aproximados85%, em 1970, para 35% em 1990 (ANTUNES, 2006: 10; CARNEIRO apud ANTUNES, 1998: 12).Subsidiados pelo governo, latifundiários locais e empresas externas têm ocupado extensas propriedades complantações de eucalipto – cultura apontada como uma saída para a economia local, mas que, além defragilizar ainda mais o ecossistema, tem desalojado o trabalhador rural e reforçado a concentração de renda, aexclusão social e a evasão de recursos (ilustração elaborada pelo autor).
59
2.1.3. Entre o oficial e o clandestino
A posição geográfica exata do núcleo urbano inicial de Milho Verde, embora de
certa forma favorável ao exercício da atividade mineradora, parece resultar de uma
conjugação de fatores. Milho Verde contava, decerto, com um acesso fácil a vários regatos
mineríferos em todo o seu entorno. Porém, a disponibilidade de uma nascente, a
contigüidade ao caminho que se consolidou como o melhor acesso ao Tejuco, a planura do
sítio e a proximidade de terrenos cultiváveis podem também ter sido determinantes para a
exata locação da colonização inicial.
Embora o tipo de exploração caracterizado pela escavação de encostas possa ser
observado em alguns terrenos próximos a Milho Verde (como exemplo pode-se citar a
Serra do Ouro), e o cascalho de todos os leitos de rios da região tenha sido revirado e
amontoado às margens, a área urbana não conta com leitos de rios em seu interior, e não
foi sítio de escavações. Diversos autores mencionam a presença de serviços de mineração,
tais como os de Vau e São Gonçalo (ou seja, empreendimentos contratados pela
administração diamantina e que empregavam contingentes de até várias centenas de
escravos), sediados em Milho Verde, e comentam a abundância e posterior esgotamento
das lavras locais: “E, com effeito, uma terra em cujo seio se chegara a encontrar, em 1730
[...] um diamante com o peso bruto de 1.680 quilates, era para attrahir cohortes immensas
de aventureiros!” (SENNA apud PEREIRA FILHO, 2006, 13). 20
20 Vide, a respeito do esgotamento das lavras em Milho Verde, também Saint-Hilaire (1974: 44). A pedra docomentário de Senna era, provavelmente, o Diamante Bragança, mencionado por Burton (BURTON apudSATHLER, 2003: 234).
60
Mencionando uma correspondência oficial, datada de 1731, em que uma autoridade
indica Milho Verde como local ideal para a constituição de uma vila,21 Santiago comenta:
Nesse tempo e talvez por influência dessa carta e documentos similares –estamos agora em pleno ciclo dos diamantes – foi criado o Quartel de MilhoVerde. A posição, bem no meio da estrada [entre] Vila do Príncipe e Arraial doTijuco [...], no alto de um platô com vasta vista, era motivo de sobra para aescolha do lugar (2006: 106).
Além das vantagens enumeradas disponíveis ao arraial,22 havia um outro fator
determinante: a conveniência estratégica da localização com vistas à fiscalização,
militarmente exercida, sobre o trânsito no caminho oficial e em muitas possíveis vias
clandestinas de acesso à região dos diamantes. A localização contava com ampla
visibilidade para as serranias, em todas as direções. Sediado em Milho Verde, um
destacamento militar se beneficiaria ainda de um ágil acesso a algumas passagens
alternativas (e decretadas proibidas) situadas tanto ao sul, na margem oposta do
Jequitinhonha, quanto ao norte, na continuidade das cristas dos contrafortes leste da cadeia
do Espinhaço.
Escolhida, assim, ponto oficial de fiscalização das entradas e saídas para o novo
Estado especial constituído pelo Distrito Diamantino, abrigou-se ali, a partir de 1732, um
assim denominado registro,23 misto de quartel policial, posto fiscal e controle alfandegário
(PEREIRA FILHO, 2006: 12;17). Como em uma fronteira entre países, o acesso oficial ao
Distrito Diamantino era exclusivamente feito mediante a passagem por este único posto de
controle (MAWE, 1978: 151). A passagem era vedada não somente a estrangeiros, ou seja,
21 Vide Glossário – Vila.22 Vide Glossário – Arraial.23 Vide Glossário – Registros no Distrito Diamantino.
61
não naturais da Metrópole ou da Colônia, como a qualquer um que não estivesse específica
e oficialmente autorizado a exercer alguma atividade na região (SPIX e MARTIUS, 1981:
26). Os viajantes eram revistados e permaneciam em Milho Verde, se necessário por vários
dias, até receberem autorização para continuar.
Sobre o mapa topográfico apresentado a seguir (Figura 6), foi disposto um traçado
aproximado do antigo trajeto dos viajantes.
62
Figura 6 – Mapa topográfico da região de Milho Verde e São Gonçalo, com o trajeto do antigo caminho
Embora seja talvez impossível precisar um percurso exato para o antigo caminho para o Tejuco, algunspontos de referência são do conhecimento geral de habitantes da região – especialmente entre os mais idosos,que receberam tradições orais e até mesmo utilizaram as variantes de percurso preferidas pelos tropeiros.Além disso, alguns trechos mais acidentados do antigo caminho foram reforçados com pedras. Estes sítiosreforçados representam, porém, indícios não conclusivos, não necessariamente correspondendo a algumtrajeto original, não sendo possível, em muitos casos, atestar a antiguidade das construções. A estrada atualentre Serro e Diamantina ( indicada no mapa por uma dupla linha contínua) acompanha o direcionamentogeral e aproximado do antigo caminho dos viajantes, indicado no mapa por uma linha branca sombreada. Naaltura de Milho Verde e São Gonçalo, alguns aspectos do antigo trajeto são bem conhecidos: i) os viajanteschegavam da Vila do Príncipe passando pela grande superfície plana que se estende a leste de Milho Verde,de denominação local Várzea; este trajeto exigia menos esforço que o da estrada atual e permitia oavistamento dos viajantes desde uma longa distância, observados a partir de Milho Verde; ii) o trecho maisutilizado passava direto ao Vau, sem atravessar Milho Verde nem São Gonçalo (PEREIRA FILHO, 2006:13); trechos calçados comprovam a utilidade deste trajeto; porém, a rodovia Serro-Diamantina (construídaem 1928) integrou Milho Verde e São Gonçalo ao trajeto. (Mapa elaborado pelo autor; o traçado do antigocaminho, junto com algumas indicações nominais de acidentes de relevo e localidades dos arredores deMilho Verde, foi disposto sobre uma combinação de trechos das cartas topográficas Diamantina e RioVermelho, que contêm o traçado da estrada atual – IBGE, 1977a e 1977c; o sombreado do relevo foiprovido pela justaposição de imagens de satélite às marcações topográficas; uma ampliação do trechocorrespondente a Milho Verde e São Gonçalo pode ser vista no Anexo, à página 332.)
63
Porém, não obstante ter-se alocado em Milho Verde todo um aparato policial de
fiscalização do Distrito Diamantino, podem ser observados, bem próximos, indícios
contrários ao que seria de se esperar de um contexto de forte repressão à clandestinidade.
Distantes não mais de dez quilômetros do antigo arraial, encontram-se ainda hoje os
aglomerados rurais (não constituindo propriamente aldeias, devido ao espaçamento entre
as habitações) remanescentes de dois antigos quilombos, o Baú e o Ausente. Com relação à
antiguidade dos quilombos Baú e Ausente, consta do saber popular local e da memorização
de linhagens de parentesco que sua existência antecede a época da Abolição.
O ambiente social colonial, anteriormente mencionado, de uma relativa mobilidade e
de contigüidade entre libertos e escravos (SOUZA, 1997: 73; 1999: 153, LUNA: 6),
permeava-se por uma teia de interesses comuns tecida, sobretudo, pela necessidade -
compartilhada por todos os extratos sociais, não somente os inferiores – de se buscarem
meios proficientes de sobrevivência em meio ao contexto altamente desfavorável
determinado pelo regime de administração da atividade mineradora (SOUZA, 1997: 73).
Toda sorte de subterfúgio era utilizada para sustentar uma economia paralela de mineração,
desafiando-se, por vezes, mesmo abertamente, ou no limiar da sublevação, o monopólio
real sobre a exploração de diamantes (STARLING, 2004: 33).
Vários autores apontam os quilombos, bem como os componentes negros e mestiços
de toda a população colonial da Capitania das Minas Gerais,24 como o principal suporte
social e operacional para as atividades de mineração clandestina. (SOUZA, 1999: 142-147;
FURTADO, 1996: 100;105-106; MATA MACHADO FILHO, 1985: 19-20; SAINT-
24 Vide Glossário – Escravatura no Distrito Diamantino
64
HILAIRE, 1974: 20-21). Laura de Mello e Souza assinala que era uma prática freqüente,
entre as autoridades do Distrito Diamantino, fingir “que os garimpeiros eram quilombolas
para assim dar continuidade ao extravio e poupar os senhores do confisco de escravos
postos de caso pensado na mineração clandestina de diamantes” (SOUZA, 1999: 146-147).
Como salienta a autora, os estudos da vida e dos costumes coloniais brasileiros
demonstram que as estratégias de resistência social eram gradativamente construídas
dentro do universo das práticas cotidianas (1999: 154; SANTOS, 1976: 69). Tornavam-se
uma resistência cultural. Ora, se o tráfico de diamantes, que além de vantagens financeiras,
possuía um sentido político de transgressão (STARLING, 2004: 33), em resposta ao
monopólio e ao contínuo asfixiamento tributário, é de se esperar que o cotidiano dos que
viviam no interior do Distrito gradativamente tenha se entrelaçado à prática da mineração
clandestina e do contrabando (FURTADO, 1996: 98-100;105-106; MAWE, 1978: 148-
149;171;173-175; SAINT-HILAIRE, 1976: 20-21; SPIX e MARTIUS, 1981: 34-35).
Assim, o uso da extra-oficialidade, da informalidade e da dissimulação pode haver se
mesclado a demais traços culturais transmitidos pelas gerações, e é procedente indagar
onde esses caracteres poderiam ser observados ainda hoje. O caminho oficial para o
Distrito era um só, obrigatório e constantemente vigiado. Os caminhos alternativos, ditados
pela necessidade de esquivar-se do Fisco, seriam tantos quanto a engenhosidade
permitisse.
Parafraseando o título da obra de Laura de Mello e Souza (1999), muitos dos
habitantes do Distrito Diamantino viviam, talvez ainda mais acentuadamente do que a
média da população colonial, entre Norma e conflito. A despeito da repressão, subsistiam o
garimpo e o contrabando, muito em razão das necessidades de inserção econômica de
camadas sociais que não as de senhores e escravos. Aos poucos, surgiam os integrantes
65
para a composição de toda uma nova sociedade colonial, que gradativamente se enraizava
(MENESES, 2000: 123), esgueirando-se por entre as brechas do sistema, operando no
Distrito à revelia dos esforços de fiscalização do Estado.25
Contudo, há que se indicar também, nesta avaliação das condições formacionais, a
transitoriedade intrínseca à atividade da mineração, praticada sempre – conforme o espírito
colonial predominante – com propósitos de ganho imediato. Ao imediatismo e
transitoriedade some-se a instabilidade determinada pela própria extorsão fiscal, sujeita a
recrudescimentos imprevisíveis, e a inserção social precária dos extratos intermediários
frente à impermeabilidade da estrutura sócio-econômica hegemônica, oficial. A
mentalidade imediatista de utilização dos recursos naturais, bem como, por que não dizer, a
inacessibilidade dos “recursos sociais” – a indisponibilidade da cidadania – pode ter
modelado, em um tal contexto, uma cultura predominantemente “extrativista”, não
comprometida com um vínculo social institucionalizado – não cidadã.
Jorge da Cunha Pereira Filho menciona a observação de um viajante do início do séc.
XIX com relação ao aspecto geral de Milho Verde:
“Seis léguas distante do Tejuco em sua viagem o pr imeiro arraial que encontrouo dr. Couto foi o Milho-verde logarejo pequeno, mal arranjado, com muitas casaspalhoças, vivendo seus habitantes de uma pequena e insignificante cultura; amineração lhes é vedada por causa das terras e ribeiros diamantinos” (SILVAapud PEREIRA FILHO, 2006, 13).
De uma maneira geral, esta caracterização de precariedade econômica é feita também
pelos demais cronistas da época (MAWE, 1978: 151-152; SAINT-HILAIRE, 1974: 44).
25 Vide a respeito também Furtado (1996: 111).
66
Aires da Mata Machado Filho (1985), recorrendo com freqüência a citações de
Felício dos Santos26, salienta a advertência de que não se deve entender o garimpeiro, o
minerador clandestino, bem como o quilombola que freqüentemente se lhe associava,
como sendo algum tipo de bandido, e sim como um sobrevivente – furtivo, fora-da-lei, mas
empreendedor ativo e hábil de uma tarefa arriscada e extenuante da qual sobrevive (MATA
MACHADO FILHO, 1985: 18-20). Distingue, porém, no minerador também a índole
jogadora e imprevidente:
[...] a felicidade está no diamante arisco, que vem e foge caprichosamente [...] Nacerteza desse alvo que refoge, na definição nítida desse ideal de vida, está achave para interpretar a psicologia da gente singular desse rincão mineiro. [...] Ominerador é imprevidente por índole. [...] Contam-se casos de muitos queenriqueceram e ficaram pobres da noite para o dia. Se conseguem tirar algumacoisa, gastam desmedidamente o capital reunido. Não pensam no dia de amanhã.[...] Entretanto, no coração do mineiro só há lugar para a esperança, a esperançateimosa e quase infantil, que diante de nada esmorece. (1985: 34-35).
Aires da Mata Machado Filho estudou, nas décadas de 1920 e 1930, o cotidiano dos
faiscadores em São João da Chapada, localidade situada ao norte de Diamantina, sítio de
um achado tardio de veio diamantífero que concentrou, durante o séc. XIX, a atividade de
um grande número de mineradores independentes. As observações de Mata Machado Filho
trazem, assim, para um momento histórico mais recente, a avaliação dos usos e costumes
da população mineradora (1985: 23-50). Saint-Hilaire (1974: 33) e Mawe, igualmente,
mencionam este caráter de imprevidência, ao observarem os moradores do Tejuco do
início do séc. XIX. Nas palavras de Mawe:
O que afasta ainda mais os habitantes desta cidade do hábito de uma indústriaregular é a esperança contínua de se tonarem repentinamente ricos peladescoberta de minas. Estas idéias enganadoras, inculcadas no espírito dos filhos,dão-lhes invencível aversão ao trabalho, embora vivam todos miseravelmente
26 Vide Glossário – Historiografia do Distrito Diamantino.
67
[...] Sua educação é muito deficiente, são em geral alheios à ciência e só têmnoções restritas dos objetos de utilidade real (1978: 173).
Residente em Milho Verde há vários anos, e emprendedor de comércio relacionado
ao turismo, um dos entrevistados para esta pesquisa descreveu, a seu modo, a influência do
modo de vida minerador na cultura local, conjugando, talvez, aportes teóricos encontrados
na literatura da formação colonial com exemplos recolhidos de sua própria observação e
experiência:
[...] eu entendo o garimpeiro27 como uma figura, uma mentalidade que arrisca,ele arrisca quando vai no garimpo. [...] ele está sempre querendo “ganhar”. Elequer ganhar o máximo. [...] Acertar a boa, e ganhar uma bolada. [...] Eu conheçomuitos casos de pessoas que falam assim “Olha, eu garimpei minha vida toda,já tive milhares na mão, e queimei tudo.” É uma riqueza que vem fácil e vaifácil. Aqui mesmo [Milho Verde], estou cansado de ver as pessoas “Aaah, umdiamante!” o olho até brilha. O olho até brilha! Mas todos falam assim “Ah, dinheiro do diamante é maldito. Dinheiro do garimpo não é bendito não.”Por isso: porque ele vem fácil e vai fácil. Então eu acho que isso mostra umamentalidade de pessoas que não se resguardam, preparam, constroem,estruturam, não, é um “acertou a boa”, vive, torra aquilo ali, vive bem ali, seregala durante um momento e depois acabou. [a]
O entrevistado pontua, ainda, o que ele considera influências culturais advindas da
condição de clandestinidade da atividade de mineração local:
E existia muito contrabando, existia a questão dos escravos que fugiam e faziamo seu próprio contrabando, isso tudo dava motivo pra uma patrulha te encontrarnum caminho, achar que você estava contrabandeando e te passar a ferro, podiate matar, podia te prender e podia até te deportar. E você não tinha como sedefender, argumentar, nada. Cismou, acabou... Então isso criou, eu acho, atécomo um modo de defesa, uma característica da personalidade coletiva: pessoasdissimuladas. As pessoas são muito dissimuladas. [a]
O entrevistado associa a clandestinidade e a dissimulação a uma resistência cultural
regional à agregação e à composição de esforços coletivos e de cooperação:
27 Este e diversos outros entrevistados utilizaram o termo garimpeiro em seu sentido comum, generalizado,de minerador independente, faiscador.
68
[...] a comunidade é... muito desunida [...] as pessoas não têm a capacidade de seorganizarem, e tratarem questões de forma cooperativa, coletiva... [...] Olha, nósestamos dentro do que era o Distrito Diamantino, onde as pessoas não podiamser flagradas em [...] em qualquer situação que o patrulhamento julgasse suspeito[...] As pessoas, elas não se agregam. [...] já tentaram aqui organizar uma liga doscomerciantes, pra ver como é que se poderia fazer pra melhorar, nunca rolou...[...] já se tentou fazer uma liga dos estalajadeiros, dos donos de pousada, nuncarolou. [...] Já aconteceu aqui “Eu sou amigo do Fulano, ele mexe compousada” e o Sicrano disse “Ah, sei quem é, mas não está mexendo compousada não. Fica aqui em casa.” Aí o cara encontra com o Fulano no outro dia
“Ô, mas Fulano!? Sicrano falou que você num mexia mais com pousada! Atéfez um precinho bão pra eu ficar lá na pousada dele!” [...] Então, é nesse pontoque eu falo que as pessoas não são associativistas. Não são cooperativas, porqueelas querem cada um pra si. Isso mostra essa mentalidade garimpeira, eu acho.Quer ganhar. Tirei o meu. Eu acho que... tem isso, no caráter, no psicológicodesse coletivo, dessa região, tem um pouco disso. E que eu acho que édesagregador no sentido de se pensar coisas corporativas, no sentido de vocêpensar coisas que primeiro a gente vai tirar, cada um tirar do bolso, tirar de si,colocar um pouco no balaio, pra depois colher o fruto. [a]
O entrevistado identifica também uma mentalidade regional retrógrada, impermeável
a mudanças:
As pessoas riem “Pô, muito bacana, isso que você está fazendo” e tal, epor trás elas agem de outra forma. Muitas vezes, quando você tenta inovar comengenharia, inserir conhecimentos... [...] você fala com elas assim “Ó, fazassim, assim e assim, que é melhor do que se fazia há trezentos anos, por isso,por isso e por aquilo. Pessoas estudaram isso daqui...” e a pessoa responde
“Ahn-han, que beleza!” Na hora em que você for embora, continua fazendodo mesmo jeito. Do mesmo jeito elas continuam queimando, elas continuamdesmatando, elas continuam achando que o garimpo é um barato, que elaspodem ficar ricas com o garimpo, ao passo que a gente vem mostrando estudos,as informações mais recentes no mundo inteiro, dizendo “Vamos preservar,vamos conservar a natureza, daqui a pouco a gente não vai ter nem água prabeber.” Então, quando você entra com essas informações “Ahn-han, beleza”
mas no fundo eles continuam fazendo as mesmas práticas. [a]
O trecho a seguir sintetiza a visão do entrevistado, que se contrapõe a uma visão
romantizada, à maneira de Rousseau, muitas vezes associada ao habitante rural:
[...] morando nesse interior aqui eu perdi aquele mito do “bom caipira”, fazendouma paráfrase daquele mito do bom selvagem [...] Não existe: aqui cada um é olobo do outro. Isso é coisa do mineiro. Do interior de Minas. [a]
Alguns comentários de uma pesquisadora nascida na região servem como
informação complementar a respeito dos aspectos de vinculação comunitária aventados
pelo entrevistado anterior. A entrevistada menciona, além da mineração clandestina e dos
69
quilombos, outros elementos formacionais sócio-econômicos e sociopolíticos que serão
avaliados mais detalhadamente adiante:
Está muito ligado a essa questão da formação daqui, essa questão dos grandesdonos da terra [...] São Gonçalo, talvez por ter se tornado mais urbana mais cedo,numa vila... Com uma estrutura urbana e [...] você tem famílias de lá. Porque ali[houve] uma mineração de ingleses, essa transformação urbana, esse convívioem uma sociedade... Uma coisa mais rural [Milho Verde] e, ao mesmo tempo eraa Demarcação do Distrito Diamantino, uma coisa policiada. O quartel era aqui.Então, o contrabando passava por aqui. Os quilombos estão mais perto daqui.Talvez essa relação [comunitária] é fruto disso daí, de como a cidade se formou.[...] eu não acredito que aqui houve uma grande repressão aos negros fugidos.Eles produziam o diamante que o cara contrabandeava, o cara que tinha odinheiro, e que não era o dinheiro da Coroa. [...] Porque os quilombos erammuito próximos daqui para você achar que eram fugidos. [b]
Apesar dos obstáculos geográficos, Baú e Ausente encontram-se, hoje, social e
economicamente articulados com Milho Verde. Os obstáculos são a distância e a travessia
do Jequitinhonha (não há ponte), que, a partir do Baú, poderiam ser evitadas, fazendo-se
conexão com Pedro Lessa, distrito de Serro, para onde há, inclusive, uma estrada; para a
população do Ausente também há uma alternativa de menor distância - a localidade de
Três Barras, hoje sede de um distrito recém-emancipado de Milho Verde (2006) e também
localizada à margem da antiga estrada Serro-Diamantina. A afiliação do Baú e do Ausente
a Milho Verde configura-se na demarcação territorial do distrito, que inclui os dois
quilombos. Os adolescentes do Baú atravessam diariamente a pé, somando-se ida e volta, a
distância de 20 km diários para comparecerem às aulas do ensino médio em Milho Verde.
As atividades do grupo de Catopês,28 tradição local de guarda de congado que conta com
praticantes tanto do Ausente como do Baú, congregam-se principalmente à volta de
membros residentes em Milho Verde.
28 Vide Glossário – Catopês.
70
Alguns autores advertem quanto à necessidade de se interpretar o passado das
congregações e as manifestações culturais relacionadas às irmandades religiosas – como é
o caso dos dançantes do Catopê em Milho Verde – não em termos de articulações de
resistência ou de construção de cidadania, mas (ao menos nos primórdios de sua formação,
no séc. XVIII) em termos de uma sociabilidade concedida pelo Estado e conformada pela
Igreja por intermédio de sua liturgia. Com relação ao papel sociopolítico das irmandades,
Cunha e Monte-Mór salientam:
“[...] o caminho das irmandades no decorrer do século XVIII constitui, aomesmo tempo, reforço e armadilha da sociabilidade urbana, uma vez que terminapor não constituir-se em um mecanismo de afirmação da cidadania nesseprocesso [...] Na medida em que a ereção de irmandades nunca signif icouigualdade alguma, de fato, para com os brancos, dado que a não conscientizaçãopreservava as relações de dominação, não representou então liberalidade algumapor parte do Estado Português, antes o contrário. [...] as irmandades de negrosescravos em momento algum combateram a ordem escravocrata, e exatamentepor esta razão, foram sociabilidade concedida e incentivada pelas autoridadescivis e eclesiásticas” (CUNHA e MONTE-MÓR, 2000: 315-316).
Como contraponto e complemento a esta caracterização, pode ser mencionada
Marina de Mello e Souza, que define assim a função social das Irmandades do Rosário e
dos reinados ritualísticos do congado: “Espaço de construção de identidades e de expressão
de poderes, organizava as relações internas ao grupo e também as relações do grupo com a
sociedade abrangente, no que diz respeito à hierarquia, exercício de poder e solidariedade”
(2002: 18-19). A autora aponta um caráter ambíguo, ou múltiplo, das manifestações
culturais dos escravos: ao mesmo tempo resistência e aculturação, assimilação e adaptação,
aceitação e recusa (cf. SOUZA, M. M., 2002: 169).
E, com relação ao contexto específico de Milho Verde, há que se assinalar também
algumas condições especiais. Contemplando-se alguns dos aspectos formacionais locais,
observa-se uma conexão por vezes tênue, mas presente e peculiar, entre quilombos,
Irmandade, mineração, clandestinidade e a extinção tardia e recente de uma relação de
71
dominação – de caráter semi-escravagista – entre a oligarquia local e os camponeses e
descendentes de quilombolas. Nesse ambiente, é de se crer que se conformaram estratégias
de resistência – de subsistência clandestina – continuadoras das antigas formas de
sobrevivência dos negros fugidos, forros, quilombolas e garimpeiros.
Dois habitantes contemporâneos de Milho Verde estão entre os pouquíssimos
mantenedores da tradição de cantos vissungo, de origem africana. A presença quase
exclusiva dos vissungo,29 cantigas rituais que constituíam um elemento de resistência
cultural dos escravos da mineração de diamantes, e que somente não se extinguiram
também em São João da Chapada, distrito minerador próximo a Diamantina, é um
elemento demonstrativo da realidade particular de Milho Verde.
A identidade do Baú como uma comunidade à parte e entretanto presente na vida de
Milho Verde na primeira metade do séc. XX, é assinalada pela memória de um antigo
habitante, natural da localidade, minerador aposentado:
Baú é desses que é um quilombo. É, um quilombo danado. [...] tinha uns nêgovelho, alguns que conversava tudo com você na língua deles lá, você não sabe oque é. [...] Eles negociavam aqui. Vinham aqui comprar a comida, promantimento. Feijão, arroz, essas coisas, compravam aqui. Outra hora elesproduziam lá também. Plantavam lá, tem terra boa lá. Plantavam, tiravam odiamante lá, vinham aqui, vendiam e faziam sua sacaria aqui... Naquele tempotambém achavam mais diamante, ou até pegavam diamante emprestado um dooutro, quando estavam sem dinheiro. Era diferente. “Me empresta o seu aíque...” no outro dia sabia que... [haveria uma devolução] [c]
Um regime, prevalecente em tempos anteriores, de solidariedade comunitária na
sociedade dos quilombos foi indicado por alguns dos entrevistados, junto a menções
quanto a uma luta cotidiana pela sobrevivência em um contexto adverso. O que pode ser
observado hoje, porém, é que as determinantes sociais e econômicas para a preservação de
29 Vide Glossário – Vissungo.
72
uma “sociedade paralela”, ou “gueto” quilombola, mantenedor de tradições culturais
identitárias encontram-se em vazante, quando não se esgotaram totalmente: a ordem
oligárquica, herdeira das anteriores estruturas escravocratas, terminou por romper-se, como
será visto adiante; as necessidades de educação e renda estimularam a emigração e
transpuseram a atividade diária de grande parte dos habitantes remanescentes nos
quilombos para áreas urbanas vizinhas. Com a palavra uma empreendedora de turismo em
Milho Verde, natural do Baú:
[...] meu pai sentiu a necessidade de trazer a gente pra cá porque ele estavadoente, e aí ele falou assim “Tenho que levar meus meninos pra estudar emMilho Verde porque eu não quero deixar eles assim, no meio do mato.” [...] [d]
Ela relata, ainda, o que parece ser um caráter de combatividade peculiar aos nascidos
no Baú, conforme também pôde ser observado no decorrer da presente pesquisa:
Aí, desde quando ele chegou aqui é batalha, né, correndo pra ver se conseguefazer alguma coisa. Porque parece que não gosta de ficar no sofrimento,reclamando, assim, fazendo de vítima. O pessoal [do Baú] não gosta de fazer devítima. Ah, se você visse o sofrimento antigo que tinha lá dos escravos [Ri.] Oque reflete na vida da gente hoje. [...] só aquele sofrimento de medo do senhorachar eles escondidos lá é um sofrimento, não? Isso vem refletindo no sangue.[...] Meu avô mesmo foi descendente de escravos. Nem sei se chegou a serescravo. Deve ter sido. Um povo determinado, aquele povo que tem coragem devir... querer mudar, igual meu pai [...] [d] 30
Entrevistado para um artigo jornalístico sobre a cultura quilombola do Baú, um dos
seus antigos habitantes, hoje residente em Milho Verde, teve seus comentários reportados
assim: “Foi-se o tempo em que o Baú era um pedaço da África e a gente vivia como uma
só família”.31 Na mesma entrevista, consta este comentário do antropólogo Romeu Sabará:
30 A mãe da entrevistada era natural do Baú. O pai, nascido em outra região, mudou-se para lá quando casou.Era viúvo quando mudou para Milho Verde, na década de 70.31 O entrevistado foi Ivo Silvério da Rocha, Seu Ivo. Agricultor, raizeiro, artesão e Mestre dos Catopês deMilho Verde, Seu Ivo é um dos últimos retentores da tradição dos vissungo (Vide Glossário – Catopês eVissungo; e PIVA et al, 2007: 12-13; 18-19).
73
“O mercado está transformando o camponês em assalariado rural ou urbano e a
globalização está acabando com todas as culturas” (ESTADO DE MINAS, 2001).
A pesquisadora anteriormente mencionada comenta a respeito do esvaziamento da
força comunitária dos dois quilombos32, e da persistência do vínculo social com Milho
Verde:
Até a década de 80, eles tinham uma relação comunitária muito mais forte. Elesperderam muito com a entrada de outras igrejas lá. A igreja evangélica, dealguma forma ... A igreja católica mantinha [...] a cultura deles. Agora eles estãose associando de novo. Mas eles tinham uma relação familiar muito forte. [...]Hoje, eles [Ausente] têm uma relação muito maior com Três Barras, éengraçado, por causa da estrada. Mas eles não se sentem muito à vontade lá. Osalunos de lá querem estudar aqui e não querem estudar em Três Barras. Porqueessa relação familiar maior é aqui, né, sempre foi. A Igreja do Rosário aqui foiconstruída por eles. Não era essa igreja... Era uma igreja grande, foi construídapor eles. A Festa do Rosário daqui era deles [...] eles é que eram os dançantes,eram a maioria. Então, eles têm uma relação muito maior aqui do que em TrêsBarras. [b]
Assim como o tema das irmandades religiosas é inesgotável, é também
evidentemente impossível retratar com propriedade a complexidade e fecundidade do
fenômeno quilombola, dadas as limitações compreensíveis para os esforços empreendidos
no âmbito da presente pesquisa. É útil, porém, para os propósitos de avaliação das
condições formacionais da Milho Verde atual, assinalar que, lado a lado com a antiga
Milho Verde oficial, passagem fiscalizada do caminho ao Tejuco, existiam prováveis bases
de operação – demasiado próximas – para rotas de contrabando e para os furtivos bandos
de garimpeiros.
Como Werneck Sodré bem delineou, o dilema histórico-econômico da escravidão
consistia em que ela “aniquilava, na realidade, a fôrça produtiva fundamental, que era o
32 Vide a respeito Piva et al (2007: 10-12).
74
próprio escravo, e o desinteresse dêste pela produção impunha substituí-lo pelo trabalhador
que nela encontrasse algum estímulo” (1964: 7). A clandestinidade, a burla, a sutileza e a
fuga eram o espaço para a afirmação deste “interesse”, tanto do escravo quanto do forro,
do fugido e do quilombola, todos marginalizados no contexto da escravidão mineradora. O
caráter original de coalisão para a sobrevivência dos indivíduos quilombolas manteve-se
até um período bastante recente, propagando para a atual organização social de Milho
Verde a existência, embora hoje evanescente, de uma articulação em separado, paralela,
mas conectada ao núcleo comunitário principal.
A história a seguir, de sabor um tanto folclórico, é ambientada na década de 1930, e
foi narrada por um ex-minerador e ex-tropeiro, hoje aposentado. Serve como ilustração
para alguns dos elementos formacionais anteriormente assinalados, tais como as relações
sociais na sociedade mineradora e as habilidades de sobrevivência desenvolvidas no
ambiente da mineração. O contexto da narrativa, em alguns de seus aspectos, faz lembrar
os relatos dos antigos viajantes, ao descreverem os cuidados tomados nos serviços de
diamantes para evitar o extravio de pedras para o contrabando (MAWE, 1978: 154-156;
SAINT-HILAIRE, 1974: 16-22;38):
[...] tinha um tal de Fulano aqui que tinha um negro – isso é um caso que eu ouvicontar – e o Sicrano33 tocava um garimpo lá, perto de São Gonçalo. Aí o Sicranofalou “Ô Fulano, cê num tem um nêgo procê me arrumar, pra ajudá a lavaraqui, não? Que eu tô num aperto com a hora muito grande, e eu num tenholavador que presta, é poucos.” Fulano falou “Eu tenho um negro que lavamuito. Mas tem uma coisa: ele é ladrão, ele é de rato. Rouba mesmo.” AíSicrano falou “Ó, eu garanto pra você de ele ir lá lavar e não roubar umdiamante meu, que eu vigio ele.” Fulano falou “Ô Sicrano, eu aposto comvocê: a Festa do Rosário está aqui perto; eu mando ele; se ele roubar umdiamante lá, você paga duas caixas de cerveja, e se ele não roubar eu pago você,pronto, pra nós bebê aqui no dia da festa.” Foi tal e feito. Aí o Fulano mandou. Efalou com o negro “Você traz um diamante de lá pra mim que eu quero ver.”
33 Os nomes dos dois mineradores – segundo o narrador, habitantes de Milho Verde ao início do séc. XX –,foram suprimidos nesta transcrição.
75
[E então o negro pediu:] “Me arranja um pedaço de fumo aí.” Fulano foi etirou um ½ metro de fumo e deu [...] Aí, diz que chegou lá, Sicrano tá em cimadele, ele tá lavando, tá lavando... e pitando o cachimbo toda hora. E tá, tá, tá [oentrevistado faz mímica de esconder os diamantes no cachimbo]. Cabô pra lavá,e aí o Sicrano mandou ele embora. Deu a ele uma carta, que foi muito serviçocom o garimpo lá, e tava agradecendo ele. Aí ele chegou e Fulano falou “Quévê os diamante que cê pegou.” E ele pegou, o maior diamante do serviço elepegou pro Fulano. Aí, quando foi o dia da Festa do Rosário aqui, o Sicranochegou e falou “O que foi que eu disse? Você pode me pagar a cerveja.” E aíFulano falou “Você é que tá enganado. Você que vai pagar. O maior diamanteseu tá aqui na minha mão” uma pedrinha. “O nêgo trouxe.” E eles erammuito experimentados ali, muito espertos, conseguiam fazer o negóciodesaparecer. Colocava nos dedos... esse daí mesmo ele ia prum garimpo etrabalhava lavando [...] Esse era trabalhador, não era em tempo de escravidão,não. [e]
Consta dos relatos de Saint-Hilaire:
“[...] haverá, sem dúvida, contrabandistas propriamente ditos, aqueles quetraficam diamantes roubados pelos escravos nos diferentes serviços. Os negrostêm para esse gênero de furto uma sutileza capaz de causar inveja aos nossosmais hábeis gatunos” (1974: 20).
76
2.1.4. Articulação e desarticulação das economias mineradora e agrícola
Um grande obstáculo enfrentado no início do ciclo minerador, ao tempo da formação
dos primeiros arraiais, era a impossibilidade de se prover o sustento a partir das condições
locais. As lavras situavam-se em áreas até então inexploradas e, em geral, como
mencionado anteriormente, inapropriadas para o plantio. O descompasso entre o repentino
afluxo de colonizadores, vindos atrás das primeiras notícias do ouro no início do
povoamento das Minas, e a lenta formação das condições de abastecimento que viriam a
atender a região chegou a ocasionar catástrofes. Entre tumultos, fugas desordenadas e
carestia de gêneros, milhares de colonos morreram de inanição nos anos de 1697, 1698,
1700 e 1701 (SOUZA, 1997: 16-19; STARLING: 2004: 29-30).
Ao longo dos trabalhos de campo da presente pesquisa, travou-se contato com o mito
fundador de Milho Verde, amplamente conhecido e divulgado entre a população local, e
denominado por títulos informais como “a história de como surgiu Milho Verde”. Parece
indicar que, em algum momento, a comunidade, ou parte dela, reconheceu na localidade a
função de provedora de alimentos, em meio a um contexto minerador onde mantimentos
escasseavam. De origem desconhecida, a lenda assinala uma função nutriz, um caráter de
fonte de um tipo de abundância que provém não da cobiçada exploração mineral, mas do
crescimento vegetativo de uma modesta colheita, distintiva da localidade em meio à aridez
do entorno. Travou-se contato com essa história em campo em três ocasiões; em duas
delas, narrada espontaneamente por habitantes locais, sem solicitação por parte do
pesquisador.
Não havia nada. Nem habitações, nem caminhos, nem lavouras ao redor. Certavez, uns faiscadores tentavam a sorte às margens do Jequitinhonha quandoacabou-se-lhes a comida. Sem alternativa, subiram então os morros, edescobriram uma cabana em um ponto onde antes haviam avistado, de longe, umfio de fumaça. Res idia ali um tal Modesto. Famintos, cumprimentaram-no, eindagaram do que haveria para se comer. Modesto redarguiu que se encontrava
77
em situação qual a deles, falto de tudo o que se lhe esgotara durante o mês, e quenão tardaria a ir à Vila do Príncipe, de modo a repor-se. Mas que haveria ali, tãosomente, e abundante, o milho ainda verde, plantado de todo o entorno. Demilho, então, fartaram-se os mineradores, saciando a imensa fome. Depois doque, aprestaram-se todos rumo à sede da Comarca, acompanhados de Modesto.No que marchavam, inquiriram de Modesto como se chamava o lugar, para quedali tivessem referência, e lhes foi dito que não havia nome não, que ainda estavapor se nomear: residindo sozinho, Modesto não carecia de indicar a ninguém amorada; ao que um dos mineradores respondeu que o lugar se chamaria entãoMilho Verde, ao modo do alimento que lhes salvara a vida.34
Santiago (2006) discorre acerca de alguns possíveis pontos de contato entre esta
lenda e condições documentadas das origens da localidade. O autor cita um mapa do
Distrito Diamantino, provavelmente anterior a 1750, em que Milho Verde aparece
acompanhada da seguinte observação: “O Arraial de Milho Verde descobriu Manoel
Rodrigues Milho Verde, natural da província do Minho, em 1713” Santiago especula sobre
a possível relação entre o sobrenome, visivelmente um nome adotado, e a atividade local
de plantio (2006: 105-106). John Mawe relata que a área de Milho Verde e São Gonçalo
teria sido o primeiro acampamento minerador da região, em uma etapa inicial e
intermediária de colonização, antes da ocupação às margens do Tejuco, descoberto aurífero
bastante mais promissor (1978: 169).
As potencialidades agrícolas da região de Milho Verde foram recentemente cotejadas
em um levantamento amplo abrangendo partes do município do Serro e de alguns
municípios vizinhos. O estudo foi empreendido com vistas à elaboração de um plano de
34 Uma das narrativas foi feita por um dos entrevistados para a pesquisa ora apresentada, porém após otérmino da gravação da entrevista, em uma circunstância em que não havia mais possibilidade de solicitaruma repetição gravada. Em outro momento, em um evento público, essa história foi encenada por criançasvisitantes da cidade (não-habitantes e não-naturais da localidade ou região), que tiveram por roteiro umanarrativa registrada por um morador natural da localidade. A versão ora apresentada, redigida pelo autor,corresponde mais ou menos fielmente a notas tomadas em campo após uma das narrativas. Discorda emalguns detalhes da versão apresentada por Luís Santiago, a partir de narrativa de Ivo Silvério da Rocha, SeuIvo, já mencionado na nota 31. Uma versão redigida por Seu Ivo, conforme mencionado por Santiago,encontra-se publicada em História das Comunidades de Minas Gerais – Belo Horizonte: sem editor, 1988(SANTIAGO, 2006: 105).
78
manejo sustentado da Área de Proteção Ambiental das Águas Vertentes, decretada em
1998, e em que se inserem áreas pertencentes ao distrito de Milho Verde (MRS, 2005).35
No que se refere ao entorno próximo de Milho Verde, o estudo aponta que somente
os trechos do sopé e das encostas do platô onde se situa a localidade (ou seja, descendo a
oeste e sudoeste na direção do Jequitinhonha) foram avaliados como medianamente
apropriados para a lavoura. Afora estes terrenos férteis, toda a região foi considerada
inapropriada ao manejo sustentado, não somente em lavoura, mas também para o plantio
de pastagens, extrativismo vegetal e até mesmo para a utilização como pasto natural (MRS,
2005: 8-15).36 Ou, conforme o veredito bastante anterior de Saint-Hilaire, “montanhas que
se não encerrassem tesouros em seu seio, seriam apenas freqüentadas por alguns animais
selvagens” (1974: 36).
Entretanto, a despeito da pequena disponibilidade de solo favorável, os registros
históricos apontam para uma atividade regular de plantio em Milho Verde, desde os
primórdios coloniais até aproximadamente meados do séc. XX (SANTIAGO, 2006: 105-
108; PEREIRA, 2005: 10; MENESES, 2000: 125-126). Raro sítio fértil ao longo da
estrada, há de ter sido demandada, talvez desde os primeiros tempos do Tejuco aurífero,
para o suprimento dos arraiais mineradores da região. Este é um importante aspecto de
toda a trajetória econômica e, conseqüentemente, social e urbana da localidade. Impedidos
de minerar durante a época do Distrito Diamantino, não consta que houvesse outra
35 Vide Glossário – Área de Proteção Ambiental das Águas Vertentes.36 Para toda a região, quer seja nas áreas de cultivo, quer seja nas áreas de conservação, o estudo recomendaprioritariamente a adoção de medidas destinadas a conter a erosão e o a conservação dos cursos de água, asaber: plantio em nível, terraceamento, faixas de retenção, adubagem com a cultura morta, rotação deculturas e, por fim, sulcagem, no caso das áreas cultiváveis; e nenhuma remoção da cobertura vegetal originalpara todo o restante do terreno (MRS, 2005: 14-15).
79
ocupação disponível aos habitantes que não a lavoura – a não ser para os pertencentes ao
destacamento militar. E é possível ponderar, baseando-se no próprio senso lógico, comum,
que o nome e a vocação da localidade não devem ter permanecido distantes um do outro ao
longo de dois séculos e meio.
A historiografia mais recente indica que, à medida que se consolidou a ocupação do
Distrito Diamantino, aprimorou-se a utilização da escassa terra disponível e também a
organização dos moradores com relação ao manejo dos recursos (MENESES, 2000: 123-
124; MARTINS, 2000: 283-284; FURTADO, 1996: 135;146). Os dados mais recentes
representam, portanto, um senão às crônicas dos antigos viajantes que, espantados com a
imprevidência e pouca indústria dos habitantes, e com a aridez do terreno (SAINT-
HILAIRE, 1974: 29-34), não fizeram conta de uma estrutura produtiva adaptada às
condições locais, incapaz da auto-suficiência, decerto, mas, respeitadas as proporções,
ativa em comércio, agricultura e pecuária. A organização social excludente, marcada pelas
divisões de classe e raciais, e pela inacessibilidade à atividade econômica motriz – a
mineração –, orientava habitantes do Tejuco a empreendimentos agrários, dentro e fora
dos limites do Distrito (MAWE, 1978: 152-153;160-162;166-167;173-176; MENESES,
2000: 124-126;130-131;135; FURTADO, 1996: 135-138-139;143;146; SAINT-HILAIRE,
1974: 29;30;34).37
De qualquer maneira, o estímulo à atividade agropastoril no arredor das vilas e
arraiais mineradores era parte da política de administração das Minas. Uma das grandes
preocupações dos governantes era a escassez no abastecimento, que poderia dar origem a
carestia ou motins, prejudicando a tranquilidade da empresa mineradora, a arrecadação de
37 Vide Glossário – Historiografia do Distrito Diamantino.
80
impostos e o controle social por parte da administração da Capitania. Além disso, o
produto agrário, por si mesmo, fazia parte das arrecadações, sendo assim produzido e
comercializado sob atenta fiscalização, não somente com vistas à taxação, mas também no
que concernia à sua disponibilidade. Para evitar a especulação e para diminuir a
dependência de importações, os administradores incentivavam “a venda direta dos víveres
pelos próprios roceiros que os produziam, o que garantiu uma oferta crescente de gêneros
alimentícios no mercado local e uma relativa estabilidade de preços” (SILVA, 2000: 97-
105).
O produto de uma lavoura como a de Milho Verde, obtido a curta distância do
Tejuco, e no interior do Distrito, talvez não atravessasse postos aduaneiros (MENESES,
2000: 131), e seria, assim, vantajoso para os agricultores locais ainda pelo aspecto fiscal.
Contaria também com a facilidade de comercialização, pois por Milho Verde passava um
grande afluxo de tropeiros: toda a região do Serro Frio, valendo-se de condições de solo e
climáticas favoráveis, antes mesmo do esgotamento de seus veios auríferos, já se
encontrava orientada para a produção de alimentos em prol do abastecimento da região
diamantífera, participando, assim, direta e indiretamente da economia mineradora
(MENESES, 2000: 130; MARTINS, 2000: 283-284).
Os gêneros importados vinham de várias direções, principalmente do sul e do leste,
de localidades situadas à volta da Vila do Príncipe, onde a região é mais fértil. Uma
obrigatoriedade de passagem por Milho Verde criava, possivelmente, transtornos
adicionais para o abastecimento. Martins menciona, com relações aos víveres produzidos
dentro e fora do Distrito:
Em torno do Tijuco, muitas áreas especializaram-se na criação de gado e nalavoura. Plantavam-se mandioca, milho, feijão, arroz, algodão, tabaco. As áreasrurais forneciam banha, carne seca, manteiga, rapadura, toucinho, fumo, sabão,sebo, aguardente. Mantimentos chegavam ao Tijuco procedentes de “roças”
81
situadas a 10, 15, 20 e até 25 léguas de distância, de lugares como Curimataí, RioVermelho, Penha, Peçanha, Rio Manso, Rio Preto, Araçuaí. Da Região de MinasNovas chegavam carne de boi, couros e cavalos (MARTINS, 2000: 283-284).38
O conjunto de mapa topográfico e mapa diagramático (Figuras 7 e 8) disposto a
seguir descreve as restritas condições do entorno de Milho Verde para a atividade
agropastoril:
38 Vide a respeito também Saint-Hilaire (1974: 30).
82
Figura 7 (acima) – Mapa topográfico dos arredores de Milho Verde
Figura 8 (abaixo) – Possibilidades gerais de uso do solo nos arredores de Milho Verde
Milho Verde encontra-se à borda do Espinhaço, em uma região onde o solo ainda oferece possibilidades maisrazoáveis de plantio. Ao norte, adentrando-se o que era o Distrito Diamantino, e a oeste, do outro lado do rioJequitinhonha, escasseiam os terrenos cultiváveis. Entretanto, a viabilidade econômica da atividade agrícolalocal sempre foi determinada pela relativa fertilidade do solo em Milho Verde com relação às restantesregiões mineradoras de diamantes. Após o declínio da mineração, as atividades agrícolas em Milho Verdeforam paulatinamente substituídas por pastagens, que têm se estendido a áreas onde esta utilização do solonão é sustentável, pois nem todo o solo ao redor da localidade apresenta condições para cultivo ou pastagem(MRS, 2005: 8-15). Adjacentes a leste e a norte da localidade, encontram-se terrenos pedregosos e de campo,similares aos que predominam na região do Espinhaço (mapas elaborados pelo autor; vide observaçõesrelativas à elaboração na Figura 6, constante à página 62).
83
Nas Minas coloniais, de um modo geral, à corrida da mineração sucedeu um estágio
de ocupação da terra. Gradativamente, aumentava a produção agrícola na Comarca do
Serro Frio, com a acomodação no campo da população sempre crescente e a mão-de-obra
escrava, ociosas com o declínio da mineração. Surgia um mercado de terras e eram
crescentes os cuidados com a posse, demarcação e melhor aproveitamento dos terrenos
produtivos (MENESES, 2000: 124;126;128-130; FURTADO, 1996: 45-46).
No dizer de Werneck Sodré: “A mineração configura a desvalia da terra. [...] A valia
da terra vem com o declínio aurífero. Na fase ascensional, ela carece de sentido” (SODRÉ,
1964: 136-137). Ou então, segundo Waldemar Barbosa, que assinala os primeiros sinais de
declínio das lavras já por volta do segundo quartil dos setecentos: “pelas sesmarias
concedidas, percebe-se a fuga da mineração desde meados do séc. XVIII” (1971: 23;
MENESES, 2000: 128). No contexto geográfico mais específico desta pesquisa, Júnia
Furtado assinala um crescimento populacional na Comarca do Serro simultâneo ao
esgotamento do ouro (1996: 45-46).
Ao contrário dos veios auríferos, porém, as lavras adamantinas perdurariam com um
certo vigor para além dos tempos coloniais e, com elas, a centralidade de Diamantina na
economia regional. Após a interrupção definitiva das atividades da Real Extração, em
1841, a mineração receberia ainda um grande impulso: a chegada à região de novas levas
de mineradores independentes, empenhados em explorar com maior acurácia territórios
que o monopólio da Coroa havia dado por exauridos. Há que se ponderar também que, a
partir da liberação das lavras, a produção escamoteada pelo garimpo e contrabando
provavelmente manifestou-se mais abertamente nos fluxos econômicos. A população de
Diamantina aumentou de 12.354 habitantes em 1832 para 30.412 em 1890, e a demanda de
abastecimento por produtos agropecuários provindos dos arredores elevou-se
84
proporcionalmente (MARTINS, 2000: 285, 2004: 2-4; MATA MACHADO FILHO, 1980:
156-160).
A rigor, até os presentes dias, a mineração de diamantes não se encontra
completamente esgotada e somente foi considerada contraproducente após um “longo
crepúsculo” durante o séc. XX (SANTIAGO, 2006: 121). Perdeu, porém, a posição de eixo
da economia regional, após a acentuada queda nos preços internacionais do diamante,
ocorrida por volta de 1860.39 Depois dessa queda, e após aproximadamente uma década em
crise, Diamantina, aos poucos, reacomodou sua economia em atividades de indústria e
comércio. Essa resposta proveio da mobilização das elites políticas e administradoras
públicas diamantinenses, que promoveram a alocação do capital minerador – e da
abundante mão-de-obra disponibilizada mais tarde pela Abolição – em tecelagens e em
uma série de pequenas manufaturas e indústrias leves:
Em diversos locais do município, havia pequenas fundições de ferro, quefabricavam facões, enxadas, machados, pregos, fechaduras, etc. Eram muitas as“fábricas” de aguardente e rapadura. Em Gouveia e Diamantina havia 19lapidações de diamante na virada do século, além de curtumes de couro, fábricasde chapéus de couro e palha. Diamantina tinha ainda pequenas fábricas de sabão,de velas, de cigarros, de óleos e tintas, de pólvora, cerâmicas (produção de telhase tijolos). [...] fábrica de massas e biscoitos. Pequenas oficinas produziamroupas, calçados e preparados farmacêuticos (MARTINS, 2000: 289).
As tecelagens eram quatro, das quais a primeira e mais famosa foi Biribiri; fundada
pelo Bispo de Diamantina, Dom João Antônio dos Santos, com propósitos sociais, a
fabrica tinha a organização produtiva e da força de trabalho regida por estatutos religiosos.
Utilizavam matéria-prima da região, em especial o algodão plantado no Jequitinhonha. Os
39 O impacto derivou da exploração de jazidas descobertas por ingleses em Kimberly, na África do Sul. Odiamante africano é retirado diretamente da rocha por meio de escavações e não a partir de depósitosaluvionais. Um tipo similar de mineração havia sido empreendido pioneiramente, cerca de uma década antes,na própria região Diamantina, na localidade de Sopa (CHAVES e MENEGHETTI FILHO: 520).
85
principais mercados para os produtos têxteis diamantinenses foram o regional, o Norte de
Minas e Belo Horizonte (MARTINS, 2000: 289;300).
A partir de então, Diamantina estava consolidada como o pólo de comércio para todo
o Nordeste mineiro, centralizando e abastecendo de produtos as rotas regionais
(MARTINS, 2000: 288). Este “Grande Empório do Norte”, como foi chamada, manteria a
vitalidade até aproximadamente a década de 1950, quando a implementação de um acesso
rodoviário (Rio-Bahia) desarticulou, por fim, a antiga rede de transporte regional: passando
através de Diamantina e Serro – e, destacadas para o interesse da presente exposição,
também por Milho Verde e São Gonçalo – os tropeiros ligavam todo o Vale do
Jequitinhonha e algumas outras regiões mais ao norte com os centros econômicos ao sul.
Mesmo após perder a exclusividade de passagem oficial, após a abertura da
Demarcação, em 1821, Milho Verde permaneceria um entreposto no melhor caminho entre
o sul e toda a região nordeste da Província de Minas, beneficiando-se em participar das
economias comercial e agrícola associadas, e das facilidades de acesso e transporte de
mercadorias. Os comboios cargueiros, meio exclusivo de transporte (o caminho por Milho
Verde, até 1928, não era sequer carreável), e principal de locomoção, permaneceram
passando pela localidade, sem alteração significativa de percurso ou meios, ao longo de
quase dois séculos. Somente no trajeto de Serro a Diamantina, as tropas gastavam, no
mínimo, três dias para percorrerem a distância de aproximadamente 60 km (MARTINS,
2000: 295).40
40 Evandro Sathler descreve o cotidiano dos tropeiros no livro Tropeiros e outros viajantes, diário da recenteExpedição Spix e Martius. Constítuida por uma tropa de burros, a expedição refez em 1999 parte do caminhopercorrido pelos dois viajantes em 1818. Sathler apresenta uma grande quantidade de depoimentos colhidosde diversos tropeiros aposentados, entrevistados ao longo do trajeto percorrido entre Ouro Preto e
86
Com a implementação de uma estrada de ferro entre Belo Horizonte e Diamantina,
em 1914, inaugurou-se uma série de alterações viárias que terminariam por desarticular e
tornar redundante o antigo caminho Vila do Príncipe-Tejuco. Era um processo de
implicações profundas pois, com o passar dos anos, não somente este antigo caminho
estaria obsoleto, como também toda a logística de transporte que sustentava a vitalidade
comercial e industrial de Diamantina.
Na década de 1920, além da estrada de ferro ligando Diamantina a Corinto, haviaduas estradas tronco: Diamantina-Serro [o antigo caminho] e Diamantina-Capelinha [prolongamento em direção ao Nordeste]. Nessas estradas, começavama circular automóveis. Havia ainda duas estradas para carruagens, Diamantina-Corinto (aproximadamente 2,5 dias de viagem) e Diamantina-Curvelo(aproximadamente 3 dias de viagem), ambas em desuso por causa dofuncionamento do ramal ferroviário. A existência dessas estradas, contudo, nãosignificou o desaparecimento das tropas de comércio no Nordeste de Minas, nosanos 20, 30 e 40 [...] as tropas ainda eram o principal meio de transporte em toda aextensão do Vale do Jequitinhonha. Afluíram diariamente a Diamantina vindas detodos os quadrantes regionais (MARTINS, 2000: 294).
O monopólio regional, condição de sobrevivência da pequena indústria
diamantinense, após a implementação da Rio-Bahia (BR 116) deixaria de existir. A nova
rodovia, além de trazer competidores importados de São Paulo e Rio de Janeiro, escoaria
doravante, diretamente para os grandes centros, a produção agropecuária do Vale do
Jequitinhonha. Assim, devido aos seus “limites estruturais”, a partir de 1940, a cidade
iniciou um rápido processo de desindustrialização: já à década de 60, quase nenhuma das
fábricas e pequenas manufaturas permaneceria ainda em operação (MARTINS, 2000:
281;294;296-297). Marcos Lobato Martins vai ao fulcro de toda a questão:
A atividade intensa das tropas em torno de Diamantina [...] deve ser apreendidacomo uma bem preservada persistência do antigo sistema colonial de circulação.O que significa que o Vale do Jequitinhonha ainda era um encravamento
Diamantina. A diversidade e mobilidade social do tropeiro e a complexidade e importância da atividade, hojeextinta, transparecem vividamente nos depoimentos e na caracterização pormenorizada provida pelo autor(2003).
87
histórico-geográfico, um espaço tempo parcialmente comunicante que sedesligava das estruturas fundamentais do passado muito lentamente (MARTINS,2000: 296).
A economia diamantinense deparou-se, além disso, com diversos outros entraves que
também dizem algo acerca das condições formacionais regionais. O capital minerador, no
entender de Martins (2004), não estava verdadeiramente engajado no processo de
industrialização. Pelo contrário, encontrava-se disperso em demais regiões de Minas e na
nova capital, imobilizado em fazendas e outros bens imobiliários.
[...] foram poucos os homens ligados ao mundo do garimpo que tiveram a coragemde diversificar seus negócios, investindo no comércio e na indústria. A maioria dosgrandes mineradores contentou-se em reproduzir suas atividades tradicionais, quaissejam: extrair, comprar e vender diamantes, adquirir imóveis e oferecer pequenoscapitais de empréstimos a familiares e amigos. O fracasso da lapidação emDiamantina é sinal de que estes mineradores estavam mal preparados para ajudar aregião a formular alternativas de desenvolvimento econômico, na virada do séculoXIX para o século XX (MARTINS, 2004: 19).
O ciclo de industrialização experimentado entre 1870 e 1920 seria devido, em sua
maior parte, ao incentivo e iniciativa de famílias tradicionalmente ligadas à política. O
autor aponta também que a organização do trabalho industrial era em grande parte
influenciada pela Igreja, conformando-se segundo estatutos de cunho religioso e ascético.
As relações de troca comercial – em um ambiente de escasso meio circulante, pagamentos
em gêneros, e ausência de rede bancária e de práticas de crédito – estavam imbuídas, na
cultura local, de uma resistência quanto à aceitação da racionalidade capitalista, regendo-se
por conceitos como reciprocidade, generosidade e repúdio ao entesouramento (MARTINS,
2000: 298-301). Diamantina havia se industrializado, mas nem por isso,
concomitantemente, se “modernizado”.41
41 A respeito de uma antiga vitalidade política regional, vide o Glossário – Políticos proeminentes do Serro ede Diamantina.
88
As companhias estrangeiras de exploração mineral (americanas, francesas e inglesas)
atraídas no início do séc. XX para a região, não favoreceram, ao contrário do esperado, a
acumulação interna e a infra-estrutura. Atuando de forma especulativa e empregando
pouca mão-de-obra, as minerações estrangeiras reforçaram a percepção, historicamente
instilada na cultura local, de continuidade de evasão do produto diamantino, e de seu lucro,
em prol dos interesses externos. A atuação destas companhias terminou se revelando
espúria: mal administradas, utilizando técnicas pouco condizentes com as condições locais
e empregando mão-de-obra mineradora para o trabalho em condições praticamente
idênticas às tradicionais, passaram de quinze, em 1909, para apenas três na década de 50
(MARTINS, 2000: 290;299-300, 2004: 4). Evidentemente, contribuiu para este quadro o
inadiável esgotamento das jazidas.
Portanto, resumindo-se o exposto com relação ao apogeu comercial da “Atenas do
Norte”: Diamantina, grande consumidora de gêneros, centro comercial e viário para toda
uma extensa área e praça de negociação de minerais preciosos (MARTINS, 2000: 287-
288), polarizou fortemente a economia regional durante o séc. XIX, a partir da
Independência e durante boa parte do séc. XX. A posição de eixo viário e cidade pólo do
Nordeste mineiro, antes ocupada pela Vila do Príncipe devido às restrições da
Demarcação, agora lhe pertencia. Permanecendo ativamente mineradora, negociava com o
mercado internacional não apenas a lavra dos arredores, mas também minerais preciosos
diversos (incluindo ametistas, águas-marinhas, turmalinas, berilos, topázios e cristais de
quartzo, além de ouro e diamantes) vindos de um grande número de localidades situadas ao
longo do Vale do Jequitinhonha.
A atividade agrícola em Milho Verde manteve-se próspera enquanto não se
modificaram as rotas e meios de transporte, desarticulando o mercado regional de
89
abastecimento. Além disso, o reavivamento das lavras diamantinas pela mineração
independente estendeu-se também ao território de Milho Verde e de sua vizinha São
Gonçalo. Assim, tanto pela agricultura como pela mineração, a pequena localidade
encontrava-se vinculada ao pólo comercial diamantinense.
Seguindo-se pela direção oposta da estrada, em direção ao sul, não havia mercado:
consolidada como centro abastecedor agropecuário, e há muito tempo não mineradora, a
cidade do Serro não demandava nada da produção agrícola de Milho Verde e por ela não
transitava mais o comércio de minerais preciosos. Entretanto, os laços políticos não se
conformavam segundo a lógica dos laços econômicos. Diamantina fôra tornada
independente em 1832, desmembrando-se da Vila do Príncipe. São Gonçalo e Milho Verde
foram deixadas de fora desta nova jurisdição, separadas para além da delimitação recém-
designada ao longo do leito do Jequitinhonha. Antes englobadas pelo Distrito Diamantino,
que deixara de existir a partir da Independência, as duas pequenas comunidades
subordinariam-se doravante àquela que viria a se chamar, a partir de 1838, Cidade do Serro
(SANTIAGO, 2006: 10).
Os impactos causados a Milho Verde pelo esgotamento da vitalidade econômica
diamantinense e pela desarticulação do antigo eixo viário Serro-Diamantina foram
reforçados pelo contínuo decréscimo do rendimento da mineração independente, que
prosseguia sendo praticada pela população local. Prevalecia em Milho Verde, em termos
mesmo da economia familiar, um antigo sistema de complementação entre as atividades de
agricultura e mineração. Essa complementaridade era propiciada pela interrupção que as
chuvas impunham às atividades de mineração, deixando os trabalhadores disponíveis para
a lavoura. À medida que a mineração foi se esgotando, essa dupla atividade foi adquirindo
cada vez mais um caráter de economia de subsistência, já que os alimentos obtidos a cada
90
colheita asseguravam, por mais um período, a continuidade da incerta e cada vez menos
rentável prospecção das lavras. Esse arranjo foi descrito da seguinte forma por um dos
entrevistados, minerador aposentado, mencionado anteriormente:
Porque também, pra comprar aquilo tudo, ir pro garimpo catar pedra, não, aí elejá deixou o milho dele, ele deixou feijão. Engordava um porquinho, tinha otoicinho, a gordura. Aí ele ia pro garimpo mais tranqüilo. [e]
A partir do momento em que minerar foi-se tornando infrutífero, a alternativa
encontrada por uma grande parte da população do entorno rural da localidade foi emigrar,
pois nenhuma das condições de mercado que permitiram a inserção econômica da
atividade agrícola local ainda persistia: i) os mercados regional e diamantinense passaram a
ser em grande parte abastecidos remotamente; ii) as rotas de comércio regional deixaram
de passar por Milho Verde e as condições de transporte e oferta do produto local em outros
mercados se tornaram de precárias a inexistentes; iii) a cidade-sede do município, Serro,
que historicamente não constituía um mercado para a produção de Milho Verde, abastecia-
se a si própria e competiria com vantagens contra produtos da pequena localidade em
qualquer das praças da região; e, finalmente, iv) a complementaridade entre agricultura e
garimpo na economia interna da localidade também não mais existia.
Não somente a população rural emigrou. Toda uma antiga vitalidade urbana,
apontada por muitos dos entrevistados, rapidamente evanesceu. Esgotando-se a mineração,
as atividades de comércio, lapidação, ourivesaria e serviços públicos gradativamente
também deixaram de existir. Um dos mineradores aposentados, já mencionado
anteriormente, falou sobre uma outra Milho Verde que conheceu na primeira metade do
século passado. O grifo em itálico no trecho de entrevista transcrito a seguir é significativo.
Parece resumir o saldo formacional dos três primeiros quartis do séc. XX na localidade.
91
Aqui tinha lapidação, tinha dois hotéis... Tinha o quartel. Tinha uma boafarmácia. Tinha luz iluminada a querosene. Acabou mesmo. [...] aí, ficamos nahistória, por que ninguém é capaz de dizer. E se não fosse o turismo, é, não tinhaaqui, era a fazenda. Tinha acabado, sim. Ó, pelo menos o que parecia era acabar,mesmo. Aqui só ficaram as famílias, como diz, enraizadas aqui. No mais, todomundo foi embora. [c]
Quanto a dizer-se o “porquê de haver-se acabado”, ficou patente, ao longo das
observações e entrevistas realizadas para a presente pesquisa, que a quase totalidade dos
habitantes, mesmo entre aqueles que viveram o período de declínio da economia local,
identificam o esgotamento das lavras como razão principal para a estagnação econômica.
Segue o depoimento de um minerador aposentado, já mencionado:
[...] mas aí o que mais piorou foi mesmo o garimpo parado. Porque aindacontinuou um movimento de garimpo, aí, bomba42, tocando garimpo. Cortou, é oque fracassou mais também aqui foi isso. Depois, por sorte, foi chegando oturismo. [e]
Porém, a partir dos resultados obtidos pela presente pesquisa, parece mais acertado
entender o esgotamento econômico da localidade dentro de um processo amplo de declínio
da economia regional, com múltiplos desdobramentos, tal como se explicou anteriormente.
Os impactos econômicos para a localidade advindos de modificações no traçado viário
aparentemente não foram percebidos por entrevistados que viveram à época, talvez porque
as alterações no tráfego e o desuso do transporte por tropas não tenham sido abruptos. O
mesmo minerador aposentado que afirmou não ser possível identificar as causas do
declínio econômico da comunidade, e que é o mais idoso entre todos os entrevistados,
saúda as condições atuais:
42 Durante a década de 80 várias empresas e mineradores independentes utilizaram bombas de sucção para adragagem do leito do Jequitinhonha e afluentes. Interditados em 1989, alguns desses procedimentos aindacontinuam sendo realizados, de forma ilegal. Tiveram o duplo efeito de propiciar um último espasmo àeconomia da mineração, e de deixar um desastroso saldo de assoreamentos e danos à flora e fauna que afetamgrande parte da bacia do Jequitinhonha (ANTUNES 1998: 5).
92
Não, a vida aqui melhorou foi muito, mesmo, porque você imagina [...] daqui emBelo Horizonte você gastava três dias: um dia daqui até Diamantina, Diamantinalá um dia e uma noite de viagem, saía cinco da manhã, chegava o outro dia emBelo Horizonte às cinco da manhã [estrada de ferro]. Agora hoje você sai daqui,vai lá, faz compra e ainda dorme na sua cama. Não melhorou muito? [c]
Entretanto, um dos entrevistados, adventício, empreendedor de turismo, e atento
investigador das condições formacionais locais, sentencia:
O tiro final foi quando fizeram a estrada Curvelo-Diamantina [década de 30],isso realmente tirou o movimento de Diamantina daqui de Milho Verde. [f]
Marcos Lobato Martins apresenta este depoimento de um tropeiro da região de
Diamantina:
Fui tropeiro desde 1940. Tinha a idade de 23 anos. Mexia com cargueiro desdemenino. Parei com tropa porque passou a dar pouco. Os carros tomaram conta. Ocaminhão passava pela tropa várias vezes na estrada... passava carregado defeijão... tornava a passar de volta... passava de novo. O lote de burros carregavasó mil e duzentos quilos e o caminhão, além de carregar mais, andava maisdepressa. Em 62, eu ainda tinha mais de um lote de burros... levei para puxarlenha de retiro para as casas e as padarias de Diamantina (2000: 296).
Alguns entrevistados, naturais de Milho Verde, comentaram sobre a vitalidade
anterior do plantio na área rural e do comércio dos produtos agrícolas e mineradores locais.
Essa maior produtividade foi indicada nas entrevistas como prevalecente durante a
primeira metade do séc. XX: 43
Milho, feijão,44 arroz... [...] Isso era aqui abaixo, pra Barra da Cega... Do lado delá [oeste] era a roça, era a roça de, pode dizer, da comunidade. Porque um
43 Alguns dos entrevistados para esta pesquisa atuaram diretamente em plantio; um desses agricultores atuoutambém em comércio de tropas. Porém, os trechos de entrevistas selecionados a respeito de plantio ecomércio partiram de dois mineradores; embora nenhum dos dois tenha atuado diretamente em plantio, e umnão tenha atuado em comércio de tropas, ambos viajaram muito por toda a região e conheceram comfamiliaridade o cotidiano comercial em Diamantina e no Serro, desde aproximadamente 1930.44 O plantio conjugado de milho e feijão foi tão comum na região do Serro nos tempos coloniais como é hoje.Além de poder ser realizado simultaneamente e de atender às necessidades alimentares básicas, supre deração as criações. Além disso, o terreno para essa dupla plantação era preparado e semeado durante o períododas chuvas – o que anteriormente era uma vantagem, pois era uma época em que se interrompiam asatividades de mineração. A ociosidade temporária da mão-de-obra mineradora era aproveitada, portanto, emum rodízio lavra-lavoura (MENESES, 2000: 138).
93
plantava uma corda, o outro pra dar meio quilo, o outro dava seis pratos. Eraassim: pagava um arrendo pro dono do terreno. Mas de maneira que na colheitaaqui você só via milho chegando, na condução do lombo de burro. [c]
O entrevistado prossegue, enfatizando que a atividade agrícola não mais prevalece:
Daí pra cá é que [...] foi modificando e aí hoje quase ninguém planta. [...] Parouporque eles foram pegando a terra e já botando criação de gado, estão criandomais é boi. Já fracassô, mesmo... O tempo também não ajudou. A chuva jápegou manerá, as água já... num era como era, já foi modificando isso, e no fim,todo mundo foi parando, devagar, parando, parando, pronto. Hoje quase ninguémplanta. Quase ninguém. [c]
Em seqüência, assinala a anterior importância da atividade agrícola de Milho Verde
para toda a região do entorno:
É, naquele tempo produzia muito, todo mundo plantava, e aí colhia muito milho,muito arroz. Milho daqui abastecia essa região toda aqui, ó. Porque Milho Verdetá centrado. Milho Verde é o centro. É, tá ao redor daqui, ó: você começa emTrês Barras, Chacrinha, Capivari, Gonçalo, Vau, Fazenda Santa Cruz, Boa Vistade Laje, Engenho, Baú, Pedro Lessa, Ausente, e aí fecha em Três Barras. EMilho Verde está aqui, ó, no pivô. Tudo ao redor daqui. E o lugar mais longe é16 quilômetros. É Capivari, 16 quilômetros. [c]
O comércio associado à atividade agrícola, e o vínculo da população a estas duas
atividades também foram mencionados:
[...] Isso aqui fornecia Datas, esse Palmital, tudo que, fubá, que moía aqui, oscargueiros levando. Os cargueiro levavam tropa de milho lá pra Cuiabá, JuscelinoKubitschek, Gouveia, Presidente Kubitschek, São Gonçalo [...] Levavam dez burrocarregados de milho, eram vinte alqueires de milho. Que um burro carrega doisalqueires. Carregava, naquele tempo, e tinha quem também pegava peso. Hoje,meu filho, você num acha, ninguém mexe, rapaz, acabou. Ninguém quer fazerforça, mais não. Naquele tempo você chamava um pra trabalhar pra você, ou dois,vinha dez. [c]
Ao se explicarem as atividades do comércio de tropeiros surgiram, espontaneamente,
menções a diferenças entre Serro e Diamantina, tal como no depoimento transcrito a
seguir:
Do Serro pra lá tinha [...] muita plantação.[...] Agora Serro nunca prestou pracomércio, pra ir lá vender. Você podia comprar lá pra levar pra Diamantina. [...]Só do Itambé é que não vinha pelo Serro, que vinha aí por beirando a serra, saíaaí no Capivari, saía no São Gonçalo, e ia. Agora, saindo de São João Evangelista,de Sabinópolis [...] vinha aqui pelo Serro. E eram três, quatro lotes de burro aípela estrada. [e]
94
Alguns dos comentários acerca do comércio de tropas no Serro conduziram a
considerações e avaliações acerca da relação da população de Milho Verde com a cidade-
sede. Ao descreverem a lógica do comércio de tropas, quase imediatamente os
entrevistados figuraram constrastes entre Serro e Diamantina, e é importante assinalar que
as menções às dificuldades no comércio com o Serro também surgiram espontaneamente
nos depoimentos. Neste trecho, novamente se utilizou o itálico para destacar passagens
significativas:
Não, Diamantina, os tropeiros já forravam o balaio com palha pra vender a palha,o fundo do balaio, de palha pra cigarro. Serro, se você levasse uns ovos nãovendia, se você levar sua banana não vende, nada vende. Hoje ainda vai laranjadaqui pra Diamantina, pra vender em Diamantina. Porque hoje ela vem, poroutros lados, do Ceasa.45 Mesmo assim ela vende. E não, nada que você vaimexer no Serro resolve no mesmo dia. Sai daqui com um documento, nãoresolve, é uma tristeza. Hmm, triste mesmo. Se você achar um diamante aqui, sevocê levar pro Serro, não faz negócio, você tinha que levar em Diamantina, é oponto final, é em Diamantina, mesmo. Tudo é em Diamantina. [e]
Este outro depoimento descreve a relação de Milho Verde com as duas cidades
principais da região de forma bastante similar. Aqui também se grifou em itálico um trecho
significativo:
Não, tudo o que vinha da mata aqui era consumido em Diamantina. [...] E atéhoje, tudo que você levar em Diamantina, você vende. Até bosta de cavalo. Tudoque você levar lá, vende. Diamantina é uma cidade boa, rapaz. Consome tudo,tudo. [...] o Serro é uma agonia, eles não dão nada... Não, lá não vende mesmo, ésó fazenda [...] [c]
Na continuidade deste último trecho de entrevista transcrito, quando se lhe perguntou
a opinião acerca de Milho Verde ser um distrito do Serro, o entrevistado apenas lamentou:
Ah, pertence Serro. Eu acho esse trem mal, mal... [c]
45 Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A, com sede principal na Grande Região Metropolitana deBelo Horizonte.
95
Para que se tenha uma idéia do quanto está arraigada a percepção de que a cidade do
Serro é considerada restrita, mal aparelhada e morosa no que se refere aos assuntos
cotidianos ou comerciais da população de Milho Verde (e, talvez, de que seja equivocada a
vinculação a este município), foi observado que as pessoas, ao invés de dizerem, por
exemplo, “amanhã vou ao Serro”, dizem, por troça, “amanhã vou ao erro”. Isso se repete
com muita freqüência e é dito às vezes quase sem pensar, em tom de galhofa, temperando
o desânimo com a ironia.
Indagado sobre as implicações da filiação ao Serro para a atividade turística em
Milho Verde, um tema que se mencionará novamente adiante, um empreendedor de
turismo, adventício, resume laconicamente o interesse econômico pelo turismo por parte
das elites da cidade-sede:
O Serro é uma cidade de fazendeiro rico, é uma fazenda, não é uma cidade. OSerro todo está na mão de três famílias que já têm tudo. Vão fazer pra quê? Játêm tudo. [g]
O diagrama a seguir (Figura 9) sintetiza a condição periférica de Milho Verde nas
duas principais economias em que esteve inserida. Na seqüência, foram dispostos três
mapas; o primeiro (Figura 10) demonstra a posição de Milho Verde no antigo percurso
tropeiro para Diamantina e Vale do Jequitinhonha, assinalando a centralidade econômica
da localidade em relação ao seu entorno. Os dois mapas seguintes (Figuras 11 e 12)
mostram as transformações viárias, micro e macroregional, que desarticularam o percurso
através de Milho Verde.
Para possibilitar uma visualização rápida da seqüência de eventos formacionais
mencionados, é útil consultar-se a cronologia disposta no Quadro 2 (página 161).
96
Figura 9 – Posicionamento periférico de Milho Verde em duas regiões com distintas vocações econômicas
A localização no extremo oeste de regiões férteis, e extremo leste da região diamantífera e do Espinhaço,determinou uma vocação “intermediária” para o antigo arraial. Milho Verde era mineradora por origem, masagrícola por circunstância: possuía terrenos férteis em seus arredores, coisa rara na região, e a populaçãolocal estava proibida de minerar. Além disso, situada a meia distância entre a Vila do Príncipe e o Tejuco,postava-se no caminho por onde entravam víveres para abastecimento do Distrito Diamantino. Após aliberação das lavras para os faiscadores, mais ou menos por volta do término da Real Extração (1841), muitossítios considerados esgotados foram produtivamente abordados pela população local e por empresasestrangeiras. Assim, de um modo geral, a economia do garimpo reativou-se em toda a região diamantina,sofrendo porém um revés na década de 1860 (descoberta e exploração de diamantes na África do Sul,rebaixando o preço do diamante no mercado internacional), e gradativamente esgotando-se a seguir(SANTIAGO, 2006: 121). Entretanto, Diamantina manteve uma posição de pólo econômico regional atéaproximadamente 1950, graças à indústria e ao comércio, e permaneceu demandando o abastecimento porgêneros cultivados (MARTINS, 2000: 295-296). Há um exemplo da importância de Milho Verde comoabastecedora agrícola regional nos tempos coloniais em uma narrativa redigida por um filho ilustre dalocalidade, o escritor e educador Leopoldo Pereira. Ele menciona a história de um antepassado, o capitãoVicente Pereira, vindo de Portugal a mando do rei, trazendo consigo três gigantescas mós construídas na Ilhade Madeira, com o fito de “fornecer alimentação aos milhares de escravos que trabalhavam para a RealExtração” (SANTIAGO, 2006: 107-108 – ilustração elaborada pelo autor).
98
Figura 10 (página anterior) – Centralidade de Milho Verde com relação ao itinerário entre Serro eDiamantina e com relação ao acesso a esse itinerário por parte de pequenas localidades dos arredores
Milho Verde usufruía de uma posição vantajosa naquela que era a estrada principal, senão única, que levavaa Diamantina. A vantagem era quanto à possibilidade de atuar como entreposto tropeiro, congregando aslocalidades do entorno e também os itinerários mais longos de tropas vindas de diversas regiões ao sul e aleste, em direção a Diamantina. Sucessivos redesenhos e aprimoramentos no sistema viário descaracterizaramessse privilégio de acesso e centralidade desfrutados pela localidade. Como um vestígio da antiga vitalidadede um traçado de caminhos que tinha um de seus eixos em Milho Verde, encontram-se ainda os restos deuma ponte atravessando o Jequitinhonha, em um caminho que conduzia a algumas cidades a oeste, servidashoje pela rodovia asfaltada Serro-Diamantina. Atualmente, nada da antiga importância percebe-se.Desarticulada do sistema viário, e redundante na ligação entre Serro e Diamantina, que hoje se utiliza da viaasfaltada, a estrada de terra que serve a Milho Verde e São Gonçalo sequer recebe manutenção que a torneapropriada ao uso pela população das diversas pequenas comunidades situadas à sua margem ou próximas – epelo turista. Em anos recentes, tem permanecido quase intransitável. A liberação de verbas para a reforma darodovia – por meio de calçamento, e não asfaltamento – já foi feita, e as licitações para a obra encontram-seora em curso. A previsão é de conclusão da obra até o início de 2009. Esta reforma se dará no contexto definanciamentos concedidos ao Estado de Minas Gerais para a implementação de infra-estruturas, dentro doplano de desenvolvimento pelo turismo denominado Prodetur NE II, que beneficia diretamente também otrecho mais setentrional do roteiro da Estrada Real. Com esta reforma, o acesso do turista a Milho Verde, SãoGonçalo, Três Barras, Capivari e toda a região, a partir de Serro e de Diamantina, será tornado bastante maisviável. Além disso, acrescente-se outro dado importante: com o asfaltamento da MG 010 até o Serro, tambémincluído no escopo de financiamento pelo Prodetur NE II, e com conclusão também prevista para 2009, adistância viária total entre Belo Horizonte e Milho Verde, utilizando-se somente caminhos asfaltados ecalçados, diminuirá de 340 para 250 km (ilustração elaborada pelo autor).
99
Figura 11 – Modificações viárias que desarticularam e tornaram redundante o antigo caminho entre Serro eDiamantina
Quando concluída, em 1914, a estrada de ferro Belo Horizonte-Diamantina pertencia à companhia Vitória-Minas. Foi transferida para a companhia Central do Bras il em 1923, à RFFSA em 1941, e desativada nadécada de 60. Observe-se que, após a ativação da rodovia Serro-Diamantina, passando por Datas, a partir de1936, em um trajeto que corresponde hoje às rodovias BR 259 e 387, o obstáculo físico representado pelo rioJequitinhonha contribuiu para isolar ainda mais a região de São Gonçalo e Milho Verde. (É questionado se ocórrego que nasce entre Capivari e Três Barras é de fato a nascente do Jequitinhonha, tal como indicado nestemapa; acerca desta discussão, consultar Santiago, 2006: 96-100; mapa elaborado pelo autor, a partir deIBGE 1997a, 1977b, 1977c e 1978.)
101
Figura 12 (página anterior) – Modificações viárias (esquematicamente apresentadas) que desarticularam oantigo caminho de tropeiros para o Vale do Jequitinhonha
A função de Diamantina como pólo regional para todo o Nordeste mineiro era baseada em um intensotransporte de mercadorias por tropas de burros, meio tradicional de locomoção e abastecimento desde ostempos coloniais. Essa condição logística gradualmente desarticulou-se a partir da construção (anos 50) epavimentação (anos 60) da Rio-Bahia (BR 116), e também da ligação de Diamantina a Salto da Divisa (BR251, interceptando a BR 116 na altura de Itaobim). Este novo eixo viário favoreceu o escoamento daprodução do Médio e Baixo Jequitinhonha que, carente de rodovias, dependia até então, para ligação com osgrandes centros, exclusivamente do antigo percurso de tropeiros passando por Diamantina (MARTINS, 2000:296; como um complemento à visualização da articulação viária regional no séc. XIX, vide também osantigos trajetos dos Correios em Minas Gerais em BONSEMBIANTE, 2005: 68-69 – ilustração elaboradapelo autor).
102
2.1.5. Uma pré-modernidade ilhada
Ao descaracterizar-se o papel de Diamantina como pólo regional, toda a antiga área
de influência da cidade terminou por não ser incluída nos planejamentos econômicos dos
anos 40, 50 e 60 – segundo Martins (2000), em grande parte devido à perda de
representação política regional no cenário nacional. O Vale do Jequitinhonha foi relegado,
a partir de então, à condição de região deprimida economicamente e reservatório de mão-
de-obra para a modernização econômica do centro de Minas Gerais (2000: 302). A
pequena urbanização e constante evasão dos habitantes de toda a região, a partir de 1870,
dificultaram o aprestamento de mão-de-obra para os empreendimentos locais. A emigração
da população rural, “marca constante do Vale do Jequitinhonha” (GALIZONI, 2000: 905)
se deu, inicialmente, principalmente em direção às zonas cafeeiras de São Paulo, Paraná, e
Zona da Mata e Sul mineiras (MARTINS, 2000: 297-298). Ralfo Matos resume a
caracterização regional contemporânea desta forma:
As populações do Vale do Jequitinhonha ainda ostentam indicadores típicos deregiões deprimidas, tais como: alta mortalidade infantil e baixa esperança devida, níveis de fecundidade relativamente elevados, forte evasão de migrantespara outras regiões e estados, expressiva proporção de residentes em áreas rurais,distribuição etária des igual exibindo grande proporção de crianças e idosos(2000: 885).
Com relação aos fluxos emigratórios atuais, Matos (2000) destaca o declínio da
população do Jequitinhonha em anos recentes (década de 90). Assinala também um
importante movimento rural-urbano dentro da própria região (êxodo rural e aumento da
urbanização na região). O emigrado do Jequitinhonha – em sua maioria jovens abaixo de
28 anos e, em uma proporção ligeiramente acima da média, provenientes da zona rural –
pode ser encontrado em maior número no restante de Minas Gerais, com ênfase para Belo
Horizonte e Região Metropolitana, e também em São Paulo e na Bahia (2000:
897;899;902-903).
103
Tanto Milho Verde como toda a região de Diamantina encontram-se inseridas em um
mesmo quadro de condições históricas e estruturais atinente ao Vale do Jequitinhonha. As
questões sociais em Milho Verde estão assinaladas no Índice de Desenvolvimento Humano 46
– IDH do município do Serro (0,658), situado aquém da média estadual (0,773), e mesmo
nacional (0,699). As políticas públicas governamentais apresentam-se bastante deficitárias
no que se relaciona à saúde, educação, proteção à natureza e infra-estrutura (IPEA, 2003).
Nesse espaço, mobilizam-se diversas organizações do Terceiro Setor, sediadas local ou
externamente, e de âmbitos e cunhos de atuação variados. Entretanto, esse conjunto de
iniciativas consegue suprir apenas pontual e paliativamente as necessidades da população.
O IDH no Serro apresentou um crescimento de 9,30% entre 1991 e 2000, com
melhorias significativas em educação, renda e longevidade. Segundo indicadores de renda,
pobreza e desigualdade utilizados pelo IBGE, 68,4% da população do município do Serro
situavam-se, em 2000, abaixo da linha de pobreza. O acesso domiciliar da população a
serviços de telefonia era de 9,7% e a computadores, 2,3%. Entre as crianças, 82%
pertenciam a famílias com renda inferior a meio salário mínimo. Todos esse dados devem
ser relativizados, considerando-se que as estatísticas abrangem todo o município do Serro,
o que inclui os 56,12% da população total residentes nas áreas urbanas da cidade de Serro
e demais cidades e vilas, que desfrutam de melhores condições em relação à população da
zona rural (IPEA, 2003).
A antropóloga Flávia Galizoni (2000), analisando as articulações entre família, posse
de terra e migrações no contexto histórico-geográfico do Vale do Jequitinhonha ao final do
46 Os dados do IDH municipal, estadual e nacional foram obtidos a partir das informações reunidas pelocenso demográfico do ano 2000, realizado pelo IBGE. Vide também o Glossário – Índice deDesenvolvimento Humano.
104
séc. XIX e ao longo do séc. XX, descreve algumas mudanças que contribuíram para a
intensificação dos fluxos emigratórios da região. Segundo Galizoni, graças à
disponibilidade de terras arrendáveis (mediante a paga de uma fração da colheita ao
proprietário) ou “posseáveis”, as famílias se acomodavam integralmente na região,
praticando a modalidade tradicional de plantio em rodízio de terras (os terrenos são
plantados em anos alternados, deixando-se a terra “descansar” inativa por um período).
Com o passar do tempo, porém, foi-se restringindo o espaço necessário a esta agricultura
itinerante. Assim, surgiu a necessidade de se adquirirem os terrenos e a mobilidade das
famílias no âmbito rural foi sendo substituída por um movimento campo-cidade.
[...] os desajustes nas famílias de agricultores, frente às mudanças de formas deapropriação das terras, conjugadas ao processo de urbanização, resolvem-se cadavez mais pelo abandono das atividades agrícolas, pela migração urbana [...] pelapassagem a outro universo de cultura [...] a urbanização propicia aos lavradores apossibilidade de encontrar, em um plano diferente, os espaços necessários àmobilidade da família: a cidade se apresenta como sucessora do espaço eambiente rural, como forma de se desvencilhar de novas sujeições agrárias eeconômicas. [...] esgotada a possibilidade de mover-se no ambiente devido aofechamento de fronteiras ou a impossibilidade de acesso a novas terras, cria-seuma mobilidade que reconstitui, no âmbito social, o deslocamento que erapuramente ambiental e espacial. A migração reconstitui a mobilidade necessáriaaos agricultores, porém em outros patamares (GALIZONI, 2000: 907).
Uma grande parte dos membros das famílias deslocou-se – definitiva, temporária ou
ciclicamente – para outras regiões agrícolas ou para os grandes centros. Aliviava-se desta
maneira a pressão populacional determinada pela impossibilidade de alocação econômica
de todos os membros das famílias na restrita atividade agrícola. Exploravam-se, em outras
cidades e regiões, as possibilidades de complementação financeira para a aquisição de
terras nos locais de origem dos emigrados, bem como gado, implementos agropecuários,
materiais de construção e eletrodomésticos (GALIZONI, 2000: 905-907). Alguns aspectos
deste processo podem ser observados neste trecho de depoimento de um minerador
aposentado:
105
Foi saindo, pro Paraná, pra São Paulo... Pra ganhar dinheiro e levar uma vidamelhor. Outros pra estudar, filhos [...] Outra coisa também que o governoatrapalhou muito, [...] foi não podendo ter gente no terreno, que eles ficam sendodonos, com a [Lei do Usucapião.] Com esse negócio, foi todo mundo pra cidade,pra bóia-fria. De maneira que eles tinha porco gordo, tinha muito arrroz, milho,feijão, galinha de mato, mudou de num poder mais, e servia pro dono trabalhar,dava dinheiro e servia pra eles. Tinha leite, tinha fartura, tinha tudo. Hoje em diaas casa tão tudo aí no mato. Porque o dono num pode ter uma pessoa lá, que elafica sendo dona. E com isso ficou abandonado, também. [e]
Entretanto, embora também tenham contribuído para a evasão rural local, as questões
relativas à posse da terra e à lógica familiar de utilização da propriedade parecem não ter
sido o principal motivo para a emigração em Milho Verde. As principais causas, tal como
se demonstrou anteriormente, provavelmente foram: i) o esgotamento da economia agrária
ante a impossibilidade de escoamento e a perda da competitividade da produção agrícola
local, um fator ligado diretamente à emigração a partir da área rural; e ii) o esgotamento da
atividade mineradora, fator que, embora também possa ser associado ao declínio da
produção agrícola e à evasão da população rural, parece ter sido o que mais claramente
afetou a população da área urbana, não somente os mineradores diretamente implicados,
mas também os habitantes economicamente ligados ao comércio, artesanato e demais
serviços. É importante considerar-se que determinadas parcelas da população urbana, tais
como profissionais liberais, educadores e comerciantes, ao encontrarem obstáculos à
atuação em meio ao declínio da economia e à imobilidade das estruturas econômicas e
sociais regionais, tendem a emigrar com maior facilidade, o que de fato parece ter ocorrido
em toda a região diamantina.
De qualquer forma, as causas se somam, constituindo mesmo ciclos auto-
alimentados: emigrações rurais, destinação do solo à pecuária e desarticulação da produção
agrícola são todos aspectos inter-relacionados em termos de causa e efeito.
Muitos outros fatores podem ser mencionados, sendo difícil atribuir-lhes maior ou
menor importância: busca de melhores condições de formação educacional e de
106
crescimento profissional (tal como mencionado no trecho de entrevista anterior); busca do
conforto e maior estruturação dos grandes centros; ou mesmo questões relacionadas à
emancipação social de camponeses. Esse fator consta nitidamente do trecho de história
pessoal transcrito a seguir, retirado da entrevista de um agricultor aposentado. Face ao que
eram as características do trabalho rural na localidade – que, conforme uma menção
observada em uma conversação entre antigos habitantes locais, “trouxeram a escravidão ao
séc. XX” –, este entrevistado habitou por volta das décadas de 60 e 70 em outras cidades
de Minas Gerais, à procura de melhores condições financeiras mas, principalmente,
evadindo-se de um contexto opressivo:
[...] que a gente era escravo antigamente. Eu fui escravo dos outros, que eu fui.Até pra tomar um café, a cana era comprada. Cortava no quintal [...] a cana eramarcada, se cortasse uma cana no quintal marcava ela lá [em um caderno denotas]. Então, não vinha dinheiro pra gente. Descontava. Trabalhava no cabo daenxada, cortando com a enxada. De seis às cinco, às seis da tarde. [...] Sódescontava tudo isso. Um pratinho de fubá, descontava tudo. Pegava um bocadode feijão, marcava pra pagar. Tudo isso já passou comigo. [O patrão] quase quebatia em mim, que eu tinha que trabalhar só pra ele, não podia trabalhar pra maisninguém, ele virava um bicho, querendo bater, revólver na cintura... E foi aí queeu decidi minha vida, eu saí aí pelo sertão.
A continuidade do relato reforça a caracterização do monopólio senhorial sobre as
condições econômicas da população local:
[Certa ocasião] achei uma moita de sempre-viva, a flor. Na época, aqui, a florvalia muito dinheiro. [Um comerciante] queria comprar a flor, e ele [o patrão]sem querer deixar vender a flor pra outra pessoa, pra o que estava dando maisvalor na flor. O homem [o patrão] pegou e implicou, por causa disso aí [...]Pegou e implicou comigo, e me cercou lá embaixo, com o revólver na cintura:
“Ê menino! Se for vender a flor pra outro, se outro comprar a flor, entãodesaparece daqui, senão rebento a sua cabeça no tiro. Vou rebentar sua cabeça!”
com um revólver 38, eu não esqueço disso. “Então você desaparecedaqui.” Eu falei “Então eu vou desaparecer mesmo.” [...] desapareci, saí de lá,fui trabalhar [...] evitando do sofrimento. [h]
Retroativa com relação aos processos de transformação social encetados no contexto
minerador urbano colonial, consolidou-se no Vale do Jequitinhonha, a começar já no séc.
XVIII, uma estrutura sociopolítica de senhores rurais e campesinato, antepassada do ainda
107
contemporâneo coronelismo.47 Como é assinalado pelos historiadores, a ocupação rural da
colônia brasileira deu continuidade a estruturas da sociedade feudal portuguesa (SODRÉ,
1964: 27-32).48
É relevante apontar que, dado o isolamento em que se encontravam, e a constante
ameaça de ataques de índios, em um primeiro momento da colonização as “casas grandes”
dos senhores de terras constituíam verdadeiras fortalezas: muradas, portões de entrada
conduzindo a um pátio, janelas com seteiras. Mesmo após se desmilitarizarem, com o
progressivo jugo e extermínio do indígena, essas fazendas retiveram, até o séc. XIX,
aspectos como a proximidade dos prédios e um regimento de “vida em comum”; habitando
sob um mesmo teto, senhores e servos – tal como em uma fortaleza medieval, em que o
espaço de moradia era também o espaço de produção – realizavam ali todas as ocupações
do dia-a-dia, com exceção da lavoura (FARIA, S. C., 2005: 57-58).49 Distantes dos centros
de ocupação mais antiga e adjacentes a regiões não colonizadas, as casas de fazenda da
Comarca do Serro retiveram por muito tempo essa configuração de fortaleza.
A sesmaria concedida implicava, na prática, sob muitos aspectos, uma propriedade
também sobre o indivíduo que a habitava. Os escravos, os forros e os mestiços, bem como
a população pobre de origem portuguesa, figuravam como caricaturas extemporâneas do
servo aldeão medieval. A caracterização de Bomfim, valorativa e polemista, nem por isso
consta como inexata: “Nos campos, o colono fazendeiro, arremedo do senhor feudal,
constituiu desde logo uma fidalguia territorial, pretensiosa, arrogante, brutal, ignorante e
47 Vide Glossário – Coronelismo.48 Vide a respeito também Freyre (2001: 107-108).49 Vide a respeito também Spix e Martius (1981: 18).
108
onipotente sobre a camada de escravos [...]” (2005: 162). No Jequitinhonha, bem como em
muitas outras regiões do Nordeste e Centro brasileiros, essa extemporaneidade, ao invés de
ser superada por uma crescente urbanização e modernização, prevaleceu e persistiu. Nesse
contexto, as emigrações da população rural, entre prós e contras, tiveram um componente
positivo principal de “[...] emancipação de relações permanentes de dependência pessoal
entre lavradores e latifundiários” (MARTINS apud GALIZONI, 2000: 909).
Os processos modernizadores brasileiros ocorridos ao tempo da República Velha e
Estado Novo não lograram, em grande parte, tal como mencionado anteriormente,
manifestarem-se na região do Vale do Jequitinhonha.50 Celso Furtado descreve as
condições sociopolíticas e sócio-econômicas que determinaram a prevalência do poder
latifundiário na vida política brasileira, no início do séc. XX:
A escravidão fôra abolida no plano jurídico (1888), mas a unidade social básicacontinuava a ser o grande domínio agrícola. Êste era, simultâneamente, omecanismo econômico que permitia extrair um excedente comercializável dasgrandes massas rurais e o marco dentro do qual se organizava a sociedade e seestruturava o sistema de poder. O grande domínio agrícola constituiu um formaextremada de descentralização do poder político. Nêle prevalecem as relaçõespessoais, e as normas jurídicas vindas de fora somente penetram na medida emque se conciliam com a vontade do chefe local (FURTADO, C. 1977: 3).
A descrição de Celso Furtado cobre um grande panorama generalizado de
estruturação sociopolítica que difere, em alguns aspectos, das condições específicas
encontradas em Milho Verde. No que se refere à situação local, algumas considerações
devem ser feitas: i) o poder oligárquico em Milho Verde não se originou de grandes
latifúndios e não atingiu expressão regional, apenas uma restrita influência local; o
verdadeiro poder latifundiário da região, continuador dos antigos baronatos, estruturou-se a
50 Vide Glossário – Políticos proeminentes do Serro e de Diamantina.
109
partir de grandes propriedades situadas a leste e que ocupam áreas agropastoris mais
férteis, próximas à cidade do Serro; ii) o poder agrário em Milho Verde conviveu com
estruturas sócio-econômicas próprias da economia da mineração ao longo de todo o séc.
XIX, e até meados do séc. XX, não somente no âmbito das atividades mineradoras e
comerciais na localidade, mas também com o intenso comércio de tropas, além da presença
de empresas mineradoras e de uma estrutura sociopolítica urbana mais consolidada na
adjacente São Gonçalo do Rio das Pedras; iii) o poder agrário local não é um herdeiro da
antiga sesmaria agropecuária, isolada na região rural, mas sim dos empreendimentos de
mineração locais que utilizavam mão-de-obra escrava, e de empreendimentos agrários
destinados ao suprimento do Distrito Diamantino; e iv) o declínio da economia regional e
local ocorrido em meados do séc. XX, juntamente com o esvaziamento urbano decorrente,
representou uma condição de retrocesso que permitiu uma consolidação tardia de um poder
oligárquico em Milho Verde, a ser aqui denominado “senhorial” (embora, como toda a
população local, os entrevistados façam menção a “coronéis”,51 essa denominação não
corresponde com exatidão às condições de dominação oligárquica que prevaleceram na
região).
A definição para este termo “poder senhorial” a ser aqui adotada será a de um poder
de mando e econômico exercido e mantido pela força, patriarcalmente constituído, baseado
em condições sócio-econômicas herdadas de antigas estruturas de senhorio escravocratas e
correspondente a um tipo ideal de dominação tradicional, tal como estipulado por Max
Weber (1969 [1922]: 180-193):
51 Vide Glossário – Coronelismo.
110
Deve-se entender que uma dominação é tradicional quando sua legitimidaderepousa sobre a santidade, ordenações e poderes de mando herdados “desde umtempo imemorial”, recebendo crédito devido a essa santidade. O senhor ou ossenhores estão assim consagrados em virtude de regras tradicionalmenterecebidas (1969: 180 – tradução livre; grifo e aspas cf. Weber).
A marca deixada pelo poder senhorial em Milho Verde é um dos traços histórico-
formacionais isolados mais relevantes, dada a influência recente que representou para
diversos aspectos da vida econômica, para a organização comunitária, e talvez mesmo para
a própria feição semi-rural da localidade. O esgotamento da economia local restringiu a
autonomia dos habitantes, tornando possível o estabelecimento de um monopólio
comercial por parte dos senhores locais. A venda de víveres, o emprego da mão-de-obra
rural e o transporte motorizado para Diamantina ou Serro se davam quase exclusivamente
através dos meios disponibilizados por estes proprietários de terra. O acesso das
populações rurais às instituições públicas no Serro e em Diamantina era intermediado pelos
senhores e essa intermediação era, por vezes, utilizada como instrumento de coação.
Somente se pôde revogar este cenário a partir da chegada do turismo, que trouxe novas
alternativas de inserção econômica. De uma forma crescente, a renda direta e indireta
provida pelo turismo chegou a atingir uma grande parte da população. O poder senhorial
local reforçou-se e, a seguir, descaracterizou-se, portanto, a partir de modificações na
economia.
Um habitante, nascido em Milho Verde, e deliberadamente não identificado aqui
(omitindo-se, para isto, o código ao final da transcrição), diretamente ligado à economia do
turismo, manifestou-se assim com relação à superação do poder oligárquico na
comunidade, e às seqüelas remanescentes:
Ah, eu acho que Milho Verde sempre foi muito preso. Desde quando eu meentendo por gente, como diz o povo, eu já conheço Milho Verde assim “Ah,que Milho Verde sempre foi mandada.” É que tinha uns coronéis aqui quemandavam no povo. Então o povo ficou muito preso. Quando libertou doscoronéis daqui, aí já tinha preso assim, porque já fica com medo. “O tempo
111
que era pra eu fazer eu não fiz...” aí isso foi passando pros filhos [...] Pessoalsempre foi muito mandado. Aliás, acho que o povo foi crescendo nisso, semacreditar nas pessoas... Agora está livre dos coronéis, não restou nada. [Mas] temuma marca. Isso caminha atrás das pessoas. Acho que o povo não conseguiuainda ser independente, não conseguiu lutar, não conseguiu criar coragem...Ficou travado, e nunca teve oportunidade de lutar. Pra ficar mais independente...Acostumou naquela vidinha “Ah, não, eu vou fazer só se fulano deixar.”Então, fica aqui um povo muito sem iniciativa.
As modificações econômicas e sociais atravessadas por Milho Verde ao longo do
séc. XX podem ser ilustradas pela metáfora de uma hibernação, lentamente estabelecida a
partir da estagnação e intensa emigração, chegando-se ao perigeu econômico e
populacional em aproximadamente 1970. Nesse momento, a economia local constituía-se
basicamente de esparsas atividades de mineração, que seriam logo em seguida reavivadas,
tal como mencionado anteriormente, durante um breve período, pela introdução de dragas.
Dado que os senhores locais também empreendiam este tipo de mineração, a proibição da
lavra mecânica (em 1989) teve um efeito sinérgico ao do incremento da atividade turística
no processo de desarticulação econômica do poder senhorial. Estava a ocorrer um
crescente desmatamento das fazendas, em que se destinavam a lenha obtida às carvoarias,
e os terrenos à pecuária. A maior parte da população remanescente, tanto rural como
urbana, passava a praticar então uma economia que pode ser definida como de
subsistência.52
A atividade de subsistência era possível mesmo à população urbana, graças à
configuração dispersa das casas, à maneira de um chacreamento (e que constitui um
aspecto distintivo da urbanização da localidade). Cada quintal, com seu pequeno plantio,
horta, pomar e criação de animais assegurava, por si só, grande parte das necessidades de
alimentação de uma família. Assim, estava caracterizada uma peculiar “cidade-roça” –
52 Vide Glossário – Economia de subsistência.
112
isolada, por força das circunstâncias geográficas, logísticas e econômicas, das
transformações culturais, políticas e tecnológicas da sociedade de então. Esse caráter de
“ilha no tempo”, ao mesmo tempo atrativo e frágil face às movimentações do turismo que
viriam a ocorrer, foi vividamente caracterizado no trecho de entrevista que segue,
transcrito do depoimento de um empreendedor de turismo, adventício em Milho Verde,
mencionado anteriormente:
Olha, de ter vindo pra cá e vivido a passagem do milênio aqui, sempre achei quenós estamos entrando no século XXI, enquanto aqui não saiu nem do século XIXainda, nem do XVIII. [a]
Rodrigo Duarte assinala, não sem perplexidade, que a atual Igreja do Rosário,
construída no início da década de 60 em substituição a um edíficio anterior,53 reproduz
consistentemente aspectos da antiga arquitetura tradicional; a razão para isso, deduz o
autor, reside justamente no isolamento da comunidade:
A organicidade da capela tão tardiamente erigida (posterior, por exemplo, àconstrução da Igreja de São Francisco de Assis da Pampulha de Niemeyer –marco nacional e internacional da arquitetura moderna!) pode ser explicada, pelomenos em parte, pelo arcaísmo predominante no local [...] [Como exemplo,] àépoca da construção da capela, quando ainda não havia luz elétr ica em MilhoVerde, portanto, inexistia qualquer aparelho que pudesse receber eletronicamenteinformações vindas de fora [...], chegou um forasteiro ao Arraial e perguntouporque os seus moradores não haviam aderido ao luto oficial de uma semana emvirtude da morte trágica de Getúlio Vargas. A razão era muito simples: dias apóso suicídio do presidente ninguém no lugar sequer sabia do acontecido. [...] pode-se pensar que uma comunidade totalmente isolada como era a de Milho Verdenos anos cinqüenta, exatamente em virtude do enorme arcaísmo de suas relaçõessociais e econômicas, legou-nos o prodígio de uma construção contemporâneaque preservou espontaneamente traços construtivos habituais há quase duzentosanos na arquitetura sacra mineira." (DUARTE: 5)
53 Conforme Santiago pôde averiguar, o edifício anterior foi construído no séc. XIX (2006: 113); o cemitériositua-se sobre os alicerces do antigo prédio (DUARTE: 4). Piva et al precisaram 1961 como a data deconstrução do novo edifício e informam também que a antiga igreja teria sido demolida no início dos anos 50,por se encontrar em estado precário (2007: 10). A denominação “Capela” é às vezes atribuída ao prédio atual,em função das dimensões reduzidas da reconstrução; entretanto, por tratar-se de um edifício em que secelebram, embora não periodicamente, todos os ritos litúrgicos; por estar vinculado à numerosa Irmandade doRosário; e porque a denominação “Matriz” ainda se atribui ao único outro templo da localidade (a Igreja deNossa Senhora dos Prazeres), considerou-se apropriado designá-lo “Igreja” ao longo da presente dissertação.
113
Todo o histórico de transformações decorrente do esgotamento da economia regional
também foi vivido, paralelamente, mas em condições diversas, pela vizinha São Gonçalo –
muito próxima, também visada pelo turismo, mas bastante distinta em termos geográficos,
econômicos, urbanísticos, sociopolíticos e culturais. As diferenças apresentadas na
absorção dos impactos causados pelo turismo nas comunidades de Milho Verde e São
Gonçalo do Rio das Pedras são muito marcadas e reveladoras. Para o âmbito da presente
proposta de estudo, foram realizadas entrevistas com alguns habitantes de São Gonçalo,
escolhidos em virtude de serem conhecedores das condições sociais e econômicas
formacionais da região. Estes entrevistados expressaram-se algumas vezes, entretanto, em
termos de avaliações comparativas entre Milho Verde e São Gonçalo, positivas para os
objetivos do presente estudo, mas que não perfazem uma intenção de uma pesquisa
comparada, tal como em um estudo de casos múltiplos.
As comparações feitas pelos entrevistados versam, em geral, sobre as diferenças
formacionais entre as duas localidades e sobre as diferenças na resposta de ambas as
comunidades aos impactos do turismo. Para que o teor destes comentários possa ser
completamente apreendido, convém discorrer ligeiramente sobre as condições
formacionais de São Gonçalo, explicitando as distintas influências sofridas em relação às
de Milho Verde.
A relevância para a presente pesquisa dos comentários feitos por entrevistados de
São Gonçalo e das observações empreendidas naquela comunidade acentua-se a partir da
constatação de que as duas localidades encontram-se intimamente conectadas, afetando
diretamente uma à outra em relação à absorção dos impactos do turismo, a partir de suas
dinâmicas sociais e econômicas internas.
114
Distante aproximadamente sete quilômetros54 em direção ao interior do antigo
Distrito Diamantino, “primeira exploração de diamantes que se encontra no Serro Frio” na
época de Mawe (1978: 151), São Gonçalo difere fundamentalmente de Milho Verde, tanto
por não haver atuado como entreposto de fronteira, como por se haver consolidado às
margens de uma lavra. A maior parte das caracterizações na literatura assinalam,
entretanto, a semelhança entre as localidades, e não as diferenças. Jorge Pereira Filho, um
genealogista contemporâneo, descreve-as assim:
Os antigos arraiais de Milho Verde e de São Gonçalo, pertencentes à Vila doPríncipe, hoje Serro, MG, são tão próximos e têm origens tão semelhantes, quepodem ser considerados “gêmeos”. Ambos se encontram encravados nos camposque se situam entre o Serro, MG, e Diamantina, MG. A origem de ambosremonta provavelmente ao início do século XVIII, no início da mineração doouro e antes da dos diamantes (PEREIRA FILHO, 2006, 9).55
A atividade de mineração ali foi bastante mais intensa do que em Milho Verde,
havendo ocorrido o contrário com a agricultura. Assim como abrigou mais continuamente
serviços de mineração durante a Intendência e a Real Extração, São Gonçalo do Rio das
Pedras também recebeu as instalações de uma das minerações estrangeiras que atuaram na
região diamantina durante a primeira metade do séc. XX. Apresenta uma urbanização
bastante mais densa, para uma população aproximadamente equiparada. Agrupando-se à
volta do leito de um regato minerífero, em um espaço muito menos amplo que o de Milho
Verde, os habitantes de São Gonçalo desenvolveram uma vida social, econômica, política e
cultural de acentos bastante mais urbanos. São Gonçalo localiza-se na melhor área plana
disponível no epicentro de uma região abundante em regatos mineríferos, e a uma pequena
54 A medida de sete quilômetros, habitualmente mencionada pela população, refere-se à distância aproximadaentre os núcleos mais antigos das duas localidades. A distância entre os perímetros urbanos foi aferida comosendo já de apenas 3,7 quilômetros em meados de 2007.55 Vide a respeito também os relatos das visitas de Mawe (1978: 151-152; 177) e de Saint-Hilaire às duaslocalidades (1974: 44).
115
distância de um extenso trecho do leito do Jequitinhonha. Estes podem ter sido fatores de
proficiência mineradora determinantes para a locação do núcleo urbano da formação
inicial.
Reduto político liberal ao longo do séc. XIX, ao contrário da vizinha Milho Verde
que, previsivelmente mais reacionária, permaneceu monarquista, São Gonçalo comparte
com Milho Verde também uma história de (leves) antinomias e disputas, originada talvez
da simples rivalidade entre vizinhos, ou em função da dupla condição de contigüidade
física e de “distância” em termos de economia e organização social.56
Tal como ocorreu em Diamantina, a população de São Gonçalo buscou uma
diversificação de suas atividades como alternativa à mineração. Constituiu-se ali uma
companhia vinícola, em 1910, hoje não mais em operação, embora a vinicultura tenha
permanecido e represente, junto com o artesanato (tapeçaria e capim), uma importante
fonte de renda para algumas parcelas da população. Assim como não se consolidou em São
Gonçalo um monopólio de poder oligárquico, dada a menor vinculação da população à
produção agrícola, também não se constituiu um monopólio comercial como o que havia
outrora em Milho Verde. A presença de estrangeiros, a maior concentração da população
em atividades econômicas urbanas, e as condições restritas para a constituição de um
patriarcado, dada a maior dispersão dos clãs em pequenos núcleos familiares urbanos, são
fatores adicionais que podem ser mencionados em relação à inexistência (ou menor
influência), do poder senhorial em São Gonçalo, e em relação às observáveis maior
56 Antinomias leves mas, cumpre assinalar, contraproducentes, dadas as quase idênticas necessidades e agrande fragilidade econômica e social de ambas. Em grande parte, a fraca união atual pode ser atribuída àdesarticulação comunitária de Milho Verde. Vide a respeito do histórico de relação entre as duas localidades,incluindo a crônica de uma disputa pelo abrigo da sede paroquial, Santiago (2006: 112-113;120-121) ePereira Filho (2005: 13-14).
116
autonomia e participatividade comunitárias, atividade comercial mais intensa e maior
articulação política no âmbito municipal.57
Um dos entrevistados de São Gonçalo, ao comentar sobre os impactos do turismo em
Milho Verde, delineou as diferenças econômicas na formação das duas localidades:
[...] a questão da permissividade pro turista... o nível sócio-econômico de MilhoVerde é mais baixo do que o de São Gonçalo. A população de Milho Verde eramais pobre do que a de São Gonçalo. Eles viviam de agricultura, praticamente,eles não tinham o garimpo que tinha aqui. E aqui mesmo, se você for buscar nahistória, aqui foi um lugar onde, por exemplo, se estabeleceu uma sede demineração no século XVIII [serviços de mineração, empreendidos durante aIntendência e a Real Extração]. Então, você tem o casario melhor porqueestabeleceram uma mineração, e o pessoal se estabeleceu aqui. Aqui era o lugaronde realmente aconteciam as trocas. Então aqui realmente era onde os tropeirosvinham, vendiam, trocavam o diamante por gêneros, isso era mais aqui do queMilho Verde, Milho Verde era mais pouso [de viajantes]. Então, na formação, naocupação mesmo, aqui já tinha um comércio mais estabelecido. E Milho Verdetrabalhava mais com.... as pessoas plantavam mais em Milho Verde, MilhoVerde tinha [...] mais plantio, tem muito mais agricultura do que aqui. Então,toda a região comprava aqui [em São Gonçalo.] E vendia aqui, há vinte anos, atétrinta anos atrás. [Milho Verde] tinha [uma venda] que era basicamente um bar.Então o povo da região trazia gêneros pra vender aqui [...] E [São Gonçalo]vendia comida pra região inteira. Aqui, dia de sábado era um movimento de burroe mula, trazendo, vendendo, comprando... Milho Verde passou a ter uma venda,que vendesse até gêneros mesmo, há pouco tempo [...] [l]
A história a seguir consta também em Santiago (2006: 116). O narrador descreve as
impressões de um viajante que atravessou as duas localidades no início do séc. XX. Ao
usar as palavras “cidade” e “aldeia”, o visitante resumiu definitivamente as distintas
condições formacionais:
“E diante de nós se descortinou uma minúscula, linda cidade. Isso foi SãoGonçalo. Ela é assim ainda? Porque nunca mais na minha vida passei por lá.”Então, ele tinha guardado, de 60 anos antes, nos anos 20, a impressão de SãoGonçalo como uma cidadezinha lindíssima, arrumadinha, uma minúscula
57 Uma descrição mais acurada da história e das condições atuais de São Gonçalo do Rio das Pedras – bemcomo de todos os demais distritos e da sede do município do Serro, incluindo Milho Verde, e com destaquepara a vida cultural e política serrana ao longo dos sécs. XIX e XX – pode ser encontrada no vol. 3 da série Ovale dos Boqueirões: história do Vale do Jequitinhonha, intitulado Serro: política, geografia e cultura (2006:115-128;154-164), e freqüentemente citado ao longo da presente dissertação.
117
“cidade”, não uma aldeia. Porque depois ele falou “Porque nós continuamos,e passamos por Milho Verde, acho, uma aldeia.” [j]
Um dos entrevistados de Milho Verde, anteriormente mencionado, empreendedor de
turismo, aponta os caracteres geográficos de uma maior disponibilidade de espaço e a
posição ao alto de um relevo convexo, como alguns determinantes para a identidade urbana
e social de Milho Verde. São Gonçalo, ocupante do recôncavo de um vale mais estreito,
estaria assim condicionada por fatores geográficos opostos aos de Milho Verde:
[Milho Verde] não é um ponto de concentração, é um ponto de dispersão. [...]Aqui era o quê? As próprias pessoas daqui da região, como chamavam o lugar
“Nós vamos para o comércio.” O comércio, Milho Verde. As pessoas da roçaaté hoje falam “Eu vou no comércio.” Eles não falam “Eu vou em MilhoVerde.” [f] 58
Ao que parece, Milho Verde e São Gonçalo detiveram, ao longo do séc. XIX, alguma
proeminência política no âmbito do município do Serro, sem dúvida devido à maior
abastança de que desfrutavam no período. Porém, a movimentação que pôde ser deduzida a
partir dos antigos jornais pesquisados por Luís Santiago na hemeroteca da Casa dos Otoni,
em Serro, não lembra certamente o cotidiano político da Milho Verde atual (2006: 14;22-
23;25-26;30-31). À parte a já apontada diferença de vocações econômicas entre distrito
(turismo) e sede (agropecuária), o saldo de “imobilidade comunitária” herdado do
recentemente desarticulado poder senhorial pode ser apontado como um importante fator
para a atual inexpressividade política de Milho Verde.
58 As ruas de muitas das cidades coloniais mineiras constituíram-se, originalmente, a partir de caminhospedestres entre pontos afastados em um acampamento minerador e que, com a freqüência do uso,transformaram-se em ruas, conectadas às estradas de acesso. Como em muitas localidades a consolidação deuma rua restringia-se à via principal, e ali se estabeleciam os pontos comerciais, tornou-se parte do jargãoregional dizer “vou à rua” ou “vou ao comércio”, ao invés de dizer-se, mais convencionalmente, “vou àcidade” (cf. CUNHA e MONTE-MÓR, 2000: 309).
118
Essa inexpressividade frente aos desafios locais será objeto de uma discussão mais
detalhada adiante, que integrará também a visão de entrevistados de São Gonçalo,
comparativamente mais articuladas em relação aos mesmos problemas e impactos. A
seguir, ilustra-se (Figura 13), de forma esquemática e sintética, as principais conjunturas
sócio-econômicas e políticas experienciadas por Milho Verde ao longo de sua história:
120
Figura 13 (página anterior) – Ambiguidades e polaridades sociais, políticas e econômicas experienciadas porMilho Verde ao longo de sua história
Os diagramas da página anterior sintetizam as várias situações intermediárias ou fronteiriças de Milho Verde,experienciadas em diferentes contextos sócio-econômicos ocorridos ao longo de sua história. Essa quaseconstante liminaridade e até, por que não dizer, marginalidade da comunidade, foi determinante de diversosaspectos da organização social, economia, urbanização e cultura da Milho Verde atual (ilustração elaboradapelo autor).
121
2.1.6. Res incognita
À procura de uma matriz anímica mineira – uma universalidade artística mineira –
Milton Nascimento deparou-se, a certa altura, com Milho Verde. E, segundo dizem,
apaixonou-se. Consta junto a alguns membros da população que, durante a década de 70,
era possível passar por Milton em alguma das ruelas gramadas da cidade, deambulante em
meio à névoa noturna. Assim, uma anônima igrejinha terminou sendo estampada na capa
interna do álbum fonográfico Caçador de mim (1981), suscitando a curiosidade de onde se
localizaria no mapa aquela terra tão familiar e desconhecida, prenúncio de uma
prodigalidade afetiva, simples e arcana, de uma Minas perdida em outras eras, presente
naquela imagem,59 e portanto, ainda existente, tangível e acessível.
Talvez naquela época, devido à atenção que a localidade recebera do artista, formou-
se e começou a circular em Milho Verde esta lenda acerca do verdadeiro local do
nascimento de Milton:
Nasceu no Baú, e habitava ali, até à idade de sete anos. Foi quando seu paiencontrou, faiscando em um ribeiro da região, um enorme diamante, de grandevalor. Esperando-se uma oportunidade em que fosse possível vendê-lo, odiamante foi ocultado do coronel, como a esperança resguardada daquela família,de libertação da condição semi-escrava em que viviam. Porém, o coronel um diavem e revista à força a casa, descobrindo o diamante. Inconsolável, “o pequenoMilton pôs sua trouxinha às costas” e foi-se embora, deixando os seus em buscade outro lugar para viver.60
59 Rodrigo Duarte avalia esteticamente o edifício: “[...] sua atual localização, aliada ao caráter miniatural daconstrução, confere ao conjunto seu enorme encanto, num exemplo raríssimo de integração de elementosnaturais e culturais numa paisagem” (DUARTE: 5). Vide a respeito também Santiago (2006: 113).60 Essa versão foi composta a partir de anotações de campo, coligidas a partir de uma narrativa a que seassistiu durante uma observação participante. O narrador foi um morador adventício, membro de umaorganização do Terceiro Setor local, e que já havia registrado textualmente a história a partir das narrativasde alguns habitantes. Uma outra versão da lenda das origens de Milton no Baú consta do álbum de vídeodigital (DVD) Sede do Peixe, de Milton Nascimento (2004). No álbum, a história é narrada, em umagravação de vídeo realizada em Milho Verde, pela parteira Dona Santa, Maria dos Santos Faria, falecida em
122
Lenda ou não, data mais ou menos da ocasião deste contato com o artista, e da
divulgação resultante, o surgimento do turismo na localidade e a decorrente reativação
econômica.61 O minerador aposentado, diversas vezes mencionado anteriormente, dá a sua
versão deste nascimento:
Milton foi o seguinte: ele veio aqui e fotografou a capela... e pôs na capa dodisco. Pôs na capa do disco, e não deu o endereço, depois veio um repórti aí efez uma reportagem [...] e deu o endereço. Ah, pronto. Não deu outra: a hora queo pessoal pegou a chegar aqui melhorou tudo. Aqui não tinha nada, estavaacabando, o povo estava todo indo embora. Se não fosse o turismo aqui, podeesquecer que não melhora, não. Agora, regulou muito, porque eles acampavamno lado da igreja, aí depois eles fizeram a área de camping, e normalizou e elesvêm numa boa e, eu acho, a mim não incomoda nada. [c]
Com o passar do tempo, e com o contínuo – “espontâneo”, segundo denominação
utilizada na literatura técnica de turismo, – incremento da demanda, uma grande parte da
população local terminou por vincular-se, muitas vezes em caráter exclusivo, à nova
economia turística, dada a inexistência de alternativas. Fortemente sazonal e de baixo valor
agregado, o turismo surgido na década de 70, e intensificado ao longo dos anos 80 e 90,
requeria uma estruturação mínima dos empreendedores locais. De uma certa forma, este
turismo espontâneo estava justamente em busca de uma “espontaneidade”, não solicitando
da comunidade uma adequação dos serviços prestados – basicamente, hospedagem e
alimentação – a nenhum critério de consumo ou de “qualidade” externo aos padrões locais.
fevereiro de 2007, membro venerando e símbolo da comunidade. É importante assinalar a condição desujeição ao poder senhorial a que, denota-se nesta lenda, os habitantes do quilombo viviam.61 Destacadamente, entre os visitantes que pioneiramente atr ibuíram valor cultural e humanístico aos antigospovoados e à região – não somente a Milho Verde, mas também a todo o antigo percurso para Diamantina –constam o professor alemão Martin Wilhelm Kuhne e a suíça Anna Maria Kuhne Schüepp, queexcursionavam ali com membros da comunidade germânica do Rio de Janeiro, na década de 70. Eles foramtambém imigrantes pioneiros (após uma tentativa em Milho Verde, radicaram-se em São Gonçalo do Rio dasPedras) e os que primeiro deram conformação ao turismo local, constituindo uma pousada, que, durantemuito tempo, foi a única em toda a região de Diamantina e Serro. Martin notabiliza-se também pelamobilização comunitária em São Gonçalo, e por haver liderado a instituição da Funivale, atualmente oembrião – sediado em São Gonçalo, sob a forma de uma organização do Terceiro Setor de atuaçãoeducacional, cultural, econômica e social – do que se pretende venha a ser uma universidade deconhecimento tradicional do Vale do Jequitinhonha (SANTIAGO, 2006: 124-125;154-164).
123
O foco do interesse era voltado – ou pelo menos se adequava – aos usos e costumes
simples locais, que compunham, juntamente com o cenário deslumbrante, com o aspecto
tradicional intocado da área urbana e com a farta disponibilidade de balneários (cachoeiras)
e passeios em matas, campos, rios e montanhas, uma espécie de retorno às origens –
culturais, históricas e biológicas.62
Lewis Yablonsky (1973), sociólogo americano que estudou o fenômeno da
contracultura, definiu as transformações culturais da década de 60 e 70, em que se inclui o
movimento hippie, mais como sendo um “fluxo” social do que um movimento
ideologicamente orientado. Assim, grande parte das modificações verificadas no
comportamento e nos valores da época seria mais uma reação da juventude contra uma
sociedade robotizada, a ser superada em prol de um modo de vida que iria da
“superburocracia ao anarquismo, do pensamento massificado a um filosofia forjada pelo
próprio indivíduo, da alienação ao amor total, de uma vida sintética a uma existência
orgânica”.63 Os hippies, prossegue o autor, nunca se perceberam como um “problema da
sociedade”, ou o resultado de problemas da sociedade, mas sim, decerto, como a solução
mesma para os problemas que apontavam (1973: 8-9).
Hippies ou não, oriundos de diversas regiões do Brasil e também de países latino-
americanos e europeus, não cabem generalizações quanto ao perfil do turista pioneiro que
chegou a Milho Verde. Mas é possível generalizar a atitude que marcou este primeiro
turismo: buscar o contato com a Milho Verde de então era se movimentar na contra-
corrente de uma sociedade crescentemente racionalizada e massificada. As barracas de
62 A respeito do turismo em Milho Verde e São Gonçalo, vide também Santiago (2006: 114;116).63 Tradução livre.
124
camping em torno da pequenina Igreja do Rosário, armadas sob uma tênue nuvem de
fumaça de cheiro peculiar, representavam, entre outras coisas, uma contraposição aos
valores sociais da época. Esta contraposição, ambientada em um panorama humano e
natural esteticamente favorável, e distante das pressões econômicas e culturais da
sociedade industrial ocidental, tornava consistente, de um modo bastante facilitado, a
idealização de uma sociedade alternativa. Milho Verde, ignoradas as mazelas sociais
subjacentes à atmosfera pacata, era um campo aberto para um exercício utópico, exigindo,
econômica e socialmente, muito pouco de seus hóspedes.
O primeiro entrevistado mencionado ao longo desta dissertação, empreendedor de
turismo, analisa, em referência aos contextos social e econômico contemporâneos (da
localidade e da sociedade como um todo), as atitudes alternativas que, ainda hoje,
compõem o modo de vida do imigrante de Milho Verde:
[...] mudar pra cá é mudar um conceito de vida. Mudar pra cá é... você tem quemudar seus valores. Porque a gente está fora do mercado convencional. Vocêtem que abrir, mudar valores. Alguém falou assim “Ah, aqui é um lugar muitolegal de viver, mas eu num agüento ficar sem ir no teatro, sem ir ao cinema” sabe “Nó, se eu adoecer, aqui não tem farmácia!” então você tem que sedesprender [...] essas pessoas [que moram aqui] são mais desprendidas, sãopessoas que abriram mão dessa competividade, competitividade do mercado, e sepreocupam mais em [se] desenvolver, distribuir, dividir. [a]
O entrevistado prossegue, tecendo um contraste entre essa atitude do imigrado e a
crescente movimentação em torno da implementação de roteiros de turismo planejado
visando a localidade:
[...] está vindo o mercado [...] na verdade, parece que a gente está fugindo dosistema e o sistema está vindo atrás [...] Agora, também vejo o seguinte: que asbelezas que eu via, sempre vi quando vinha aqui, de repente é isso que está sendoposto pra outras pessoas verem, e eu vejo confirmado o que eu acreditava, que aspessoas vêem e acham lindo. Já passou gente aqui, de Land Rover e falou
“Meu amigo, ai, a vida que eu pedi a Deus!” eu olho pra mim assim dechinelo, olho pra Land Rover do cara, e falo “É, eu acho que eu estou certo,no fundo eu estou certo.” [a]
125
Tal como descrito anteriormente, o poder senhorial local impunha-se
ecomomicamente à quase totalidade da população, por meio de um monopólio comercial
do produto agrícola e extrativo, e do transporte motorizado (o transporte coletivo através
de ônibus para Serro e Diamantina somente passou a existir na década de 80). Quase
absolutamente não existia meio circulante em Milho Verde e o regime de trocas então
prevalecente (envolvendo principalmente mão-de-obra, víveres e minerais preciosos)
reforçava o monopólio. Essa conjuntura somente se desestabilizou a partir da
disseminação, ocorrida ao longo das décadas de 80 e 90, das possibilidades de obtenção de
proventos a partir da atividade turística. Gradualmente, os habitantes foram estruturando
pequenos serviços ao visitante. Com o crescimento da economia turística e o
desenvolvimento e emancipação sociais decorrentes, teve início uma longa sucessão de
conflitos em que, de um lado, uma incipiente articulação comunitária, e, de outro, o velho
predomínio procuravam se impôr. Os meios de dissuasão empregados, incluindo o recurso
à violência física, não lograram reprimir a crescente emancipação e aculturação da
população.
Este capítulo histórico de emancipação econômica e social envolve ânimos ainda
indispostos e convém não retratá-lo acuradamente aqui, para que eventualmente não se
reavivem disputas que hoje parecem estar superadas. Cumpre, entretanto, assinalar que,
entre as transformações econômicas, políticas e sociais associadas ao turismo em Milho
Verde, a emancipação figura como um resultado marcadamente positivo e reconhecido
pela população. Dois habitantes, um adventício e outro natural de Milho Verde,
deliberadamente não identificados, comentam a respeito:
Olha, isso aqui antes era controlado por um coronel. E o poder, esse poderoligárquico, que é um resquício de estruturas mais antigas, isso foi sendo diluído,por quê? Por causa do movimento turístico. Tinha um coronel que tinha umcomércio aqui que centralizava tudo e hoje em dia você tem outros [comércios].Pulverizou mais essa história.
126
Ah, não fazem, não, hoje não fazem isso mais [os senhores locais não reprimemas atividades da comunidade]. Mas por quê? Tanto o pessoal da comunidademudou, quanto eles também. Porque hoje os próprios [senhores] estãoprecisando de turistas. E não têm aquele poder mais, já caiu [...] Hoje não, essepovo não tá dependendo deles tanto, mais. [...] Antigamente não, era o únicocarro que existia, aí a gente precisava dele, querendo ou não, a gente precisavadaquele carro.
Uma das histórias tardias desse conflito social será narrada, auxiliando uma
caracterização mais precisa de mudanças ocorridas na atitude política comunitária. Ao final
da década de 90, teve lugar um ensaio, promovido pelos senhores locais, de criação de
búfalos na área da Várzea, que até então apresentava-se parcialmente alagada, de maneira
contínua ao longo das estações do ano. Entre os diversos fatores que agrediram o
ecossistema da Várzea (desmatamento, queimadas, substituição da vegetação natural),
causando danos duradouros à natureza (e à atratividade turística), incluem-se os búfalos,
que se alimentavam da vegetação higrófila local.
A comunidade estruturou uma oposição à criação de búfalos, reivindicando apoio
policial. Mobilizou-se, porém, mais em função dos transtornos imediatos causados pelos
animais ao cotidiano da população (os búfalos, animais de ordinário extremamente
mansos, haviam entretanto se tornado agressivos, provavelmente por haverem sido
agredidos pela própria população) e à visitação turística, e também por um interesse de
alguns habitantes, já manifestado na ocasião, pelas oportunidades de ocupação de terrenos
na Várzea. O evento pode ser mencionado como um marco da superação da dominação
oligárquica local. Este testemunho também permanecerá não identificado:
Agora, nós temos uma prova muito grande da união aqui, dos búfalos. Isso aí foiuma prova, um exemplo que se deu aqui, se povo tivesse continuado assim desdeaquela época, tinha mudado muita coisa. [...] no lugar de se trazerem poucos[búfalos], foram aumentando, e os búfalos foram criando, criando, e começarama atacar as pessoas. Aí todo mundo ficou com raiva. Ninguém podia ir mais naVárzea, porque estavam atacando o pessoal. Bravos mesmo. [...] aí foi todomundo mobilizando, estava todo mundo com raiva, acho que foi isso que ajudou.Aí, foi um grupo lá na delegacia dar queixa, porque além de trazerem os búfalos,o que fizeram? Vieram uma noite, com vários peões de Curvelo, e fecharam ali[...] uma imensidão de cerca. Ali onde tem aquelas casas, hoje em dia, era tudo
127
uma cerca só. Aí o grupo foi [...] Chegou lá, o delegado [...] falou assim “Hoje vocês estão vindo denunciar. No dia que o dono vier aqui pra conversar,será que vocês vão voltar junto? Vocês vão estar aqui?” Aí o que aconteceu?Fizeram uma reunião na comunidade, e nesse dia foi um ônibus de pessoas.
A defasagem cultural, social e econômica com relação aos desenvolvimentos
experimentados pelo Sudeste, históricamente estabelecida em Milho Verde, constituiu, dos
anos 70 aos 90, tal como mencionado anteriormente, ao mesmo tempo um atrativo turístico
(em parte devido a algo definido por John Swarbrooke como quando “a pobreza de uma
pessoa significa férias baratas de outra pessoa” – 2000b: 93), mas também uma ameaça à
sustentabilidade desse mesmo turismo. A preservação dos ambientes urbano e rural – e do
ambiente social, humano – em condições “primevas”, antepassadas, mantendo a região
“polarizada” culturalmente em relação aos centros urbanos, determinou a forte atratividade
local e o surgimento de um fluxo intenso de trocas sociais. É devido à presença dessa
dinâmica de movimentos sociais e culturais subjacentes que a terminologia “espontâneo”,
recorrente na literatura de turismo, não foi adotada na presente dissertação para designar o
turismo inicial ocorrido em Milho Verde.
Com o passar do tempo, um novo panorama social em Milho Verde poderia ser
claramente constatado a partir das modificações introduzidas na composição de sua
população, permanente e temporária, e em sua urbanização: i) imigração a partir da capital,
de outros estados e mesmo de países do exterior – uma imigração definida por um dos
entrevistados, no que se refere ao caso específico de Milho Verde, como sendo muitas
vezes um “turismo prolongado”, dada a pequena permanência e a vinculação restrita de
grande parte dos imigrados, mas que também se compôs daqueles que se integraram à
comunidade, radicando-se e atuando na economia local, seja no turismo, na educação
pública ou em organizações do Terceiro Setor; ii) a aquisição, por pessoas externas à
comunidade, de um grande número de propriedades imobiliárias da composição local
128
anterior, e a aquisição de outra grande quantidade de novas propriedades posseadas, para
fins de veraneio; iii) construção de pousadas e de habitações destinadas ao aluguel
temporário em feriados e férias; iv) reacomodação da população local, que cresceu em
função da nova economia do turismo, atraindo pessoas da área rural, retendo emigrantes
potenciais e atraindo de volta antigos emigrados; iii) o turismo propriamente dito,
concentrado nos feriados e férias; iv) presença local e atuação remota de organizações do
Terceiro Setor, além de v) destinação local de recursos disponibilizados por políticas
governamentais de incentivo ao turismo.
O comentário a seguir denota as preocupações e perplexidade de alguns moradores
da região com as abruptas transformações sofridas pela área urbana de Milho Verde:
[...] a quantidade de casas desocupadas de Milho Verde é uma coisa maluca. Aforma como elas lidaram com o turista foi complicada para o lugar. [l]
Inicialmente acampado em locais públicos, o turista foi aos poucos recebendo e
também requerendo pequenos serviços da população: refeições, hospedagem em quartos
familiares, consumo nos bares. Assim, deu-se início a um aquecimento do comércio local,
e um estímulo à composição de meios de hospedagem, alimentação e lazer. Em parte dos
casos, estes meios foram instituídos por imigrados que, aos poucos, radicavam-se na
localidade. Em sua maioria, entretanto, os meios de serviços ao turismo atualmente
existentes, diretos e indiretos, são fruto do empreendimento de pessoas nascidas na
localidade ou na região: áreas de camping, restaurantes, bares, casas de aluguel, comércio,
cômodos em edifícios separados (à maneira de chalés, ou de uma pousada familiar).
Podem ser mencionados, entre os esforços produtivos da população local relacionados ao
turismo, os serviços profissionais diretamente prestados, tais como de construção, e de
limpeza e manutenção domésticos. A vinculação atual, bastante pronunciada, da população
à economia do turismo pode ser percebida neste trecho da entrevista:
129
Aqui em Milho Verde constrói-se, proporcionalmente falando... [Pesquisador: Omaior canteiro de obras da América Latina?] Proporcionalmente, é [...]proporcionalmente, [em] Milho Verde se constrói mais do que em Diamantina,se constrói mais do que no Serro, se constrói mais do que em São Gonçalo, sevocê olha o tamanho da comunidade e o número de obras, proporcionalmentefalando, aqui é muito alto. Tanto que todo mundo aqui era garimpeiro, e aí todomundo virou pedreiro. Pessoal saiu do garimpo e virou pedreiro. E pra pedreironão falta serviço, você vê que tem um monte de pedreiros [...] Todo mundo épedreiro. [a]
A população foi sendo cada vez mais impactada por uma verdadeira avalanche de
novos usos, comportamentos, referências e valores, em um processo que, por sua
abrangência e complexidade, torna insuficiente qualquer esforço em descrevê-lo. O
pesquisador, em aproximadamente sete anos de contato regular com a comunidade, tem
observado que as transformações mais intensas têm se dado nos hábitos familiares e no
comportamento dos habitantes de menor idade, desde a infância até o adulto jovem.
Vestuário, linguagem, expectativas, valores, autonomia, interesse e comunicatividade têm
se transformado rapidamente, de forma claramente observável, e essa modificação é
confirmada a partir dos comentários de membros da comunidade. O trecho de entrevista
transcrito a seguir é emblemático:
[...] tem vinte anos que tem banheiro em Milho Verde. Há vinte anos atrás, todomundo cagava no quintal. Não tinha preocupação de construir banheiro. Com ocontato com o mundo externo, então as pessoas adquiriram noções básicas dehigiene. Com o contato com as pessoas que vêm de fora, começaram a sedesenvolver questões como leitura, cultura, teatro, Encontro Cultural...64 Então aspessoas ganham algumas coisas, porque elas começam a conviver com o novo.Ainda tem uma questão assim, que as moçinhas engravidam muito novas. Isso équestão cultural. Antiga. “Quinze anos a menina tem que casar, senão ela vaificar velha.” Eu vi isso aqui. [...] Hoje, eu conheço mocinhas que, depois deterem tido contato com a cultura que vem de fora, olha, por incrível que pareça, eujá ouvi falar assim “Não, não vou casar agora, não, vou estudar primeiro.” [a]
64 O entrevistado refere-se ao Encontro Cultural de Milho Verde, festival de inverno gratuito e voluntário,voltado às necessidades locais, promovido anualmente desde 2000 pelo Instituto Milho Verde, organizaçãodo Terceiro Setor de atuação local, fundada por Luiz Fernando Ferreira Leite.
130
A palavra “globalização” foi mencionada por uma empreendedora de turismo,
natural de Milho Verde, com relação aos processos de transformação cultural local:
Mudou, porque, também, a globalização mesmo, eu acho que ela... é tanta que agente não podia continuar do jeito que estava, você acha? Há vinte anos atrás?Não tem jeito não! É pior. Eu acho que a gente tem que progredir. Tem que ir,não é? Pra frente. [k]
Em grande parte, as modificações culturais experienciadas pelos habitantes têm
ocorrido como resultado do simples contato com o turista. Mas parece acertado supôr que
algumas tranformações mais profundas tenham sido provenientes do contato com os
imigrantes, que mantêm, junto à comunidade, uma interação constante e trazem para o
cotidiano da localidade os seus esforços profissionais, constróem ali seu círculo de
relacionamentos e afirmam na sociedade local seus próprios interesses e valores. Porém, há
que assinalar uma importante peculiaridade na forma como este processo de interação entre
adventícios e naturais ocorre em Milho Verde: dada a fraca articulação comunitária, a
grande distância entre os universos culturais e econômicos de imigrados e naturais (mais
acentuada ao início da imigração), e a baixa densidade de ocupação urbana (com as
habitações muito afastadas umas das outras), a imigração inicial para a localidade compôs-
se, em grande parte dos casos, de um grupo social que não interagiu mais profundamente
com a população original. Esse é um fenômeno complexo e uma ressalva deve ser feita
com relação à diversidade dos casos englobados, que não comporta generalizações. De
qualquer maneira, a observação comparada realizada por um habitante de São Gonçalo que
assistiu à movimentação do turismo durante as duas últimas décadas é bastante reveladora:
Quando eu conheci Milho Verde, o público que ia em Milho Verde era o públicoque vinha aqui [São Gonçalo]. E aqui tinha mais turista do que em Milho Verdena época, tinha tempo. E era o mesmo público. Mas o pessoal em Milho Verdefoi mais permissivo. Talvez pela dificuldade financeira maior... Tinha umamenor organização social, e sem dúvida a questão da facilidade, a questão doacesso às cachoeiras interferiu. Aí as pessoas iam pra Milho Verde porque acachoeira é mais fácil, você ia lá de carro e não precisava fazer longascaminhadas, e aí o dinheiro chegou mais fácil pra uma população que era maispobre. [l]
131
A ausência de restrições ao comportamento encontrada – e buscada – pelo visitante
de Milho Verde pode ser vista também neste comentário:
Aqui em Milho Verde, as pessoas não vêm à Festa do Rosário para rezar [e sim]para fazer farra. Absurdo. Na Semana Santa, as pessoas vinham muito aqui,porque aqui se podia fazer até churrasco na Sexta-Feira da Paixão. Se podiabeber na Sexta-Feira da Paixão, porque em Diamantina, se você faz isso lá, vocêtem uma repressão popular em cima, de repente até com polícia. E então, atégente de Diamantina vinha [para] fazer farra aqui. Porque feriado no Brasil, pramuita gente, significa farra. Feriado, não tem trabalho, então o que vai fazer?Lazer. Que lazer? Em Diamantina, principalmente, o lazer básico é farra. [f]
Entretanto, essa “permissividade” não deve ser interpretada como um sinal de
tolerância, mas sim de desarticulação e de anomia da comunidade original. Assim, ao
comportamento do turista opôs-se uma reatividade dos habitantes, o que, ao final de
contas, parece ter reforçado a desarticulação sociopolítica local, fazendo com que, em um
mesmo espaço comunitário, convivessem grupos sociais díspares e estanques. Os
comentários a seguir foram deliberadamente não identificados:
Milho Verde tinha uma resistência com as pessoas de fora, porque ia muita genteque tomava banho pelado na cachoeira, independente das pessoas [populaçãoantiga] estarem junto ou não. [Gente que] fumava baseado no meio da rua [...] eunão estou falando que o pessoal que se estabeleceu aqui [São Gonçalo] é melhor,não. Eu estou falando o seguinte: que as pessoas que se estabeleceram aquitinham uma identidade com o lugar, se envolveram com as pessoas do lugar, e aspessoas que se radicaram em Milho Verde, na sua grande maioria, não fizeramisso. Não articularam com a população.
A evolução deste quadro pode ser observada, atualmente, em um maior engajamento
da população adventícia em ações comunitárias e um maior entrosamento entre os novos e
antigos habitantes:
[...] de alguns poucos anos pra cá, é que as pessoas que moram em Milho Verdeestão se articulando com a comunidade. Milho Verde tinha muito troca. Ficavaum seis meses, voltava, as pessoas não se fixavam em Milho Verde. E não searticulavam com a população local. É, o povo ia lá, curtia o lugar, lindo. Aocontrário daqui, aqui as pessoas que vieram foram poucas, e para morar, poucasforam embora. Então, elas articulam com a comunidade. A população externaque foi morar em Milho Verde não, nunca se articulou com a comunidade, muitopelo contrário, ela sempre teve pouco essa preocupação. Claro que aí cabemalgumas exceções, ninguém tá falando que é 100%. Mas na grande maioria, apopulação não articulava. Porque hoje você tem mais gente de Milho Verdepreocupada em articular, querendo articular com a comunidade, mas antes você
132
não tinha, não, era uma distinção entre “Nós que não somos daqui” e osnativos, uma dissociação. E isso está melhorando agora. Então, isso contribuiupara Milho Verde não dar conta do turismo. E Milho Verde foi f icando rejeitada,Milho Verde foi se opondo às pessoas, as pessoas não se articulavam com oturista, que por isso, talvez até quisesse, mas não podia nem chegar perto. [...] Oturista então também era completamente desagregado.
Ao abrir espaço para abrigar novos habitantes, permanentes ou temporários, a antiga
conformação aldeã “esvaziada” da Milho Verde tradicional foi-se alterando,
descaracterizando os atrativos urbanos e arquitetônicos, e compondo, com o passar dos
anos, um crescimento desordenado rumo à periferia. Criou-se assim toda uma nova série
de problemas, tais como abastecimento de água, ocupação de áreas de preservação, e
traçado de ruas e arranjo urbano desarmônicos com relação às necessidades cotidianas da
população e em relação à manutenção da atratividade turística. O padrão de ocupação dos
terrenos modificou-se, e, com ele, a própria economia familiar: capazes de prover o
sustento, os grandes quintais estão aos poucos desaparecendo, sendo fracionados ora para
atender aos compradores de imóveis, ora para abrigar novos cômodos destinados aos
hóspedes turísticos, ora para acomodar ampliações das famílias, agora retidas na localidade
graças às novas possibilidades econômicas providas pelo turismo (a que se acrescentam as
garantias legais para a obtenção de aposentadoria por indivíduos idosos e o recente
benefício da Bolsa-Família).
As fotos dispostas a seguir (Figuras 14 a 17) demonstram a aparência tradicional da
área urbana, que está a se descaracterizar rapidamente:
133
Figura 14 – Aspecto tradicional das habitações e arruamentos – I
Uma síntese das condições formacionais que resultaram na configuração social, econômica e urbana daMilho Verde de trinta anos atrás talvez possa ser feita considerando-se que, de todo o processo histórico,emergiu uma “cidade-roça”. E esse caráter de cidade-roça foi, justamente, uma peculiaridade distintiva locale um forte atrativo turístico, mas também implicou em uma grande fragilidade. Na foto, pode-se observar oaspecto típico das ruas e casas até o advento do turismo. Esse tipo de urbanização ainda prevalece, mas aospoucos vai se diluindo em meio a uma grande variedade de impactos: as ruas deixam de ser gramadas sob otrânsito de carros, às casas antigas mistura-se uma diversidade de estilos de prédios residenciais e comerciais,em meio às árvores e hortas emergem antenas, as cercas de arame vão sendo substituídas por muros e,principalmente, os grandes quintais vão sendo gradativamente fracionados, para distribuição entre membrosde família, venda para novos moradores ou construção de casas de aluguel. Ao fundo da foto pode ser visto oPico do Itambé que, elevando-se a mais de dois mil metros, servia como “farol granítico” para os primeirosexploradores da região do Serro Frio (SANTOS, 1976: 41; foto do autor – junho de 2006).
134
Figura 15 – Vista a partir da Bocãina
Milho Verde possui limites abruptos. Não existe um limiar, faixa intermediária, ou uma dispersão dehabitações ao redor do perímetro urbano. Milho Verde já é dispersa em si; a dispersão urbana de MilhoVerde encontra-se dentro do próprio perímetro urbano. Alguns fatores determinantes dessa configuraçãopodem ser apontados: i) a maior parte dos limites da cidade confronta com grandes propriedades, algumasdelas com a sede situada, justamente, no limite urbano; ii) grande parte do terreno adjacente é imprópria parao cultivo; além disso, iii) o vácuo urbano experimentado no período de “hibernação” (décadas de 40 a 70)atraiu para a área urbana uma parte da população rural (migração rural-urbana); somando-se aos outrosfatores, essa migração pode ter consolidado um aspecto de contato direto da localidade com o entorno rural,reforçando suas características de “cidade-roça”. Ao longo do séc. XX, algumas sedes de fazenda situadas notrecho de área rural localizado entre a cidade e o Jequitinhonha foram sendo preteridas por habitações na áreaurbana; persistem na área rural apenas alguns poucos pequenos proprietários, que são também os lavradoresque cultivam suas próprias terras, ou as de terceiros. Do outro lado do Jequitinhonha, a dificuldade de acessoé grande; subsistem ali os quilombos, embora também dentre estes boa parte da população tenha emigrado; enas outras direções, como foi visto, quase não existem terrenos férteis, o que ocasiona uma ainda mais baixadensidade de ocupação (foto do autor – julho de 2006; vista a partir da Serra da Bocãina, próximo à estradaem direção a São Gonçalo; o corte de estrada visto à direita justamente conduz a uma das raras sedes defazenda remanescentes fora da área urbana).
135
Figura 16 – Aspecto tradicional das habitações e arruamentos – II
A urbanização irregular da Rua do Campo, talvez por ser derivada de uma ocupação por pequenas chácaras,criou uma série de pequenos espaços públicos (“largos”), junto às ruas, que conferem à cidade sua condiçãopeculiar de abundância de espaço físico comunitário. Os esforços recentes para a constituição de um PlanoDiretor (em que a comunidade foi instada a participar, apresentando fraca mobilização) procuraramestabelecer normas de proteção a aspectos característicos da urbanização, tais como os espaços públicos aserem demarcados e protegidos. (O estímulo dado a prefeituras de municípios de interesse turístico, para quese proceda à elaboração de um Plano Diretor, tem sido feito por meio de uma condicionalidade de repasse deverbas imposta às prefeituras pelo governo federal.) Ante a crescente disponibilidade dos modernos meios deconstrução e transporte, a cidade vem perdendo, inexoravelmente, alguns de seus distintivos singulares,frutos de uma urbanização não-planejada. Mesmo que as normas de proteção do patrimônio arquitetônico eurbanístico contidas no Plano Diretor sejam efetivamente obedecidas, o que parece improvável, seráimpossível preservar a organicidade e a fluidez dos limites e do traçado (foto do autor – julho de 2006).
136
Figura 17 – Largo do Rosário
Aparece nesta foto um pequeno trecho da maior área pública no interior do perímetro urbano. A Igrejabuscou, em anos recentes, reivindicar a propriedade deste espaço, havendo sido interditada nesse processopela ação de alguns membros da comunidade. A capela é uma reconstrução – em escala menor, e, segundorelatos, preservando o aspecto anterior – de um prédio construído pela irmandade do Rosário, provavelmente,de acordo com Santiago, em meados do séc. XIX (2006: 113). A amplidão dos espaços públicos de MilhoVerde e a conseqüente abertura para a paisagem do entorno são decorrentes da planura da localização, dapequena concentração urbana de anos anteriores, e da inadequação do solo para o plantio. Estas duas últimascondições hoje não mais são determinantes de uma baixa densidade de ocupação, devido à grande procurapor imóveis para a construção de casas de veraneio. Assim, o aspecto de urbanização “frouxa” de áreas comoa da foto não está sendo preservado à medida que a cidade cresce, comprometendo a atratividade turística, aqualidade de vida da população e o valor imobiliário geral (foto do autor – junho de 2006).
137
Atraído à área urbana pelos confortos de água, luz e telefonia, pelos serviços de
comércio e transporte e pela oportunidade de adesão à economia do turismo, também o
habitante rural emigrado se incorpora ao quadro de crescimento urbano local. Delineia-se,
assim, um abandono das antigas formas de subsistência em prol de uma dependência, cada
vez mais generalizada e pronunciada com relação à economia do turismo. Mesmo sazonal,
o turismo terminou por instituir hábitos que desestimularam a atividade de plantio, e isso
criou uma indisponibilidade de mão-de-obra na lavoura, reforçando a tendência, já quase
plenamente manifestada, de destinação dos terrenos do entorno à pecuária.
Criado em regime extensivo, não requerendo grandes cuidados, o gado passa a ser
visto como uma fonte de renda complementar e como uma forma de poupança acessível
também à população não-proprietária de áreas de pastagem, mediante a posse de terrenos
não ocupados, disponíveis até o momento justamente por serem impróprios à agricultura.
Pedregosos, de solo arenoso, e vegetados pela variada – e frágil – flora de campos
rupestres e de altitude, estes terrenos vão aos poucos empobrecendo, abrigando pastos
uniformemente ralos de braquiárias. A capitalização obtida pelo turismo não tem sido
reinvestida na estruturação dos meios de serviço, e sim, muitas vezes utilizada na compra
de reses, arame farpado e mourões – estes dois últimos itens destinados também à
ocupação de áreas de preservação, com vistas a um aquecido e especulativo mercado
imobiliário.
Os três diagramas dispostos a seguir (contidos na Figura 18) caracterizam as
progressivas transformações da área urbana e do entorno em relação às mudanças na vida
econômica local:
138
Figura 18 – Modificações nas atividades econômicas, fracionamento dos imóveis e concentração dapopulação na área urbana
A seqüência de quadros acima ilustra esquematicamente transformações ocorridas na configuração eutilização econômica e residencial das áreas rural e urbana de Milho Verde, em três fases ao longo do séc.XX até os dias atuais. i) No primeiro momento (à esquerda), a economia sustentada pela complementaridadeagricultura-mineração local e regional propiciava a retenção do morador do campo, e mantinha também umapopulação urbana dedicada às trocas comerciais e à exploração mineral. ii) A partir do esgotamento daslavras, da mudança dos sistemas viários e do surgimento do abastecimento provido por meios rodoviários apartir de uma longa distância, a lavoura local deixou de ser uma atividade economicamente rentável. Apopulação, tanto urbana quanto rural, evadiu-se (ao centro), originando um vácuo que reforçou ainda mais ocaráter “semi-rural” (pequenos chacreamentos) tão caraterístico da área urbana de Milho Verde. A economiano distrito passou a ser predominantemente de subsistência, fracamente complementada por atividadesexparsas de mineração. Os fazendeiros da região, tolhidos pelos empecilhos de mercado e pela ausência demão-de-obra para a produção agrícola, intensif icaram a criação de gado, desmatando áreas para abertura depastos. O extrativismo vegetal (coleta de sempre-vivas), e a lavoura e criação de substência passaram a ser abase da economia para a maior parte da população, não somente no campo, mas também no núcleo urbano:cada quintal, com seu pomar, pequena horta, pequenas áreas de plantio, e criação de galinhas e porcos eracapaz de alimentar uma família inteira. iii) Porém, a subsistência obtida exclusivamente a partir do pequenocultivo e criação na propriedade urbana gradativamente inviabilizou-se (à direita), à medida que os terrenosforam sendo fracionados para abrigar antigos habitantes que retornavam, novas famílias de descendentes, epara a venda a novos ocupantes, muitos deles ocasionais (em cinza). A economia passou a girar em torno doturismo que, embora fortemente sazonal, diminuiu a disponibilidade dos habitantes para a lavoura,reforçando a opção dos fazendeiros pela criação de gado (a criação de gado tem sido uma opção decomplementação econômica até mesmo para membros da comunidade não-proprietários de terrenos depastagem, ao tomar-se posse de áreas que não vinham sendo utilizadas com este fim). A área urbana sofreuuma expansão desordenada, ocupando terrenos destinados à preservação e descaracterizando aspectosurbanísticos e arquitetônicos tradicionais da localidade (ilustração elaborada pelo autor).
139
De qualquer forma, a paulatina substituição da agricultura pela pecuária é percebida
também em termos da exclusão social (e dos impactos à natureza) que provoca. A palavra
“braquiária” apareceu em três das entrevistas, mencionada com relação à diminuição do
espaço para o cultivo (em todas as três vezes) e à expulsão da população rural (em uma das
entrevistas):
Tem muito passarinho. Tem uns jacus, você ainda não viu eles aí na rua, não?[...] não saem aí da rua.65 Porque estão ficando coagidos, o mato não estáproduzindo mais fruta pra eles, parece. Que estão é plantando braquiária, que vaiconsumindo os jacus, aí. Hoje em dia só se vê braquiária plantada aí, em todocanto. Terra boa de plantar, de produzir milho, feijão, arroz, está acabando, isso éque está destruindo tudo. É a pura braquiária. Você ainda não notou isso, não? Etão plantando ela... [c]
Devido a razões já mencionadas, a agricultura local se tornou uma atividade sem
inserção econômica. A narrativa de um evento ocorrido na década de 80 assinala as
dificuldades do agricultor da região:
Eles não produzia lá, na zona rural, porque não tinha escoação da produção!Chegava aqui na rua,66 o camarada comprava de Diamantina ou do Serro umproduto que viria do Ceasa, por exemplo, que viria da capital pra cá. [...] eu nãome esqueço disso, ele [um lavrador] falou “Ô lugarzinho. Tem pessoas quefalam que aqui tem praga de padre! E parece que tem devera. Isso é um feijãoque eu trouxe pra vender ou trocar. E graças a Deus eu colhi bem, lá. E tá mefaltando outra mercadoria lá. Eu trouxe ele pra vender, pra trocar, mas nãoconsegui vender, eu tô voltando com ele.” [i]
Alguns dos impactos relacionados ao incremento da atividade pecuária podem ser
percebidos nas fotos dispostas a seguir (Figuras 19 e 20):
65 Vide nota 58.66 Vide nota 58.
140
Figura 19 – Pecuária em campo de altitude
Tal como já ocorreu em diversas outras regiões do Espinhaço, a vegetação original de campo de altitude dosarredores de Milho Verde, de rica biodiversidade, tem sido paulatinamente substituída pela resistentegramínea do gênero Brachiaria, com vistas à alimentação do gado. Além de não usufruir de condiçõespropícias no solo e clima local, a grama tem contribuído para a eliminação da biodiversidade e oempobrecimento das condições do solo, tornando difícil uma posterior recuperação. A Várzea, adjacente aonúcleo urbano, e um cenário de forte atrativo para um turismo em contato com a natureza – além de umespaço público e um componente valioso para a qualidade de vida da população local –, gradualmente setransforma em um pasto desmatado e árido, coberto por grama rala e periodicamente incendiado. Éinteressante observar que um reforço à criação de gado extensivo e a conseqüente degradação da naturezadecorrem, em parte, de pressões relacionadas ao próprio turismo: a sazonalidade das demandas do turismo,em conjunto com a ausência de outras fontes de renda; o fracionamento de propriedades urbanas que,anteriormente cultivadas, garantiam a subsistência; a reorientação das atividades de grande parte dapopulação para o turismo, em detrimento do plantio; a capitalização de não-proprietários de terras,permitindo a aquisição de reses; a utilização de gado como poupança ou investimento; a ocupação de terrasimprodutivas (devolutas) por uma parcela da população; todos estes são fatores que, associados ao turismo,também têm estimulado a criação de gado como atividade econômica complementar (foto do autor – junhode 2006).
141
Figura 20 – Rebaixamento do lençol freático, eliminação da vegetação ciliar, higrófila e aquática, eassoreamento e erosão da Várzea
O esgotamento da economia mineradora regional, à qual se articulava a produção agrícola local, teve comoconseqüência indireta a reorientação do uso do solo para a criação de gado, com desdobramentos queameaçam todo o ecossistema de um modo geral e também a sustentabilidade econômica da localidade pormeio do turismo. Nesse contexto, alguns aspectos relativos à problemática local merecem uma atençãoespecial. Caso não se observe o quadro global de aspectos urbanísticos, sociais e econômicos, passamdespercebidas algumas relações entre turismo e danos à natureza, com ameaças à sustentabilidade. Tal comomencionado anteriormente, a chegada do turismo deu início a um processo lento e conflituoso dedesarticulação das bases econômicas e sócio-culturais do poder senhorial, que perdeu o monopólio comerciallocal, ao mesmo tempo em que, por motivos diversos, viu evadir-se a mão-de-obra de que dispunha, e esvair-se a renda da agricultura e da mineração. Assim, muito das atividades econômicas das propriedades ruraislocais foram reorientadas para a criação de gado. Em decorrência, extensas áreas foram desmatadas,incluindo mananciais e pontos turísticos próximos a cachoeiras. Anteriormente um balneário ativo durantetodo o ano, o Córrego do Lajeado, na Várzea, atualmente só tem água até o mês de abril, permanecendo, apartir daí, praticamente seco até setembro ou outubro. Até o ano de 2000, a área mostrada na fotoapresentava-se submersa por um alagadiço que chegava quase ao pé das montanhas ao fundo, coberto porplantas aquáticas e e por vegetação campestre de raízes higrófilas. Ao eliminar-se a vegetação ciliar e acobertura de plantas aquáticas (em parte devido à tentativa de se criarem búfalos na Várzea, que sealimentavam também de plantas aquáticas) ocasionou-se o colapso do represamento local, o rebaixamento dolençol freático, e o assoreamento e intermitência do córrego. O abastecimento urbano de água, cada vez maisintensamente solicitado, provido pelos mananciais que irrigam a Várzea, também concorre para orebaixamento do nível de água subterrânea, e para uma conseqüente modificação da vegetação e do estado dosolo. Esta conjugação de fatores – turismo, gado e abastecimento de água – concorre para um provávelcolapso das condições de atratividade turística local (foto do autor – junho de 2006).
142
As ocupações irregulares de áreas de preservação, decorrentes da crescente demanda
imobiliária – em meio à pressão urbana gerada pela disponibilização de casas para o
veraneio, pela imigração a partir de outras regiões, pela permanência dos habitantes
naturais da localidade e pela atração do habitante rural –, podem vir a gerar, entretanto,
uma desvalorização imobiliária geral, não somente pelo aumento da oferta, mas também
pelo agravamento dos problemas urbanos e pelos danos à natureza. A ocupação de áreas de
preservação pode vir a comprometer, assim, o próprio interesse pela aquisição de imóveis
que mobiliza a ocupação irregular e, além disso, ameaça gravemente a sustentabilidade da
atividade turística – atualmente o pilar da economia local.
A dinâmica do crescimento urbano de Milho Verde – com uma descrição dos
impactos associados a esse crescimento que comprometem a sustentabilidade da atividade
turística e a qualidade de vida da população – está caracterizada nos diagramas
apresentados a seguir (Figuras 21 e 22). A foto com os traçados do antigo caminho e da
rodovia (Figura 23) auxilia a visualizar as transformações das vias de acesso à localidade,
servindo como complemento para os dois diagramas contidos na Figura 24.
144
Figura 21 (página anterior) – Traçado aproximado de ruas, localização dos empreendimentos turísticos e deprédios e sítios de interesse turistico, e delimitação aproximada das grandes propriedades urbanas
O núcleo de edificações mais antigas de Milho Verde tem como centro o Chafariz. Ao seu redor foramdispostas, dentro de um perímetro de aproximadamente 300 m de raio, as construções antigas significativas,ainda existentes ou já demolidas. Além de alguns casarões (que, em geral, eram outrora ou são ainda hojesedes de propriedades que se estendem para além do limite urbano), há a Igreja Matriz de Nossa Senhora dosPrazeres (noroeste do núcleo antigo); o já demolido rancho de tropeiros (norte do núcleo antigo, junto àantiga entrada e saída do arraial para o caminho Serro-Diamantina que passava através da Várzea); a Igrejade Nossa Senhora do Rosário, em um mirante mais elevado (leste do núcleo antigo; a Igreja do Rosário,situada como uma construção mais afastada antigamente, hoje encontra-se rodeada pela cidade); ao sul docentro do antigo núcleo encontrava-se o quartel, demolido no início do séc. XX. A rodovia, construída no anode 1928, fez com que o trajeto atravessasse por dentro de Milho Verde, ao invés do antigo caminho, quepassava 1 km afastado ao norte. Assim, a distribuição do casario foi gradualmente perdendo sua configuraçãooriginal radial, ampliando-se no sentido axial. A conformação axial hoje encontrada em Milho Verde, e tãofreqüente em pequenas localidades que crescem à margem de uma estrada, dá a entender, erroneamente,junto com as tradições históricas que assinalam Milho Verde como um entreposto de estrada, que o antigoarraial teria surgido à beira do caminho. (Mapa elaborado pelo autor; o traçado das ruas e propriedades éuma aproximação esquemática, destinada à compreensão das dinâmicas gerais; não possui precisão quepermita avaliar os casos particulares indicados, especialmente no que se refere aos limites daspropriedades; para fins de uma maior facilidade de identificação das áreas indicadas, o diagrama estáposicionado sobre uma imagem esmaecida da área correspondente à localização urbana nos mapastopográficos – IBGE, 1977a e 1977c).
146
Figura 22 (página anterior) – Movimentos de expansão urbana
À medida que a população de Milho Verde novamente cresceu, a partir da década de 70 (após a evasãoocorrida em meados do século XX), foram sendo ocupadas as lacunas deixadas no núcleo antigo (1),adensando-o e expandindo-o nas direções sudeste e nordeste. Desse movimento resultaram dois novosbairros, inicialmente a Rua do Campo (2a) e mais tarde a Rua do Vento (2b). Pode ser observado hoje que naRua do Campo encontra-se uma maior concentração de moradores egressos da zona rural, e que a Rua doVento foi bastante ocupada por moradores oriundos dos grandes centros, ou por casas de veraneio. Essaconfiguração 1 + 2a + 2b permaneceu relativamente estável até aproximadamente meados da década de 90.A partir daquele momento, diversos fatores determinaram nova necessidade de expansão: i) as áreasdisponíveis no núcleo antigo escassearam; ii) a expansão periférica ao redor do antigo centro não erapossível, porque terrenos mais acidentados ou grandes propriedades margeavam praticamente toda a área jáocupada iii) novas construções e novos habitantes se acomodaram, muitas vezes, em terrenos resultantes dofracionamento de propriedades anteriores, adensando a ocupação do núcleo antigo; criou-se assim anecessidade de novas áreas para os descendentes dos antigos moradores; iv) além dos serviços diretamenterelacionados ao turismo, como hospedagem e alimentação, intensificaram-se as possibilidades econômicas nonúcleo urbano (construção, serviços domésticos); em conseqüência, ocorreu uma maior retenção do moradorlocal e uma maior atração do morador rural; deve ser considerado também o sustento provido pela renda deaposentados e incentivos do governo; v) além de todos estes fatores, o morador rural foi e continua sendodesalojado do campo a partir da desativação da economia agrícola local. A alternativa de expansão para aconstrução de novas habitações encontrada foi ao longo da estrada, ao norte do núcleo antigo, à margemesquerda da rodovia no sentido Serro-Diamantina (3). Esta área plana foi inicialmente sendo ocupada já emseu extremo norte, mais afastado do centro urbano, por i) novos membros egressos da área rural; ii) pornovos núcleos familiares formados por filhos dos moradores antigos, e iii) por moradores adventícios, vindosde outras cidades, alguns para residência integral e outros construindo casas de veraneio. Única área deexpansão disponível, a margem da rodovia rapidamente passou a ser ocupada em função de seu potencialpara a especulação imobiliária, sendo demarcada para posterior venda ou utilização, até estar inteiramentetomada. Nesse momento, ao final da década de 90, a ocupação já configurava-se como uma questãoecológica, urbanística e social, e medidas legais foram tomadas, no âmbito municipal, para restringir-se aocupação até uma distância limite a partir da estrada. A expansão urbana encontrava-se, até o início de 2007,no estágio 4: as demarcações invadem a Várzea, excedendo o limite adotado, e algumas novas construçõestambém têm sido feitas a jusante da Rua do Vento; dentre estas últimas, algumas são construídas porposseiros, em terrenos bastante precários, localizados entre o despenhadeiro e a saída sul da rodovia, nadireção do Serro. Além do impacto sobre a natureza do entorno, agredindo um patrimônio ecológico queconstitui a salvaguarda da sobrevivência da comunidade a partir da economia do turismo, a expansãodesordenada desvaloriza todo o conjunto imobiliário pré-existente, ao diluir a demanda por imóveis, agravaros já crescentes problemas ecológicos e urbanísticos relativos ao suprimento de água, e ao descaracterizar otraçado do núcleo urbano e a arquitetura local, criando novas áreas “favelizadas” nas duas entradas da cidade(mapa elaborado pelo autor; vide observações referentes ao preparo da ilustração anterior).
147
Figura 23 – Trajetos do antigo caminho e da rodovia atual em relação à área urbana
O caminho tropeiro entre Serro e Diamantina, desde os primeiros tempos da colonização do Tejuco, passavano itinerário aproximadamente indicado pela seta preta, aproveitando a topografia plana da Várzea. A cidadeestava situada fora deste trajeto. A partir de sua implementação, esta rodovia tem sido o eixo de crescimentoda cidade (foto do autor – junho de 2006; vista a partir da estrada, a meio caminho para Três Barras).
148
Figura 24 – Contraposição entre urbanização radial e axial
O diagrama à esquerda é uma simplif icação esquemática da urbanização e dos fluxos viários em Milho Verdeantes da construção da rodovia Serro-Diamantina, que atravessou por dentro de Milho Verde e São Gonçalo,em 1928. A entrada e a saída, antes da implementação da rodovia, eram feitas a partir de uma ligação dalocalidade com o caminho principal, que passava ao norte. Com a rodovia, a área urbana foi transformada empassagem e, nos anos recentes, a urbanização está gradualmente crescendo no sentido axial (diagrama àdireita), o que tem contribuído para descaracterizar o atrativo aspecto orgânico de Milho Verde. A passagemda rodovia no interior da cidade é considerada natural pela população local e, de uma maneira geral,vantajosa. Porém, caso ocorra uma intensificação do tráfego atual, isso poderá comprometer a qualidade devida da população e a sustentabilidade da atividade turística. O fluxo de automóveis nos picos de visitaçãotem causado dificuldades de tráfego e estacionamento. Começa a ser percebida pela população a necessidadede se imporem restrições de tráfego durante os feriados. Porém, dadas as condições geográficas do entorno ea absoluta inviabilidade de custos para a construção de um desvio (que causaria impactos ecológicos aindamais indesejáveis), a estrada permanecerá passando por dentro da cidade. Mesmo atualmente, as condiçõesda geografia parecem confirmar que Milho Verde realmente está situada em uma passagem obrigatória. Osproblemas decorrentes do trânsito de veículos – ruído, poluição, perda de privacidade e tranqüilidade, perigoe desconforto para pedestres – poderão no futuro, ao que tudo indica, ser apenas minimizados, e não de todoeliminados. (A respeito da utilização de planos esquemáticos da evolução do traçado urbano para o estudo ecompreensão das transformações demográficas, econômicas, tecnológicas, sociológicas, vide PINHEIRO,2002: 8 – ilustração elaborada pelo autor)
149
A Várzea, patrimônio público insubstituível devido à importância fundamental que
exerce na manutenção da atratividade local para o turismo, e como caractere distintivo da
personalidade urbana de Milho Verde, tem sido, portanto, gradativamente espoliada pelos
próprios membros da comunidade, que lhe consomem a água em níveis crescentes, cercam
trechos à borda do perímetro urbano ou em pontos afastados, e a transformam em pasto,
plantando braquiária e cortando as remanescentes manchas de vegetação de cerrado para
alimentar fogões a lenha (item ainda necessário para o preparo da alimentação nas casas de
grande parte dos habitantes locais, mas utilizado de forma supérflua para a composição de
uma “mística rural” em um número cada vez maior de casas de veraneio).
As agressões à natureza no entorno de Milho Verde têm de ser compreendidas
também como uma questão social. O trecho de comentário transcrito a seguir registra essa
implicação:
Agora eles não passam fome mais, mas já teve gente que passou fome aqui. Masessa própria dificuldade de buscar o recurso existe porque eles vão lá e queimam,e tiram a lenha, e vendem, porque está dando um dinheir inho que eles vão alitrocar por um quilo de feijão, por um pão, por uma comida. Então como é quevocê discrimina, como é que você fala “Ah, não pode fazer isso.” Como não,se ele está alimentando os filhos dele? [m]
O surgimento e crescimento do interesse econômico pela ocupação dos terrenos do
entorno, por parte da população local, são assinalados neste trecho de depoimento:
Milho Verde, quando eu conheci, as coisas não tinham preço, não tinham valor.Conheço vários exemplos de pessoas que vieram pra cá, quiseram construir umacasa e a comunidade “Ah, pode cercar um lote ali, e fazer sua casinha.” Hoje,as pessoas do lugar cercam o lote [e] tentam vender, cinco mil, seis mil, agora jáestá a dez mil um lote. E cada um cada vez querendo cercar mais, e agora nãoestá tendo pra onde ir, estão indo lá para a Várzea, que é uma Área de ProteçãoAmbiental, que a gente tem que tomar cuidado com ela... [a]
A gradativa ocupação da Várzea pode ser visualizada nas imagens apresentadas a
seguir (Figuras 25 e 26):
150
Figuras 25 e 26 – Ocupação de área de preservação
O impasse comunitário criado pela ocupação da Várzea pode em parte ser caracterizado da seguinte forma:Milho Verde é interessante do ponto de vista túristico, e isso aquece a procura por imóveis. Porém, a posseirregular e especulativa da Várzea, que é uma Área de Preservação, afeta a própria demanda que procuraatender: desvaloriza o conjunto imobiliár io, graças ao aumento da oferta e também aos problemas deurbanização ocasionados. Sobretudo, elimina a atratividade do entorno, agredindo um ecossistema frágil eafastando o antigo núcleo urbano de sua contigüidade com a natureza. A depender de como a situação daVárzea evolua no futuro, a atratividade turística da localidade pode vir a ser eliminada. (fotos do autor –junho de 2006; vista a partir do Morro Cabeludo; observe-se no detalhe a presença de lavouras e pomares,em algumas das ocupações situadas em primeiro plano).
151
Os picos sazonais de turismo e veraneio comprometem a qualidade de vida – e a
sustentabilidade da atividade turística – em vários aspectos, e a fraca mobilização
observável na comunidade tem se revelado incapaz de lidar com questões como o tráfego e
estacionamento de veículos, o uso de balneários e áreas de preservação, o abastecimento de
água, a coleta e destinação do lixo e a segurança pública. Há que assinalar que estes
problemas constituem um processo, e não um quadro estático, e pôde ser observada ao
longo dos anos uma crescente conscientização e mobilização da comunidade com vistas a
planejar soluções e impôr restrições ao turista. Assim, hoje em dia não é mais possível
acampar ou ouvir música alta em locais públicos. Por outro lado, os milhares de visitantes
– que chegam a quadruplicar ou quintuplicar a população de Milho Verde (aos
aproximadamente 600 residentes fixos na área urbana somam-se, às vezes, mais de 2.000
pessoas durante os feriados) – representam uma multidão de difícil manejo mesmo para
uma coletividade muito mais estruturada, e diversos problemas encontram-se ainda por
resolver.
Desenhou-se assim, bastante rapidamente, um contexto contemporâneo que
determinou para Milho Verde uma série de novas condições econômicas, sociais e
culturais que, em boa parte, não vêm sendo acompanhadas por uma compreensão
adequada, por parte da comunidade local, dos riscos implicados. A comunidade tem
procedido, assim, sob muitos aspectos, à maneira de uma preguiçosa “aprendiz da
modernidade”, não ciosa das responsabilidades próprias a uma condição de autonomia e
cidadania. Um entrevistado de São Gonçalo, deliberadamente não identificado aqui,
aludindo às diferenças na mobilização comunitária das duas localidades, dá a entender o
quanto a comunidade de Milho Verde pode estar sendo negligente com relação a questões
que a afetam:
152
Para você entender como que as coisas são aqui [São Gonçalo] com relação aoturismo, a população pega Milho Verde como exemplo negativo.
A visão do empreendedor de turismo já mencionado contrasta com a do entrevistado
anterior, por atribuir uma inevitabilidade à transformação cultural e distinguir uma
dialética em que mudanças positivas somam-se aos prejuízos decorrentes dos impactos:
[...] eu conheci outros lugares em que isso aconteceu. Sempre chega. O novoabala o velho. Abala o velho, o velho flexibiliza, e no fim eles somam. E vaifazer uma outra coisa diferente. [...] Primeiro, como eu falei, esse pessoal tavacom uma mentalidade do séc. XIX. [...] hoje em dia, a gente vê criançaspreocupadas com meio-ambiente. Os pais dessas crianças foram crianças um dia,e nunca tiveram essa preocupação. Então, é uma novidade. [a]
O entrevistado vê um componente dessa dialética na própria dinâmica dos interesses
criados pelo turismo.
“Ah, vocês têm que organizar o turismo, porque senão o turismo vem edestrói o lugar.” Pois eu acho sabe o quê? Acho que o povo aqui já destrói muito,o turismo só faz conter a destruição. Porque as pessoas de fora vêm, e acham acachoeira linda. E o povo daqui, que nunca achou cachoeira linda [...] “Ah,não sei que graça você vê nisso aí.” “Não, isso é bonito, isso é a natureza,olha.” Então as pessoas começaram, o povo daqui não ia nadar em cachoeira,hoje o povo daqui vai, domingo, nadar na cachoeira. Isso é o quê? É fruto doconvívio com as pessoas de fora. Antes, o povo “Ah, isso aí é um mato.” Hojenão, hoje eles sabem nomes de plantas. Por quê? Porque tiveram contato compessoas de fora. [a]
O entrevistado atribui ainda ao contato com o exterior potencialidades para a própria
preservação da cultura local:
Então, falar assim “Ah, aqui tem uma cultura rica, folclórica” cheia dedetalhes e pormenores, não vejo isso. Isso é a cultura do interior de Minas,mesmo, que é rica, é, mas nada que vá ser engolido, sucumbido, pelo contatocom os de fora. Porque, desde quando entrou luz elétrica, entrou televisão, essepovo fica doido caçando é o que os de fora têm pra trazer. Eles querem terconforto, eles querem são essas coisas que o de fora traz. Os de fora resgataramcoisas que antes estavam se perdendo aqui. Folia de Reis, foi o pessoal de fora
“Pô, vocês não fazem uma Folia de Reis?” “Ah, não, tem uns quinze anosque não se faz.” “Então vamos fazer” isso já tem uns oito anos aí, que todoano tem, e o pessoal voltou a gostar da Folia de Reis. [a]
Foi um fato observado que, em geral, o habitante natural da localidade enaltece o
advento do turismo, que fez renascer a economia e que representa uma importante fonte de
153
proventos, direta e indireta, para grande parte da população. O garimpeiro mais idoso é
enfatico ao afirmar que o turismo é desejável para a localidade, sob qualquer prisma, mas
logo em seguida acrescenta um senão, correspondente à esfera do comportamento e dos
valores:
[...] mudou pra melhor, não pra pior. Eu não vejo nada de pior aqui sobre oturismo, não. Eu não vejo não. Eu só vejo esses... bom, tá ficando meio esquisito,porque tá vindo muito... como é que fala isso mesmo? Que vem, e aí aqueles quetêm seus filhos, têm medo de vir e acontecer que vê um... fumando essas drogaaí, maconha. [c]
De fato, as drogas, trazidas pelo turista, pelos novos moradores e por habitantes
emigrados que regressaram constituem, talvez, a mais agressiva ameaça dentro do
composto de impactos ora experimentado pela comunidade. As populações jovens de
gerações anteriores vinculavam-se à área rural e às atividades de plantio. Hoje, configura-
se uma juventude mais urbana e referenciada em estruturas sociais e familiares bastante
menos restritivas. Adicione-se o dinheiro do turismo a esse quadro e os riscos associados
ao consumo de drogas aumentam.
Aos impactos registrados na cultura, comportamento e valores, muitos dos
entrevistados acrescentaram a visível descaracterização do cenário urbano:
Milho Verde tinha, por exemplo, ali onde é o hotel, era um rancho maravilhoso.Inclusive, o hotel ocupou parte da [antiga] praça. Ali era um rancho de tropeirostambém. E eu me lembro ainda do rancho. Aí eles desmancharam e fizeramaquela porcaria. Aquele hotel de rodoviária. Aquilo é igualzinho um hotel derodoviária. Tem até a marquise.
Várias dessas transformações da área urbana derivam da instalação de serviços à
comunidade, tais como saneamento e comunicações. Esses benefícios, embora
demandados pela população, são percebidos também pelo aspecto negativo. Esse
comentário veio de uma moradora nascida na localidade:
154
Ô gente, o Cruzeiro, lindo maravilhoso, [a gente] ia fazer uma capelinha depedra, tocaram aquela caixa de água ridícula, lá. Eles qué tentá fazê uma coisaque diz que é bom pro lugar, mas acaba atrapalhando tudo. [d]
O entrevistado a seguir, também nascido na localidade, pondera que os dois lados da
questão são de difícil harmonização, mas atribui aos novos moradores a rejeição às
transformações do cenário urbano:
Vá a Capivari e você vai ver. Tem lá uma torre monstruosa. Hoje não hánecessidade dela, a tecnologia está muito mais avançada. Ela já pode ser retiradade lá. Agora, vamos dizer, se hoje ainda não tivesse o meio de comunicação lá...[...] Talvez a pessoa que vem pra cá pra sobreviver só em cima do lazer é quereclama muito. A diferença é essa aí. Enquanto um está lutando pra chegar obenefício, ele não quer nem saber do que ele vai chegar, se é de navio, se é deburro, se é de avião, ele quer é que chegue. Talvez, quando chegue, ele f iquebaqueado. Pode trazer algum transtorno. O progresso sempre traz. [i]
De qualquer maneira, o processo de descaracterização já deixou marcas profundas e
certamente irrevogáveis. O entrevistado mencionado a seguir avalia o saldo das
modificações, relacionando o resultado à atratividade turística remanescente:
[...] esse negócio da vista aqui em Milho Verde, já encontrei pessoas em BeloHorizonte que falaram “Nossa, em Milho Verde, senti uma coisa lá, não sei oquê” falando assim mesmo “não sei o quê...” eu falei “Deve ser avista.” “Ah, é isso, a vista.” Muita gente não se dá conta disso. Mas ficaimpressionado pelo lugar. Mas não fica impressionado pelo patrimônio que setenta preservar aqui, dentro do Plano Diretor, as casas antigas. Milho Verde jáperdeu muito. Nas ruas, a grama foi embora. Milho Verde perdeu demais emtermos arquitetônicos, de preservação, mas não perdeu aquela... Não perdeu umacoisa que já dominava aqui antes, só que antes não aparecia tanto. Muita genteantigamente achava “Ah, é, a tranquilidade de Milho Verde” e aquele ar deinterior, aquelas construções antigas, mas muita coisa disso já foi embora, aquelagrama na rua... Então, o que prevalece hoje é aquela vista do Rosário, aquelaabertura para o céu. [f]
A empreendedora de turismo anteriormente mencionada demonstra uma percepção
ambígua acerca dos ganhos e perdas do turismo. A partir do que pode ser aferido ao longo
das observações e entrevistas, este depoimento parece corresponder de maneira mais ou
menos geral à opinião dos membros da comunidade naturais de Milho Verde:
Só tem que a gente preocupa muito com o futuro de Milho Verde, que o turismotraz muita vantagem, mas tem hora que traz desvantagem, também. Acho que opessoal muda muito a cabeça, pessoal da minha idade mudou muito o jeito de
155
viver, não sei se é por causa do turismo, não. [...] Eu vivo dizendo isso: tudo queeu tenho foi através do turismo. Eu não tenho emprego, não tenho nada, não façonada, não trabalho pros outros. Não tenho salário nenhum. Então, tudo que eutenho eu devo é à beleza de Milho Verde e ao turismo. Se não fosse isso... [d]
A entrevistada prossegue, descrevendo sua opinião de como seria um turismo
desejável:
Agora, se ficar turista todo dia, [a cultura] muda. Agora, se é os feriados, que éum espaçado do outro, eu acho que não muda, não. Milho Verde eu acho que nãopode encher é todo dia, direto. Se a gente ficar acolhendo turista-turista-turista,só por causa de dinheiro, aí vai esquecendo os valores. Eu acho que vai. Temmuitas vezes que você deixa de fazer muita coisa com sua família “Ah, hojeeu não posso porque hoje eu tenho que trabalhar, porque a casa tá cheia” aquele trem todo. Então você deixa mais a família de lado, os meninos de lado,eu vejo isso em Milho Verde. Talvez tenha uma festa lá na escola hoje. Aí, aquienche de gente. Eu tenho que ir lá pra festa da escola do meu filho, eu não voupoder ir porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ganhar o dinheiro.Então assim fica meio complicado. Eu acho que do jeito que está já está bom.Não precisa mudar demais também, não. [d]
Em termos de uma análise das transformações culturais locais, não basta considerar
os imigrantes e turistas como sendo meramente alienígenas porque, a rigor, toda presença
humana ali é recente. Os imigrantes, temporários ou não, se compõem, na quase totalidade
dos casos, de turistas que, após algumas visitas, vieram “para ficar”:
[...] esse pessoal que chega e radica, veio primeiro passeando. [a]
Levas sucessivas de “colonizadores” sobrepõem-se. Ao que parece, dadas as
condições econômicas anteriormente assinaladas, relacionadas ao extrativismo mineral, ao
comércio de tropas e à agricultura voltada ao abastecimento regional, não ocorreu em
Milho Verde uma sedimentação-radicação dessas “camadas”, ou levas colonizadoras, e sim
uma contínua “lavagem de gerações” que imigram e emigram sucessivamente, deixando às
vezes poucas marcas. Esse é um aspecto importante para a compreensão do universo social
e cultural de Milho Verde. A impermanência das atividades econômicas não proveu
condições para a consolidação de uma população maior e mais solidamente estabelecida.
Em ultima análise, essa ocupação humana superficial se deve a fatores passíveis de
156
ilustração pela metáfora bastante próxima de um parco enraizamento vegetal: o solo não
favorece uma economia de base, e a economia que determinou a ocupação regional,
predominantemente (senão totalmente) extrativista mineral, encontra-se hoje esgotada. Um
dos entrevistados assinala a ausência de tradições culturais associadas às práticas
econômicas:
Aqui nunca foi um lugar tradicionalmente de artesanato. E nem agricultura.Garimpo sim, todo mundo aqui era garimpeiro. [f]
Assim, é útil salientar que os fatores condicionantes para as transformações locais em
Milho Verde se deram em geral, tanto histórica quanto atualmente, a partir de impulsos
originados externamente; seja com relação à mineração, agricultura e turismo, ou seja com
relação às condições políticas, sociais e culturais. O momento de mudanças atualmente
vivenciado em função do turismo consiste portanto em apenas mais uma etapa de uma
longa série histórica de impactos que não provisionaram um legado local de estabilidade
econômica, produtividade endógena (economia de base), coalisão e identidade
comunitária.
Porém, dentro da dinâmica dos processos atualmente relacionados ao turismo, tem
surgido uma população que, por vezes, atua como intermediária entre os impactos oriundos
do exterior e a comunidade. Esta parcela, constituída pelos imigrantes (apesar das questões
já mencionadas por um dos entrevistados, em relação às dificuldades e resistências ao
vínculo com a população tradicional) e também por naturais que emigraram e retornaram,
em grande parte tem custodiado as funções de mobilização comunitária.
O entrevistado mencionado a seguir, empreendedor de turismo, foi um emigrado ao
longo dos anos 70. Ao retornar, liderou uma série de transformações políticas e
econômicas na comunidade:
157
A angústia foi o seguinte, moço: é que eu senti aquele mundo lá foracompletamente diferente do nosso aqui. E me deparei com o atraso, porexemplo... em investimento social. Gente! Eu fui lá pra fora, tive oportunidadede estudar, de fazer tal curso, isso, aquilo, eu voltei, e meus companheiros [...]estavam só com o primário aqui. Agora, e os que nasceram depois? Depois dequinze anos? [...] Demorou muito, passou vinte e tantos anos, pra eu voltar eachar o mesmo primário. Ainda não existia o ensino fundamental... [i]
O status de alienígena pode ser considerado, inclusive, dadas as condições locais de
não enraizamento da população, como um limite um tanto quanto tênue: muitos moradores
adventícios moram ali há um tempo consideravelmente mais longo do que o período em
que várias pessoas nascidas em Milho Verde e anteriormente emigradas encontram-se ali
após o regresso. E há outro dado relevante: os que emigraram, em geral, o fizeram em
busca de melhores condições econômicas e educação, ao passo que os imigrantes a partir
de outras regiões e dos grandes centros não vêm decerto a Milho Verde em busca de
realização econômica.
Um imigrado, embora discutindo seu pertencimento à região em termos filosóficos,
absolutos, termina deixando entrever a peculiar permeabilidade e transitoriedade da
constituição populacional local:
Mas eu sou diferente. Porque eu me enraizei aqui. Deixei meu lugar. Escolhi, euestou aqui. De uma certa forma, sou mais daqui do que qualquer um “Mas nósnão vamos agora brigar por causa disso, é uma questão filosófica, existencial.Não tem importância, mas, só quero te mostrar como é bobo dizer ‘você nem édaqui’, porque todos nós somos, para todos efeitos, passageiros.” [j] 67
Um outro entrevistado descreve, porém, a situação de imigrado por um aspecto de
não-pertencimento:
[...] quando encontrei com as pessoas daqui, sempre fui um estranho, eles sempreeram estranhos. Isso hoje em dia amenizou com a globalização. Globalizaçãotambém interna, sem falar no nível do mundo, globalização interna do Bras il, do
67 Faz-se aqui quase obrigatória a menção a Manuel Bandeira: “Mais importante do que nascer em uma terra,é ver a terra nascer dentro da gente.”
158
interior com a cidade. [...] A gente passou muitos anos aqui em abstinênciacultural. Porque apesar de que existe uma vida cultural rica aqui, ela não era onosso meio, em que se fizesse a conversa de um pra outro, como nós estamoslevando [...] [f]
O aumento do custo de vida local, a constituição de família e a retração do mercado
de artesanato, entre outros fatores, fizeram com que o entrevistado, como muitos dos
imigrados, encontre-se atualmente premido por dificuldades semelhantes às da
sobrevivência do habitante natural da região:
[...] eu tenho uma luta constante de sobrevivência, e dependo de fora, e tambémdependo do ambiente daqui para sobreviver f inanceiramente... porque asobrevivência bucólica aqui é fácil, a sobrevivência estética daqui é muito fácil[...] para artistas, aqui tem um vasto campo de achados, para enriquecer aexperiência artística; para a vida econômica, a coisa é dureza. [...] [f]
A socióloga Maria de Fátima Lanna (2002) conduziu um estudo sobre a gradual
absorção de uma comunidade hippie pela comunidade tradicional de São Gonçalo do
Bação, distrito de Itabirito, Minas Gerais. À parte um aprofundamento da questão
empreendido por Lanna, referente à intensidade das influências hippies verificadas em São
Gonçalo do Bação, a autora assinala a gradual inter-assimilação dos grupos, em um fluxo
bilateral de influências culturais (hibridização):
Para um estranho que chega ao lugar nos dias atuais, não existem hippies ou nãohippies. São todos moradores locais, mas de um lugar que possui característicasculturais peculiares. Desta forma, o que um dia foi radicalmente estranhotransformou-se em conhecido e a tolerância, característica da Pós-Modernidade,tornou-se um atributo mais apreciado por essa sociedade (LANNA, 2002: 22-31;34;36-40).
A hibridização apontada por Lanna com relação à cultura de Bação é identificada não
como uma total integração à comunidade, mas uma transformação a ser compreendida
como um processo de tradução, conceito apresentado pelo antropólogo americano Stuart
Hall para definir a situação cultural de imigrantes: nem totalmente assimilados, nem
pertencentes mais à cultura de origem (HALL, S. apud LANNA, 2002: 36-37). Outro dado
relevante apontado por Lanna é a adesão a valores capitalistas por parte dos hippies
159
residentes em Bação, praticando ganhos de escala, mais-valia e terceirização em suas
atividades de artesanato (2002: 27;39).
As organizações do Terceiro Setor de presença e atuação circunscrita à região podem
ser avaliadas também como representantes de um quadro ampliado de propostas de atuação
– comunitárias, ecológicas e de desenvolvimento alternativo – correspondendo, portanto, a
um “think global” de desenvolvimento alternativo. Porém, é justamente em um cunho de
estímulo à participatividade, à deliberação, à presença do indivíduo no cotidiano político,
visando um conseqüente fortalecimento comunitário, que estas entidades do Terceiro Setor
encontram os mais sérios obstáculos para suas agendas específicas de atuação
(comunitária, cultural, econômica, ambiental), pois emaranham-se nos entraves
representados pelas condições culturais e sociopolíticas locais que se propõem a
desenvolver.
De cidade fantasma do ciclo minerador, Milho Verde foi promovida, portanto, a
destino turístico, com o potencial para essa atividade em grande parte ainda inexplorado.
Revelou-se, ao longo das entrevistas, quase desnecessário indagar dos moradores antigos
se esta nova condição é desejável. Por outro lado, não se observou também uma
compreensão, por parte de toda a população, sejam naturais ou adventícios, da necessidade
de cooperação, ou quanto ao modo de cooperação hoje requerido aos membros da
comunidade, face aos desafios a serem enfrentados com vistas à consolidação de uma
atratividade turística local.
As formas de cooperação atualmente observáveis baseiam-se em uma ordem
tradicional, localmente enfatizada e mantida, ao passo que as novas demandas requerem
capacidade de organização logística e enfatizam aspectos de funcionalização, inserindo a
comunidade em um contexto de competição entre pares (“coopetition”) e de competição
160
com uma miríade de outros destinos, obedecendo-se a uma lógica mercantil. Nada do
contexto anterior do turismo – que se poderia denominar talvez como afetivo – que vigorou
nas duas últimas décadas do milênio e que encontrou seu apogeu por volta de meados dos
anos 90.
Estas questões conduzem a temas a serem tratados ao longo do próximo subcapítulo,
onde serão abordados alguns dos contrastes, oposição ou dialética entre a ordem
tradicional, em vigor até recentemente, e a atual – e cada vez mais intensa – corrente de
racionalização funcional das atividades econômicas e, por extensão, da vida em
comunidade.
Foi disposta a seguir, para fins de síntese e referência, uma cronologia dos eventos
significativos da formação da localidade, desde a primitiva colonização até os dias de hoje
(Quadro 2):
161
Data Evento
cerca de 1700 Mineradores quilombolas no Serro Frio
1714 Criação da Comarca do Serro Frio, tendo Vila do Príncipe como sede
1726 Notificação à Coroa portuguesa da descoberta de diamantes
1732 Milho Verde é sugerida como local propício para Sede da Comarca
1734 Demarcação do Distrito Diamantino
1739 Contrato dos Diamantes
1772 Real Extração
1821 Juramento da Constituição; livre entrada na Demarcação
1841 Término da Real Extração;
cerca de 1850 Auge da exploração mineradora independente em Diamantina
cerca de 1860 Queda no preço dos diamantes (descoberta de nova jazida na África)
cerca de 1910 Auge da fase industrial de Diamantina (ocorrida entre as décadas de 1870 e 1930)
1914 Interligação ferroviária Belo Horizonte-Diamantina
1928 Interligação rodoviária Serro-Diamantina passando por Milho Verde
1936 Interligação rodoviária Serro-Diamantina passando por Datas
cerca de 1940 Interligação rodoviária Diamantina-Belo Horizonte (ligando Diamantina a Curvelo)
cerca de 1950 Interligações rodoviárias Rio-Bahia e Diamantina-Salto da Divisa
cerca de 1970 Auge da evasão (emigração) de Milho Verde
cerca de 1975 Constatação, por parte da população, da ocorrência de turismo em Milho Verde
cerca de 1980 Uso de bombas de sucção no garimpo (dragas – mineração mecânica)
1989 Auge da mineração mecânica, seguido da proibição do uso de dragas
cerca de 1998 Auge do turismo em Milho Verde
Quadro 2 – Cronologia de eventos signif icativos da evolução social e econômica da região de Milho Verde
Com vistas ao interesse da presente discussão, quatro fases principais podem ser apontadas na evoluçãosócio-econômica de Milho Verde: i) o período de monopólio minerador estatal, encerrado em 1841; ii) umlongo período posterior, em que se atravessou por diversos reajustes na economia do garimpo, da lavoura edo comércio, até à época do evanescimento do pólo econômico diamantinense, por volta de 1950; iii) umperíodo de hibernação, em que a maior parte da população emigrou, e a economia urbana cessou porcompleto e, por fim, iv) o redespertar econômico, a partir da demanda de turismo surgida nos anos 70, e quepermanece ativa até hoje, incorporando à comunidade, já no terceiro milênio, novas articulações sociais eeconômicas estimuladas pelo fomento planejado à atividade turística. (Esta cronologia foi coligida a partirde SANTIAGO, 2006; INSTITUTO TERRAZUL, 2006; SANTOS, 1976; MARTINS, 2000 e PEREIRAFILHO, 2005, e também a partir de dados coletados junto aos entrevistados formais e oportunisticamente,durante os trabalhos de campo).
162
Figura 27 – Igreja de Nossa Senhora do Rosário
A atratividade desse cartão-postal talvez possa ser avaliada em função de seu potencial valor simbólico comoestereótipo de regionalidade mineira pacata e intocada. Foi justamente deste caráter de pacata e intocada quea localidade retirou alguns de seus maiores atrativos turísticos e, também devido a eles, por conseguinte, aolongo de aproximadamente três décadas de turismo, paulatinamente os tem perdido. Cumpre indagar, dada adeterioração já ocorrida na área urbana e no entorno, por quanto tempo mais subsistirá a atratividade turísticalocal. E assinale-se, considerando-se as constatações apresentadas por Duarte (DUARTE, 6-7), a dinâmicapeculiar que reside por trás deste prédio-símbolo, provavelmente o ícone mais apresentado em materiais dedivulgação comercial, em referência aos atrativos turísticos das regiões coloniais mineiras – mas que não é defato um marco colonial, por se tratar de uma construção bastante recente; este símbolo deriva, portanto, nãoda conservação de um patrimônio físico, representado por uma preservação das construções de outrora, masde um patrimônio intangível, cultural, constituído pela própria conservação de uma estrutura culturaltradicional, no seio de uma comunidade (foto do autor – junho de 2006).
163
2.2. Mercado: o novo bandeirante
Frederico Tofani assinala o entusiasmo de governos, agências internacionais, bancos
de desenvolvimento e corporações nacionais e transnacionais quanto à crescente
importância do turismo na economia, considerado uma “indústria limpa”, de alta
lucratividade, e uma oportuna alternativa de desenvolvimento para regiões desprovidas de
recursos produtivos convencionais – tais como matérias-primas, infra-estrutura viária, de
comunicações e de utilidades, capitalização de empreendedores e especialização de mão-
de-obra –, mas providas de bens culturais e naturais (2004: 14). Essa crença na efetividade
econômica do turismo estaria por vezes desconsiderando, porém, os fatores adversos, entre
eles os custos ecológicos, sociais e culturais, e uma inexorável tendência à evasão dos
recursos. A comoditização e degradação dos destinos, determinando a gradual perda de
competitividade, estão entre diversos outros fatores negativos apontados por Tofani, que
questiona a potencialidade dos programas de desenvolvimento pelo turismo quanto à sua
real sustentabilidade (2004: 14-16; 23-24).
A economia do turismo ocupa posição de grande relevância em todo o planeta:
segundo o Conselho Mundial de Turismo (WTTC), representa o maior de todos os
segmentos de mercado, e estima-se que corresponderá em 2010 a aproximados 12,5% do
PIB mundial, gerando 8 trilhões de dólares de receita bruta anual e 328 milhões de
empregos diretos (GOELDNER, RITCHIE e MCINTOSH, 2002: 18-19;
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO b).
No Brasil, embora crescendo em taxas aceleradas, a atividade turística esbarra em
problemas infra-estruturais e sociais, em que os principais, segundo um levantamento
recente, são as deficiências de estradas e aeroportos e a violência pública (cf. ANUÁRIO
EXAME, 2007: 20;26-27). Mesmo assim, o turismo já figura como quinto principal item
164
na balança comercial do país, e movimenta um mercado anual de 100 bilhões de dólares,
empregando aproximadamente dois milhões de brasileiros.
Em meio a esse contexto de crescente importância da economia do turismo,
diversificam-se os destinos e serviços oferecidos, integrando-se um número cada vez maior
de localidades e regiões anteriormente não visadas, acentuando a visitação nos destinos já
praticados e intensificando-se a organização, formalização e racionalização dos esforços
conduzidos por empreendimentos privados e órgão públicos.
Dentre a bibliografia de estudos realizados acerca de impactos ecológicos, sociais e
culturais causados a pequenas comunidades tradicionais que se tornaram destinos
turísticos, foram consultados principalmente Coriolano (2001), Mendonça (2001), Fonteles
(2004) e Tofani (2004), que figuram como representativos dentre a temática.
Rita Mendonça e Luzia Coriolano descrevem um quadro de severas conseqüências
negativas determinado pela integração de comunidades tradicionais brasileiras à economia
do turismo. Mendonça enumera, entre diversas outras questões, problemas relativos à
urbanização, em que a privatização do entorno das localidades é um dos tópicos mais
freqüentemente assinalados. Em geral, restringe-se o acesso a áreas em que a população
anteriormente transitava com liberdade.68 Nesse contexto, a especulação imobiliária em
pequenas localidades tem tornado secundárias características naturais e sociais de áreas até
então preservadas, e, assim, novos loteamentos e construções acrescentam-se a diversas
outras transformações nocivas à natureza.69 Devido à sazonalidade da visitação, os serviços
de abastecimento de água, esgoto e limpeza urbana tornam-se periodicamente
68 Vide a respeito também Coriolano (2001: 95) e Calvente (2001: 86).69 Vide a respeito também Calvente (2001: 91).
165
sobrecarregados, em demandas que excedem a capacidade da estrutura local, em geral
dimensionada deficientemente mesmo para as necessidades cotidianas da população (2001:
22).
O reverso da moeda, representado pela disponibilização de financiamentos para
melhorias na infra-estrutura das regiões e localidades de interesse turístico, equipando-as
para o atendimento das demandas, tem ocorrido em geral a par do financiamento de
complexos turísticos ou empreendimentos de grande porte. Nessas ocasiões, a distribuição
dos ganhos auferidos não tem sido eqüitativa e a população tem sido com freqüência
despojada de seu local de moradia e de sua atividade econômica original (MENDONÇA,
2001: 22-23; CORIOLANO, 2001: 100).
As restrições impostas ao modo de vida dos habitantes originais de comunidades
abordadas por intensa visitação turística têm sido não apenas físicas, mas também sociais e
culturais. Absorvendo as estruturas sociais determinadas pela presença do turista, os
antigos habitantes ficam expostos às grandes concentrações humanas formadas nos
períodos de maior visitação e perdem a liberdade de se movimentarem e se expressarem
em seu próprio espaço, seja devido à privatização, anteriormente mencionada, do entorno
das comunidades, seja em razão da intimidação causada pelas distâncias sociais entre os
habitantes originais e os turistas, ou ainda devido à descaracterização dos usos e costumes
– um processo de degradação cultural que concorre, inclusive, para a perda da atratividade
turística da localidade (MENDONÇA, 2001: 22; CORIOLANO, 2001: 97-98).
Um morador de São Gonçalo assistiu a modificações como as descritas por
Mendonça e por Coriolano ocorrerem em Diamantina e Milho Verde, e teme pela
possibilidade de que venham a ocorrer em sua própria comunidade:
166
Antigamente eu quase toda semana ia a Diamantina, hoje não faço mais isso,porque sumiram os bares de pé-sujo, não por causa da sujeira, mas por causa dafalta de uma... os diamantinenses se transformaram. É. Decoração. Enfeitam-se.E [ficam] marginalizados, porque ocorrem as serenatas, vesperatas, como eleschamam, e se fecha a praça, bota mesa, a mesa custa cinquenta reais, e apopulação f ica entre a fita e o muro das casas, como espectador. Isto é aperversão de... É perverso... E esse perigo nós estamos correndo [...] E MilhoVerde é um exemplo para isso. No momento que tem festa, se transformam, osde fora são três vezes mais do que os de dentro. Porque, uma coisa, você vêDiamantina, por exemplo, no Carnaval: é uma cidade prostituta. Não porque asmulheres se prostituem, não é disso que eu estou falando. A cidade se entregatotalmente, as pessoas saem da sua casa, para deixar trinta pessoas fazerem suasloucuras carnavalescas, durante quatro, cinco dias, pra, não sei, arrumar dois mil,três mil reais durante esses dias. Porque pra cada um, vinte reais por dia, trintapessoas, cinco dias, então é uma coisa assim. A cidade depois tem cheiro de xixi,de cocô, de vômitos... Por quê? Pra ter dinheiro. [j]
O entrevistado prossegue, assinalando as diferenças entre Milho Verde e São
Gonçalo, e diagnosticando os motivos para um maior impacto do turismo em Milho Verde:
Milho Verde já teve o seu impacto e está sofrendo com o impacto. E temalgumas tentativas de resgatar sua... Mas olha só: quando tem um feriado,Carnaval, qualquer coisa, Milho Verde recebe milhares de pessoas. Em SãoGonçalo não vem muito mais do que cabe, mas o são-gonçalense sempre fica emmaioria. Sempre. Por quê? Porque a cidadezinha é nossa. Nós não vamosentregar ela, por causa de dinheiro, pros outros. Uma ou outra casa, sim. Tudobem. Mas até isso uma ou outra família está questionando por si mesma
“Será que vale a pena? Vale entregar nossa casa pra ficar no paiol?” ouuma coisa assim. Mas São Gonçalo sempre consegue ficar na maioria. [...] É issoque aconteceu em Milho Verde. As forças externas se impõem. Aqui,simplesmente, são absorvidas. [j]
Conforme observações realizadas pelo pesquisador, e também conforme será
mencionado por alguns dos entrevistados ao longo desta apresentação, existem pequenas
localidades em Minas Gerais que se encontram bastante comprometidas, social e
culturalmente, pelo engajamento da população e do espaço urbano no atendimento às
demandas do turismo. Dentro do universo de cidades do ciclo minerador, Lavras Novas,
distrito de Ouro Preto, pode ser citada como um exemplo de resultados negativos de
atividades econômicas relacionadas ao turismo, em que a comunidade original encontra-se
desagregada, culturalmente descaracterizada e marginalizada na economia turística de
maior valor agregado que gradualmente vem se apoderando do espaço urbano privado.
167
Estudando conseqüências socioambientais do turismo, José Osmar Fonteles analisou
impactos sofridos por Jericoacoara, no Ceará, que, como tantas outras cidades litorâneas,
sofreu uma brusca descaracterização da sociedade e economia tradicionais, em
conseqüência da intensa atratividade turística local. Efervescente de turistas em feriados e
estações, Jericoacoara expandiu-se, passando a abrigar uma completa estrutura de serviços
turísticos, incluindo amplos resorts, restaurantes e estabelecimentos de entretenimento
diversos. Além da revolução nos usos e costumes, na organização social, econômica e
cultural e dos diversos impactos causados à natureza, Fonteles destaca a instrumentalização
da população local, designada como um meio para a atividade turística, e não sua principal
beneficiária, ou seja, seu “fim”:
Como o turismo se transforma em mercadoria, passa-se a exigir também uminstrumental de vendas, com marketing especializado. Esse instrumental nemsempre leva em conta as populações nativas como cidadãs, mas como objetosque têm o principal papel de satisfazer as necessidades dos visitantes. Assim, aospoucos, elas vão se desfazendo do seu principal meio de produção – a terra –,vendendo-a para especuladores ou para agentes interessados em investir empousadas, restaurantes e similares. Tais agentes, mais tarde, serão seusconcorrentes na disputa pelo controle dos espaços – territoriais e sociais. Osmoradores nativos sem condições para iniciar o seu próprio empreendimentoficam impossibilitados de se organizar em termos de emprego e renda para suafamília e comunidade. O que lhes resta é alienar-se em função da nova realidade,perdendo, em muitos casos, a própria identidade (2004: 95-96).
Nesse contexto, o autor observa o declínio da utilização das propriedades para
moradia, plantio e extrativismo, ao mesmo tempo em que se reforça o valor de troca,
determinando-se assim, de maneira quase compulsória, o desalojamento da população
local, em função dos altos valores atingidos no mercado imobiliário e das diversas pressões
exercidas pelos especuladores. Como se caracterizou anteriormente, mantidas as
respectivas proporções, problemas relativos à posse imobiliária começam a atingir
claramente Milho Verde e podem vir a ser bastante acentuados, tanto mais considerando-se
o papel exclusivo do turismo como único fator a determinar interesse imobiliário na
168
localidade: o turismo criou valor onde antes só havia terras devolutas ocupadas para
moradia.
Assim, em Milho Verde prenunciam-se questões relativas à exclusão da população
local em função da hipervalorização imobiliária, uma condição, que, indicando-se
exemplos bastante próximos, já se configurou nos centros antigos de cidades coloniais
como Tiradentes e Ouro Preto. Essa forma de valorização imobiliária determina, em geral,
uma inacessibilidade da população original à composição de negócios voltados à prestação
de serviços de turismo, pois visa os imóveis e regiões mais atraentes, mais tipicamente
coloniais, e conseqüentemente, mais visitados e valorizados pelo turista.
A valorização imobiliária em Milho Verde assemelha-se, em alguns aspectos, àquela
descrita por Fonteles em Jericoacoara, pois o valor imobiliário tem sido determinado
menos em função das possibilidades de abrigar-se empreendimentos (pousadas,
restaurantes) no terreno ou prédio, e mais em função da demanda por construção de casas
de veraneio. Dadas as condições de anomia comunitária em Milho Verde e a ausência de
um foco de interesse especulativo, tal como uma orla marítima ou um centro antigo,
multiplicam-se em todas as direções disponíveis os terrenos que estão sendo posseados
pela população. Essa (provisória) abundância de terrenos teve, até o momento, entre
diversos aspectos negativos já mencionados, um aspecto que pode provisoriamente ser
considerado benéfico, pois retarda ou evita uma hipervalorização que pode vir a determinar
condições excludentes para a população.
Os resorts, apontados por Fonteles como “modelo de alojamento global”, e como
descaracterizadores da atratividade original de Jericoacoara, empregaram grande parte da
população local, o que não constituiu ali, porém, uma condição de efetiva distribuição de
renda, inclusão social ou desenvolvimento local (FONTELES, 2004: 97-98). Ao contrário:
em Jericoara, como em tantas outras localidades tradicionais onde se instalaram grandes
169
meios de hospedagem, o turismo tornou-se um concentrador de capital, na medida que
produz a acumulação dos excedentes fora de onde os recursos são gerados, reforçando e
acentuando desigualdades econômicas e sociais, e tornando grande parte da população
original excluída do próprio cenário onde antes organizava a vida econômica, social e
cultural.70 “Tendo de conviver com a nova realidade advinda com o turismo – e concluindo
que agora o mundo não é mais só o seu lugar, e que seu lugar não é mais só seu – a
população local reinventa o cotidiano” (FONTELES, 2004: 95-97).
Muito embora Milho Verde não tenha sofrido – pelo menos, não ainda – impactos do
tipo que Fonteles descreve, notícias de “reinvenções do cotidiano” ocorridas em outras
cidades já chegaram aos ouvidos da população. A empreendedora de turismo citada a
seguir manifesta sua preocupação, talvez primordialmente com as condições de
competitividade de seu próprio negócio, mas também com as condições de trabalho e de
qualidade de vida em toda a comunidade:
Eu morro de medo. Medo, mesmo, de virem aqueles gringos pra cá, e fazeremigual outras cidades que eu não conheço mas já ouvi falar. Dunas de Itaúna é umdos lugares, que histórias que as pessoas já me contaram, eu sinto assim, ô meuDeus, aqui não pode acontecer. Eles vêm com muito dinheiro, nós vivemos numVale pobre. [k]
Preocupações bastante semelhantes podem ser percebidas nesse comentário de uma
entrevistada que atua no fomento do empreendedorismo associado ao turismo:
[...] a gente brinca aqui, dizendo que fazemos uma catequese. O que a gente faz éum trabalho de missionário, mesmo. É tentar, não mudar a mentalidade, masformar. É mostrar pras pessoas [...] a questão do capitalismo... Não tem fronteira,essa coisa chega e aí... Então é quase um alerta “Pessoal, se preparem,porque... ” Não tem jeito de segurar. Teve jeito de segurar em Porto Seguro? Nãoteve! Canoa Quebrada? Também não teve jeito. [p]
70 Vide a respeito também Coriolano (2001: 98;100) e Calvente (2001: 91).
170
É fato que o cafezinho tomado na porta da casa da roça, ou o lirismo da paisagem de
recortes da Serra do Espinhaço entrevistos em curvas de estradas de terra pouco transitadas
– atrativos românticos de forte apelo para aquele que foi o turismo pioneiro em Milho
Verde – não constitui o facilmente empacotável sun, sand and sea (PEARCE apud
TOFANI, 2004: 16) das cidades do litoral nordestino, perfiladas em um padrão mundial de
destinos turísticos que concorre com o Caribe, a Oceania e o Pacífico.
Mesmo assim, verifica-se em Milho Verde, hoje, uma tanto local quanto globalmente
inexorável substituição – gradativa – da ordem social tradicional por um predomínio da
racionalidade de mercado. Dadas as condições históricas anteriormente assinaladas, o
turismo tem atuado como um veículo acelerado (e, ao que tudo indica, também arriscado)
para a modernidade: antes um “refúgio de pré-modernidade”, e por isso alvo do interesse
de tantos visitantes e novos moradores, Milho Verde teve alguns aspectos de sua
modernização (sociais, culturais e políticos) determinados e acelerados, em parte, tal como
se procurou demonstrar, justamente por não ser moderna. Como assinala Fonteles, e isso
pôde ser de fato observado claramente em Milho Verde, o turismo é um dos ingredientes
do processo de globalização, eliminando diferenças interregionais e integrando todos os
locais do planeta a um mercado sem fronteiras (2004: 96). Pode ser mencionada a respeito
também a proposição de Anthony Giddens, de que a modernidade seja “inerentemente
globalizante” (1991 [1990]: 69).
O entrevistado citado a seguir relaciona – segundo o que sustenta ser uma visão
pessoal desprovida de sentimentalismo – as mudanças que estão a ocorrer em Milho Verde
a um contexto amplo de transformações da sociedade:
[...] na hora em que chegou o primeiro turista, a cultura da cidade já começou amudar. Os nostálgicos falam “Ah, Milho Verde, vinte anos atrás...” Mastambém o Brasil de vinte anos atrás era diferente, o mundo vinte anos atrás eradiferente. Esse é um processo irreversível, não se pode voltar no passado. [g]
171
Uma alternativa de atividade turística menos impactante é vista pelo entrevistado
como inibidora do desenvolvimento:
Ou [então] você faz um parque temático [onde] não se pode mexer em nada.Você só vai ali e observa “Ah, é bonito.” Não se pode mexer em nada. [g]
Algumas mudanças culturais consideradas positivas, e associadas a um
desenvolvimento local atingido através do turismo, puderam ser observadas no cotidiano
da população: a comunidade tem experimentado uma necessidade cada vez mais premente
de mobilizar-se para enfrentar as questões ecológicas, infra-estruturais e de organização
urbana, embora essa mobilização venha sendo dificultada por impasses políticos locais;
tem crescido a conscientização da população quanto aos valores culturais próprios, e isso
tem se manifestado na crescente adesão às manifestações culturais típicas e aos eventos
culturais promovidos pelas entidades locais.
Porém, apesar dessa conscientização crescente, o abandono de formas culturais
tradicionais – em decorrência de uma integração a um contexto social, econômico e
cultural externo à localidade – também pôde ser observado. Esse movimento, em grande
parte devido ao contato com o ambiente externo (multiplicado pelo turismo), tem sido um
elemento preponderante de transformações vividas pela comunidade, e está intimamente
relacionado à forma como a comunidade tem se estruturado para o trabalho nos
empreendimentos turísticos, em resposta às diversas solicitações da demanda.
Assim, embora a crescente atividade turística tenha possibilitado melhorias na renda
e na qualidade de vida da população de Milho Verde (simultaneamente a um acréscimo no
custo de vida, cumpre observar), à medida que aumenta a importância do papel do turismo
na vida da comunidade, surgem questões relativas ao abandono de formas culturais e
sociais tradicionais, em benefício de uma crescente integração à economia de mercado:
172
[...] antigamente era mais unido. A união era maior, porque eram poucas casas...era uma família, praticamente. E não tinha esse negócio de, por exemplo, sefosse uma reza, uma missa, uma procissão, ia muito mais gente. Hoje não! [...]Hoje, pelo contrário, o povo do lugar só pensa no turista. Eu, por exemplo, naépoca de feriado, não posso tratar de nada, porque tenho o meu trabalho aqui. [k]
A força dessas transformações é tão mais pronunciada quanto mais – como se
procurou caracterizar anteriormente – as atividades econômicas da comunidade
concentram-se em torno do turismo, e em função do quanto as estruturas anteriores –
econômicas, sociais, políticas e culturais – revelam-se débeis frente às novas influências.
No trecho de depoimento transcrito a seguir, a entrevistada avalia a importância da
economia do turismo em São Gonçalo que, em número de habitantes e em alternativas de
inserção econômica, assemelha-se bastante a Milho Verde:
Hoje, se tirar o turismo, tem um buraco na economia. Porque o turismo empregamuita gente e faz circular muito dinheiro. Assim, não é muito não, estou falandomuito porque hoje, por menos que seja, você tem pousadas que empregam, nemtanta gente, mas deve ter aí umas quinze pessoas empregadas, só pelas pousadas.Em uma população de oitocentas pessoas, isso é razoável, são 2% da população,não a economicamente ativa, mas a completa. Sem contar o que tem emrestaurantes, ainda tem mais, e em temporada isso gera muita coisa. [...] Temtambém o grupo de tapeceiros, que vive do turismo. E o pessoal que fazartesanato de capim. Você tem sempre gente construindo casa, o turismo absorvemão-de-obra, tanto para construção de casa de outras pessoas como aluguel emtemporada, e sempre tem alguma coisa [construção] em pousada, de forma quevai ter uma mão-de-obra sendo absorvida. [l]
Para uma população fixa de aproximadamente 600 pessoas, o turismo gera
diretamente em Milho Verde, entre pousadas, restaurantes, bares e lanchonetes, por volta
de 60 empregos informais. Praticamente todas as famílias têm uma atividade dirigida às
demandas dos turistas, entre casas ou quartos de aluguel, venda de produtos culinários, ou
prestação de serviços como os de construção e manutenção doméstica. Mesmo nos
estabelecimentos comerciais destinados às demandas cotidianas da população, o turismo
participa em proporções significativas das vendas. As estimativas dispostas a seguir
(Quadro 3) expõem a importância do turismo na economia de Milho Verde e também o
impacto representado pelo movimento turístico nos feriados:
173
Estimativas do movimento turístico em Milho Verde
10.000 visitantes anuais a
2.000 visitantes durante o feriado prolongado de final de ano a
2.000 visitantes durante o Carnaval a
1.000 visitantes durante a Semana Santa a
2.000 visitantes ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, e 1.000 durante o mês de julho a, b
500 visitantes durante a Festa do Rosário – em setembro ou outubro, conforme calendário religioso a
500 visitantes durante o Encontro Cultural – 3ª semana de julho a, b
Dados e estimativas da infra-estrutura de serviços de turismo em Milho Verde
Capacidade de hospedagem total aproximada para 1.200 pessoas c
6 pousadas, com capacidade total aproximada para 250 hóspedes
50 casas de aluguel (parcial ou total) com capacidade entre 6 e 10 pessoas por casa (chegando até a 20pessoas, em alguns casos), e capacidade total aproximada para 400 pessoas
2 campings, com capacidade total aproximada para 150 pessoas
4 restaurantes servem refeições (almoço e jantar)
4 lanchonetes servem refeições rápidas (salgados, pizzas e doces)
a) Números estimados para uma per manência mínima de 1 dia (inc luindo pernoite);
b) Os 500 visitantes estimados para a semana de julho em que realiza-se o Encontro Cultural fazem parte dos 1.000visitantes estimados para o mês de julho;
c) Inclui as estimativas de capacidade de hospedagem de pousadas, campings, casas de aluguel e hóspedes nãopagantes; não inclui a população sazonal que possui casas na cidade e as ocupa durante as férias e feriados.
Quadro 3 – Estimativas gerais do turismo em Milho Verde
Estas estimativas, elaboradas em conjunto com empreendedores locais e membros da AssociaçãoComunitária, correspondem ao movimento e estrutura observados em 2006.
174
2.2.1. “O sistema vem aí”
Uma das premissas mais centrais e disseminadas da contracultura foi a aceitação da
possibilidade e da necessidade de repúdio à conjuntura da sociedade de então, que se
tornaria cada vez mais efetivo e viável à medida que mais e mais indivíduos se desligassem
da sociedade. Essa necessidade de desligamento era percebida agudamente no período
áureo do movimento, e uma dialética de transformação na cultura ocidental pode mesmo
ser apontada como uma decorrência da adesão massiva ocorrida nos anos 60 e 70
(YABLONSKY, 1973: 5).
Tal como mencionado anteriomente, viver em Milho Verde constituía, nos anos 70,
80 e mesmo nos 90, um desligamento possível e desejado da pressão e dos conflitos da
vida urbana. O que tem ocorrido porém, e isso tem se delineado crescentemente, é que a
sociedade atual está a solicitar, em um movimento inverso, uma adesão individual cada vez
mais intensa a estruturas tecnológicas e econômicas que tornam cada vez mais tênue e
fugaz um desligamento. No que se refere ao panorama local em Milho Verde, as
modificações na infraestrutura de comunicações e transportes (repentinamente, Milho
Verde já não é mais “low-tech”), e as modificações no interior da comunidade estão a
delinear um impasse entre as estruturas e valores locais de atuação social, econômica e
política, e as pressões externas.
Muitas modificações que apontam no sentido de uma maior presença da estrutura
social e econômica externa podem ser observadas nos mais diversos aspectos do cotidiano
comunitário, e também no universo dos empreendimentos voltados ao atendimento das
demandas do turismo. Os depoimentos a seguir, de empreendedores de turismo, delineiam
algo dessas transformações. O trecho grifado em itálico no primeiro depoimento é
significativo:
175
[...] a gente sempre vive no atraso, porque as coisas passam muito rápido aqui.Como, por exemplo, o turismo: acho que a gente já está no pós-turismo, aqui. Oauge do turismo, nativo, natural, vamos dizer assim, espontâneo, em MilhoVerde foi nos anos 90. Foi um turismo espontâneo, que vinha gente aqui quedescobriu esse lugar, explorou ele ao máximo. Os moradores exploraram esseturismo ao máximo. Fazendo o quê? Bares, casas para aluguel... Dentro desseintercâmbio espontâneo. Agora, com o turismo planejado, o lugar ainda não deuconta. E deu uma caída boa no movimento aqui. Porque as pessoas não são,acho que não são codificadas. A linguagem do novo momento turístico não seencaixou aqui. [f]
As diversas solicitações ambientais por uma maior estruturação para o atendimento
às novas demandas do turismo são percebidas como dissonantes em relação ao modo de
vida local – um tema que será desenvolvido mais detalhadamente a seguir. Este segundo
depoimento, de uma empreendedora de turismo, caracteriza bem essa percepção:
[...] quero continuar fazendo aquele simples que eu sei fazer, bem feito, comamor e, como se diz, com asseio. O que eu posso fazer. Se eu sei a comidamineira, essa simples que eu sei fazer, eu vou mudar pra uma comida japonesa?Eu não tenho interesse. O que eu faço é meu molho pardo, é meu angu, é minhacomida simples, pelo que você já conhece. [k]
Como parte do quadro de pressões externas mencionado pelo entrevistado como um
“novo momento turístico”, figuram projetos de desenvolvimento que visam integrar
regiões inteiras ao mercado global de turismo, representados na região pela iniciativa do
Programa de Desenvolvimento da Estrada Real e também pelo Prodetur Nordeste.
De um modo geral, embora grande parte das atividades preparatórias e dos resultados
locais visados por estas duas atividades de fomento não tenha se configurado ainda, pôde-
se observar que os impactos ora determinados, ou a serem determinados pelo
desenvolvimento do turismo não estão sendo mediados – ou sequer compreendidos – pela
população local. Isso parece se dever a que, muito simplesmente, não existe na
comunidade nenhuma compreensão do papel que se deva exercer em uma atividade de
turismo integrada a roteiros abrangentes, ou em uma estrutura de serviços de turismo que
inclua divulgação, captação de clientes e atendimento a expectativas criadas na demanda.
176
O próprio conceito de roteiro turístico, em si, não pôde ser observado ao longo das
entrevistas e observações como sendo uma referência compreendida pela comunidade –
considerando-se ainda que, de um modo geral, a própria atratividade especificamente local
para o turismo é pouco percebida e compreendida. O comentário a seguir, da mesma
empreendedora de turismo do depoimento anterior, resume vários pontos de vista
semelhantes coletados junto aos entrevistados:
Eu gostaria de, aqui na nossa comunidade, ter um encontro falando sobre essaEstrada Real. Pelo menos eu não sei muito, e não é pra aprofundar, não, mas pelomenos para saber o que é isto... o que significa Estrada Real. [k]
O macro-empreendimento denominado e divulgado como Estrada Real, orientado à
promoção de desenvolvimento econômico e social através do fomento à atividade turística,
tem um marco de efetivação no ano de 1999, data de início das atividades do Instituto
Estrada Real – IER. A entidade é financeiramente subsidiada pelo conjunto de instituições
que integra a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – Sistema Fiemg, a que
se coliga e subordina. Tem como finalidade promover a divulgação e a cooperação da
grande região associada ao ciclo minerador colonial em um roteiro de atrações históricas,
culturais e ecológicas, utilizando como conceito integrador o percurso físico provido pelos
antigos itinerários controlados pela Coroa portuguesa para o acesso às lavras de minerais
preciosos – a assim denominada Estrada Real.
O complexo de itinerários abrangido pelo roteiro distribui-se ao longo dos cerca de
1.400 quilômetros percorridos pelos três trajetos principais (de Paraty a Ouro Preto, do Rio
de Janeiro a Ouro Preto, e de Ouro Preto a Diamantina), e cobre uma vasta região que
engloba 177 municípios, destes 162 em Minas Gerais, oito no Rio de Janeiro e sete em São
Paulo.
177
Designado como um dos projetos estruturadores do atual programa de governo do
Estado de Minas Gerais, o Programa de Desenvolvimento da Estrada Real é avaliado pelo
IER como o projeto turístico de maior potencial econômico no país (PEREIRA, 2006: 30),
e constitui, em seu escopo abrangente, uma iniciativa coordenada entre iniciativa privada,
orgãos públicos e sociedade civil com vistas ao desenvolvimento econômico e social de
todas as regiões abarcadas pelo roteiro.
O IER coordena, assim, um amplo composto de iniciativas e mobilizações, com
vistas ao fomento e estruturação do turismo, que vem sendo apoiado por grande parte dos
governos municipais implicados, pelas instâncias govenamentais estaduais de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, pelo governo federal e por diversas entidades públicas
e privadas, entre elas o Sebrae, o Banco do Brasil, o Banco do Desenvolvimento do Estado
de Minas Gerais – BDMG e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.
Abrangendo assim dimensões macro e micro, o Programa de Desenvolvimento da
Estrada Real envolve a coordenação entre órgãos financiadores, secretarias
governamentais, apoio institucional e estímulo ao desenvolvimento de iniciativas privadas,
ampla divulgação junto ao mercado e aos diversos públicos envolvidos, além de apoio e
coordenação para empresas públicas e privadas ligadas à implementação e manutenção de
infra-estrutura e de serviços públicos (estradas, telefonia, saneamento básico, segurança
pública, conservação de patrimônio histórico). Em uma escala municipal e comunitária, o
Programa busca estimular, integrar e coordenar o fomento ao desenvolvimento pelo
turismo junto às lideranças políticas, empresariais e civis de cada localidade abordada,
178
compondo, assim, um quadro de múltiplas referências e níveis integrados, com vistas ao
desenvolvimento regional.71
Tal como assinalado por um membro do Instituto Estrada Real, dada sua abrangência
e importância para as populações implicadas, o Programa requer uma estabilidade na
consecução, garantida para além de eventuais variações na conjuntura política. E, devido à
formulação segundo os preceitos de autonomização e responsabilização social da iniciativa
privada, em meio à importância pública dos objetivos preconizados, o projeto de
desenvolvimento terminou por adquirir um status modelar, tanto no âmbito do governo
estadual de Minas Gerais como junto ao governo federal. Assim, o projeto foi adotado
como um...
[...] modelo de parceria público-privada no Estado de Minas Gerais. Ogovernador [do Estado de Minas Gerais] percebeu que, numa aliança com ainiciativa privada, estaria fornecendo salvaguardas em relação a eventuaismomentos políticos futuros. O ministro [do Turismo], da mesma maneira, disse:
“A Estrada Real é um grande modelo de iniciativa público-privada, lideradapela iniciativa privada.” Ou seja: a iniciativa privada vai implementá-lo. Com oapoio dos órgãos públicos federais e estaduais, vai fazê-lo numa rapidez maior.Sem eles, vai ser bem devagar. [q]
Apontando, porém, como sendo a principal instância envolvida na efetivação de todo
o empreendimento, o entrevistado acrescenta:
Agora, quem são os atores fundamentais? São os moradores das cidades, osmunícipes. [q]
71 A complexidade de coordenação das múltiplas tarefas de implementação do Programa de Desenvolvimentoda Estrada Real conta com recursos de planejamento e acompanhamento disponibilizados na Internet. Assim,têm sido elaboradas e efetivadas ações que requerem cooperação entre organizações diversas, afastadasgeograficamente e pertencentes a categorias distintas: organizações do Terceiro Setor estabelecem metas eprazos conjuntos com associações de empreendedores, instituições públicas e associações comunitárias. Paravisualização de um exemplo desse tipo de coordenação, em referência ao âmbito da região pesquisada, podeser acessado o endereço www.sigeor.sebrae.com.br, especificando-se a consulta para o Estado de MinasGerais, e em seguida o projeto Estrada Real Diamantina.
179
As preocupações, por parte dos órgãos de fomento envolvidos na implementação do
Programa de Desenvolvimento da Estrada Real, com a adequação de atividades planejadas
e encetadas em relação às realidades locais específicas, bem como a atenção quanto aos
riscos que, a par das potencialidades, vêm contidos nas atividades de desenvolvimento pelo
turismo, aparecem na seqüência do depoimento anterior:
[...] temos que preparar essas comunidades para receberem o turista, não permitirque elas se deixem contaminar por malefícios do desenvolvimento, que odesenvolvimento traz consigo. Não sei se é utopia você só usufruir do que ébom, sem se deixar afetar pelo que é negativo. Na nossa visão, este é o caminho:preparar as comunidades, mostrar a elas o que tem valor histórico, o que temvalor cultural, manter as tradições, sem abrir mão dos benefícios que amodernidade traz. [q]
Manifesta-se também a preocupação com a realidade local de comunidades que,
como Milho Verde, mantiveram-se à parte dos processos de desenvolvimento econômico e
modernização:
Você tem que aliar a conservação da história, da cultura e da natureza com odesenvolvimento. [...] Você disse que aquela região [entre Serro e Diamantina]tem uma certa uniformidade sob o aspecto desenvolvimentista, que ainda estãono século XVIII. Eu recebi essa mesma referência, de uma maneira diferente:quanto mais baixo o IDH de uma região, mais intactos estarão os seus benspatrimoniais, culturais e naturais. Intactos, o que não quer dizer que estejampreservados. Podem estar até se desmanchando, mas não foram destruídos.Porque o progresso vem... Se você não tomar cuidado e não tiver as defesaslegais, inclusive as de um Plano Diretor, pode ver esses bens culturais epatrimoniais serem destruídos. [q]
Exemplos freqüentes da importância do Programa de Desenvolvimento da Estrada
Real podem ser aferidos na cobertura jornalística, podendo ser citada do noticiário recente
a parceria firmada, em maio de 2006, entre a ONU (por meio do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD), o BID, o Sistema Fiemg e o IER, para um
projeto de capacitação do atendimento e de melhorias na infra-estrutura de serviços nas
regiões de Ouro Preto, Santa Bárbara, São João del Rey, Serra do Cipó e Diamantina.
180
A divulgação do roteiro turístico já rodou o mundo, e tem encontrado ampla
repercussão na mídia nacional. Uma das metas visadas pelo Programa é atingir, somando-
se as visitações experimentadas nos diversos destinos turísticos distribuídos ao longo do
roteiro, um fluxo anual de 2,5 milhões de visitantes até o final de 2007 (ANUÁRIO
EXAME, 2007: 158).72
Assim, em Milho Verde, situada no setor extremo setentrional do roteiro, já podem
ser vistos os primeiros efeitos do que se pretende venha a ser em breve uma grande
visitação: andarilhos, ciclistas, motoqueiros, pequenas excursões, carros de passeio e até
mesmo tropas de cavaleiros, todos em busca de atrações culturais e ecológicas, pousadas e
alimentação.
Em um período recente (ao longo, aproximadamente, dos últimos cinco anos),
segundo comentários de muitos membros da comunidade, incluindo-se aí vários
empreendedores de turismo, o turismo em Milho Verde tem “diminuído de quantidade e
aumentado de qualidade”; “mais tranqüilo, mais casais com filhos, mais universitários” – e
diversas opiniões avulsas colhidas prosseguem nessa linha. Não foi possível averiguar uma
relação entre essa mudança observada no perfil da demanda em Milho Verde e a
divulgação, iniciada na virada do milênio, do roteiro turístico Estrada Real. Embora a
divulgação do roteiro esteja sendo conduzida de forma bastante efetiva, e embora Milho
Verde situe-se privilegiadamente nos itinerários sugeridos aos excursionistas (a reprodução
de antigos trajetos coloniais, como se demonstrou anteriormente, destaca Milho Verde), o
roteiro ainda não se encontra plenamente configurado na região. Tendo em vista as
72 As iniciativas de fomento ao turismo no âmbito do projeto da Estrada Real foram objeto de estudos eanálises anteriores. Um contribuição a este tema pode ser acessada pela Internet (GUERRA, OLIVEIRA eSANTOS, 2003).
181
condições locais, as tarefas previstas de implementação de infra-estruturas e de capacitação
dos empreendedores e trabalhadores na região obedece a um cronograma posterior em
relação ao de localidades abrangidas pelo roteiro situadas mais ao sul. (No início de 2006
foi instalada na localidade uma torre de telefonia, dentro de uma proposta de apoio à
atividade turística provendo-se cobertura de sinal de telefonia celular ao longo de todo o
roteiro da Estrada Real.) Em Milho Verde pôde ser observado, porém, que a
implementação do projeto turístico já tem causado movimentos especulativos no mercado
imobiliário local.
O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – Prodetur NE consiste,
basicamente, em um programa de crédito destinado a prover recursos para Estados,
municípios e empreendedores, com vistas à melhoria e expansão da atividade turística e,
simultaneamente, à melhoria da qualidade de vida das populações residentes nas áreas
beneficiadas. A maior parte dos recursos alocados pelo Prodetur NE provêm do BID e são
designados com base em levantamentos sobre as realidades econômicas e sociais dos
municípios a serem abordados.
Configurando uma primeira fase iniciada em 1994, a partir de estudos do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES que identificaram o turismo
como uma atividade competitiva para a região Nordeste, devido à disponibilidade de
atrativos naturais e culturais, e mão-de-obra abundante e barata, o Programa encontra-se
atualmente em uma segunda edição (o Prodetur NE II), que abrange estados do Nordeste e
do Norte do país, o Espírito Santo e também o Norte e o Nordeste de Minas Gerais. Além
de financiamento aos empreendedores e implementação de infra-estrutura – saneamento,
sistema viário e urbanização –, o Programa destina recursos à proteção do patrimônio
natural, histórico e cultural e à capacitação profissional.
182
A disponibilização de financiamentos para atividades públicas e privadas por meio
do Prodetur encontra-se diretamente implicada no desenvolvimento das condições locais
do turismo na região da presente pesquisa, devido à liberação de recursos diversos para a
capacitação de empreendimentos, saneamento e conservação de patrimônio no município
do Serro – distritos de Milho Verde e São Gonçalo incluídos – e em várias outras
localidades do Vale do Jequitinhonha. Os critérios para a destinação dos recursos baseiam-
se em levantamentos e projeções, detalhados para cada localidade, elaborados pela
Fundação João Pinheiro. Destacadamente, o Prodetur NE II previu, entre outras reformas
nos acessos viários da região, a verba necessária às obras de calçamento da estrada entre
Serro e Diamantina. A rodovia será tornada assim mais transitável, sendo o calçamento,
porém, menos impactante do que o asfalto às condições urbanas e sociais locais e aos
atrativos naturais das regiões que atravessa.73 Milho Verde e São Gonçalo, antes visitadas
apenas intencionalmente, devido às más condições do trajeto, voltarão a ser escalas ao
longo de uma estrada.
Um entrevistado definiu assim todas as modificações que estão ocorrendo em
conseqüência de uma gradativamente maior estruturação e divulgação do turismo na
região:
Eu acho que Milho Verde está reativando sua velha função, que era de rodovia,Rio-Bahia, beira de estrada... Acho que aqui era, antigamente, um lugar deintercâmbio, um ponto de encontro na beira da Rio-Bahia. Isso na época
73 As implicações econômicas, sociais e ecológicas de empreendimentos que foram conduzidos na primeirafase do Prodetur foram extensamente reportadas e avaliadas. Alguns artigos acadêmicos que abordam estetema específico, sob enfoques diversos, podem ser encontrados na coletânea organizada por Amália Lemos –Turismo: impactos socioambientais (2001). Todo o teor de proposta, planejamento e andamento de execuçãopara o Prodetur NE II pode ser consultado pela Internet, incluindo projeções de incremento de visitaçãoturística em Serro, Diamantina, São Gonçalo e Milho Verde, entre outras localidades da região, a partir daimplementação das melhorias previstas no Programa (BANCO DO NORDESTE).
183
colonial. Depois teve uma dormência, durante meio século, e agora está voltandode novo a ser um ponto de encontro. Milho Verde é um ponto de encontro. [f]
Outro entrevistado menciona, porém, algo que poderia ser associado mais
exatamente a uma condição de “desencontro”:
[...] eu acho que antes as pessoas que vinham, elas paravam, desciam e sentiam oencanto do lugar. Atualmente não, eles estão passando porque querem conhecera Estrada Real. E Estrada Real é terra, é estrada, mas eles não param, ainda maisagora [junho] que está frio, eles não param pra tomar um banho, não param praver uma cachoeira. Por que eles iriam na cachoeira? Eles querem ver em MilhoVerde uma estrutura de cidade. Querem chegar e ver uma lanchonete bonitinha,ter tudo pronto, olhar e dizer “Quero comer isso aqui” e isso não é arealidade daqui. Aqui você chega e tem que esperar fazer, porque não é umMcDonald’s, as coisas não estão prontas. Aqui você tem esse encanto que vocênão vê, você sente. Não é verdade? Milho Verde é encantadora. [m]
Alguns entrevistados mencionaram uma impressão específica com relação a turistas
que, aparentemente, encontram-se percorrendo o roteiro da Estrada Real: muitos
atravessam a localidade em veículos de tração nas quatro rodas, com a janela fechada e o
ar condicionado ligado:
[...] até agora, o primeiro impacto que eu vejo da Estrada Real, é isso, olha,Milho Verde está começando a ser um lugar mais de passagem. E se a gente nãose organizar e criar atrativos, e não colocar quebra-molas aí na entrada, ninguémvai parar, não. Vai virar lugar de passagem. E essas pessoas de passagem nãoconhecem realmente o lugar, e vão embora assim: “Eu ouvi tanto falar deMilho Verde, é isso aqui?” Outro dia um motorista falou: “É isso aqui?!Milho Verde?” Falei: “É.” “Ah, vou embora que estou com pressa.” E foiembora. [a]
A concepção global do Programa de Desenvolvimento da Estrada Real demonstra
uma atenção à necessidade de integrar realidades sócio-econômicas distintas de visitantes e
visitados. Os meios de visitação privilegiados pelo marketing do roteiro Estrada Real (e
estimulados pela própria definição de um roteiro abrangente que integra uma grande
quantidade de localidades desprovidas de conexões viárias asfaltadas) têm sido os de
excursões a pé, bicicleta ou cavalo. A tematização histórica e ecológica do roteiro favorece
essa proposta, sugerindo que o excursionista experiencie, tanto pelos meios de transporte
184
utilizados como pela atitude de visitação, as condições próprias aos locais visitados. As
palavras de um membro do Instituto Estrada Real sintetizam bem esse conceito:
Até há bem pouco tempo atrás, o turista se contentava em contemplar. O turistade hoje está procurando vivenciar, estar junto, participar. [...] estou falando doturista que estamos focando na Estrada Real. A Estrada Real não é um destinoturístico de massa, onde você despeja quarenta, cinquenta ônibus de quarentapessoas cada um. Aquele pessoal que anda com uma programação, e tem umtempo marcado para as atividades... aquele empacotamento. Nossa visão deEstrada Real é um turista que vem vivenciar, que vem com um pouco com maisde tempo para poder usufruir desses aspectos culturais e históricos e da belíssimanatureza. Um turista que possa ficar um dia inteiro em um cachoeira, e passearem seu entorno, e não simplesmente dar um mergulho, tirar fotos e ir embora.[...] Esse não é o turista que estamos chamando para a Estrada Real, e sim umturista que vai com mais vagar. [q]
O excursionista por meios alternativos parece depender, entretanto, ainda mais do
que o turista convencional, de uma estruturação logística da região visitada, requerendo
disponibilidade de pousadas e uma detalhada organização de roteiros. Esse tipo de turismo
excursionista encontra-se hoje bastante popularizado na Europa, justamente, em parte
devido à grande consolidação já adquirida de meios físicos e de atitudes criadas nos
excursionistas e nas populações que os recebem.
Criar condições similares, propícias ao excursionismo ao longo da Estrada Real,
implica criar toda uma nova cultura de turismo para uma extensa região e, embora esta seja
uma evolução desejável, compreensivelmente demandará tempo para ser levada a efeito.
Talvez devido à carência destas condições, o que tem sido observado predominantemente
em Milho Verde, em termos de um turismo estimulado pelo marketing da Estrada Real, é
uma tendência crescente ao uso de meios motorizados individuais (a par da também
crescente popularização, no mercado automobilístico, dos modelos off-road), e uma
abreviação da permanência do visitante: além do encurtamento das estadias, tem surgido
um novo tipo de turista itinerante, inédito até recentemente:
O que eu vejo agora é que está se criando uma nova modalidade turística, que é ocara que sai lá da capital, com seu carrão bacana, aquelas pessoas que adoram
185
carro, adoram ter um jipão Land Rover, adoram ter uma Mitsubishi A200. Aí,num fim-de-semana, num feriadinho, vai de asfalto até Diamantina, aí de láfecha os vidros por causa da poeira, e vem, passa por aqui, e chega lá em OuroPreto, e vai falar lá no escritório, na empresa “Ah, nesse fim-de-semana eu fiza Estrada Real.” E é isso. “Fiz a Estrada Real” ou “Dormi...” àsvezes lá em Conceição [do Mato Dentro], ou “Dormi em Milho Verde” mas é um povo que está curtindo é o carro. “Peguei uma estrada de terra” etal, mas ele não está interagindo com as comunidades, ele está passando. [a]
Para que se faça possível uma maior estruturação dos empreendimentos locais com
vistas ao atendimento das novas demandas de serviços associadas ao turismo (hospedagem,
entretenimento, alimentação, conservação patrimonial e ambiental, administração), estão
sendo oferecidos atualmente pelo Sebrae, pelo Senac e pelo Fundo de Amparo ao
Trabalhador – FAT, dentro do âmbito de ações de implementação coordenadas pelo
Programa de Desenvolvimento da Estrada Real, cursos diversos de capacitação,
disponibilizando-se formações profissionalizantes básicas em administração hoteleira,
organização de eventos, culinária, serviços de guias turísticos, entre outros, freqüentados
com grande interesse pelos habitantes de Milho Verde e de localidades vizinhas.
Atuando paralelamente à movimentação social e econômica determinada pelo
fomento à atividade turística, embora com propósitos bastante diversos, encontram-se
algumas entidades constituídas pela mobilização da comunidade local ou pela ação de
organizações externas à localidade, sejam do Brasil ou do exterior. Entre elas estão a já
mencionada Associação Cultural e Comunitária de Milho Verde; a reunião de grupos
folclóricos na Associação Cultural e Comunitária do Catopês e da Marujada de Milho
Verde e Adjacências – ACMVA; as associações comunitárias de regiões rurais, como a da
Barra da Cega; o Instituto Milho Verde, presente em atividades de fortalecimento da
identidade cultural e comunitária local, educação, lazer e assistência social; a organização
186
Gemas da Terra, atuante em âmbito nacional com uma proposta de inclusão digital,
disponibilizando acesso à Internet a pequenas localidades,74 com o apoio financeiro da
Unesco; o Clube de Mães, vinculado à Visão Mundial, e a Associação Pró-Fundação
Universitária Vale do Jequitinhonha – Funivale,75 estes dois últimos sediados na localidade
vizinha de São Gonçalo do Rio das Pedras; e diversas outras entidades, de maior ou menor
projeção, ou grau de formalização, de caráter mais assistencialista ou desenvolvimentista,
de origem e atuação local, regional ou nacional. De finalidades variadas, mas que se
defrontam com a mesma realidade social, por vezes encontrando denominadores comuns
na busca de soluções para os problemas sócio-econômicos típicos da região e no incentivo
à mobilização da população local. A atuação de uma destas organizações, o Instituto Milho
Verde, em relação aos contextos determinados pelas iniciativas de desenvolvimento pelo
turismo, será comentada mais detalhadamente adiante.
74 A atuação do Gemas da Terra em Milho Verde foi recente objeto de estudo em uma pesquisa, no âmbitodas Ciências da Informação, sobre inclusão digital (CÂMARA, 2005).75 Vide nota 61.
187
2.2.2. Uma inexorabilidade programada?
A distribuição da renda advinda do turismo, aponta Jost Krippendorf, é menor nos
países de menor desenvolvimento econômico. Embora os empreendimentos turísticos
obtenham a renda principalmente de visitantes egressos dos países mais prósperos, das
grandes cidades e das áreas de maior produtividade, é para estas mesmas regiões que os
recursos financeiros retornam, quase invariavelmente (2001: 71-72). Isto ocorre porque, tal
como apontado no estudo de caso realizado por Fonteles (2004: 95-98), embora a
população das comunidades de destino disponha inicialmente da posse do solo, e
represente ela própria a força de trabalho, estes itens terminam sendo adquiridos a preços
módicos. Deve-se considerar, inclusive, que a força de trabalho e a propriedade
imobiliária, vinculados a um destino turístico, figuram apenas como mais uma opção de
investimento, dentre um vasto número de destinos disponíveis ao empreendedor. Nas
palavras de Krippendorf: “[...] muitas regiões turísticas liquidam seus recursos, sem se dar
conta de que estão perdendo, cada vez mais, a própria independência. Elas se desfazem da
vaca, em vez de vender o leite.” (2001: 74).
Um entrevistado, pertencente a uma instituição de fomento ao empreendedorismo,
descreve alguns riscos, percebidos em sua própria experiência na região, da competição da
população local com os empreendedores externos. O contexto a que o entrevistado se
refere é o da composição de grupos mistos – habitantes naturais e adventícios – de
aprendizado de práticas empresariais e de administração de empreendimentos de turismo:
[...] o que acontece é uma mistura de nativos com os que vêm de fora, queadquirem propriedades. Então nós temos dois públicos ali. O nativo, ele fica, nãodesconfiado, mas sempre com um pé atrás [...] com o tempo eles vão se sentindomais à vontade. [As] pessoas de fora... [...] vão transmitir o que já adquirirampara os nativos. [Pesquisador:] Existe o risco do pessoal daqui ser atropelado?Não há um risco que os de fora, por estarem mais capacitados, peguem o melhorquinhão, ou cheguem mais rápido? Ah, isso é a ordem natural das coisas, não é?[Mas] de uma certa forma, os nativos estarão trabalhando melhor, investindo
188
muito melhor, porque eles [estarão assimilando] uma visão melhor desses quevêm de fora. [n]
Em debate ocorrido em um seminário recente acerca de questões do Vale do
Jequitinhonha,76 o pesquisador indagou a um palestrante sobre o risco iminente de os
empreendedores locais sucumbirem à competição estimulada no âmbito de projetos de
desenvolvimento pelo turismo. A resposta enfática, dada pelo representante da mesma
entidade de fomento ao empreendedorismo a que pertence o entrevistado mencionado
anteriormente: “Sim, é o que irá certamente acontecer”. O contexto para essa pergunta foi
uma discussão acerca de alternativas que esta entidade de fomento tem buscado
desenvolver, em conjunto com mobilizações da sciedade civil, para ser capaz de promover
um desenvolvimento que mais efetivamente beneficie a população local. Uma das
alternativas desenvolvidas foi o programa denominado Turismo Solidário, que, entre outras
localidades, aborda também Milho Verde, e que será discutido mais detalhadamente
adiante.
Krippendorf salienta que, em nome das exigências de pessoal qualificado,
atendimento aos gostos e preferências da clientela internacional e da necessidade de um
alto padrão nas estruturas de serviços, os empreendedores externos muitas vezes contratam
profissionais e fornecedores de fora da comunidade, e isso reforça a tendência de evasão
dos recursos, ao passo que os custos sociais e ecológicos serão pagos, inexoravelmente,
pelos “autóctones”, como o autor os designa (2001: 78-81). Essa assertiva teórica, no que
se refere à importação de mão-de-obra, corresponde exatamente a preocupações
manifestadas por um dos empreeendedores entrevistados:
76 Seminário Vale: Vozes e Visão, realizado de 6 a 8 de novembro de 2006, em Belo Horizonte, promovidopela Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais e pela Universidade Federal de Minas Gerais. Odiálogo mencionado teve lugar em uma sessão de debates realizada no dia 6, entre 14:00 e 18:00.
189
Nós vivemos num Vale do Jequitinhonha pobre... [...] E, eu tenho medo assim:eles vêm, cheios de dinheiro, iludem esse povo simples aqui, compram tudo,montam seus negócios, não, não, eu não acho eles vão colocar as pessoas daquipra trabalhar, não, eles não vão dar valor às pessoas daqui, não. Eles vão trazerpessoas de fora, com cursos especializados pra trabalhar, eles vão olhar nada decultura, que as pessoas daqui sabem fazer, a simplicidade que é aqui, não. E praonde que o povo daqui vai? Porque eles, se eles [os empreendedores externos]não derem certo aqui, eles têm [para] onde voltar. E nós, os nativos... como euamo esse lugar aqui, eu tenho muito medo. [k]
Mencionando uma pesquisa realizada em uma pequena comunidade turística na
Suíça, Krippendorf relata que 79% dos entrevistados queixaram-se de que as pessoas só
pensam em dinheiro; para 53%, o espírito comunitário desapareceu; 45% apontam que o
aspecto da localidade foi desfigurado e 43% observam o mesmo com relação à paisagem;
44% reclamam da perda da coesão familiar; para 26%, o turismo beneficiou apenas uma
minoria da população. O autor completa com a observação de que estes são,
evidentemente, custos imprevisíveis e não contabilizáveis (2001: 75-76). Não
contabilizáveis, mas perceptíveis, como a entrevistada mencionada anteriormente assinala:
Mudou que eu f ico sentida. Tem horas que eu penso assim... até a cultura vaimudar. É, até a cultura vai mudar. Já tem gente “Ah, eu não vou fazer essacomida hoje, porque o turista não gosta, eu vou fazer um outro tipo de comida.”Agora, eu tenho de pensar não é só no turista, eu tenho de pensar em mimtambém, não é? [k]
Ao analisar o turismo como um fenômeno social e cultural, Jost Krippendorf põe em
destaque i) motivações de fuga e egocentrismo, que dão origem a invasões massivas,
tratadas pelas comunidades receptoras de forma também massificada; ii) a predominância
de interesses instrumentais do comércio, a agitação e a remessa de divisas para o exterior
do destino turístico; iii) a presença de sentimentos de superioridade e inferioridade, em que
a amplitude das diferenças impossibilita um encontro cordial entre povos, caracterizado
190
assim como utópico;77 um goza da “liberdade e do prazer” que constituem, exatamente, o
“fardo e o trabalho” do outro (2001: 83). O turismo, como indústria desenvolvida em um
ambiente globalizado, concede um status ao turista – na proporção mesma do grau de
estruturação local atingido pela cadeia de serviços a serem prestados – que pode ser
compreendido como uma subordinação dos interesses locais à sua condição de viajante,
visitante e hóspede. Assim, automaticamente, o turista reivindica uma posição privilegiada
de habitante de uma tecnoestrutura de linguagem capitalista, à qual todo o resto,
paulatinamente, subordina-se (HALL, 1998: 193-195).
Assim, de lugar “visitado”, Milho Verde tem passado, gradativamente, à condição de
“servidora” do turismo. Os comentários do entrevistado mencionado a seguir descrevem
indiretamente uma série de modificações que estão a ocorrer no comportamento da
demanda do turismo em Milho Verde:
Porque o turista que antigamente vinha aqui ficou apaixonado com areceptividade do lugar. Mas isto, hoje em dia, só os mais chegados, as pessoasconhecidas, são os que embarcam nessa história. O turista de hoje mudou. Oturismo mudou. O tipo de turismo que vinha aqui era um turismo maisromântico. Pessoas que gostavam da receptividade familiar, em casa. Quegostavam da simplicidade, que gostavam de desconectar da cidade e, entrar aquinuma casa, ser recebido, sentar na cozinha... Esse tipo de turismo hoje éantiquado. Ele é fora de moda. Não vou falar “fora de moda”, isso é um poucoexagerado, mas pode-se dizer que esse é um tipo de turismo que se faz emtermos de qualidade, e hoje em dia tudo é em quantidade. Essa qualidade deturismo não está mais sendo procurada. Porque as pessoas na cidade nemconhecem isso, nem mesmo sabem procurar isso. [f]
Uma cachoeira, você até pode comprar. Agora, em Milho Verde, a pessoa sentalá, naqueles alicercinhos no Rosário, e fica viajando, e fica conversando com ovelho lá do lado, fica viajando, e isso... isso não tá mais nos programas turísticos.[...] Quem vai pôr isso em uma embalagem? [f]
77 Vide também Coriolano (2001:98).
191
Frederico de Paula Tofani (2004) compilou em artigo uma síntese das contribuições
teóricas acerca do tema de impactos sofridos por comunidades tradicionais incorporadas à
economia do turismo, notadamente por aquelas implicadas em projetos de
desenvolvimento pelo turismo, e discutiu os limites, perspectivas e desafios para um
desenvolvimento turístico sustentável.
Entre os principais impactos sofridos por pequenas comunidades, Tofani aponta o
“desmantelamento da estrutura sócio-cultural de comunidades tradicionais e a conseqüente
destruição de relevantes patrimônios de natureza imaterial”, situação determinada, segundo
o autor, por três motivos principais: i) “expulsão das comunidades nativas dos espaços
onde [...] reproduziam práticas culturais coletivas”; ii) a incorporação destas comunidades
à estrutura de mercado, geralmente em condições de profunda dependência de
empregadores externos, e em funções de baixo rendimento, capacitação e estabilidade; e
iii) “pela adoção de padrões socioculturais externos”, fator que afeta populações inteiras,
entre estas principalmente os mais jovens, que adotam os valores e estilo de vida dos
turistas como metas a serem perseguidas: maior liberdade, educação formal e maior
capacidade de consumo, em detrimento da manutenção e incremento coerente das
condições econômicas, sociais e culturais locais (2004: 17).
A associação desses três fatores tem sido responsabilizada por causar baixa auto-estima na comunidade tradicional e por gerar a depreciação de suas estruturasreligiosas e místicas, o abandono dos rituais, festas e celebrações, a extinção dosantigos conhecimentos e modos de fazer, a desvalorização das manifestaçõesartísticas e lúdicas, a incorporação de padrões de consumo indesejáveis, avulnerabilidade moral, o aumento da aversão contra turistas por aqueles quemantém códigos e valores tradicionais e a conseqüente ruptura da unidade socialentre “progressistas” e “retrógados” (TOFANI, 2004: 18).
Não uma ruptura, mas talvez uma distinção possa ser apontada no âmbito da
comunidade de Milho Verde: de um lado simpatizantes das transformações originadas pelo
turismo, a despeito da gravidade dos impactos associados; de outro, integrantes mais
192
preocupados com a sustentabilidade do processo e com a manutenção dos valores
tradicionais, e atentos às implicações negativas do desenvolvimento. O entrevistado
mencionado a seguir, empreendedor de turismo que pode claramente ser apontado entre os
“simpatizantes”, atribui causas sócio-econômicas a estes dois diferentes posicionamentos:
[...] alguns se preocupam [com impactos sobre a comunidade e a natureza];outros são muito indiferentes. Na maior parte, a população não está muita sentidaassim, não é muito urgente não. [A despreocupação ocorre] muito em quemprecisa trabalhar para ter o dia-a-dia, e se preocupa mais com as coisasimediatas. A comida de hoje é o trabalho para comprar a comida de amanhã.Quem tem mais fôlego, mais recurso, tem tempo pra se preocupar mais comestas coisas [impactos]. Está mais desligado da viabilidade. E tem que pensartambém que tem muita gente que ainda tira os recursos da natureza. A mulher deJoão da Serra [nome fictício inventado pelo entrevistado] lá, que corta candeia,aquela candeia pra acender o fogo. Não corta porque quer destruir, corta pra teros cinqüenta centavos para poder comprar o arroz. [g]
Uma avaliação negativa quanto à assimilação de novos hábitos pela juventude
aparece no depoimento a seguir, de uma entrevistada que pode ser incluída entre os que se
preocupam com os impactos do turismo, embora também seja ela própria uma
emprendedora de turismo e natural da localidade. Não se trata aqui, tal como pôde ser
observado pelo pesquisador, de uma preocupação genérica de gerações mais antigas com o
comportamento da juventude, mas sim de uma desvinculação dos habitantes mais jovens
em relação à esfera de valores tradicionais, como uma decorrência direta do contato
intensificado com elementos externos, tal como descrito anteriormente por Tofani.
Pessoal vivia com mais s implicidade. Essa coisa de moto, de calça da moda, debrinco de orelha, sapato novo, essa coisa toda... Tem gente que não vai numafesta “Ah, eu não tenho uma roupa nova, pra ir numa festa.” Aí, já mudoumuito, a cabeça dos meninos, os pais mesmo tão com a cabeça muito... deixandotudo correr muito solto. Acho que é um perigo.” [d]
O entrevistado citado a seguir, que atua junto a projetos de desenvolvimento pelo
turismo, em contato com diversas comunidades, faz uma caracterização pouco amena dos
impactos culturais em curso:
193
[...] a gente já viu muitas coisas nessas reuniões com a comunidade e com algunsempresários, que lá [Milho Verde] também ainda não são tantos assim. Relatosdo tipo “A nossa cultura tá indo pro espaço. A gente não tem mais ambientepara realizar nossas festas, porque estão chegando carros em Milho Verde com osom alto, com meninas de biquíni, com consumo de droga.” “Ah, já temrapaziada, meninos nossos...” eles se expressaram assim “... consumindodrogas.” Esse é o lado predatório do turismo, que realmente acaba com a cultura.Então, existem ambientes muito sensíveis [...] [p]
Assim, Frederico Tofani assinala que, embora o turismo tenha possibilitado que
estruturas sociais fechadas, patriarcais e de baixo nível de escolaridade formal ao redor de
todo o mundo desenvolvam um perfil mais cosmopolita, o saldo geral parece ser negativo,
pois deixam-se graves seqüelas na natureza e dissolve-se, inexoravelmente, a diversidade
cultural. Homogeneizadas, as comunidades transformam-se em lugares impessoais e
artificiais.78 Tofani acrescenta ainda a advertência de que os destinos turísticos, tal como
no ciclo de vida mercadológico de qualquer outro tipo de produto ou serviço (introdução,
crescimento, maturidade e declínio), defrontam-se com um horizonte finito de
competitividade, tendendo a ser gradativamente superados face às dinâmicas da
concorrência, e às transformações dos hábitos de consumo e das bases tecnológicas (2004:
19).
Nenhum receio, entretanto, acerca da possível negatividade implicada em toda a série
de impactos relacionados ao turismo transparece neste comentário de um empreendedor
adventício, o simpatizante do desenvolvimento anteriormente mencionado:
Falta investimento, falta idéia e falta também profissional de turismo. Eu estoupensando que, não demora muito, vai chegar um spa decidindo investir naEstrada Real, que vai escolher esta localidade, e aí dá um empurrão no turismo.Porque vai ter recursos pra população no dia que tiver mais turismo. Porque nodia que tiver turismo direto o ano inteiro, vai ter mais estabelecimentoscomerciais. Os estabelecimentos vão empregar mais gente pra trabalhar. [g]
78 Vide também Coriolano (2001: 99).
194
2.2.3. O setor informal
Prevalecente na totalidade, ou quase totalidade, das organizações e atividades
produtivas situadas no âmbito abordado pela presente pesquisa, e associada às macro-
condições de organização sócio-econômica do país, a informalidade do trabalho foi
examinada com base em referências teóricas que lhe assinalam a relevância para a
compreensão dos fenômenos estudados, relacionando-a às condições históricas
formacionais. Pois a informalidade é, tal como se procurou destacar na descrição da
trajetória formacional de toda a região, um traço cultural, assimilado por gerações
sucessivas, decorrente das peculiares condições econômicas e sociopolíticas associadas –
talvez no Distrito Diamantino mais do que em qualquer outra região – às circunstâncias da
mineração colonial.
Por outro lado, o fenômeno da informalidade, tal como vem sendo atualmente
observado, relaciona-se também a um macro-contexto contemporâneo de eventos
produtivos, políticos, econômicos e culturais, definido por diversos autores como um
resultante da internacionalização do mercado e das relações sociais e da adoção de
formulações liberais por parte dos governos (PARKER, 1999: 414), bem como uma
decorrência da hegemonia da racionalidade capitalista sobre os modos de produção das
sociedades tradicionais.
Conforme advertência de Lautier (em artigo sobre a fragmentação social nas
metrópoles latino-americanas), devem ser evitadas as limitações impostas por uma visão
dualista de globalização, que contraponha desenvolvimento social versus modernização,
com polaridades e categorizações conseqüentes (formais-informais, incluídos-excluídos,
colonizadores-colonizados, ricos-pobres; seja com relação a indivíduos, grupos, regiões ou
países). Esta visão dual seria uma simplificação que não corresponderia satisfatoriamente
195
às dinâmicas reais, pois os aspectos positivos e negativos resultantes dos processos de
globalização não se distribuem assim tão simetricamente (2004: 10). Para o contexto
descrito na presente pesquisa, a globalização pode ser claramente assinalada em termos de
um processo associado de crescente hegemonia da economia capitalista. Carrieri pontua
esta correlação entre racionalidade capitalista e globalização:
“A proposta de globalização tem como vetor a homogeneização do conjunto depráticas e valores sociais existentes em torno da racionalidade instrumental domercado [que] se impõe como um modelo gerenciador de todo movimentoligado à atividade econômica e representa a modelização das formas de produçãoe consumo e do gerenciamento destas. Ou seja, representa a modelização detodas as formas de subjetivação do indivíduo humano, enquanto homemeconômico e social (que produz, organiza a produção e consome); ummovimento de uniformização, na contramão da preservação das diversidades”(CARRIERI, 2001: 33).
Anteriormente designado como uma questão social e econômica de importância
secundária, uma zona de “amortecimento” das defasagens entre o mercado de trabalho e a
economia formal,79 o trabalho informal tem adquirido, em nossos dias, um papel cada vez
mais preponderante na organização sócio-econômica latino-americana. Em tempos de
precarização do trabalho, o contingente cada vez maior de trabalhadores ingressando nas
atividades informais constitui um importante dado estrutural do mercado e da sociedade.
Nas palavras de Bruno Lautier, ao contrário de antes, em que os questionamentos se
formulavam quanto às razões para a existência de um setor informal, há que se perguntar
agora “por que o emprego formal à moda antiga resiste ainda” (2004: 20-21).
Ocupando mais da metade da população economicamente ativa (PEA) em alguns
países da América Latina, o mercado informal (ou economia submersa, economia
subterrânea, economia popular, setor não-estruturado, setor não-protegido, sub-emprego,
79 Conforme apontado por Lautier (2004: 20), Melo (1999: 380; 384), e Klein (1990: 180), com relação àsmodificações do papel atribuído à economia informal.
196
ou ainda, desemprego disfarçado) envolvia no Brasil, segundo dados de pesquisa sobre
economia informal urbana realizada pelo IBGE em 2003, a participação de 10,5 milhões de
empresas ou pequenos negócios, e aproximados 13,8 milhões de pessoas (IBGE, 2003: 36),
número que aumenta mais ou menos proporcionalmente às taxas de desemprego. Isso
representa 25% dos trabalhadores não agrícolas do país e 17,6 bilhões de reais de receita
mensal.
O IBGE utiliza os seguintes parâmetros para a demarcação do trabalho informal: i) o
setor informal é contabilizado em unidades econômicas, entendidas como unidades de
produção, e não por trabalhadores individuais ou por ocupações individualmente exercidas;
ii) fazem parte do setor informal as unidades econômicas não agrícolas que produzem bens
e serviços para geração de rendimentos, sendo excluídas aquelas unidades engajadas
apenas na produção de bens e serviços para auto-consumo; iii) as unidades do setor
informal caracterizam-se pela produção em pequena escala, baixo nível de organização e
pela quase inexistência de separação entre capital e trabalho, enquanto fatores de produção;
iv) a ausência de registro não serve como critério para definição de setor informal;
considera-se o modo de organização e funcionamento da unidade econômica e não o status
legal ou a relação com as autoridades públicas; v) a definição como unidade econômica
informal não depende do local onde é desenvolvida a atividade produtiva, da utilização ou
não utilização de ativos fixos, da duração das atividades das empresas (permanente,
sazonal ou ocasional) e de tratar-se ou não de atividade principal ou secundária do(s)
proprietário(s) da empresa. (IBGE, 2003: 15-16). Enquadram-se no setor informal urbano,
portanto, obedecendo-se a estas definições adotadas pelo IBGE:
197
[...] todas as unidades econômicas de propriedade de trabalhadores por contaprópria e empregadores com até cinco empregados, independentemente donúmero de proprietários ou trabalhadores sem remuneração, moradores de áreasurbanas, sejam elas a atividade principal de seus proprietários ou atividadessecundárias (MELO, 1999: 383).80
Dos 10,5 milhões de unidades econômicas informais indicadas pela pesquisa de
2003, mais de 9 milhões eram constituídas por um ou mais trabalhadores autônomos (em
um total de 10,7 milhões de proprietários de organizações sem empregados), configurando-
se assim, para a maior parte dos integrantes do setor informal, uma renda proveniente do
mercado de bens e serviços e não do mercado de trabalho (IBGE, 2003: 36).
O termo “trabalho informal”, quando utilizado no presente texto, corresponderá ao
conjunto das definições adotadas pelo IBGE. Cumpre assinalar que esta é uma definição
em que não se distinguem entre si, portanto, os termos setor informal, mercado informal e
trabalho informal. A acepção mais comum para o termo “trabalho informal”, até os
adventos de desregulamentação – ou precarização – das relações de trabalho, e de
reestruturação produtiva, era o tipo de relação trabalhista onde inexistia um contrato
garantido pela legislação entre empregador e empregado. Porém, ocorre hoje uma
ampliação, e de certo modo uma fusão, dos conceitos trabalho informal e setor informal,
compreendendo-se aí os trabalhadores assalariados sem contrato formal, trabalhadores
autônomos (subordinados ou não a alguma empresa) e os empreendedores informais
(SANTOS, G. in FIDALGO e MACHADO, 2000: 340-341).
Independemente, porém, de o registro legal não ser considerado um elemento que
por si só caracterize o status formal de um empreendimento, as condições informais do
80 Segundo a definição do Programa Regional de Emprego para a América Latina e Caribe – PREALC, otrabalho informal seria composto por pequenas atividades urbanas geradoras de rendas, que se desenvolvemfora do âmbito normal e oficial, em mercados desregulamentados e competitivos.
198
trabalho em Milho Verde encontram-se sucintamente demonstradas na perplexidade com
que esta empreendedora de turismo, dona de um dos estabelecimentos mais procurados
pelo turista em toda a região, respondeu à pergunta:
[Pesquisador:] Você tem razão social? Hein? Razão social? Hein? [d]
A contratação de mão-de-obra, em praticamente todo o âmbito pesquisado, realiza-se
em moldes informais. O trecho citado a seguir corresponde a uma situação mais ou menos
generalizada:
[Pesquisador:] Você tem algum funcionário? Não. Aqui é eu e Fulana. Fulaname ajuda, assim, mas não é um funcionário, assim... Ajuda no feriado. No dia-a-dia, é só eu, mesmo. [d]
O estabelecimento mencionado configurou-se, excepcionalmente, a partir de recursos
de terceiros. Essa é uma situação de exceção, porque praticamente todos os restaurantes e
pousadas em Milho Verde surgiram, gradualmente, do direcionamento de instalações
domiciliares para o atendimento às demandas dos turistas. Assim, embora seja a narrativa
de um caso anômalo (por haver se divorciado, a entrevistada teve de compôr uma nova
estrutura, composta por restaurante e residência contíguos), a história a seguir esclarece
como se dá a estruturação dos empreendimentos voltados ao turismo em Milho Verde:
Eu vim também achando que é com a cara e a coragem, que eu vim pra cá, eunão tinha dinheiro nenhum. Nem pra começar a obra. Aí, foi a base da confiançadas pessoas comigo, e amizade também, porque quem me vendeu os materiais deconstrução mesmo, é gente daqui de Milho Verde, que tem o comércio aqui, eupreferi dar preferência para eles, que... Aí todo dinheiro que eu vou arrumando,assim, quando eu posso eu vou, vou pagando aos poucos [...] Aí eu senti a ajudadas pessoas. Foi uma ajuda grande. Se o pessoal fechasse a porta pra mim, nãovendesse nada pra mim, acho que eu não teria conseguido fazer isso daqui. [d]
O exemplo disposto a seguir caracteriza, mais medianamente, como ocorre a
composição de novos negócios voltados ao turismo em Milho Verde:
[...] quando mudei pra Milho Verde, me deparei com a questão de comosobreviver. Assim como eu quis mudar a minha perspectiva de vida, eu tambémquis mudar com relação ao trabalho, então eu não queria vir aqui e ser
199
empregado, eu poderia estar [atuando em minha profissão] mas eu não queria.De uma forma bem alternativa mesmo, começei a explorar algumas habilidades[culinária e comércio] que eu já tinha. [a]
Sabedora das condições de atendimento caseiro praticadas em seu próprio
estabelecimento (e também em todo o restante da comunidade), e ciente do contraste
representado por estas condições perante expectativas que estão sendo criadas, atualmente,
nos públicos que demandam serviços de turismo, esta empreendedora estabeleceu a
seguinte precaução:
A pessoa que vem pra cá, os que ligam pra mim, eu dou essa informaçãoa“Nós moramos numa vila. Simples.” [k]
A entrevistada prossegue, estabelecendo um prognóstico em que as condições de
baixa estruturação dos serviços oferecidos pela comunidade, defrontados com a crescente
exigência da demanda, tendem a configurar um futuro de baixa competitividade, e de
exclusão para o negócio local:
Ah, mas eles têm que entender que eles não vão procurar o que encontram emDiamantina e encontrar aqui. Eles têm que entender isto. E não são todos queentendem. Agora, você acha que vai vir um, e sentar aqui igual você está aqui,conversando com a gente... [...] porque já é um jeito da gente aqui em MilhoVerde. Aqui pode entrar, minha casa é simples, é desse jeito aí. Agora, temoutros que não. Outros já exigem certos confortos que não tem condições dagente oferecer pra eles aqui. Então vai chegar o ponto em que a gente pobre [...]vai ter que ficar... só em família da gente mesmo. [k]
A defasagem entre demanda e estruturação local também é assinalada no comentário
seguinte, em que um entrevistado atribui o descompasso à própria origem domiciliar dos
empreendimentos:
Aqui, pelo que estou sabendo, as pousadas nasceram como moradias. Depois[passaram a alugar] um quarto, depois dois quartos e depois fizeram umpuxadinho. As pessoas investiram, mas sem planejamento, sendo mesmo casasde moradia, só [que] maiores. É claro que a necessidade de uma pousada écompletamente diferente da de moradia. Casa de moradia, um quartinho de trêspor três [metros] é grande. Pousada precisa de um quarto maior, necessita deuma poltrona no quarto, uma mesinha com duas cadeiras, o banheiro individual.Talvez uma pequena varandinha para quem quer ficar quieto na porta do quarto,coisa que aqui [em Milho Verde] ainda não tem. [g]
200
O entrevistado prossegue, afirmando que as condições de baixa estruturação e o
conseqüente baixo valor agregado se devem também a uma carência de cultura
empreendedora.
O problema, eu penso também, é que muitos empreendedores não têm cultura deturismo, não têm o costume de investir no próprio comércio. Eu ganho dez milreais neste feriado. Ao invés de pegar cinco mil reais e investir no meu comérciopra ampliar, pra melhorar, eu pego dez mil e vou comprar um carrinho, porquenunca tive um carro. Estão deixando os negócios mais devagar, não sei. Tembastante pousada em que, no lugar de investir na pousada, de melhorar osquartos, melhorar os móveis, fazer a pousada ficar melhor, mais bonita, estãoinvestindo em outras coisas, achando que a pousadinha que têm é a melhor, amais bonita. É como falei: comprando um carro, fazendo outra casa, comprandoum lote... [g]
Conforme as observações empreendidas, a eventual destinação dos lucros para a
aquisição e construção imobiliária faz parte de esforços dos empreendedores para aumentar
os rendimentos obtidos a partir do turismo. De qualquer modo, baixas condições de
lucratividade têm determinado que, nos últimos anos, a renda tenha sido, na sua maior
parte, revertida na reprodução do trabalhador. O comentário anterior consta aqui,
entretanto, como uma ilustração da imprevidência e baixa estruturação do empreendedor
local.
O quadro disposto a seguir (Quadro 4) oferece uma caracterização geral do
empreendimento turístico em Milho Verde.
201
Características dos empreendimentos em Milho Verde relac ionados ao turismo
Praticamente todos os empreendimentos não agrícolas estão direta ou indiretamente associados às demandas doturismo (constituindo assim uma “monocultura” do turismo).
Base operacional domiciliar (ponto de venda, serviços de hospedagem e alimentação, suporte).
Quadros de pessoal e hierarquia predominantemente familiares.
Vínculo empregatício inexistente.
Quando a mão-de-obra é externa à familia, é contratada por demandas, obedecendo-se à sazonalidade .
A estruturação de serviço oferecido ocorre em função direta dos recursos domiciliares disponíveis, e não comooperacionalização de meios em função de previsões de demanda, perfil e preferências de públicos (segmentação),promoções, imagem institucional.
Não existe a formalização do atendimento em turismo na região. Os serviços não agregam ao composto básico dehospedagem e alimentação nada do leque de alternativas hoje exploradas pela gestão de serviços em turismo, e quese encontram em grande potencial na região: turismo temático-histórico, rural, ecoturismo, de aventura, derelaxamento; não há disponibilidade for mal de serviços de guias de caminhadas na natureza ou de cicerones paravisitas aos atrativos urbanos.
Incapacidade de alavancar investimentos para a estruturação de serviços de maior valor agregado, devido ao baixo ounulo grau de instrução, baixa ou nula capitalização e, em geral, completo desconhecimento e desvinculação daspráticas, conhecimentos técnicos, relacionamentos e agremiações relativos à administração empresarial e àadministração de turismo (orgãos de classe).
O capital adquirido na lucratividade do empreendimento de serviço para o turismo, em sua quase totalidade, não éreinvestido no próprio empreendimento; é utilizado muitas vezes para a aquisição de bens de consumo, cabeças degado e mesmo para confecção de cercas de posse (grilagem) em áreas de preservação; gado, automóveis, terrenos enovas construções são utilizados como for mas de poupança, e a movimentação bancária é praticamente inexistente.
Imagem comercial, divulgação e estruturação de atendimento em bases não-institucionais, ou seja, pessoais,familiares e informais.
Não ocorre agremiação informal local, e muito menos um órgão de c lasse formalmente instituído; assim, permanecenão atendido um grande conjunto de demandas gestionárias implícitas à administração do turismo: planejamento,divulgação, promoção, gestão dos impactos ecológicos, urbanísticos, sociais e culturais, articulação com as instânciascomunitárias e com o poder público.
Quadro 4 – Características dos empreendimentos em Milho Verde relacionados ao turismo
Resumindo-se as descrições acima, pode ser dito que os empreendimentos de turismo em Milho Verde nãosão institucionalizados, são realizados empiricamente, por profissionais de baixa ou nula capacitação formal,e praticamente não possuem capitalização.
202
2.2.4. Informalidade e cidadania
Como apontado por Lautier (1991: 60), na América Latina, em geral, a noção de
cidadania não designa um status social do indivíduo, mantido mediante a garantia pelo
Estado de direitos sociais à população81 (mormente pela regulamentação do trabalho
assalariado e pela oferta de serviços sociais, condições cada vez mais descaracterizadas em
tempos de precarização do trabalho e de vigência do projeto de Estado mínimo neoliberal).
Cidadania, nos países latino-americanos, refere-se, no uso corrente, às possibilidades que
este indivíduo dispõe de combater (pelo menos em princípio, por meios legalmente
reconhecidos) as vicissitudes experimentadas na dissonância entre seu status econômico e
sua condição de integrante do corpus político e social.
Na nona maior economia do planeta, e sétimo maior mercado consumidor, 32,1%
dos “cidadãos” estão situados abaixo da linha da pobreza, ou seja, sobrevivem com menos
que US$ 1,00 PCC por dia (PCC – Paridade do Poder de Compra, dispositivo de cálculo
que universaliza o parâmetro para a aplicação nos diferentes países), e 12,6% – 22 milhões
de pessoas – vivem no que é considerado pobreza extrema, ou seja, passam fome, em um
dos três países que mais cresceram no século XX (juntamente com Japão e Coréia do Sul)
e em que a renda per capita média está acima de 64% do restante dos países. Esse é um
quadro que situa o Brasil, segundo a avaliação do Banco Mundial, entre as dez piores
distribuições de renda do mundo, destinando-se 46% do total de renda para os 10% mais
ricos, enquanto os 40% mais pobres dividem 9% (ÉPOCA, 2006: 46-47).
81 Os direitos sociais, que juntamente com os direitos civis e os direitos políticos compõem a noção decidadania, referem-se à garantia de um mínimo de bem-estar econômico, de segurança e de “participar naherança social e levar a vida de ser civilizado de acordo com padrões que prevalecem na sociedade”(MARSHALL apud SANTOS in FIDALGO e MACHADO, 2000: 50-51).
203
Nesse contexto de disparidades, e trazendo mais a relevo a confusão semântica
indicada por Lautier, a cidadania não é uma questão de direito, e sim de fato. Remontando
a análises de Foucault (1997) acerca do papel dos governos, Lautier afirma que governar
(no sentido do exercício de uma forma de dominação estatal) consistiria em “limitar ou
impedir a superposição das duas formas de fracionamento – social e espacial” (2004: 36).
O que é muitas vezes pouco percebido, por exemplo, em meio à indignação quanto ao uso
de recursos violentos de manifestação por parte de organizações de trabalhadores rurais
não proprietários, ou quanto ao irrefreável fortalecimento do crime organizado e do
narcotráfico, é a possibilidade, de conseqüências ainda mais violentas, de colapso do
contrato social face a um recrudescimento das pressões econômicas vigentes. Na involução
para uma sociedade do caos, ou para uma ordem social mafiosa, continua Lautier, de
defasado ou impreciso que era, o conceito de cidadania torna-se inoperante.
É necessário avaliar a condição da informalidade ou do trabalho informal em
economias periféricas, tal como a brasileira, pelo prisma de uma pressão por parte de
grupos sociais, com vistas à aquisição de um nivelamento, ou coerência, entre status
econômico e uma condição de cidadão reconhecida, estatutária, mas não garantida. Essa
seria, portanto, um dimensão sociopolítica da informalidade e, certamente, um componente
importante para a compreensão do papel organizacional de formulações produtivas de
grupos marginalizados.
A especificidade do quadro de relações condicionais entre Estado e cidadania para o
contexto brasileiro também é sublinhada por Telles, que aponta o Estado brasileiro mais
como um prestador, ao seu “contribuinte”, de serviços que não constituem, a rigor, direitos
sociais. Isso manifesta o caráter de uma sociedade que “joga inteiramente nas costas dos
indivíduos a responsabilidade por seu destino, mesmo quando a perda dos meios de
204
sobrevivência não tem relação com seus atos, com sua vontade e suas competências”
(1991: 8). Uma construção da cidadania passaria, no entender de Telles, pela revogação de
hábitos tutelares, heranças de um passado escravocrata que acompanharam o país em sua
entrada na modernidade capitalista e que, determinantes de relações hierárquicas
patriarcais e paternalistas, revogam na prática os princípios constitucionais de cidadania e
igualdade (1991: 7-12).
E, diversamente do assinalado certa vez por Dahrendorf (2001: 62), a reversibilidade
das conquistas sociais em temos de cidadania pode, afinal, não ser tão rara assim – pelo
menos no que se refere às garantias sociais até recentemente providas pelos Estados-
Providência. Mas talvez ainda seja prematuro constatar que Dahrendorf tenha errado em
sua avaliação, pois a ela acrescenta o prognóstico de que a resistência oferecida pela
população à perda de direitos conquistados em cidadania determina que, havendo uma
reversão nestes direitos, existe uma grande probabilidade de ruptura política – o que
poderia inclusive ser aferido no contexto brasileiro mencionado anteriormente, em que a
crescente composição de um mercado informal aparece como resultado, ou manifestação,
de dinâmicas que são, ao mesmo tempo, econômicas, sociais e políticas.
Telles adverte também para a necessidade, dado o contexto de inegável apartheid
social, de se “refundar as tarefas clássicas de uma modernidade incompleta” na sociedade
brasileira, o que se torna ainda mais difícil em meio às inéditas pressões contemporâneas.
Nesse contexto de inúmeros desafios de ordem política, envolvendo cidadania,
legitimidade, ordem constitucional e diversidade de valores e interesses, a acolhida dos
direitos civis no contrato social, afirma Telles, surge como única alternativa viável para o
diálogo e a administração dos conflitos (1993: 4; 6).
205
Em sua avaliação das implicações entre relações salariais, informalidade e cidadania
na América Latina, Bruno Lautier estipulou dois cenários futuros possíveis para a
adequação entre a organização econômica e produtiva dimensionada pela crescente
informalidade e a estruturação sociopolítica: desenhar-se-ia nos países latino-americanos
uma sociedade multifacetada, em que a noção de direitos de cidadania prevaleceria,
embora não condicionada à vigência de uma ordem global determinada pelo Estado, ou
uma sociedade dicotomizada, em que a polaridade inclusão-exclusão definiria o acesso a
privilégios de cidadania, estabilidade salarial e demais garantias, com relativa
homogeneidade, por um lado e, do outro, a constituição de uma sociedade paralela – um
sub-nível marginal – sem acesso a direitos fundamentais, em que estaria caracterizada a
inoperância, ou insuficiência de meios do Estado, vigorando aí a informalidade, não
somente do mercado, mas também da justiça, dos direitos e da cidadania (1991: 70-72).
Mas, a despeito do atualmente propalado papel de uma mobilização autônoma e auto-
sustentada de grupos e comunidades no seio da sociedade civil – um Terceiro Setor –, no
sentido da construção de uma estrutura social à maneira do primeiro cenário prognosticado
por Lautier, pode-se constatar, facilmente, que o segundo quadro entrevisto pelo autor
corresponde mais exatamente à atual realidade social brasileira.
Pimenta e Corrêa (2001) salientam que as condições formacionais, históricas, de
tutela do Estado sobre a cidadania contribuíram para que não se compusessem no
imaginário da sociedade brasileira as noções de igualdade e de legitimidade do conflito,
mas uma naturalização da hierarquia e das diferenças de direitos.82 Nesse contexto,
82 Figueiredo, referindo-se aos entraves constituídos pela tênue constituição de cidadania para aimplementação de processos participativos de gestão pública (como por exemplo, planejamento urbano),alude à ordem convencional, “lógico-histórica”, em que normalmente se dá a aquisição dos direitos
206
somente através da organização e da contestação é que se remodelam estes significados de
dominação e exclusão, elaborando-se novos conteúdos e opondo-se reivindicações de
igualdade às condições estruturais de conflito, processo que envolve a tomada de
consciência por parte de toda a sociedade. As autoras assinalam que, a partir desta tomada
de consciência, “o processo de gestão se torna uma arte”, cabendo compreenderem-se e
abrangerem-se as dimensões culturais e simbólicas da gestão de organizações, em seu
papel de construção de novos espaços de legitimidade (PIMENTA e CORRÊA, 2001: 12).
A citação de Alexandre Carrieri disposta a seguir serve como uma referência
complementar para a noção proposta por Pimenta e Corrêa de escopo ampliado da
competência da gestão:
[...] uma alternativa interessante no estudo das estratégias é abordá-las como umprocesso-produto da dinâmica organizac ional, desenvolvido num contextohistórico, ideológico, econômico e social específicos. [...] Esta abordagem parecepossibilitar um conhecimento mais aprofundado das organizações, por [...]dirigir-se à organização como um todo (CARRIERI, 2001: 46).
Essa proposição de um cunho abrangente do papel da gestão aparece como um
elemento aplicável às condições de Milho Verde, observando-se que a comunidade local
compõe-se, em grande parte, de empreendedores e profissionais direta e indiretamente
voltados ao atendimento das demandas do turismo, e também de seus dependentes
econômicos familiares. A compreensão e o exercício de um papel social, cultural, político
e ecológico por parte destes pequenos empreendimentos aparece como indispensável para
a sobrevivência destes negócios e para a sobrevivência da comunidade como destino
relacionados à noção de cidadania: consolidam-se as liberdades civis (direito de expressão, de ir e vir, livreassociação), fornecendo-se assim uma base para a expansão dos direitos políticos; adquiridos estes, a pressãopolítica das coletividades estabelece representações que votam os direitos sociais. Em um âmbito geral, o queocorreu, porém, é que no Bras il esta construção se deu de forma inversa, configurando-se benefícios sociaisno período do Estado Novo não como direitos civis, mas como concessões tuteladas por um paternalismo(CARVALHO apud FIGUEIREDO, M. P., 2001: 101; vide a respeito também PAOLI, 2003: 385-386).
207
turístico sustentável, e ainda como coletividade com acesso a atividades econômicas que
correspondam a uma efetiva aquisição de melhores condições de vida e de autonomia.
Tendo em vista as condições dos negócios locais, em sua fragilidade perante
competidores externos, e dada a fragilidade do ecossistema local face aos impactos
crescentes – em grande parte provocados pela própria comunidade –, a compreensão de um
papel ampliado para o empreendedor informal torna-se mesmo mais importante do que a
utilização de qualquer recurso profissional de organização, marketing ou capacitação para
a prestação de serviços em turismo. Todos estes recursos, em comparação ao que pode ser
atingido por competidores externos, encontram-se – cumpre dizer – na prática,
indisponíveis ao empreendedor local, desprovido de capitalização e de escolaridade formal.
Ou seja: mais importante do que qualquer capacitação provida por entidades que atuam no
fomento e na qualificação dos serviços de turismo, seria a mobilização, por parte da
comunidade de empreendedores locais e da comunidade em seu todo, frente à conjuntura
econômica, social, política e ecológica em que a localidade e seu potencial para as
atividades na economia do turismo se inserem. Esse tema será abordado novamente
adiante.
Com respeito à construção de identidades sociopolíticas de comunidades em meio ao
contexto político brasileiro, Telles (1993) assinala, porém, o risco de uma idealização dos
potenciais inerentes ao âmbito local, ameaça decorrente de uma convergência confusa
entre as propostas neoliberais de desestatização e auto-sustentação, e da busca romântica
de identidades locais face ao colapso dos referenciais universais. Fazer desta idealização
do âmbito local um projeto abrangente e modelar da ação da sociedade civil pode vir a
tornar inoperantes os meios políticos de aquisição dos direitos de cidadania. A
heterogeneidade representativa (inclua-se nesta “heterogeneidade”, para muitos dos efeitos,
208
o fenômeno contemporâneo da multiplicação de organizações do Terceiro Setor), não
constituindo um corpo político de efetiva abrangência coletiva, pode abrir caminho para a
fragmentação em identidades auto-referenciadas, em uma espécie de “fundamentalismo
secular”, não mediado – e isto em um país em que, por meio das ações estatais
planificadas, não se logrou sequer atingir patamares mínimos de igualdade e justiça (1993:
5-6). Segundo Telles, é por meio de práticas de representação e reconhecimento dos
sujeitos coletivos – ou seja, um fortalecimento da sociedade civil – que se pode estabelecer
uma interação e uma interlocução com o Estado (interação que se obliterou no contexto do
projeto neoliberal), o que significaria, verdadeiramente, “desprivatizar o Estado, a partir de
critérios publicamente estabelecidos para o uso dos recursos e bens dos quais dependem a
qualidade de vida das maiorias” (1993: 7).
As considerações de Telles acerca das limitações para um posicionamento político
que enfatize e se restrinja a uma regionalidade ou âmbito local têm implicações no que se
refere à situação de pequenas comunidades abarcadas por projetos de desenvolvimento
pelo turismo. Os aspectos políticos e econômicos das iniciativas que abordam as
comunidades requerem uma compreensão em seu escopo completo e um apropriado
posicionamento por parte da comunidade. Algumas das forças externas que ora impactam
Milho Verde, correspondentes à atuação de entidades não-governamentais, têm encontrado
adesão em suas propostas às macro-instâncias políticas estaduais e federais. O conteúdo
econômico e político destas propostas, contemplando-se aí eventuais impactos não
desejados, parecem exceder em muito, tal como se observou no decorrer dos trabalhos de
campo empreendidos para esta pesquisa, a capacidade de interlocução e mediação das
instâncias locais. A condição dos empreendedores em contextos como o de Milho Verde,
mesmo considerando-se apenas as finalidades estritas dos empreendimentos, torna-se
assim, indiscutivelmente, a de componentes de grupos de interesses – no caso,
209
geograficamente dispersos como, por exemplo, o de pequenos empreendedores de turismo
ao longo do roteiro da Estrada Real – que necessitam dialogar com instâncias públicas e
privadas que se referenciam em níveis bem mais articulados e de atuação abrangente.
Telles (1991) chama a atenção para alguns caracteres historicamente adquiridos pela
sociedade brasileira, em função dos processos de legitimação patriarcal que perpassaram a
Colônia, o Império e a República, chegando mesmo a periodos mais recentes. Algo da
resiliência deste paternalismo se deve, segundo a autora, à constante dissonância entre os
modelos políticos importados – e oficialmente preconizados pelas elites – e a inexistência
de representação coletiva legítima, efetiva. Entre outras conseqüências, apareceram a
resignação amorfa de uma opinião pública (assim, de fato “inexistente”), e condições
excludentes que não dão espaço à alteridade, em uma sociedade em que “a realidade vira o
espelho de uma projeção narcísica das elites” (1991: 29).
Nesse ponto, no que se refere ao âmbito pesquisado, cabe assinalar as
correspondências entre trabalho informal, cidadania e participação. Esse é um contexto em
que pode ser questionado, por exemplo, como as organizações informais e os trabalhadores
se percebem, ou se posicionam, com relação ao ambiente comunitário e ao macro-ambiente
político. A condição informal de seu trabalho significa postular-se ou aceitar-se uma
condição de marginalidade face ao contexto? Ou a propagação, a continuidade, de um
posicionamento de informalidade profundamente instilado na cultura local? Ou – de forma
mais completa – as atividades profissionais desempenhadas relacionam-se com os
contextos sociais e políticos de forma participativa, progressiva, que corresponde aos
direitos de trabalhadores ou empreendedores que se afirmam perante uma comunidade e
uma sociedade de que participam e onde influem? Ou está se reforçando uma situação de
subordinação, de assimetria de recursos e status, de dependência, de insulamento, de
210
provisoriedade, de parasitismo, de clientelismo, de resistência, de indefinição, de
passividade e de espera de benefícios – dádivas – oriundos de uma fonte paternalista?
Infelizmente, dadas as condições observadas, cumpre reconhecer que ainda existe um
longo caminho a ser percorrido entre a situação atual e uma alternativa participativa.
O trecho de entrevista transcrito a seguir deixa entrever, de forma apenas indireta e
sugerida – mas concisa e emblemática, e bem correspondente à mentalidade média local
observada –, a prevalecente subordinação do empreendimento e do trabalho locais a uma
configuração política e econômica situada alhures, além do alcance de intervenção da
comunidade:
Esse trem aí vem lá de cima [Estrada Real], vou falar que é de Brasília, porexemplo, porque eu nem sei de onde é que sai. [d]
211
2.2.5. A sociopolítica do turismo
Uma avaliação das implicações sociopolíticas da economia turística em Milho Verde
pode ser referenciada em Colin Hall (1998), que analisa as conjunturas políticas presentes
na organização do turismo em diversas dimensões de coletividade, desde a escala global,
passando pelo planejamento turístico estatal realizado em esferas nacionais ou regionais,
chegando até o nível dos interesses comunitários de pequenas localidades.
Com relação à mobilização comunitária, o autor sintetiza as conclusões de várias
investigações acerca da relação entre um maior envolvimento comunitário e um
conseqüente maior controle sobre mudanças sociais e econômicas originadas da inclusão
de pequenas comunidades na economia do turismo. Dentro dessa perspectiva de impactos
versus controle, o conceito de controle utilizado pelo autor relaciona-se a itens como a
manutenção da propriedade da terra pelos habitantes locais, a obtenção de crédito, a
manutenção ou obtenção de possibilidades comerciais que possam sustentar um auto-
financiamento, a capacidade de exercício de pressão em prol da absorção dos habitantes
locais nos empreendimentos turísticos implementados por investidores externos, e o grau
de relação mantido entre tradições e instituições locais e os escopos de planejamento e
implementação de projetos de desenvolvimento do turismo (1998: 53).83
Os estudos expostos por Hall demonstraram, em grande parte, que o principal fator
capaz de fazer pender a balança entre impactos turísticos positivos e negativos consiste na
capacidade de exercício, por parte da comunidade implicada, de um “poder regulatório”.
Colocando-se a questão do desenvolvimento pelo turismo desta forma, torna-se sumamente
importante avaliar o quanto uma comunidade pode influenciar o ritmo e a qualidade das
83 Calvente conduziu em Ilhabela, São Paulo, um estudo com conclusões semelhantes (2001: 87;90-91).
212
modificações e impactos a serem sofridos no decurso da inclusão na economia do turismo
– o quanto uma comunidade é capaz de determinar seu próprio futuro. De uma forma geral,
nos estudos mencionados por Hall, observou-se que a rapidez com que novas estruturas de
serviços são implementadas costuma ser inversamente proporcional à posse dos meios de
produção pelos cidadãos locais, ao acesso destes ao poder político e econômico, e à
estabilidade das normas, costumes, economia e estruturas políticas locais. Os estudos
assinalam também que maiores ganhos financeiros foram auferidos por comunidades mais
articuladas e coesas politicamente (1998: 53).
Indicadores sociopolíticos e sócio-econômicos deste tipo certamente impõem uma
avaliação qualitativa, ponderada e afeita a especificidades sociais locais. Elevações no IDH
municipal e melhorias implementadas na infra-estrutura comunitária podem não bastar, por
exemplo, para atestar como positiva para a população local a evolução de uma “fase de
turismo romântico”, caracterizada pela atuação de pequenas pousadas (cf. ANUÁRIO
EXAME, 2007: 31-33), para uma etapa em que grandes empreendimentos, tais como
resorts, encontram-se instalados.
Luzia Coriolano aponta o caso de uma pequena comunidade brasileira de pescadores
em que o problema da especulação imobiliária e da “privatização” da área urbana por
empreendimentos externos tem sido evitado, mediante o recurso a um regimento que
impede a venda de propriedades sem uma avaliação por parte da comunidade (2001: 97).
Logicamente, o funcionamento de um mecanismo como este, de resistência às pressões
externas, é diretamente beneficiado em função de o quão mais coesa e politizada seja a
população local.
Merecem ser mencionadas algumas interferências negativas, listadas por Hall, que
normalmente atingem as populações de destinos turísticos, e que são passíveis de
213
administração – ou, como o autor denomina, controle – por parte de comunidades
interessadas em gerir as transformações e impactos sofridos: expropriação e comoditização
da cultura local; diluição da singularidade; uso inapropriado da iconografia da cultura
local; etnocentrismo; dominação ideológica como aspecto predominante (ou mais central)
dos impactos da atividade turística sobre a cultura e a sociedade; sensualização da história
(desligando-a de seus aspectos conceituais); criação artificial, ou artificialismo, na
realização de eventos comunitários; adequação da comunidade a uma imagem comercial
pasteurizada, divulgada ao mercado e correspondente a expectativas que estão sendo
criadas no visitante; e adaptação de práticas tradicionais ao gosto do mercado externo e do
visitante (1998: 174-178;181;183-184).84
Com relação aos impactos experimentados por pequenos destinos turísticos situados
em regiões montanhosas, pode ser mencionado um apontamento de John Swarbrooke
(2000a), que indica uma tendência à fragilidade local face às dinâmicas sociais e
econômicas determinadas pela inclusão na economia do turismo. Essa fragilidade estaria
associada aos seguintes fatores: i) atividade agrícola fraca, da qual depende o sustento; ii) a
população local encontra-se em geral bastante reduzida e concentrada nas idades mais
avançadas, e iii) a comunidade possui, em geral, fraca influência política nos cenários de
que participa, onde costumam predominar interesses urbanos (2000a: 55).
Hall adverte que lideranças locais são, em geral, receptivas a iniciativas externas
dispostas a promover o desenvolvimento pelo turismo. Dado que essa receptividade ocorre
independentemente de quão duvidosos sejam os ganhos a serem usufruídos pela
84 Um estudo sobre o artificialismo e a adaptação de práticas culturais tradicionais face ao turismo em umapequena comunidade brasileira (Soure, no Estado do Amazonas), pode ser encontrado em Sílvio Figueiredo(2001: 216-220).
214
comunidade local, e independentemente da importância assumida por estas lideranças nos
processos de desenvolvimento pelo turismo, faz-se imprescindível a articulação da
comunidade como uma forma de criar garantias para a população, tanto no que se refere à
participação nos ganhos, como para proteção contra possíveis – prováveis – efeitos
negativos (1998: 152).
O turismo é associado positivamente por Hall quanto a estimular a criação de uma
imagem social das localidades e um maior grau de organização política. Ao criar toda uma
nova imagem local, o turismo provê à comunidade do destino uma capacidade ampliada de
negociação perante diversos públicos externos (1998: 151-152).
Nesse contexto, aparece, porém, a “cidade como uma commodity a ser negociada”,85
e o planejamento urbano passa a levar em consideração, às vezes de forma desequilibrada,
a imagem da cidade para o visitante. Assim, muitos recursos que poderiam ou deveriam
estar sendo empregados em bem-estar social passam a ser usados na composição de uma
imagem que pode estar mascarando conflitos e problemas sociais. A transformação da
cidade em um parque de diversões turístico pode engendrar disputas e conflitos
relativamente à elaboração de políticas urbanas, notadamente quanto ao uso do espaço
geográfico e à disposição de infra-estruturas. O autor sugere uma busca de consonância ou
de justaposição, desenvolvendo-se, na medida do possível, infra-estruturas voltadas
simultaneamente às necessidades turísticas e às necessidades locais. A maior dificuldade
para a obtenção desta consonância costuma ocorrer, entretanto, conforme aponta o autor,
justamente no planejamento, que se dá quase sempre em um nível que extrapola a
capacidade local de negociação (1998: 157-159;163;167-169).
85 Tradução livre.
215
De qualquer maneira, o grande obstáculo descrito por Hall, com relação à obtenção
de um maior grau de controle comunitário local sobre o planejamento e a tomada de
decisão em projetos de desenvolvimento pelo turismo, parece residir em que os
responsáveis pelo planejamento não adotam, em geral, uma abordagem comunitária:
“communities rarely have the opportunity to say no” (1998: 169-170). Assim, são
costumeiras as controvérsias, no âmbito do planejamento do turismo, relativamente à
distribuição dos custos e benefícios da atividade turística promovida. A ausência do
cidadão comum em fóruns de decisão tornaria, portanto, a concepção de projetos de
desenvolvimento pelo turismo um espaço que privilegia as relações entre poderes públicos
e interesses privados (1998: 170), uma assertiva que parece ser verificável em relação às
propostas de desenvolvimento pelo turismo presentes na região estudada. A mobilização
local, estipulada como fundamental pelas organizações que promovem as atividades de
desenvolvimento, sob muitos aspectos pode, inclusive, ser considerada inexistente, como
será demonstrado adiante.
Entretanto, a justaposição entre o atendimento a necessidades locais e a
implementação de uma infra-estrutura voltada às demandas turísticas é um elemento que
pode ser aferido na concepção dos projetos de desenvolvimento que ora abordam a região
de Milho Verde. Em parte, isso se deve, porém, à absoluta ausência de infra-estrutura de
serviços urbanos em toda a região, até tempos bastante recentes: luz, telefonia e água
tratada. A população de Milho Verde dispõe de telefonia celular, justamente, graças a uma
parceria entre o Governo Estadual e uma companhia telefônica, com vistas à estruturação
do roteiro da Estrada Real. A pavimentação prevista para alguns trechos de rodovias
(alguns trechos a serem reformados não serão, deliberadamente, pavimentados com asfalto,
e sim calçados) é outro exemplo de demandas da população que estão sendo atendidas por
projetos de desenvolvimento pelo turismo. O financiamento para estas obras é provido em
216
um contexto de condicionalidade a partir das previsões realizadas por solicitação dos
órgãos financiadores, para o desenvolvimento local (e a arrecadação tributária decorrente)
através do turismo.
Alguns eventos podem ser mencionados, relacionando questões observadas na região
às dificuldades, apontadas por Hall, de influir-se, a partir da instância comunitária, na
concepção de projetos de desenvolvimento. Por exemplo: os habitantes de Milho Verde e
São Gonçalo, em sua maioria, não querem o serviço de tratamento de água, que além de
onerar a população, oferecerá, segundo eles, uma água de qualidade inferior à de que se
dispõe atualmente, principalmente por ser clorada. E, no que se refere especificamente à
população de Milho Verde, essa posição se mantém a despeito dos problemas i)
urbanísticos que a comunidade enfrenta com a atual estrutura de distribuição de água, de
capacidade já bastante inferior a uma demanda sempre crescente, e comprometida por
vazamentos e outros sérios problemas de manutenção; e ii) ecológicos, com o
rebaixamento do lençol freático da Várzea. Entretanto, pela ótica de desenvolvimento pelo
turismo, requer-se, nas comunidades, instalações de esgoto e água tratada, pré-requisitos
indispensáveis à hospedagem de turistas captados por agências internacionais. Configura-
se aí um impasse, em que a saída certamente não virá de uma mediação, e sim, de uma
deterioração das condições atuais, desembocando em uma imposição do serviço de água
tratada.
Outro exemplo: observou-se uma mobilização pela Internet, bastante desarticulada,
de membros das comunidades de toda a região de Milho Verde e Diamantina, em prol da
inclusão de uma via lateral para tráfego de pedestres, ciclistas e eqüestres, no escopo do
financiamento da reforma (calçamento) da rodovia Serro-Diamantina através de Milho
Verde e São Gonçalo. Esse financiamento, provido no âmbito do Prodetur NE II, é, em sua
fase inicial de elaboração, formulado em consulta à comunidade mas, no momento, parece
217
não ser mais possível influir no projeto já formatado. Uma via lateral seria, porém, de
grande importância, não somente para a população da região, que praticamente não dispõe
de meios de transporte motorizados, como também para o próprio turismo, pois permitiria
a prática de excursionismo em uma série de meios alternativos, tal como mencionado na
conceituação de público que vem sendo enfocada pela promoção da Estrada Real (e ainda
aumentando a rentabilidade da atividade turística, por reter o visitante por mais tempo na
região), em um cenário natural de forte atrativo para caminhadas, cavalgadas e ciclismo.86
Assim, situações observadas em Milho Verde podem ser relacionadas à advertência
de Hall de que o desenvolvimento do turismo, usualmente, acompanha-se de conflitos
acerca de decisões relacionadas aos impactos físicos e sociais a serem causados (1998:
167). E Hall menciona também o papel do pesquisador dentro desse contexto de decisões e
conflitos, indicando que as conclusões de estudos científicos e consultorias podem ser
importantes elementos para o desenvolvimento de políticas apropriadas ao interesse das
partes envolvidas: “Os estudantes de políticas do turismo não estão fora da arena política
pesquisada” (1998: 200 – tradução livre).
Foram dispostas a seguir duas imagens (Figuras 28 e 29) associadas à presença do
turismo planificado em Milho Verde. O avistamento da placa e dos marcos da Estrada
Real, recém-instalados (julho de 2006) foram, para grande parte dos moradores, a primeira
notícia da existência do roteiro turístico.
86 Uma discussão em curso sobre o tópico da pavimentação pode ser acompanhada emwww.gemasdaterra.org.br.
218
Figura 28 – Placa rodoviária de indicação de atrativos ao longo dos trajetos do roteiro turístico Estrada Real
De um modo geral, a população reagiu negativamente ao aparecimento repentino de placas rodoviárias aolongo da estrada e nas entradas da localidade. Embora sejam placas rodoviárias comuns, que obedecem àpadronização de sinais viários, as placas – inusitadas na região – foram consideradas agressivas, grandesdemais para as necessidades do tráfego local e para as condições da estrada, além de “tamparem a paisagem”.O fato de a comunidade não ter sido consultada acerca do padrão utilizado, ou mesmo quanto aoposicionamento das placas, e a constatação de que o conteúdo de pictogramas da sinalização subordina alocalidade a uma linguagem de atrativos turísticos padronizados, fez com que as novas placas fossemalgumas vezes interpretadas como uma demarcação de posse, ou como um indício de que “o sistema vem aí”(foto do autor – julho de 2006).
219
Figura 29 – Iconografia utilizada na logomarca do roteiro turístico Estrada Real e do Instituto Estrada Real
Muito da iconografia do marketing da Estrada Real evoca elementos da história colonial. Embora estesimbolismo remeta eficientemente ao conceito global do roteiro – um conjunto de antigos percursoscontrolados, destinados ao tráfego de minerais extraídos e demais mercadorias taxadas, e que constituíam asprincipais vias entre as localidades, correspondendo aproximadamente aos trajetos a serem utilizados pelosvisitantes (o principal público-alvo) –, cumpre questionar se, como mensagem também dirigida àscomunidades integrantes, este marketing é adequado à promoção de autonomização, construção de cidadaniae modernização e, no que se refere aos empreendedores locais, de estímulo à construção e consolidação decondições locais sustentáveis. Ao utilizar símbolos como este brasão contendo a coroa e o emblema daOrdem dos Cavaleiros de Cristo (adotado pela casa real portuguesa desde a acolhida dos templários emPortugal, e associado ao início das navegações e à constituição do império colonial português), a abordagemde divulgação do roteiro turístico parece incorrer na dissonância descrita por Hall, em que elementosculturais do destino turístico são massivamente divulgados, porém de forma defasada, ou mesmo distorcida,com relação à realidade social e formacional, o que o autor denomina “sensualização da história” (1998:178). É interessante denotar a consonância, explorada na logomarca, entre o brasão nobiliárquico,identificador de possessão e soberania, e os brasões numerados que, nos padrões simbólicos adotado emmapas, identificam as diferentes rodovias. A incorporação às atuações do Instituto Estrada Real de elementosque evocam anteriores relações de dominação arrisca-se a criar um efeito subliminar de chancela “real” – deautoridade acima da deliberação e de representação democráticas – para os moldes e objetivos de atuaçãopropostos no decorrer da implementação do programa de desenvolvimento associado ao roteiro. Essa seriauma condição contraproducente no que se refere à constituição de uma participatividade – que pode serconsiderada essencial à própria consolidação da atividade turística ao longo do roteiro –, e dissonante comrelação aos moldes mesmo em que o projeto se apresenta. É possível perguntar-se, provocativamente, mas deuma forma não destituída de fundamento conceitual, nem de intenção de um debate aberto e integrador: essaEstrada pertence ao rei? (Logomarca obtida em peça de divulgação do Instituto Estrada Real – IER 2005: 1.)
220
2.2.6. (Des)articulações entre comunidade, empreendedores e turismo
Nas observações participantes em empreendimentos informais do turismo em Milho
Verde, realizadas ao longo da presente pesquisa, um dado registrado, de caráter global,
destaca-se. Embora não esteja diretamente ligado ao cotidiano interno dos
empreendimentos observados, este dado global ilustra sinteticamente o grau de
organização, os objetivos e os instrumentos de gestão utilizados pelos empreendedores de
turismo locais, pois, apesar da já apontada importância do turismo para a economia de
Milho Verde, pôde ser constatado que a localidade encontra-se, em qualquer âmbito –
comunitário, ou a partir da coletividades de empreendedores – apenas insuficientemente
mobilizada para a organização, incremento, minimização de impactos e uso de ferramentas
de administração e marketing com relação à atividade turística. Somente em alguns poucos
aspectos, e utilizando escassas ferramentas, a comunidade tem logrado gerir coletivamente
a demanda turística (da qual tanto depende), o comportamento do visitante e a utilização
do espaço urbano e da natureza do entorno.
A constituição e o desenvolvimento de estabelecimentos de hospedagem e
alimentação em Milho Verde têm ocorrido dentro do que poderia ser denominado uma
resposta passiva às demandas e impactos turísticos. Essa “passividade” pode ter raízes, tal
como alguns dos dados históricos expostos anteriormente parecem demonstrar, em um
lastro formacional cultural e sociopolítico que impede a configuração de iniciativas
efetivas – duradouras ou não, abrangentes ou não – de uma auto-gestão comunitária. O
quanto esses obstáculos, de origem formacional, a uma auto-gestão comunitária dizem
respeito somente à realidade específica de Milho Verde, não é possível afirmar, dadas as
limitações impostas ao escopo de pesquisa enfocado, e à própria metodologia de estudo de
caso. Foi requerido, porém, nos objetivos da presente pesquisa, assinalar a provável relação
221
entre as condições sociopolíticas atualmente observáveis e as condições históricas e
formacionais locais, sejam essas relações passíveis de generalização ou não. As condições
observadas em Milho Verde poderão eventualmente servir como elementos para o
empreendimento de observações, análises e comparações posteriores, na localidade, na
região, ou em áreas de formação distinta.
A data e horário em que uma das entrevistas foi realizada permitiram registrar um
interessante comentário, que reflete uma preocupação comum a empreendimentos
turísticos de qualquer parte do mundo, mas com um componente muito característico da
realidade das pousadas e demais estabelecimentos de Milho Verde:
[...] hoje é sexta-feira, são seis horas da tarde, todo mundo está de olho naestrada: “Será que vai chegar gente? Ou não vai chegar?” [g]
Dada a crescente relevância dos impactos determinados pela atividade turística na
localidade, que têm constituído uma grave ameaça à sustentabilidade econômica e
ambiental, decorre dessa observação – de uma passividade geral – a constatação negativa
de que a população de Milho Verde não desenvolveu uma noção de identidade coletiva
suficientemente consolidada para lidar adequadamente com as solicitações – oportunidades
e ameaças – que experimenta.
Vinculados apenas em níveis primordiais, de clãs, os cidadãos de Milho Verde não
compõem articulações que possam sustentar posições comunitárias frente a oposições
internas ou externas, ou estipular reivindicações coletivas, atuando como um grupo de
pressão nos diversos âmbitos políticos de que participam, sequer no mais imediato, o
municipal. Assim como ocorre no âmbito das mobilizações comunitárias, a desarticulação
local parece manifestar-se também com relação à coletividade dos empreendimentos:
[Pesquisador:] Como é a comunidade dos empreendedores daqui? Está muito,muito desunida. Penso que tem um fundo de inveja, um fundo de falta de preparo
222
intelectual, falta de cultura. Aqui tem muita gente que, ao ver um em dificuldade,ao invés de ajudar, diz assim “Olha, aquele está fracassando. Bom pra ele,bem feito.” Aqui teria que se tentar unir mais a classe empresarial. [...] é um aum, não tem grupo nenhum. [g]
O entrevistado mencionado a seguir, pertencente a uma instituição de fomento ao
empreendedorismo, assinala porém que, dentro de uma lógica de investimento para o
desenvolvimento de um destino turístico, a composição de esforços coletivos é primordial:
[O empreendedor] tem que estar dentro de um grupo de meios de hospedagem,porque se fizer uma coisa isolada, pode até dar certo, mas tem que ter muitocapital para poder [alavancar condições de retorno]. Quando se fala de açõesindividuais, paga-se muito caro. Mas quando se está em grupo, o investimento émuito menor, porque fica pulverizado. [...] Ele [o empreendedor] tem queparticipar. Ele tem que fazer parte de uma comunidade, de um todo [...] [n]
Cumpre destacar, entretanto, que a articulação entre os empreendimentos turísticos
de um determinado destino é, de qualquer maneira, uma tarefa de difícil consecução, dada
a condição primordial de competição entre os estabelecimentos e a complexidade
envolvida no planejamento e execução de estratégias conjuntas. As dificuldades – ou
mesmo a quase impossibilidade – para a elaboração e implementação de estratégias
coletivas por parte dos empreendimentos turísticos de um determinado destino, com vistas
à resolução de uma preocupação básica dos empreendedores, tal como a redução da
sazonalidade, são apontadas por autores como Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002: 259).
Quanto mais, considere-se, para uma pequena comunidade de parcos recursos e formação
profissional como a de Milho Verde.
Ao evanescimento, ou destituição do poder senhorial, obliterador da autonomia do
cidadão local, parece não haver sucedido ainda, pelo menos não perceptivelmente, a
constituição de uma instância efetiva de representação comunitária. Nas atividades da
Associação Comunitária, desde sua fundação em 1985, tem predominado uma participação
retraída, espectadora mesmo, da comunidade, em meio a disputas oportunistas por poder
ou por benefícios isolados. A atuação da instituição é reputada assim como espúria,
223
incapaz de impôr-se devido às próprias divisões internas da comunidade e às sanções
mafiosas que podem ser (e foram, e têm sido) exercidas contra lideranças, especialmente as
que proponham medidas contrárias a interesses individuais.
Eu, particularmente acho que é isso: é porque feriu fulano... e fulano vai falarcom a família toda, a família toda começa também a revoltar, e fica todo mundocom raiva, porque aquele ali não foi beneficiado. [k]
Diversas lideranças comunitárias em Milho Verde lograram, mesmo assim, atingir
um grande número de realizações úteis – e, em muitos casos, imprescindíveis para a
comunidade –, seja por meio da mobilização coletiva, ou através de esforços isolados no
âmbito da Associação Comunitária. Um pequeno número de indivíduos têm assegurado a
continuidade do trabalho comunitário. A constatação de generalizada improdutividade e de
desmobilização da comunidade, aventadas no presente texto, não contém um demérito aos
esforços que têm sido empreendidos por indivíduos e grupos, até pelo contrário, pois dadas
as condições assinaladas, os resultados atingidos provêm do enfrentamento de condições
bastante adversas, com vistas a realizações para o bem comum.
Estas condições adversas aparecem sintetizadas no comentário transcrito a seguir, de
um entrevistado experiente com a mobilização comunitária em diversas localidades da
região, e deliberadamente não identificado. O entrevistado situa Milho Verde abaixo da
média regional, e caracteriza a comunidade local assim:
Existe uma carência organizacional aqui [Milho Verde] muito grande, você jádeve ter percebido isso. [...] As pessoas aqui têm uma dificuldade natural de seassociar, de discutir as coisas em conjunto [...]
O histórico de oposições e de imobilidade no âmbito da Associação Comunitária
aparece nitidamente neste relato:
Quando um trabalhava para aquilo, o outro trabalhava contra. Eles nunca sedavam as mãos. [Predominava] aquela demanda quase particular, e a população é
224
que sofria. Porque a população é que nem o vento: não sabe pra onde... Hoje éamigo de quem que manda? [i]
Conforme foi observado, a condição sociopolítica prevalecente na comunidade pode
ser considerada uma filha orfã do poder senhorial destituído. As relações políticas locais
tendem a ser compreendidas como, exclusivamente, relações de mando, de autoridade de
um senhor sobre servos, fundadas no estereótipo praticamente único disponível nas
referências da formação da comunidade.
Mais uma caracterização contundente elaborada por Manoel Bomfim, acerca da
herança sociopolítica brasileira, pode ser mencionada aqui, assinalando a relação entre o
presente da comunidade e as condições formacionais. Bomfim toma emprestada uma frase
de Martin Francisco de Andrada, irmão de José Bonifácio: “o homem embrutecido não
compreende em política outra idéia além das de senhor e escravo” (ANDRADA apud
BOMFIM, 2005: 368).
Uma outra observação pode ser associada a esta condição de busca de predomínio
nas ações políticas locais: as mulheres representam uma maioria quase absoluta nas
mobilizações. A explicação mais óbvia para isto encontra-se na relação, bastante direta,
com o fato de que a política local era por vezes, até recentemente, coisa de homem
espancado, senão morto. Talvez também exista alguma relação com o fato de que, até a
década de 80, os homens permaneciam por períodos menores na cidade, pois iam às
atividades de mineração.
Conforme também se observou, a dificuldade de vinculação experimentada por
novos habitantes relaciona-se ao estado prevalecente de imobilidade comunitária, embora,
tal como se demonstrou anteriormente, a desvinculação à comunidade é, dependendo do
interesse do novo morador, justamente um fator que propicia sua imigração. Assim, à
225
imobilidade da comunidade agregou-se, com o advento do turismo, um grande número de
novos moradores não vinculados – e não mobilizados.
Acrescente-se a essa nova população fixa, não mobilizada, uma população sazonal,
ainda mais numerosa, e completamente desvinculada do cotidiano, das relações
comunitárias e das problemáticas e desafios locais, e estará reforçado o quadro de
obstáculos à articulação de esforços comunitários em Milho Verde. A natureza desse
agregado não vinculado aparece bem caracterizada no relato a seguir, de um morador de
São Gonçalo, deliberadamente não identificado:
A comunidade aqui [São Gonçalo] pôs regra. Como a de Milho Verde não pôs,então esse público foi absorvido por Milho Verde. E foi para lá um público quetinha menos respeito com a população local, e aí esse público foi tomando conta.Chegava um dinheiro pingado, mais pingado ou menos pingado, o que fôsse,mas foi entrando dinheiro e as pessoas foram permitindo.
De qualquer maneira, as tentativas de composição de esforços conjuntos entre novos
moradores e a população de habitantes nascidos na localidade parecem haver encontrado
obstáculos significativos nas condições anteriores da comunidade:
Então assim que despertou [uma mobilização relativa a questões ecológicas]entrou a Associação [Comunitária], e aí as confusões, a gente fazia reunião, opovo da Associação começava a brigar e a falar do avô, do tio de não sei quem, ea gente já não dava conta de ficar participando dessas histórias [...] Foi sedesfazendo [a mobilização]. [m]
É fato que existe atualmente pouquíssima estruturação – seja em benfeitorias
realizadas, ou em regimentos de utilização da área urbana ou das atividades dos
empreendimentos comerciais – que tenha se originado de mobilizações coletivas. A
construção da creche comunitária, tambem utilizada como sede da Associação, escola de
alfabetização e espaço para atividades comunitárias, é um dos poucos exemplos de
empreendimento comunitário efetivado. As iniciativas desempenhadas no âmbito da
Associação Comunitária têm se revelado apenas esparsas, descapitalizadas e desarticuladas
226
tentativas de se promoverem ações de assistência social, defesa à natureza ou de imposição
de restrições ao turista.
Como alguns entrevistados assinalaram anteriormente, existem significativos
entraves culturais e sociopolíticos às atividades coletivas de planejamento, priorização de
atividades e alavancagem de recursos para a implementação de benfeitorias destinadas às
necessidades cotidianas da população. Milho Verde, nesse sentido, pode muito bem ser
descrita como uma localidade turística que simplesmente “incha” passivamente nos
feriados. Paradoxalmente, é nesse mesmo sentido que pode ser dito também que a
localidade ainda não perdeu algo de sua antiga identidade, pois é justamente como um
local desarticulado comunitariamente, um local de “não-vínculo”, que Milho Verde abriu
suas portas ao visitante. Porém, a desinformação e a estruturação tênue da coletividade
local não têm possibilitado respostas consistentes às demandas comunitárias e às demandas
da economia do turismo, cada vez mais prementes.
A constituição de uma representação política comunitária estável e coesa, capaz de
utilizar a Associação Comunitária como um grupo de pressão em prol da localidade face às
entidades políticas do âmbito municipal não ocorre atualmente e, pelo que foi possível
constatar, nunca ocorreu efetivamente.
Assim, uma questão infra-estrutural básica tal como a manutenção da estrada, de
suma importância para a economia da localidade, e que poderia mesmo ser negociada junto
ao poder público municipal – pois o bom tráfego pode direta e indiretamente contribuir
com as atividades econômicas na cidade-sede e com a captação de divisas para o município
–, tem recebido pouca ou nenhuma consideração por parte das autoridades. A estrada tem
sido, ao longo dos últimos anos, um verdadeiro obstáculo à chegada dos turistas, tornada
muitas vezes intransponível por ocasião das chuvas. É fato que, além de não haver
227
mobilização local em prol da manutenção da estrada, alguns entrevistados apontam ser
contrário aos interesses imediatos da população da cidade-sede o provimento de um acesso
ótimo do turista a Milho Verde. Segue um comentário típico a esse respeito:
[...] quando ele entra pelo Serro, e o turista pede informação pra ir a MilhoVerde, eles dificultam ao máximo a chegada do turista, tanto a São Gonçaloquanto a Milho Verde. [n]
A economia de base agrária de praticamente toda a região do município ocasiona
uma dissonância entre as necessidades e expectativas particulares das populações de Milho
Verde e São Gonçalo e o poder municipal instituído. O episódio a seguir, narrado por um
dos entrevistados (deliberadamente não identificado), é emblemático quanto às diferenças
entre sede e distritos.
[...] durante o processo de formação da Estrada Real [do Projeto Estrada Real],em que houve discussões, reuniões, algumas coisas assim, o Serro não participoudessas discussões. Tinha um determinado administrador lá, um prefeito que, paraele, tanto fazia. Então não participou de nenhuma dessas reuniões. Tanto que, nofinalzinho, no fechamento da estória toda, representantes do Projeto foram lá proSerro, sentaram lá na praça, chamaram o prefeito e falaram “Ó, você tem queentrar.”
Assim, dado que a localidade possui necessidades administrativas específicas e
concorre, como destino turístico, com a própria cidade-sede do município, mais
problemática se torna a lacuna representada pela ausência de mobilização comunitária em
Milho Verde.
Alguns trechos de entrevistas transcritos a seguir ilustram como a relação com a
política municipal é representada pelos habitantes de Milho Verde. O primeiro comentário
é de um empreendedor de turismo que possui experiência na política municipal local:
Porque o prefeito é o seguinte, prefeito não importa o partido. O que importa nosdistritos, nos municípios pequenos, é você ter amizade política, é o cara ser seuamigo, reconhecer os seus pedidos. Querer te ajudar. [...] Ele acha que lá [nasede] ele consegue um número maior de votos. Deixando aquilo lá [os recursosda administração municipal]. E o foco de amizade dele maior, são os vizinhosdele, os parentes, estão ali em volta, na sede. [...] Não leva pro distrito. É aí que
228
os distritos ficam até meio indiferentes, começam a sonegar IPTU, manda IPTU,ninguém quer pagar. [i]
Outro entrevistado foi bastante mais sucinto ao aventar as possibilidades do distrito
na esfera política municipal, utilizando um termo – “fracasso” – recorrente na linguagem
local:
Ah, nunca vi um prefeito que quisesse fazer nada pra cá, não. Nem vereador.Política aqui é um fracasso pra gente, toda vida foi. [e]
A carência de infra-estrutura local, compreensível em um município que depende da
verba de fundos de participação federais para alavancar suas atividades administrativas
básicas, é agudamente percebida pelos habitantes, e foi assinalada por vários dos
entrevistados. Segue um exemplo:
Eu já fui em distrito [muito mais bem cuidado que Milho Verde] que nem nometem praticamente em relação a Milho Verde. Milho Verde é conhecidainternacionalmente. O cara chega aqui achando que é uma cidadezinha. Quemvem com uma imagem dessas na cabeça tem a maior decepção. [i]
Entretanto, também a comunidade não realiza nenhum tipo de administração ou
benfeitoria nos espaços públicos locais, com vistas à operacionalização de atrativos
turísticos disponíveis, à qualificação da capacidade de atendimento, à melhor regulação
dos influxos de demanda e à salvaguarda da qualidade de vida da população. Não se
realizou nenhuma avaliação de impactos ambientais ou um levantamento de capacidade de
carga para a atividade turística. Não existe nenhuma organização para a valorização dos
espaços públicos – ajardinamento, praças, mirantes, sinalização de tráfego, manejo e
conservação do aspecto das ruas e passarelas, ou preservação de áreas verdes. As restrições
de tráfego e as áreas de estacionamento existentes não atendem a todas as necessidades
comunitárias, e assim o tráfego extra de veículos, nos picos de demanda turística, tem
acarretado uma série de impactos negativos à natureza e à qualidade de vida do habitante
urbano. Não há também iniciativas no sentido da institucionalização e da apropriada
229
manutenção dos atrativos históricos. Um desestímulo ao aproveitamento deste tipo de
atrativo é que dois prédios que seriam de interesse histórico na localidade, o rancho de
tropeiros e o antigo quartel, já foram demolidos há décadas. Não existe também
mobilização para a institucionalização e apropriada manutenção dos atrativos naturais; as
incipientes tentativas de restrição ao acesso e de manejo sustentado de áreas de
preservação esbarram em obstáculos locais relativos às necessidades de subsistência dos
habitantes e na inefetividade na implementação de decisões coletivas face ao
comportamento individualizado predatório, tanto do habitante local como do turista.
A comunidade empreende, de forma voluntária, algumas atividades esparsas de
manutenção das instalações públicas – limpeza urbana, limpeza de reservatórios de água,
restrições no sistema viário. Não havendo institucionalidade que coordene efetivamente a
mobilização, a captação e a utilização de recursos, o empreendimento destas atividades
baseia-se em lideranças informais e em um senso de obrigação com relação a determinados
valores comunitários. Novamente, também este tipo de mobilização foi observado como
pertinente às mulheres da comunidade:
[Pesquisador:] A meninada fica andando no muro do cemitério. É umdesrespeito com os mortos danado! [A entrevistada r i.] Os mortos, eu acho,devem é gostar. [Ambos riem.] Falta de respeito é f icar sem capinar, você viucomo é que o cemitério está feio? Em janeiro estava lindo, com as florezinhas.Agora já está na hora de capinar, para as sementes nascerem de novo. Aí, nósmesmos é que vamos ter de fazer isso. [d]87
87 Para melhor compreensão deste comentário, é preciso caracterizar a peculiar situação do cemitério deMilho Verde, situado ao lado da Igreja do Rosário. Antigamente, esta era uma localização afastada, ao alto deuma elevação, e fora do perímetro urbano. Com a expansão da localidade, e com a atribuição de interessecomunitário e turístico ao entorno da Igreja, de onde se tem uma vista deslumbrante para a paisagem dosarredores, o Largo do Rosário e as ruas adjacentes se tornaram o ponto de maior movimento da cidade, etalvez de maior valorização imobiliária, contendo pousadas, bares e restaurantes, e abrigando asmanifestações comunitárias e diversas atividades da população nos momentos de lazer. Assim, de maneiramuito singular, Milho Verde é uma localidade que tem sua vida social concentrada em torno de um cemitério– que nada tem de lúgubre.
230
Porém, como pôde ser observado ao longo da realização da pesquisa, a comunidade
se compromete pouco com as questões de manejo do espaço público:
As ruas em Milho Verde em geral são muito limpas, para uma cidade do interior,o que eu acho que sempre falta, que sempre vai mancando atrás, é a própriapopulação. Porque eles sempre falam “Ah, são os turistas” então elespegam isso como desculpa, e descuidam deles mesmos. [f]
Tem pessoas da comunidade hoje que têm coragem, por exemplo, de ir tomar umbanho de cachoeira, e voltar com aquelas roupas, às vezes inadequadas, queantigamente a gente não podia fazer isso aqui. De jeito nenhum. [...] E depoisfalam, às vezes, que o turista está andando com roupas inadequadas, mas se temcertas pessoas da comunidade que também fazem isso aqui, cadê o exemplodeles? [k]
Ao longo dos anos, foram criadas restrições e direcionamentos ao turista como, por
exemplo, impedir-se acampamento em área pública (e gratuita) urbana e o tráfego de
veículos em alguns dos espaços coletivos; porém, afora estas duas, todas as restrições
tentadas até o momento ainda não surtiram efeito: tem sido difícil restringir o acesso de
veículos à Várzea e ao balneário do Córrego do Lajeado, bem como o trânsito de pessoas
na área urbana em trajes de banho.
O trecho de entrevista disposto a seguir caracteriza o interesse da comunidade na
restrição do comportamento do turista, não somente pelo prisma de valores associados à
conduta, e em uma preocupação quanto a resguardar-se a qualidade de vida local, mas
também pelo interesse na economia do turismo:
Há dez anos atrás, turista era rei, podia fazer o que queria, porque estavatrazendo dinheiro. Agora, a cidade mesmo está impondo regras para o turista. Hádez anos atrás, você podia acampar no Rosário, acender fogueira na grama,estava tudo certo. Agora já estão visando outro tipo de turismo, mais familiar,mais calmo. [g]
O entrevistado prossegue, comentando os motivos para a talvez única ação coletiva
já realizada pela comunidade de empreendedores de turismo; neste único ato, de
desarticulados, os empreendedores locais tornaram-se cartel, elevando de comum acordo o
231
preço de venda da cerveja, o que teve, segundo informado por alguns entrevistados, um
efeito claramente percebido de gradual elevação do perfil sócio-econômico da demanda:
Foi começando a se ver que o turismo de farra, de farristas, de gente que chegapra tomar cerveja, fazer bagunça, estava prejudicando o lugar. E nãorepresentava nenhum lucro. Note que vender mil cervejas e levar tombo deduzentas, não estava dando certo não.
Assim, embora desarticulada, a comunidade tem gradualmente exercido influência na
atração de um perfil mais desejável de turista. O entrevistado conclui, caracterizando as
mudanças que vêm sendo observadas:
O conceito de férias em Milho Verde mudou também. Na cidade [BeloHorizonte], anos atrás, se falava de Milho Verde como um lugar em que era tudoliberado: drogas, maconha na rua, acampava-se em qualquer lugar... estava tudocerto. Esta idéia da cidade já mudou [...] Há dois anos que estão chegando muitasfamílias. Estão vindo muitas famílias com meninos... Coisa que aqui, antes, umpai de família chegava aqui, via o acampamento no meio da cidade, metadefumando maconha... quem tinha família, é claro que ia embora na mesma hora. [g]
Assim, alguns elementos esparsos atestam um potencial de mobilização,
ocasionalmente manifesto, e que pode indicar uma gradual maior coesão e politização
comunitária – tal como a que pode ser observada em São Gonçalo, ou como a mobilização
apontada como incipiente, por alguns autores que estudam impactos do turismo, em
algumas pequenas comunidades brasileiras (CALVENTE, 2001: 87-88; CORIOLANO,
2001: 97).
As diferenças em relação ao impacto da visitação turística verificado na
comunitariamente mais articulada São Gonçalo certamente continuam existindo, mas
talvez evoluindo gradativamente, em tempos mais recentes, para um outro diapasão. O
entrevistado citado a seguir, incomodado não com impactos sociais e ecológicos, mas com
o movimento dos estabelecimentos comerciais, deixa entrever algo das diferenças atuais
entre as duas localidades:
São Gonçalo, pode ser qualquer dia do ano, depois das nove e meia da noite,você não encontra um restaurante aberto, você não encontra comida, não
232
encontra um bar aberto... Fechado, tudo parado. São Gonçalo já está virando olugar do aposentado da quarta idade, não o da terceira. Às nove e meia da noitejá está todo mundo dormindo, não se escuta nada. Aqui não, Milho Verde temuma certa tranqüilidade, uma certa paz, mas você encontra o comércio aberto.Chega aqui à meia-noite, você ainda encontra o bar aberto, você pode comer,você encontra coisas. Tanto que eu vi, nestes últimos feriados, muita gentehospedando-se em São Gonçalo que vinha à noite para Milho Verde, falando quelá não tinha nada. Talvez, pessoas que preferiam ficar lá, as pousadas são maisarrumadas, têm mais conforto, mas hospedando-se lá e vindo se divertir emMilho Verde. [g]
As Figuras 30 a 41 exemplificam questões urbanas e comunitárias que não estão
sendo tratadas – e que afetam diretamente a imagem da comunidade perante o turista e,
conseqüentemente, a economia local. Na seqüência, o Quadro 5 aponta as diferenças nas
mobilizações comunitárias de Milho Verde e São Gonçalo:
233
Figura 30 – Placas em via pública de Milho Verde
Situadas próximas a uma das entradas da localidade, estas placas dizem muito a respeito do estado damobilização coletiva em Milho Verde. Além de atestarem a inexistência de um regimento de utilização doespaço público e de cuidados com a manutenção de bens coletivos, estas placas em decomposiçãomanifestam um descompromisso, no nível da mobilização coletiva, com um fator que pode ser consideradoprimordial para o desempenho econômico local: a imagem da localidade perante o turista. Entretanto, cumpreassinalar que, tal como se comentou anteriormente, a ausência de uma constituição civil chegou mesmo aconstituir um atrativo da localidade perante alguns públicos (foto do autor – julho de 2006).
234
Figura 31 – Terraplenagem do campo de futebol comunitário
Uma iniciativa arbitrária empregando recursos financeiros da Associação Comunitária procurou em 2005aplainar a área, anteriormente gramada, do campo de futebol comunitário local, adjacente ao Largo doRosário. O resultado demonstrou a fragilidade da vegetação local, dadas as características do solo arenoso: ogramado não se recompôs, e a erosão decorrente teve de ser contida, pois ameaçou as ruas situadas abaixo. Aextensa área, de grande utilidade pública, tem permanecido inaproveitada, pois só recentemente acomunidade obteve as verbas para as obras de reforma necessárias, incluindo a recontituição do solo, oplantio de grama (foto do autor – junho de 2006).
235
Figuras 32, 33, 34, 35, 36 e 37 – Ocupações e construções em área de preservação
Com relação à compreensão da dinâmica de ocupação irregular da Várzea, devem ser considerados algunsaspectos da problemática social local. Um dos motivos para as ocupações é alojar novas células familiares –oriundas do crescimento das famílias da área urbana, ou da emigração de famílias a partir da zona rural –,buscando os posseiros, em muitos dos casos, manter a equação tradicional local “subsistência = propriedadeurbana”. Ou seja, nestes casos, preferivelmente, a ocupação tem de reivindicar uma área suficientementegrande para que possa conter algum plantio. Porém, apesar de que o caráter “semi-rural” de Milho Verdeesteja sendo mantido nestes casos, os novos meios de construção empregados (mais baratos, mais práticos emais duráveis) fazem com que o aspecto geral de áreas ocupadas resulte agressivo para o conjuntoarquitetônico. Acrescente-se que muitas destas novas habitações, concentradas nas duas entradas dalocalidade, são construídas por habitantes ocasionais, como casas de veraneio, e sem nenhum compromissocom aspectos tradicionais dos prédios locais. Com a população local sendo desalojada das áreas urbanastradicionais, e a emigração rural-urbana e ocupações irregulares prosseguindo, o efeito deletério para aatratividade turística provocado pela presença e aspecto dos novos bairros irá intensificar-se (fotos do autor –junho de 2006).
236
Figura 38 – Construção em moldes não tradicionais
O Plano Diretor, que ao início de 2007 encontrava-se em fase de elaboração no âmbito municipal,incorporando sugestões de membros das comunidades de todos os distritos do Serro, pretende, entre outrasatribuições, regulamentar uma série de atributos arquitetônicos, com fins de impôr às novas construções aobediência ao aspecto arquitêtonico tradicional. Porém, para que se efetive em Milho Verde, o Plano Diretorterá de superar o mesmo obstáculo com que a comunidade se depara no que se refere à ocupação irregular daVárzea: a difícil articulação sociopolítica local; regulamentos e restrições, quase sempre, não surtem efeito.Não se estabeleceu ali nenhuma adesão a convenções coletivas. Prevalecem as autonomias individuais que,quando questionadas, podem derivar para o recurso à ameaça ou à violência, endossado pela família doquestionado. Nessas condições, os estatutos e consensos da coletividade não são considerados como efetivosou úteis, pois tornam-se desmoralizados no momento em que colidem com algum interesse individual. Dadaa conjuntura regional, inexiste aparato policial local (e, quanto a essas questões comunitárias, poucoadiantaria existir), e as instâncias do poder público municipal também não se contrapôem às autonomiasindividuais mencionadas. Não é que se se configure aí uma “guerra de todos contra todos” propriamente dita,mas é que não existe ainda, sob muitos aspectos, uma constituição de Estado ou de cidadania (foto do autor –junho de 2006).
238
Figuras 39, 40 e 41 – Vista a partir do Morro do Cruzeiro
Uma caixa d’água, posicionada arbitrariamente por um órgão público, obstrui a vista a partir do principalmirante da cidade, local de peregrinação e de festividades religiosas, o Morro do Cruzeiro. O detalheanedótico é que o engenheiro responsável, preocupado em atribuir interesse turístico à edificação, edesconhecendo completamente o contexto local, elaborou um projeto, barrado após uma consulta àcomunidade, que daria à caixa d’água a forma de uma espiga de milho. A localização da cidade, como já foiassinalado, decorre justamente de sua condição natural como mirante para observação de toda a região.Assim, a despeito de todos os impactos sobre a natureza e sobre a urbanização, a abrangência da visão, umdos fortes atrativos turísticos em toda a localidade, ainda prevalece. Porém, como o exemplo da caixa d’águademonstra, mesmo isso pode vir a ser comprometido (fotos do autor – Figuras 39 e 41, junho de 2006, e 40,julho de 2007).
239
Milho Verde São Gonçalo
Mais rural Mais urbana
Pequeno núcleo familiar oligárquico ruralDispersão da elite local em um maiornúmero de células familiares urbanas
Economia mais agrária e de subsistência Economia mais comercial e empreendedora
Articulação mais informal e clandestina; presençade núcleos quilombolas como satélites
Articulação mais formal e institucionalizada
Histórico político conservador Histórico político liberal
Menor densidade urbana Maior densidade urbana
Maior permissividade no espaço urbanoColetividade impõe aspectos de conduta locaisao novo morador e ao turista
Disponível e atrativa a ummaior número de turistasa
Disponível e atrativa a ummenor número de turistasb
Disponível e atrativa a um maiornúmero de novos moradoresc
Disponível e atrativa a um menornúmero de novos moradoresd
Menor articulação da comunidadeante impactos do turismo
Maior articulação da comunidadeante impactos do turismo
a) Avaliado em função de presença de maior beleza cênica, maior proximidade, quantidade e disponibilidade decachoeiras e outros atrativos naturais, e maior disponibilidade de espaço urbano público e de meios de hospedagem,entre outros fatores;
b) Menor atratividade ao turista, se comparada a Milho Verde; é, entretanto, também detentora de atrativosexclusivos que determinam, conforme o perfil do turista, uma preferência por São Gonçalo; assim, devido àsdiferenças que apresentam, Milho Verde e São Gonçalo atingem diferentes segmentos da demanda;
c) Avaliado em função de maior disponibilidade de áreas imobiliárias para aquisição e construção, e da menorsolicitação, por parte da comunidade, de obediência a estatutos comunitários e de integração à coletividade;
d) Ao contrário do que ocorre em Milho Verde, há menor disponibilidade de áreas imobiliárias para aquisição econstrução, e maior solicitação comunitária à integração; tal como foi disposto anteriormente para o turismo (nota bdesta tabela), as diferenças entre Milho Verde e São Gonçalo determinam maior ou menor atratividade conforme opúblico em questão.
Quadro 5 – Diferenças de resposta aos impactos turísticos nas comunidades de Milho Verde e São Gonçalo
Os aspectos relativos à organização comunitária face aos impactos do turismo diferem visivelmente entre SãoGonçalo e Milho Verde. Uma série de fatores geográficos, urbanísticos, sociopolíticos e sócio-econômicosdeterminam essa diferença de resposta entre as duas comunidades, sendo difícil estabelecer relações de causae efeito, ou de predominância de efeito, a partir dessa diversidade de fatores.
240
2.3. Para sustentar a sustentabilidade
2.3.1. Desenvolvimento alternativo e sustentabilidade
A emergência de um novo padrão de ação social – caracterizado pela atuação da
sociedade civil organizada em entidades do Terceiro Setor – é apontada, por Jeremy Rifkin
(2000, 1995), como a alternativa à ruptura da ordem social do Welfare State e do regime de
acumulação fordista, em um novo contexto de eficiência produtiva automatizada e redução
inevitável da força de trabalho em todo o mundo. As organizações do Terceiro Setor têm,
segundo Rifkin, o papel de absorver a mão-de-obra ociosa liberada pelos “setores de
mercado” (a economia de mercado formal) e obrigada a atuar em setores da informalidade
(denominada por ele “sub-cultura da ilegalidade”) a serem reprimidos pelos governos por
um incremento da proteção policial e pela construção de “mais cadeias”, a menos que se
adotem “formas alternativas de trabalho” nas atividades das organizações do Terceiro
Setor. As alternativas seriam, pois, “a comunidade ou a prisão”. (RIFKIN, 2000: 21).
Assim, alijadas da economia formal,88 pressionadas pelo deslocamento tecnológico e pela
globalização dos mercados, as comunidades deveriam organizar-se por meio de entidades
do Terceiro Setor, de modo a promoverem a auto-sustentação e a defesa de seus interesses,
e “garantirem seu próprio futuro” (RIFKIN, 1995: 272).
88 Encontra-se em O Capital a discussão de Marx acerca das “formas de existência da populaçãorelativamente excedente” com relação à necessidade momentânea de mão-de-obra das empresas. Marxdividiu esta população em três categorias: i) uma reserva móvel de trabalho, sempre disponível às empresaspara a rápida expansão do número de empregados, denominada população excedente liquida (ou flutuante);ii) a população latente, os moradores do campo em vias de serem expulsos da agricultura e dirigirem-se àscidades em busca de trabalho; iii) e a população estagnada, parte da população economicamente ativa, porémem ocupações irregulares definidas por Marx como de sendo de trabalho intenso, ocupando o maior númerode horas diárias possível, e minimamente remunerado (MARX, 1968 [1867]: 730-747).
241
Toda a discussão acerca do papel do Terceiro Setor requer o detalhamento das
acepções vigentes acerca de Estado, mercado e sociedade civil. A esse respeito,
mencionando-se uma observação sintética, mas elucidativa, depreende-se de Boaventura
Santos (2000: 117; 122) que a concepção em vigor de distinção entre Estado e sociedade
civil radica-se, historicamente, na reificação do uso dado a esses conceitos a partir da
interpretação que alguns autores fizeram da dialética hegeliana (que estabelece uma
progressão, e não uma progressiva reificação das etapas família, sociedade civil e Estado).
Essa reificação teria sido funcional a uma consolidação ideológica da separação entre
político e econômico, permitindo a naturalização da exploração econômica capitalista e a
anulação dos potenciais explosivos, revolucionários, contidos nas noções políticas liberais.
Inúmeras questões a serem debatidas permeiam o texto de Rifkin e, de fato, são
discutidas em uma controvérsia contemporânea acerca da efetividade do conceito de um
setor não-privado e não governamental, um “terceiro setor” (MONTAÑO, 2003).
Exemplifiquemos com um aspecto discutível das proposições de Rifkin: sob um prisma
nitidamente funcionalista, ele mistura, ou confunde, informalidade com ilegalidade. Estas
duas esferas intersecionam-se, mas não se justapõem. Em grande parte dos casos, o setor
informal (de fato, o próprio Terceiro Setor, na maneira como Rifkin o configura) na
verdade concorre, em oferta de mercadorias e serviços, com o setor formal, ou seja, o setor
informal não seria tão somente uma parcela ou interstício do setor formal,
insuficientemente lucrativa para justificar a presença do capital na atividade (MELO, 1999:
385), nem tão somente a composição de esforços “ilegais”, um subterfúgio face às regras
242
estatutárias e fiscais para a participação no mercado formal.89 O mercado informal pode na
verdade constituir, e esse é um ponto importante, a própria articulação da sociedade face às
pressões globalizadas que Rifkin menciona. Esse tema diria respeito, portanto, também às
propostas do chamado desenvolvimento alternativo, e não somente a uma discussão estrita
acerca do papel do Terceiro Setor.
Em seu total, segundo relatório publicado em 2002 pelo IBGE, o Terceiro Setor já
movimentava 17,5 bilhões anuais de receita, empregando 1,5 milhões de pessoas – 2,2%
do total de pessoas empregadas no Brasil, em um total de aproximadas 276 mil
organizações, das quais 77% não possuíam quaisquer empregados, e apenas 7% possuíam
acima de dez empregados. Das organizações do Terceiro Setor existentes no Brasil naquele
ano, 62% haviam sido criadas a partir de 1990. Da receita, 68% era proveniente de fontes
próprias, 15% do governo, 10% de doações de pessoas físicas e 3% de pessoas jurídicas
(IBGE, 2002).
Ao caracterizar o serviço voluntário e a estrutura social que o demanda e sustém,
Rifkin deixa transparecer um acento do contexto sociocultural de países centrais anglo-
saxônicos (e uma crença na utilidade social do hiperdimensionado sistema carcerário
norte-americano). Além disso, e mesmo defendendo a constituição de esforços
comunitários e a auto-sustentação, a interpretação de Rifkin vincula-se a pressupostos de
irrevogabilidade e de aplicação irrestrita do modelo capitalista de interações econômicas.
89 O termo terceiro setor foi utilizado primeiramente em 1972, pela Organização Internacional do Trabalho(OIT), em relatórios sobre o trabalho da população pobre sem amparos legais por parte do governo –reconhecimento, registro, proteção e regulamentação – em países da África.
243
A aplicação de um modelo único capitalista, em meio aos desafios e ameaças do
contexto caracterizado por Rifkin, tem sido questionada por propostas de desenvolvimento
que preconizam formas de produção, de organização econômica e de interação entre os
aspectos produtivos, sociais e políticos diversas das que predominam na sociedade
capitalista. “Mesmo sendo hegemônico, o capitalismo não impede o desenvolvimento de
outros modos de produção, porque é incapaz de inserir dentro de si toda a população
economicamente ativa” (SINGER, 2005: 86). Boaventura Santos contextualiza a
elaboração de alternativas ao modelo capitalista:
Como demonstra a consolidação recente de numerosos movimentos eorganizações de todo o mundo que lutam por uma globalização contra-hegemônica, os vários séculos de predomínio do capitalismo não conseguiramdiminuir a indignação e a resistência efetiva aos valores e às práticas queconstituem o núcleo do capitalismo, enquanto sistema econômico e forma decivilização. De fato, a história do capitalismo [...] é também a história das lutasde resistência e da crítica a esses valores e práticas (SANTOS, 2005: 23).
A idéia geral de desenvolvimento alternativo apresenta-se em uma corrente de ações
e estudos de certo modo oposta às premissas de formulação e implementação de projetos
de desenvolvimento por parte de agências tecnocráticas nacionais e internacionais,
tradicionalmente centradas em aceleração do crescimento econômico, notadamente por
meio de estímulos ao setor industrial. A ênfase macroeconômica das propostas de
aceleração do crescimento vincula-se, em grande medida, à tentativa de manutenção de
condições propícias a regimes de acumulação capitalistas alternativos ao hoje esfacelado
modelo fordista, prevalecente, segundo alguns autores, até os anos setenta (BOYER, 1992:
23-27; 33-36), e estaria associada à marginalização de outros objetivos econômicos, sociais
e políticos, tais como a distribuição equilibrada, equânime e ecologicamente responsável
dos frutos deste desenvolvimento.
Descrevendo a oposição entre modelos de desenvolvimento alternativo e o modelo
capitalista, Santos e Rodríguez (2005) elaboraram uma síntese de críticas ao sistema
244
capitalista. Compilada a partir da tradição do pensamento associativo e marxista, e das
propostas atuais de alternativas de desenvolvimento econômico, esta crítica compreende
três tópicos fundamentais: as noções de que i) “o capitalismo sistematicamente produz
desigualdades de recursos e de poder”, em um contexto social onde ii) “as relações de
concorrência exigidas pelo mercado capitalista produzem formas de sociabilidade
empobrecidas, baseadas no benefício pessoal em lugar de na solidariedade” e em um
contexto macro-ambiental em que iii) “a exploração crescente dos recursos naturais em
nível global põe em perigo as condições físicas de vida na Terra” (2005: 27-28).
Por outro lado, os dois autores questionam também que a pauta de ações e análises
das estratégias de desenvolvimento alternativo tem se restringido a condições locais de
desenvolvimento (2005: 46). Essa restrição tem se aplicado, especialmente, à relação entre
as propostas de desenvolvimento alternativo e contextos sócio-econômicos de
informalidade e exclusão social. Acrescentem-se aqui, portanto, ao que Telles indica como
deficiências, em termos políticos, de uma ênfase local, as considerações providas por
Santos e Rodríguez acerca das limitações de sistemas econômicos alternativos pautados em
restrição ao âmbito local:
[...] em nossa opinião, as propostas [de desenvolvimento alternativo] têm umalimitação importante para a construção de alternativas econômicasemancipadoras, que deriva de sua ênfase exclusiva na escala local. Se bem queesta ênfase tenha permitido ao desenvolvimento alternativo colocar no centro dadiscussão os efeitos concretos dos programas de desenvolvimento e advogar atransferência de poder para os atores locais, também levou a teoria a reif icar olocal e a desligá-lo de fenômenos e movimentos regionais, nacionais e globais.Esta concentração no local sustenta-se em uma concepção da comunidade comouma coletividade fechada e indiferenciada cujo isolamento garante o caráteralternativo das suas iniciativas econômicas. De acordo com esta visão, amarginalização dos setores populares cria as condições para a existência (e adesejabilidade) de economias alternativas que operam sem conexão com asociedade e a economia hegemônicas. Isto é especialmente notório nos trabalhossobre a economia informal que, com freqüência, é apresentada como umconjunto de atividades empreendidas por, e para, os setores populares e, porconseguinte, separada da economia formal de que dependem as classes média ealta (SANTOS e RODRÍGUEZ, 2005: 51).
245
Boaventura Santos e César Rodríguez estipulam alguns denominadores comuns
presentes nos pressupostos e propostas das análises teóricas e trabalhos empíricos
realizados sob a perspectiva de desenvolvimento alternativo: i) o desenvolvimento
alternativo tem como base orientações críticas à racionalidade econômica estrita da
concepção dominante de desenvolvimento, em que prevalece a noção de que a esfera
econômica é de alguma forma distinta, ou separada, da vida social, requerendo sacrifícios
de bens e valores não econômicos, sejam sociais, políticos, culturais, étnicos ou referentes
à natureza; assim, as propostas de desenvolvimento econômico alternativo referenciam-se
em valores como igualdade e cidadania – não implicando por isso uma conduta de rejeição
ao desenvolvimento, ou seja, de uma alternativa ao desenvolvimento, mas sim de uma
subordinação do crescimento econômico a imperativos não econômicos; ii) as propostas de
desenvolvimento alternativo compartilham, em geral, da noção de que o desenvolvimento
deve dar-se a partir da base, ou seja, deve ocorrer de “baixo para cima”, originando-se nas
articulações da sociedade civil, descartando-se a noção de que seja uma competência
exclusiva do Estado e das elites econômicas; tendo-se em vista as desigualdades sociais da
conjuntura contemporânea, a teoria relativa às experiências de desenvolvimento alternativo
tem lhes destacado o caráter de iniciativa coletiva, comunitária (especialmente com relação
às comunidades marginalizadas em que, neste modelo de desenvolvimento bottom-up,
preconiza-se, a construção do poder comunitário pode vir a atingir a esfera política, em um
círculo virtuoso capaz de neutralizar, ou compensar as causas estruturais da
marginalização); iii) como advertido anteriormente, as propostas de desenvolvimento
alternativo, bem como suas análises, têm lugar em uma escala local, havendo inclusive, na
teoria, uma ênfase sobre estudos etnográficos de comunidades marginalizadas, resultando
daí uma concepção mais ou menos generalizada de que o desenvolvimento contra-
hegemônico deva dar-se no âmbito de comunidades separadas; iv) além disso, prevalece,
246
nas propostas de alternativas ao desenvolvimento hegemônico, também uma crítica ao
desenvolvimento paternalista, gerido por órgãos tecnocráticos governamentais, que seriam
contrários a pressupostos de fortalecimento do poder comunitário e de promoção da
autogestão; v) de uma maneira geral, o desenvolvimento alternativo questiona também
uma economia centrada em formas de produção capitalista e em um regime econômico
controlado pelo Estado, estipulando, como alternativa, formas de organização que, tais
como as cooperativas, contrariam a separação entre capital e trabalho (SANTOS e
RODRÍGUEZ, 2005: 46-48).
Tem sido verificado que à ênfase nos processos de acumulação tem correspondido
um reforço da exclusão. Atingir a compreensão dessa dinâmica, por meio de modelos
apropriados de análise econômica, poderia contribuir para a viabilidade da estruturação (e
integração ao contexto) de modelos sócio-econômicos realmente alternativos, e não apenas
“marginais” (2005: 72-73). A aferição da “sustentabilidade” para propostas de
desenvolvimento alternativo (que, de modo geral, como foi visto anteriormente, não
atribuem primazia aos aspectos econômicos de sua atuação), realiza-se, de qualquer
maneira, não a partir de referenciais economicistas exógenos e determinados por uma
racionalidade que, a princípio, pressupõe justamente a descartabilidade, extirpação, ou
marginalização dos modos de vida defendidos por estes modelos alternativos – pois a
sustentabilidade, por definição, é uma decorrência das possibilidades de coerência de um
sistema pré-existente face às exigências do meio.
Em relação ao desenvolvimento alternativo pelo turismo, Álvaro López Gallero,
justamente, recomenda a especialização local como salvaguarda frente à globalização, e
recomenda que a comunidade não se estereotipe em uniformização (1996: 35):
247
A globalização acompanhada de um discurso neoliberal e modernizador impedeo desenvolvimento autônomo e, entre outras coisas, em geral ataca os valoresambientais do espaço receptor, debilitando ou até mesmo fazendo desaparecerrecursos turísticos (GALLERO, 1996: 34).
Também a respeito de sustentabilidade no desenvolvimento pelo turismo, Colin Hall
assinala a dubiedade de significado do termo “desenvolvimento”, que geralmente é
compreendido, em economias periféricas, como uma “ocidentalização” (1998: 120). A
busca de uma coerência entre um modelo de desenvolvimento a ser empregado e as
condições locais é significativa em relação à comunidade objeto do presente estudo, pois
quaisquer propostas de desenvolvimento pelo turismo que abordem a região de Milho
Verde – e os empreendedores ali sediados atualmente – estarão lidando com
especificidades culturais, sociais, políticas e econômicas que, pode-se afirmar, são
marginais ao contexto amplo da sociedade a que estarão sendo integradas. De um modo
geral, requer-se atenção às condicionantes sociais para a adoção de modelos
organizacionais, e também à articulação entre os processos de aquisição e construção de
cidadania, de organização dos indivíduos para o trabalho, e de uso de modelos de gestão
(PIMENTA e CORRÊA, 2001: 10).
A citação a seguir, de Alexandre de Pádua Carrieri, aproxima ainda mais a
recomendação de Gallero e os desafios e perspectivas experimentados pelos
empreendedores locais:
[...] as organizações e seus membros podem aceitar a globalização e submeter-seà subjetividade criada por outros, ou aceitá-la e reorientá-la ou reapropriá-laconforme as suas realidades vividas, singularizando-as. Esse processo temproduzido inúmeras influências nas práticas administrativas. Dessa forma, pode-se apreender a globalização como um processo que vem desmanchar modos deprodução, modos culturais e de organização que teriam sido desenvolvidos emconformidade com as realidades vividas, construídas. O enquadramento dasdiferenças, não permitindo-se a singularização das pessoas, das organizações, daspráticas, têm provocado a diminuição da criação de saídas a esta modelização(CARRIERI, 2001: 47).
248
Estudando a incorporação do paradigma da sustentabilidade à teoria organizacional
contemporânea, Carrieri (2000) sustenta tratar-se, em grande parte, de uma assimilação
devida a pressões sociais, mas proveniente também de uma ampliação da perspectiva em
que é percebida hoje a dependência da organização em relação ao seu ambiente. Carrieri
buscou determinar quão efetivamente tem se dado uma superação, no âmbito da teoria
administrativa, do modelo clássico de desenvolvimento, em prol de um modelo de
desenvolvimento sustentado; quão efetivamente...
“a crescente tendência a uma transformação paradigmática contemporânea emdireção a uma solução integradora e não instrumental da relaçãoorganização/homem e natureza representa a formação de uma nova consciênciadas organizações [...]” (2000: 478).
A noção de desenvolvimento sustentável emergiu ao longo das três últimas décadas,
a partir da superação de uma visão anteriormente predominante em que os custos sociais e
da natureza seriam vistos como “externalidades”, itens passíveis de exploração ilimitada,
meros recursos abundantes à disposição de um avanço tecnológico sem fronteiras. Os
prejuízos causados à natureza seriam percebidos, nesse contexto, como decorrências da
pobreza e seqüelas passageiras de um processo de desenvolvimento, em uma fase de
transição em que se daria livre curso às forças de mercado, a ser sucedida por outra etapa
em que os danos seriam certamente sanados pelo desenvolvimento tecnológico (2000: 478-
481). No contexto da predominância desse modelo de desenvolvimento (baseado em uma
lógica de crescimento e acumulação), teria sido incorporada uma visão funcional da
relação entre homem e natureza ao pensamento organizacional, em um “bloco monolítico e
homogêneo de idéias e formas de ver a realidade” – antropocêntrico, positivista,
determinista e nomotético (2000: 481).
Carminda Cavaco (1996), em uma discussão acerca das propostas de sustentabilidade
no âmbito de projetos de desenvolvimento pelo turismo, assinala que o modelo de
249
desenvolvimento por crescimento, fundamentado na disponibilidade essencialmente
quantitativa de fatores de produção (recursos naturais, mão-de-obra, capital e tecnologia), e
nos efeitos resultantes de se aglomerar fisicamente estes fatores nas proximidades de
mercados consumidores, marginalizou questões como qualidade da mão-de-obra, a
capacidade do empresariado, as condições institucionais, políticas, sociais, culturais,
psicológicas e ecológicas, bem como os efeitos negativos implícitos ao desenvolvimento:
externalização e socialização dos custos (incluindo os grandes investimentos para a criação
de infra-estruturas, equipamentos e serviços adequados) e o uso intensivo dos recursos
naturais. Assim, comprometeu-se a sustentabilidade dos processos de desenvolvimento
encetados, gerando-se poluição de diversos tipos, degradação da qualidade de vida,
subutilização do trabalho, taxas elevadas de desemprego, bolsões de pobreza, exclusão
social, além de problemas de circulação, insegurança, marginalização e violência.
Transpostos para a economia do turismo, esses problemas da visão convencional de
desenvolvimento estariam provocando problemas sociais e ecológicos que ameaçam
populações inteiras (1996: 94).
Os movimentos sociais da década de 60 se opuseram a este paradigma de
crescimento ilimitado, questionando-o em meio à constatação da degradação ambiental e
do esgotamento dos recursos, e a observações quanto ao aumento das populações e à
emergência de problemas relacionados à pobreza do Terceiro Mundo. Referenciais
alternativos foram propostos, tais como a igualdade intrínseca das espécies, a autonomia
regional (visando-se a diminuição das interdependências) e o respeito à diversidade
cultural (CARRIERI, 2000: 479-484).
Este conflito de visões teria imposto uma correção de curso que resguardasse o status
quo de predominância detido pelo modelo de desenvolvimento econômico através do
250
crescimento. Assim, segundo Carrieri, prevalece hoje, nas acepções de desenvolvimento
sustentado adotadas pelas organizações, a premissa de que o capital e seu rendimento
continuam sendo o a priori de toda a noção de desenvolvimento. Dentro deste quadro, os
recursos da natureza e da sociedade só recebem verdadeira importância quando sua
degradação ameaça este a priori – seja devido a escassez, a sanções legais ou a impasses
determinados pela opinião pública (2000: 484-486): “[...] busca-se, sob novas roupagens,
resgatar a funcionalidade do capital, naturalizada como paradigma único da sociedade
moderna” (2000: 488). A natureza e a sociedade foram, assim, incorporadas à lógica da
acumulação, passando apenas de recursos ilimitados a recursos a serem administrados.
Dentro deste reposicionamento, a incorporação de parâmetros de sustentabilidade estaria se
fazendo acompanhar, também, da massiva presença do conceito de sustentabilidade no
discurso dos meios organizacionais, o que o autor critica como sendo meras ações
“esverdeantes” (2000: 477-478;490).
Conforme Carrieri assinala, o paradigma atualmente predominante de
desenvolvimento, denominado por alguns autores “administração de recursos” (que orienta
práticas como a sistemática de sequestro de carbono, estabelecida a partir do Protocolo de
Kyoto, e demais procedimentos que tratam os impactos da economia à natureza ou à
sociedade como um “recurso negativo”), referencia os procedimentos de agências
internacionais de financiamento, tais como o Banco Mundial e o BID. Carrieri acrescenta
ainda que, a partir deste paradigma de administração de recursos, ter-se-ia originado o
controvertido conceito de desenvolvimento sustentável (2000: 483).
Utilizado no âmbito de discussões políticas internacionais a partir da década de 80, o
“desenvolvimento sustentável” foi conceituado em 1987 pela ex-primeira ministra da
Noruega, Gro Harlem Brundtland, na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
251
Desenvolvimento da ONU, como sendo “aquele que atende às necessidades do presente
sem comprometer as gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades”. Dada
sua indefinição, este conceito englobaria “uma miscelânea de formas pela qual a sociedade
industrializada tem preconizado a integração do ambiente nos processos decisórios”,
resistindo-se, porém, ao abandono de crenças implícitas em “crescimento infinito,
consumismo, tecnologia e em relações sociais hierarquizadas” (CARRIERI, 2000:
486;489). A conceituação de desenvolvimento sustentável a ser adotada para os propósitos
da presente dissertação será discutida mais adiante.
Em relação ao desenvolvimento por meio de atividades econômicas relacionadas ao
turismo, variadas propostas que incorporam conceitos de desenvolvimento sustentável
podem ser observadas hoje na adoção de modalidades turísticas oferecidas ao mercado que
integram as dimensões social, cultural e ambiental, com vistas à minimização ou
eliminação dos impactos e a possibilidade da manutenção do desenvolvimento no longo
prazo (MENDONÇA, 2001: 20; RODRIGUES, 2003: 31-35; RUSCHMANN, 2002: 91;
SWARBROOKE, 2000b: Prefácio vii-viii). Entre estas modalidades, podem ser
mencionadas as seguintes – não se cuidando, porém, aqui, de especificar o escopo de
atuação de cada uma, e cabendo advertir que estas denominações têm causado
controvérsias por serem, com freqüência, utilizadas erroneamente, quando não ideológica
ou discursivamente (CÉSAR, 2006):
Ecoturismo, turismo rural, turismo verde, turismo de baixo impacto, turismo deaventura, turismo alternativo, preservação ambiental, desenvolvimentosimbiótico, turismo soft, turismo apropriado, turismo de qualidade, novo turismo,desenvolvimento sustentável e turismo sustentável [...] (GOELDNER, RITCHIEe MCINTOSH, 2002: 363).
Em uma coletânea, recentemente publicada, de boas práticas de desenvolvimento
sustentável do turismo, a Organização Mundial do Turismo – ONU/OMT assinala
252
pressupostos de respeito às condições locais, tais como não se mudar nada do entorno e da
cultura do lugar a ser visitado e se utilizar, predominantemente, quando não totalmente, a
mão-de-obra local. De um modo geral, a OMT recomenda a empreendedores e entidades
de fomento a “paciência [...] no manejo ambiental, social e econômico”, uma atitude a ser
baseada em um conhecimento aprofundado das condições locais e na conscientização e
capacitação das comunidades, atingindo-se – somente assim – uma efetiva sustentabilidade
ecológica, sociocultural e econômica (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO,
2005: 21). Caso contrário, as iniciativas encetadas arriscam-se a compôr o cenário
ceticamente prognosticado por Krippendorf:
Na teoria, são todos unânimes: como linha de pensamento, o turismo social eecologicamente responsável é [...] altamente desejável. Na prática, porém, ele searrisca, por falta de ações abrangentes e conseqüentes, a degenerar em umafórmula vazia, em um acionismo verbal, em um mero argumento de venda(2001: 7).
Carminda Cavaco também contrapõe a visão de desenvolvimento pelo turismo
baseado em modelos de crescimento a uma abordagem de desenvolvimento local,
assinalando para esta última uma obediência às seguintes premissas:
[...] endógeno (mobilização dos próprios recursos), ascendente (protagonismodos agentes locais), autocentrado (centrado nas necessidades próprias dascomunidades) e sustentável [...] cujo sentido está parcialmente incluído no dedesenvolvimento local, ou desenvolvimento alternativo. (1996: 95)
Dentre as Teses para a humanização da viagem de Jost Krippendorf, no interesse da
presente exposição, podem ser destacadas as seguintes, numeradas conforme a ordem em
que aparecem entre as vinte e três proposições do autor:
6) Criar condições para uma troca eqüitativa e relações igualitárias [...] 7) Nãoconsiderar o desenvolvimento do turismo como sendo um fim em si ou panacéia[...] Encorajar uma estrutura econômica diversificada – evitar a monocultura [...]8) Priorizar e conciliar as necessidades e os interesses dos turistas e da populaçãolocal [...] 9) Manter nas mãos dos autóctones o controle do solo [...] 11) Centraro desenvolvimento na utilização de mão-de-obra local – melhorar a qualidadedos empregos [...] 12) Destacar e cultivar o caráter local e nacional (1985: 144-152;154-157).
253
De uma forma geral, estes preceitos encontram-se condensados e podem ser
referenciados a partir da carta de compromissos e recomendações para um
desenvolvimento turístico sustentável elaborada pela OMT, na conferência de 1996 em
Lanzarote, nas Ilhas Canárias – a Carta de Lanzarote (CARTA). Referenciada nos
preceitos gerais de sustentabilidade ecológica, social e econômica estipulados na
Conferência das Nações Unidas Rio 92, e corporificados na assim denominada Agenda 21,
a Carta de Lanzarote deixa entrever, entretanto, uma certa “pasteurização política”, em que
estruturas econômicas e sociais determinantes dos impactos do turismo aparecem
obliteradas nos termos de uma carta de “boas intenções”. Como exemplo, pode-se
mencionar que um “protagonismo dos agente locais”, tal como sugerido por Cavaco, não
pode ser depreendido do conteúdo da carta. Dos vinte princípios e objetivos estipulados
para o desenvolvimento sustentável pelo turismo, se apresentam aqui três, enumerados tal
como constam no documento:
3) O turismo deve considerar os seus efeitos no patrimônio cultural e elementostradicionais, atividades e dinâmicas de cada comunidade local. Oreconhecimento desses fatores e o apoio à identidade, cultura e interesses dacomunidade local devem ter sempre um papel central na formulação deestratégias de turismo, especialmente nos países em desenvolvimento. 10)Reconhecendo a coesão econômica entre os povos do mundo como um princípiofundamental do desenvolvimento sustentável, é urgente que se promovammedidas que permitam uma distribuição mais justa dos ganhos e fardos doturismo. Isso implica em uma mudança nos padrões de consumo e na introduçãode métodos de avaliação de custos que permitam que os custos ambientais sejaminternalizados [...] 11) Lugares natural e culturalmente vulneráveis devem terprioridade especial, tanto hoje quanto no futuro, em relação à cooperação técnicae ajuda financeira para o desenvolvimento turístico sustentável. Similarmente,deve ser dado tratamento especial a zonas que tenham sido degradadas pormodelos de turismo obsoletos ou de grande impacto (TOFANI, 2004: 22).
254
2.3.2. Uma sustentabilidade de fora para dentro?
[...] e caminhando para lá, eu encontrei os últimos, por enquanto últimos, postesdo programa Luz para Todos. E de repente eu entendi “Mas, luz para todos...que luz nós estamos dando para essas pessoas?” As pessoas agora vão cair nasolidão, porque a primeira coisa que um dos filhos vai arrumar para o pai e paraa mãe vai ser uma televisão. Que mundo é esse que a televisão traz para ummundo no qual até agora a pobreza material era algo digno? Era um mínimo dematerial, mas sua galinha, sua vaquinha, as frutas, tudo isso agora vai ser pouco.Eles vão ter uma geladeira. [j]
Essa narrativa de observações e reflexões, feitas por um entrevistado por ocasião de
uma excursão a uma região afastada na zona rural do município de Diamantina, traduz uma
visão distinta da noção comum de se dar boas-vindas ao progresso – representado pela
chegada de luz elétrica ao local visitado. Um ponto de vista completamente diverso
caracteriza-se no trecho de entrevista apresentado a seguir, de um membro de uma
organização que atua no fomento do desenvolvimento através do turismo. O entrevistado
caracteriza uma situação hipotética de imigração para uma região ou localidade não
especificada de baixo desenvolvimento:
[...] algumas pessoas vão para essa região, se adaptam às condições de vidalocal... Vão para um lugar que não tem energia elétrica, que não tem águatratada, o chão é de terra batida... Não tem médico, nem atendimento dentário, ascrianças não vão à escola... Sob nosso ponto de vista, isto seria uma grandeheresia. [...] eu diria em outros termos: seria nivelar por baixo. [...] éinconcebível para mim que uma pessoa não usufrua da energia elétrica e de seusbenefícios. [q]
O contraste entre os depoimentos exemplifica a controvérsia mantida entre um
público da região estudada, em sua grande parte formado por habitantes adventícios – e
que, sob muitos aspectos, opõe-se à visão convencional de desenvolvimento –, e os
pressupostos de atuação das iniciativas de fomento à atividade turística que ora abordam a
região.
255
Os dois comentários a seguir, também contrastados entre si, delineiam diferentes
expectativas ou posicionamentos quanto à proposta de sustentabilidade que norteia as
iniciativas de desenvolvimento:
[...] o que o Vale tem? Cultura. Qual é o “ouro” do Vale do Jequitinhonha?Cultura. Que é o que o mundo inteiro quer. Essa questão do saber primitivo, esseé o ouro da região. E quem vai viver dele? Pelo discurso da sustentabilidade,deveria ser o povo do lugar. Mas pela planif icação do turismo, que estabelece umnível de consumo, utiliza-se essa cultura que foi mantida guardada – que naverdade só existe porque o Vale do Jequitinhonha nunca foi objeto de nenhumprojeto de desenvolvimento... O que o Vale tem hoje é que ele foi esquecido.Isso que se esqueceu vira o boom, e aí vem todo o discurso do desenvolvimento,coloca-se toda a proposta de desenvolvimento do Estado em cima disso, e usa-seo discurso da sustentabilidade. [l]
[...] tem que ser feito um trabalho para que se desenvolva o capital humano, paraque se desenvolva, a partir do desenvolvimento do capital humano, o capitalsocial – para que os dois se desenvolvam juntos. O capital humano, o social, e ocapital empresarial, porque também não existe turismo sem as empresas queoperem as atividades, que recebam os turistas, que passem as informações, quefaçam gerar riquezas e socializem a riqueza naquele lugar [região ou localidadenão especificada, de baixo desenvolvimento]. [p]
Deve ser mencionado, a propósito desta controvérsia, que a orientação de propostas
de desenvolvimento planificado para a região tende a configurar uma pequena crise social
local. Na totalidade dos casos, os moradores adventícios de Milho Verde e São Gonçalo,
como se expôs anteriormente, radicaram-se na região em busca de formulações alternativas
de atividade econômica e existenciais.90 Porém, a viabilidade destes arranjos alternativos
baseou-se em alguns fatores providos pela relativa inacessibilidade do reduto e pela
defasagem local com relação às regiões mais desenvolvidas, defasagem caracterizada,
principalmente, por um baixo custo de vida, associado a uma fraca atividade econômica,
ausência de competição pelos recursos e indisponibilidade de meios de comunicação. Os
obstáculos a uma intensificação das atividades econômicas vêm sendo, entretanto,
90 A condição socialmente marginalizada de uma grande parte dos adventícios faz questionar se constituimero acaso que, em Milho Verde, hippies e descendentes de mineradores clandestinos e de quilombolasconvivam hoje.
256
paulatinamente removidos, a par – ou por meio mesmo – da chegada de projetos de
turismo planificado à região.
Porém, a visão dos públicos adventícios locais estaria distorcida e incompletamente
caracterizada, se fosse descrita nos termos de um interesse pela manutenção das condições
de um reduto. O foco da controvérsia encetada localmente situa-se além e reside em um
questionamento, baseado no conhecimento que os adventícios têm das condições locais,
quanto à efetividade das propostas de desenvolvimento; um conhecimento originado do
prolongado convívio, experiência com as mobilizações comunitárias e atividades
produtivas e de uma empatia com as condições sociais e culturais locais.
O que se tem ponderado é que, a partir do momento em que a economia local seja
vinculada a premissas globais de competitividade, eficiência e consumo, dadas as
condições formacionais e as possibilidades econômicas locais, já se terá conformado, a
priori, uma “insustentabilidade”. Em outras palavras: a partir do momento em que as
comunidades locais estiverem mais e mais vinculadas a agências de turismo e roteiros
turísticos que estipulam demandas formatadas em expectativas padronizadas de
consumidores globais, ou seja, expectativas a serem atendidas por meio de recursos
tecnológicos e de financiamento, e por ferramentas logísticas e de administração oriundas
de uma realidade externa, bastante diversa e muito mais desenvolvida, a população local
encontrar-se-á descompassada em relação à nova atividade turística que vem sendo
promovida.
Também não seria apropriado dizer que as entidades de fomento da atividade
turística e do empreendedorismo não estejam conscientes desta problemática implícita de
descompasso local em relação ao conteúdo geral, e geograficamente abrangente, das
propostas de desenvolvimento. A última entrevistada citada prossegue, mencionando o que
257
pode ser, talvez, um dos aspectos mais polêmicos da dinâmica de desenvolvimento pelo
turismo, da forma como tem sido experimentada em cidades históricas de Minas Gerais:
[...] se você não desenvolver o capital humano, você cria destinos nãosustentáveis, onde os bens foram desenvolvidos e os empresários de fora chegame se apossam daquela matéria-prima, que é belíssima: Ouro Preto, Tiradentes,Diamantina. O empresário chega com uma visão mais elaborada, capitalista, esimplesmente se apossa da matéria-prima que... não tem dono. Não é dizer que ésó de quem mora lá, porque não há uma fronteira. O mundo é de todo mundo. [p]
O que muitos dos entrevistados questionam, porém, é que essa dinâmica excludente
não tem sido evitada na própria concepção das iniciativas encetadas. Seguem-se dois
comentários que, sob os diferentes aspectos de qualificação profissional e financiamento,
abordam esse mesmo tópico:
[...] o foco dos projetos de fomento ao turismo é um turista que tem um certopoder aquisitivo e grau de exigência. Aqui [a região do Alto Jequitinhonha]nunca recebeu nenhum investimento em formação, capacitação,profissionalização, nada. Então, quem vier aqui, essas pessoas daqui não irãoatender. Então, a exclusão começa nos projetos. [l]
Essas garantias que eles [orgãos financiadores] pedem são para grandesempreendedores, não para pequenos, para comunidades como essa daqui, em queas pessoas não têm a escritura de nada, porque isso tudo era terra devoluta, quefoi sendo cercada e construída. Então, quando se acenou com a possibilidade deuma linha de crédito, ou coisa assim, ela não é para a gente. É para quem? Paragrandes empresários, pra quem tem. [a]
A partir das observações e análises empreendidas acerca do quadro comunitário
global de Milho Verde, parece ser possível indicar que a principal questão local a ser
enfrentada por iniciativas de desenvolvimento pelo turismo, nos termos em que estas
mesmas compreendem sua sustentabilidade, é a inclusão econômica da população. Sem
essa inclusão, como alguns exemplos de impactos observados em Milho Verde –
urbanísticos, ecológicos e culturais – parecem demonstrar, comprometer-se-á a própria
atratividade turística local.
Assim, a controvérsia manifestada pelas opiniões de entrevistados a respeito da
sustentabilidade das propostas ora encetadas pode ser expressa também pelo seguinte
258
questionamento: é possível incluir Milho Verde e localidades semelhantes a ela em um
roteiro turístico que opere a partir de paradigmas convencionais de mercado, sem
automaticamente criar condições de exclusão social que, por sua vez, comprometerão a
atratividade local e, por conseguinte, a sustentabilidade da atividade turística? Ou, talvez,
como foi expresso por Coriolano:
Há uma relação intrínseca entre a pobreza, a exclusão social, o desenvolvimento,os Direitos Humanos e o turismo [...] não podemos dizer: “Isso é o turismo e isso éa sociedade. Isso aqui é o turismo e essas aqui são as mazelas sociais (2003: 67).
O questionamento sobre “o que vem primeiro”, se o turismo (e o desenvolvimento
por meio do turismo) ou a comunidade, aparece no trecho de entrevista transcrito a seguir:
Porque o turismo verdadeiro... vai ser uma conseqüência da beleza, dahospitalidade, das igrejinhas históricas, das ruínas que existem. Isso é umaconseqüência. E não o produto de um produto. De uma coleção de produtos. Eudetesto esse discurso [...] que faz de tudo um produto. Bandeirantes à procura denichos de comercialização. [j]
A alternativa de inclusão econômica para a população apenas como mão-de-obra
estandardizada é também veementemente questionada por Luzia Coriolano: “Queremos
transformar nossas comunidades em comunidades de garçons?” (2003: 65). O depoimento
seguinte menciona, entretanto, eventos que hoje têm lugar em Milho Verde e nas
localidades vizinhas:
“Visão: desenvolver a comunidade.” Colocaram vários cursos para serem feitos.Mas esses cursos visam qualificar mão-de-obra. Ou seja, treinar as pessoas daquipara serem empregadas. Qualificam mão-de-obra: curso de higiene dealimentação, curso de cozinheira, curso de camareira, curso de guia... De queadiantaria qualif icar o empresário, sendo que aqui é um lugar pobre? A gente nãocursa “Administração de meios de hospedagem”. Mas eu não tenho grana.Ninguém tem grana. É, e precisa de crédito. [a]
Dadas as condições locais observadas, pode ser estabelecido que a rentabilidade do
trabalho para a população, como empreendedores autônomos, ou como trabalhadores em
posições melhor qualificadas e remuneradas, dependerá de uma elaboração prévia que crie
259
condições sociais para o trabalho. Porém, o que parece estar se desenhando atualmente é
que os projetos de desenvolvimento pelo turismo, dada a sua lógica primordial de
financiamento de condições infra-estruturais e de financiamento e capacitação de meios de
hospedagem, com vistas a uma intensificação de demanda capaz de atender ao requisito de
valorização do capital empregado, estabelecem uma exclusão a priori, ao determinarem
uma elitização e não uma socialização das condições do trabalho. Pelo menos, essa é uma
preocupação que pode ser também aferida junto ao público local:
Quando o governo se alia com o grande empresariado para fazer investimentosaltíssimos [de desenvolvimento do turismo], é óbvio que ele não estápreocupado, de forma alguma, com a criação de qualidade de vida de quem morano lugar, muito pelo contrário, ele está preocupado é com o risco do capital ecom o lucro de quem está investindo. [l]
Essa elitização tende a ocorrer devido à implícita promoção da competição das
populações locais com investidores-empreendedores externos que, devido ao volume de
negócios que são capazes de gerar, constituem o moto fundamental para a valorização de
capitais a serem empregados e para a geração de impostos e são, portanto, privilegiados na
concepção dos projetos. Outro fator excludente, já mencionado, é que a demanda
estimulada, também com vistas à necessária rentabilidade dos capitais financiador e
investidor implicados, se destina a serviços de maior valor agregado do que o dos
oferecidos atualmente pelas comunidades. Assim, passa a ser requerido um nível de
qualificação não disponível entre a mão-de-obra das localidades. A baixa qualificação do
trabalhador local tende a ser vista, inclusive, no âmbito empresarial de turismo, como um
obstáculo à rentabilidade dos empreendimentos, e não sob o prisma de implicações que
afetem a sustentabilidade. Sob a lógica predominante nos empreendimentos de turismo, as
comunidades locais compõem, basicamente, um recurso a ser empregado: uma fonte
260
abundante e barata de mão-de-obra – porém mais ou menos qualificada conforme sinalize
o IDH municipal (cf. ANUÁRIO EXAME, 2007: 77).91
Uma síntese, ou definição, que vai ao âmago das questões controversas relacionadas
às propostas de desenvolvimento pelo turismo que ora abordam Milho Verde e região,
pode, talvez, ser disposta nos termos de uma dissonância ou de impasses decorrentes da
instrumentalização de todo um universo de “recursos” relacionados à atratividade turística
e à estruturação para a prestação de serviços de turismo – incluindo-se aí a natureza, as
comunidades, e os patrimônios culturais, históricos, urbanísticos e arquitetônicos. Essa é
uma orientação finalística de condutas – uma instrumentalização – que condiciona as ações
de desenvolvimento a serem encetadas a um pressuposto de rentabilidade dos
investimentos empregados (CARRIERI, 2000: 488), subordinando os contextos e
dinâmicas locais a referências de ações e objetivos que não provêm, em última análise, dos
objetivos, valores ou necessidades próprias dos indivíduos, comunidades, ecossistemas,
culturas e tradições implicados. Calcadas em um estímulo a uma maior demanda, a ser
atendida por uma infra-estrutura melhorada e uma mais capacitada estrutura de serviços,
ambas alavancadas por investimentos volumosos, as propostas de desenvolvimento
estabelecem um “jogo de grandes”, que pode ser dissonante, não apenas com relação a
parcelas das populações implicadas, mas com toda a coerência de uma noção de
desenvolvimento local.
Porém, o que se pretende atualmente, no âmbito das proposições de sustentabilidade,
é, justamente, conciliar os universos de referências distintas – sociais, econômicas e
ecológicas – por que perpassam as demandas por desenvolvimento. Mas as dissonâncias
91 Vide a respeito Krippendorf (2001: 74;154-155), Tofani (2004: 16-17) e Coriolano (2003: 65).
261
ora existem e devem ser apontadas. A entrevistada citada a seguir questionou
veementemente quanto à efetividade, a partir de sua observação local, o conteúdo de
sustentabilidade de programas de desenvolvimento que têm abordado a região do Vale do
Jequitinhonha:
E o desenvolvimento sustentável, hoje, que está na moda, na verdade não tempreocupação com a sustentabilidade propriamente dita, não. A gente é que sabe,a gente que vê o que realmente acontece. [...] porque, se você fosse proversustentabilidade, tinha que ter sustentabilidade com relação à população daregião, é ela que tinha que perceber uma melhoria. [l]
Assim, adotar uma definição para o termo desenvolvimento sustentável (ou,
alternativamente, mesmo recusar-se o uso do conceito) significa posicionar-se em um
campo de controvérsias, em que colidem orientações tão díspares quanto a manutenção de
uma visão conservadora do paradigma de crescimento econômico, por um lado, e uma
construção de “justiça social, preservação da diversidade cultural, da autodeterminação e
da integridade ecológica”, por outro (CARRIERI, 2000: 488).
Em atenção às condições específicas das organizações, comunidades e ecossistemas
estudados, e entendendo-se que a legitimidade de uma proposta de sustentabilidade se dá
coerentemente em relação às necessidades de um modo de vida pré-existente, sugere-se a
adoção deste último conceito citado como uma proposição válida para o termo
“desenvolvimento sustentável”; ou seja: um desenvolvimento que contemple a busca de
uma efetiva implementação e manutenção de condições de justiça social e de
autodeterminação para todos os envolvidos, e, também, de preservação das condições de
integridade dos ecossistemas e culturas afetados.
O termo “sustentabilidade” prosseguirá sendo utilizado, no decorrer desta
dissertação, em seu sentido lato, o de uma atenção – instrumental (por definição, e mesmo
262
semanticamente) – à manutenção das condições de continuidade de uma atividade
determinada qualquer.
Nesse contexto, podem ser apontadas como dissonantes em relação a um proposta
efetiva de desenvolvimento sustentável algumas das atividades de qualificação de
empreendedores e trabalhadores em Milho Verde, encetadas no âmbito dos projetos de
desenvolvimento e que, embora visem compensar as deficiências ou defasagens dos
empreendedores e trabalhadores locais com relação ao contexto externo, parecem estar,
entretanto, justamente ignorando estas mesmas deficiências. Como um exemplo, parecem
ter sido especialmente discordantes, em relação às condições locais de Milho Verde, os
cursos destinados à qualificação de meios de alimentação. O comentário transcrito a seguir
assinala a dissonância com relação aos próprios meios típicos – e turisticamente atrativos –
da culinária local:
Não, tem que azulejar tudo... Onde que eu vou buscar dinheiro pra fazer isso?Minhas panelas têm que ficar bem branquinhas. Como que eu vou usar fogão alenha, se as panelas têm que ficá branquinha, branquinha? Não tem como não.Por muito que você limpa, ainda não fica tão clarinha, num fica nada? Porquesuja muito. [k]
Este outro comentário, além da preocupação com a atrativa tipicidade local, enfoca
aspectos de cordialidade e informalidade:
[...] era bacana, falava sobre a questão da higiene, mas aí já veio falar que aquitem que mudar a cozinha da gente. “Ah, que a cozinha não pode ficar assim,não pode ficar assado” quer que a gente muda, põe tela na janela, essenegócio todo, tipo assim, padronizar, mas num padrão mais de cidade grande. Sefizer isso aqui, vai ficar muito feio! O turista vai sumir daqui... [...] diz que tenhoque pôr um vidro ali, que tenho que tapar o fogão para não ficar gelado. Eu gostode ficar é no meio do pessoal. Claro que eu não vou ficar toda suja, mas eu achoque é bom esse contato que a gente tem aqui. Acho que o pessoal fica mais àvontade. [d]
O comentário a seguir enfatiza o aspecto de carência de recursos financeiros em
relação a padrões externos que, nas descrições feitas pelos que assistiram aos cursos,
263
constaram mais como “exigências” do que como alternativas ou modelos para os
empreendedores locais:
Te falam que tem de ter o abatedor de calor na cozinha, é claro, teria de ter. Masum equipamento que custa dez mil reais, quem vai comprar? Te falam
“Na cozinha, você tem de ter uma mesa para picar carne, uma mesa para picarverdura, uma pia pra lavar as verduras, uma pia pra lavar louça, uma pia pralavar as panelas.” Aqui, graças a Deus tem uma pia pra lavar. Em uma só, nacozinha, você faz tudo. Tem que adaptar o curso pra realidade, não adaptar arealidade pro curso. [g]
A entrevistada citada no primeiro comentário acerca dos cursos prossegue,
caracterizando a insegurança do empreendedor local com relação a financiamentos:
[Pelos padrões que estão sendo requeridos nos cursos] pra você montar umnegócio hoje, um restaurante, seja ele simples, comer uma coisa simples, feitacom amor, com carinho, a gente recebe do jeito que pode... gasta muito dinheiro.Você tem que investir muito naquilo. Esse curso que eu fiz, pelo menos, nós[empreendedores locais] não temos condições de montar, porque gasta dinheirodemais, eu morro de medo de pegar empréstimo, que diz que o governo estáliberando, nesses bancos de desenvolvimento, tem vários bancos. Mas, imagina,se a gente pegar um empréstimo grande, pra montar uma coisa, de repente aquilonão dá certo, de onde você vai tirar o dinheiro pra pagar? [k]
A insegurança e a inacessibilidade em relação aos financiamentos, manifestada por
vários entrevistados, caracteriza, por si só, a informalidade, baixa qualificação e baixa
capitalização dos empreendedores locais. Entre os entrevistados que mencionaram esse
temor, a maior parte, provavelmente, não preenche requisitos para a obtenção de crédito,
como, por exemplo, esta empreendedora, citada anteriormente como desconhecedora do
que seja razão social:
Se eu quiser pegar um empréstimo no banco... como é que pega empréstimo nobanco? É dose! Eu tenho um medo desse trem danado. Não mexo de jeitonenhum. Prefiro passar meus apertos pra cá do que ficar devendo uma pessoa defora, assim, se é banco, é muito mais fácil falir. Eu não tenho esse poderaquisitivo. [sic] [d]
Com relação à sustentabilidade do turismo local, deve ser considerado ainda que, tal
como se demonstrou anteriormente, os empreendimentos informais em Milho Verde
encontram-se desvinculados de aspectos de mobilização comunitária capazes de resguardar
264
a qualidade de vida e a atratividade turística locais. Esse tópico de desvínculo entre
empreendimentos e comunidade será objeto de uma elucidação complementar disposta
adiante, em uma discussão sobre a hegemonia da racionalidade capitalista.
Ao potencializar-se uma demanda que requeira serviços de maior valor agregado,
considerando-se i) a dependência econômica da comunidade em relação ao turismo; ii) a
fraca capacitação para a oferta do novo tipo de serviço requerido, e iii) o surgimento de
competidores externos qualificados para o atendimento da nova demanda, é razoável
pressupor que tende a se estabelecer em Milho Verde uma competição predatória entre os
empreendedores locais. Pode-se mesmo observar, na localidade, hoje, alguns prenúncios
desse regime de competição, em meio a uma crescente oferta de produtos e serviços
concorrentes de baixo valor agregado (tal como se configurou, anos atrás, em Lavras
Novas, por exemplo). Uma condição de concorrência predatória local, sacrificando-se a
margem de lucro dos serviços prestados, pode vir a comprometer a atratividade turística,
descaracterizando alguns aspectos urbanos e culturais, e pode, também, reforçar uma
vulnerabilidade face à competição com novos empreendedores vindos de fora, e um
conseqüente processo de eliminação dos concorrentes locais, desagregação comunitária,
subordinação e exclusão social.
Aparece, assim, outro aspecto a ser questionado, em termos das condições locais de
Milho Verde, quanto à dinâmica das propostas de desenvolvimento pelo turismo ora
encetadas: ao se reforçar o contexto competitivo (devido ao incremento da demanda e ao
estímulo à presença de novos competidores, em meio a uma dependência local da
economia do turismo), ao mesmo tempo em que se aqueça a economia local, tender-se-á a
desagregar a comunidade. Lançando mão dos recursos que lhe são disponíveis para
aumentar o volume de negócios e rentabilidade, o habitante local, em razão de limitações
265
culturais e sociopolíticas, tem colocado em risco aspectos de importância fundamental até
mesmo para a própria sobrevivência do negócio – menção destacada deve ser feita às
questões urbanísticas e ecológicas locais.
O esvaziamento dos valores humanos, culturais, comunitários e ecossistêmicos
repercute, ainda, negativamente, na possibilidade de reprodução da atividade turística –
pelo menos, na reprodução de uma atividade turística que privilegie a população local. De
maneira bastante afetiva, uma entrevistada menciona este tópico:
[...] aonde mais você vê esse carinho das pessoas de chegar e de ser bemrecebido como você é recebido aqui por eles? E o que caracteriza Milho Verde,que trouxe o turista, que traz há anos, é essa história de ser bem recebido. Eles terecebem com carinho. [m]
Deve ser observado que a atenção às condições locais e uma ênfase à
participatividade estão oficializados como conduta para gestão de políticas públicas
brasileiras no âmbito federal; a participatividade é uma decorrência evidente da orientação
política da atual gestão e configura-se em obediência a preceitos dispostos na Agenda 21
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE).
Pelo alinhamento com as necessidades e interesses locais e pela promoção de
participação nas decisões que afetam estas necessidades e interesses é que, talvez, de uma
“comunidade-meio” (que é como se pode afirmar que a entidade local tende a ser encarada,
dado o ponto de vista finalístico predominante nas propostas de desenvolvimento – por
mais que se tenha buscado um alinhamento com referenciais de sustentabilidade para as
ações empreendidas) poder-se-á passar a uma “comunidade-fim”, em que o conteúdo de
práticas, modelos e objetivos adotados em uma maior integração à economia do turismo
conciliem-se com os valores e possibilidades, internamente coerentes, da população e do
ecossistema locais.
266
Nesse sentido, além das mencionadas discordâncias, ou contrastes, apontados
anteriormente entre o cunho das propostas de desenvolvimento pelo turismo e a visão e
experiência dos públicos locais, pode também ser enfocada uma consonância, na medida
que uma formulação efetiva de desenvolvimento sustentável pelo turismo tem sido
buscada, e pode vir a ser configurada, contemplando apropriadamente a realidade social
local.
O entrevistado citado a seguir faz menção a uma formulação alternativa de atividade
turística (e de desenvolvimento pelo turismo) geralmente designada como “turismo social”
(KRIPPENDORF, 2001: 7; GOELDNER, RITCHIE e MCINTOSH, 2002: 363). Essa
forma de empreendimento turístico – que na Europa, embora já tradicional, tem sido cada
vez mais praticada – caracteriza-se, em essência, por uma adequação da demanda às
condições do local visitado, e não o contrário:
Hoje nós estamos criando resorts e hotéis de 5 estrelas, e por enquanto faltaainda campo de golfe, coisas assim, mas não estamos pensando no povo quedeveria ser o verdadeiro beneficiário. Como? Dando oportunidade às pequenascidades, aldeias [...] de estruturarem suas casas para poderem receber uma ouduas famílias, ou duas pessoas, como você tem na [Europa] onde você chega emuma cidadezinha e vê nas janelas “Cama & Café” [Bed & Breakfast]. Uma coisaassim, te convidando a entrar em casa, e deixando também, porque tudo custa,neste mundo que nós fizemos, deixando uma recompensa financeira. E nãopensando na construção de grandes empreendimentos turísticos. [j]
Pois esse tem sido exatamente o escopo de uma atividade especificamente projetada
para as condições locais, e pioneiramente aplicada em Milho Verde e algumas localidades
vizinhas por uma organização atuante no fomento ao empreendedorismo:
Existe um turista hoje no mundo que busca conhecer o que acontece, semmaquiagem, com as localidades [...] como é a dinâmica social [...] Então, a gentecomeçou a trabalhar com essas localidades do Serro: Milho Verde, Capivari eSão Gonçalo do Rio das Pedras. [p]
A proposta de uma nova forma de atuação no fomento ao empreendedorismo local
em turismo para a região de Milho Verde surge, contudo, não somente em função da
267
disponibilidade global de uma demanda por um turismo em conexão com as realidades
locais – um fenômeno cultural abrangente que tem originado formulações turísticas
alternativas em todo o planeta, em geral associadas a destinos de baixo desenvolvimento
sócio-econômico que possuem atratividade ecológica; mas que tem emergido, também,
como uma tendência para a visitação e prestação de serviços voluntários em regiões
economicamente carentes ou de risco social.
A proposição de um turismo social em Milho Verde provém, ainda, de um contato,
por parte da entidade de fomento que o promove, cada vez mais aprimorado e atento com
as diferentes realidades locais e regionais abordadas pelas iniciativas de desenvolvimento
pelo turismo, e do reconhecimento de questões surgidas na incorporação destas realidades
locais específicas a propostas de desenvolvimento dirigidas, simultaneamente, a universos
sociais e econômicos bastante díspares:
[...] a gente percebeu que há comunidades carentes neste território da EstradaReal que precisam de uma forma diferente para acessar o mercado. Até porque oturista que vai para essa região [pequenas localidades entre Serro e Diamantina]é um turista diferente daquele que vai para Tiradentes, São João del Rey, ou prahotéis que têm uma infra-estrutura. Então, a intenção foi fortalecer e capacitar acomunidade pra receber um turista diferente, que é o turista solidário. [p]
Experimentando níveis variados de receptividade e efetividade nas diferentes
comunidades que aborda, a aplicabilidade da proposta tem sido avaliada como muito
abrangente pois, dentro das condições sócio-econômicas a que se destina, podem ser
encontradas miríades de pequenas localidades brasileiras em que o potencial turístico
acompanha-se de um baixo desenvolvimento. O escopo do programa foi sintetizado por
um dos entrevistados:
Preparar a casa deles [membros das comunidades], a própria casa deles, sem terque sair de casa pra receber os turistas. O Turismo Solidário não é para qualquerlugar, programas como este são direcionados a partir do conhecimento darealidade local. [n]
268
A denominação Turismo Solidário provê uma dupla conotação de economia solidária
(cooperativa) no âmbito das comunidades abordadas, e de solidariedade, no que se refere à
atitude do visitante. A cooperação entre membros é vista, nos termos da proposta, como
uma ferramenta para a constituição de serviços ao turista (meios de hospedagem,
alimentação e entretenimento) de maior capacidade e mais diversificados, sem que, para
isso, se demandem meios outros que não os da própria mão-de-obra e da estrutura
domiciliar e urbana locais.92
A comunidade de Milho Verde tem se mostrado receptiva à proposta do Turismo
Solidário. No decorrer de alguns eventos locais organizados pela entidade de fomento ao
empreendedorismo promotora do programa, o Turismo Solidário tem estimulado a
constituição de meios de hospedagem por parte de membros da comunidade anteriormente
não integrados, como empreendedores, à economia do turismo local. Uma penetração
maior talvez não tenha sido atingida em função de que o recurso principal demandado para
efetivação do programa é algo que, como foi demonstrado anteriormente, constitui uma
carência local: mobilização comunitária.
Mesmo assim, o Turismo Solidário tem sido visto como uma alternativa apropriada à
realidade sócio-econômica de Milho Verde. Pode-se cogitar esta adequação a partir do
depoimento transcrito a seguir, colhido de uma empreendora informal de turismo. Embora
atue há mais de quinze prestando serviços de alimentação e hospedagem e figure entre os
membros politicamente engajados e formalmente instruídos da comunidade, a entrevistada
expressa claramente seu negócio como uma extensão de sua residência:
92 Conforme exposto no Seminário Vale: Vozes e Visão, já mencionado na nota 76, realizado de 6 a 8 denovembro de 2006, em Belo Horizonte, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais epela Universidade Federal de Minas Gerais.
269
Aí fala [com o turista] assim “É simples, está dentro de casa, é uma famíliasó.” Meus filhos dormem ali, eu durmo lá. Quando saio, eu já explico que temum portão lá atrás, deixo aqui aberto, essa porta cerrada, a pessoa entra, vai proquarto e minha porta fica aberta. É família. Mas não tem como melhorar, só temuma suitizinha no quarto, mas tudo simples, de acordo com a comunidade. [k]
Alguns aspectos da atuação do programa do Turismo Solidário em Milho Verde
precisam ser discutidos, tendo-se em mente o tópico principal abordado ao longo do
presente subcapítulo, que é o da efetividade de uma proposição de sustentabilidade com
relação às atividades de desenvolvimento pelo turismo ora entabuladas. Ao que possa
constar, no presente texto, como uma crítica à filosofia de atuação ou aos objetivos visados
pelo Turismo Solidário, ressalve-se que o programa encontra-se ainda em fases
preliminares de exploração, teste e amadurecimento, não se contando ainda três anos desde
o surgimento da iniciativa.
Com relação às condições específicas de Milho Verde, dado que i) a localidade
insere-se na economia do turismo há mais de três décadas, e dados também ii) a
considerável atratividade turística local, e iii) a filiação a um roteiro de interesse histórico,
cultural e ecológico, deve-se observar que a comunidade como um todo encontra-se já
bastante exposta a um ambiente competitivo de negócios de turismo. Isso pode ser
apontado na diversificação e número dos empreendimentos locais informais de turismo e
na especulação imobiliária crescente. Nesse contexto, programas de turismo social como o
do Turismo Solidário tendem a permanecer como elementos que contrapesam, ou
secundam, uma macro-dinâmica turística que permanecerá impactando crescentemente a
localidade, nos termos de uma competição capitalista (e das mudanças culturais
associadas). Pode ser mencionado a respeito, inclusive, que atividades turísticas de cunho
alternativo, como as do próprio Turismo Solidário, encontraram maior repercussão na
menor e mais retirada Capivari, localidade vizinha pertencente ao distrito de São Gonçalo
do Rio das Pedras, situada fora do caminho entre Serro e Diamantina, e onde, inclusive, o
270
turismo social é praticado há mais de cinco anos, a partir da iniciativa da agência de
turismo Andarilhos da Luz.
Acrescente-se à lista anterior mais um item, constituído pelas iminentes iv)
modificações no sistema viário, anteriormente mencionadas, a serem implementadas no
contexto do Prodetur (asfaltamento da MG 010 até o Serro, e calçamento da estrada entre
Serro e Milho Verde, criando uma alternativa sem trechos de estrada de terra com apenas
250 km de trajeto a partir de Belo Horizonte, 90 km mais curta que a passagem por
Curvelo, Gouveia e Serro, que é a mais utilizada atualmente). A conexão facilitada com o
centro metropolitano potencializa a demanda local, havendo grande possibilidade de que a
localidade venha a se tornar um destino de visitação em massa. Nesse contexto, a
adequação local para uma proposta de turismo social pode ser considerada ainda mais
delicada, pois é de se esperar um engajamento da comunidade na elaboração de serviços
voltados a uma demanda massificada, o aparecimento de um maior número de
concorrentes externos, e uma descaracterização de peculiaridades sociais e culturais locais
que constituem o foco mesmo de interesse de uma atividade turística alternativa.
Assim, a formulação de turismo social, pelo menos nos moldes em que é tratada na
proposta de Turismo Solidário, parece ser especialmente válida quando em referência a
uma comunidade desconectada de outros contextos e modalidades turísticas. E, como se
apontou anteriormente – inclusive mencionando-se diversos comentários das entrevistas –,
um “turismo solidário espontâneo” já teve lugar em Milho Verde. Esse turismo, como se
descreveu, atingiu Milho Verde e São Gonçalo do Rio das Pedras de maneiras
diferenciadas, integrando-se em níveis e formas variados às distintas realidades locais.
Assim, embora não institucionalizada como um turismo alternativo, parte da visitação
verificada em Milho Verde nas três últimas décadas enquadra-se na caracterização de um
turismo social e esse mesmo tipo de visitação, em sintonia com as condições sócio-
271
econômicas locais, segundo a opinião de vários entrevistados, já não corresponde mais ao
quadro geral observável da atividade turística atual. O que se verifica hoje, cada vez mais,
tal como destacado pelos entrevistados, é um menor envolvimento dos visitantes com a
realidade local, além de uma necessidade de adequação dos serviços prestados às
exigências de maior valor agregado, manifestadas por uma parcela cada vez mais
significativa da demanda.
Em última análise, podendo ser apontada como uma institucionalização e um apoio
para a manutenção de uma dinâmica turística pré-existente, a proposição de um turismo
solidário em Milho Verde parece mesmo equilibrar-se em meio a um conflito de
racionalidades: a visão capitalista, atinente aos processos de desenvolvimento ora
encetados e às pressões globalizantes que atingem a região; e as visões de desenvolvimento
alternativo, representadas pelas formas incipientes, informais e tradicionais de
desenvolvimento organizacional observáveis na comunidade, e também pela relação,
anteriormente experimentada, entre a comunidade e seus públicos turísticos, onde um
enquadramento em relação a um contexto de economia solidária pode mesmo ser indicado.
A propósito da orientação em meio a estas duas conjunturas – comunitária e capitalista –,
Henry Srour pode ser mencionado como indicação para algumas limitações:
[...] toda forma de gestão constitui uma art iculação política de relações de poder[...] assim como toda forma de produção constitui uma articulação econômica derelações de produção [...] todavia, entre essas diferentes articulações existemdeterminações estruturais [...] [As] formas de gestão autogestionárias [...]remetem a formas de produção comunitárias. E essas formas de gestão não sãocompatíveis com formas de produção capitalistas, na justa medida em que osistema de apropriação e de reprodução da propriedade privada exige algum tipode controle dos processos de trabalho (necessidade de assegurar e estimular aprodução de excedentes econômicos). Em função disso, as formas de produçãocapitalistas delimitam o espaço das alternativas de gestão que lhes são“adequadas” e que só podem ser de tipo heterônomo, enquanto a autogestão éseu antípoda. [...] Isso signif ica que as formas de produção demarcam um campode “possíveis históricos” que não podem ser impunemente ultrapassados semafetar estruturalmente as relações de propriedade e de trabalho que as alicerçam(SROUR, 1994: 37).
272
Mas nenhum destes senões invalida a utilidade do Turismo Solidário para Milho
Verde, nem a fecundidade da proposta em seus termos gerais. A demanda por turismo
social pode e deve ser encaminhada para Milho Verde. E deve ser considerado também
que, em termos de uma dialética entre as visões convencionais de desenvolvimento
(incluindo-se aí a de desenvolvimento sustentável), externamente determinadas, e a
inadequação local destas propostas (acompanhada da defesa local de uma visão de
desenvolvimento alternativo), o Turismo Solidário pode ser apontado como uma síntese.
As questões relativas à adoção de modelos como o do Turismo Solidário e ao quadro
abragente de dissonâncias entre desenvolvimento pelo turismo versus aspectos
comunitários e locais podem ser colocadas ainda em termos outros que não os de um
debate acerca da viabilidade, ou efetividade, de uma “sustentabilidade de fora para dentro”.
O comentário transcrito a seguir aponta alguns aspectos de uma dissonância entre valores
regionais e as expectativas, estruturas e atitudes normalmente associadas às práticas do
turismo, e que parece ir além de uma defasagem local com relação às condições
econômicas e culturais requeridas para a prestação de serviços competitivos. O comentário
é citado, assim, como uma abertura para a temática do próximo subcapítulo, que aborda
questões relacionadas à propagação da racionalidade capitalista.
[...] Minha fascinação sempre foi pelo Vale do Jequitinhonha. Se alguém mepergunta “Mas o que há de bonito?” “Não sei!” [...] não se vê, sente-se,algo que vem de uma imensa riqueza que nós temos. Então, isto você não capta,isso não é vendável... por enquanto. E com esses imensos resorts, você estádestruindo essas coisas. Ou tapando, pelo menos. Porque você coloca umariqueza material de luxos e frescurinhas, de frigobar, televisões, num lugar ondevocê tem que ter antenas outras do que as de atender às chamadas do nossosistema capitalista consumista. [j]
O diagrama disposto a seguir (Figura 42) prognostica as possibilidades de atuação
econômica dos grupos sociais locais de Milho Verde face às modificações da demanda
turística em direção a uma exigência de maior valor agregado, requerendo-se maior
estruturação e capacitação para a prestação de serviços por parte dos emprendimentos
locais:
273
Figura 42 – Prognóstico e análise das condições de sustentabilidade para a economia do turismo em MilhoVerde, como decorrências de fatores histórico-formacionais, e em meio a solicitações econômicas e sociais aserem determinadas pelo incremento da demanda em propostas de desenvolvimento planif icado do turismo
O contexto assinalado acima, de respostas comunitárias desarticuladas aos impactos determinados peloturismo, deriva das observações e análises empreendidas no decorrer dos trabalhos realizados para a presentepesquisa, mas pode ser relacionado ao quadro de transformações de comunidades tradicionais brasileirasintegradas à economia turística, descrito por autores como Tofani (2004), Fonteles (2004) e Mendonça(2001) – ilustração elaborada pelo autor.
274
2.3.3. Racionalidade e modernidade
Empreendeu-se, ao longo da pesquisa, uma avaliação das condições de aprestamento
para o trabalho de uma comunidade, historicamente periférica ao sistema capitalista, que é
instada a emergir desde os modos de produção e convívio de uma pré-modernidade, em
que a sociedade, política e economia ainda se estruturam de acordo com modelos pré-
industriais, e em que o trabalho organizava-se, até há bem pouco tempo, em formulações
produtivas familiares, agrárias ou informais urbanas, quando não voltadas estritamente à
subsistência.
Partindo desse ponto, a comunidade é estimulada a aderir a modos de organização
produtiva e de interação capitalistas, dentro da modalidade de prestação de serviços de
turismo (atividade situada entre as áreas produtivas de maior evolução em importância
econômica e em aprimoramento técnico), e impactada pela chegada praticamente
simultânea de energia elétrica, meios de comunicação de massa, telefonia fixa e móvel,
Internet, turistas e novos habitantes de todas as partes do planeta. Os âmbitos profissional e
comunitário estudados comportam, assim, aspectos significativos da expansão de uma
racionalidade capitalista sobre meios sociais tradicionais. As questões que se apresentam
quanto à promoção de atividades de turismo social em Milho Verde podem, inclusive, ser
balizadas em termos de um conflito entre um modelo cooperativo e baseado na
solidariedade, e a crescente solicitação ambiental a uma racionalização capitalista dos
esforços produtivos.
A progressiva hegemonia da racionalidade técnica sobre a civilização ocidental foi
um importante alvo (senão o mais importante) das considerações de Max Weber (1996
[1905]; 1956 [1956]: 47-48), autor seguido, nessa linha de reflexão, entre outros, por Karl
Mannheim (MANNHEIM, 1962: 65-66;68-69, MANNHEIM apud RAMOS, 1983: 39) e
275
por integrantes da Escola de Frankfurt, dentre estes últimos Horkheimer, Adorno
(MATOS, O. 1993: 30-36; ADORNO e HORKHEIMER, 1985: 19-25), Marcuse (1979:
142-145;150-155;227-235) e Habermas (1983). Pensadores de linha marxista também
abordaram o problema, adotando enfoques distintos do weberiano, e entre eles, além de,
pioneiramente, o próprio Marx (cf. CASTORIADIS, 1982: 58-59; MARX, 1977: 97-112),
podem ser citados Lukács (1973: 55-63) e Castoriadis (AMORIM, 1985: 130-132;201).
Dentro de outra abordagem, contribuindo com mais elementos para a análise da questão,
pode ser mencionado Foucault, com seus estudos sobre a genealogia das ciências, vistas
como tecnologias de dominação (1985).
Hebert Marcuse abordou a racionalidade capitalista sob a ótica da Psicanálise
freudiana em Eros e civilização (1969). Também na Psicanálise, Eugène Enriquez aborda a
questão da marcha da racionalidade capitalista rumo à hegemonia, avaliando-a sob o cunho
de um “fetichismo generalizado”, que induz à substituição da auto-imagem e demais
referências dos indivíduos por uma funcionalização crescente de todos os aspectos da vida,
em um mundo de contínuas, mas mal-sucedidas tentativas de transformação definitiva das
“relações humanas em relações pecuniárias”, de prometida mas nunca efetiva abundância,
e sim, de concreta solidão (1990: 260-263). Segundo Herbert Marcuse, a tendência
histórica apontada por Max Weber, de uma progressiva racionalização da sociedade, seria
também uma "racionalização" no que se refere à exata acepção do termo na teoria
freudiana dos instintos. Ou seja, a racionalidade tecnológica encobriria uma dominação,
escamoteando-a sob imperativos técnicos postulados (apud HABERMAS, 1983 [1968]:
316).
Habermas discute essa concepção de Marcuse da racionalidade como ideologia,
assinalando que uma estipulação da técnica racional como instrumento de dominação
276
pressuporia a possibilidade de uma técnica alternativa, revolucionária, de caráter
emancipatório. Diversamente de Marcuse, Habermas atribui um caráter imanente à razão
técnica, sustentando ser ela uma projeção natural ao proceder da espécie humana, contendo
já em si um aspecto de dominação relacionado à capacidade de se adaptar culturalmente
(ou seja, controlar) as circunstâncias ambientais às necessidades de sobrevivência
(HABERMAS, 1983: 317; 321; 338).
Habermas coloca, porém, a racionalidade em perspectiva face a outra característica
humana – a capacidade de mediação, ou linguagem, habilidade vista como capaz de
estender a socialização para além de uma consciência tecnocrática em que vigora um
interesse exclusivo de manipulação técnica. Buscando referenciar a racionalidade para
além do estágio que ele qualifica como uma categorização subjetiva estabelecida por
Weber (que haveria de maneira bem-sucedida elucidado o “como” da propagação da
racionalidade, descrevendo suas formas, seu “caráter”, mas sem definir-lhe exatamente os
porquês), Habermas aprofunda o conceito de racionalidade weberiano, por um lado
desvinculando-o de uma pertinência ou subordinação à política tal como proposto por
Marcuse (1979: 142), mas também focalizando-o acima de especificidades históricas de
uma “sociedade do capitalismo em fase tardia”, apontadas por Weber como não abrangidas
pelas proposições marxistas. O conceito de racionalidade se tornaria, assim, apropriado à
compreensão do amplo fenômeno sócio-histórico de transição das sociedades tradicionais
para uma sociedade moderna (HABERMAS, 1983: 319-320):
O que caracteriza o limiar entre a sociedade tradicional e a sociedade que entrano processo de modernização não é o fato de que uma mudança estrutural doquadro institucional seja forçada pela pressão das forças produtivas – pois isso éum mecanismo da história do desenvolvimento da espécie, desde o início. Anovidade está antes no nível de desenvolvimento das forças produtivas,responsável por uma ampliação permanente dos subsistemas do agir-racional-com-respeito-aos-fins que, por esse meio, põe em questão a forma, própria àsculturas avançadas, de legitimar a dominação por interpretações cosmológicas domundo. Essas imagens míticas, religiosas e metafísicas do mundo obedecem à
277
lógica da contextura da interação. Elas dão resposta aos problemas centrais dahumanidade, relativos à vida em comum e à história da vida individual. Seustemas são justiça e liberdade, violência e opressão, felicidade e satisfação,miséria e morte [...] A racionalidade dos jogos de linguagem, ligada ao agircomunicativo, é confrontada agora, no limiar dos tempos modernos, com umaracionalidade de relações meio-fim vinculada ao agir instrumental estratégico.Desde o momento em que se pode chegar a essa confrontação, começa o fim dasociedade tradicional: falha a forma de legitimação da dominação (1983: 324-325).
Habermas distingue em Weber dois processos de racionalização: um primeiro,
correspondente à secularização das instituições, em que as formas tradicionais de
legitimação da dominação perdem, progressivamente, sua obrigatoriedade, e são
substituídas pelos “padrões da racionalidade-com-respeito-a-fins” – processo que
Habermas também identifica como associado à aplicação de orientações valorativas
privadas, subjetivas, mas sinérgicas à racionalização do contexto (tais como a ética
protestante, analisada por Weber), à supremacia do direito natural racional (tal como
prevista no Iluminismo), e ao surgimento das ideologias (no lugar das formas tradicionais
de dominação). Todas estas, como sendo ações substitutivas e reapropriativas de material
desligado das tradições, e distintas de um segundo processo correspondente à adaptação
progressiva de todo o meio social e de todas as instituições à lógica produtiva e econômica
do sistema capitalista (1983, 325-326):
[...] coagida pela modernização, surge a infra-estrutura de uma sociedade. Elatoma conta de todos os setores da vida, um depois do outro: do sistema militar eescolar, da saúde pública e mesmo da família, impondo, tanto na cidade como nocampo, uma urbanização da forma de vida, isto é, impondo subculturas queexercitem o indivíduo na habilidade de poder, a qualquer momento, passar deuma contextura de interação para o agir racional-com-respeito-a-fins (1983: 326– grifado por Habermas).
Efetuada a transição para a modernidade, a legitimação da dominação passa a se dar,
portanto, através do modo de produção capitalista, “que não apenas põe o problema, mas
também o soluciona”. A racionalidade do modo de produção, antes confinada à condição
de subsistema (ou seja, subordinada ou integrada às formas tradicionalmente legitimadas
278
de interação), passa a ocupar todas as esferas da organização social, invadindo, no dizer de
Habermas, o “mundo da vida” (Lebenswelt), e gerando a incongruência entre uma
subjugação ativa da natureza e uma “adaptação passiva” do quadro institucional (1983:
315;325;339).
O cerne da questão, que Habermas acredita haver deslindado, é que a racionalidade
técnica, ao contrário das formas de dominação presentes nas sociedades tradicionais, não
se baseia em uma interação mediada – “simbolicamente mediatizada” – sendo, ao invés,
automaticamente aplicável a partir de condicionantes racionais e concretas (regras,
sistemas de valores, avaliações estratégicas, critérios de controle factual). Daí a proposição
habermasiana de distinção, complementaridade ou oposição dialética entre trabalho, ou
agir-racional-com-respeito-aos-fins – conceito que abrange as noções de escolha racional e
estratégica, de ação instrumental –, e interação, ou linguagem, ou ação comunicativa – que
compreende o estabelecimento de referências para as ações a partir de expectativas e
compromissos entre pelo menos dois sujeitos agentes, e em que o cumprimento de normas
e a aplicação de sanções dentro dos acordos não corresponderia automaticamente a um
insucesso perante a realidade técnica, mas a uma “disciplina das estruturas de
personalidade” (1983: 320-321).
Assim, a racionalização das forças produtivas pode vir a realmente representar um
potencial de liberação, na medida que não substitua a interação verbalmente mediatizada
no que se refere a uma progressiva, e inevitável, racionalização dos quadros institucionais
(1983: 340-341). Em outras palavras, à medida que as relações de produção não se tornem
também o parâmetro das relações políticas (1983: 325), demandando-se para tanto o
estabelecimento de reciprocidades, confiança e mediação, e nesse sentido, o
reconhecimento da alteridade. Descrevendo a ação comunicativa, Habermas salienta que,
279
por meio da linguagem, os interlocutores não somente referem-se a um mundo
supostamente objetivo e real a ser descrito pela comunicação, mas de fato criam este
mundo, estabelecendo construções de consenso e compromisso que alargam as
possibilidades interativas por meio da referência aos (e mesmo de uso dos) recursos
subjetivos dos participantes (HABERMAS, 2002b [1985]: 447-449).
Advertindo que um “universalismo” amorfo e genérico, resultante de uma falsa
alternativa entre comunidade e sociedade, “faz desaparecer a estrutura relacional da
alteridade e da diferenciação”, Habermas propõe uma moral baseada no mesmo respeito
por todos e na responsabilidade geral solidária de cada um pelo outro:
O mesmo respeito para todos e cada um não se estende àqueles que sãocongêneres, mas à pessoas do outro e dos outros em sua alteridade. [...] “inclusãodo outro” significa que as fronteiras da comunidade estão abertas a todos –também e justamente àqueles que são estranhos um ao outro e querem continuarsendo estranhos (2002a [1997]: 7-8 – grifado cf. Habermas).
A ação comunicativa, no sentido amplo, implica uma recontextualização da
racionalidade, deslocando-a da noção ocidental de subjetividade – de uma “consciência
reificada”, de uma razão reificada, fulcro de questionamentos deixados sem resposta face
aos impasses da civilização contemporânea (HABERMAS, 1984 [1981]: 1) – e centrando-
a na comunicação entre sujeitos, entre grupos, entre ciências, entre culturas e entre povos.
Assim, a ética comunicativa constitui uma abrangente e ambiciosa resposta formulada pelo
autor à crise da modernidade, que hoje se desenrola em um panorama de relativismo
cultural, fragmentação social, esvaziamento (“desencantamento”) das tradições, e
banalização, artificialização e opressão da vida em um ambiente de hegemônico
tecnocapitalismo (SIEBENEICHLER, 2003: 157).
Com relação à amplitude do escopo visado por Habermas, e à pertinência do
conceito de ação comunicativa, o pesquisador presenciou Leonardo Boff, na palestra de
280
encerramento da edição de 2006 do Seminário de Responsabilidade Social Empresarial
promovido pelo Sistema Fiemg, sublinhando a atualidade e importância das propostas de
Habermas em um cenário mundial em que se aprofundam desentendimentos e
discrepâncias determinantes de impasses sociais, culturais e ecológicos, mas lamentando
também a dificuldade de divulgação destas propostas junto ao grande público.93
Em termos de um encontro entre povos, entre culturas, tal como o patrocinado pelo
turismo, e em que, a par de preocupações quanto ao desenvolvimento e à sustentabilidade,
propaga-se a hegemonia de um modelo racional capitalista, pode também ser apreciada
uma referência à ética comunicativa habermasiana. É principalmente por posicionar-se
quanto à – pelo menos aparente – inexorabilidade da instrumentalização das formas de
vida, que o projeto habermasiano de ação comunicativa retira sua importância, e faz
demandar sua árdua aplicabilidade.
Frederico Tofani ressalta a importância da reconfiguração da atividade turística em
moldes outros que não o empobrecedor nivelamento de todo o planeta a uma estrutura
homogeneizada de serviços, salientando que “o verdadeiro encontro”, subjacente a uma
legítima experiência de viagem de conhecimento, de descoberta, “é, acima de tudo, um
exercício de alteridade” (2004: 23):
Perdendo a capacidade de conhecer a um “outro” e ao seu “mundo”, perdemos acapacidade de conhecer a nós mesmos e ao nosso próprio “mundo”. Nesseprocesso, o planeta perde sua mais eficiente proteção: a que advém doestabelecimento de relações signif icativas com as pessoas e coisas concretas; sealgo é signif icativo, é portanto protegido (2004:24).94
93 4º Seminário Aberto em Minas Gerais e II Encontro Internacional de Responsabilidade Social (temaCapital Social, Ética e Desenvolvimento Sustentável), promovido pelo Sistema Fiemg, e realizado em 9 e 10de maio de 2005.94 Vide a respeito também Mendonça (2001: 19-20;25), Coriolano (2001: 97;99) e Krippendorf (1985: 133).
281
Uma entrevistada correlaciona os impactos do turismo à proliferação da ordem
capitalista e assinala os riscos que percebe para a gradativa prevalência de uma cultura
capitalista em sua própria região:
[...] a poluição do turismo é cultural. Assim, a gente vê a destruição de lugarescomo Lavras Novas, Tiradentes, a gente tem outros exemplos, em que vocêdetona com a cultura local. Ela [indústria de turismo] não acaba com o ambienteexterno. Ela acaba com o homem, porque ela desvaloriza e ignora a cultura.Porque, na verdade, o que a indústria de tur ismo faz quando chega num lugarcomo esse, por exemplo, em que tem muita solidariedade? Ela vem com umaproposta capitalista e de consumismo enorme. O impacto do consumo, o impactodo capital é muito grande. E você imagine o impacto do capital de um grandeinvestidor num lugar desses aqui [São Gonçalo e Milho Verde]. [l]
Uma implicação das noções configuradas por Habermas, no que se refere ao contexto
atual, é a de que a linha de confronto social não se dê mais em termos de uma luta de
classes e de ideologia. Confrontos sociais dar-se-iam hoje em função de inclusão e
exclusão, já que a propagação da racionalidade capitalista – e de seus benefícios – termina
por cooptar todos os integrantes do sistema produtivo (em uma “latência do conflito de
classes”), sendo, assim, os grupos marginalizados os que interpõem situações conflitivas à
organização social:
[...] todos os conflitos que surgem de tais situações de subprivilégio sãocaracterizados pelo fato de provocarem duras reações por parte do sistema –reações que não são mais conciliáveis com a democracia formal – sem quepropriamente sejam capazes de revolucioná-lo. Pois os grupos subprivilegiadosnão são de modo algum classes sociais; eles nunca representam, nem mesmopotencialmente, a massa da população. O processo de privação dos seus direitose sua pauperização não coincidem mais com a exploração, pois o sistema nãovive mais de seu trabalho (1983: 334 – grifado por Habermas).
Habermas propõe, portanto, com relação às interpretações marxistas, uma análise
alternativa, por um lado menos circunscrita a um contexto histórico do que o conceito de
luta de classes e, por outro, menos abstrata que uma “racionalização” tal como descrita por
Weber, que não se adapte aos quadros institucionais específicos de cada momento histórico
(muito embora a racionalização weberiana também tenha sido uma proposta de atualização
teórica face às restrições de aplicabilidade dos conceitos marxistas em uma sociedade de
282
capitalismo regulado pelo Estado). Habermas estipulou que, além do conflito à margem da
sociedade, devido às “disparidades” “do sistema, um novo tipo de conflito estaria se
configurando, com verdadeiro potencial transformador, e inflamando-se não em função da
“quantidade de disciplinas e encargos exigidos”, mas originando-se de públicos imunes à
consciência tecnocrática e dirigido a uma mediação quanto aos modos (“ao ‘como’ ”) da
organização da vida (1983: 341-342).
No quadro institucional da atualidade delineado por Habermas, o Estado tem se
restringido a um papel reativo, ou negativo, de empreendimento tão somente de ações
técnicas administrativamente acessíveis, destinadas a preservar a estabilidade de um
sistema geral que mantenha operativos os mecanismos de valorização do capital. Os
Estados atuam emergencialmente sobre zonas de risco sociológicas, cada vez mais
rapidamente detectáveis, e prevalece sobre a sociedade e sobre a ação dos Estados uma
ideologia tecnocrática de “eliminação da diferença entre praxis e técnica”, aplicando-se,
portanto, padrões que só seriam questionáveis caso existisse uma formulação realmente
democrática da conduta do Estado, de sua praxis (1983: 329-330;337).95 Também nesse
sentido, o de uma reformulação política – de uma formulação mediada do quadro
institucional e das condutas (1983: 337; 341) – a ação comunicativa pode ser alinhada e,
95 A racionalização capitalista pode ser aferida, em termos da organização estatal, em relação àcontemporânea hegemonia do modelo neoliberal e, destacadamente nesse contexto, a racionalização dascondutas de gestão pode ser acompanhada por um viés político. Maria Célia Paoli descreve, em meio aopanorama de desregulamentação da economia e responsabilização social empresarial, uma sacralização dediretrizes econômicas, em que as demandas da sociedade por políticas públicas tendem a serinstrumentalizadas por interesses privados, e em que se institucionaliza o que ela denomina um “contratoleonino” de dessocialização da economia. Como conseqüência, a autora indica um confinamento de parcelasexcluídas da população “a um novo estado de natureza”, em uma sociedade dicotomizada – um apartheidsocial, caracterizado por um duplo padrão de ausência e presença do Estado (2003: 389). Solange Pimenta,enfocando a ambiência organizacional contemporânea, assinala a composição de uma ordem de dominação, apartir de uma “desfiguração da política [organizacional] através da tentativa de sua transformação em puraracionalidade técnica” (2001: 25).
283
assim, as idéias de Habermas têm sido incorporadas a uma discussão sobre o papel e a
validade de um Terceiro Setor como palco de articulação da sociedade civil. Dos moldes
propostos por Habermas para uma reconstrução política configura-se também o modelo de
democracia discursiva, ou deliberativa (AVRITZER, 2000: 37-40).96
É ainda com relação a esse tópico de proposição de mediação frente a uma conduta
tecnocrática de gestão, que as idéias de Habermas também podem ser focalizadas ao tema
pesquisado, pois a inserção de Milho Verde (e de uma inumerada quantidade de pequenas
comunidades) em propostas de desenvolvimento planificado pelo turismo requer o
atendimento à premissa de adequada integração com as necessidades, possibilidades e
interesses de públicos locais.
Dadas as condições contemporâneas de reduzida presença e importância do Estado, o
advento de projetos econômicos e sociais de desenvolvimento pelo turismo pode até
mesmo vir a configurar, para as regiões implicadas, sob alguns aspectos (designação de
infra-estruturas e de serviços públicos às localidades, e subsídio e financiamento ao
empreendedor), um Estado substitutivo, uma instância para-estatal configurada a partir de
uma unidade regional – histórica, cultural e econômica –, em que, porém, a racionalidade
técnica e de mercado vigore como um imperativo administrativo, uma premissa para além
da deliberação acerca das necessidades e direitos das coletividades implicadas.
96 O modelo de democracia deliberativa, segundo proposições distintas de John Rawls e Jürgen Habermas, édesenvolvido por autores como Cohen e Bohman, que discutem formulações que o operacionalizam(AVRITZER, 2000: 31-45, FARIA, C. F., 2000: 48-67). Boaventura Santos e Leonardo Avritzer organizaramem artigo uma visão de conjunto do pensamento e práticas em democracia e participatividade, em quemencionam o princípio deliberativo tal como proposto por Habermas (caracterizando-se como alternativa auma formulação de democracia representativa): “apenas são válidas aquelas normas-ações que contam com oassentimento de todos os indivíduos participantes de um discurso racional” (apud SANTOS e AVRITZER,2003: 52).
284
A realidade sócio-cultural de Milho Verde – de contornos, sob muitos aspectos, pré-
modernos – tem-se inserido, assim, em um conjunto de solicitações mercadológicas e
culturais referenciadas além da etapa de modernização não atingida, ou não cumprida, no
decurso da evolução social local. A cidadania, a autodeterminação individual e coletiva, a
reivindicação de direitos civis, e a democratização e participação, necessárias à interação
com as instâncias que afetam o modo de vida da comunidade não se constituíram ali. Nesse
contexto, a macro-estrutura de mercado, atingindo a esfera local, tem, de certa forma,
substituído uma estrutura de vínculos de submissão – e de desvínculos de exclusão –
configurada anteriormente.
Entretanto, a proposição de emprendedorismo para o habitante local é paradigmática
nas iniciativas de desenvolvimento, propugnadas em um ambiente político em que a livre
iniciativa, o livre mercado e a responsabilização da sociedade civil constituem credos
fundamentais. Apresenta-se aí, porém, como necessária, uma consideração acerca da
aplicabilidade de se promover a adoção de padrões racionais de mercado em um contexto
social em que, por força de circunstâncias historicamente delineadas de fragilidade
econômica e social, a coesão de laços familiares, comunitários e mesmo produtivos
depende de referências tradicionais para subsistir.
Em relação a alguns dos aspectos de um contexto de pré-modernidade observável em
Milho Verde, podem ser mencionadas as formulações de Anthony Giddens (1991) de uma
“modernidade tardia” (que pode inclusive ser aposta à concepção de filosofia crítica
habermasiana de uma “modernidade inacabada” – 2002b: 1), em que a intensificação dos
questionamentos, um processo cultural tido por Giddens como inerente à modernização,
chega em nossos dias a um limiar radical, englobando contextos anteriormente intocados.
Essa ampliação e aprofundamento da “reflexividade” produziria um “desencaixe” das
285
formas sociais e culturais anteriormente apoiadas na tradição (GIDDENS, 1991:
43;45;49;59).
A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as práticas sociaissão constantemente examinadas e reformadas à luz de informação renovadasobre estas próprias práticas, alterando assim constitutivamente seu caráter. [...]A apropriação reflexiva de conhecimento, que é intrinsecamente energizante mastambém necessariamente instável, se amplia para incorporar grandes extensõesde tempo-espaço. Os mecanismos de desencaixe fornecem os meios destaextensão, retirando as relações sociais de sua “situacionalidade” em locaisespecíficos (1991: 45;59 – aspas cf. Giddens).
Não sendo a tradição estática, a reflexividade na pré-modernidade consistiria em
reinterpretar e esclarecer a tradição, ao passo que, na modernidade, ela adquiriria um papel
fundamental de “base da reprodução do sistema, de forma que o pensamento e a ação estão
constantemente refratados entre si” (1991: 45). Segundo assertiva de Giddens, o que se
compreende hoje como uma superação dos pressupostos da modernidade, em uma “pós-
modernidade”, seria justamente a intensificação dessa reflexividade: “Não nos deslocamos
da modernidade, porém estamos vivendo precisamente uma fase de sua radicalização”
(apud STEVANATO, 2004: 18).
Segundo essa perspectiva, poderia ser vislumbrado em Milho Verde um processo de
“desencaixe” – abrupto – das referências tradicionais, mas em que permanecem defasadas,
em virtude das condições sócio-históricas locais, a autonomização e uma reconstituição
“reflexiva” de construções sociopolíticas e culturais; e assim, em termos também de uma
modernidade inatingida, o sentido de cidadania – e dos direitos, liberdades e deveres
associados – não se teria constituído ali.
Por isso, pode ser afirmado que, em meio às pressões sociais e econômicas
determinadas pelo turismo, Milho Verde não estaria se integrando ao mercado, mas sim,
sob alguns aspectos, de fato, subordinando-se a ele. E nesse contexto, o livre
empreendedor local pode vir a representar mera figura de retórica pois, não havendo se
286
tornado, ainda, sequer civicamente “livre”, não representa, pelo menos não com uma
paridade mínima de condições, um competidor no jogo de mercado que ora se configura.
Esse quadro local reforça-se em meio a um panorama geral do país, em que, tal como
assinalado por Pimenta e Corrêa, vigora uma “superposição da capacidade econômica ao
‘direito a ter direitos’ ” (2006: 12 – grifado cf. Pimenta e Corrêa). Nos termos de um
debate acerca da justaposição entre as noções de Terceiro Setor e sociedade civil (servindo
assim como introdução ao tópico seguinte desta apresentação), Pimenta e Corrêa enfocam
o tema da cidadania no Brasil por este ângulo das disparidades econômicas, um quadro de
contrastes que, apropriado à questão do trabalho informal em Milho Verde, pode ser
mesmo apontado como um impasse entre desenvolvimento e cidadania não formada:
A cidadania é um status dado aos membros integrados de um território que osfaz iguais no que concerne aos direitos e obrigações. É uma medida efetiva deigualdade. Mas a disparidade econômica e social que caracteriza o Brasil vaiminar a igualdade implícita da cidadania, na tensão das duas instâncias por suanatureza conflituosa e contraditória. É a necessidade se impondo à liberdade,pois, caso a liberdade se estabeleça na dimensão cívica que deve assimilar oindivíduo ao corpo político, a necessidade implica a sobrevivência do homemconcreto [...] É nessa perspectiva que se estende uma cidadania tutelada pelasações organizadas do Terceiro Setor que estabelece prioridades, regula ações,delimita territórios e define a comunicação [...] Na medida em que a sociedadecivil torna-se sinônimo de Terceiro Setor [...], a gestão desse espaço implica [...]o enfraquecimento de uma instância de participação social e política. Dá-se aí odeslocamento de cidadão para beneficiário (2006: 8-9).
O quadro disposto a seguir (Quadro 6) agrega e correlaciona algumas das
observações empreendidas no âmbito da comunidade de Milho Verde e dos
empreendimentos locais em serviços de turismo, segundo um esquema analítico de
substituição da ordem social tradicional por ações instrumentalizadas, no contexto de uma
gradual incorporação da comunidade a um sistema racional capitalista.
Na seqüência, algumas imagens (Figuras 43 a 45) ilustram a perceptível – e passível de ser
considerada corriqueira, mas nem por isso pouco relevante – incorporação e subordinação
de manifestações culturais locais a uma macroestrutura de referências racionais,
tecnológicas e mercantis.
287
Aspectos da organizaçãosoc ial e política localimpactados pelamodernização e pelavinculação a um contextode competição capitalista
Solic itações à soc iedadelocal a partir da adoção demodelos produtivos e formasde trabalho estimulada pelasdemandas do turismo
Interações soc iais observadas nosempreendimentos turísticos informais –internamente, coletivamente e com asinstânc ias comunitárias
Dominação tradic ional
As diversas demandas do turismovêm criando espaços de atuaçãoeconômica e social à parte dahierarquia social local,desarticulando formas dedominação tradicional.
As interações nos ambientes profissionais ainda sãopredominantemente referenciadas em estruturastradicionais e familiares, e baseadas em organizaçõesconsensuais comunitárias (relativas a valores éticos eculturais tradicionais, e à solidariedade).
Inc ipiente formação deuma instânc ia políticacomunitária
Apesar de abrir novos espaços paraa atuação econômica e social, aatuação no mercado não tem seconstituído em um estímulo diretoao estabelecimento de instânciascomunitárias.
A lógica de competição nomercado pode estar influenciandonegativamente no estabelecimentode uma representatividade coesa ena constituição de um fórum dedebate local.
Pela lógica do empreendedor local, o empreendimentoem turismo é uma atividade que não deve se posicionarem termos de mobilização comunitária, pois issosignificaria eventualmente contrariar interesses daoligarquia e de c lãs locais.
Assim, o empreendimento local em turismo encontra-sedesvinculado da mobilização comunitária. E, da mesmaforma que a comunidade não estabeleceu uma instânciarepresentativa, também os empreendimentos não formaramcoalizões, e não existe um diálogo voltado à otimização dascondições que afetam a coletividade dos empreendimentos.
Os negócios têm encontrado, assim, grande dificuldadepara a interarticulação e para a articulação com instânciascomunitárias, embora a sustentabilidade da atividadeturística, e a própria sobrevivência da comunidade devamser vistas como intrinsecamente dependente de um sucessonssas interações.
Quadro 6 – Influências entre sociedade tradicional e racionalização dos modos de produção
Dada a conjuntura social e política pregressa, a adoção de novos modelos de atuação econômica instiladospela participação no mercado de turismo teve o efeito reconhecidamente positivo de desarticulação do podersenhorial local, mas não parece haver fornecido elementos para o fortalecimento da comunidade como umainstância política articulada.
289
Figuras 43, 44 e 45 – Instrumentalização de manifestações culturais tradicionais
Um exemplo claro de uma oposição que se desenha entre a cultura local e a lógica mercantil do turismoencontra-se na exploração das tradições culturais locais como atrativo. Esse fenômeno tem provocadoreações por parte de indivíduos e grupos mais identificados com os valores religiosos que constituem o motointrínseco destas manifestações culturais. Como um dos entrevistados bem mencionou, “o Estatuto daIrmandade do Rosário do Serro estipula, em seu original de 1728, a proibição de realizarem-se apresentaçõesem troca de pagamento” [b]. Esse critério é escrupulosamente mantido pelos praticantes que, muitofreqüentemente, dispendem recursos próprios e disponibilizam uma parcela considerável de seu tempo àmanutenção das tradições locais de guarda de congado, realizando apresentações ao longo de todo o ano nasvárias cidades da região (para poder congregar um número significativo de participantes em cada ocasião, aFesta do Rosário é celebrada em uma data diferente para cada localidade). O que está se configurando,porém, é um convívio nem sempre harmonioso entre os (declinantes) interesses religiosos e culturais pelaprática dos ritos da Irmandade (Piva et al, 2007: 15), e o interesse mercantil e turístico focalizado sobre oseventos tradicionais, por parte de empreendedores de turismo, orgãos públicos e entidades de fomento. Deatores culturais espontâneos, celebrantes de ritos afirmadores e configuradores de uma cultura peculiar eprópria, os praticantes correm o risco de gradativamente assumirem a condição de figurantes em cenárioturístico pasteurizado, estandardizado e condicionado a cálculos mercantis. A celebração registrada nasfotografias da página anterior, a concorrida Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos na cidadedo Serro, que lota os meios de hospedagem locais, atraindo visitantes de todo o país e exterior, contou com atradicional participação de dançantes do Catopê de Milho Verde. Observou-se um ritual concorrente com odos celebrantes: o da parafernália técnica de som, máquinas fotográficas, imprensa e cinegrafistas, além demicrofones com que organizadores, patrocinadores e oradores monopolizavam a atenção da platéia. Em meioa tudo isso, os grupos se apresentavam de forma engessada, condicionada a uma organização estrita daexposição que deveriam receber (fotos do autor – julho de 2006).
290
2.3.4. Fins, meios e mediações
Uma contraposição às idéias de Habermas acerca de ação comunicativa é
apresentada por Carlos Montaño em um trabalho de crítica a um conteúdo ideológico da
noção de Terceiro Setor, o livro Terceiro setor e questão social (2003). Orientando-se em
meio a um debate constituído principalmente pela oposição entre a visão de Lebenswelt de
Jürgen Habermas e concepções relativas ao cotidiano e à sociedade civil de Lukács György
(ANTUNES, R., 1999), Montaño constrói a noção de que se estipular a existência
autônoma de um Terceiro Setor caracteriza um projeto de apassivamento ou
instrumentalização da sociedade civil, sinérgico às ações de precarização do trabalho pela
reestruturação produtiva e à proposta de minimização do Estado:
[...] uma sociedade civil dócil, sem confronto, cuja cotidianidade, alienada,reificada, seja a da “preocupação” e “ocupação” (não a do trabalho e lutassociais) em atividades não criadoras nem transformadoras, mas voltadas para as(auto-)respostas imediatas às necessidades localizadas (2003: 260).
Montaño apresenta críticas a Habermas por considerar os conceitos de interação e
trabalho uma reificação do quadro de referências possíveis para o posicionamento político
em meio à tessitura social e, nesse sentido, reducionistas e funcionais à consolidação da
visão de Terceiro Setor – ou sociedade civil – como uma esfera autonomizada da economia
e do Estado (MONTAÑO, 2003: 97; 101-105).
De fato, a visão de Habermas pode ser contraposta à de autores marxistas que,
diversamente, não situam em uma esfera de “interação” a possibilidade de rearticulação das
construções sociais, mas sim, justamente, na esfera do “trabalho.” Deve-se ponderar aqui
entretanto que, embora a crítica de Habermas às visões marxistas, em grande parte, como em
Weber, refiram-se a especificidades históricas, contextuais, da caracterização do trabalho
como arena de conflito, a acepção dada por Habermas ao termo “trabalho” corresponde a
291
uma visão alternativa à forma como o trabalho é compreendido no âmbito marxista. Flávio
Beno Siebeneichler cita em Habermas a seguinte crítica à subsunção, em Marx, da noção de
interação à de trabalho:
A análise precisa da primeira parte da ‘Ideologia alemã’ revela que Marx nãoexplicita propriamente o nexo entre trabalho e interação, senão que sob o títulonão específico de praxis social, reduzindo assim um ao outro, isto é, o agircomunicativo ao instrumental (HABERMAS apud SIEBENEICHLER, 2003: 49).
E, embora Montaño sustente que a institucionalização de um Terceiro Setor oculte “a
transformação ideológica da sociedade civil [em] espaço que assume harmonicamente [...]
auto-respostas isoladas à ‘questão social’ abandonada [...] pelo Estado” (2003: 268), e que
a consolidação de uma concepção de Terceiro Setor como esfera de atividade independente
do Estado e do mercado destina-se a uma delimitação, uma circunscrição dos campos
acessíveis à expressão política da sociedade civil, não há como ignorar a tendência
contemporânea de autonomização e intensificação da articulação política demonstrada pela
crescente proliferação de organizações da sociedade civil. Conforme apontado por Offe, a
atribuição de “status público” aos grupos de interesse – segundo o autor, um modelo para
uma “boa política” –, embora não signifique necessariamente o atendimento às demandas,
torna-as passíveis de serem satisfeitas, conformando-as e canalizando-as perante o
contexto (1985: 32). Uma síntese para estes pontos de vista diversos parece ser provida
pela moçambicana Teresa Cruz e Silva, que caracteriza a mobilização social como um
espaço de rearticulação contra-hegemônica:
Se concordarmos que o sistema capitalista global, por intermédio da hegemoniado mercado, fragmenta e permeia as áreas políticas, culturais e sociais, fica claroque a sua violência gera a produção de alternativas não exclusivamente em níveleconômico, mas abrangendo também as dimensões do social, sendo as suasinterligações formas necessárias quer para sua sobrevivência [destasalternativas], quer para o seu sucesso (SILVA, 2005: 405).
292
Teodósio também observa a questão da delimitação da ação política através da
institucionalização de um Terceiro Setor, enfocando-a, porém, por seus ângulos ambíguos
e por vezes contraditórios:
O Terceiro Setor carrega dentro de si tanto possibilidades de novassociabilidades, quanto de novos mecanismos de dominação. As mesmasorganizações não-governamentais que se propõem a defender interesses dascomunidades são aquelas que hierarquizam e organizam a “massa”, filtrando avontade popular através das lentes de um aparato organizacional. Ambiênciaorganizacional que Michels afirma ser marcada pela “Lei de Ferro dasOligarquias”, a tendência inexorável do distanciamento entre lideranças e base(TEODÓSIO, 2005).
Dadas as condições formacionais regionais, as proposições de desenvolvimento para
a região do Jequitinhonha operam em lacunas de atuação governamental, configuradas não
somente em uma redução recente das atribuições estatais, mas sim, como se demonstrou,
em restrições anteriores da economia regional.
Quer sejam planificações econômicas do turismo (envolvendo neste caso a
implementação de infra-estruturas, o subsídio e financiamento aos atores econômicos, e a
designação de serviços públicos para o atendimento às localidades), quer sejam entidades
orientadas por um paradigma alternativo de desenvolvimento local (levado a cabo por
iniciativas locais e regionais, em focos e modalidades de atuação diversos, e de maior ou
menor grau de abrangência e institucionalização), quaisquer das atividades de
desenvolvimento que ora enfocam a região estão a percorrer, como demonstrado, um
vácuo de modernização. Tendem a ser, nesse cenário, saudadas como úteis e desejáveis
pela população, independentemente da orientação adotada. Entretanto, tendem a ser
percebidas também, e isso pôde ser claramente observado, como dádivas, como benefícios
concedidos a uma região carente, e não como fornecedoras de elementos a serem
empregados em uma construção autônoma e cidadã. A assimetria e a simbolização
hierárquicas aferidas por Marcel Mauss em sua análise do “dom” concedido (MAUSS
293
apud PIMENTA, 1996: 354-355; CAILLÉ, 2002: 8) não passam despercebidas nesse
contexto. O entrevistado mencionado a seguir discorre a partir de sua experiência local em
mobilização comunitária e assistência social:
[A região de Milho Verde,] na característica de sua população, tem muita coisadesse mineiro do Alto do Jequitinhonha, um pessoal que recebe muito bem, quetem uma receptividade, mas que espera ganhar algo. Sempre. Isso é uma coisa damentalidade dessa região toda, as pessoas estão sempre querendo ganhar algo. [a]
Um exemplo: a instalação de marcos e placas do roteiro turístico da Estrada Real não
foi compreendida, por muitos membros da comunidade, como uma etapa de uma atividade
de desenvolvimento que visa beneficiar a região; foram até mesmo avaliadas, como pôde
ser observado mais de uma vez, como “um desperdício de dinheiro”, que deveria ter sido
direcionado para algum tipo de benefício para a população, como “cestas básicas”, por
exemplo.
Consoante as observações e análises empreendidas para a presente pesquisa, tanto as
entidades externas quanto as locais têm experimentado em Milho Verde uma condição
acentuadamente não propícia à condução de seus projetos, sejam econômicos, culturais ou
mesmo assistenciais, por não estarem sendo “digeridas” no contexto sociopolítico local.
Uma parte dessa “indigestão”, entretanto, pode ser atribuída a que, embora atuando
simultaneamente, as ações externas e locais não se encontram concatenadas entre si, e,
principalmente (mas não exclusivamente) no que se refere às ações externas, pode ser
observada uma defasagem para com as dinâmicas de representatividade e participação
locais, em parte devido a uma possível estandardização de atividades voltadas a contextos
geográficos amplos e de ampliadas diferenças inter-regionais, e outro tanto devido a uma
hierarquização (top-down) das propostas, que sobrepassam inoperantes, mas também
defasadas, não-solicitadas, interfaces comunitárias.
294
Esse desengate com as realidades locais e com as lideranças e instâncias
representativas locais não corresponde, contudo, como se demonstrou anteriormente, à
proposta de atuação das entidades de fomento ao turismo e ao empreendedorismo presentes
na região. Um pequeno exemplo, porém, é bastante significativo quanto às dificuldades a
serem enfrentadas para a efetivação de uma proposta participativa: a Associação Cultural e
Comunitária de Milho Verde integrou, como entidade-membro formalizada, um conselho
consultivo regional do Prodetur NE II. Foi possível constatar que esta participação da
Associação é um fato, quando não desconhecido, completamente irrelevante para uma
população que não constitui, em sua desarticulação comunitária, uma instância capaz de
diálogo, ou sequer interessada neste diálogo. Conforme se registrou em uma reunião a que
se assistiu na Associação Comunitária, em que praticamente não houve quórum: “se quiser
fazer uma reunião que venha gente, só anunciando que vai distribuir um saco de cimento
grátis pra cada um que comparecer.”
Entretanto, por inoperantes que as composições locais possam ser, cumpre perguntar
em que medida está sendo contemplado, no âmbito das iniciativas planificadas encetadas, o
difícil mas indispensável rapport com a articulação comunitária. No contexto observado,
essa parece ser uma consideração importante pois, dadas as condições regionais de
fragilidade econômica e social, reforça-se ainda mais a necessidade de uma integração
comunitária à consecução das iniciativas, como uma condição sine qua non para a
sustentabilidade da atividade turística – e para que uma proposta de desenvolvimento
efetivamente atinja as necessidades reais das populações locais. O simples
desencadeamento do quadro amplo de fomento à demanda e de implementação de infra-
estrutura não parece ser, nesse contexto de mera expectativa de benefícios, suficiente para
estimular uma mobilização comunitária, e pode vir a ser, tal como procurou se demonstrar,
desarticulador ou até mesmo desagregador e excludente.
295
É compreensível que uma maior participação das instâncias comunitárias locais não
seja atingida porque as instâncias de atuação macro enfrentem problemas estruturais e
logísticos para interagir com o nível micro das comunidades (HALL, 1998: 170). O
reconhecimento desta carência pode apontar uma direção útil para o aprimoramento de
projetos de desenvolvimento, que deveriam talvez buscar – em observância a um preceito
de efetivação a partir do nível local – um maior contato com interlocutores da comunidade.
Alguns esforços nesse sentido estão sendo empreendidos e puderam ser observados
diretamente no contexto local, especialmente com relação à já mencionada iniciativa,
recentemente encetada, do Turismo Solidário. Também pôde ser verificado que o Instituto
Estrada Real tem buscado adaptar sua estrutura operacional para obter um contato maior,
mais minucioso e específico com cada realidade regional com que se relaciona.
Como se mencionou anteriormente, é nítida a observação de que os habitantes
adventícios se radicaram como um “anexo” da sociedade tradicional, ativamente
defendendo valores culturais, patrimoniais e ecológicos – notadamente em São Gonçalo
mas, mais recentemente, de uma forma que vem se revelando efetiva e peculiar, também
em Milho Verde. Preza-se, e busca-se conservar, valores locais considerados
insubstituíveis, assumindo-se que os custos – muitas vezes insuspeitados para a população
– da adesão ao modo de vida externo são irreversíveis e podem constituir, sob muitos
aspectos, uma perda essencial.
Porém, procurou-se realizar essa defesa muitas vezes, embora nem sempre, a
despeito ou mesmo à revelia do interesse ou compreensão, manifestos ou não, da
comunidade local. E, certamente, em detrimento da efetividade das propostas, pois a
desarticulação com a realidade comunitária local tem se revelado, justamente, o maior
obstáculo. Como resultado, o entrevistado citado a seguir contabiliza o saldo médio de
296
várias mobilizações de preservação ecológica e de patrimônio urbanístico realizadas em
Milho Verde:
Preservar o quê? Já foi tudo detonado. Eu acho que tem que se fazer algumacoisa, assim como a gente tinha que fazer alguma coisa há vinte anos atrás, e nãofoi feito, assim como a gente tinha que fazer coisas há dez anos atrás, e não foifeito. [f]
O que ocorre, geralmente, é que as agendas de preservação destoam das expectativas,
das necessidades imediatas (e dos interesses imediatistas), e das possibilidades de
compreensão e mobilização da população; e uma atitude tutelar, a ser empreendida à
revelia da desmobilização local, tem se revelado também infrutífera. Nesse contexto, uma
estruturação percebida como não participativa de uma organização sediada e atuante na
localidade, o Instituto Milho Verde, foi indicada como uma alternativa para assegurar a
sobrevivência da proposta:
Então por isso tem gente que fala “Ah, mas essa ONG é muito fechada, nãodeixa [ninguém interferir.]” Se é fechada, e está dando conta de manter [umaatuação], que continue fechada. A gente abriu [para a comunidade], e nós nãodemos conta com ela [nossa iniciativa] aberta. [m]
O Instituto Milho Verde foi examinado ao longo do período de trabalho de campo
por meio de um grande número de observações participantes e pela prestação de serviços
voluntários. Conforme foi possível constatar, a não participatividade mencionada pela
entrevistada refere-se a uma necessidade de assegurar a coerência de uma proposta em um
contexto de desarticulação comunitária e de individualização de interesses. Há que se
ponderar que muito do que é percebido como não-participatividade, no caso, refere-se
também a uma fraca adesão, tal como a observada nos trabalhos da Associação
Comunitária, e que vale também para as atividades no Instituto Milho Verde; embora as
reuniões administrativas sejam inteiramente abertas, interessam a poucos membros da
comunidade – via de regra, somente a alguns também envolvidos com a mobilização
297
comunitária em geral. Pôde ser também observada uma confusão, por parte dos habitantes,
entre o que possa ser entendido como uma participação, mas que, na verdade, constitui
apenas uma atitude empenhada na aquisição de benefícios individuais.
Havendo completado oito anos de atuação ao início de 2007, o Instituto Milho Verde
tem se notabilizado pela realização anual do Encontro Cultural de Milho Verde, um
festival de inverno de cunho social e cultural, realizado por trabalho voluntário de
ministrantes de oficinas, artistas e organizadores. A programação é gratuita, e busca
atender às necessidades e interesses locais, o que não impediu que o Encontro se tornasse
uma data importante do calendário turístico da localidade, contando assim com o
patrocínio, mediante pequenas quantias, de estabelecimentos comerciais e turísticos de
Milho Verde, São Gonçalo, Serro e Diamantina. O evento recebeu em 2007, pela primeira
vez em seu histórico de atuação, um apoio financeiro mais substancial, provido pela
Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais, que cobriu quase integralmente as
despesas com a logística da oitava edição do Encontro.
Além disso, o Instituto Milho Verde foi designado em 2006 como um dos Pontos de
Cultura – organizações não-governamentais de articulação cultural comunitária,
selecionadas para este tipo de atuação em todo o território do país, e apoiadas
financeiramente e institucionalmente pelo Ministério da Cultura. Nesse contexto, a
entidade tem promovido um grande número de atividades culturais em caráter permanente,
tais como oficinas de expressão literária, vídeo, inclusão digital, música e artesanato.
O Encontro Cultural, avaliados os moldes em que se realiza, cabe em uma
caracterização de turismo social; envolve solidariedade, trabalho voluntário, busca de
adequação às condições e necessidades locais, e integração entre públicos externos e
internos, em uma programação que valoriza o calendário turístico, contribuindo com o
298
movimento de pousadas, restaurantes e bares locais. Também no sentido de um turismo
social, pôde ser registrada junto à população em geral, e junto aos empreendedores de
turismo, a opinião de que o público externo que acorre às oficinas e demais programações
culturais tem sido o perfil de turista menos impactante e incômodo, e mais solidário e
sintonizado com as condições e necessidades locais; na semana de julho em que se realiza
o Encontro, embora repleta de visitantes, Milho Verde parece desfrutar de uma
tranqüilidade que foi comparada à dos períodos de baixa visitação.
E, nos termos de um turismo social que pode ser definido como não-
assistencialista,97 o Instituto Milho Verde propiciou a observação de uma atuação que pode
ser caracterizada como um “turismo social participativo”, ao estimular que voluntários
ministrantes, visitantes externos e comunidade, em conjunto, configurem e direcionem as
atividades empreendidas. Ao integrar os diversos públicos nestes termos de uma co-
participação (e de uma não-instrumentalização mercantil dos conteúdos culturais e sociais
visados), as atividades culturais abrem espaços para expressão e auto-afirmação dos
membros da comunidade em meio às condições assimétricas – econômicas, sociopolíticas
e culturais – experimentadas entre o exterior e a localidade.
Além da interação com o exterior, a atividade cultural tem propiciado um encontro
da comunidade consigo mesma. O evento narrado a seguir, semelhante a outros
presenciados pelo pesquisador, parece mesmo ilustrar, esquematicamente, uma condição
de reflexividade – constitutiva, segundo Giddens, da modernidade (1991: 43):
97 Pôde ser observado, no Seminário Vale: Vozes e Visão, mencionado anteriormente nas notas 76 e 92, umrepúdio geral, entre os públicos presentes (em grande parte, ativistas comunitários ou membros deorganizações não-governamentais do Vale do Jequitinhonha), a uma conotação de “safári social” que possaser inferida de uma má-compreensão, ou da adoção de um viés assistencialista, da concepção de turismosocial.
299
Eu lembro uma vez que Fulana fez uma projeção [de fotografias de Milho Verde]lá na parede da igrejinha [do Rosário]. E quando ela acabou, os senhores Sicranoe Beltrana [habitantes naturais de Milho Verde] estavam emocionados “Deonde você tirou isso? Eu nunca vi isso!” Aí Fulana disse “Mas como? Eu tireitudo daqui, disso que a senhora vê todo dia, eu só estou mostrando com os olhosda arte, mas é uma coisa que vocês vêem todo dia.” “Ah, mas eu nunca vi tãobonito assim.” Através da fotografia, viu, e viu que era aqui, e chegou ao ponto detambém falar “Ah, realmente, é lindo.” [m]
A continuidade do comentário deixa entrever, porém, as tênues possibilidades
experimentadas pela mobilização e afirmação local através do universo da cultura:
Não adianta eu te impôr “Você vai ser bom.” Se você não for, você não vaiser. Não tem o que mude. Então, o que eu vejo que a gente que está aqui, quemora aqui [adventícios] pode fazer é dar oportunidade para ver o que realmenteestá lá dentro [de si]. E isso através de quê? Dessa oportunidade de praticarcapoeira, de fazer dança afro, de fazer ioga, de fazer computação, e de ver omundo através de uma câmera. Então eu acho que o caminho é esse. Através dacultura. [...] Mas se vem gente lá de cima arrebentando... a gente é pequenininho,sabe, é como se fosse um pé gigante pisando. Então se acontecer desse jeito,realmente, além de esmagar a gente que está aqui, que viemos para cá, vaiesmagar também todo esse coração bom, que esse povo daqui tem. Apesar deterem suas... lesões sociais, que estão acontecendo aí, você vê que as pessoasdaqui são boas... [m]
As fotos dispostas a seguir (Figuras 46 a 48) mostram cenas de atividades culturais
realizadas em espaços públicos da comunidade, congregando turistas e moradores naturais
e adventícios.
300
Figura 46 – Preparações (concentração) para o Cortejo de Encerramento de um Encontro Cultural
Centenas de visitantes e de habitantes locais interagem, na condição de co-participantes/co-autoresespontâneos do Cortejo, manifestação que mescla tradições locais e influências culturais externas. Integrandoelementos díspares como boi-bumbá, ecologia, procissão religiosa, Carnaval e festival hippie, acrescentandonovas influências a cada edição, o Cortejo parece poder cotejar sua autenticidade em sua visívelespontaneidade e em uma participação proporcionalmente cada vez maior da população. O Encontro Culturalé um evento em que organizadores, instrutores de oficinas culturais e artistas que se apresentam em diversasmídias participam de forma voluntária. A programação, voltada a necessidades e interesses locais, é oferecidagratuitamente à população, e atrai também um grande número de visitantes. Utilizando uma verba mínima, edesvinculando-se de quaisquer propostas mercantis ou da necessidade de prestar contas a patrocinadores, aorganização do Terceiro Setor responsável pela promoção do evento, o Instituto Milho Verde, explora, juntocom a população e com o turista, novos caminhos de cultura e identidade local (foto do autor – julho de2006; ao fundo, a Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres).
301
Figura 47 – Preparativos para uma sessão de audiovisual em espaço comunitário
Antes do início de um evento promovido pelo Instituto Milho Verde, são feitos ajustes no equipamento deprojeção, enquanto pessoas começam a se ajuntar à volta do operador. A imagem projetada é justamente aprópria Igreja do Rosário (de que uma das paredes serve de tela de projeção), avistada por uma criança dalocalidade, em uma cena de uma seqüência de vídeo de autoria do estúdio mineiro de autoria de Elisa PortoMarques. A comunidade vê a si mesma pelos olhos da arte, e “reflete” sobre sua identidade e seus caminhos(cf. GIDDENS, 1991: 43; foto do autor – julho de 2006).
302
Figura 48 – Largo do Rosário, na confraternização de encerramento de um evento cultural
O balão com os continentes e mares perfeitamente retratados já é presença aguardada no Cortejo deEncerramento dos Encontros Culturais de Milho Verde. Entidade “local” por excelência, dada sua situaçãoperiférica – econômica, social e geográfica –, a comunidade de Milho Verde ensaia e interpreta, em umespaço lúdico e simbólico, sua condição de “global” (foto do autor – julho de 2006).
303
3. Considerações finais
[...] de alguma forma Riobaldo percebeu que a ruptura datradição e a perda da autoridade que ocorriam no Sertãoeram irreparáveis. Por esse motivo, porque precisavadescobrir novas formas de tratar o passado [...] a atitude emrelação ao passado é ambígua: ele quer, ao mesmo tempo,destruir e preservar. [...] Nessa mirada para trás com osolhos desobstruídos da autoridade da tradição corre-se,evidentemente, um duplo risco: primeiro, o de perder aspróprias referências e desenraizar-se definitivamente doespaço e do tempo dos outros, arruinando a si mesmo e àschances de transformar o Sertão num mundo compartilhadode significações e de interação entre os homens. O segundorisco, quase por conseqüência do primeiro, significasubmergir na barbárie, vale dizer, na ruptura e reversão dosistema de virtudes, princípios e valores que estabelecem ofundamento sobre o legítimo e o ilegítimo, o justo e oinjusto em qualquer sociedade.
Heloísa Starling 98
Historicamente ilhada por fatores que hoje se encontram expugnados, Milho Verde
reteve caracteres tradicionais aos quais se impõe uma recontextualização, face às
abarcantes solicitações da sociedade externa. Confrontados às pressões do mundo
moderno, os valores e deficiências locais têm configurado impasses, ou dilemas: a
defasagem cultural, a anomia política e o despreparo técnico vêm a par de afetividade,
hospitalidade e cordialidade; a beleza do entorno e a atmosfera pacata acompanham-se de
uma fragilidade ecossistêmica e econômica, e deficiências na organização urbana; todas
estas, condições já postas à prova pelo desenvolvimento até então experimentado.
A insuficiência da economia de base local e um lastro de heranças sociais
formacionais (que reverberam, pode-se mesmo afirmar, desde os ibéricos anti-modernos de
98 1999: 179.
304
Antero de Quental) determinaram um padrão de conduta, culturalmente assimilado e
mantido, de descompromisso com a “sustentabilidade”. É instigante observar que o quadro
econômico atual parece mesmo reconfigurar condições arcaicas: os empreendimentos em
turismo, essencialmente informais, são compreendidos como meramente extrativistas:
dispõem de recursos (os “atrativos”) da natureza em estado bruto, não processados e
tratados como não-conserváveis – não-sustentáveis; comprometem-se unicamente com
uma consecução imediatista, e totalmente à mercê de demandas e diretrizes externas; não
se logra efetivar aprimoramentos na organização local, sejam técnicos ou políticos, com
vistas à consolidação de condições que garantam a continuidade da exploração no futuro.
Destaque-se, porém, que o potencial para o turismo da região de Milho Verde tem
constituído uma grande oportunidade para a população local, a ser avaliada não somente
em termos da importância como quase exclusiva atividade econômica, mas mesmo em um
saldo do conjunto amplo dos impactos experimentados, pois a comunidade tem assimilado,
por meio do contato intensificado com o exterior, conteúdos sócio-culturais que lhe
estariam no momento inacessíveis tão somente a partir de uma evolução endógena das
dinâmicas e estruturas locais – ou por um efeito do já quase onipresente acesso aos meios
de comunicação. O turismo tem propiciado atividades econômicas e interações com a
sociedade externa que podem ser consideradas preferíveis à simples defasagem econômica
e cultural centro-periferia, tal como a que pode ser claramente observada em localidades
vizinhas que não estão sendo visadas pelo influxo turístico. E, avaliado frente aos impasses
encontrados nas condições econômicas regionais – esgotamento das atividades
extrativistas, e agressão à natureza em um estágio já avançado desse processo de
esgotamento – o turismo, mesmo com todos os impactos registrados, mas também com a
promessa inerente de um desenvolvimento sustentável, aparece ainda como a melhor
alternativa local; a deterioração das comunidades e da natureza no Vale do Jequitinhonha,
305
hoje registrada, tem ocorrido até o momento à revelia de qualquer proposta ou alternativa
de sustentabilidade. Essa mesma tendência a uma deterioração regional, em geral associada
à degradação da natureza e da economia agrária que dela se sustenta, pode ser mesmo
nitidamente correlacionada à situação atual de Milho Verde.
Assim, o congelamento no passado não sendo, portanto, desejável, nem tampouco
possível, o que resta? A adoção de formas mercantis de atuação, pari passu com o contexto
macro da economia brasileira? Ou a adoção de formas mais socializadas, comunitárias e
participativas de atividade econômica, ditas alternativas? Assinale-se que, além de
fracamente apoiada pelas instâncias locais, a segunda opção apresenta-se defasada da
lógica geral de planificação do mercado de turismo, podendo ser assim eventualmente
tragada ou desarticulada.
E deve-se destacar também que, com ou sem a planificação e o fomento do turismo,
os impactos estão vindo. Da forma como se apresenta hoje, o turismo em Milho Verde não
compreende, decerto, condições de sustentabilidade, e não corresponde tampouco a uma
idéia de um desenvolvimento alternativo – muito menos um que preserve imaculadas as
regionalidades.
A preservação de características tradicionais, e a distância em relação ao ambiente
tecnológico, econômico e cultural da sociedade contemporânea permitiram, ou ensejaram,
a manifestação de uma organização social e econômica que compreende alguns caracteres
solidários, não-capitalistas; e também a (tênue) constituição de uma proposta, ou consenso
quanto à desejabilidade, de um desenvolvimento alternativo, contra-hegemônico. Estas
particularidades sociopolíticas, econômicas e culturais locais, já questionadas face às
condições impactantes experimentadas no decurso da exploração econômica do turismo,
serão, certamente, ainda mais confrontadas no contexto de uma atividade turística
306
planificada. Saliente-se, contudo, que os processos impactantes hoje em curso ameaçam a
sobrevivência econômica da localidade também em uma conjuntura de turismo
planificado. Este último, para fazer juz ao nome, precisará demonstrar ser capaz de lidar
positivamente com estas questões.
As propostas planificadas têm custodiado algumas prerrogativas de desenvolvimento,
tais como incentivos e apoios ao planejamento ambiental e urbano, e implementação
acelerada de infra-estruturas (rodovia, segurança pública, serviços de saúde, telefonia,
saneamento). Entretanto, a implementação de uma infra-estrutura em privilégio das
necessidades turísticas, e na dependência de uma rentabilidade projetada para a economia
do turismo, é uma condição que por si só deixa entrever a fragilidade das condições
econômicas e sociais locais, e os riscos à sustentabilidade de um processo de
desenvolvimento alavancado unicamente em função de uma demanda turística.
O que se prefigura ainda, porém – alçando-se a uma condição de questionamento
primordial –, é que a planificação parece implicar um novo impacto que pode negativar o
saldo de todos os prós experimentados em decorrência do turismo: a prevalência de uma
estrutura sócio-econômica que não privilegie o habitante local.
No contexto de um artigo em que se refere ao potencial, com relação à constituição
de cidadania, de ações encetadas segundo uma proposta de responsabilização social
empresarial, Maria Célia Paoli critica, em relação à não promoção de uma participação
política, algumas ações planificadas de desenvolvimento social empreendidas na
atualidade:
[...] não obstante os programas sociais produzidos pelo ativismo socialempresarial apresentarem dimensões bastante positivas, os critérios próprios ànoção de globalização hegemônica propostos neste projeto – a expulsão depopulações de um contrato social estável, a aleatoriedade seletiva no tempo eespaço no qual as ações acontecem, a tentativa de construir a resposta a
307
exclusões através unicamente da lógica pasteurizada do capital transnacional –como também os critérios [...] sobre o que vem a ser a dimensão pública epolítica do agir político, parecem indicar [...] mais um contra-exemplo de umaação democrática participativa do que uma ação contra-hegemônica, podendocomplementar-se, sem contradições insuperáveis, aos arranjos neoliberais(PAOLI, 2003: 379).
A premissa de democratização mencionada por Paoli apresenta-se para o contexto
atual do desenvolvimento de Milho Verde, entretanto, como uma assertiva fundamental.
Solange Pimenta, orientando-se pela acepção de Hannah Arendt (2000) acerca de um
“trabalho livre”, caracterizado pela admissão a uma esfera pública e uma emancipação
cidadã (apud PIMENTA, 2001: 32), salienta que, no Brasil, de um modo geral, “estamos
ainda muito distantes do ‘trabalhador moderno’ ” (2001: 33 – aspas cf. Pimenta). Ocorre
entretanto que, em Milho Verde, o obstáculo representado pela histórica não-constituição
de cidadania não pode, em prol do que deva constituir uma efetiva sustentabilidade, ser
considerado meramente como algo a ser contornado.
A questão sobrepassa uma polêmica acerca da distribuição dos benefícios
econômicos do desenvolvimento, pois remete à própria integridade do processo de fomento
à atividade: quem, senão a própria comunidade – articulada, consciente de seus contextos e
processos, e definidora de seus rumos e escolhas, sejam empreendedores e trabalhadores
no turismo ou não – será capaz de gerir (digerir) e absorver os impactos determinados pelo
incremento das solicitações dentro de uma cada vez mais intensa contextualização na
economia do turismo?
As condições para a continuidade da atividade turística em Milho Verde dependem,
hoje, mais das específicas situações comunitárias do que de qualquer esforço de
planejamento e implementação que se possa desempenhar em relação à demanda, à
capacitação profissional ou à infra-estrutura. Em que instância, pode-se perguntar como
exemplo, ou por que meios, se administrará a imprescindível articulação entre os esforços
308
mercadológicos concatenados na atração e atendimento aos visitantes, e os impactos
causados à natureza pela ocupação desordenada e pelo uso de recursos naturais de forma
indiscriminada? (No mais das vezes, pela carência absoluta de alternativas de atividade
econômica para determinadas parcelas da população local, em um processo de degradação
que tende a se reforçar caso um desenvolvimento econômico pelo turismo determine
condições ainda mais excludentes.) Esta é uma pergunta a que um estímulo isolado à livre
iniciativa não parece fornecer respostas suficientes.
Além disso, se as condições da natureza e as características urbanas, sociais e
culturais locais não forem devidamente consideradas, o resultado em termos de
atratividade local para o turismo resultará anódino e aviltado (uma personificação distante,
mas ameaçadoramente pertinente, de uma estandardização mercantil do turismo pode ser
observada na multiplicação recente de shopping centers de artesanato mineiro decorados
com cenários pintados reproduzindo fachadas de casario colonial). Além disso, uma
incorporação da comunidade a uma prestação de serviços referenciada em moldes
padronizados de atividade turística não somente destoa da atratividade local, como também
termina por ser excludente para a maioria da população. Caso se oriente por uma lógica
restrita de manutenção de uma demanda dissonante das condições comunitárias e das
possibilidades do empreendedor local, poderá algum programa de desenvolvimento
afirmar-se sustentável?
Uma característica marcante para a situação do turismo no Alto Jequitinhonha é que
os serviços desenvolvidos não oferecem, por si mesmos, as atrações visadas. Por graciosa
que seja, a pousadinha não é um resort dotado de um complexo balneário e de atividades e
atrativos diurnos e noturnos. Uma cachoeira, por deslumbrante que seja, não pode ser
explorada em larga escala, não pode ser instrumentalizada racionalisticamente tal como
uma praia. Assim, o turismo na região não tem se configurado, certamente, pelo menos não
309
por ora, como um empreendimento que integra (“verticaliza”) as atrações, ou seja, que
reúne em um só empreendimento todos os elementos da oferta turística, e que oferece um
composto de serviços de alto valor agregado. E, dada esta pequena estruturação, aponte-se
inclusive que os empreendimentos hoje existentes, e que podem ser considerados
economicamente mais benéficos para a população local, não se organizam, pelo menos não
ainda, em termos de uma separação entre capital e trabalho.
Essa condição prevalecente de mera oferta do acesso às atrações (a comunidade e sua
cultura, as marcas da história, o entorno) e não de oferta da atração em si mesma (parques
temáticos, hotéis fechados com atividades esportivas e interativas) destaca a relevância de
se compreender e buscar uma valorização, manutenção e equilibrada exploração do
negócio em si – do verdadeiro atrativo que é, em última análise, a própria vida
comunitária, em sua adaptação tradicional às condições locais – e que compete, afinal, à
própria comunidade, em sua articulação e ajustamento entre os aspectos econômicos,
culturais e sociais de sua existência. Esta valorização da interação e integração entre as
propostas de atuação econômica e a vida comunitária constitui, inclusive, a essência de
propostas específicas ora encetadas, como a do Turismo Solidário. O incentivo a um fluxo
de demanda e a uma modalidade de prestação de serviços em que se constitua um turismo
não erosivo, e sim nutritivo para as condições locais, encontra-se implicado também na
própria definição das propostas de desenvolvimento da Estrada Real e do Prodetur. Ainda
nesse sentido, pode ser apontada uma preocupação efetiva com a inclusão social no âmbito
destas propostas e não uma mera instrumentalização das localidades visadas.
A região de Milho Verde, como um todo, encontra-se ainda em estágios
preliminares, infra-estruturais à ativação da demanda por meio das iniciativas de
desenvolvimento pelo turismo planificado, e o momento pode ser oportuno para o
amadurecimento da abordagem a ser empregada no manejo das questões locais. Ensejam-
310
se, e têm sido buscados, uma compreensão “em largo espectro” dos caracteres regionais, e
um alinhamento com as condições comunitárias, culturais e socioeconômicas específicas.
Com relação à incorporação de Milho Verde em circuitos turísticos, também
visando-se o quesito sustentabilidade, deve-se observar, inclusive, que a estruturação de
roteiros abrangentes pode constituir mesmo, para algumas localidades, não um fomento,
mas sim uma diluição da demanda, a ser dividida com uma série de outras localidades
anteriormente não visadas pelo turista. Conflagra-se, a partir daí, um possível cenário de
competição entre destinos integrantes do circuito (e mesmo de competição entre destinos e
roteiro), pois dada a extensão da região implicada, o visitante tende a ser seletivo com
relação ao trecho ou localidade que pretende visitar. Na medida que uma competição como
esta se configure, o que possivelmente já está ocorrendo, alguns dos impactos apontados
por esta pesquisa em relação à inclusão de Milho Verde em um contexto de planificação do
turismo se manifestarão, independentemente da presença local de novos empreendimentos;
dada a forte vinculação à economia do turismo, pode-se prever como mais provável,
consideradas as condições atuais, uma intensificação de uma competição local que diminua
a margem de rentabilidade, e não um aumento do valor agregado, nos serviços de turismo
ali oferecidos.
Porém, uma outra possível condição, certamente mais sinérgica à proposta de
planificação – uma condição de cooperação –, pode ocorrer em uma tal conjuntura de
pertencimento a um roteiro integrado de atrações turísticas: solicitadas a articular-se,
estruturar-se e fornecer respostas, é razoável esperar que as comunidades ao longo de um
roteiro componham coalizões, de modo a atuarem em uníssono, como um grupo de pressão
em prol do interesse comum, e como cooperadores no estímulo à demanda, a ser encarada
mais eficientemente como uma demanda pelo roteiro em si, e não por localidades a serem
escolhidas ao longo de um roteiro. Porém, dadas as condições observadas em Milho Verde,
311
de desarticulação comunitária, e de desarticulação entre os empreendimentos turísticos
entre si, e com as instâncias comunitárias, é muito pouco provável que ocorra, por ora, uma
participação da comunidade em uma tal organização. Observe-se que, em nenhuma
medida, os esforços produtivos de indivíduos e membros da comunidade de Milho Verde
têm apontado para a composição – via fortalecimento da identidade comunitária – de uma
formulação de auto-gestão participativa e negociada, atenta às dimensões institucionais e
políticas dos processos de desenvolvimento encetados. O que prevalece é tão somente a
reatividade – sob esse aspecto, tão brasileira – de se considerar a política uma coisa
“complicada”, um assunto “dos outros”, um tema “das elites” (PIMENTA, 2001: 24;26).
A comunidade precisaria também, na conjuntura atual, de ser capaz de estabelecer
mecanismos internos que lhe provessem melhores condições para lidar competitivamente
com organizações mais estruturadas e capitalizadas – como por exemplo, utilizando
regimentos comunitários que restrinjam a ação de concorrentes predatórios e especuladores
imobiliários (também a questão da utilização da mão-de-obra local pode ser abordada). Os
agentes produtivos em turismo de Milho Verde – expressando-se a questão em termos
idealizados, e não em termos de uma prescrição que pareça poder ser atendida hoje, dadas
as condições locais observadas – deveriam ser capazes de considerar que os processos
vividos no âmbito profissional afetam sua condição global e a de todos em seu contexto,
podendo comprometer negativamente seu padrão de vida, criar vínculos e dependências
indesejados e afetar a sustentabilidade de sua atividade.
Para pensarem eficientemente seus negócios, os empreendedores locais precisariam
ter em vista um conjunto maior e mais complexo de fatores do que têm em mente hoje,
abrangendo-se a vida comunitária e a natureza. Em outras palavras, o negócio do
empreendedor local depende em grande parte de se preservar, o quanto possível, os valores
312
comunitários – que têm sido, pelo menos até o presente, os fatores atrativos para a
atividade turística.
“A ação, a liberdade e a palavra exigem” destacam Pimenta e Corrêa, “a construção e
a manutenção do espaço público”, essencial para a existência do sujeito e para a sua
afirmação – essencial para a constituição de sua cidadania (2006: 7). Seria, portanto, em
um espaço legitimamente público, e não em uma esfera de ações autônomas de parcelas da
sociedade civil, em que, privilegiando-se interesses particulares, desempenhe-se uma
dissociação entre bem público e bem comum (cf. PAOLI, 2003: 376; 378-379), que uma
coletividade como a de Milho Verde poderia trilhar seu próprio caminho reflexivo e
consciente, de construção de autonomia e identidade, articuladamente à consecução de
uma melhoria de condições econômicas que beneficiem de forma válida e significativa a
população local.
Castoriadis caracteriza desta maneira o dilema da autonomia: após estabelecer que a
formação dos indíviduos se dá pela interiorização das instituições – de valores, condutas,
modos de pensar e de agir – o autor estipula “o objeto primeiro de uma política de autonomia,
democrática: ajudar a coletividade a criar as instituições, onde a interiorização efetuada pelos
indivíduos não limite, mas amplie suas capacidades de se tornarem autônomos” (apud
PIMENTA, 2001: 22-23).99
As incipientes manifestações de autonomia observadas em Milho Verde não devem,
assim, ser consideradas sob o prisma de uma “insuficiência”, mas como fatores primordiais
de um desenvolvimento possível e necessário, por mais defasado que se encontre de uma
proposta contextualizada. Uma amostra do potencial para este desenvolvimento pode ser
99 Vide a respeito também Amorim (1995: 187-188;193;205-206).
313
indicada nas diferenças verificadas em termos de constituição sociopolítica da localidade
em relação à sua irmã-vizinha, São Gonçalo do Rio das Pedras, e na evolução observada,
em anos recentes, no trato da comunidade com o turista.
Uma “cidade-mina”, cidade-exploração, tende a ser o oposto de uma cidade-
preservação, cidade-sustentável – necessária ao turismo. Sob esse aspecto, pode-se mesmo
dizer, até semanticamente, que o turismo seja “anti-mineiro”. E é nesse sentido que a
preocupação com as condições mais estritas de sustentabilidade fazem-se necessárias, e
também nesse sentido a idéia do turismo apresenta o potencial positivo de um contraste
com a mentalidade de uma população para quem – consideradas as condições específicas
locais, em um passado até mesmo recente – “sustentabilidade” poderia ser definida
justamente como a provisoriedade, a informalidade, a inacessibilidade e o segredo.
Não cidadãos – não-modernos – eles se ameaçam a si mesmos e, desprotegidos por
quaisquer outras instâncias, poderão sucumbir perante as forças do mercado, não somente
como competidores ultrapassados, ou relegados à condição de (sub)mão-de-obra, mas pela
própria perda da sustentabilidade turística local. Sem a adequada promoção de autonomia e
respeito às circunstâncias e ritmo locais, ao invés de promover desenvolvimento, o
estímulo à demanda e os cuidados com a infra-estrutura irão, de fato, ameaçar a
comunidade de Milho Verde, ocasionando ainda maiores problemas ecológicos e urbanos,
comprometimento da atratividade turística e exclusão social.
314
Referências
ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos[1944]. Rio de Janeiro, Zahar, 1985.
ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. A. O método nas ciências naturais esociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: P ioneira Thomson Learning, 2004.
AMORIM, M. M. Labirintos da autonomia: a utopia socialista e o imaginário emCastoriadis. Fortaleza, UFC, 1995.
ANTUNES, A. Um olhar sobre o Jequitinhonha. Brasília: mimeo, 1998.
______ . Prefácio. In: INSTITUTO TERRAZUL. Jequitinhonha: a riqueza de um vale.Belo Horizonte: Instituto Terrazul, 2006.
ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho.São Paulo, Boitempo, 1999.
ANUÁRIO EXAME. Turismo 2007-2008. São Paulo: Abril, 2007.
ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2000.
ARENDT, H. O que é política? Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1999.
ARNDT, J. R. L. ; OLIVEIRA, L. G. M. A racionalidade e a ética da ação administrativa nagestão de organizações do Terceiro Setor. In: PIMENTA, S. M.; SARAIVA, L. A. S.;CORRÊA, M. L. (orgs.) Terceiro Setor: dilemas e polêmicas. São Paulo: Saraiva, 2006.
AVRITZER, L. Teoria democrática e deliberação pública. In: Lua Nova – Revista de Cultura ePolítica, n. 50, 2000, [s. l.].
BANCO DO NORDESTE. Projeto Prodetur NE2. Disponível emhttp://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/prodetur/downloads/gerados/pdits_mg.aspAcesso em 11/09/06 20:13.
BARDIN, L. (org.) A aventura antropológica: teoria e pesquisa. São Paulo: Paz e Terra, 1986.
BARBOSA, W. A. A decadência das minas e a fuga da mineração. Belo Horizonte: UFMG,2001.
BOMFIM, M. A América Latina: males de origem [1905]. Rio de Janeiro: Topbooks, 2005.
BONSEMBIANTE, M. Estruturas postais: o funcionamento dos Correios na Província deMinas Gerais. In: Outra – Revista Eletrônica de História, n. 2, 2005. Disponível emhttp://www.revistaoutra.com.br/pdf/2/art07_02.pdf. Acesso em 17/02/07 11:20.
BOURDIEU, P.; CHAMBOREDON, J. C.; PASSERON, J. C. A profissão de sociólogo:preliminares epistemológicas. Petrópolis: Vozes, 2000.
315
BOYER, R. Alternativas ao fordismo: uma análise provisória. In: Revista Crítica de CiênciasSociais, n. 35, 1992, [s. l.].
CAILLÉ, A. Antropologia do dom: o terceiro paradigma. Petrópolis: Vozes, 2002.
CALVENTE, M. C. M. H. O impacto do turismo sobre comunidades de Ilhabela – SP.Brasília: mimeo, 1998. In: LEMOS, A. I. G. (org.). Turismo: impactos socioambientais. 3 ed.São Paulo: Hucitec, 2001.
CAMP, M. A. Gesungene Busse: Praxis und Valorisierung der Afro-brasilianischen vissungoin der Region von Diamantina, Minas Gerais. Tese de doutorado em Etnomusicologia.Zürich: Universität Zürich, 2006. Disponível emhttp://www.dissertationen.unizh.ch/2006/camp/diss.pdf. Acesso em 11/01/07 14:58.
CARRIERI, A. P. Organizações e meio ambiente: mudança cultural. In: RODRIGUES, S. B;CUNHA, M. P. (orgs.). Novas perspectivas na administração de empresas. São Paulo: Iglu,2000.
______ . Pesquisa sobre estratégia: do discurso dominante a uma nova narrativa. In:GONÇALVES, C. A.; REIS NETO, M. T.; GONÇALVES FILHO, C. (orgs.).Administração estratégica – Múltiplos enfoques para o sucesso empresarial. BeloHorizonte: CEPEAD/UFMG, 2001.
CARTA de Lanzarote. Disponível em http://www .ecobrasil.org.br/publique/media/carta_lanzarote.pdf. Acesso em 02/05/07 07:27.
CAVACO, C. Turismo rural e desenvolvimento local. In: RODRIGUES, A. A. B. (org.).Turismo e geografia: reflexões teóricas e enfoques regionais. São Paulo, Hucitec, 1996.
CÉSAR, J. R. C. Ecoturismo ou turismo rural? In: Jornal Estado de Minas, primeiro caderno,p. 9. Belo Horizonte: 16/08/06.
CHAVES, M. L. S. C.; MENEGHETTI FILHO, Í. Conglomerado Diamantífero Sopa,Região de Diamantina, MG: Marco histórico da mineração do diamante no Brasil.In: SCHOBBENHAUS, C.; CAMPOS, D. A.; QUEIROZ, E. T.; WINGE, M.; BERBERT-BORN. Sítios geológicos e paleontológicos do Brasil. Disponível emhttp://www.unb.br/ig/sigep/sitio036/sitio036.pdf. Acesso em 11/04/07 10:01.
COLLIS, J.; HUSSEY, R. Pesquisa em Administração. Porto Alegre: Bookman, 2005.
CORIOLANO, L. N. M. T. O turismo de base local e o desenvolvimento na escala humana.In: Anais do I Seminário Internacional de Turismo Sustentável. Fortaleza: EDUECE, 2003.
______ . O turismo nos discursos, nas políticas e no combate à pobreza. São Paulo:Annablume, 2006.
______ . Turismo e degradação ambiental no litoral do Ceará. In: LEMOS, A. I. G. (org.).Turismo: impactos socioambientais. 3 ed. São Paulo: Hucitec, 2001.
CRAWFORD. J. H. A brief history of urban form: street layout through the ages. Disponívelem http://www.carfree.com/papers/huf.html. Acesso em 14/02/07 11:11.
CUNHA, A. M.; MONTE-MÓR, R. L. A tríade urbana: construção coletiva do espaço,cultura e economia na passagem do século XVIII para o XIX em Minas Gerais. In:Anais do IX Seminário sobre a Economia Mineira. Diamantina: CEDEPLAR/UFMG, 2000.
316
Disponível em http://www.cedeplar.ufmg.br/diamantina2000/textos/CUNHA.PDF.Acesso em 14/02/07 11:29.
DAHRENDORF, R. O conflito social moderno: um ensaio sobre a política da liberdade. SãoPaulo: Zahar, 2001.
DUARTE, R. O segredo da Capela do Rosário de Milho Verde. Revista Interthesis – UFSC.Disponível em http://www.interthesis.cfh.ufsc.br/interthesis2/artigo4.pdf. Acesso em04/05/07 09:34.
ENRIQUEZ, E. Da horda ao Estado: psicanálise do vínculo social.Rio de Janeiro: Zahar, 1990.
ÉPOCA. A pobreza do debate: para combater a miséria não falta dinheiro. In: Revista Época,n. 417, p. 46-50. São Paulo: Globo, 15 mai 2006.
ESTADO DE MINAS. A última fronteira da África. In: Jornal Estado de Minas – CadernoGerais, p. 21, 3 jun 2001.
ESTADO DE MINAS. O Estado que nasceu do ouro. In: Ouro de Minas: 300 anos de história -Jornal Estado de Minas. Caderno especial, n. 3, p. 10, 29 mai 2005.
FARIA, C. F. Democracia deliberativa: Habermas, Cohen e Bohman. In: Lua Nova – Revistade Cultura e Política, n. 50, 2000.
FARIA, S. C. De olho nas casas da colônia. In: Nossa História, n. 16 p. 56-60. São Paulo: VeraCruz, 2005.
FIDALGO, F. S.; MACHADO, L. R. S. (orgs.). Dicionário de educação profissional. BeloHorizonte: NETE/FAE/UFMG, 2000.
FIGUEIREDO, M. P. Importância e entraves para a articulação pública: a influênciada cidadania no desenvolvimento local. In: PIMENTA, S. M.; CORRÊA, M. L. (orgs.).Gestão, Trabalho e Cidadania – novas articulações. Belo Horizonte:Autêntica/CEPEAD/FACE/UFMG, 2001.
FIGUEIREDO, S. L. Turismo e cultura: um estudo das modificações culturais no municípiode Soure em decorrência da exploração do turismo ecológico. In: LEMOS, A. I. G. (org.).Turismo: impactos socioambientais. 3 ed. São Paulo: Hucitec, 2001.
FONTELES, J. O. Turismo e impactos socioambientais. São Paulo: Aleph, 2004.
FOUCAULT, M. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. São Paulo:Martins Fontes, 1985.
______ . Segurança, território e população. In: FOUCAULT, M. Resumo dos cursos do Collègede France. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.
FREITAS, M. N. C.; NUNES, S. C. Métodos e técnicas de pesquisas em ciências sociais:método dialético, pesquisa-ação, pesquisa participante, história oral, estudo de caso ehistória de vida. A partir de material utilizado em Seminários avançados em métodos etécnicas de pesquisa, ministrado por GONÇALVES, C. A. Belo Horizonte:CEPEAD/FACE/UFMG, 2003.
FREYRE, G. Casa grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime deeconomia patriarcal [1934]. Rio de Janeiro: José Olympio, 1966.
317
FREYRE, G. Interpretação do Brasil: aspectos da formação social brasileira comoamalgamento de raças e culturas [1944]. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
FRIEIRO, E. O diabo na livraria do Cônego. Belo Horizonte: Itatiaia, 1957.
FURTADO, C. Brasil: da República oligárquica ao Estado militar. In: Brasil: temposmodernos. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
FURTADO, J. F. Chica da Silva e o Contratador de Diamantes: o outro lado do mito. SãoPaulo: Companhia das Letras, 2003.
______ . O Livro da Capa Verde: o Regimento Diamantino de 1771 e a vida no DistritoDiamantino no período da Real Extração. São Paulo: Annablume, 1996.
______ . Relações de poder no Tejuco ou Um teatro em três atos. Disponível emhttp://www.historia.uff.br/tempo/artigos_livres/artg7-6.pdf. Acesso em 11/09/2006 10:56.
GALIZONI, F. M. Migrações, família e terra no Alto Jequitinhonha, Minas Gerais. In: Anaisdo IX Seminário sobre a Economia Mineira. Diamantina: CEDEPLAR/UFMG, 2000.Disponível em http://www.cedeplar.ufmg.br/diamantina2000/textos/FLAVIA.PDF. Acesso em 14/02/07 10:23.
GALLERO, A. L. El impacto de la globalización sobre el turismo. In: RODRIGUES, A. A. B.(org.). Turismo e geografia: reflexões teóricas e enfoques regionais. São Paulo, Hucitec,1996.
GIDDENS, A. As conseqüências da modernidade [1990]. São Paulo: Universidade EstadualPaulista, 1991.
GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. In: Revista de Administração deEmpresas, v. 35, n. 3, p. 20/29. São Paulo: 1995.
GOELDNER, C. R.; RITCHIE, J. R. B.; MCINTOSH, R. W. Turismo: princípios, práticas efilosofias [2000]. 8 ed. Porto Alegre: Bookmann, 2002.
GUERRA, A.; OLIVEIRA, E. H.; SANTOS, M. Estrada Real: análise crítica das políticas deexploração turística da Estrada Real adotadas pelo Governo do Estado de MinasGerais no período de 1999 a 2003. Monografia de conclusão de especialização em Turismoe Desenvolvimento Sustentável. Belo Horizonte: IGC/UFMG, 2003. Disponível emhttp://www.almg.gov.br/bancoconhecimento/Monografias/Estrada%20Real.pdf. Acesso em 10/01/2007 09:41.
HABERMAS, J. A inclusão do outro: estudos de teoria política [1997]. São Paulo: Loyola,2002.
______ . O discurso filosófico da modernidade [1985]. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
______ . Técnica e ciência enquanto "ideologia" [1968]. In: Textos escolhidos –Benjamin, Horkheimer, Adorno, Habermas. São Paulo: Abril, 1983.
______ . The theory of communicative action. v. 1 Reason and the rationalization of society[1981]. Boston: Beacon Press, 1984.
HALL, C. M. Tourism and politics: policy, power and place [1994]. Chichester (England):Wiley, 1998.
318
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. As fundações privadas eassociações sem fins lucrativos no Brasil – 2002. 2 ed. Disponível emhttp://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/fasfil/fasfil.pdf. Acesso em 23/05/0615:19.
______ . Brasil – Climas. 1 mapa, escala 1:5.000.000. IBGE, 1978, [s. l.].
______ . Brasil – Vegetação. 1 mapa, escala 1:5.000.000. IBGE, 1970, [s. l.].
______ . Diamantina. 1 mapa, escala 1:100.000. IBGE, 1977, [s. l.].
______ . Economia informal urbana – 2003. Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/ecinf/2003/ecinf2003.pdf. Acesso em 22/05/2006 12:57.
______ . Presidente Kubitscheck. 1 mapa, escala 1:100.000. IBGE, 1977, [s. l.].
______ . Rio Vermelho. 1 mapa, escala 1:100.000. IBGE, 1977, [s. l.].
______ . Serro. 1 mapa, escala 1:100.000. IBGE, 1978, [s. l.].
INSTITUTO ESTRADA REAL. Roteiros da Estrada Real, n. 4. Belo Horizonte, 2005.
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS. Mapa geológico de Minas Gerais.1 mapa, escala 1:1.000.000. Belo Horizonte: IGA, 1998.
INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS APLICADAS. Atlas do desenvolvimentohumano no Brasil – 2003. Disponível em http://www.undp.org.br/default1.asp?par=1.Acesso em 06/05/2006 16:36.
INSTITUTO TERRAZUL. Jequitinhonha: a riqueza de um vale. Belo Horizonte: InstitutoTerrazul, 2006.
JOHNSON, A. G. Dicionário de Sociologia: guia prático da linguagem sociológica. Rio deJaneiro: Zahar, 1997.
KLEIN. E. Emprego e heterogeneidade do setor informal. In: LARANGEIRA, S. (org.).Classes e movimentos sociais na América Latina. São Paulo: Hucitec, 1990.
KRIPPENDORF, J. Sociologia do turismo [1985]. 2ed. São Paulo, Aleph, 2001.
LANNA, M. F. A. Comunidade hippie em São Gonçalo do Bação – Minas Gerais. Monografiade conclusão de graduação em Sociologia. Belo Horizonte: UFMG, 2002.
LAUTIER, B. Les travalleurs n’ont pas la forme: informalité des relations de travail etcitoyenneté em Amerique Latine. In: LAUTIER, B.; MIRAS, C.; MORICE, A. L’Etat etl’informel. Paris: L’Harmattan, 1991.
______ . O leopardo e a pantera escocesa: mundialização, eclosão espacial e fragmentaçãoespacial nas metrópoles latino-americanas. In: Revista de Administração da FEAD, v. 1,n. 2. Belo Horizonte: FEAD, 2004.
LUDKE, M.; ANDRÉ, M. A. Pesquisas em educação: abordagens qualitativas.São Paulo: EPU, 1986.
LUKÁCS, G. A consciência de classe. In: SCHAFF, A. Sobre o conceito de consciência declasse. Porto: Escorpião, 1973.
319
LUNA, F. V. Minas Gerais: escravos e senhores. Análise da estrutura populacional eeconômica de alguns núcleos mineratórios (1718-1804).Tese de doutorado em Economia. São Paulo: USP, 1980. Disponível emhttp://www.brnuede.com/pesquisadores/paco/pdf-paco/li2.pdf.Acesso em 11/09/2006 10:58.
MAESTRI, M. O escravismo no Brasil. São Paulo: Atual, 1994.
MANNHEIM, K. O homem e a sociedade: estudos sobre a estrutura social moderna. Rio deJaneiro: Zahar, 1962.
MARCUSE, H. A ideologia da sociedade industrial: o homem unidimensional. Rio de Janeiro:Zahar, 1979.
______ . Eros e civilização: uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. Rio deJaneiro: Zahar, 1969.
MARSHALL, G. The concise Oxford dictionary of Sociology. New York: Oxford UniversityPress, 1996.
MARTINS, M. L. A crise da mineração e os negócios do diamante no Nordeste de Minas,1870-1910. Disponível em http://www.cedeplar.ufmg.br/diamantina2004/textos/D04A054.pdf. Acesso em 28/02/07 21:12.
______ . A presença da fábrica no “Grande Empório do Norte”: surto industrial emDiamantina entre 1870 e 1930. In: Anais do IX Seminário sobre a Economia Mineira.Diamantina: CEDEPLAR/UFMG, 2000. Disponível emhttp://www.cedeplar.ufmg.br/diamantina2000/2000/MARTINS.pdf. Acesso em 14/02/0711:50.
MARTINS, P. H. Prefácio. In: MARTINS, P. H. (org.). A dádiva entre os modernos: discussãosobre os fundamentos e as regras do social. Petrópolis: Vozes, 2002.
MARX, K. Formações econômicas pré-capitalistas. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
MARX, K. O capital. Livro I – O processo de produção do capital, v.2 [1867]. Rio de Janeiro:Civilização Brasileira , 1968.
MATA MACHADO FILHO, A. M. Arraial do Tijuco, cidade Diamantina. 3 ed. São Paulo:Itatiaia/EDUSP, 1980.
______ . O negro e o garimpo em Minas Gerais [1938]. São Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1985.
MATOS, O. C. F. A Escola de Frankfurt: luzes e sombras do Iluminismo. São Paulo:Moderna, 1993.
MATOS, R. Populações do Vale do Jequitinhonha e movimentos migratórios. In: Anais do IXSeminário sobre a Economia Mineira. Diamantina: CEDEPLAR/UFMG, 2000. Disponívelem http://www.cedeplar.ufmg.br/diamantina2000/textos/RALFO.PDF. Acesso em 14/02/0711:45.
MATTOS, C. L. G. A abordagem etnográfica na investigação científica. Rio de Janeiro: UERJ,2001.
MAWE, J. Viagem ao interior do Brasil [1812]. São Paulo: Itatiaia/EDUSP, 1978.
320
______ . A map of the author’s route. 1 mapa. In: Travels in the Interior of Brazil, particularly inthe Gold and Diamond Districts of that Country [1812]. Disponível emhttp://purl.pt/103/1/catalogo-digital/registo/263/263_ds_xix_137_f137.jpg. Acesso em02/01/07 08:29.
MAXWELL, K. A devassa da devassa – a Inconfidência Mineira: Brasil e Portugal 1750-1808. 6 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005.
MENDONÇA, R. Turismo ou meio-ambiente: uma falsa oposição? In: LEMOS, A. I. G. (org.).Turismo: impactos socioambientais. 3 ed. São Paulo: Hucitec, 2001.
MENESES, J. N. C. Produção de alimentos e atividade econômica na Comarca do Serro Friono século XVIII. In: Anais do IX Seminário sobre a Economia Mineira. Diamantina:CEDEPLAR/UFMG, 2000. Disponível em http://www.cedeplar.ufmg.br/diamantina2000/textos/MENESES.PDF. Acesso em 14/02/07 11:25.
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Programa Agenda 21. Disponível emhttp://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18Acesso em 27/08/06 17:23.
MINISTÉRIO DO TURISMO. Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo, n. 2,mar 2006. Disponível em http://200.189.169.141/site/arquivos/dados_fatos/pesquisaanual/janeiro_2006_ano_ii_2_30_06_06.pdf. Acesso em 23/01/07 15:10.
MONTAÑO, C. Terceiro Setor e questão social: crítica ao padrão emergente de intervençãosocial. São Paulo: Cortez, 2003.
MRS Estudos Ambientais. Plano de gestão da APA das Águas Vertentes – Resumo dodiagnóstico preliminar. Brasília: mimeo, 2005.
NASCIMENTO, M. Caçador de mim. Álbum fonográfico. Rio de Janeiro: BMG Ariola, 1981.
______ . Sede do peixe. Vídeo digital. Rio de Janeiro: EMI, 2004.
OFFE, C. Capitalismo desorganizado [1985]. São Paulo: Brasiliense, 1995.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO. Desenvolvimento sustentável do turismo: umacompilação de boas práticas. São Paulo: Roca, 2005.
PANG, E. S. Coronelismo e oligarquias – 1889-1943: a Bahia na Primeira Repúblicabrasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979.
PAOLI, M. C. Empresas e responsabilidade social: os enredamentos da cidadania no Brasil.In: SANTOS, B. S. (org.). Reinventar a emancipação social para novos manifestos, v. 1,Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro:Civilização Brasileira , 2003.
PARKER, B. Evolução e revolução: da internacionalização à globalização. In: CLEGG, S. R.;HARDY, C.; NORD, W. R. (orgs.). Handbook de estudos organizacionais, v. 1. São Paulo:Atlas, 1999.
PEREIRA FILHO, J. C. Família Cunha Pereira em Milho Verde [1993]. 2 ed. 2006.Disponível em http://www.geocities.com/jorgecpf/MVParte1.pdf. Acesso em 12/10/0710:39.
321
PIMENTA, S. M.; Le tournant de la Fiat mineira. Tese de doutorado. Université Paris I,Panthéon Sorbonne, Institut D’Étude du Développemnt Économique et Social. Paris:Septentrion, 1996.
______ . Trabalho e cidadania: as possibilidades de uma (re)construção política. In:PIMENTA, S. M.; CORRÊA, M. L. (orgs.). Gestão, Trabalho e Cidadania – novasarticulações. Belo Horizonte: Autêntica/CEPEAD/FACE/UFMG, 2001.
PIMENTA, S. M.; CORRÊA, M. L. Novos olhares sobre gestão, trabalho e cidadania: aspossibilidades de outras articulações – cap. de Apresentação, p. 9-18. In: PIMENTA, S.M.; CORRÊA, M. L. (orgs.). Gestão, Trabalho e Cidadania – novas articulações. BeloHorizonte: Autêntica/CEPEAD/FACE/UFMG, 2001.
______ . Terceiro Setor, Estado e cidadania: (re)construção de um espaço político? In:PIMENTA, S. M.; SARAIVA, L. A. S.; CORRÊA, M. L. (orgs.) Terceiro Setor: dilemas epolêmicas. São Paulo: Saraiva, 2006.
PINHEIRO, E. P. A história urbana atavés do desenho e do projeto da cidade. In: XIVCongreso Internacional de Ingeniería Gráfica. Santander: 2002. Disponível emhttp://departamentos.unican.es/digteg/ingegraf/cd/ponencias/314.pdf.Acesso em 14/02/07 – 11:04.
PIVA, A. et al. Os cantos sagrados de Milho Verde. Catálogo de divulgação do projetoTradição dos Cantos Sagrados de Milho Verde. Milho Verde: edição dos autores, 2007.
QUENTAL, A. Causas da decadência dos povos peninsulares [1871]. Disponível emhttp://www.arqnet.pt/portal/discursos/maio_julho01.html. Acesso em 23/09/06 17:43.
RAMOS, G. Administração e o contexto brasileiro – Esboço de uma teoria geral daadministração. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1983.
RIFKIN, J. Identidade e natureza do terceiro setor. In: IOSCHPE. E. B. (org.) Terceiro Setor:desenvolvimento social sustentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
______ . O fim dos empregos: o declínio inevitável dos níveis dos empregos e a redução daforça global de trabalho. São Paulo: Makron, 1995.
ROCHA, J. J.; RESENDE, M. E. F. Geografia histórica da Capitania de Minas Gerais.Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1995.
RODRIGUES, A. B. Ecoturismo: limites do eco e da ética. In: RODRIGUES, A. B. (org.).Ecoturismo no Brasil: possibilidades e limites. São Paulo: Contexto, 2003.
ROSA, J. G. Grande Sertão: Veredas [1956]. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.
RUSCHMANN, D. Turismo no Brasil: análise e tendências. São Paulo: Manole, 2002.
SAINT-HILAIRE, A. Viagem pelo Distrito dos Diamantes e pelo litoral do Brasil [1830]. SãoPaulo: Itatiaia/EDUSP, 1974.
SANTIAGO, L. Serro: política, geografia e cultura. In: O vale dos boqueirões: história do Valedo Jequitinhonha, v. 3. Belo Horizonte: Morada Santiago, 2006.
SANTOS, B. S. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 7 ed. São Paulo:Cortez, 2000.
322
SANTOS, B. S.; AVRITZER, L. Introdução: para ampliar o cânone democrático.In: SANTOS, B. S. (org.). Reinventar a emancipação social para novos manifestos, v. 1,Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro:Civilização Brasileira , 2003.
SANTOS, B. S.; RODRÍGUEZ, C. Introdução: para ampliar o cânone da produção.In: SANTOS, B. S. (org.). Reinventar a emancipação social para novos manifestos, v. 2,Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro: CivilizaçãoBrasileira, 2005.
SANTOS, J. F. Memórias do Distrito Diamantino da Comarca do Serro Frio [1864]. 4 ed. SãoPaulo: Itatiaia/EDUSP, 1976.
SATHLER, E. Tropeiros e outros viajantes. Niterói: PPGSD/UFF, 2003.
SIEBENEICHLER, F. B. Razão comunicativa e emancipação. Rio de Janeiro: TempoBrasileiro, 2003.
SILVA, F. M. Estratégias de mercado e abastecimento alimentar em Minas Gerais no séculoXVIII. In: Anais do IX Seminário sobre a Economia Mineira. Diamantina:CEDEPLAR/UFMG, 2000. Disponível em http://www.cedeplar.ufmg.br/diamantina2000/textos/SILVA.PDF. Acesso em 14/02/07 11:26
SILVA, T. C. União Geral de Cooperativas em Moçambique: um sistema alternativo deprodução? In: SANTOS, B. S. (org.). Reinventar a emancipação social para novosmanifestos, v. 2, Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio deJaneiro: Civilização Brasileira, 2005.
SINGER, P. A recente ressurreição da economia solidária no Brasil. In: SANTOS, B. S. (org.).Reinventar a emancipação social para novos manifestos, v. 2, Produzir para viver: oscaminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
SODRÉ, N. W. Formação histórica do Brasil. 3 ed. São Paulo: Urupês, 1964.
SOUZA, L. M. Norma e conflito: aspectos da história de Minas no século XVIII. BeloHorizonte: UFMG, 1999.
______ . Opulência e miséria das Minas Gerais. São Paulo: Brasiliense, 1997.
SOUZA, M. M. Reis negros no Brasil: história da festa da coroação de Rei Congo. BeloHorizonte: Editora UFMG, 2002.
SPIX, J. B.; MARTIUS, C. F. P. Viagem pelo Brasil: 1817-1820 [1828]. Belo Horizonte:Itatiaia, 1981.
SROUR, R. H. Formas de gestão: o desafio da mudança. In: Revista de Administração deEmpresas, v. 34 n. 4 p. 31-45. São Paulo, 1994.
STARLING, H. M. M. A estrada de Minas. In: Margem-Márgenes – Revista de Cultura, n. 5 p.24-35. Belo Horizonte, 2004.
______ . Lembranças do Brasil: teoria, história e ficção em Grande Sertão: Veredas. Rio deJaneiro: Revan/UCAM/IUPERJ, 1999.
______ . (coord. geral) Visionários – Minas Gerais. Mídia digital interativa. CD-ROM. BeloHorizonte: UFMG, 2006.
323
STEVANATO, L. A. Um estudo sobre a construção da identidade social dos profissionais dee-business. Tese de doutorado. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade –USP. São Paulo: mimeo, 2004.
SWARBROOKE, J. Setor público e cenários geográficos. In: Turismo sustentável, v. 3. SãoPaulo, Aleph, 2000.
______ . Turismo cultural, ecoturismo e ética. In: Turismo sustentável, v. 5. São Paulo, Aleph,2000.
TELLES, V. S. Questão social e cidadania. XV Encontro Anual da ANPOCS. Caxambu: mimeo ,1991.
______ . Sociedade, cidadania e poder local. Material preparatório ao Encontro Estado-Sociedade– Instituto Pólis. Rio de Janeiro: mimeo, 1993.
TEODÓSIO, A. S. S. Por uma agenda crítica de estudos sobre Terceiro Setor: um ensaiocrítico para além da crítica. In: IntegrAção, n. 54, set 2005. Disponível emhttp://integracao.fgvsp.br/ano8/09/administrando.htm. Acesso em 24/05/06 12:45.
TEODÓSIO, A. S. S.; RESENDE, G. A. Desvendando o Terceiro Setor: trabalho e gestão emorganizações não-governamentais. In: NABUCO, M. R., CARVALHO NETO, A. (org).Relações de Trabalho Contemporâneas. Belo Horizonte: IRT/ PUC – MG, 1999.
THIOLLENT, M. Crítica metodológica, investigação social e enquete operária. São Paulo:Pólis, 1985.
TOFANI, F. P. Os desafios do desenvolvimento turístico sustentável em comunidadestradicionais frágeis. In: Topos – Revista de Arquitetura e Urbanismo, v. 1 n. 2 p. 13-25.Belo Horizonte: NPGAU/UFMG, 2004.
VERGARA, S. C. Métodos de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 2005.
______ . Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 2005.
VIEIRA, A. As lágrimas de Heráclito. São Paulo: Editora 34, 2001.
WEBER, M. A ética protestante e o espírito do capitalismo [1905]. São Paulo: P ioneira, 1996.
______ . Economia y sociedad: esbozo de sociologia comprensiva [1922], v. 1. Mexico: Fondode Cultura Econômica, 1964.
______ . Staatssoziologie [1956]. Berlin: Duncker & Humblot, 1956.
YABLONSKY, L. The hippie trip. USA: Penguin, 1973.
YIN, R. K. Estudo de caso – planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2001.
324
Índice de quadros e figuras
Quadro 1 Codificação e dados de entrevistas e entrevistados, 28
Figura 1 Delimitação aproximada da Comarca do Serro,e trajeto de acesso à região diamantina, 45
Figura 2 A delimitação do Distrito Diamantino,segundo o mapa da viagem de Mawe, 48
Figura 3 Campo de altitude, 55
Figura 4 Terreno rochoso, 55
Figura 5 Condicionantes econômicas e geográficas parao isolamento do Vale do Jequitinhonha, 58
Figura 6 Mapa topográfico da região de Milho Verde e São Gonçalo,com o trajeto do antigo caminho, 62
Figura 7 Mapa topográfico dos arredores de Milho Verde, 82
Figura 8 Possibilidades de uso do solo nos arredores de Milho Verde, 82
Figura 9 Posicionamento periférico de Milho Verde em duas regiõescom distintas vocações econômicas, 96
Figura 10 Centralidade de Milho Verde com relação ao itinerário entreSerro e Diamantina e com relação ao acesso a esse itineráriopor parte de pequenas localidades dos arredores, 97
Figura 11 Modificações viárias que desarticularam e tornaram redundanteo antigo caminho entre Serro e Diamantina, 99
Figura 12 Modificações viárias que desarticularam o antigo caminhode tropeiros para o Vale do Jequitinhonha, 100
Figura 13 Ambiguidades e polaridades sociais, políticas e econômicasexperienciadas por Milho Verde ao longo de sua história, 119
Figura 14 Aspecto tradicional das habitações e arruamentos I, 133
Figura 15 Vista a partir da Bocãina, 134
Figura 16 Aspecto tradicional das habitações e arruamentos II, 135
Figura 17 Largo do Rosário, 136
Figura 18 Modificações nas atividades econômicas, fracionamentodos imóveis e concentração da população na área urbana, 138
Figura 19 Pecuária em campo de altitude, 140
Figura 20 Rebaixamento do lençol freático, eliminação da vegetação ciliar,higrófila e aquática, e assoreamento e erosão da Várzea, 141
325
Figura 21 Traçado aproximado de ruas, localização dos empreendimentosturísticos e de prédios e sítios de interesse turistico, e delimitaçãoaproximada das grandes propriedades urbanas, 143
Figura 22 Movimentos de expansão urbana, 145
Figura 23 Trajetos do antigo caminho e da rodovia atualem relação à área urbana, 147
Figura 24 Contraposição entre urbanização radial e axial, 148
Figura 25 Ocupação de área de preservação I, 150
Figura 26 Ocupação de área de preservação II, 150
Quadro 2 Cronologia de eventos significativos da evoluçãosocial e econômica da região de Milho Verde, 161
Figura 27 Igreja de Nossa Senhora do Rosário, 162
Quadro 3 Estimativas gerais do turismo em Milho Verde, 173
Quadro 4 Características dos empreendimentos em Milho Verderelacionados ao turismo, 201
Figura 28 Placa rodoviária de indicação de atrativos ao longodos trajetos do roteiro turístico Estrada Real, 218
Figura 29 Iconografia utilizada na logomarca do roteiro turísticoEstrada Real e do Instituto Estrada Real, 219
Figura 30 Placas em via pública de Milho Verde, 233
Figura 31 Terraplenagem do campo de futebol comunitário, 234
Figura 32 Ocupações e construções em área de preservação I, 235
Figura 33 Ocupações e construções em área de preservação II, 235
Figura 34 Ocupações e construções em área de preservação III, 235
Figura 35 Ocupações e construções em área de preservação IV, 235
Figura 36 Ocupações e construções em área de preservação V, 235
Figura 37 Ocupações e construções em área de preservação VI, 235
Figura 38 Construção em moldes não tradicionais, 236
Figura 39 Vista a partir do Morro do Cruzeiro I, 237
Figura 40 Vista a partir do Morro do Cruzeiro II, 237
Figuras 41 Vista a partir do Morro do Cruzeiro III, 237
Quadro 5 Diferenças de resposta aos impactos turísticos nascomunidades de Milho Verde e São Gonçalo, 239
326
Figura 42 Prognóstico e análise das condições de sustentabilidadepara a economia do turismo em Milho Verde, comodecorrências de fatores histórico-formacionais, e em meio asolicitações econômicas e sociais a serem determinadas peloincremento da demanda em propostas de desenvolvimentoplanificado do turismo, 273
Quadro 6 Influências entre sociedade tradicional eracionalização dos modos de produção, 287
Figura 43 Instrumentalização de manifestações culturais tradicionais I, 288
Figura 44 Instrumentalização de manifestações culturais tradicionais II, 288
Figura 45 Instrumentalização de manifestações culturais tradicionais III, 288
Figura 46 Preparações para o Cortejo de Encerramentode um Encontro Cultural, 300
Figura 47 Preparativos para uma sessão de audiovisualem espaço comunitário, 301
Figura 48 Largo do Rosário, na confraternização de encerramentode um evento cultural, 302
Anexo Ampliação do mapa topográfico (constante na Figura 6), 332
327
Glossário
AltiplanoÉ comum encontrar em toda a região do Espinhaço topos de elevações e de serranias, bem como fundos devales que sejam mais aplainados, conformando às vezes uma espécie de tabuleiro ou planalto. Nessesterrenos, os cursos d’água costumam correr relativamente horizontais e pouco escavados na rocha, durantelongos trechos, para só então acentuarem o declive. São os chamados pediplanos, vestígios de superfíciesgeológicas antigas, presentes em geral no interior da cordilheira do Espinhaço e que, à medida que sãoerodidos pelos cursos d’água, dão lugar ao relevo montanhoso de desníveis abruptos (MRS 2005: 8). Ogrande terreno plano em cuja extremidade situa-se Milho Verde, embora bastante recoberto de sedimentos,não é uma planície aluvional, mas sim um tipo específico de platô com essa conformação. Muitos dos antigosnúcleos mineradores da região de Diamantina situam-se nesses terrenos planos, podendo ser citados São Joãoda Chapada, Guinda e Datas como exemplos. E, se comparada a Ouro Preto ou ao Serro, por exemplo, pode-se dizer que Diamantina também goza do benefício de ocupar um sítio bastante mais plano, com vantagensdo ponto de vista urbanístico.
Área de Proteção Ambiental das Águas Vertentes
A APA das Águas Vertentes é uma Unidade de Conservação Estadual, gerenciada pelo Instituo Estadual deFlorestas – IEF/MG. Destina-se à preservação de uma importante região de nascentes à volta do ParqueEstadual do Pico do Itambé (o pico está situado a aproximadamente 18 km a nordeste de Milho Verde).Dentre uma longa lista, podem ser mencionados alguns dos impactos ambientais sofridos por esta área: oassoreamento e a escavação decorrentes do garimpo, a colheita de sempre-vivas e orquídeas, o desmatamentopara o suprimento de carvoarias, as queimadas para renovação de pastos e o turismo desordenado (MRS,2005: 5). Toda o entorno das áreas urbanas de Milho Verde e São Gonçalo do Rio das Pedras está contidonesta área de proteção, até o limite da margem esquerda (leste/norte) do Jequitinhonha.
Arraial
Comentando a importância da religiosidade na formação da cultura urbana das Minas coloniais, Cunha eMonte-Mór esclarecem, com relação à origem do termo arraial, que “em Portugal, este é o nome que se dá aoacampamento, à reunião festiva da população, por ocasião das romarias” (2000: 317). Citando Murillo Marx,acrescentam que todo o território da Capitania era considerado potencialmente minerífero, e portantoqualquer lugar poderia vir a ser objeto de uma concessão, por parte da Coroa, para alguma empresa exclusivade exploração (estes territórios concedidos eram denominados datas). Assim, os faiscadores acampados àvolta de um ribeirão, visando garantir o espaço de suas construções, solicitavam terras à Coroa paraconstruírem uma capela (situada em geral no morro acima das lavras), e uma subseqüente autorização parahabitarem à volta, havendo sido esta a origem de grande parte dos arraiais (MURILLO MARX apudCUNHA e MONTE-MÓR, 2000: 308).
CatopêsOs Catopês são um dos grupos de tradições culturais religiosas locais afiliados à Irmandade do Rosário doSerro. Integram também esta Irmandade os grupos de Marujos e Caboclos, configurando-se nestes três aprópria formação racial – que mescla negros, portugueses e indígenas, respectivamente – da populaçãoregional. Os rituais da Irmandade incluem apresentações conjuntas dos grupos durante a celebração dasFestas do Rosário, que diferem no calendário para as diversas localidades, perfazendo assim um itinerário deapresentações na região ao longo do ano. A rica tradição de cantos e rituais das guardas de Nossa Senhora doRosário em Milho Verde, transmitida oral e auralmente ao longo dos séculos, é objeto de uma iniciativalocal, subsidiada pelo Ministério da Cultura, para preservação deste patrimônio cultural (vide PIVA et al,2007). A iniciativa se dá no âmbito da Associação Cultural e Comunitária do Catopê e da Marujada de MilhoVerde e Adjacências – ACMVA, e conta com a participação de músicos e pesquisadores que são membrosnaturais e adventícios da comunidade.
328
Coartação
Laura de Mello e Souza demonstra que a alforria é um fenômeno complexo e que, para o aprofundamento desua compreensão, devem ser considerados também os interesses da classe dominante escravista, que utilizavaa alforria como “um mecanismo de defesa capaz de atenuar suas perdas em época de crise” (SOUZA, 1999:153, 1997: 46-47). A autora salienta que é nesse contexto que se deve buscar compreender a coartação,prática pouco freqüente na colônia brasileira, mas relativamente usual na região a um só tempo mineradora eurbana das Minas. Em geral, o sistema de coartação consistia na emissão de uma Carta de Corte, documentoque concedia ao escravo direitos de atuar no mercado de trabalho, até mesmo distante fisicamente de seusenhor, para que buscasse os meios para a aquisição de sua Carta de Alforria (SOUZA, 1999: 156-157).
Coronelismo
Eul-Soo Pang define coronelismo como um “[...] exercício do poder monopolizante [...] cuja legitimidade eaceitação se baseiam [no] status de senhor absoluto, e nele se fortalecem, como elemento dominante nasinstituições sociais, econômicas e políticas [...] [Baseava-se na] hábil utilização do poder privado acumuladopelo patr iarca de um clã ou uma família mais extensa” (1979: 20-21). Pang esclarece também que, aocontrário do que comumente se crê, a origem do termo é anterior à Guarda Nacional (1832-1930), havendosido denominado coronel um posto militar das antigas milícias coloniais do fim do séc. XVIII (1979: 19-26,SANTIAGO, 2006: 10). O coronelismo tem suas raízes na prática do senhorio absoluto que o fazendeiroportuguês dos primórdios coloniais exercia dentro dos limites de sua propriedade. Representou, durantemuito tempo, um Estado informal no sertão: exercido, de forma geral, no âmbito da própria demarcaçãoterritorial municipal, consolidou-se, e depois declinou, no decorrer do extenso período de indefinição einstabilidade política que antecedeu e sucedeu à transição do governo monárquico ao republicano (PANG,1979: 7;9;21-22;31). Celso Furtado (1977) descreve, com relação ao período do Império, que após aIndependência os setores rurais tenderam ao isolamento e à estagnação política: “Ao iniciar-se a épocarepublicana (1989), quase três quartos de século após a proclamação da independência política, a sociedadebrasileira em quase nada se diferenciava da que fôra estruturada nos três séculos de vida colonial.” Furtadoaponta que o papel das “oligarquias feudais” na consolidação da República, e na industrialização emodernização, contribuiu, de uma certa forma, para fortalecê-las. Essa consolidação, em temposrepublicanos, do poder dos “grupos semifeudais” do Sudeste só seria revertida após a crise mundial do caféem 1930 (1977: 3;7;9) Por volta de 1950, o coronelismo encontrava-se já bastante superado no centro-sul.Em muitas outras regiões brasileiras, entretanto, manifestam-se ainda claramente as articulações políticas depoderes oligárquicos territorialmente fundados.
Economia de subsistênciaMeneses adota a seguinte conceituação de subsistência: “O sistema de organização da agriculturadenominado ‘de subsistência’ implica objetivos restritos de assegurar a vida do agregado humano, mediante aobtenção de alimentos e outros bens essenciais, na quantidade estritamente necessária” (BARROS apudMENESES, 2000: 134). Meneses complementa o conceito com mais algumas asserções: “A relação daunidade produtiva com o grupo humano é de laços estreitos, formando um todo inseparável. A ação produtivae o consumo se confundem, havendo apenas algumas trocas (escambo), principalmente de prestação deserviços artesanais. Inexiste a relação de quem produz com o mercado de seus produtos, o mesmo ocorrendocom o mercado de fatores de produção. No sistema de subsistência, ainda, está ausente o cálculo econômicointelectualizado e o custo de produção é simples, havendo apenas a medição do trabalho em unidade detempo” (MENESES, 2000: 134).
Escravatura no Distrito DiamantinoEm contingentes que chegaram a mais de 5.000 indivíduos nos tempos da Real Extração, e provavelmentebastante mais em alguns períodos da Intendência, a mão-de-obra escrava compôs, durante a exploração dediamantes no séc. XVIII, a maioria absoluta dos habitantes do Distrito. Aires da Mata Machado Filho relataque, por ocasião da Abolição, a quantidade de libertados em Diamantina era das maiores do país. Porém,acompanhando a média geral brasileira, a população de escravos reduziu-se, na região de Diamantina, depouco mais que a metade da população total, em meados do séc. XVIII, para aproximadamente 20% noterceiro quartil do séc. XIX. Dos 800.000 brasileiros libertados pela Lei Áurea, 230.000 encontravam-se emMinas Gerais (1985: 28-31, MARTINS, 2000: 284-285). Francisco Vidal Luna, discorrendo sobre a estruturapopulacional de alguns centros mineradores ao longo da história, indica que, à época da decadência daslavras auríferas (final do séc. XVIII), já era grande a proporção de escravos nascidos no Bras il, em
329
contraposição aos de origem africana (1980: 95), uma tendência que foi acentuada no decurso do séc. XIX(vide a respeito também MAXWELL, 2005: 300-302).
Historiografia do Distrito Diamantino
Cumpre observar que a obra de Joaquim Felício dos Santos, Memórias do Distrito Diamantino [1864],fartamente ilustrada com dados históricos, e indispensável para o conhecimento deste período, é dotadaporém de um certo ar épico, nacionalista e folhetinesco, e de um forte acento contra-ideológico da militânciarepublicana (política, intelectual e jornalística) do autor, no contexto do reinado de Pedro II. Referindo-se aoDistrito à época da Real Extração, em que vigorou o Regimento Diamantino, Júnia Ferreira Furtado pondera:“A história local não se limita à execução de uma legis lação perversa, formulada por impiedosos legisladorese ampliada pelo autor itarismo dos administradores. O espaço da diversidade e do conflito estiveram semprepresentes e é a estes que se deve agora dar voz” (1996: 219). Justamente neste ponto cumpre fazer justiça aFelício dos Santos, que foi quem, mais do que nenhum outro autor, relatou detalhadamente o conflito socialdiamantino, com abundante factuidade e uma viva descrição das atribulações dos garimpeiros (1976: 49-295).Alguns autores referem-se a uma revisão, empreendida pela historiografia atual, de uma caracterizaçãoanterior, e ultrapassada, de um absoluto impedimento a atividades econômicas quaisquer que não amineração no interior do Distrito (MARTINS, 2000: 283, MENESES, 2000: 130;131). Essa reavaliação teriapartido de questionamentos propostos por Júnia Furtado, em ultima análise com relação ao rigor e caráterexclusivo do Regimento Diamantino (FURTADO, 1996). Como assinala Furtado, a severidade daadministração diamantina caracterizaria não uma máquina de absoluta eficiência fiscal colonial, e sim, maisuma incapacidade da Coroa em implementar uma efetiva fiscalização e repressão sobre a clandestinidade.Portanto, uma “impotência”, e não uma “potência”. Assim, a autora aponta que o Regimento Diamantinoconstituiu-se por meio de uma compilação de legislações anteriores, já aplicadas a toda a Capitania dasMinas. Demonstrou também, endossada neste ponto por Meneses, a diversificação das atividades econômicasno interior do Distrito (MENESES, 2000: 124-126;130-131;135, FURTADO, 1996: 135-138;146), e umaarticulação produtiva organizada e inclusive oficialmente fiscalizada (FURTADO, 1996: 140-142; 149-151).Furtado mostrou ainda que o efeito da repressão policial recaía na verdade, especificamente, muito maissobre a massa de trabalhadores escravos e de desclassificados sociais (1996: 77;90;111). Parece sernecessário, porém, salientar que Furtado demonstra ser cautelosa quanto a uma interpretação radicalmentecontrária à tradicional, e estabelece moderações e senões ao que seria uma avaliação inversa, por assim dizer,de “inefetividade repressiva” no contexto diamantino. Assim, a partir da análise detalhada de documentosoficiais, a autora apresenta um contexto sociopolítico e sócio-econômico mais “descolorido” do que oapresentado por Felício dos Santos, mas não o revoga (SANTOS, 1976: 47;61;70;72). Júnia Furtado aindarefere-se ao Regimento Diamantino como “autoritário e excludente” (1996: 97;183), descreve a repressãopolicial como rigorosa e abusiva (1996: 80), e decerto mais rigorosa do que no restante da Colônia (1996:107-110). Reconhece que as restrições à residência e livre entrada no Distrito ocasionaram dif iculdadesquanto ao aproveitamento do potencial agrário local, bem como a necessidade de abastecimento por produtosvindos de outras regiões (1996: 139-143).Aportes como o de Furtado e de Meneses esclarecem definitivamente sobre se a população diamantina estavaou não engajada em atividades outras que não a mineração. Estava. Porém, além de ser talvez impossívelavaliar o quanto se dependia do abastecimento externo, basta nesse ponto atentar para os relatos dos antigosviajantes, que descreviam a obviedade de uma economia estagnada, imediatamente aparente a eles. Ou, comofoi bastante empreendido pelo presente pesquisador, recorrer à observação pura e simples da natureza agreste– e da escassa atividade rural – no entorno de Diamantina, em todas as direções, com poucas exceções,dentro do que era a antiga Demarcação. O modelo repressivo da administração do Distrito, quereconhecidamente excedia o que era o convencional na Capitania das Minas, era uma decorrência lógica daextrema atratividade do produto diamantino, e da política colonial de cerceá-lo em um monopólio absoluto.Nesse contexto, a não inclusão dos grupos sociais intermediários entre os de senhores e escravos naeconomia direta da extração teria s ido, a um só tempo, um remédio e um mal para a clandestinidade. Desteimpasse, inevitavelmente, resultou o reforço do aparato repressor – no fim de contas, apenas umrecrudescimento do modelo básico da administração colonial.Referindo-se ao contexto social e econômico amplo da Comarca do Serro, e às classes sociais excluídas daeconomia da mineração, e também fazendo objeção à tese de que a mineração, mais rentável e absorvedorada mão-de-obra escrava, desestimularia a agropecuária no território das Minas, o historiador José NewtonCoelho Meneses descreve: “Nesse meio histórico, se instalam os produtores de alimentos que tinham suaorigem e suas atividades marcadas, igualmente, por essa diversidade. Podiam não ser agricultores ou
330
lavradores exclusivos, mas tinham na agricultura uma possibilidade sem par de ganhar a vida, de participardessa organização como peça de sua estrutura. Exemplar dessa capacidade de organização da população é oArraial do Tejuco, o centro dinâmico dessa economia. Sob o escudo do Regimento Diamantino e da opressãofiscal, legal e social dele decorrente, essa população crescente e vigorosa soube construir sua sobrevivência ese organizar. Essa organização ou ordenação me parece ser uma característica marcante da estrutura social[da Comarca do Serro]” (2000: 124 – vide também FURTADO, 1996: 111).
Índice de Desevolvimento HumanoO Índice de Desenvolvimento Humano, estabelecido pelo Programa das Nações Unidas para oDesenvolvimento – ONU/PNUD em 1990, provê, a partir de dados censitários relativos a demografia(população, mortalidade, gênero, natalidade, distribuição etária, distribuição entre zona urbana e rural),educação (analfabetismo, nível de escolaridade, relação entre faixa etária e acesso ao ensino), renda (nível edistribuição, desigualdade, níveis de pobreza), habitação (acesso a bens e serviços básicos – energia elétrica,água tratada, telefonia, coleta de lixo, posse de veículo e de utensílios domésticos – e condições de posse dosdomicílios), e vulnerabilidade social (níveis de mortalidade, níveis de escolaridade, acesso a serviços desaúde e educação, composição familiar), parâmetros indicativos e comparativos das condições de vida e dedesenvolvimento social para uma determinada região. É apresentado como uma fração, em que o índicemáximo seria o algarismo inteiro, 1, e o mínimo seria 0 (DUARTE e GUEDES in FIDALGO e MACHADO,2000: 186-87). Exemplos: o maior IDH entre os municípios brasileiros, pelo censo de 2000, pertence a SãoCaetano do Sul, no Estado de São Paulo (0,919), e entre os 100 maiores IDHs municipais do Brasil, apenasPoços de Caldas (68º, com 0,841), São Lourenço e Belo Horizonte (76º e 77º, com 0,839) estão em MinasGerais (IPEA, 2003).
Políticos proeminentes do Serro e de DiamantinaOs cadinhos culturais urbanos do Serro e de Diamantina foram berço de importantes líderes progressistas erepublicanos. Essa vitalidade política parece ter evanescido juntamente com as condições que alimentavam aseconomias urbanas de ambas as cidades, a saber, a mineração de diamantes, e a compartimentação regionalda economia, prevalecentes durante o séc. XIX e primeira metade do séc. XX. Das duas cidades provierampersonagens de grande projeção no cenário nacional – revolucionários, legis ladores, presidentes e,observando-se uma peculiaridade, construtores de novas cidades e capitais. Partindo da utópica NovaFiladélfia do serrano Teófilo Otoni, passando pela Belo Horizonte de João Pinheiro, também serrano, atéchegar-se à Brasília do diamantinense Juscelino Kubtischeck, percorre-se uma sucessão de idealizados novosespaços para um devir republicano, erigidos como sinaleiros de caminhos políticos e sociais orientados, nãopor acaso, para além de cicatrizes geográficas mal estancadas do passado colonial (vide STARLING et al,2006 e SANTIAGO, 2006: 13;27;64;101).
Registros no Distrito DiamantinoOutros quartéis de vigília estavam distribuídos ao longo do perímetro do Distrito, e o interior da Demarcaçãoera constantemente batido por destacamentos de dragões, à busca de minerações clandestinas (SOUZA,1997: 43, 1999: 138-147, PINTO E SOUZA apud PEREIRA FILHO, 2006: 16). Porém, Milho Verde eradesignado como o ponto de entrada e saída obrigatório para os que viajavam com autorização: “A aldeia deMilho Verde [é] a sede do destacamento de soldados encarregados de inspecionar os viajantes que vão deTijuco à Vila do Príncipe” (SAINT-HILAIRE, 1974: 44) “Passei [...] por Milho Verde, corpo da guarda ouregistro [...] A tropa de soldados que ocupa este posto está sempre alerta; vai ao encontro dos viajantes,segue-os, examina-os” (MAWE, 1978: 152) Mawe menciona ainda, com relação às restrições a que deveriaobedecer o viajante de Vila do Príncipe para o Tejuco: “Estando situada a cidade [Vila do Príncipe] perto dosconfins do Distrito Diamantino e no seu caminho, existem regulamentos muito severos para todos osviajantes. Com exceção daqueles que tem aí negócios, o que deve ser atestado por documentos autênticos,não se deixa passar ninguém antes de se fazer notificação oficial ao governador do distrito. As leis são tãoseveras que, quem quer que seja encontrado fora da grande estrada, estará sujeito a ser detido como suspeitoe submetido a exames e interrogatórios, que acarretam muitas vezes embaraços e demoras (MAWE, 1978:151 – vide a respeito também SPIX e MARTIUS, 1981: 26; PEREIRA FILHO, 2006: 16-17, SANTOS,1976: 71;197, STARLING: 2004: 33).
331
Subsolo e solo em Milho Verde
A conformação do subsolo da região de Milho Verde é classificada como pertencente ao SupergrupoEspinhaço, na Formação Sopa-Brumadinho. É datada do Proterozóico Médio, e compõe-se principalmente dequartzito (predominantes) e filito, rochas graníticas resultantes do metamorfismo de sedimentos marítimos,respectivamente de materiais arenosos e argilosos, e afloradas em conseqüência de forças tectônicas. (MRS,2005: 6-8, IGA, 1998). Especificamente em Milho Verde e São Gonçalo ocorrem manchas de solodecorrentes da erosão de filitos. Sendo propício à vegetação de cerrado, o filito reforça a ocorrência destetipo de cobertura vegetal, encontrada em alguns trechos adjacentes às duas áreas urbanas (MRS 2005: 8-9).A sul e a oeste de Milho Verde, o terreno desce, escavado no vale do Jequitinhonha. Nos terrenos dasencostas e do vale, a vegetação (hoje remanescente) costuma ser um pouco mais fechada, em especial nasmatas ciliares e nas regiões mais baixas, às margens do Jequitinhonha. Todos os tipos de vegetação da regiãocorrelacionam-se aos dois grandes biomas predominantes na região Sudeste, o Cerrado e a Mata Atlântica(MRS 2005: 19, IBGE, 1970), e ao clima encontrado nas vertentes leste do Espinhaço àquela latitude: otropical do Brasil Central, subtipo mesotérmico semi-úmido (IBGE, 1978).
VilaA distinção de determinadas localidades como vilas dizia respeito ao esforço, por parte da Coroa, em impôruma maior normalização à população mineradora, concentrando-a em centros urbanos dotados de aparelhoadministrativo burocrático e militar, tornando assim mais fácil o controle fiscal sobre a produção. Apesar daimportância do Arraial do Tejuco, dotado de numeroso contingente militar e administrativo, aplicou-se ali ocritério contrário, também com vistas ao controle da população local: a idéia era não conceder ao habitantedo Tejuco qualquer status jurídico ou cidadão associado à presença do aparelho burocrático legal eadministrativo de que normalmente as vilas eram equipadas (SOUZA, 1997: 28-33). Assim, o Tejuco foielevado à caegoria de vila apenas após a Independência, em 1831 (MATA MACHADO FILHO, 1985: 22).
Vissungo
A respeito do tema dos vissungo, vide a tese de doutorado do músico-etnólogo suíço Marc-Antoine Camp(2006), o conhecido trabalho de Aires da Mata Machado Filho, O negro e o garimpo em Minas Gerais (1985:65-67;118), e o trabalho de inventário das tradições de cantos sagrados atualmente em realização no âmbitoda Associação Cultural e Comunitário do Catopê e da Marujada de Milho Verde e Adjacências – ACMVA,mencionado em Piva et al (2007: 18-20). Os vissungo – “contrições cantadas”, como os define Camp,“expressões de uma comunicação ritualizada, situada entre o cantar e o falar” – são cânticos de trabalho dosescravos da mineração de diamantes, uma tradição exclusiva da região de Diamantina, hoje quase extinta. Apalavra vissungo tem o signif icado mais ou menos geral de “cantiga” na língua bantu, etnia centro-africanaque era a mais requisitada no mercado de escravos para a mineração. Marc Antoine-Camp analisou asrelações entre modificações e continuidade na transmissão dos vissungo, identif icando uma transmissãoadaptativa e interativa que, paradoxalmente, assegura a continuidade da tradição (CAMP, 2006). Baseou-seem seu próprio trabalho de campo na região de Milho Verde, e nas investigações acadêmicas jáempreendidas sobre o tema, iniciadas na década de 1930 com a pesquisa seminal de Aires da Mata MachadoFilho (1985: 65-116). A recontextualização ao longo do tempo de elementos culturais tradicionais, tais comoos vissungo e os dialetos crioulos encontros em algumas localidades da região de Diamantina, encontra-secaracterizada nesta citação de Marina Souza: “Os dialetos africanos com o fim da escravidão perderam ovalor prático, gradativamente substituído por um valor simbólico” (QUEIROZ apud SOUZA, M. M., 2002:329). Dois habitantes de Milho Verde encontram-se entre os últimos conhecedores da tradição dos vissungo:Seu Ivo Silveira da Rocha, natural do Baú, residente em Milho Verde, e Seu Antônio Crispim Viríssimo, doAusente.