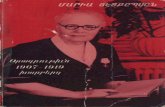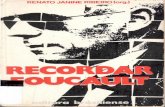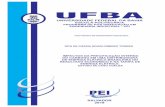Maria Sílvia Ribeiro (in) sustentabilidade na educação
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Maria Sílvia Ribeiro (in) sustentabilidade na educação
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO PUC-SP
Maria Sílvia Ribeiro
(in) sustentabilidade na educação: o que está por trás do livro didático?
DOUTORADO EM PSICOLOGIA SOCIAL
São Paulo
2019
MARIA SÍLVIA RIBEIRO
(in) sustentabilidade na educação: o que está por trás do livro didático?
DOUTORADO EM PSICOLOGIA SOCIAL
Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutora em Psicologia Social sob a orientação do Profª. Drª. Ana Mercês Bahia Bock.
São Paulo
2019
Banca Examinadora
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta tese, por processos de fotocopiadora ou eletrônicos. São Paulo, 28 janeiro de 2019. Assinatura: ________________________________________
O presente trabalho foi realizado com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
AGRADECIMENTOS
À Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, pelo ambiente agradável. À Fúlvia Rosemberg (in memoriam), por tudo o que me ensinou. Nossas conversas que tanto me orientaram, as trocas de ideias e por todos os “lembretes” que me foram tão úteis. Principalmente o último “guarde bem isso porque você vai precisar lá na frente”, “leiam os colegas”. Sobretudo, agradeço pela persistência, competência e comprometimento na formação de pesquisadoras e pesquisadores. Posso garantir que valeu. Para mim, é uma honra contar com “os colegas” na banca examinadora. “Aos colegas do NEGRI”, agradecimentos especiais à Célia Escanfella (in memoriam), Leandro Andrade (in memoriam), Jonathan Salastiel (in memoriam). Não era nosso plano que as coisas terminassem assim, mas a vida tem dessas coisas. É feita de encontros e despedidas. E há tantas despedidas... Ficam o legado, a saudade e as lembranças de dias felizes. À Professora Ana Bock, que acolheu a mim e a pesquisa e se propôs a caminhar comigo nesta trajetória. Agradeço por todas as vezes que me pegou pela mão, me apoiou para que eu não desistisse. Agradeço por ter acreditado em mim. Sua coragem me fez mais forte! Ah, se não fosse por sua sabedoria... Muito obrigada! Agradeço a Professora Amélia Artes pela seriedade, competência e disponibilidade para participar da banca examinadora. Seus apontamentos e indagações contribuíram decisivamente para a construção desta pesquisa. À Professora Carmem Sussel Mariano pelas conversas e trocas de ideias. Pela disponibilidade para participar da banca examinadora. Também por suas contribuições e produções que fortaleceram nossas pesquisas coletivas e servem de referência para o desenvolvimento deste estudo. Ao Professor Marcos Antonio B. Silva agradeço pela disponibilidade para participar da banca examinadora. Pelas incansáveis conversas, trocas de ideias, de materiais. Suas contribuições tão ricas muito contribuíram na construção deste conhecimento. À Professora Bader Sawaia pela presença marcante em minha trajetória acadêmica. Agradeço pela disponibilidade para participar da banca examinadora. Também pela maneira acolhedora com que recebeu a mim e as/os colegas do NEGRI no momento mais difícil. Agradeço a Professora Maria da Graça Marchina Gonçalves pela disponibilidade e atenção. Ao Professor Carlos Temperini, grande pesquisador, agradeço pela troca de ideias. Pela leitura atenta, as trocas de materiais e a amizade sincera. Bom demais caminhar com você e construir essa relação bonita e duradoura. Agradeço pela confiança e lealdade.
Agradecimentos especiais às Autoras e aos Autores que se dispuseram para entrevistas. Obrigada por tudo o que me ensinaram. Sem vocês esta pesquisa não seria uma realidade. Meus mais sinceros sentimentos de gratidão aos meus pais, Nelson (in memoriam) e Luzia pelo amor infinito e o incentivo. Ao meu pai, por ter me ensinado a desconfiar de verdades propagadas aos quatro ventos, coisa de gente da roça que somos. À minha mãe, por ter me ensinado o valor do saber, por ter despertado em mim o amor pelos livros. Ela não é uma mulher das letras. Não. Ela é uma grande mulher dos panos, vassouras e rodos. E porque era a servente da escola tinha as chaves que abriam todas as portas. Foi minha mãe que abriu as portas da biblioteca da escola pra mim. Enquanto ela varria, eu lia. Aos familiares, pela torcida. Especialmente, meu irmão Sérgio que cuidou da manutenção do computador. Sem sua ajuda tudo teria sido bem mais difícil. Valeu, irmão! À minha irmã, pela presença, força e o cuidado. Duas Marias, companheiras para sempre! Obrigada, irmã! À amiga irmã e grande pesquisadora Marta Lúcia da Silva. As discussões, trocas de ideias, sua força e persistência me ajudaram a chegar até aqui. Agradeço pela leitura atenta e por me ajudar a sair dos “emaranhados”. “Dois lanchinhos na lancheira”, é do Real para a vida. Muito obrigada! Por falar em amizade sincera, agradeço a Carla Pellicer, pesquisadora incrível e tão presente na minha vida. Sua disponibilidade, atenção e seus apontamentos tão precisos foram fundamentais na construção desse conhecimento. Carla amora, o tempo é curto e a “tarefa está grossa”. Se eu não voar, “cabô goiais pra nóis”. Marcão, não há palavras para expressar minha gratidão. Reciprocidade e lealdade são boas palavras. Muito obrigadO! Sílvio Reis, amoro, obrigada por tudo. Pelas conversas, trocas de ideias, leitura e revisão. Em breve estarei aí pra aquele abraço gostoso e as conversas na jaqueira. Ao Eucir de Souza pelo amor, pelos quilômetros de conversas e claro, pelo coração abertim. Obrigada! Ao Jair Beani por ter cuidado de mim com tanto zelo. Obrigadíssima, amigo! Ao “chefinho” Anderson Ornelas Paschoal agradeço pela compreensão, a disponibilidade para trocar meus horários. Também pelas conversas e trocas de ideias. “Tem que terminar essa pitomba logo”. E por falar em “chefinho” agradeço a Diana, Leandro e Jojó. Estar com vocês faz meus dias mais felizes. Na nossa aldeia ninguém é “doida” sozinha. Somos todos “doidos da aldeia”, Lalminhos! Ao Paulo Fochi pelas incríveis contribuições, por me mostrar que as “capelas mais belas são imperfeitas”.
Sou bem grata aos profissionais das Editoras que de alguma maneira deram suas contribuições para a realização deste trabalho. Às professoras que doaram seus livros e se dispuseram a trocar ideias. Ao Ernani Torres Pereira, pela recepção e disponibilidade em mostrar as coleções didáticas e conversar comigo sobre o PNLD. Também pela atenção dispensada enquanto estive na biblioteca. Agradecimentos especiais à amiga Teresa Camargo por ter cuidado de mim com tanto carinho. Por todas as explicações sobre a configuração cis-trans em química orgânica. Em breve estarei de volta para compartilhar com você a mesma raia, bonita! À Marlene Camargo, secretária do Programa de Psicologia Social, pelas conversas, pelo acolhimento e prontidão ao auxílio nas questões burocráticas. Às grandes amigas Nádia Vieira e Jussara Spolaor, muito obrigada! A sócio-histórica nos juntou e nada nos separa. Amizade para uma vida inteira. Colegas negrianos/as, especialmente a Lourdes Secanechia. Obrigada por tudo! Aos amigos e as amigas de longe e de perto que acompanharam minha trajetória, agradeço a compreensão por minhas ausências. Ao Aroldo César, por ter mudado o tom da minha vida! Agradecimentos especiais ao Geraldo Varjabedian, ambientalista do meu coração. Obrigada por sua paciência e disponibilidade. Nossas conversas foram de grande valia para mim. Salve o Rio Itapanhaú!
RIBEIRO, Maria Sílvia. (in) sustentabilidade na educação: o que está por trás do livro didático? 2019. 433f. Tese (Doutorado em Psicologia Social) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, São Paulo, 2019. Resumo
Este estudo se integra à linha de pesquisa “Aportes da Psicologia Social à compreensão de problemas sociais”, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, junto ao Núcleo de Estudos de Gênero, Raça e Idade (NEGRI), tendo por objetivo geral analisar produções discursivas de autoras/es de livros didáticos de Ciências Naturais, sobre educação e sustentabilidade. Entendemos que as sociedades contemporâneas estão fortemente organizadas com base no desenvolvimento científico e tecnológico e, ao mesmo tempo, estruturadas em torno de eixos de desigualdades. Partimos do pressuposto que sustentabilidade é uma noção à qual se pode recorrer para tornar objetivas diferentes ideias e projetos de sociedades. Concebemos a literatura didática como mídia educativa. Nesse contexto consideramos que livros didáticos estão enredados com continuidades e mudanças mais amplas nas sociedades atuais, com a forma com que as práticas educativas definem identificações, subjetivações, inclusões e exclusões, economias e projetos políticos globais. Assim, sustentabilidade constitui um tema gerador transversal que congrega os projetos de pesquisas desenvolvidos no NEGRI, cujos estudos estão centrados na busca de compreensão de eixos de desigualdades e têm por interesse apreender as maneiras como as formas simbólicas se entrecruzam com relações de poder e dominação. Esta pesquisa está amparada nos aportes de John B. Thompson, a saber: teoria social da mídia, ideologia e cultura moderna. No campo metodológico, a hermenêutica de profundidade. Os resultados da pesquisa apontam que autoras/es de livros didáticos, como atores sociais, através de seu ofício, contribuem para a construção de uma educação sustentável, pautada no desenvolvimento de uma subjetividade crítica, tanto na formação continuada de professoras/es quanto na formação de estudantes do ensino básico. Os posicionamentos partem do princípio da não-exclusão, com vistas à justiça social e ambiental, se opondo a toda forma de exploração, expropriação, consumismo, autoritarismo, preconceito e intolerância. Defendem uma educação pública, laica, ética, democrática, inclusiva e com qualidade referenciada, entendida numa direção plural, reconhecendo uma multiplicidade de posições como pontos de vista a partir dos quais se visualizam os distintos fenômenos da realidade (científica, política, religiosa, socioambiental), que têm em conta as implicações das relações sociais de poder. Em suas obras confirma-se que adotam uma concepção de educação não neutra. Nota-se uma intencionalidade que visa à formação humana integral por meio de conteúdos e habilidades de pensamento e ação. Portanto, em sintonia com a perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar. Nossas análises apontam que este é um aporte muito importante para o momento que estamos vivendo em nível global, particularmente no Brasil em que vemos ressurgir partidários de uma “esco la sem partido”, “sem ideologia” defendendo uma educação neutra, desprovida de críticas e questionamentos. Palavras-chave: Teoria Social da Mídia. Livros Didáticos. Ideologia.
Sustentabilidade. Hermenêutica de Profundidade.
Abstract This study makes part of the research field "Social Psychology contributions in understanding social problems", of the Post Graduate Program in Social Psychology of Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, in Studies Group of Gender, Race and Age (NEGRI), which aims to analyze discursive productions of natural science textbooks authors, on education and sustainability. We understand that contemporary societies are strongly organized based on scientific and technological development and, at the same time, structured around inequalities axes. We start from the assumption that sustainability is a notion that can be used to make different ideas and societies projects. We conceive didactic literature as educational media. In this context we consider that textbooks are entangled with broader continuity and changes in nowadays society, especially with the way in which educational practices define identifications, subjectivity, inclusions and exclusions, economies and global political projects. Thus, sustainability is a cross-cutting theme that brings together the research projects developed in NEGRI, whose studies are centered on understanding of inequalities axes and are interested in apprehending the ways in which symbolic forms intersect with power relations and domination. This research is supported by the contributions of John B. Thompson, named: social theory of the media, ideology and modern culture. As methodology we use depth hermeneutic. The results of the research indicate that textbooks’ authors, as social actors, through their work, contribute to the construction of a sustainable education, based on the development of a critical subjectivity, both in the ongoing teachers training and in the formation of elementary school students. Positioning are based on the principle of non-exclusion having as horizon the social and environmental justice, opposing all forms of exploitation, expropriation, consumerism, authoritarianism, prejudice and intolerance. The defend a public, secular, ethical, democratic, inclusive and with referenced quality education, understood in a plural direction, recognizing a multiplicity of positions as points of view from which visualize the different reality phenomena (scientific, political, religious, socio-environmental), which take the implications of social power relations. In their works it is confirmed that they adopt a conception of non-neutral education. We note an intentionality that aims an integral human formation through content and thinking and action skills. Therefore, in tune with the interdisciplinary and transdisciplinary perspective. Our analyzes point out that this is a very important contribution to the moment that we are living on a global level, particularly in Brazil, where we see resurfacing parties supporting a "school without a party", "without ideology" defending a neutral education, deprived of criticism and questioning. Keywords: Social Theory of the Media. Textbooks. Ideology. Sustainability. Depth-
Hermeneutic Method.
LISTA DE FIGURAS, QUADROS E TABELA LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - 145
Figura 2 - Cândido Amabis........................................... ........................................ 171
Figura 3 - Bancadas da Câmara dos Deputados e as relações entre elas............... 183
Figura 4 -
200
Figura 5 - 202
Figura 6 - Tartaruga vítima de rede de pesca...................................................................................................................203
Figura 7 -
210
Figura 8 - Página com exemplo de imagens do tipo “obra de arte”.................. ....... 211
Figura 9 - Crânios fossilizados de ancestrais humanos............................................. 222
Figura 10 - “O ser humano: um animal social” ........................................................ 224
Figura 11 - “O criacionismo e o fixismo”.................................................................. 230
Figura 12 - Atividade "A evolução dos seres vivos"................................................... 232
Figura 13 -
245
Figura 14 - 242
Figura 15 -
254
Figura 16 - Biólogo Mario Moscatelli na Baía de Guanabara.............................. ...... 255
Figura 17 - Interações entre um lixão e o meio ambiente.................................. ........ 259
Figura 18 - Gráficos de detritos orbitais.......................................................... ....... 263
Figura 19 - Mapa mundial da rede de cabos submarinos.................................. .......
Figura 20 - Floresta de eucaliptos................................................................... ....... 272
Figura 21 - Selo de Certificação FSC do papel utilizado em livros didatico................. 276
Figura 22 - Página do GEPI, mencionada pela Autora E na entrevista...................... 317
Figura 23 -
322
Figura 24 - Reprodução interpretativa de uma criança, apresentada em charge........ 328
Figura 25 -
329
Figura 26 - “Os musgos formam um tapete “aveludado” sobre o solo”...................... 329
Figura 27 -
330
Figura 28 -
338
Figura 29 - “Convenção Santillana Brasil, estratégia para o PNLD 2017”.................. 348
Figura 30 - Nota oficial da Somos Educação”......................................................... . 356
Figura 31 -
384
Figura 32 -
400
Figura 33 -
404
Imagem de anêmona-do-mar e informação em texto, mencionada pela
Autora A............................................................................................
Imagem de Plutão (planeta-anão) no Sistema Solar, mencionada pela
Autora E............................................................................................
“Imagens aéreas da região onde se rompeu a barragem Córrego do
Feijão antes e depois da tragédia........................................................
Alfa e Beto: avaliação da aprendizagem sobre a consciência fonêmica;
princípio alfabético: “palavras amigas”, “palavras malucas”, “palavras de
verdade.............................................................................................
Imagem da menina que abraça o planeta Terra, mencionada pelo
Autor I...............................................................................................
Imagem da menina que salvou os livros da enchente, mencionada pela
Autora E...........................................................................................
Apresentação de indicadores de Saneamento Básico, em tabela,
gráfico e mapa"..................................................................................
Atividade sobre saneamento básico....................................................
“Comunidade sem saneamento básico na cidade do Rio de Janeiro, RJ
2013".................................................................................................
Páginas de apresentação das Unidades I, II e III, mencionadas na
entrevista...........................................................................................
.....
Campanha de Combate à Esquitossomose...........................................
“Imagens da mulher realizando autoexame das mamas”, mencionada
pela Autora A.....................................................................................
“Nós, seres humanos”.........................................................................
Página com exemplos de imagens dos tipos “fotografia” e “ilustração
científica”...........................................................................................
Figura 34 - Livros da coleção que a menina salvou da enchente.............................. 405
Figura 35 - "Um planeta em crise"................................................ ......................... 417
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 - 111
Quadro 2 - Localização espaço-temporal das entrevistas........................................ 118
Quadro 3 - 142
Quadro 4 - 150
Quadro 5 - 150
Quadro 6 - Tipos de autorias das obras didáticas.................................................... 155
Quadro 7 - 156
Quadro 8 - Indicadores das coautorias, por tipo de análise.................................... 159
Quadro 9 -
161
Quadro 10 - 162
Quadro 11 - Indicadores da população global, por religião e número de adeptos..........................................................172
Quadro 12 - Classificação do lixo, por tipo e origem........................................................................................260
Quadro 13 - 353
LISTA DE TABELA
Tabela 1 -
144
Instituições de Ensino Superior e as Matrículas, por categoria
administrativa (1965-1980)....................................................................
Localização de autoras/es potenciais para entrevista, por sexo da autoria.
Duração das gravações em áudio, por entrevista..................................
Extensão geral das entrevistas, por indicadores....................................
Indicadores de autoria, por tipo de análise...........................................
Valores de vendas da Editora Moderna ao MEC/FNDE, por título, tipo de
coleção - Ensino Fundamental II, no período de 2010 a 2017............
Principais características dos cursos de História Natural e de Ciências
Biológicas...........................................................................................
Indicadores de formação educacional das/os autoras/es entrevistados,
por tipo de análise.............................................................................
Indicadores de atuação e participação das/os autoras/es
entrevistadas/os, por tipo de análise..................................................
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
3D Terceira dimensão
4D Quarta dimensão
5Rs Repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar
AAS Acta Apostolicae Sedis
ABED Associação Brasileira de Educação a Distância
ABGLT Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABPN Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as
ABRALE Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos
ABRELIVROS Associação Brasileira de Editores de Livros
ABRELPE Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Publica e Resíduos
Especiais
AC Análise de Conteúdo
AIDS Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
AMLD Associação Mico-Leão-Dourado
ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações
ANPOCS Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências
Sociais
ARSAE Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais
BBB Boi, Bala e Bíblia
BM&FBOVESPA Mercado da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A
BMG Bertelsmann Music Group
BNCC Base Nacional Comum Curricular
BNDS Banco Nacional do Desenvolvimento
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BP British Petroleum
BR Consultoria de Investimentos
BR2 Bozano Educacional II
BREV BR Education Ventures
BSCS Biological Sciences Curriculum Study
CADE Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CAED Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação
CADE Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CBL Câmara Brasileira do Livro
CCAC Climate and Clean Air Coalition
CDF Crânio-de-Ferro
CEAAL Conselho de Educação de Adultos América Latina
CEALE Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita
CENP Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas
CF/1988 Constituição Federal de 1988
CGPLI Coordenação-Geral dos Programas do Livro
CGU Controladoria Geral da União
CIRET Centre International de Recherches Et Études Transdisciplinaires
CLADE Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação
CMMAD Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento
CNS Conselho Nacional da Saúde
CNE Conselho Nacional de Educação
CNI Confederação Nacional da Indústria
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CNPD Comissão Nacional de População e Desenvolvimento
CO2 Gás Carbônico
COARE Coordenação de Apoio à Gestão
COC Sistema COC de Ensino
COLTED Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático
CONAE Conferência Nacional de Educação
CONTEE Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de
Ensino
CP Conselho Pleno
CERFLOR Programa Brasileiro de Certificação Florestal
COP15 Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas
COP17 Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas
COP24 Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas
CPOR Centro de Preparação de Oficiais da Reserva - Exército Brasileiro
Ensino
CUT Central Única dos Trabalhadores
DCN/EA Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Ambiental
DF Distrito Federal
DNA Deoxyribonucleic Acid
DNUEDS Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável
DOU Diário Oficial da União
DST Doença Sexualmente Transmissível
EAD Educação à Distância
EBC Empresa Brasil de Comunicação
ECEME Escola de Comando e Estado Maior do Exército
EDS Educação para o Desenvolvimento Sustentável
EJA Educação de Jovens e Adultos
ENCCEJA Exame Nacional de Certificação de Competências da Educação de
Jovens e Adultos
ENEM Exame Nacional do Ensino Médio
EPA Agência Americana de Proteção Ambiental
ES Espírito Santo
ESA Agência Espacial Europeia
ETE Estação de Tratamento de Esgoto
EUA Estados Unidos da América
FABES Faculdade Béthencourt da Silva
FAE-USP Grupo de Estudos e Pesquisa Sobre Sociologia da Infância da
Universidade de São Paulo
FAE Fundação de Assistência ao Estudante
FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador
FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
FHC Fernando Henrique Cardoso
FIFA Federação Internacional de Futebol Associação
FLACSO Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais
FME Fórum Mundial de Educação
FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
FAO Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura
FUNDEB Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação
FUNAI Fundação Nacional do Índio
E FUND I Ensino Fundamental I
EFUND II Ensino Fundamental II
FME Fórum Mundial de Educação
FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
FSC Forest Stewardship Council
FUNASA Fundação Nacional de Saúde
GEPI Grupo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinaridade
GT Grupo de Trabalho
HIV Human immunodeficiency virus
HP Hermenêutica de Profundidade
IAB Instituto Alfa e Beto
IAS Instituto Ayrton Senna
IBÁ Indústria Brasileira de Árvores
IBECC Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
ICAE Conselho Internacional de Educação de Adultos
IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor
IDESP Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo
IEE Índice de Efeito Escola
INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira
INPE Instituto de Pesquisa Espacial
IPCC Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
IPEA Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IPLA Parceria Internacional para desenvolvimento dos serviços de gestão
de resíduos junto a autoridades locais
IPO Oferta Pública Inicial de ações
IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas
IPPUR Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional
ISBN International Standard Book Number
ISWA International Solid Waste Association
JBS José Batista Sobrinho Empresa de Alimentos
J&F Empresa de Investimentos
JPIC Justiça, Paz e Integridade
LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação
LDBN Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
LDBEN Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
LE6 Linux Educacional
LGBTI Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
LOA Lei Orçamentária Anual
MCIDADES Ministério das Cidades
MEC Ministério da Educação
MG Minas Gerais
MS Ministério da Saúde
MMA Ministério do Meio Ambiente
MIT Massachusetts Institute of Technology
MOODLE Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
MP-BA Ministério Público da Bahia
MP-SE Ministério Público de Sergipe
MPF Ministério Público Federal
MS Mato Grosso do Sul
NCES National Center for Education Statistcs
NEGRI Núcleo de Estudos de Gênero, Raça e Idade
NASA Agência Espacial Americana
NU Nível Universitário
ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
OECD Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
OIT Organização Internacional do Trabalho
OGU Ouvidor-Geral da União
OMN Organização Meteorológica Mundial
ONGS Organizações Não Governamentais
ONU Organização das Nações Unidas
OTAN Organização do Tratado do Atlântico Norte
PA Pará
PBS Public Broadcasting Service
PCNs Parâmetros Curriculares Nacionais
PCNEM Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
PDE Plano de Desenvolvimento da Educação
PEC Proposta de Emenda Constitucional
PIB Produto Interno Bruto
PIP Programa de Intervenção Pedagógica
PISA Programme for International Student Assessment
PL Projeto de Lei
PLANSAB Plano Nacional de Saneamento Básico
PLR Participação nos Lucros e Resultados
PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PNAD Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar
PNAIC Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
PNBE Programa Nacional Biblioteca da Escola
PNE Plano Nacional de Educação
PNLA Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens
e Adultos
PNLD Plano Nacional do Livro Didático
PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUMA Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
PNRS Política Nacional de Resíduos Sólidos
PNS Pesquisa Nacional de Saúde
PR Paraná
PREVI Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
PRODES Projeto Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite
PROINFO Programa Nacional de Tecnologia Educacional
PUCSP Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
PVC Polímero de Adição Policloreto de Vinila
RBJA Rede Brasileira de Justiça Ambiental
RENCTAS Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres
REISB Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento do
Saneamento Básico
REPEM Rede de Educação Popular das Mulheres na América Latina e
Caribe
RTL Group is the leading European
S.A Sociedade Anônima
SAEB Sistema de Avaliação da Educação Básica
SARESP Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São
Paulo
SBPC Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
SDHPR Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
SEB Secretaria de Educação Básica
SEE/MG Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais
SEEDS Studio
SECADI Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão
SEMAS Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade
SESC Serviço Social do Comércio
SIC Exatamente assim
SIMEC Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle
SIASI Sistema de Informação do Instituto Ayrton Senna
SINTUFS Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Sergipe
SINDIJOR Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe
SINPRO Sindicato dos Professores de São Paulo
SINTESE Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial
do Estado de Sergipe
SINTUFS Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de Sergipe
SNA Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
SNE Conferência Nacional de Educação
SNIS Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
SNSA Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
SP São Paulo
SSC Centro de Serviços Compartilhados
SUS Sistema Único de Saúde
TCE-PE Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
TC/PAC Termo de Compromisso
TEA Transtorno Espectro Autista
TED Termo de Execução Descentralizada
TGD Transtorno Global do Desenvolvimento
TI Tecnologia da Informação
TIC Tecnologias da Informação e Comunicação
UFF Universidade Federal Fluminense
UFJF Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora
UFMG Universidade Federal de Minas Gerais
UFPA Universidade Federal do Pará
UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFRRJ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
UFPR Universidade Federal do Paraná
UFTM Universidade Federal do Triângulo Mineiro
UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura
UNCRD Comissão das Nações Unidas para Desenvolvimento Regional
UNFPA Fundo de População das Nações Unidas
UNESP Universidade Estadual Paulista
UNICAMP Universidade Estadual de Campinas
UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância
URSS União das Repúblicas Socialistas Soviéticas
USP Universidade de São Paulo
VUNESP Vestibular da Universidade Estadual Paulista
INTRODUÇÃO............................................................................................................. 24
1 TEORIA E MÉTODO........................................................................................... 27
27
34
41
51
2 SUSTENTABILIDADE: TENSÕES E DIÁLOGOS.................................................. 56
57
3 ANÁLISE DISCURSIVA....................................................................................... 109
109
115
118
124
148
149
150
154
165
191
338
409
418
428
428
3.4 Resultados...................................................................................................
1.1 Teorias de John B. Thompson..........................................................................
1.1.1 Midiação da cultura moderna............................................................................
1.1.2 Mídia e Ideologia............................................................................................
1.2 Metodologia da interpretação: a hermenêutica de profundidade.....................................................................
2.1 Da tomada de consciência ambiental às dimensões políticas internacionais
sobre o meio ambiente........................................................................................
3.1 Constituição do corpus submetido à análise................................................
3.1.1 Realização de entrevistas nas atividdes de pesquisa........................................
3.1.2 Notas preliminares sobre as entrevistas..........................................................
3.2 Profissionais das palavras: vida e carreira..................................................
3.3 Estratégia de análise do corpus ..................................................................
REFERÊNCIAS.....................................................................................................
APÊNDICE............................................................................................................
APÊNDICE - Coleções de Ciências para o Ensino Fundamental II, por Título, Editora,
Tipo de Coleção e Valores de Aquisição.
3.4.1 Dando vida às palavras.................................................................................
3.4.2 Uma obra escrita a muitas mãos.....................................................................
3.4.3 Formas simbólicas em contextos sociais estruturados: uma análise da doxa......
3.4.4 O livro didático: um meio de transmissão cultural.............................................
3.4.5 Os campos de interações...............................................................................
CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................
24
INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem como objetivo descrever e interpretar discursos proferidos
por autoras/es de livros didáticos de Ciências Naturais, sobre educação e
sustentabilidade.
As sociedades contemporâneas ocidentais estão fortemente organizadas com
base no desenvolvimento científico e tecnológico e, ao mesmo tempo, estruturadas
em torno de eixos de desigualdades. Partimos do pressuposto que ―sustentabilidade‖
é uma noção à qual se pode recorrer para tornar objetivas diferentes ideias e
projetos de sociedades. Nesse contexto consideramos que livros didáticos estão
enredados com continuidades e mudanças mais amplas nas sociedades atuais, com
a forma com que as práticas educativas definem identificações, subjetivações,
inclusões, exclusões, economias e projetos políticos locais e globais.
Entendemos que ―sustentabilidade‖ constitui um tema transversal que congrega
as temáticas pesquisadas no Núcleo de Estudos de Gênero, Raça e Idade. Nossos
estudos estão centrados na busca de compreensão de eixos de desigualdades e
têm por interesse apreender as ―maneiras como as formas simbólicas se
entrecruzam com relações de poder‖ (THOMPSON, 2009, p. 75).
A escolha pelo enfoque na área de ciências da natureza se justifica pelo fato de
ser um componente curricular cujas unidades temáticas destacam temas de grande
interesse e relevância social, tais como: Matéria e Energia; Vida e Evolução; Terra e
Universo.
Consideramos que a emergência das questões socioambientais implica
profundas mudanças de referenciais ideológicos e culturais, também a
transformação de um conjunto de paradigmas do conhecimento teórico e dos
saberes práticos. A problemática ambiental é de natureza social, supera o âmbito
dos saberes e dos sistemas de conhecimento constituídos. Ao questionar as
racionalidades econômicas e sociais dominantes, denuncia os efeitos da destruição
dos recursos naturais, da degradação da qualidade e das condições de vida em
escala planetária. Implica, portanto, ―o desenvolvimento de uma compreensão
integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo
aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos,
culturais e éticos‖ (art. 5, inciso I, da Política Nacional de Educação Ambiental).
Nesse sentido, a temática socioambiental constitui um novo campo de estudos para
25
a psicologia social e suas interfaces com outras áreas do conhecimento, entre tantas
as ciências naturais e com a educação.
Focalizar autoras/es de livros didáticos de Ciências Naturais faz sentido, pois
tais atores sociais, embora não sejam os únicos, participam da arena de
negociações e disputas em torno do Programa Nacional do Livro e do Material
Didático (PNLD). Principalmente, o ofício da escrita de livros didáticos possibilita a
participação desses atores na construção de concepções, podendo ampliá-las ou
restringi-las às relações de poder imbricadas na produção e difusão do
conhecimento, portanto, na formação educativa básica.
Quando debates sobre currículo estão centrados na preocupação com
questões relativas ao conhecimento que deve ser priorizado e difundido (sobretudo
por meio de livros didáticos, e isso ocorre muitas vezes), inevitavelmente nos levam
a questionar sobre os rumos da educação.
À medida que chegamos ao fim da ―Década das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável1‖ e buscamos implementar a Agenda 2030,
assistimos a novas discussões sobre escolarização. Assim que reconhecemos que o
grupo de população mundial com maior interesse no futuro são as crianças, então
estamos diante de uma questão de justiça, cidadania e de direitos. É oportuno,
então, refletir sobre sustentabilidade na educação. Sustentabilidade, para quem?
A pesquisa está amparada pelos aportes teóricos e metodológicos propostas
por John B. Thompson, a saber: teoria social da mídia, ideologia e cultura moderna.
No campo metodológico, a hermenêutica de profundidade.
Ao estudar ideologia no contexto socioambiental, podemos nos interessar pelas
maneiras como o sentido mantém relações de dominação de classe, entre grupos
étnico-raciais, religiosos, de idade e de gênero. Também as relações de poder
sistematicamente assimétricas entre estados-nações hegemônicos e estados-
nações localizados à margem do sistema global. Pois, como se sabe, os que
ocupam posições dominantes no espaço social também estão em posições
dominantes no campo da produção das ideias.
Seguindo a proposta de John B. Thompson, organizamos a pesquisa em três
capítulos, descritos a seguir.
1 Reconhecendo que a Educação é a chave para uma necessária mudança de mentalidades e
atitudes na sociedade, em dezembro de 2002 a ONU aprovou, em sessão plenária, a Resolução 57/254, proclamando a Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DNUEDS), para o período de 2005-2014.
26
O primeiro capítulo versa sobre os principais contornos teóricos e
metodológicos que orientam a pesquisa. No segundo apresentamos a análise sócio-
histórica de produção, circulação e recepção de discursos sobre sustentabilidade, da
tomada de consciência ambiental às dimensões políticas internacionais sobre meio
ambiente e suas implicações com a educação.
No terceiro capítulo apresentamos os procedimentos para a constituição do
corpus da pesquisa e a análise formal dos dados. Descrevemos e interpretamos um
conjunto de produções discursivas de autoras/es de livros didáticos de Ciências
Naturais, captadas a partir de entrevistas em profundidade, semiestruturadas,
concedidas a esta pesquisadora, e complementadas por discursos veiculados nos
referidos livros. Por isso exigiu um número maior de páginas.
Na primeira parte, apresentamos a descrição dos procedimentos de análise; na
segunda, a descrição dos dados. A interpretação/reinterpretação discursiva será
apresentada nas considerações finais.
27
1 TEORIAS E MÉTODO
Este capítulo apresenta os principais contornos teóricos e metodológicos que
orientam a pesquisa. Iniciamos com a apresentação dos aportes de John B.
Thompson sobre a natureza dos meios de comunicação e os fundamentos de uma
teoria social da mídia, midiação da cultura moderna considerando que preparam o
caminho, tanto teórica como historicamente para o diálogo com os campos de
estudos adotados e possibilitam a sistematização da tese.
1.1 Teorias de John B. Thompson
John B. Thompson, sociólogo norte-americano, professor da Universidade de
Cambridge, é o teórico de referência na maioria das pesquisas desenvolvidas no
NEGRI. Isto não se deve apenas às contribuições do autor em resgatar o uso do
conceito de ideologia em seu sentido crítico, em lançar os fundamentos de uma
teoria social da mídia, tampouco em permitir que, por meio de análises, se
sistematize como as formas simbólicas constroem ou reforçam relações de poder e
dominação. Ele nos fornece uma grande contribuição sobre como aplicar a teoria
sobre midiação da cultura moderna em uma análise prática das formas simbólicas.
A relação entre teoria e prática por ele construída parte do princípio de que a
aplicação de um método de pesquisa somente se sustenta em uma teoria, no caso
específico, sobre as sociedades. Assim, além dos aspectos metodológicos,
principalmente nos interessam sua discussão e sua teoria sobre como as
sociedades modernas estão estruturadas, a importância da mídia nesse processo e
a concepção de sujeito que postula.
Thompson se filia à tradição crítica do pensamento ocidental, concebe a
sociedade como palco de conflitos sociais, os sujeitos como seres ativos, e as
mídias como uma das instituições ―paradigmáticas‖, dentre outras, que produz
conhecimento e que precisa dar provas argumentativas do que postula,
possibilitando o debate entre pares. Implica dizer que as mensagens veiculadas
pelas mídias tanto podem servir para estabilizar ou reforçar as relações de poder
como para romper ou enfraquecê-las.
Thompson também é o autor que contribui sobremaneira para a compreensão
das complexidades do mercado editorial contemporâneo. Seu último livro publicado
28
no Brasil, em 2013, sob o título ―Mercadores de Cultura: o mercado editorial do
século XXI‖ é resultado de mais de cinco anos de pesquisa e é uma importante
referência para o desenvolvimento deste estudo.
Em finais da década de 1980, a questão de fundo que Thompson se colocou
foi a de que se quiséssemos entender as transformações culturais associadas ao
surgimento das sociedades modernas, deveríamos investigar o desenvolvimento da
mídia e seu impacto. Seu objetivo era lançar luz para o nosso mundo
contemporâneo saturado pela mídia e ―ao mesmo tempo evitar preocupações
míopes com o presente‖.
Estas explicações encontram-se no prefácio da primeira edição da obra
intitulada ―A mídia e a modernidade – uma teoria social da mídia‖, publicada em
1995 pela Polity Press e Blackwell Publishers Ltd. O ―presente‖ a que se refere o
autor situa-se no final do século XX. Observa-se, portanto, que a obra original não
contempla o fenômeno da Internet, que naquela altura dava os primeiros passos,
precisamente em 1995, quando o programa de televisão norte-americano Computer
Chronicles, do canal público PBS2, dedicou um episódio a uma tecnologia
emergente: The Net.
Ao longo dos últimos vinte anos, o livro acabou por se assumir como uma
importante obra de referência da teoria social da mídia para a investigação da
comunicação social e suas relações com o poder, encontrando-se traduzido em
várias línguas. Os direitos de publicação em língua portuguesa foram adquiridos pela
Editora Vozes, que desde 1998 tem vindo a publicá-lo sucessivamente – em 2014
fez a 15.ª edição.
Em relação à obra original de 1995, a novidade desde a 12.ª edição, publicada
em 2010, foi a inclusão de um novo prefácio de 14 páginas, em que Thompson
aproveitou para abordar genericamente a Internet e a influência das redes sociais,
reforçando também as explicações sobre os objetivos da investigação. Na
oportunidade, o autor lembrou que uma parte substancial do seu livro ―Ideologia e
cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de comunicação de massa‖,
originalmente publicado em 1990, portanto, cinco anos antes, foi dedicada à análise
da ascenção da mídia como um meio de transmissão cultural e ao esboço do perfil
de uma teoria social da mídia. Esse esboço serviu de base para uma explicação
2 Public Broadcasting Service (Serviço Público de Radiodifusão).
29
teórica mais documentada no livro ―A mídia e a modernidade‖, que tinha um duplo
objetivo: situar o estudo da mídia onde ele realmente pertence, ou seja, entre um
conjunto de disciplinas relacionadas com o surgimento, desenvolvimento e
características estruturais das sociedades modernas e seu futuro; e desenvolver
uma teoria social da mídia mais detalhada, usando-a para esclarecer alguns
aspectos das nossas vidas sociais e políticas nos dias de hoje.
Para tanto, o autor se utiliza de variada literatura sobre história cultural e das
comunicações, teoria e pesquisa das comunicações e estudos sobre a mídia e a
cultura contemporânea, entre outros. Mas vale ressaltar que seu livro foi escrito
essencialmente como um trabalho de teoria social.
Três linhas de pensamento o ajudaram a dar forma à orientação geral de seus
estudos. Apresentaremos cada uma delas e incluiremos aspectos importantes que
embora não sejam esclarecidos por Thompson contribuem para o desenvolvimento
desta pesquisa.
Uma delas é a teoria da crítica social produzida pela Escola de Frankfurt. Na
primeira metade do século XX, se firmava o conceito de ―indústria cultural‖, segundo
o qual a mídia seria responsável por ―coisificar‖ a informação, dirigindo-se às massas
para obter proveitos financeiros em vez de levá-las à reflexão por meio das obras
culturais, afirmando uma visão de sujeitos passivos e acríticos, segundo a dialética
de Theodor Adorno e Max Horkheimer. Thompson (1998) argumenta mesmo o
pensamento de Jürgen Habermas dificilmente se sustenta em sua originalidade, mas
com alguma justificação podem ser utilizados. Ele se refere aos primeiros trabalhos
de Habermas sobre a emergência e a transformação da esfera pública, publicado no
Brasil, em 1984, sob o título ―Mudança estrutural da esfera pública‖, estudo no qual o
teórico situa o desenvolvimento da mídia como parte integral da formação das
sociedades modernas e argumenta que a circulação de matérias impressas nos
primórdios da Europa moderna foi crucial na transição do absolutismo para os
regimes liberais e democráticos e que a articulação da opinião pública crítica através
da mídia foi de vital importância para a vida democrática moderna.
Para nós, alguns aspectos do trabalho de Habermas são particularmente
importantes no estudo aqui proposto. Embora ele não exclua outras formas de
manifestação de conflitos, seu interesse recai sobre o domínio da linguagem, haja
vista que a produção de conhecimento, científico ou não, se dá acima de tudo
mediado pelas práticas discursivas.
30
Habermas (2003) destaca que os conflitos de interesses se manifestam no uso
da linguagem. Ele discorre sobre uma tendência estimulada socialmente para um
agir linguisticamente de forma estratégica, de maneira que grupos e/ou indivíduos
convençam o outro, sem que de fato se proponham a uma relação dialógica diante
de conflitos, e, assim, evitar o agir de forma comunicativa com o objetivo do
entendimento mútuo para chegar ao consenso.
A partir do discurso estratégico próprio de diversas instituições privilegia-se a
formação das identidades dos sujeitos de forma heterônoma, ou seja, a partir de
normas criadas por outrem, as quais os sujeitos ou aceitam sem contestação ou
refutam, negando-se a se apropriar de seus conteúdos de forma crítica, com
renúncia, em ambos os casos, ao uso crítico da razão. Se, em alguma medida, a
transmissão das normas e valores sociais ocorre de forma heterônoma, ao estimular
a formação para um agir dessa forma, dificulta-se a formação de sujeitos autônomos
(HABERMAS, 2003).
[...] Aí, é a própria estrutura de perspectivas de um mundo completamente descentrado, que gerou em primeiro lugar o problema, que também provê os meios para sua solução. As normas da ação são pensadas agora, de sua parte, como também normalizáveis; elas são subordinadas a princípios, isto é, a normas de nível superior. O conceito de legitimidade das normas de ação é decomposto nos componentes do reconhecimento factual e da qualidade de ser digno de reconhecimento. A essas diferenciações nos conceitos da norma e da validez deontológica corresponde uma diferenciação no conceito do dever; agora, o respeito à lei não serve per se como motivo ético. À heteronomia, isto é, à dependência de normas existentes, opõe-se a exigência de que o agente, ao invés da validez social de uma norma, erija ao contrário a sua validade em princípio de determinação de seu agir. Com esse conceito de autonomia, o conceito da capacidade de agir responsavelmente também se desloca. A responsabilidade torna-se um caso especial da imputabilidade; esta significa a orientação do agir em função de um acordo representado de maneira universal e motivado racionalmente – age moralmente quem age com discernimento (HABERMAS, 2003, p. 196).
A formação de sujeitos autônomos só seria possível, segundo Habermas
(2003, p. 202), por meio do agir comunicativo; implica o uso da razão e da fala
argumentativa, as quais possibilitam a apropriação crítica e emancipatória de
conteúdos em conflito, sem, no entanto, se apoiar ou fazer concessão para qualquer
discurso autoritário e dogmático. Enquanto a heteronomia, na ação, implica que o
sujeito está orientado por normas criadas por outrem, a autonomia implica ação
orientada por ―princípios de justiça‖ (HABERMAS, 2003, p. 202).
31
Thompson (1998) também se vale do trabalho dos assim chamados teóricos da
mídia. O mais conhecido deles é Marshall McLuhan, mas ele destaca especialmente
as contribuições do teórico canadense Harold Innis, o qual enfatizou o fato de que os
meios de comunicação são importantes para a organização do poder,
independentemente das mensagens que eles veiculam. Innis foi o primeiro a
investigar sistematicamente as relações entre os meios de comunicação, de um
lado, e a organização espacial e temporal do poder, de outro. Seu trabalho é
reconhecido explicitamente por McLuhan (1972) como um trabalho pioneiro. A
importância da obra de Innis é mencionada logo nas primeiras páginas de seu livro
―A galáxia de Gutenberg – a formação do homem tipográfico‖, dizendo que Innis ―[...]
viu tanto os novos como os velhos media não como meros vértices para os quais
devia dirigir o seu ponto de vista, mas como vórtices de poder que criam ambientes
imperceptíveis que agem corrosiva e destrutivamente nas mais antigas formas de
cultura‖.
O alfabeto é um absorvedor e transformador agressivo e militante de culturas, conforme Harold Innis foi o primeiro a mostrar. [...] Já não nos deve surpreender que povos, como o grego e o romano, que haviam passado pela experiência do alfabeto, tenham também sido levados à conquista e à organização-a-distância. Harold Innis, em Empire and Communications (Império e comunicações) foi o primeiro a tratar desse tema e a explicar com precisão o verdadeiro significado do mito de Cadmo. O rei grego Cadmo, que introduziu o alfabeto fonético na Grécia, segundo se conta, teria semeado os dentes do dragão e deles brotaram homens armados. (Os dentes do dragão talvez se refiram às antigas formas dos hieróglifos). Innis também explicou a razão por que a palavra impressa gera nacionalismo e não tribalismo; e por que cria sistemas de preços e mercados tais que não podem existir sem a palavra impressa. Em suma, Harold Innis foi o primeiro a perceber que o processo de mudança estava implícito nas formas da tecnologia dos meios de comunicação (McLUHAN, 1972, p. 72).
Innis pode ser considerado um precursor da reflexão atual sobre os processos
de globalização; para muitos o fundador dos estudos que agora existem sob a
bandeira do ―imperialismo midiático". Seu livro ―O viés da comunicação‖ foi traduzido
e publicado em 2011 pela Editora Vozes, sessenta anos após a publicação do
original, em 1951.
Innis desenvolveu seus trabalhos nos anos 1940 e 1950 e é reconhecido por
fornecer um estudo da comunicação em um momento em que praticamente ninguém
mais nos Estados Unidos estava fazendo, isto é, uma investigação acadêmica que é
histórica, empírica, interpretativa e crítica, e de uma maneira genuinamente
interdisciplinar. Isso lhe permitiu atravessar as metáforas organicistas que muitas
32
vezes levaram estudiosos da Escola de Chicago (que discutiam pragmaticamente as
relações entre o homem e o meio ambiente ao tratar da comunicação como
fenômeno urbano) a erradicar e mascarar os fatos históricos, geográficos e do poder
em um véu metafísico. Ele sabia algo das tensões, contradições e acomodações
entre o comércio e parceiros de comunicação. Com seu estudo dos ―grampos‖ e dos
recursos básicos (staples theory) que desenvolveu e aplicou aos mercados de
recursos naturais do Canadá durante as décadas de 1920 e 1930, ele sustentou a
tese que a cultura, a história política e a economia canadense foram decisivamente
influenciadas pela exploração e exportação de uma série de recursos básicos, e
evidenciou a importância das tecnologias do transporte e da comunicação para a
circulação das mercadorias, para a formação do seu valor e para o poder que
facultavam àqueles que controlavam o seu movimento. Com isso ele mostrou a
impossibilidade de transformação da grande sociedade para a comunidade por meio
de tecnologia desinteressada, mas em termos de como o conhecimento e a cultura
são monopolizados por grupos particulares (CAREY, 1989).
Innis (2011) define mídia de maneira ampla e abrangente, compreendendo
todas as formas de transporte não edificadas pelo ser humano (rios, lagos, oceanos,
cavalos etc), os meios com origem na atividade humana (canais, estradas, ferrovias,
navios etc) e também os recursos básicos (pescados, peles, minérios, madeira,
borracha etc). De acordo com o teórico, qualquer um destes três tipos de mídia
afeta, por um lado, a organização social, os ambientes ou ecossistemas que
medeiam as relações humanas e implicam o pensamento, a ação e a subjetividade
dos sujeitos, e, por outro, alimenta o comércio cada vez mais crescente desses
recursos.
Uma terceira linha de pensamento na qual Thompson (1998) se apoia é a
hermenêutica, especialmente ligada aos trabalhos dos filósofos hemeneutas dos
séculos XIX e XX, Gadamer e Ricouer. Tais pensadores nos lembram, em primeiro
lugar, que o estudo das formas simbólicas é fundamental e inevitavelmente um
problema de compreensão e interpretação. Esta ênfase sobre os processos de
compreensão e interpretação retém seu valor hoje, pois diz respeito à interpretação
contextualizada. Ou seja, a hermenêutica se refere ao processo contextualizado e
criativo de interpretação, no qual os sujeitos se servem dos recursos que têm
disponíveis para dar sentido às mensagens que recebem. Implica dizer que a
atividade de ―apropriação‖ das mensagens faz parte de um processo mais extenso
33
de formação pessoal, no qual e através do qual os sujeitos desenvolvem um sentido
para si e para os outros, de sua história, de seu lugar no mundo, dos grupos sociais
a que pertencem e de suas condições de vida. Trata-se de um processo criativo,
construtivo e socialmente vinculado à interpretação e que converge com alguns
estudos etnográficos, particularmente os escritos do antropólogo Clifford Geertz, o
qual oferece importante formulação do conceito de cultura - ―A interpretação das
culturas‖.
O conceito de cultura que o antropólogo defende em sua obra ―é
essencialmente semiótico‖. Ele assume a cultura como ―ciência interpretativa, à
procura de significado‖ (GEERTZ, 1989, p. 4). Além de oferecer importante
formulação do conceito, o autor reorientou a análise da cultura para o estudo do
significado e do simbolismo e destacou a centralidade da interpretação como uma
abordagem metodológica na qual os fenômenos culturais são vistos como
construções significativas. A análise da cultura é entendida, então, como a
interpretação dos padrões de significados incorporados às formas simbólicas. No
entanto, ele não dá atenção aos problemas de conflitos sociais e de poder. Sua
ênfase é mais para o significado do que para a pluralidade de significados
divergentes e conflitantes que os fenômenos culturais podem ter para sujeitos e
grupos situados em diferentes circunstâncias e possuidores de diferentes recursos e
oportunidades. Embora seja um ponto de partida para a abordagem construtiva dos
fenômenos culturais, de acordo com Thompson (1998), os fenômenos culturais
podem ser vistos como expressão das relações de poder, servindo, em
circunstâncias específicas, para manter ou romper relações de poder, estando
sujeitas a múltiplas, divergentes e conflitivas interpretações pelos sujeitos e grupos
que as recebem e as percebem no curso de suas vidas cotidianas.
Thompson (1998) elabora uma teoria social distinta dos meios de comunicação
e seu impacto e argumenta que o desenvolvimento dos meios de comunicação
transformou a constituição espacial e temporal da vida social, criando novas formas
de ação e interação que não estão mais ligadas ao compartilhamento de uma
localidade comum. As consequências desta transformação são de grande alcance e
influenciam muitos aspectos de nossas vidas, desde aqueles mais íntimos da
experiência pessoal e da autoformação até a natureza mutável do poder e da
visibilidade no domínio público. Ele apresenta aspectos da publicidade mediada, por
meio dos quais podemos avaliar a importância que a luta pela visibilidade adquiriu
34
na vida sociopolítica. Principalmente, a explicação que ele nos fornece sobre a
publicidade mediada nos ajuda a entender também por que a conquista da
visibilidade pode desencadear eventos que se desdobram de maneiras imprevisíveis
e incontroláveis. As imagens e mensagens da mídia podem levar a profundas
divisões e sentimentos de injustiça que são experimentados pelos sujeitos em suas
vidas cotidianas. De acordo com o autor, a mídia pode politizar o cotidiano tornando-
o visível e observável em maneiras que antes não eram possíveis e, portanto,
tornando os eventos cotidianos um catalisador para ações que vão muito além dos
locais imediatos onde ocorrem, mobilizando pessoas e grupos para uma construção
democrática.
1.1.1 Midiação da cultura moderna
De acordo com Thompson (1998), o desenvolvimento dos meios de
comunicação social e seu impacto ocupam lugar central na compreensão das
características institucionais das sociedades modernas e as condições de vida
criadas por elas. Isto porque as mídias não só asseguram formas de socialização e
transmissão simbólicas, mas também participam como elementos importantes da
cultura e da construção de significados diante do mundo. Portanto, a mídia exerce
profunda influência na formação do pensamento político e social.
[...] o uso dos meios de comunicação implica a criação de novas formas de ação e de interação no mundo social, novos tipos de relações sociais e novas maneiras de relacionamento do indivíduo com os outros e consigo mesmo. Quando os indivíduos usam os meios de comunicação, eles entram em formas de interação que diferem dos tipos de interação face a face que caracterizam a maioria dos nossos encontros cotidianos. Eles são capazes de agir em favor de outros fisicamente ausentes, ou responder a outros situados em locais distantes. De um modo fundamental, o uso dos meios de comunicação transforma a organização espacial e temporal da vida social, criando novas formas de ação e interação, e novas maneiras de exercer o poder, que não está mais ligado ao compartilhamento local comum (THOMPSON, 1998, p. 14).
Thompson (1998) identifica que o surgimento da comunicação de massa é uma
característica constitutiva fundamental das sociedades modernas. É um processo
que esteve estreitamente interligado com o desenvolvimento do capitalismo
industrial e com o surgimento dos modernos estados-nações. É também um
processo que transformou profundamente as maneiras como as formas simbólicas
35
circulam nas sociedades. Com o surgimento da comunicação de massa, o processo
de transmissão cultural tornou-se cada vez mais mediado por um conjunto de
instituições interessadas na mercantilização e circulação ampliada das formas
simbólicas. Isto é, parte do que constitui as sociedades modernas como ―modernas‖
é o fato de que a troca de formas simbólicas não está mais restrita primariamente a
contextos de interação face a face, mas é mediada, de maneira sempre mais ampla
e crescente, pelas instituições e mecanismos da comunicação de massa, esta
entendida como comunicação mediada ou simplesmente mídia.
É claro que esse processo de mediação da cultura moderna é apenas um aspecto da formação das sociedades modernas, é um processo que caminhou de mãos dadas com o desenvolvimento do capitalismo industrial (e formas alternativas de desenvolvimento industrial) e com o nascimento do estado moderno (e das formas associadas de participação política). Esses processos se sobrepuseram um ao outro de maneiras complexas. Eles tomaram caminhos diferentes em contextos históricos e geografias diferentes. Mas, conjuntamente, definiram os contornos básicos das sociedades em que vivemos hoje, contornos que assumem características sempre mais globalizantes (THOMPSON, 2009, p. 25 e 26, grifos do autor).
Historicamente a emergência e o desenvolvimento da indústria da mídia estão
estreitamente relacionados às transformações institucionais que modelaram o
mundo a partir do final da Idade Média. Através da exploração, do comércio e da
colonização, outras partes do mundo, além dos centros urbanos em expansão e dos
emergentes estados da Europa, foram cada vez mais envolvidas no processo de
transformação institucional que começou em território europeu, mas logo alcançou o
nível global. Novas instituições apareceram e expandiram o raio de suas atividades.
O impacto destas transformações foi paulatinamente sendo sentido muito além dos
centros urbanos em expansão e dos emergentes estados da Europa. Tais
transformações institucionais implicaram um conjunto de mudanças que constituíram
as sociedades modernas. As mudanças econômicas, através das quais o feudalismo
europeu, predominantemente agrário, foi se transformando gradualmente num novo
sistema capitalista de produção industrial e de intercâmbio. As mudanças políticas
que reduziram e reagruparam unidades autônomas da Europa Medieval (impérios,
cidades-estados etc) em um sistema entrelaçado de estados-nações, processo que
envolveu guerras e confrontos.
Junto com as forças econômicas, políticas e militar, Thompson (1998, p. 24)
inclui as instituições culturais como uma das quatro formas de poder que ele
36
considera vigente na modernidade. O poder econômico, cujas instituições se
traduzem nas indústrias de bens materiais, nas empresas comerciais e naquelas
relacionadas às atividades financeiras. O poder econômico provém da atividade
produtiva a qual implica o uso e a criação de vários tipos de recursos materiais e
financeiros, ou seja, a extração de matéria-prima e de sua transformação em bens
que podem ser consumidos ou trocados no mercado, os meios de produção e o
capital financeiro (dinheiro, bolsa de valores, formas de crédito etc). Tais recursos
podem ser acumulados por pessoas e organizações com o objetivo de expandir sua
atividade produtiva e aumentar seu poder econômico. O poder político é formado,
por exemplo, pelas instituições de Estado, autoridades constituídas, organizações
partidárias. O poder coercitivo é constituído especialmente pelas instituições
militares (por exemplo, as forças armadas, a polícia, as instituições carcerárias). Por
fim, o ―poder cultural ou simbólico, que nasce na atividade de produção, transmissão
e recepção do significado das formas simbólicas‖, através especialmente dos meios
de informação e comunicação, mas também de instituições religiosas, educacionais,
midiáticas, bem como das mais diversas instituições culturais.
Se hoje comumente associamos poder à política, isto é, às ações de indivíduos agindo em nome do estado, isto é porque os estados se tornaram particularmente centros importantes de concentração do poder no mundo moderno. Mas a importância das instituições estatais não nos deveria ocultar o fato de que o poder manifestamente político é somente uma forma mais especializada de poder, e de que os indivíduos normalmente exercem poder em muitos contextos que pouco ou nada têm a ver com o estado. Assim fazendo, eles exprimem e ajudam a tornar relativamente estáveis as relações ou redes de poder e dominação entre os indivíduos, e entre grupos de indivíduos, que ocupam diferentes posições nos campos de interação (THOMPSON, 1998, p. 21-22).
A atividade simbólica é característica fundamental da vida social em igualdade
de condições com a atividade produtiva, a coordenação de pessoas e a atividade
coercitiva. Ao se ocuparem com tais atividades, pessoas e instituições se servem de
uma variedade de recursos, descritos como ―meios de informação e comunicação‖,
os quais incluem não só os meios técnicos de fixação e transmissão, as habilidades,
competências e formas de conhecimento empregadas na produção, transmissão e
recepção da informação e do conteúdo simbólico (capital cultural), como também o
capital simbólico, que se refere ao prestígio acumulado, o reconhecimento e o
respeito dedicados a alguns produtores e/ou instituições (THOMPSON, 1998, p. 24).
37
De acordo com o autor, a posição que uma pessoa ocupa dentro de um campo
ou instituição é muito estreitamente ligada ao poder que ela ou grupo detém.
Pessoas ou grupos que ocupam posições dominantes dentro de grandes instituições
podem dispor de vastos recursos que as tornam capazes de tomar decisões e
perseguir objetivos que têm consequências de longo alcance.
É importante referir que a noção de campo empregada foi desenvolvida pelo
sociológico francês Pierre Bourdieu, de quem Thompson (1998; 2013)
assumidamente empresta e adapta termos e conceitos os quais utiliza livremente
aos seus propósitos3.
Thompson (1998; 2009) estabelece uma distinção entre poder e dominação. No
sentido mais geral, poder é a capacidade de agir para alcançar os próprios objetivos
e/ou interesses. Refere-se à capacidade de ação, conferida, socialmente ou
institucionalmente, a algumas pessoas para tomar decisões e intervir na busca de
seus objetivos, de acordo com seus interesses. O autor faz referência à dominação
enquanto permanência sistemática de alguns grupos particulares no poder. Assim,
relações de poder ―sistematicamente assimétricas‖, ou de dominação, dizem
respeito às relações de pessoas ou grupos particulares que exercem um poder
relativamente estável e que excluem, ou tornam inacessíveis, em grau significativo, a
distribuição ou o acesso a recursos de vários tipos a outras pessoas em contextos
socialmente estruturados.
Se hoje comumente associamos poder à política, isto é, às ações de indivíduos agindo em nome do estado, isto é porque os estados se tornaram particularmente centros importantes de concentração do poder no mundo moderno. Mas a importância das instituições estatais não nos deveria ocultar o fato de que o poder manifestamente político é somente uma forma mais especializada de poder, e de que os indivíduos normalmente exercem poder em muitos contextos que pouco ou nada têm a ver com o estado. Assim fazendo, eles exprimem e ajudam a tornar relativamente estáveis as relações ou redes de poder e dominação entre os indivíduos, e entre grupos de indivíduos, que ocupam diferentes posições nos campos de interação (THOMPSON, 1998, p. 21-22).
Thompson (1998) usa o termo ―poder simbólico‖ para se referir à capacidade de
pessoas e instituições de intervir no curso dos acontecimentos, de influenciar as
ações de outras e produzir eventos por meio da produção e transmissão de formas
simbólicas, estas últimas entendidas como construções significativas, reconhecidas
3 Cf. Bourdieu, ―O Poder Simbólico‖, ―A Economia das Trocas Simbólicas‖, ―As Regras da Arte‖,
―Questões de Sociologia‖.
38
em contextos socialmente estruturados (ações, expressões e falas, imagens e
textos), podendo ser linguísticas, não-linguísticas ou quase-linguísticas.
Se hoje há clareza sobre as transformações institucionais que consolidaram as
formas predominantes de poder na era moderna, de acordo com Thompson (1998,
p. 48), as transformações sistemáticas daquilo que vagamente pode-se chamar de
domínio cultural seguem menos explícitas e, portanto, merecedoras de reflexão. O
autor argumenta que, ao focalizar os meios de produção e circulação das formas
simbólicas no mundo social, pode-se ver que, com o advento das sociedades
modernas, uma transformação cultural sistemática começou a ganhar um perfil mais
preciso.
Em virtude de uma série de inovações técnicas associadas à invenção da impressão e, consequentemente, à codificação elétrica da informação, as formas simbólicas começaram a ser produzidas, reproduzidas e distribuídas numa escala sem precedentes. Os modelos de comunicação e interação se transformaram de maneira profunda e irreversível. Estas mudanças, que incluem o que chamaríamos de ―mediação da cultura‖, tinham uma base cultural muito clara: o desenvolvimento das organizações da mídia que apareceram primeiramente na segunda metade do século XV e foram expandindo suas atividades a partir de então. Atentando para as atividades e produtos destas organizações, e examinando como eles foram recebidos e usados pelos indivíduos, teremos uma visão mais pertinente das transformações culturais associadas ao nascimento das sociedades modernas (THOMPSON, 1998, p. 49).
Historicamente, uma variedade de instituições culturais forneceu importantes
bases para a acumulação dos meios de informação e comunicação, de recursos
materiais e financeiros, e forjaram os meios com os quais as informações e os
conteúdos simbólicos são produzidos e distribuídos pelo mundo social, criando
condições para a intrusão mediada de mensagens nos contextos práticos da vida
cotidiana. Por exemplo, instituições religiosas que se dedicam essencialmente à
produção e difusão de formas simbólicas associadas à salvação, aos valores
espirituais e crenças transcendentais; instituições educacionais, que se ocupam com
a transmissão de conteúdos simbólicos adquiridos (o conhecimento) e com o
treinamento de habilidades e competências; e instituições da mídia, que se orientam
para a produção em larga escala e a difusão generalizada de formas simbólicas no
espaço e no tempo.
Thompson (1998) explica que a troca de formas simbólicas envolve diversos
aspectos que combinam maneiras específicas para a sua produção, mercantilização
e circulação ampliada: o meio técnico de transmissão; o aparato institucional de
transmissão; o distanciamento espaço-temporal implicado na atividade midiática.
39
De acordo com autor, todos os processos de intercâmbio simbólico envolvem
um meio técnico de algum tipo. Isto vale para o intercâmbio de afirmações
linguísticas face a face, o qual pressupõe alguns elementos materiais (laringe,
pregas vocais, ondas de ar, ouvido e tímpanos auditivos etc), mas a natureza do
meio técnico pode variar grandemente de um tipo de produção simbólica (e
intercâmbio) para outro, e as propriedades dos diferentes meios técnicos facilitam e
circunscrevem os tipos de produção simbólica e de intercâmbio. Nesse sentido, a
produção e circulação das formas simbólicas são inseparáveis das atividades da
mídia posto que as instituições da mídia e seus produtos constituem meios através
dos quais as formas simbólicas são cotidianamente apresentadas a nós, por meio de
livros, revistas, jornais, rádio, TV, internet, entre outros veículos de transmissão.
A produção de formas simbólicas e sua transmissão para os outros implica a
utilização de um meio técnico, entendido como substrato material das formas
simbólicas, isto é, o elemento material com que, ou por meio do qual, a informação
ou o conteúdo simbólico é fixado e transmitido do produtor para o receptor. O meio
técnico de transmissão diz respeito aos componentes materiais e imateriais com os
quais, e em virtude dos quais, uma forma simbólica é produzida e transmitida.
Envolve graus de fixação da forma simbólica (grau de durabilidade variável de um
material a outro), de reprodução (formas simbólicas podem ser reproduzidas em
larga escala – envolve a comercialização, o controle de cópias, os direitos autorais
etc); de participação (envolve a concentração de receptores/as leitores/as e
ouvintes).
Thompson (1998, p. 26) ressalta que em virtude da capacidade de fixação, os
meios técnicos podem armazenar informações ou conteúdo simbólico, e por isso são
considerados como diferentes tipos de ―mecanismos de armazenamento de
informação‖, preparados, em diferentes graus, para preservar informações ou
conteúdo simbólico e torná-los disponíveis para uso subsequente. ―Os meios
técnicos, e as informações ou conteúdo simbólico neles armazenados, podem servir
assim de fonte para o exercício de diferentes formas de poder‖.
Um segundo aspecto dos meios técnicos é o que lhes permite um certo grau de
reprodução, ou seja, a capacidade de multiplicar as cópias de uma forma simbólica.
Certamente que o desenvolvimento dos sistemas de escrita e de meios técnicos,
como o pergaminho e o papel, aumentou a reprodutibilidade das formas simbólicas,
mas o passo decisivo veio com a invenção da máquina impressora, a qual permitiu
40
reproduzir mensagens escritas em escala e velocidade que até então não eram
possíveis.
A reprodutibilidade das formas simbólicas é uma das características que estão na base da exploração comercial dos meios de comunicação. As formas simbólicas podem ser ―mercantilizadas‖, isto é, transformadas em mercadorias para serem vendidas e compradas no mercado; e os meios principais de ―mercantilização‖ das formas simbólicas estão justamente no aumento e no controle da capacidade de sua reprodução. [...] Mas a viabilidade comercial das organizações da mídia depende também do exercício do controle, em certo grau, sobre a reprodutibilidade de uma obra. E por isso a proteção do copyright, isto é, do direito de reproduzir, licenciar e distribuir uma obra, é de fundamental importância para a indústria da mídia. Em termos de suas origens e de seus principais beneficiários, o desenvolvimento da lei do copyright tem muito menos a ver com a salvaguarda dos direitos dos autores do que com a proteção dos interesses dos editores e livreiros, que tinham muito a perder com a reprodução não autorizada de livros e de outros materiais impressos (THOMPSON, 1998, p. 27).
O aparato institucional refere-se aos arranjos institucionais através dos quais
as formas simbólicas circulam, de diferentes maneiras e quantidades no mundo
social, caracterizadas por regras, recursos e relações de vários tipos (organização
publicadora, rede de distribuição, as instituições da mídia e o sistema educacional,
por exemplo). Por sua vez, o distanciamento espaço-temporal refere-se à
acessibilidade e condições de uso da forma simbólica. Sobre este aspecto
Thompson (1998; 2009) destaca que as mensagens são produzidas por um grupo
de pessoas e transmitidas para outros situados em circunstâncias espaciais e
temporais diferentes daquelas do contexto original de produção, cujo fluxo de
comunicação é geralmente de sentido único. Portanto, as pessoas receptoras das
mensagens da mídia não são parceiras de um intercâmbio comunicativo recíproco,
mas participantes de um processo estruturado de transmissão simbólica. Por isso a
ênfase no uso do termo ―transmissão‖ e não ―comunicação‖, haja vista que as
pessoas receptoras são, pela própria natureza da comunicação mediada, parceiras
desiguais no processo de intercâmbio simbólico.
Comparados com as pessoas envolvidas no processo de produção e
transmissão, os receptores das mensagens mediadas pouco podem fazer para
determinar os tópicos ou o conteúdo da comunicação. Isto não significa que eles
sejam totalmente privados de poder. Este aspecto refere-se a uma ideia equivocada
de que as pessoas destinatárias dos produtos da mídia são espectadoras passivas
de um conteúdo sobre o qual não têm nenhum controle, cujos sentidos foram
permanentemente embotados pela contínua recepção de mensagens similares. Não
41
são. Portanto, essa ideia deve ser descartada, assim como a suposição de que a
recepção em si mesma seja um processo acrítico e que os produtos da mídia são
absorvidos como uma esponja absorve água. De acordo com Thompson (1998),
suposições desse tipo não refletem as maneiras complexas pelas quais os produtos
da mídia são recebidos pelas pessoas, interpretados por elas e incorporados em
suas vidas.
1.1.2 Mídia e ideologia
Nesta pesquisa, nosso interesse está voltado para as maneiras como as formas
simbólicas servem, em circunstâncias particulares, para estabelecer e sustentar
relações de dominação. Ideologia, então, se refere ao estudo de como a produção,
circulação e recepção das formas simbólicas produzem e reproduzem relações de
domínio, temas desenvolvidos nos próximos tópicos.
Thompson (2009) reconstruiu a história dos conceitos de ideologia no Ocidente
e apreendeu duas concepções: neutras e críticas. As primeiras conceituam os
fenômenos ideológicos como um conjunto de ideias, valores, crenças que atuam
como cimento social, sem que, necessariamente, lhes sejam atribuídos sentidos
ilusório, falso ou negativo. As concepções críticas atribuem um sentido negativo ao
conceito de ideologia. O autor adota a concepção crítica de ideologia, portanto,
mantendo a conotação negativa, associando a análise da ideologia à questão da
crítica social.
O primeiro uso de seus significados na Europa Ocidental foi em 1796, pelo
filósofo francês Destutt de Tracy, para quem o conceito de ideologia serviu para
descrever seu projeto de uma nova ciência interessada na análise sistemática das
ideias e sensações. Concebida em seu sentido neutro, a ideologia possibilitaria a
compreensão da natureza humana e, desse modo, a reestruturação da ordem social
e política de acordo com as necessidades e aspirações dos seres humanos
(THOMPSON, 2009).
Posteriormente, segundo a leitura de Thompson (2009, p. 47), o conceito
passou por alterações empreendidas por Napoleão Bonaparte, que atribuiu ao termo
uma conotação pejorativa. Com Napoleão, o termo ideologia ―se tornou uma arma
nas mãos de um imperador, lutando desesperadamente para silenciar seus
oponentes e para sustentar um regime em destruição‖.
42
Enquanto para Destutt de Tracy ideologia era a ciência superior que facilitaria o
progresso nos afazeres humanos, para Napoleão, ideologia não passava de
―pretensa filosofia que tinha incitado à rebelião ao tentar determinar os princípios
políticos e pedagógicos na base apenas do raciocínio abstrato‖. A ideologia tornou-
se, então, uma teoria entre outras e, não mais, a teoria suprema (THOMPSON,
2009, p. 48 e 49).
Thompson (2009) também aponta as contribuições de Marx como centrais na
história do conceito de ideologia. O autor apreende na obra de Marx diversos
contextos teóricos nos quais o conceito de ideologia é empregado e identifica três
concepções que se sobrepõem umas às outras e que se relacionam de formas
distintas com os diferentes movimentos do pensamento marxiano. São elas:
concepção polêmica, epifenomênica e latente.
Para Thompson (2009), a concepção polêmica estaria ligada a uma série de
pressupostos concernentes à determinação social da consciência, à divisão do
trabalho e ao estudo científico do sócio-histórico. ―Ideologia, nesse sentido, é uma
doutrina teórica e uma atividade que olha erroneamente as ideias como autônomas
e eficazes e que não consegue compreender as condições reais e as características
da vida sócio-histórica‖ (THOMPSON, 2009, p. 51).
Na concepção epifenomênica, a ideologia é vista como dependente e derivada
das condições econômicas, das relações de classe e das que as produzem.
―Ideologia, de acordo com a concepção epifenomênica, é um sistema de ideias que
expressa os interesses da classe dominante, mas que representa relações de classe
de uma forma ilusória‖ (THOMPSON, 2009, p. 54).
Por fim, na concepção latente de ideologia, Thompson (2009, p. 59) chama a
atenção para o fato de que as relações sociais podem ser sustentadas, e as
mudanças sociais impedidas, pela prevalência ou difusão de construções simbólicas,
ao que o autor descreveu como um ―processo de conservação social dentro de uma
sociedade que está passando por uma mudança social sem precedentes‖. Ideologia,
nesse sentido,
[...] é um sistema de representações que servem para sustentar relações existentes de dominação de classes através da orientação das pessoas para o passado em vez de para o futuro, ou para imagens e ideais que escondem as relações de classe e desviam da busca coletiva de mudança social (THOMPSON, 2009, p. 58).
43
Diferentemente de Marx, Thompson (2009, p. 200) considera que a ênfase nas
relações de classes ―pode obscurecer ou dar uma falsa impressão sobre aquelas
formas de dominação e subordinação que não estão baseadas na divisão de classes
e que não podem ser reduzidas a ela‖. De acordo com o autor, não se trata de
minimizar a importância das classes, mas de dar atenção a outros tipos de
dominação baseadas em divisões entre sexos, grupos étnicos, etários e entre
estados-nação, bem como as formas simbólicas que servem para garanti-las.
Na concepção de ideologia proposta por Thompson (2009, p. 75), o enfoque
está orientado para a análise concreta dos fenômenos sócio-históricos, mantendo,
ao mesmo tempo, ―um caráter crítico transmitido a nós pela história do conceito‖.
Implica dizer que ―fenômenos ideológicos são fenômenos simbólicos significativos
desde que eles sirvam, em circunstâncias sócio-históricas específicas, para
estabelecer e sustentar relações de dominação‖. Seguindo o conjunto de análises e
argumentos aqui resumidos, Thompson (2009) propõe sua conceituação de
ideologia em termos
[...] das maneiras como o sentido, mobilizado pelas formas simbólicas, serve para estabelecer e sustentar relações de dominação: estabelecer, querendo significar que o sentido pode criar ativamente e instituir relações de dominação; sustentar, querendo significar que o sentido pode servir para manter e reproduzir relações de dominação através de um contínuo processo de produção e recepção de formas simbólicas (THOMPSON, 2009, p. 79, grifos do autor).
Na análise da ideologia interessam as maneiras como as formas simbólicas se
entrecruzam com relações de poder, ou seja, ―como o sentido é mobilizado, no
mundo social, e serve, para isso, para reforçar pessoas e grupos que ocupam
posições de poder‖, sustentando relações de dominação (THOMPSON, 2009, p. 76).
Como vimos, o conceito de formas simbólicas é central. No entanto, elas não
são ideológicas em si, mas dependem da maneira como são utilizadas e entendidas
em contextos sociais específicos. Formas simbólicas ideológicas são aquelas que
produzem ou sustentam relações de dominação. Serão ideológicas se ou quando
usadas na produção, transmissão, recepção e manutenção de relações assimétricas
de poder.
Formas simbólicas não são meramente representações que servem para articular ou obscurecer relações sociais ou interesses que são constituídos fundamental e essencialmente em um nível pré-simbólico: ao contrário, as formas simbólicas estão, contínua e criativamente, implicadas na
constituição das relações sociais como tais (THOMPSON, 2009, p. 78).
44
As ciências sociais têm realizado estudos sobre as formas simbólicas a partir
do conceito de cultura. Nesta pesquisa, consideramos que o estudo dos fenômenos
culturais é de grande importância, posto que a vida social é constituída de elementos
materiais, mas também de ações e expressões significativas (manifestações verbais,
símbolos, textos e vários tipos de artefatos) de pessoas que, através delas se
expressam e procuram entender a si e às outras pela interpretação dessas ações e
expressões que produzem, divulgam e recebem. Nesse sentido, o estudo dos
fenômenos culturais se constitui no estudo das maneiras como são produzidos,
circulam e são recebidos os vários tipos de expressões significativas (THOMPSON,
2009).
Alguns dos principais episódios no desenvolvimento do conceito de cultura
foram retomados por Thompson (2009). O autor realça algumas dimensões de seu
uso. Na denominada ―concepção clássica‖ de cultura, o termo se refere a um
processo de desenvolvimento intelectual ou espiritual, nas discussões sobre cultura,
a partir da análise de seu uso entre os filósofos e historiadores alemães nos séculos
XVIII e XIX. Posteriormente, no fim do século XIX, a disciplina de antropologia
desenvolveu várias concepções, as quais o autor denomina de ―concepções
descritiva e simbólica‖. A primeira concepção está relacionada a um conjunto variado
de valores, crenças, costumes, convenções, hábitos e práticas características de
uma sociedade específica ou de um período histórico. A segunda, a simbólica,
concentra a atenção nos fenômenos simbólicos, ou seja, está voltada para a
interpretação dos símbolos e da ação simbólica.
Embora esta última concepção seja um ponto de partida para a abordagem
construtiva dos fenômenos culturais, para Thompson (2009, p. 166), ela é
insuficiente para tratar as relações sociais estruturadas nas quais os símbolos e as
ações simbólicas estão inseridos. Formula, então, a concepção estrutural de cultura:
―os fenômenos culturais podem ser entendidos como formas simbólicas em
contextos estruturados; e a análise cultural pode ser pensada como o estudo da
constituição significativa e da contextualização social das formas simbólicas‖. Tal
concepção acarreta a possibilidade de se visualizarem as formas simbólicas em
suas relações com os contextos sociais estruturados, pelos quais e dentro dos quais
elas são produzidas, difundidas e recebidas.
45
Thompson (2009) assinala que é no contexto de midiação cultural das
sociedades modernas que o estudo da ideologia ganha novos contornos. A análise
da ideologia passa de uma preocupação com a natureza dos meios técnicos e as
instituições da organização da mídia para um tipo de análise que, embora
fundamentada nessas considerações, é orientada em direção ao conteúdo das
mensagens e às maneiras como é empregado, circula e é apropriado em
circunstâncias particulares por grupos e instituições que ocupam posições diversas
em nossas sociedades estruturadas em torno de relações assimétricas. Isto implica
dizer que, em vez de ver esses/as receptores/as como parte de uma massa inerte e
indiferenciada, a recepção de mensagens desses meios de comunicação consiste
num processo ativo, inerentemente crítico e socialmente diferenciado. Sob essa
perspectiva, o estudo da ideologia investiga as maneiras como os sentidos são
construídos e utilizados e em que contextos sociais as formas simbólicas são
empregadas e articuladas.
Thompson (2009, p. 81) nomeia e define cinco modos de operação da
ideologia, que podem estar ligados a várias estratégias de construção simbólica.
Esses modos de operação não constituem as únicas maneiras de como a ideologia
opera e não necessariamente funcionam de forma independente; ―esses modos
podem sobrepor-se e reforçar-se mutuamente e a ideologia pode, em circunstâncias
particulares, operar de outras maneiras‖. Certos modos de operação da ideologia
podem estar associados a determinadas estratégias de construção simbólica, porém
isso não significa que esses modos e estratégias sejam únicos. Da mesma maneira,
ao se associar estratégias, não quer dizer que elas sejam intrinsecamente
ideológicas. O caráter ideológico de uma forma simbólica é interpretado conforme as
suas condições de produção, circulação e recepção, o que equivale dizer que um
mesmo discurso pode ser considerado, em determinado contexto, subversivo, e em
outro, ideológico. Importa identificar os modos de operação da ideologia e indicar
maneiras, em determinadas circunstâncias, em que elas estejam associadas às
formas simbólicas, gerando estratégias de construção simbólica.
A ideologia, operada pelo modo legitimação, ocorre quando as formas
simbólicas representam as relações de dominação como legítimas, ou seja, justas e
dignas de apoio. Nessas circunstâncias, a representação das relações de
dominação como legítimas pode ser vista como uma exigência expressa de
legitimação, em certas formas simbólicas, que está baseada em fundamentos
46
racionais, os quais apelam à legalidade de regras dadas; tradicionais, fundamentos
que apelam à sacralidade de tradições imemoriais; carismáticos, cujos fundamentos
apelam ao caráter excepcional de uma pessoa individual que exerça autoridade. As
exigências baseadas nesses fundamentos podem ser expressas em formas
simbólicas através de certas estratégias típicas de construção simbólica. Comunico
cada uma delas abaixo.
Racionalização: estratégia pela qual o produtor de uma forma simbólica constrói
uma cadeia de raciocínios que procura defender, ou justificar, um conjunto de
relações, ou instituições sociais, e com isso persuadir uma audiência de que isso é
digno de apoio.
Universalização: estratégia pela qual acordos institucionais que servem aos
interesses de alguns indivíduos são apresentados como servindo aos interesses de
todos/as, e esses acordos são vistos como estando abertos, em princípio, a qualquer
pessoa que tenha a habilidade e a tendência de ser neles bem-sucedido.
Narrativização: estratégia pela qual histórias que contam o passado e tratam o
presente como parte de uma tradição eterna e aceitável, servindo para justificar o
exercício do poder por aqueles que o detém e para justificar, diante dos outros, o
fato de que eles não têm poder.
A dissimulação é o modo de operação da ideologia pelo qual relações de
dominação podem ser estabelecidas e sustentadas quando são ocultadas, negadas
ou obscurecidas, ou ainda quando são representadas de maneira a desviar a
atenção ou quando passa por cima de relações e processos existentes, omitindo a
dominação. Pode ser expressa por diferentes estratégias, descritas abaixo.
Deslocamento: estratégia pela qual um termo costumeiramente usado para se
referir a um determinado objeto ou pessoa é usado para se referir a outro, e com
isso as conotações positivas ou negativas do termo são transferidas para o outro
objeto ou pessoa.
Eufemização: estratégia que, ao descrever ou redescrever ações, instituições ou
relações sociais de dominação, o faz de modo a despertar uma valoração positiva.
Tropo: estratégia que dissimula relações de dominação ao utilizar palavras ou
expressões em sentido figurado, através da metonímia/sinédoque e/ou metáfora,
hipérbole e outras figuras de linguagem.
47
A unificação constitui um modo de operação da ideologia, por meio do qual
relações de dominação podem ser estabelecidas e sustentadas através da
construção, no nível simbólico, de uma forma de unidade que interliga pessoas ou
grupos numa identidade coletiva, independentemente das diferenças e divisões que
possam separá-los. Suas estratégias costumeiras estão apontadas abaixo.
Padronização: formas simbólicas são adaptadas a um referencial padrão,
proposto como um fundamento partilhado e aceitável de troca simbólica, a despeito
de diferenciações, desigualdades etc.
Simbolização da unidade: estratégia que envolve a construção de símbolos de
unidade, de identidade e de identificação coletivas, que são difundidas através de
um grupo, ou de uma pluralidade de grupos, apesar de desigualdades etc.
Através da fragmentação, relações de dominação podem ser mantidas
segmentando pessoas e grupos que possam ser capazes de se transformar num
desafio real aos grupos dominantes, ou dirigindo forças de oposição potencial em
direção a um alvo que é projetado como mau, perigoso ou ameaçador. Suas
estratégias típicas são:
diferenciação: estratégia que enfatiza as distinções, diferenças e divisões entre
pessoas e grupos, apoiando as características que os desunem e os impedem de
constituir um desafio efetivo às relações existentes, ou um participante efetivo no
exercício do poder;
expurgo do outro: estratégia que envolve a construção de um inimigo, interno ou
externo, retratado como mau, perigoso e ameaçador, contra o qual pessoas são
chamadas a resistir coletivamente ou a expurgá-lo. De acordo com Andrade (2001),
a estigmatização constitui um tipo específico de diferenciação e expurgo do outro por
meio do qual pessoas/grupos são apresentadas enfatizando alguma diferença
(moral, física e/ou social), de maneira a desapropriá-las do exercício de sua
humanidade.
A reificação é conceituada como o modo de operação da ideologia pelo qual
relações de dominação podem ser estabelecidas e sustentadas pela retratação de
uma situação transitória, histórica, como se fosse permanente, natural, atemporal.
Nesse modo, processos são retratados como coisas ou como acontecimentos, cujo
caráter social e histórico é ignorado, eliminado ou ofuscado. Pode ser expressa
pelas seguintes estratégias:
48
naturalização: estratégias pelas quais um estado de coisas que, a despeito de ser
criação social e histórica, é retratado como um acontecimento natural ou como
resultado inevitável de características naturais, que lhe conferem um caráter natural,
às vezes, biológico;
eternalização: estratégias de esvaziamento do caráter histórico dos fenômenos
sócio-históricos, apresentados como permanentes, imutáveis e recorrentes;
nominalização/passivização: estratégias que tendem a eliminar a referência aos
atores das ações, bem como aos contextos espaciais e temporais específicos,
através da eliminação de construções verbais, usando de recursos gramaticais ou
sintáticos (narrativas no gerúndio, por exemplo).
A análise da ideologia, assim conceituada, focaliza o entrecruzamento das
formas simbólicas com relações de poder, as maneiras como o sentido (significado)
constrói e sustenta relações de dominação. Pode-se, então, considerar que as
formas simbólicas impactam no processo de formação e autoformação.
Thompson (1998, p. 183) examina como a formação do self está entrelaçada
com as formas simbólicas mediadas. Embora sua explicação traga uma afinidade
com o trabalho de interacionistas simbólicos, entre outros, ela se baseia
principalmente na tradição hermenêutica. De acordo com essa explicação, ―self é um
projeto simbólico que a pessoa constrói ativamente com os materiais simbólicos que
lhe são disponíveis, com os quais vai tecendo uma narrativa coerente da própria
identidade‖. Isto implica dizer que as narrativas das pessoas vão se modificando
com o tempo, à medida que novos materiais e experiências vão entrando em cena e
gradualmente redefinindo a sua trajetória de vida. No entanto, a ênfase no caráter
ativo e criativo do self não sugere que ele seja socialmente incondicionado. Ao
contrário disso, os materiais simbólicos que formam os elementos das identidades
são distribuídos de maneira desigual.
O autor argumenta que se o processo de formação se tornou mais dependente
do acesso às formas mediadas de comunicação, tanto impressas como veiculadas
eletronicamente, o desenvolvimento da mídia também enriqueceu e acentuou a
organização reflexiva do self, no sentido de que, com a expansão dos recursos
simbólicos disponíveis no processo de sua formação, as pessoas são continuamente
confrontadas com novas possibilidades, seus horizontes estão continuamente se
alargando e seus pontos simbólicos de referência mudando, o que lhes permite
desenvolver uma reflexão crítica sobre si e suas condições de vida. Embora a
49
reflexiva apropriação das mensagens da mídia possa ter consequências inquietantes
para a pessoa e para as relações de poder, seria enganador e inadequado sugerir
que tais consequências são sempre perturbadoras. ―Claramente não são; parece
que em alguns contextos (a produção) e a apropriação das mensagens da mídia
serve para estabilizar e reforçar as relações de poder, mais do que para romper ou
enfraquecer‖ (THOMPSON, 1998, p. 186, grifo meu).
Ao estudar ideologia no contexto socioambiental, podemos nos interessar pelas
maneiras como o sentido mantém relações de dominação de classe, mas também
outros tipos de dominação, por exemplo, as relações sociais estruturadas entre
grupos étnico-raciais, religiosos, de idade e de gênero. É igualmente importante
reconhecer a existência de relações de poder sistematicamente assimétricas entre
estados-nações hegemônicos e estados-nações localizados à margem do sistema
global. Pois, como se sabe, os que ocupam posições dominantes no espaço social
também estão em posições dominantes no campo da produção das ideias.
De acordo com Thompson (1998; 2009), o surgimento de movimentos sociais e
de grupos de pressão, tais como o movimento pelos direitos humanos, os
movimentos de mulheres e de ambientalistas, é uma importante indicação de que as
instituições políticas estabelecidas não têm respondido com urgência suficiente às
questões que mais afetam a vida humana e não humana. Não é por acaso que a
organização de grupos e movimentos há muito vêm colocando novas questões na
agenda política, abrindo áreas da vida ao escrutínio crítico e também
desencadeando processos de democratização participativa, para além das esferas
políticas institucionalizadas. Particularmente neste momento histórico, em que as
tecnologias de informação possibilitam que as formas simbólicas circulem de
maneira acelerada, é possível acompanhar movimentos e debates que são comuns
em todos os continentes.
Para Thompson (1998), um dos problemas advém do fato de que a democracia
representativa foi institucionalizada principalmente em nível de estado-nação. Mas,
as tendências globalizantes da vida social moderna tornaram esta demarcação
territorial extremamente problemática, haja vista que os estados nacionais
particulares estão cada vez mais imersos em redes de poder (econômico, político,
coercitivo e simbólico) que se prolongam muito além de suas fronteiras e que
limitam, de um país para outro, o espaço de manobra dos governos nacionais
democraticamente eleitos. Além disso, há uma gama de questões, por exemplo,
50
relativas às atividades corporativas transnacionais, aos problemas de poluição, à
degradação ambiental, à resolução de conflitos armados e à proliferação de armas
nucleares, que dificilmente receberão tratamento satisfatório dentro das limitadas
estruturas políticas dos estados nacionais.
Thompson (1998) destaca que o desenvolvimento dos meios de comunicação,
abasteceu uma crescente conscientização da interconexão e interdependência que
ele mesmo, entre outros, ajudou a criar, além de alimentar o frágil sentido de
responsabilidade pela humanidade e pelo mundo coletivamente habitado. Nesse
ponto o autor dialoga com escritos de Hans Jonas, sobre suas reflexões para uma
nova ética. Da perspectiva jonasiana, a qual sustenta que a sobrevivência humana
depende de nossos esforços para cuidar do planeta e seu futuro, Thompson (1998)
defende uma ética de responsabilidade global como ponto de chegada.
Em suas reflexões para uma nova ética, Hans Jonas (2006) parte da premissa
de que a ética se preocupa com a ação e, portanto, a tecnologia aumenta
significativamente o alcance da agência ou poder para impactar o mundo através de
nossas ações. Assim, a tecnologia exige o desenvolvimento de uma concepção de
responsabilidade ética expandida. Isto porque antes da tecnologia moderna, a
finalidade espacial e temporal da reflexão ética era relativamente limitada, se
concentrava nas interações locais, imediatas e interpessoais. O universo ético era
composto de contemporâneos, portanto, a reflexão ética era uma moral de
proximidade. Com os avanços tecnológicos, particularmente desde a revolução
industrial, a tecnologia, associada à responsabilidade, passou a envolver questões
éticas que afetam significativamente as pessoas do outro lado do planeta, as
gerações futuras e a natureza não humana, razão pela qual, argumenta Jonas
(1974), devemos assumir a responsabilidade por esses novos poderes e
desenvolver a ética apropriada para eles, ou seja, uma ética global e ambiental, que
contemple as gerações futuras, a bioética, bem como uma ética da tecnologia em
geral.
Jonas (2006, p.124), invoca a citação de Kant, "a razão humana pode, em
questões de moralidade, ser facilmente levada a um alto grau de precisão e
completude mesmo na inteligência mais comum" para avançar a ideia de que
decisões éticas sobre os resultados das escolhas que fazemos hoje não deveriam e
de fato não podem ser estritamente limitadas aos acadêmicos da torre de marfim.
Sua fé na capacidade inata do leigo para adaptar suas considerações intelectuais à
51
luz da mudança de informação sugere que qualquer pessoa pode fazer julgamentos
de moral. Embora sem contar com a capacidade de "antecipar todas as
contingências [...], ainda posso saber como atuar de acordo com a lei moral".
É este sentido de responsabilidade que poderia fazer parte de um novo tipo de reflexão moral-prática, livre das limitações antropocêntricas, espaciais e temporais da concepção tradicional de ética, um tipo de reflexão que estabelece uma relação toleravelmente coerente com as realidades de um mundo em crescente interconexão (THOMPSON, 1998, p. 228).
De acordo com Thompson (1998, p. 228), os meios de comunicação
possibilitam que a crescente difusão de informações e imagens através da mídia,
inclusive a mídia educativa, podem ajudar a estimular e a aprofundar um sentido de
responsabilidade pelo mundo humano e não humano da natureza, pelo universo de
outros distantes que não compartilham das mesmas condições de vida. Se
conseguiremos desenvolver um sentido de responsabilidade numa forma de reflexão
prático-moral que forneça uma orientação racional para a conduta humana e se
chegaremos a entender suficientemente os complexos processos criados
humanamente para intervir efetivamente nela é uma incerteza. ―Mas tentar é a
melhor – e única – opção que temos‖.
1.2 Metodologia da interpretação: a hermenêutica de profundidade
As discussões teóricas geram implicações metodológicas para a realização de
pesquisas. Thompson (2009) sistematiza os temas desenvolvidos em sua
perspectiva teórica e propõe o método da Hermenêutica de Profundidade (HP) para
a análise das formas simbólicas. Trata-se, então, de referencial metodológico que
articula-se às concepções teóricas eleitas neste estudo e que propõe analisar, em
contextos específicos, a articulação entre fenômenos simbólicos e dominação.
De acordo com Thompson (2009), a HP como referencial metodológico parte
do suposto que o objeto sob análise é uma construção simbólica significativa que
exige uma interpretação. Daí a importância da atenção ao processo de
interpretação, posto que somente desse modo é possível fazer justiça ao caráter
distintivo do campo-objeto, levando em consideração que as formas simbólicas
estão também inseridas em contextos sociais e históricos de diferentes tipos e, como
52
construções simbólicas significativas, estão estruturadas internamente de várias
maneiras.
Thompson (1998) alerta que o esquecimento dos contextos práticos da vida
cotidiana e as condições de produção e recepção de formas simbólicas é uma
tendência que pode ser identificada ao longo das reflexões teóricas e análises
práticas das mídias. Ele explica que sob a influência do estruturalismo, da semiótica
e outras orientações, um grande número de críticas culturais se tem preocupado
com as questões relativas aos ―textos‖. Por exemplo, identificamos pesquisas que
analisam desde filmes, programas de televisão, novelas, anúncios até a literatura
didática etc. De acordo com o autor, há muito a se lucrar com uma rigorosa análise
relativa aos ―textos‖. No entanto, ele assinala que cada uma delas é ―quando muito,
uma maneira assaz parcial de se debruçar sobre os fenômenos culturais (incluindo
os textos literários)‖. Isto porque os textos são analisados em si mesmos e por si
mesmos, sem referência às condições sob as quais foram produzidos nem aos
objetivos e recursos daqueles que os produzem e às maneiras em que são usados e
entendidos por quem os recebem (THOMPSON, 1998, p. 41).
Em nossas pesquisas coletivas temos procurado abarcar os contextos de
produção, circulação e recepção de discursos veiculados nas mídias que
analisamos.
Compreendendo que o objeto de investigações é um campo pré-interpretado, o
enfoque da HP leva em consideração as maneiras como as formas simbólicas são
interpretadas pelos sujeitos que constituem o campo-sujeito-objeto. Nesse sentido, o
ponto de partida para a análise é a interpretação da ―doxa‖ ou ―hermenêutica da vida
cotidiana‖, a qual constitui-se de uma fase preliminar cujo intuito é apreender como
as formas simbólicas são produzidas, circulam e são interpretadas em contextos
concretos da vida social. Diz respeito ao contexto em que elas são produzidas,
circulam e são recebidas pelas pessoas que, cotidianamente, dão sentido a essas
formas simbólicas e as integram a outros aspectos de suas vidas.
No entanto, considerar que as formas simbólicas são construções
significativas interpretadas e compreendidas pelas pessoas que as produzem e
recebem é apenas uma parte da análise. É preciso, então, levar em consideração
que tais construções são também estruturadas de maneiras definidas e estão
inseridas em condições sociais e históricas específicas. Para dar conta de tal
concepção, a análise proposta por Thompson (2009, p. 365), compreende três fases
53
(análises sócio-histórica; formal ou discursiva; interpretativa), as quais ―devem ser
vistas não tanto como estágios separados de um método sequencial, mas antes
como dimensões analiticamente distintas de um processo interpretativo complexo‖.
Considerando, então, que a hermenêutica reconhece a própria historicidade do
conhecimento, o caminho percorrido para a construção desta pesquisa é mediado
por todas as fases propostas, observando tal como Thompson (2009), os quatro
aspectos dos contextos sociais que apelam por níveis distintos de análise.
O primeiro deles refere-se às situações espaço-temporais em que as formas
simbólicas são produzidas e recebidas. O segundo diz respeito aos campos de
interação em que as formas simbólicas estão inseridas, os quais podem ser
analisados como um espaço de posições e um conjunto de trajetórias, que
conjuntamente determinam algumas das relações entre pessoas, grupos e algumas
oportunidades acessíveis a elas.
Na consecução de cursos de ação dentro de campos de interação, as pessoas empregam vários tipos e quantidades de recursos ou ―capital‖ disponível a elas, assim como uma variedade de regras, convenções e ―esquemas‖ flexíveis. Esses esquemas não são regras muito explícitas e claramente formuladas, mas estratégias implícitas e tácitas. Eles existem na forma de conhecimento prático, gradualmente inculcado e continuamente reproduzido nas atividades comuns da vida quotidiana (THOMPSON, 2009, p. 367, aspas do autor).
O terceiro aspecto se refere às instituições sociais, as quais podem ser vistas
como conjuntos relativamente estáveis de regras e recursos, juntamente com
relações sociais que são estabelecidas por eles. Por fim, o quarto aspecto diz
respeito aos meios técnicos de construção de mensagens e de transmissão, os
quais conferem às formas simbólicas determinadas características, certo grau de
fixidez, de reprodutibilidade e certa possibilidade de participação para os sujeitos
que empregam o meio.
[...] eles (os meios técnicos) estão sempre inseridos em contextos sócio-histórico particulares; eles sempre supõem certas habilidades, regras e recursos para codificar e decodificar mensagens, atributos esses que estão desigualmente distribuídos entre as pessoas e muitas vezes são desenvolvidos dentro de aparatos institucionais específicos, que podem estar relacionados com a regulação, produção e circulação das formas simbólicas (THOMPSON, 2009, p. 368, grifo nosso).
54
A primeira fase do enfoque da HP é a análise sócio-histórica, a qual parte do
princípio de que formas simbólicas são produzidas, transmitidas e recebidas em
condições sociais e históricas específicas. Esta etapa tem por objetivo reconstruir as
condições sociais e históricas de produção, circulação e recepção das formas
simbólicas. Há aqui a necessidade de investigar o contexto social examinando os
campos de interação, as relações sociais e institucionais, os recursos e
oportunidades, as regras e convenções.
A segunda fase, denominada análise formal ou discursiva, destina-se ao
estudo das formas simbólicas que circulam nos campos sociais, as quais, por serem
complexas, apresentam uma estrutura articulada que necessita de análise própria.
De acordo com Thompson (2009, p. 369), ―formas simbólicas são produtos que, em
virtude de suas características estruturais, têm capacidade, e têm por objetivo, dizer
alguma coisa sobre algo‖. Essa análise pode ser feita por meio de diversos
procedimentos, tais como: semiótica, análise do discurso, análise sintática, narrativa,
argumentativa, entre outros, de acordo com o objeto a ser investigado. Nesta tese
utilizaremos os procedimentos da análise de conteúdo (AC), proposta por Bardin
(2011) e Rosemberg (1981). Este procedimento possibilita mostrar ao leitor o
caminho percorrido na análise. Visa oferecer uma descrição sistemática e objetiva
da organização interna das formas simbólicas, bem como a obediência aos
princípios éticos na pesquisa.
A terceira etapa da pesquisa, mediada pelas duas anteriores, busca a
interpretação sintetizando e explicitando criativamente o que está representado ou o
que é dito para chegar a possíveis significados. Trata-se de interpretar e
reinterpretar objetivando uma síntese criativa apoiada nas fases anteriores.
Por mais rigorosos e sistemáticos que os métodos da análise formal ou discursiva possam ser, eles não podem abolir a necessidade de uma construção criativa de significado, isto é, de uma explicação interpretativa do que está representado ou do que é dito (THOMPSON, 2009, p. 375).
A interpretação/reinterpretação se apoia em cada uma das fases da HP,
porém, de maneira particular, com a finalidade de realçar as maneiras como o
significado serve para estabelecer e sustentar relações de dominação. Considera-se
nesta pesquisa que a reflexão crítica sobre as relações de poder e dominação deve
ser governada pelo ―princípio de não-exclusão‖. Tal como sugere Thompson (2009,
p. 416-417),
55
[...] uma decisão sobre se instituições específicas e acordos sociais são justos e merecedores de apoio deve ser uma decisão em que todas as pessoas que estão afetadas pelas instituições ou acordos têm o direito, em princípio, de participar. Por isso a decisão deve incluir, em princípio, as pessoas que, nas circunstâncias concretas da vida quotidiana, podem estar excluídas das posições de poder. Se, pois, as instituições e acordos são justos e merecedores de apoio, então sua justiça e valor são características que devem ser reconhecidas, em princípio, por todos os que são atingidos por eles. E se o princípio de não-exclusão tiver como resultado virar a mesa em favor dos que, nas circunstâncias atuais, são geralmente excluídos das posições de poder, então parece-me que isso não é uma consequência nem surpreendente, nem indesejada.
A análise implica, então, identificar as características estruturais das formas
simbólicas que facilitam a mobilização do significado, ou seja, busca traçar a
conexão entre a análise das características estruturais das formas simbólicas e a
interpretação da ideologia, identificando pelos modos de operação (legitimação,
dissimulação, unificação, fragmentação e reificação) algumas estratégias de
construção simbólica que estão tipicamente ligadas a eles.
Adotando a organização sugerida por Thompson (2009), seguimos, no próximo
capítulo, com a descrição do contexto sócio-histórico de produção, circulação e
recepção das formas simbólicas.
56
2 SUSTENTABILIDADE: TENSÕES E DIÁLOGOS
Neste capítulo será apresentada a análise sócio-histórica de produção,
circulação e recepção de discursos sobre sustentabilidade e suas implicações com a
educação.
Como forma simbólica, sustentabilidade é uma expressão veiculada por uma
diversidade de atores sociais, desde ambientalistas, empresariado, nos documentos
governamentais, educacionais e religioso. No entanto, distintas idealizações e
valores vêm sendo associados à noção de sustentabilidade, a qual vem ocupando
espaço crescente nos debates sobre desenvolvimento, ciência, tecnologia e
sociedade.
Partindo dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) é possível identificar
que historicamente a percepção de que a humanidade vem percorrendo um caminho
rumo ao esgotamento ou a inviabilização de recursos indispensáveis à própria
sobrevivência intensificou-se após a Segunda Guerra Mundial, principalmente a
partir da década de 1960. Essa constatação colocou em xeque a ideia
desenvolvimentista de que a qualidade de vida depende unicamente do avanço da
ciência e da tecnologia. Nessa visão, todos os problemas sociais e econômicos
seriam solucionados com a otimização da exploração dos recursos naturais. Dos
problemas que emergiram desse sistema surgiu a necessidade de repensar o
conceito de desenvolvimento. A discussão sobre como viabilizar o crescimento
econômico das nações, explorando os recursos naturais de forma racional, e não
predatória surge do confronto inevitável entre o modelo de desenvolvimento
econômico dominante, que valoriza o aumento de riqueza em detrimento da
conservação dos recursos naturais, e a necessidade vital de conservação do meio
ambiente, face às injustiças sociais e ao esfacelamento das culturas e comunidades
locais (BRASIL, 1998).
O ideal de ―desenvolvimento sustentável‖ surge da necessidade de não se
restringir o comércio, permitindo que ele continue em escala ascendente, sem, no
entanto, comprometer os componentes ambientais e sociais do planeta. Dowbor
(2015, p. 10) explica que a sustentabilidade se refere aos vetores sociais e
ambientais. Implica assegurar condições dignas de vida para todos/as, em uma
relação equilibrada com o mundo natural de maneira que nos permita manter os
recursos naturais para as gerações seguintes. Embora o conceito de
57
sustentabilidade trate de ―assegurar uma sociedade economicamente viável,
socialmente justa e ambientalmente sustentável. Não é o que acontece‖.
2.1 Da tomada de consciência ambiental às dimensões políticas
internacionais sobre meio ambiente
A temática do desenvolvimento da sustentabilidade retrata uma história
marcada por avanços e recuos, acontecimentos desastrosos e muitos documentos
resultantes de reuniões e conferências globais, permeadas por tensões e diálogos,
comprovados por movimentos históricos.
Diversas fontes registram esse processo. Uma delas é o documentário
intitulado Écologie: ces catastrophes qui changèrent le monde, de 2009, dirigido por
Virginie Linhart, filósofa política e uma importante documentarista de temas políticos,
históricos e sociológicos e Alice Le Roy, coautora, jornalista ambientalista.
Por tratar de registros históricos de eventos que têm um impacto global, mas
são muitas vezes ideologicamente esquecidos ou obscurecidos e, principalmente
considerando a utilidade da memória das lutas, o referido documentário, entre outras
fontes, será uma das referências para o desenvolvimento deste tópico.
Acompanhando a cronologia, os ideais de sustentabilidade passaram por
marcos significativos diversos. Um deles foi a publicação do livro Silent Spring, de
Rachel Carson, em 1962, o qual trata dos riscos da catástrofe humana e natural
resultantes da cultura tecnológica. Entre outras publicações, o The Population Bomb,
de Paul Ehrlich, em 1968, o qual chama a atenção para o crescimento desmedido e
exponencial da população planetária. É possível notar uma movimentação
ambientalista a partir desses marcos, mas somente no início da década de 1970,
com a crise do petróleo de 1973, quando vários países intensificaram sua corrida em
busca da energia nuclear que os movimentos sociais se organizaram
institucionalmente.
Antes disso, na década de 1950, ocorreram dois desastres ambientais,
resultantes não de fatalidades, mas de uma escolha econômica – o nevoeiro tóxico
em Londres, no ano de 1952, e a ―Doença de Minamata”4, cujos sinais surgiram em
4 Minamata é uma cidade japonesa que sofreu graves consequências resultantes da contaminação
por mercúrio. Centenas de pessoas e animais morreram e milhares de pessoas tiveram anomalias que acabaram passando para as novas gerações. Na década de 1930, uma empresa se instalou na
58
1956, vinte e seis anos após a instalação da Chisso, empresa fabricante de
acetaldeído, na cidade (LINHART; LE ROY, 2009).
O ―Desastre de Minamata‖ tem uma dimensão a acrescentar, a do
encobrimento das consequências da poluição em nome do desenvolvimento
industrial, questão também apontada por Carson (1962). Quanto ao nevoeiro tóxico
na capital inglesa, uma recente matéria, publicada em 2016, pelo jornal online
―Observador‖, assinada pela jornalista Marta Leite Ferreira, informa que ―o mistério
da neblina mortífera nunca tinha sido resolvido... até agora‖ 5.
O facto de o nevoeiro se ter tornado mortal à conta da queima de carvão não é novidade. Mas sabe-se agora, através de uma experiência feita por cientistas chineses, norte-americanos e britânicos, que o nevoeiro estava impregnado de sulfatos. [...] Os resultados conhecidos agora não servem apenas para tapar uma lacuna na História londrina. É um grande passo para que as grandes cidades asiáticas desenvolvam novos mecanismos para melhorarem a qualidade do ar na atualidade.
Ao longo das décadas seguintes a poluição piorou, em grande parte devido aos
ideais de crescimento e consumismo, questões fundamentais nos debates
contemporâneos.
Com a crise do petróleo, em 1973, vários países intensificaram sua corrida em
busca da energia nuclear. O que tinha se tornado a principal fonte de funcionamento
da economia iria se tornar a fonte dos desastres seguintes. Esse processo é
marcado por muitos desastres ambientais (LINHART; LE ROY, 2009).
Em março de 1978, o mundo assistiu a um desastre ecológico de proporções
até então inéditas nos oceanos. Ao largo da costa da Bretanha, o navio Amoco
Cadiz, de bandeira liberiana e fretado pela Shell partiu-se em dois, despejando no
mar de França 230 mil toneladas de óleo que chegaram à Inglaterra. Dessa vez, o
petróleo era 15 vezes mais tóxico do que aquele derramado pelo Torrey Canyon,
que naufragou na mesma região em 1967, lançando ao mar 30 mil toneladas de óleo
cru6. Nas décadas seguintes, outros petroleiros naufragaram contaminando fauna e
flora. Em 1989, o Exxon Valdez, um dos símbolos da poluição, derramou sua carga
região, a Chisso. A empresa, que fabricava acetaldeído (usado na produção de material plástico), jogava seus resíduos com mercúrio nos rios, contaminando os peixes. Como a doença leva alguns anos para se desenvolver, somente em 1956 começaram a surgir os primeiros casos da doença. Disponível em: <http://www.cetem.gov.br/mercurio/semiquanti/por/caso_minamata.htm>. Acesso em 16 mar. 2017. 5 Cf. Observador. Disponível em: <http://observador.pt/2016/11/17/o-misterio-do-nevoeiro-mortifero-
de-londres-foi-resolvido/>. Acesso em 16 mar. 2017. 6 Cf. O Globo. Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/fatos-historicos/superpetroleiro-
naufraga-despeja-230-mil-toneladas-de-oleo-no-mar-da-franca-10138380>. Acesso em 16 mar. 2017.
59
na costa do Alasca, e as imagens das aves marinhas cobertas de petróleo chegaram
aos noticiários de todo o mundo, em um período no qual a conscientização
ambiental começava a avançar rapidamente nos Estados Unidos. Em 1999, na costa
de França, foi a vez do navio maltês Erika Valletta, fretado pelo grupo francês Total
Transport Corporation. Ainda mais impactante que o desastre ocorrido com o Exxon
Valdez, foi o vazamento de óleo no Golfo do México, em 2010, na plataforma da
Deepwater Horizon, da British Petroleum (BP)7.
O desastre no Golfo do México teve grande repercussão na mídia. No Brasil, o
fato de a BP ser a responsável pelo pior desastre ambiental dos Estados Unidos,
chamou ainda mais a atenção para os perigos da exploração de petróleo no país.
Questionado pela EcoAgência sobre a exploração do pré-sal no Brasil, o
biólogo Fabio Moretzsohn, do Harte Research Institute for Gulf of Mexico Studies
disse que em caso de um provável acidente, a maior parte do óleo não chegue a
atingir a costa brasileira devido à distância, mas não deixa de ser grave. ―O perigo
do pré-sal é que por ser muito profundo, num caso de acidente seria difícil conter o
derramamento no topo do poço, devido à grande pressão do óleo‖. Por sua vez,
Mikael Freitas, da Campanha de Oceanos do Greenpeace no Brasil, é categórico.
―Precisamos saber o que pensa o governo brasileiro em relação ao pré-sal, quando
veem o tamanho do problema nas mãos da BP. Este é um sinal mais do que claro
de que o homem não tem conhecimento, nem capacidade, de continuar explorando
recursos fósseis‖8.
Não foi por acaso que em dezembro de 2002, duzentas mil pessoas se
manifestaram em Santiago de Compostela com o lema ―Nunca mais‖, motivadas
pela maior catástrofe ambiental que sacudiu a costa galega: o afundamento e
posterior derramamento de milhares de toneladas de óleo pelo petroleiro Prestige9.
A questão do progresso tecnológico e suas consequências também esteve no
centro dos movimentos opostos ao desenvolvimento da energia nuclear. Por
7 Cf. EcoAgência. Disponível em:
<http://colunas.revistaepoca.globo.com/fazcaber/2010/06/03/infograficos-da-semana-3/>. Acesso em 16 mar. 2017. 8 Greenpeace – ―Chorando sobre o óleo derramado‖. Disponível em:
<http://www.greenpeace.org/brasil/pt/Noticias/Chorando-sobre-oleo-derramado//>. Acesso em 16 mar. 2017. 9 Cf. Revista Época. Disponível em:
<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG53848-6013,00-PETROLEIRO+AFUNDA+NA+ COSTA+DA+ESPANHA+E+PODE+CAUSAR+O+MAIOR+ACIDENTE+ECOLOG.html>. Acesso em 16 mar. 2017.
60
exemplo, a história do Greenpeace, atualmente a maior organização ambientalista,
começou em 1971, no Canadá, quando um grupo de ativistas zarpou do porto de
Vancouver rumo ao Ártico, com o objetivo de impedir que os Estados Unidos
levassem a cabo testes nucleares em uma pequena ilha chamada Amchitka, na
costa ocidental do Alasca. Tal como ocorreu nos Estados Unidos, na Europa os
protestos não foram suficientes para barrar o desenvolvimento da energia nuclear,
definida pelos poderes públicos como uma alternativa à dependência petrolífera
cada vez mais custosa.
Linhart e Le Roy (2009) documentam que em 1976 uma explosão ocorrida na
fábrica da companhia suíça Hoffmann-La Roche, em Seveso, na Itália, resultou no
vazamento de dioxina causando a contaminação de 320 hectares, atingindo milhares
de pessoas e animais. A isenção de responsabilidade por parte de dirigentes
industriais com o apoio das autoridades locais pode ser confirmada na seção
―Calendário Histórico‖, cuja matéria tem autoria de Moritz Kleine-Brockhoff (gh),
publicada em 2013, pela Deutsche Welle10.
Segundo Linhart e Le Roy (2009), o episódio de Seveso contribuiu para que as
multinacionais procurassem novos territórios para se instalar. Tendo em vista que a
industrialização parecia vital para acabar com a miséria, elas encontraram nos
países em desenvolvimento o ambiente favorável.
A tragédia de Bhopal, na Índia, é um dos legados mais catastróficos da história.
Em 1984 uma nuvem tóxica composta por um dos gases mais perigosos escapou da
fábrica estadunidense Union Carbide. A matéria assinada por Alan Tygel e José
Eduardo Bernardes, ―Bhopal, a tragédia que ainda está acontecendo‖, publicada em
2016, no site de notícias ―Brasil de Fato‖, informa que embora em anos anteriores
pequenos vazamentos já tivessem causado intoxicação de trabalhadores e que
inspeções realizadas em 1982 já revelassem ameaças, a Union Carbide direcionou
melhorias à outra fábrica, localizada nos Estados Unidos. Ressalta-se que as vítimas
continuam sem assistência mesmo depois da compra da Union Carbide, em 2000,
pela Dow Chemical11.
10
Cf. Deutsche Welle. Disponível em: <http://www.dw.com/pt-br/1976-explos%C3%A3o-provoca-vazamento-de-dioxina-em-seveso/a-871315?maca=bra-uol-all-1387-xml-uol>. Acesso em 16 mar. 2017. 11
Cf. Brasil de Fato. Campanha Contra os Agrotóxicos. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2016/11/30/bhopal-a-tragedia-que-ainda-esta-acontecendo/>. Acesso em 16 mar. 2017.
61
É importante sublinhar que se a explosão radioativa na Usina de Chernobyl12,
em 1986, na região de Pripyat, hoje localizada na Ucrânia, contribuiu para uma
maior conscientização ecológica mundial, ela foi apenas o primeiro sinal de que as
fronteiras nacionais são irrelevantes para os problemas ambientais.
A reação popular negativa à energia atômica não se restringe aos países da
América do Norte e da Europa, obviamente. Como aponta o levantamento da Global
WIN, embora haja variação entre os países, na média mundial, o percentual de
pessoas contrárias às centrais nucleares subiu, em 2011, de 32% para 43%, diante
do desastre nuclear mais recente e de maior impacto desde Chernobyl, na usina
nuclear de Fukushima, no Japão13. Um terremoto provocou um tsunami que atingiu o
sistema de segurança em três reatores, provocando o desligamento do sistema de
refrigeração. A elevação da temperatura provocou a fusão parcial do núcleo e o
vazamento radioativo em vários reatores, resultando o lançamento de toneladas de
partículas radioativas à atmosfera, contaminando cerca de 150 mil quilômetros
quadrados14.
A energia nuclear é considerada por muitos fundamental para gerar
eletricidade. Embora possa pesar o argumento de que a energia nuclear é
considerada limpa e eficiente porque não libera gases causadores do efeito estufa,
enquanto engenheiros defendem que as usinas estão cada vez mais seguras,
ambientalistas pedem o fim desse tipo de modelo energético, argumentando que
falhas de segurança sempre vão existir.
O ano de 2011 também foi marcante por ter sido proclamado pela Assembleia
Geral das Nações Unidas o ―Ano Internacional das Florestas‖, sob o lema ―Florestas
para o Povo‖. A edição nº 6 da série ―Cadernos SESC de Cidadania‖ aborda o tema
e busca aprofundar as discussões sobre desenvolvimento e sustentabilidade;
extrativismo predatório e de subsistência; imaginário e realidade das florestas15.
12
Cf. EBC Agência Brasil. Disponível em: < http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2016-04/apos-30-anos-usina-de-chernobyl-tera-escudo-de-aco-para-evitar-novos>. Acesso em 08 abr. 2017. 13
Cf. O Estado de S.Paulo. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,maioria-e-contra-energia-nuclear-no-brasil-diz-pesquisa-imp-,708171>. Acesso em 08 abr. 2017. 14
Cf. EBC Agência Brasil. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2016-03/acidente-nuclear-de-fukushima-completa-5-anos-e-preocupa-ecologistas>. Acesso em 08 abr. 2017. 15
Cf. Cadernos SESC de Cidadania. Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/online/revistas/edicoes/437_FLORESTAS+PARA+O+POVO>. Acesso em 08 abr. 2017.
62
Entre tantas discussões, uma reportagem especial que discute a função da
floresta como reserva biológica, patrimônio cultural, fonte de riqueza e subsistência
destaca que ―a visão predatória sobre a natureza acompanha o próprio
Descobrimento do Brasil, em 1500. O pau-brasil, que deu nome ao país, chegou a
ser considerado extinto em 1920‖.
De fato, sessenta anos depois, na década de 1980, todo o planeta foi
confrontado com a ameaça de destruição das florestas tropicais, quando o calor do
verão norte-americano e europeu convenceu a opinião pública de que o efeito estufa
não era uma questão teórica. Tanto que em vez de eleger a personalidade do ano, a
Revista Times16 elegeu, em 1989, o ―Planeta do Ano: O que na TERRA estamos
fazendo?‖.
Vale observar que ao final da década de 1980 foi criado o Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), pela Organização
Meteorológica Mundial (OMM) e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA). O objetivo do IPCC é fornecer aos governos em todos os níveis
informações científicas que possam ser usadas para desenvolver políticas
climáticas. Os relatórios do IPCC também são importantes para as negociações
internacionais sobre mudanças climáticas17.
Atualmente, não só a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica estão ameaçadas;
a lista inclui florestas no sudeste asiático, na Nova Zelândia, nas montanhas do
centro-sul da China, na região costeira da África Oriental, na ilha de Madagascar e
na América do Norte18.
Uma série de acontecimentos fez de 1988 o ano em que o Brasil se tornou o
foco principal do debate ambiental internacional, com destaque para as queimadas
na Amazônia. Diversos artigos publicados na mídia internacional versaram sobre o
fenômeno do aquecimento global, em virtude dos efeitos sobre as mudanças
climáticas e pela destruição da biodiversidade, a exemplo da matéria de Marlise
Simons, sob o título Vast Amazon Fires, Man-Made, Linked To Global Warming
(Vastos incêndios da Amazônia, provocados pelo homem, relacionados ao
16
Cf. Endangered Earth, Planet of the Year | Jan. 2, 1989. Disponível em: <http://content.time.com/time/covers/0,16641,19890102,00.html>. Acesso em 08 abr. 2017. 17
Cf. IPCC. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/about/>. Acesso em: 08 abr. 2017. 18
Cf. Planeta Sustentável. Disponível em: <http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/10-florestas-mais-ameacadas-mundo-617593.shtml>. Acesso em 08 abr. 2017.
63
aquecimento global)19, publicada em 12 de agosto de 1988, especial para The New
York Times.
[...] Agora, cientistas brasileiros e americanos em um novo programa de monitoramento por satélite estão identificando e medindo, pela primeira vez, os efeitos dos incêndios. [...] Os efeitos dos incêndios são sentidos claramente no solo em áreas onde o ritmo de destruição é maior, incluindo o estado do Pará, no leste da Amazônia e mais a oeste no norte de Mato Grosso e Rondônia. Aqui novas estradas foram abertas, e os produtores de gado e soja estão derrubando áreas enormes (SIMONS, 1988).
Até 1980, a Amazônia Legal havia perdido cerca de 300 mil Km² de sua
cobertura florestal, o que correspondia a 6% da área coberta apenas por florestas na
região. Uma das medidas adotadas foi a criação do Projeto Monitoramento da
Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes). Executado pelo Instituto de
Pesquisa Espacial (INPE), esse projeto desde então monitora por sensoriamento
remoto a dinâmica do corte raso realizado na região, fornecendo anualmente as
taxas oficiais de desmatamento20.
Não foi por acaso que uma semana após ser promulgada a Constituição
Federal (CF/88), em 05 de outubro de 1988, que o então Presidente José Sarney
baixou o Decreto nº 96.944, de 12 de outubro de 1988, criando o ―Programa de
Defesa do Complexo de Ecossistemas da Amazônia Legal‖, denominado ―Programa
Nossa Natureza‖, com a finalidade de estabelecer condições para a utilização e a
preservação do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis na Amazônia
Legal, mediante a concentração de esforços de todos os órgãos governamentais e a
cooperação dos demais segmentos da sociedade com atuação na preservação do
meio ambiente21.
O ―Programa Nossa Natureza‖ foi criado com base no Artigo 225 da CF/88, no
qual também se pode identificar no § 1º, na Seção VI, que cabe ao poder público
―promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização
pública para a preservação do meio ambiente‖. Conforme o Capítulo VI, Artigo 225,
da Constituição Federal (1988, p. 40),
19
Cf. The New York Times. Disponível em: <http://www.nytimes.com/1988/08/12/world/vast-amazon-fires-man-made-linked-to-global-warming.html?pagewanted=all>. Acesso em 08 abr. 2017. 20
Cf. Mídia e Amazônia. Disponível em: <http://midiaeamazonia.andi.org.br/texto-de-apoio/o-programa-nossa-natureza>. Acesso em 08 abr. 2017. 21
Cf. Decreto nº 96.944. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D96944.htm>. Acesso em 08 abr. 2017.
64
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
É importante frisar que o desmatamento em larga escala das florestas que
recobrem a Amazônia brasileira resulta diretamente da implantação, a partir dos
anos 1960, de projetos oficiais de colonização e desenvolvimento regional com o
objetivo de adensar a ocupação da Amazônia Legal e integrá-la à economia nacional
e mundial, por meio da exploração de seus recursos naturais em escala industrial.
Não se pode ignorar que a criação de gado e a produção intensiva de grãos
ocupam o lugar de árvores centenárias22. Como aponta o relatório da organização
não-governamental americana Forest Trends, divulgado em setembro de 2014, entre
2000 e 2012, a agropecuária foi responsável por metade do desmatamento ilegal
nos países tropicais. Somam-se a isso o silenciamento sobre a quantidade de água
utilizada desde o princípio da atividade pecuária até ela completar o ciclo do negócio
e o quanto a atividade contribui para o aquecimento global. No Brasil, até 90% da
derrubada ilegal da floresta no período ocorreu para dar lugar ao gado e à soja,
sendo que parte considerável dos produtos cultivados nessas áreas ilegais vai para
o mercado externo (até 17% da carne e 75% da soja), cujos destinos incluem
Rússia, China, Índia, União Europeia e Estados Unidos23.
Segundo a organização não-governamental britânica Chatham House, a
madeira brasileira representa minimamente 25% da madeira ilegal comercializada no
mundo, em grande parte vendida na Europa e na América do Norte. O comércio de
vida silvestre, incluindo a fauna, a flora e seus produtos e subprodutos é considerada
a terceira maior atividade ilegal no mundo, atrás apenas do tráfico de armas e de
drogas. Levando em consideração apenas o tráfico de animais silvestres no Brasil, é
estimado que cerca de 38 milhões de exemplares sejam retirados anualmente da
natureza e que aproximadamente quatro milhões deles sejam vendidos. Baseado
22
Cf. análise da cobertura da imprensa sobre as mudanças climáticas associadas à pecuária e ao desmatamento na Amazônia nos últimos seis anos. Disponível em: <http://midiaeamazonia.andi.org.br/analise-de-midia/imprensa-associa-mais-mudancas-climaticas-pecuaria-e-desmatamento-na-amazonia-nos-ultimos-seis-anos>. Acesso em 08 abr. 2017. 23
Cf. Outras Mídias. Quem devasta as florestas brasileiras. Disponível em: <http://outraspalavras.net/outrasmidias/destaque-outras-midias/quem-devasta-as-florestas-brasileiras/>. Acesso em 08 abr. 2017.
65
em dados sobre animais capturados e o seu preço, estima-se que, no Brasil, esse
comércio movimenta cerca de US$ 2,5 bilhões/ano24.
É nesse contexto que o mundo se depara com mais uma realidade: quando se
intensificam as batalhas ambientais, matam. E matam principalmente na América
Latina, onde a terra e os recursos naturais são as principais fontes de geração de
riqueza, mas também de subsistência de comunidades camponesas e indígenas.
O levantamento da Global Witness, incorporado ao relatório da organização
não-governamental britânica, a Oxfam, publicado em 2016, identifica a América
Latina como a região com maiores índices de mortes de ativistas de direitos
humanos do mundo, sendo o Brasil, líder no ranking de assassinatos de
ambientalistas25. A maioria das mortes é consequência da luta contra o extrativismo
de commodities26, como minério, madeira e óleo de palma (dendê). Ressalta-se que
os assassinatos que estão impunes em vilas remotas ou nas profundezas das
florestas tropicais são movidos pelas escolhas que consumidores/as fazem do outro
lado do mundo.
De acordo com a Front Line Defenders, 41% dos assassinatos de pessoas defensoras na América Latina estão relacionados à defesa do meio ambiente, da terra, do território e dos povos indígenas, enquanto 15% remetem à defesa dos direitos coletivos LGBTI (OXFAM, 2016, p. 4-5).
O relatório da Oxfam informa que o recrudescimento da violência, assassinatos
e repressão contra defensoras/es dos direitos humanos na América Latina está
―relacionado a um modelo econômico que fomenta a desigualdade extrema e
impacta negativamente os direitos fundamentais das populações‖. Destacam-se três
aspectos para a compreensão desse cenário:
1) a agressão específica contra as mulheres, decorrente da hegemonia da cultura patriarcal; 2) a relação entre a expansão de projetos e atividades extrativistas e o aumento das violações de direitos humanos nesses territórios; e 3) a cooptação das instituições estatais a favor do poder fático, exercido à margem das instâncias formais (e que não coincide necessariamente com o aparato estatal) e que se serve de sua autoridade informal ou capacidade de pressão pela força econômica, política ou de
24
RENCTAS (Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres). 1º Relatório Nacional sobre o Tráfico de Fauna Silvestre. 2011. Disponível em: . Acesso em: 15 abr. 2017. 25
―Defensores em perigo: A intensificação das agressões contra defensoras e defensores dos direitos humanos na América Latina‖. Disponível em: <https://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos/defensores_em_perigo-outubro_2016.pdf>. Acesso em: 09 abr. 2017. 26
Commodities são produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em escala e que podem ser estocados sem perda de qualidade, como petróleo, suco de laranja congelado, boi gordo, café, soja e ouro. Commodity vem do inglês e originalmente tem significado de mercadoria.
66
poder pela relação com o crime, para neutralizar a função primordial do Estado de garantir os direitos de toda a população (OXFAM, 2016, p.2).
Foi nesse contexto que em 1988, o seringueiro Chico Mendes, conhecido como
heroi da luta contra o desmatamento na Amazônia e pelas reservas extrativistas, foi
assassinado, em Xapuri (AC), por pistoleiros a mando de seus inimigos políticos.
Entre tantos/as, em 2005, foi a vez de Irmã Dorothy, como era conhecida a ativista
dos direitos ambientais, Dorothy Mae Stang, assassinada dentro do Esperança, uma
reserva/assentamento do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), também na Amazônia.
Segundo a Pastoral da Terra, o Pará está no topo do ranking desse tipo de
crime. Em 2016 foram registradas 61 mortes, 200 ameaças e 74 tentativas de
assassinatos relacionados a conflitos por terra e recursos naturais. Até maio de
2017, 19 pessoas já morreram. Entre elas, Kátia Martins, Presidente da Associação
de Agricultores Familiares do Assentamento 1º de Janeiro, no Pará, assassinada
com cinco tiros na frente de seu netinho27, ao mesmo tempo em que os ataques à
defesa dos direitos humanos no Brasil e principalmente as questões indígenas foram
temas dominantes na sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que
realizou a Revisão Periódica Universal, em Genebra (Suiça), no dia 05 de maio de
201728.
Entre tantos assassinatos na América Latina, em 2016, o de Berta Cáceres,
ambientalista hondurenha que enfrentou o Banco Mundial e a empresa chinesa
Sinohydro, contra a construção da hidrelétrica de Agua Zarca, no rio Gualcarque,
Santa Bárbara, noroeste de Honduras. Em nota, o ―Movimento Xingu Vivo para
Sempre‖ assim se pronunciou:
O capital nacional e internacional que matou Berta em Honduras tem nome. Assim como o capital aqui no Xingu. Vamos nomear DESA, FMO, Finnfund, BCIE, Voith-Siemens. Vamos nomear Norte Energia, Andrade Gutierrez, Odebrecht, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, OAS, Engevix, BNDES, Voith-Hydro, General Electric-Alstom, Andritz, Mapfre, IRB, Allianz, Munich Re. Assim como o nome de Berta Cáceres não morrerá nunca, o nome de
27
Cf. Comissão Pastoral da Terra. Disponível em: <https://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes/noticias/conflitos-no-campo/3758-mais-uma-lideranca-rural-e-assassinada-no-para>. Acesso em: 05 mai. 2017. 28
Cf. ―Questão indígena domina avaliação da ONU sobre direitos humanos no Brasil‖. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/05/1881311-questao-indigena-domina-sessao-da-onu-sobre-direitos-humanos-no-brasil.shtml>. Acesso em: 05 mai. 2017.
67
quem nos mata, rápida ou lentamente, também não será esquecido. Justiça já!
29
No cenário brasileiro a preocupação com os recursos hídricos é antiga. O país
conta com dispositivos legais referentes à água desde o período colonial, os quais
constituíam parte de normas relativas à saúde pública ou ao direito de propriedade.
O ―Código das Águas‖, cuja tramitação no Congresso iniciou em 1907, passou
a contar com uma legislação específica em 1934. O documento assegura o uso
gratuito de qualquer corrente ou nascente d‘água para as primeiras necessidades da
vida e o uso de qualquer água pública a todos/as, conformando-se com os
regulamentos administrativos. No entanto, já no preâmbulo, assinado pelo Chefe do
Governo, Getúlio Vargas enunciou que ―[...] permita ao poder público controlar e
incentivar o aproveitamento industrial das águas‖, evidenciando o fato de que o
―Código das Águas‖ foi decretado para permitir, ao governo, a criação da
infraestrutura, principalmente energética, necessária ao projeto de industrialização
do país (BRASIL, 2003, p. 9)30.
A equação dessa soma de interesses ligados ao setor energético abrange
diversos aspectos. Para citar apenas alguns, o projeto do Complexo Hidrelétrico do
Tapajós implicou redução de áreas de conservação, tais como o Parque Nacional da
Amazônia, as Florestas Nacionais de Itaituba I e II, a Floresta Nacional do Crepori e
a Área de Proteção Ambiental do Tapajós, como se pode constatar no ―Debate sobre
as hidrelétricas e as unidades de conservação na Amazônia – o caso da Usina
Tapajós, no Pará‖31, realizado na Câmara dos Deputados em 2012.
Entre tantos impactos, a chegada do projeto da usina de Belo Monte, somada a
uma estrutura precária de políticas públicas contribuiu para o agravamento de
situações de violência na região. Uma pesquisa da Universidade Federal do Pará
(UFPA), realizada durante os anos de 201332 e 201433, revela que a cidade de
29
Cf. Fundação Rosa Luxemburgo. Disponível em: <http://rosaluxspba.org/o-que-movia-berta-caceres/>. Acesso em: 09 abr. 2017. 30
Cf. Plano Nacional de Recursos Hídricos. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/documentos/legis/planonac_rh.pdf>. Acesso em 24 mar. 2017. 31
Cf. Câmara dos Deputados – DETAQ. Disponível em: <http://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/textoHTML.asp?etapa=11&nuSessao=1527/12&nuQuarto=0&nuOrador=0&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=14:00&sgFaseSessao=&Data=20/11/2012&txApelido=MEIO%20AMBIENTE%20E%20DESENVOLVIMENTO%20SUSTENT%C3%81VEL&txFaseSessao=Audi%C3%AAncia%20P%C3%BAblica%20Ordin%C3%A1ria&txTipoSessao=&dtHoraQuarto=14:00&txEtapa=>. Acesso em: 16 abr. 2017. 32 A pesquisa foi produzida a partir do apoio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República pelo projeto ―Roda de Direitos‖, mantido no Campus de Altamira, e teve como principais
68
Altamira (PA) vive uma onda de crescimento de exploração sexual de mulheres,
crianças, adolescentes e indígenas desde o início da construção da usina de Belo
Monte. A alta nos preços dos alugueis e venda de imóveis afetou instituições que
trabalham no combate à exploração sexual na cidade, já que não há recursos
disponíveis para arcar com a alta dos custos.
Ressalta-se que Belo Monte é um projeto marcado, desde o início, por intensas
polêmicas e denúncias de irregularidades. Projetos hidrelétricos têm uma
característica comum, a de atrair investidores de capital estrangeiro com interesses
na energia elétrica, no petróleo e na mineração, como é o caso da canadense Belo
Sun, controlada pelo grupo Forbes & Manhattan, banco de capital privado que
investe em projetos de mineração mundo afora. No Brasil, o ―Projeto Volta Grande‖,
empreendimento localizado no trecho de vazão reduzida da hidrelétrica de Belo
Monte, em uma área conhecida como Volta Grande do Xingu, local de moradia de
muitas comunidades ribeirinhas, povos indígenas, garimpeiros e agricultores
assentados pela reforma agrária, pretende ser o maior programa de exploração de
ouro do país34.
Apesar das denúncias de pendências e irregularidades no processo, em
fevereiro de 2017, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade
(Semas) concedeu Licença de Instalação à Belo Sun, responsável pelo ―Projeto
Volta Grande‖. A Fundação Nacional do Índio (Funai), órgão integrante do rito de
licenciamento ambiental, manifestou ao Ministério Público Federal no município de
Altamira (PA) e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade
(Semas) sua preocupação com o licenciamento35. Além de não ter apresentado
estudos válidos do impacto do projeto sobre os povos indígenas da região, nos
estudos do empreendimento, afirma a Funai, "consta que existe a possibilidade de
uma ocorrência de rompimento da barragem de rejeitos durante a operação, com
fontes de dados o Conselho Tutelar de Altamira, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município e o Tribunal de Justiça local. Cf. Relatório Final do Diagnóstico Rápido Participativo: Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no Município de Altamira – PA. Disponível em: < http://pair.ledes.net/gestor/titan.php?target=openFile&fileId=1000>. Acesso em: 16 abr. 2017. 33 Cf. Relatório Final do Diagnóstico Rápido Participativo: Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no Município de Altamira – PA. Disponível em: <http://pair.ledes.net/gestor/titan.php?target=openFile&fileId=1246>. Acesso em: 16 abr. 2017. 34
Cf. Instituto Socioambiental. Belo Sun. Disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-br/tags/belo-sun>. Acesso em 15 abr. 2017. 35
Cf. Estado de Minas. Disponível em: <http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2017/02/06/internas_economia,845297/funai-vai-a-justica-contra-mineracao-de-ouro-em-belo-monte.shtml>. Acesso em 15 abr. 2017.
69
consequência catastrófica". Finalmente, em abril de 2017, a Justiça Federal
suspendeu a licença de instalação estadual da mineradora36.
Outro metal que tem chamado a atenção mundial é o nióbio, extraído
atualmente do subsolo de Minas Gerais e Goiás. Esse metal pesado e raro é um
componente fundamental dos aços de alta resistência, usados na fabricação de
automóveis, aviões, foguetes, na construção civil e na indústria naval. Ele também é
especialmente importante para a indústria de petróleo na construção de plataformas
e na produção de tubulações de óleo e gás. Mais de 30% de todo o nióbio produzido
mundialmente está sendo usado só para fabricar dutos. Enquanto o nióbio é tema de
manchetes que associam a exploração ao maior subfaturamento fiscal do mundo,
pouco se fala que a sua extração e beneficiamento podem gerar rejeitos e resíduos
contendo materiais radioativos de ocorrência natural, implicando alto risco de
contaminação ao meio ambiente e à saúde humana, podendo afetar não apenas os
trabalhadores, mas também a população local37.
Onde o lucro impera sacrifica-se a segurança da população. O rompimento da
barragem de rejeitos da mineração controlada pela Samarco Mineração S.A., um
empreendimento conjunto das maiores empresas de mineração do mundo, a
brasileira Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billinton, é mais um legado. O
rompimento ocorreu no dia 05 de novembro de 2015 espalhando lama e rejeitos de
mineração, matou pessoas e animais, destruiu a vegetação nativa e poluiu parte da
bacia do Rio Doce. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-MG, é
considerado o maior desastre socioambiental da história brasileira e o maior do
mundo envolvendo barragens de rejeitos. A tragédia de Mariana mostra que é
indiscutível o raio de impacto que um eventual possível desastre da barragem de
rejeitos pode provocar38.
Vale lembrar que desastres são classificados pela magnitude, pelo legado,
número de mortes e pelos custos econômicos dos estragos que causam, a exemplo
dos mais de 100 bilhões de dólares em danos materiais causados pelo furacão
36
Cf. Folha de S.Paulo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1874966-justica-suspende-licenca-da-belo-sun-para-exploracao-de-ouro-no-para.shtml>. Acesso em 15 abr. 2017. 37
Cf. NORM: guia prático. Disponível em: <http://memoria.cnen.gov.br/manut/ImprimeRef.asp?AN=R0000639>. Acesso em 22 abr. 2017. 38
Cf. Agência Fiocruz de Notícias. Disponível em: <https://agencia.fiocruz.br/tragedia-da-moineracao-entenda-como-ocorreu-o-maior-desastre-socioambiental-do-brasil>. Acesso em 15 abr. 2017.
70
Katrina, que atingiu os Estados Unidos em 200539. Não por acaso, agir contra as
mudanças climáticas passou a ser uma necessidade econômica, como aponta o
Relatório Stern sobre a economia das mudanças climáticas, publicado em 2006, por
encomenda do governo britânico40. O estudo de Nicholas Stern é relevante, pois
demonstra que o custo de não tomar providências contra o fenômeno do
aquecimento global trará graves consequências ao PIB mundial nos próximos anos.
Vale, no entanto, destacar que enquanto os dois lados da mesma moeda
buscam o valor econômico dos recursos ambientais, as mudanças climáticas
mostram que a natureza tem seu próprio valor.
O Katrina também evidenciou o perfil sociodemográfico das vítimas, questão
que já vinha sendo apontada desde a década de 1960 nos Estados Unidos. Os
debates se intensificaram a partir de meados dos anos 1980 pelo Movimento de
Justiça Ambiental, o qual articulou a luta ambiental à luta contra o racismo, ao
constatar que os depósitos de lixo tóxico coincidiam com áreas de moradia da
população negra. Seus atores defendem a politização das relações étnico-raciais
associadas às desigualdades ambientais.
Henri Acselrad (2002, p. 53) destaca a forma inovadora com que o Movimento
de Justiça Ambiental estruturou suas estratégias de resistência, recorrendo à própria
produção de conhecimento. Tendo em vista que ―o conhecimento científico foi
correntemente evocado pelos que pretendem reduzir as políticas ambientais à
adoção de meras soluções técnicas‖, recorreu-se aos resultados de pesquisas
multidisciplinares sobre as condições da desigualdade ambiental no país.
Momento crucial desta experiência foi a pesquisa mandada realizar em 1987 pela Comissão de Justiça Racial da United Church of Christ, que mostrou que "a composição racial de uma comunidade é a variável mais apta a explicar a existência ou inexistência de depósitos de rejeitos perigosos de origem comercial em uma área". Evidenciou-se então que a proporção de residentes que pertencem a minorias étnicas em comunidades que abrigam depósitos de resíduos perigosos é igual ao dobro da proporção de minorias nas comunidades desprovidas de tais instalações. O fator raça revelou-se mais fortemente correlacionado à distribuição local dos rejeitos perigosos do que o próprio fator baixa renda. Portanto, embora os fatores raça e classe de renda tenham se mostrado fortemente interligados, a raça revelou-se um indicador mais potente da coincidência entre os locais onde
39
Cf. em <https://expresso-noticia.jusbrasil.com.br/noticias/139441/danos-do-furacao-katrina-consumiram-mais-de-us-40-bilhoes-em-indenizacoes>. Acesso em 22 abr. 2017. 40
Sobre economia do clima no Brasil, conferir Estudo Econômico das Mudanças Climáticas no Brasil. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/imprensa/_arquivos/23_novembro_economia_clima_resumo_executivo_96.pdf>. Acesso em 08 abr. 2017.
71
as pessoas vivem e aqueles onde os resíduos tóxicos são depositados. Foi a partir desta pesquisa que o reverendo Benjamin Chavis cunhou a expressão "racismo ambiental" para designar "a imposição desproporcional - intencional ou não - de rejeitos perigosos às comunidades de cor" (ACSELRAD, 2002, p. 53).
Ao focalizar a historicidade da ―Ambientalização das lutas sociais‖, Acselrad
(2010) destaca que representantes de algumas redes do Movimento de Justiça
Ambiental norte-americano estiveram no Brasil em 1998, dispostos a difundir suas
experiências e estabelecer relações com organizações locais para formar alianças
na resistência aos processos de ―exportação da injustiça ambiental‖.
A primeira releitura da experiência norte-americana por entidades brasileiras
deu-se pela discussão de um material intitulado ―Sindicalismo e justiça ambiental‖,
elaborado e publicado pela organização não-governamental Ibase, da representação
da Comissão de Meio Ambiente da Central Sindical CUT no Rio de Janeiro e de
grupos de pesquisa do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional
(Ippur), da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como explica Acselrad (2010, p.
111), ―justiça ambiental é uma noção emergente que integra o processo histórico de
construção subjetiva da cultura dos direitos‖.
Embora o material tenha tido circulação e impacto restritos foi suficiente para
estimular outros grupos da universidade, organizações não-governamentais e
sindicatos de trabalhadores/as a explorar tal debate, resultando na organização do
Colóquio Internacional sobre Justiça Ambiental, Trabalho e Cidadania, realizado em
setembro de 2001 na Universidade Federal Fluminense. O encontro reuniu setores
da academia, organizações não-governamentais, organizações sindicais e populares
e representantes de atingidos. Na ocasião foi criada a Rede Brasileira de Justiça
Ambiental (RBJA), a qual se inscreve na continuidade de lutas e movimentos, entre
eles o norte-americano.
As lutas por justiça ambiental, tal como caracterizada no caso brasileiro, combinam assim: a defesa dos direitos a ambientes culturalmente específicos – comunidades tradicionais situadas na fronteira da expansão das atividades capitalistas e de mercado; a defesa dos direitos a uma proteção ambiental equânime contra a segregação socioterritorial e a desigualdade ambiental promovidas pelo mercado; a defesa dos direitos de acesso equânime aos recursos ambientais, contra a concentração das terras férteis, das águas e do solo seguro nas mãos dos interesses econômicos fortes no mercado. Mas cabe ressaltar também a defesa dos direitos das populações futuras. [...] Propondo a interrupção dos mecanismos de transferência dos custos ambientais do desenvolvimento para os mais pobres. Pois o que esses movimentos tentam mostrar é que,
72
enquanto os males ambientais puderem ser transferidos para os mais pobres, a pressão geral sobre o ambiente não cessará. Fazem assim a ligação entre o discurso genérico sobre o futuro e as condições históricas concretas pelas quais, no presente, se está definindo o futuro. Aí se dá a junção estratégica entre justiça social e proteção ambiental: pela afirmação de que, para barrar a pressão destrutiva sobre o ambiente de todos, é preciso começar protegendo os mais fracos (ACSELRAD, 2010, p. 114).
Ao final do Colóquio a noção de ―justiça ambiental‖ ampliou-se e foi elaborada
uma Declaração de Princípios, da qual se apreende algumas definições. Injustiça
ambiental se refere ao mecanismo pelo qual sociedades desiguais, do ponto de vista
econômico e social, destinam a maior carga dos danos ambientais do
desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos raciais discriminados,
aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas
e vulneráveis. Justiça ambiental designa o conjunto de princípios e práticas que:
a - asseguram que nenhum grupo social, seja ele étnico, racial ou de classe, suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas de operações econômicas, de decisões de políticas e de programas federais, estaduais, locais, assim como da ausência ou omissão de tais políticas; b - asseguram acesso justo e equitativo, direto e indireto, aos recursos ambientais do país; c - asseguram amplo acesso às informações relevantes sobre o uso dos recursos ambientais e a destinação de rejeitos e localização de fontes de riscos ambientais, bem como processos democráticos e participativos na definição de políticas, planos, programas e projetos que lhes dizem respeito; d - favorecem a constituição de sujeitos coletivos de direitos, movimentos sociais e organizações populares para serem protagonistas na construção de modelos alternativos de desenvolvimento, que assegurem a democratização do acesso aos recursos ambientais e a sustentabilidade do seu uso (ACSELRAD, 2010, p. 112).
A noção de desigualdade ambiental nos permite a elaboração do que se refere
a ―exportação da injustiça ambiental‖ para planejar e promover ações politicamente
eficazes, a exemplo do Guide to Greener Electronics41 sobre o lixo eletrônico, os
chamados ―e-lixo‖ que vão para cidades pobres, principalmente da Índia e da China,
onde desempregados/as trabalham recolhendo o minério desses materiais, uma
atividade insalubre, porém consentida pelo poder local.
Como se sabe, aparelhos eletrônicos são uma mistura de produtos tóxicos e
metais pesados com alto potencial de prejuízo à saúde humana (chumbo, mercúrio,
41
Cf. Greenpeace - Guide to Greener Electronics, ranking eletrônico verde mais confiável da internet desde 2006. Em sua 18ª edição, o Guia avalia as principais empresas de eletrônicos de consumo com base em seu compromisso e progresso em três critérios ambientais: Energia e Clima, Produtos Mais Verdes e Desenvolvimento Sustentável. Operações. E adverte sobre o consumo desnecessário. Disponível em: <http://www.greenpeace.org/international/en/Guide-to-Greener-Electronics/18th-Edition/Introduction/>. Acesso em: 12 mai. 2017.
73
cádmio, berílio). No topo da lista se encontram os retardantes de chama brominados
e o PVC42, os quais, além de poluir o ambiente, expõem trabalhadores/as ao risco
tóxico durante a produção e o descarte de aparelhos.
Segundo o Greenpeace, dados da Agência Americana de Proteção Ambiental
(EPA) indicam que mais de três quartos dos computadores vendidos no país
acumulam pó em armazéns ou estão empilhados em garagens e armários. Quando
não vão para o lixo, eles são revendidos, muitas vezes ilegalmente, para países em
desenvolvimento, onde a população tem menor poder aquisitivo para comprar novos.
A previsão é que, com isso, esses países tripliquem a produção do chamado ―e-lixo‖
nos próximos cinco anos.
Enquanto a indústria em geral tomou vários passos na direção certa, problemas cruciais e crescentes permanecem: mais pessoas ao redor do mundo estão obtendo acesso a dispositivos eletrônicos, e enquanto proliferam programas adequados de retoma eletrônica, a velocidade de coleta não está acompanhando o ritmo. A taxa de consumo, criando cada vez maiores quantidades de e-resíduos tóxicos. Em grande parte, as empresas deixaram de lado as enormes quantidades de energia suja embutidas em suas cadeias de manufatura e suprimento, grande parte delas provenientes do Leste Asiático. Além disso, a maioria das empresas ainda tem de se envolver significativamente no processo político para criar a ação ambiciosa que precisamos para tornar a eletrônica mais verde e evitar impactos mais devastadores da mudança climática (GREENPEACE, 2012).
O tráfico de lixo movimenta um valor estimado entre 10 e 12 bilhões de dólares
gerando grande receita para criminosos envolvidos no comércio. Apenas 20% do lixo
eletrônico do planeta é reciclado, sendo que no Brasil somente 3% são coletados de
forma adequada. Muitos lixões são o destino final de cargas ilegais de resíduos
perigosos. Exemplarmente estima-se que 75% do lixo eletrônico gerado na União
Europeia são exportados. Apesar de sua legislação, a União Europeia é uma grande
fonte de geração de lixo eletrônico.
Estudos apontam que o momento implica duplo desafio: o enfrentamento da
crise ecológica e da atual crise econômica e social globais, decorrentes do modo de
vida capitalista. Vale destacar que a percepção da crise econômica é mais imediata
porque ameaça o emprego, a renda familiar e as expectativas de bem-estar das
42
PVC é a sigla usada para identificar o polímero de adição policloreto de vinila. Ele é obtido pela reação de polimerização de cloretos de vinila (cloroeteno).
74
pessoas, como sublinha o relatório da Organização Internacional do Trabalho
(OIT)43, além de ser mais divulgada pela grande mídia.
É importante frisar que não só ambientalistas, cientistas e especialistas
notáveis que medem em todo o mundo os danos das atividades humanas
(econômicas e sociais), responsáveis pelos gases de efeito estufa alertam para o
aquecimento global e as mudanças climáticas. Tanto que a degradação do meio
ambiente foi tema da Campanha da Fraternidade 2017.
É importante observar que todas as religiões valorizam a preservação do meio
ambiente. Dentre os encontros globais de discussão podemos destacar cinco
grandes encontros, a saber:
Fórum Global de Líderes Espirituais e Governamentais sobre questões
ambientais: Oxford (1988), Moscou (1990), Rio de Janeiro (1992), Kyoto
(1993);
Encontro sobre Ética Global de Cooperação das Religiões para as Questões
Humanas e Ambientais: Chicago (1993);
Seminário sobre Meio Ambiente, Cultura e Religião: Teerã (2001);
Simpósio Internacional sobre as Religiões e a Água: Amazonas Brasil
(2005);
Seções do Parlamento das Religiões Mundiais sobre Questões Ambientais:
Chicago (1993), Barcelona (1994), Melbourne (2009).
O Papa Francisco propõe a defesa da vida e ecologia e aborda questões
acerca da ciência, tecnologia e sociedade através da Carta Encíclica Laudato Si‟
(Louvado Sejas)44, composta de 246 capítulos que versam sobre o cuidado da casa
comum, conforme ―dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 24 de Maio –
Solenidade de Pentecostes – de 2015‖, no terceiro ano de seu Pontificado.
A Tipografia Vaticana organizou a publicação em torno de seis grandes
capítulos, dos quais serão reproduzidos aqui alguns trechos selecionados,
43
Em 2017, a OIT prevê que o número de pessoas desempregadas no mundo inteiro chegue a pouco mais de 201 milhões, com um aumento adicional de 2,7 milhões previsto para 2018, já que o ritmo de crescimento da força de trabalho supera o de criação de empregos. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/oit-estima-que-desemprego-global-tera-aumento-de-34-milhoes-em-2017/>. Acesso em 22 abr. 2017. 44
Cf. Papa Francisco - Laudato Si‟. Disponível em: <http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_po.pdf>. Acesso em 05 mai. 2017.
75
considerando a utilidade do "Guia de Estudo Encíclica Laudato Si‟‖ (2015)45,
elaborado pelos Membros do Romans VI (Comissão Interfranciscana de JPIC da
Famíla Franciscana)46, os quais esclarecem que devido à situação de deterioração
do meio ambiente em que nos encontramos, Papa Francisco lança ―um convite
urgente a renovar o diálogo sobre a maneira como estamos a construir o futuro do
planeta‖ (#14, p. 13). Para tanto, ele cita os papas anteriores, que já demonstravam
em suas reflexões uma preocupação crescente pelas questões relacionadas ao meio
ambiente, comentando que essas preocupações fazem eco na reflexão de
numerosos cientistas, filósofos, teólogos e grupos da sociedade civil, bem como de
outras Igrejas da comunidade Cristas e outras religiões (#3-9).
A introdução termina com uma lista de determinados temas que perpassam
toda a encíclica, ajudando a entendê-la como um todo. O texto é atravessado por
alguns eixos temáticos, analisados por uma variedade de perspectivas que lhe
conferem uma unidade. É possível apreender diversas estratégias de poder
econômico e político, bem como as ―dinâmicas midiáticas que não contribuem para o
desenvolvimento da capacidade de pensar em profundidade‖ (#47, p. 36).
16. Embora cada capítulo tenha a sua temática própria e uma metodologia específica, o sucessivo retoma por sua vez, a partir duma nova perspectiva, questões importantes abordadas nos capítulos anteriores. Isto diz respeito especialmente a alguns eixos que atravessam a encíclica inteira. Por exemplo: a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo, a crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia, o convite a procurar outras maneiras de entender a economia e o progresso, o valor próprio de cada criatura, o sentido humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos, a grave responsabilidade da política internacional e local, a cultura do descarte e a proposta dum novo estilo de vida. Estes temas nunca se dão por encerrados nem se abandonam, mas são constantemente retomados e enriquecidos (PAPA FRANCISCO, 2015, p. 15).
O Papa Francisco explicita ―a tecnologia que, ligada à finança, pretende ser a
única solução dos problemas, é incapaz de ver o mistério das múltiplas relações que
existem entre as coisas e, por isso, às vezes resolve um problema criando outros‖
(#20, p. 19). Ele também afirma que ―as mudanças climáticas são um problema
45
Cf. Guia de Estudo Encíclia Laudato Si‟. Disponível em: <http://www.franciscanos.org.br/wp-content/uploads/2015/12/Guia-de-Estudo.pdf>. Acesso em 05 mai. 2017. 46
JPIC é a sigla para Justiça, Paz e Integridade. É um serviço que atua na defesa da justiça, paz e integridade da criação, através do cuidado com as pessoas e com a casa comum. Disponível em: <http://jpic.capuchinhos.org.br/sobre/>. Acesso em: 31 dez. 2018.
76
global com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e
políticas, constituindo actualmente um dos principais desafios para a humanidade‖
(#25, p. 22), mas muitos ―daqueles que detêm mais recursos e poder económico ou
político parecem concentrar-se sobretudo em mascarar os problemas ou ocultar os
seus sintomas‖ (#26. p. 24). Acrescenta que ―as dinâmicas dos mass-media e do
mundo digital, que, quando se tornam omnipresentes, não favorecem o
desenvolvimento duma capacidade de viver com sabedoria, pensar em
profundidade, amar com generosidade (#47, p. 36).
O Papa Francisco aponta que ―muitas cidades são grandes estruturas que não
funcionam, gastando energia e água em excesso‖. Além de se notar que ―o
crescimento desmedido e descontrolado, a poluição proveniente de emissões
tóxicas, visiva e acústica, mas também o caos urbano e os problemas de transporte‖
fazem das cidades lugares pouco saudáveis para viver (#44, p. 45).
Ao afirmar a existência de uma ―dívida ecológica particularmente entre o Norte
e o Sul‖, o Papa Francisco assinala que ―a desigualdade não afeta apenas os
indivíduos mas países inteiros, e obriga a pensar numa ética das relações
internacionais‖ (#51, p. 40). Se ―a dívida externa dos países pobres transformou-se
num instrumento de controle‖, o mesmo não acontece com a dívida ecológica (#52,
p. 42). Na interpretação do Papa Francisco,
50. Em vez de resolver os problemas dos pobres e pensar num mundo diferente, alguns limitam-se a propor uma redução da natalidade. Não faltam pressões internacionais sobre os países em vias de desenvolvimento, que condicionam as ajudas económicas a determinadas políticas de «saúde reprodutiva». Mas, «se é verdade que a desigual distribuição da população e dos recursos disponíveis cria obstáculos ao desenvolvimento e ao uso sustentável do ambiente, deve-se reconhecer que o crescimento demográfico é plenamente compatível com um desenvolvimento integral e solidário». Culpar o incremento demográfico em vez do consumismo exacerbado e selectivo de alguns é uma forma de não enfrentar os problemas. Pretende-se, assim, legitimar o modelo distributivo actual, no qual uma minoria se julga com o direito de consumir numa proporção que seria impossível generalizar, porque o planeta não poderia sequer conter os resíduos de tal consumo. Além disso, sabemos que se desperdiça aproximadamente um terço dos alimentos produzidos, e «a comida que se desperdiça é como se fosse roubada da mesa do pobre». Em todo o caso, é verdade que devemos prestar atenção ao desequilíbrio na distribuição da população pelo território, tanto a nível nacional como a nível mundial, porque o aumento do consumo levaria a situações regionais complexas pelas combinações de problemas ligados à poluição ambiental, ao transporte, ao tratamento de resíduos, à perda de recursos, à qualidade de vida (PAPA FRANCISCO, 2015, p. 40).
77
Consciente das profundas divergências quanto a essas problemáticas, o Papa
Francisco se mostra profundamente impressionado com a ―fraqueza das reacções‖
diante dos dramas de tantas pessoas e populações. Embora não deixe de apontar
faltem exemplos positivos (#58, p. 46). Ele sinaliza ―um certo torpor e uma alegre
irresponsabilidade‖ (#59, p. 47). Faltam uma cultura adequada (#53, p. 43) e a
disponibilidade em mudar estilos de vida, produção e consumo, enquanto é urgente
―criar um sistema normativo [...] que inclua limites invioláveis e assegure a protecção
dos ecossistemas‖ (#53, p. 43).
No segundo capítulo, ―O Evangelho da Criação‖ (#62-100), o Papa Francisco
enfatiza mais uma vez a necessidade do diálogo da sociedade e da religião.
62. [...] Não ignoro que alguns, no campo da política e do pensamento, rejeitam decididamente a ideia de um Criador ou consideram-na irrelevante, chegando ao ponto de relegar para o reino do irracional a riqueza que as religiões possam oferecer para uma ecologia integral e o pleno desenvolvimento do género humano; outras vezes, supõe-se que elas constituam uma subcultura, que se deve simplesmente tolerar. Todavia a ciência e a religião, que fornecem diferentes abordagens da realidade, podem entrar num diálogo intenso e frutuoso para ambas (PAPA FRANCISCO, 2015, p. 49).
No segundo capítulo identifica-se uma das críticas mais contundentes (#82, p.
64-65):
Mas seria errado também pensar que os outros seres vivos devam ser considerados como meros objectos submetidos ao domínio arbitrário do ser humano. Quando se propõe uma visão da natureza unicamente como objecto de lucro e interesse, isso comporta graves consequências também para a sociedade. A visão que consolida o arbítrio do mais forte favoreceu imensas desigualdades, injustiças e violências para a maior parte da humanidade, porque os recursos tornam-se propriedade do primeiro que chega ou de quem tem mais poder: o vencedor leva tudo [...].
No terceiro capítulo, ―A raiz humana da crise ecológica‖ (#101-136), o Papa
concentra-se nas questões atuais, com especial atenção ao paradigma tecnocrático
dominante e seus efeitos nas pessoas e em suas ações no mundo. ―[...] Não temos
suficiente consciência de quais sejam as raízes mais profundas dos desequilíbrios
actuais: estes têm a ver com a orientação, os fins, o sentido e o contexto social do
crescimento tecnológico e económico (#109, p. 86). Ele apela ao diálogo para criar
um panorama ético de princípios e comportamentos, e sugere várias áreas para
discussão e tomada de decisão. O capítulo está organizado em torno de três eixos:
―A tecnologia: criatividade e poder‖ (#102-105), ―A globalização do paradigma
78
tecnocrático‖ (#106-114); ―A crise do Antropocentrismo moderno e suas
consequências‖ (#115-136).
109. O paradigma tecnocrático tende a exercer o seu domínio também sobre a economia e a política. A economia assume todo o desenvolvimento tecnológico em função do lucro, sem prestar atenção a eventuais consequências negativas para o ser humano. A finança sufoca a economia real. Não se aprendeu a lição da crise financeira mundial e, muito lentamente, se aprende a lição do deterioramento ambiental. Nalguns círculos defende-se que a economia actual e a tecnologia resolverão todos os problemas ambientais, do mesmo modo que se afirma, com linguagens não académicas, que os problemas da fome e da miséria no mundo serão resolvidos simplesmente com o crescimento do mercado. Não é uma questão de teorias económicas, que hoje talvez já ninguém se atreva a defender, mas da sua instalação no desenvolvimento concreto da economia [...].
É nesse capítulo que o Papa Francisco faz referência aos direitos das gerações
futuras, melhor elaborado no quarto capítulo, no qual ele define ―Uma Ecologia
integral‖, afirmando que ela é a que ―claramente respeita as dimensões humanas e
sociais‖ (#137, p. 162). Ele, então, explicita vários tipos de ecologia: a ambiental, a
econômica, a social, a cultural e a ecologia da vida diária, conectando-as ao conceito
de ecologia integral. O capítulo termina com um olhar sobre dois importantes
princípios: o do bem comum e o da justiça entre gerações. ―A ecologia humana é
inseparável da noção de bem comum, princípio este que desempenha um papel
central e unificador na ética social [...] (#156, p. 120). ―A noção de bem comum
engloba também as gerações futuras. [...] Se a terra nos é dada, não podemos
pensar apenas a partir dum critério utilitarista de eficiência e produtividade para lucro
individual [...] (#159, p. 122).
Ao discorrer sobre ―A Justiça Intergeneracional‖ (#159-162), o Papa Francisco
interroga ―Que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos?‖. A
pergunta constitui o ―âmago da Laudato Si‟‖,
160. Esta pergunta não toca apenas o meio ambiente de maneira isolada, porque não se pode pôr a questão de forma fragmentária. Quando nos interrogamos acerca do mundo que queremos deixar, referimo-nos sobretudo à sua orientação geral, ao seu sentido, aos seus valores. Se não pulsa nelas esta pergunta de fundo, não creio que as nossas preocupações ecológicas possam alcançar efeitos importantes. Mas, se esta pergunta é posta com coragem, leva-nos inexoravelmente a outras questões muito directas: Com que finalidade passamos por este mundo? Para que viemos a esta vida? Para que trabalhamos e lutamos? Que necessidade tem de nós esta terra? Por isso, já não basta dizer que devemos preocupar-nos com as gerações futuras; exige-se ter consciência de que é a nossa própria dignidade que está em jogo. Somos nós os primeiros interessados em
79
deixar um planeta habitável para a humanidade que nos vai suceder. Trata-se de um drama para nós mesmos, porque isto chama em causa o significado da nossa passagem por esta terra (PAPA FRANCISCO, p. 123).
O sexto e último capítulo versa sobre a educação nas diversas instituições. O
Papa chama a atenção para a Carta da Terra como um convite para um novo
começo e afirma que ―estamos perante um desafio educativo‖. Ele ressalta ―a
capacidade de reordenar os itinerários pedagógicos duma ética ecológica‖ e assinala
que ―às vezes, porém, esta educação, chamada a criar uma «cidadania ecológica»,
limita-se a informar e não consegue fazer maturar hábitos‖ (#207-211, p. 155-160).
210. A educação ambiental tem vindo a ampliar os seus objectivos. Se, no começo, estava muito centrada na informação científica e na consciencialização e prevenção dos riscos ambientais, agora tende a incluir uma crítica dos «mitos» da modernidade baseados na razão instrumental (individualismo, progresso ilimitado, concorrência, consumismo, mercado sem regras) e tende também a recuperar os distintos níveis de equilíbrio ecológico [...].
Antes disso e depois de apresentar uma visão sobre a realidade do planeta e
as causas humanas da degradação ambiental, no quinto capítulo, o enfoque está
alicerçado em uma série de diálogos que devem ser implementados. Nessa altura, o
Papa Francisco resgata a Encíclica Lumen fidei (29 de Junho de
2013), 34 [AAS 105 (2013), 577], a qual versa que ―[...] a fé desperta o sentido
crítico, enquanto impede a pesquisa de se deter, satisfeita, nas suas fórmulas e
ajuda-a a compreender que a natureza sempre as ultrapassa‖. Essa retomada é no
sentido do diálogo das religiões com as ciências, no qual ele reafirma,
[...] Realmente é ingênuo pensar que os princípios éticos possam ser apresentados de modo puramente abstracto, desligados de todo o contexto, e o facto de aparecerem com uma linguagem religiosa não lhes tira valor algum no debate público. Os princípios éticos que a razão é capaz de perceber, sempre podem reaparecer sob distintas roupagens e expressos com linguagens diferentes, incluindo a religiosa (#199, p. 152-153).
O diálogo sobre o meio ambiente e a comunidade internacional, para novas
políticas nacionais e locais, para transparência nos processos decisórios; entre a
economia e a política para a realização humana são igualmente contemplados. O
Papa Francisco lida com cada uma destas propostas de diálogo de forma detalhada,
80
fazendo reflexões e buscando o diálogo sobre o meio ambiente na comunidade
internacional. Ele ressalta que focar nas questões internacionais já não é o bastante,
porém, devem ser identificados os que saem ganhando e os que saem perdendo
nas negociações em níveis nacionais e locais (#176). Nesse sentido, é útil investigar
discursos veiculados em diversos instrumentos – acordos, tratados e convenções –
para apreender estratégias que os sustentam no domínio das políticas.
De acordo com Phillippe Le Prestre (2005, p. 24), a convicção de que a solução
definitiva reside essencialmente numa tomada de consciência coletiva de que a
degradação do meio ambiente resulta de atividades econômicas e sociais
―pressupõe um acordo sobre a definição dos problemas e das soluções apropriadas,
bem como uma ligação automática entre tomada de consciência, mobilização e
resultados‖. No nível internacional, esses processos se encontram intimamente
ligados às relações diplomáticas, à formação e aplicação das políticas nacionais e
aos esforços para a instauração de um ―desenvolvimento durável‖.
A ecopolítica internacional não somente faz referência ao conjunto das dimensões políticas de identificação e da resolução das questões ambientais, mais particularmente, às tentativas dos atores internacionais de impor sua definição da segurança em face da natureza e da qualidade de vida das populações, utilizando as novas carências em proveito próprio (LE PRESTRE, 2005, p. 19).
O autor esclarece que antes da Segunda Guerra Mundial as questões
ambientais estavam ligadas à gestão dos recursos ditos ―úteis ao homem‖ e à
conservação das espécies, principalmente as aves. O objetivo era assegurar a
sobrevivência econômica de um grupo particular dependente da exploração desses
recursos. Foi assim que, em 1902, onze países europeus assinaram, em Paris, um
tratado de proteção dos pássaros úteis à agricultura, processo iniciado em 1868 com
uma assembleia de agricultores e exploradores florestais alemães (LE PRESTRE,
2005).
O primeiro encontro oficial com o intuito de avaliar a sobrevivência da
humanidade ocorreu em 1972, em Estocolmo, na Suécia. Trata-se da primeira
―Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente‖, quando o tema da
sobrevivência da humanidade entrou oficialmente em cena. Como resultado dessa
conferência foi criado o Programa das Nações Unidas Para o Meio Ambiente
(PNUMA), com o objetivo de coordenar as ações internacionais de proteção
81
ambiental e de promoção do ―desenvolvimento sustentável‖, voltado para a
elaboração de mecanismos de controles de problemas ambientais de poluição.
Surgiu, então, a ideia de sustentabilidade, sob o nome de ―abordagem de
ecodesenvolvimento‖, termo lançado pelo primeiro diretor executivo do PNUMA e
Secretário-geral da Conferência de Estocolmo e da Rio-92, Maurice Strong.
Nessa época, a partir de uma proposta de Maurice Strong, o economista e
sociólogo Ignacy Sachs desenvolveu o termo conceitualmente para inspirar
documentos e projetos do PNUMA. Em parte, o modelo de ecodesenvolvimento
baseia-se em três pilares: eficiência econômica, justiça social e prudência ecológica.
―Trata-se de gerir a natureza de tal maneira que assegure às gerações, presente e
futura, a possibilidade de se desenvolver‖ (SACHS, 1981, p. 14).
Sachs escreveu vários livros e artigos sobre o ―ecodesenvolvimento‖, conceito
que anos depois daria origem à expressão ―desenvolvimento sustentável‖ ou
―desenvolvimento durável‖. Ao formular a noção de ecodesenvolvimento, propõe
uma estratégia multidimensional e alternativa de desenvolvimento que articula
promoção econômica, preservação ambiental e participação social. Dedica atenção
especial aos meios de superar a marginalização e a dependência política, cultural e
tecnológica das populações envolvidas nos processos de mudança social. É
marcante em seus estudos o compromisso com os direitos e desigualdades sociais e
com a autonomia dos povos e países menos favorecidos na ordem internacional.
No livro ―Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável‖, o autor define oito
critérios de sustentabilidade: social; cultural; ecológica; ambiental; territorial;
econômica; política nacional; política internacional. Ele reafirma que
independentemente da denominação, ―a abordagem está fundamentada na
harmonização de objetivos sociais, ambientais e econômicos e recomenda a
utilização dos oito critérios distintos de sustentabilidade‖. O autor usa o termo
―crescimento perverso‖ em referência ao crescimento que não leva ao
desenvolvimento sustentável (SACHS, 2002, p. 54).
Em seu estudo autobiográfico, ―A Terceira Margem: em busca do
ecodesenvolvimento‖, entre outras questões, Sachs (2009) relata que o termo ficou
comprometido por consequência da repercussão negativa que teve no Governo dos
Estados Unidos a Declaração de Cocoyoc (México), aprovada em 1974.
82
[...] o colóquio de Cocoyoc marcava uma virada na história. Uma luta efetiva contra o subdesenvolvimento demandava parar o sobredesenvolvimento dos ricos. [...] Dois dias depois, o secretariado da ONU recebe um telegrama que diz, grosso modo: ―O que é essa declaração de Cocoyoc? Mais uma história dessas e seremos obrigados a rever nossa atitude face ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, cuja vocação é se ocupar da despoluição‖. Assinado: Henry Kissinger
47.
Foi a partir daí que o ―ecodesenvolvimento‖ se tornou uma palavra mal apreciada, desaconselhável mesmo, e progressivamente substituída em inglês pela expressão sustainable developoment, atrozmente traduzida em francês como développement durable (SACHS, 2009, p. 243, grifos do autor).
O autor ressalta que a justificativa de que o PNUMA não tinha que tratar dos
estilos de desenvolvimento também foi proferida anos mais tarde, em 1980, pelos
conselheiros da Comissão Econômica Europeia da ONU, em Genebra.
Sachs (2009, p. 231 e 232) relata que na reunião de preparação da
―Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente‖, em 1971, ―duas posições
extremas se confrontaram a respeito das relações entre o meio ambiente e o
desenvolvimento. De um lado, os partidários do crescimento selvagem, que diziam:
―Primeiro o crescimento e depois veremos‖. No oposto, estavam os ―zegistas‖.
O autor faz referência a ―um diplomata brasileiro de ideias progressistas, mas
que interpretara errado o meio ambiente como algo que seria simplesmente uma
pedra jogada no caminho da industrialização dos países do Sul‖. Ele disse, ―num
momento de discussão livre, que todas as indústrias poluentes vão para o Brasil,
temos espaço suficiente para isso, e no dia em que formos tão ricos como o Japão
nos preocuparemos com o meio ambiente‖ (SACHS, 2009, p. 231, grifos do autor).
Sachs (2009) não cita o nome, mas identificamos em outra publicação, de
André Aranha Corrêa do Lago (2006, p. 37), negociador-chefe do Brasil na Rio+20,
que havia 27 peritos naquela reunião, entre os quais ―o Embaixador Miguel Ozório
de Almeida, único diplomata entre todos os participantes, [...] reconhecido por ser
um dos primeiros diplomatas a se dedicar aos temas de desenvolvimento
econômico‖.
47
Henry Alfred Kissinger – Prêmio Nobel da Paz em 1973. Foi o 56º Secretário de Estado dos Estados Unidos de 1973 a 1977, continuando a ocupar o cargo de Assistente do Presidente para Assuntos de Segurança Nacional, que assumiu pela primeira vez em 1969 até 1975. Depois de deixar o governo, fundou a Kissinger Associates, uma empresa de consultoria internacional, da qual é presidente. A empresa descreve-se como fornecedora de "serviços estratégicos de aconselhamento e advocacia a um seleto grupo de empresas multinacionais. Presta assessoria em projetos especiais, ajuda seus clientes a identificar parceiros estratégicos e oportunidades de investimento e aconselha clientes sobre relações governamentais em todo o mundo". Disponível em: <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1973/kissinger-bio.html>. Acesso em 08 abr. 2017.
83
Segundo Lago (2006, p. 127), o diplomata brasileiro foi encarregado de
preparar as posições brasileiras e defendê-las. ―A forte personalidade e o brilho das
intervenções de Miguel Ozório, aliados à sua liberdade de ação no tocante às
negociações, tornaram-no uma das figuras centrais do processo preparatório da
Conferência‖. Na descrição do autor, o Embaixador Miguel Ozório de Almeida,
―dotado de extraordinária inteligência [...] tinha profunda cultura e particular talento
para estruturar argumentos pontuais‖.
Ainda em 1972, foi publicado em Londres o ―Manifesto pela Sobrevivência‖,
denunciando o consumismo e o industrialismo capitalista como causadores da
degradação ambiental. Ao mesmo tempo, poucos meses antes da abertura da
Conferência de Estocolmo, por encomenda do Clube de Roma, técnicos do
Massachusetts Institute of Technology (MIT) elaboraram o chamado ―Limites do
Crescimento‖ ou ―Relatório Meadows‖.
Nas palavras de Lago (2006, p. 29), o livro ―Limites do Crescimento‖
apresentava ―perspectiva quase apocalíptica das consequências do progresso nas
bases em que se estava desenvolvendo‖. O autor explica que a visão cada vez mais
explorada naquele momento, de que a sociedade moderna se encaminhava para a
autodestruição contribuiu para que diversos autores devolvessem popularidade às
teorias de Thomas Malthus, de que a população mundial ultrapassaria a capacidade
de produção de alimentos. O caráter catastrófico, que indicava a fome, a poluição e
o crescimento demográfico como vilões de um futuro sombrio, ressaltava a
importância da contenção do crescimento e proclamava a adoção da política do
―crescimento zero‖ para todos os países.
Considerado radical, por se opor ao desenvolvimento e pregar o ―crescimento
zero‖, o ―Relatório Meadows‖ gerou controvérsias e foi duramente atacado não só
pelo segmento capitalista empresarial, mas também pelos países em
desenvolvimento que prenunciavam o congelamento das desigualdades sociais e
econômicas. O ―crescimento zero‖, sob o viés políticoeconômico, significava um
embrutecimento na relação Norte-Sul, com um esmagamento das supostas
pretensões de desenvolvimento dos países periféricos (LAGO, 2006). Nas palavras
de Mauro Grün (1996),
Liderados pelo Brasil, vários países do Terceiro Mundo formam um bloco de oposição às propostas de ―crescimento zero‖, contidas neste relatório. O principal argumento do bloco de oposição era que a aceitação de uma tal
84
proposta implicaria necessariamente no congelamento das desigualdades sociais (GRÜN, 1996, p. 17).
Pode-se considerar que a partir do ―Relatório Meadows‖, a crise ambiental
começou a ocupar espaço no meio empresarial. Esse marco inicial evidenciou a
necessidade de se preocupar com o ―desenvolvimento sustentável‖, posicionando o
mundo econômico frente aos riscos do crescimento desenfreado. A publicação
contou com diversas personalidades do mundo da indústria, ciência, economia,
sociologia, do governo etc. Foi traduzida em 30 idiomas e vendeu mais de 10
milhões de exemplares, o que contribuiu para elevar o Clube de Roma ao cenário
internacional.
O Clube de Roma é uma organização fundada, em 1968, pelo italiano e
presidente do Comitê Econômico da Organização do Tratado do Atlântico Norte
(OTAN), Aurelio Peccei, em cerimônia na propriedade da família Rockfeller em
Bellagio, Itália. A proposta do Clube de Roma era repensar a conjuntura mundial a
partir da ótica industrial dominante, já que os seus integrantes eram, em grande
parte, importantes líderes empresariais. Seus trabalhos sempre contaram com o
financiamento da Fundação Volkswagen, da FIAT, Fundação Ford, Royal Dutch
Shell, Fundação Rockfeller, entre outras (REBÊLO Jr., 2002).
Em uma entrevista concedida à Unesco48, em 1973, Aurelio Peccei, então
Presidente do Clube de Roma, comentou algumas das críticas recebidas. Ele
descreveu o Clube como uma ―faculdade invisível‖, cujos membros partilham de uma
convicção comum: a urgência para corrigir a situação mundial e espalhar a
compreensão real do estado crítico da humanidade e as perspectivas incertas para o
futuro. A proposta era novas orientações políticas para a gestão dos assuntos
humanos. Para tanto, eles introduziram uma série de variáveis que afetam o
crescimento e passaram a fazer projeções das chances de sobrevivência humana no
futuro. Sua conclusão final foi que todas as projeções baseadas no crescimento
terminariam em colapso.
Atualmente, em seu site na internet49, o Clube de Roma se denomina como
―uma organização de indivíduos que compartilham uma preocupação comum para o
futuro da humanidade e se esforçam para fazer a diferença‖. Sua missão é
48
Cf. Only One Earth (Apenas uma Terra). Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000748/074879eo.pdf>. Acesso em 08 abr. 2017. 49
Cf. The Club of Rome. Disponível em: <https://www.clubofrome.org/>. Acesso em 08 abr. 2017.
85
―promover a compreensão dos desafios globais enfrentados pela humanidade e
propor soluções através da análise científica, comunicação e advocacia‖. O Clube é
composto por mais de 100 membros de diversos países, que se reúnem para
debater assuntos relacionados com política, economia, meio ambiente e
desenvolvimento sustentável. Entre seus membros estão o ex-líder soviético Mikhail
Gorbachev, o empresário norte-americano George Mitchell, a rainha Beatriz da
Holanda e o ex-presidente brasileiro Fernando Henrique Cardoso. ―No Capítulo
Brasileiro‖ identifica-se como Presidente o Profº Heitor Gurgulino de Souza50, uma
das personalidades mais importantes no cenário das relações internacionais e atual
vice-presidente do Clube de Roma.
Em entrevista concedida a Isaac Roitmann, no programa ―2022, o Brasil que
queremos51, o Profº Heitor Gurgulino de Souza disse que o Clube de Roma está de
acordo com a ONU, no que se refere ao estabelecimento da meta de manter a
temperatura ―bem abaixo dos 2ºC acima dos níveis pré-industriais e se esforçar para
limitar o aumento da temperatura a 1.5 ºC‖, conforme Acordo de Paris, de 2015,
assinado pela comunidade internacional. Ele informou que atualmente o Clube de
Roma trabalha em um programa trinta anos à frente do programa 2022, se referindo
à publicação mais recente, intitulada ―2052 – Uma Previsão Global para os Próximos
Quarenta Anos‖, assinada por Jorgen Randers, um dos autores de ―Limites do
Crescimento‖.
Publicado nos Estados Unidos pela editora Chelsea Green, o lançamento do
livro ocorreu pouco antes da Conferência Rio+20. O estudo dá continuidade às
questões formuladas anteriormente e aponta que a principal causa dos problemas
futuros será a excessiva visão de curto prazo do modelo político e econômico
dominante.
Em entrevista concedida ao repórter João Sorima Neto, publicada na seção
Sociedade/Ciência do jornal O Globo, em 2013, Jorgen Randers explicou que ―essa
disposição de tomar apenas decisões de curto prazo se reflete em nossas
instituições democráticas, que raramente olham as consequências de suas decisões
50
Profº Heitor Gurgulino de Souza é Matemático e especialista em Física Nuclear. Ex-reitor da Universidade Federal de São Carlos e durante dez anos foi Reitor da Universidade das Nações Unidas. Atualmente é Presidente da Academia Mundial de Artes e Ciência; membro do Conselho Consultivo do ―Movimento 2022, O Brasil que queremos‖ e vice-presidente do Clube de Roma. 51
O programa "2022, o Brasil que queremos‖ estreou em abril de 2016, transmitido pela TV SUPREN, braço de comunicação da União Planetária (UP). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cs2AqREU5Cs>. Acesso em 08 abr. 2017.
86
além do período eleitoral‖. Ele considera ―quase improvável que o mercado
financeiro coloque em prática as soluções necessárias a tempo. E que os
parlamentos aprovem regulamentação que poderiam ter forçado os mercados a
fazê-lo‖. Em sua perspectiva, ―o que precisamos é de um sistema de governo que
coloque mais ênfase no interesse de nossos filhos e netos nas gerações futuras‖52.
A publicação, segundo o Profº Heitor Gurgulino de Souza, ―reflete o esforço
que vem sendo feito para atender precisamente o desenvolvimento sustentável ao
redor do mundo‖. Ele destacou o capítulo dedicado à ―educação para o
desenvolvimento sustentável‖. Em suas palavras, ―temos que agir junto aos jovens
porque os problemas são enormes nesse campo, afetam toda a humanidade‖.
A educação esteve no centro das discussões internacionais em 1975, quando a
Unesco promoveu em Belgrado, ex-Iugoslávia, The Belgrado Workshop on
Environmental Education (Conferência de Belgrado sobre Educação Ambiental).
Nesse encontro internacional, que contou com a presença de 65 países, foram
formulados alguns princípios básicos para um programa de educação ambiental. O
encontro resultou a Carta de Belgrado, documento considerado um marco histórico
para a evolução dos movimentos em torno do tema meio ambiente. A Carta de
Belgrado declara que a meta da educação ambiental é: "Desenvolver um cidadão
consciente do ambiente total; preocupado com os problemas associados a esse
ambiente, e que tenha o conhecimento, as atitudes, motivações, envolvimento e
habilidades para trabalhar de forma individual às questões daí emergentes"53.
Dois anos depois foi realizada a ―Conferência Intergovernamental sobre
Educação Ambiental‖, em Tibilisi, Georgia, ex-URSS. Segundo Grün (1996), a
conferência de Tibilisi, apontada como um dos eventos mais decisivos nos rumos
que a educação ambiental foi tomando em vários países, inclusive no Brasil,
basicamente reiterou os princípios estabelecidos em Estocolmo.
Posteriormente, em 1983, foi criada, em Assembleia Geral da ONU, a
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD), cujo
objetivo era fazer uma avaliação detalhada dos problemas ambientais globais e sua
52
Cf. O Globo. ―Previsões sombrias para um futuro não muito distante‖. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/revista-amanha/previsoes-sombrias-para-um-futuro-nao-muito-distante-7426877>. Acesso em 08 abr. 2017. 53
Cf. Portal Educação. Disponível em: <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/conferencia-de-belgrado-1975/27424>. Acesso em 08 abr. 2017.
87
relação com o comércio, oportunidade para abordar seriamente o tema do
desenvolvimento. Assim, uma das descrições originais do conceito de
―desenvolvimento sustentável‖ é creditada à conhecida Comissão Brundtland,
presidida, entre 1983 e 1987, por Gro Harlem Brundtland, política, diplomata e
médica norueguesa, líder internacional em ―desenvolvimento sustentável‖ e saúde
pública.
Em 1987 a referida Comissão publicou o ―Relatório Brundtland‖, denominado
―Nosso Futuro Comum‖, formulando o conceito de desenvolvimento e inserindo
oficialmente, na agenda internacional, a noção de ―desenvolvimento sustentável‖. [...]
―A humanidade é capaz de tornar o desenvolvimento sustentável – de garantir que
ele atenda as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as
gerações futuras atenderem também às suas" (CMMAD, 1991, p. 9).
A Comissão Brundtland se dirige aos governos e às empresas privadas. ―Antes
de tudo às pessoas cujo bem-estar é o objetivo último de todas as políticas
referentes a meio ambiente e desenvolvimento. De modo especial, aos jovens‖.
Recomenda que ―aos professores de todo o mundo cabe a tarefa crucial de levar a
eles‖ o relatório. Retomarei esta questão mais adiante, mas vale já observar as
palavras da Presidente Gro Harlem Brundtland, expressas no prefácio do relatório:
Se não conseguirmos transmitir nossa mensagem de urgência aos pais e administradores de hoje, arriscamo-nos a comprometer o direito fundamental de nossas crianças a um meio ambiente saudável que promova a vida. Se não conseguirmos traduzir nossas palavras numa linguagem capaz de tocar os corações e as mentes de jovens e idosos, não seremos capazes de empreender as amplas mudanças sociais necessárias à correção do curso do desenvolvimento.
A Presidente Gro Harlem Brundtland faz referência aos vínculos entre pobreza,
desigualdade e deteriorização ambiental, os quais foram um dos principais temas de
análise e recomendações do relatório.
O relatório caracteriza-se por uma mudança de enfoque, apontando para a
conciliação entre conservação da natureza e crescimento econômico. Parte da
constatação de que embora a Terra seja uma, o mundo não é. Aponta
preocupações, desafios e esforços comuns no sentido de uma nova orientação,
anunciada já no prefácio: ―[...] o necessário agora é uma nova era de crescimento e
ao mesmo tempo duradouro do ponto de vista social e ambiental‖ (CMMAD, 1991, p.
10).
88
Para a Comissão Brundtland, as limitações ao desenvolvimento sustentável
estariam, não no modelo de crescimento, baseado na exploração dos recursos
naturais e no estímulo ao consumo, mas nas ―limitações impostas pelo estágio atual
da tecnologia e da organização social, no que se refere aos recursos ambientais, e
pela capacidade da biosfera de absorver os efeitos da atividade humana‖. Considera
que ―tanto a tecnologia quanto a organização social podem ser geridas e
aprimoradas a fim de proporcionar uma nova era de crescimento econômico‖. Para
tanto, declara que ―as tecnologias ambientais devem ser postas à disposição dos
países em desenvolvimento de forma a favorecer sua ampla difusão, sem que
constituam uma carga econômica para esses países‖54.
A Comissão Brundtland defende que as ―falhas‖ que precisam ser corrigidas
―derivam da pobreza e do modo equivocado com que temos frequentemente
buscado a prosperidade‖, sugerindo uma circularidade viciosa da pobreza: ―os povos
pobres são obrigados a usar excessivamente seus recursos ambientais a fim de
sobreviverem e o fato de empobrecerem seu meio ambiente os empobrece mais,
tornando sua sobrevivência ainda mais difícil e incerta‖. Considera que ―a
prosperidade conseguida em algumas partes do mundo é com frequência precária,
pois foi obtida mediante práticas agrícolas, florestais e industriais que só trazem
lucro e progresso a curto prazo‖ (CMMAD, 1991, p. 10).
[...] O conceito de desenvolvimento sustentável tem, é claro, limites – não limites absolutos, mas limitações impostas pelo estágio atual da tecnologia e da organização social, no tocante aos recursos ambientais, e pela capacidade da biosfera de absorver os efeitos da atividade humana. Mas tanto a tecnologia quanto a organização social podem ser geridas e aprimoradas a fim de proporcionar uma nova era de crescimento econômico. Para a Comissão, a pobreza generalizada já não é inevitável. A pobreza não é apenas um mal em si mesma, mas para haver um desenvolvimento sustentável é preciso atender às necessidades básicas de todos e dar a todos a oportunidade de realizar suas aspirações de uma vida melhor. Um mundo onde a pobreza é endêmica estará sempre sujeito a catástrofes, ecológicas ou de outra natureza (CMMAD, 1991, p. 9).
Na perspectiva da Comissão Brundtland, a nova ordem mundial aponta para a
elevação do padrão de vida, necessariamente implicado ao crescimento econômico
e ao progresso técnico, garantida por um conjunto de mudanças, cujo processo
54
Cf. Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – 1972. Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/estocolmo1972.pdf>. Acesso em 08 abr. 2017.
89
envolve ―a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do
desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional‖ conforme as necessidades
atuais e futuras. O relatório afirma que ―a sustentabilidade do desenvolvimento está
diretamente ligada à dinâmica do crescimento populacional‖.
Apreende-se que a Comissão Brundtland não estabelece limites ao
crescimento econômico, mas declara que ―o crescimento natural da população
coloca continuamente, problemas relativos à preservação do meio ambiente, e
devem-se adotar as normas e medidas apropriadas para enfrentar esses
problemas‖. A ideia de que o aumento populacional possa comprometer a elevação
dos padrões de vida, implicou vincular e delimitar a liberdade reprodutiva ao
―potencial produtivo cambiante do ecossistema‖. Pode-se interpretar que seria esta
uma condição estratégica para operacionalizar o ―desenvolvimento sustentável‖,
posto que para a Comissão, ―[...] é mais fácil buscar o desenvolvimento sustentável
quando o tamanho da população se estabiliza num nível coerente com a capacidade
produtiva do ecossistema‖.
Para que haja um desenvolvimento global sustentável é necessário que os mais ricos adotem estilos de vida compatíveis com os recursos ecológicos do planeta – quanto ao consumo de energia, por exemplo. Além disso, o rápido aumento populacional pode intensificar a pressão sobre os recursos e retardar qualquer elevação dos padrões de vida, portanto, só se pode buscar o desenvolvimento sustentável se o tamanho e o aumento da população estiverem em harmonia com o potencial produtivo cambiante do ecossistema (CMMAD, 1991, p. 10).
Embora afirme que o desenvolvimento sustentável não seja ―um estado
permanente de harmonia‖, pode-se apreender que o relatório focaliza a elevação
dos padrões de vida dos países pobres pressupondo aumento de produtividade e de
consumo. Contraditoriamente essa lógica é incompatível com a noção de
sustentabilidade proposta, haja vista que atualmente 75% da energia gerada em
todo o mundo é consumida por apenas 25% da população mundial, principalmente
nos países mais industrializados, sendo que cerca de 1,3 bilhão de pessoas não têm
acesso à luz elétrica e 1,5 bilhão delas não têm acesso à água limpa (IDEC, 2005)55.
Hoje, 20% da população mundial (Estados Unidos, Europa e Japão) concentram
80% da produção e do consumo. Cerca de 4 bilhões de pessoas vivem na pobreza,
55
Cf. CONSUMO SUSTENTÁVEL: Manual de educação. Brasília: Consumers International/ MMA/ MEC/ IDEC, 2005. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao8.pdf>. Acesso em 08 abr. 2017.
90
sendo que 100 milhões de crianças passam fome (DOWBOR, 2015). Ora, se todos
os habitantes do mundo consumissem como os norte-americanos, europeus e
japoneses seriam necessários dois ou três planetas Terra para atender a demanda,
sem contar o lixo e o desperdício. Como apontam os Relatórios do Worldwatch
Institute, a cultura do consumismo é a maior ameaça ao planeta56.
Como afirma Dowbor (2015, p. 11), ―o nosso problema não é econômico. Os 70
trilhões de dólares do PIB mundial, se fossem divididos de maneira minimamente
razoável, permitiriam um consumo equivalente a 7 mil reais por mês por família de
quatro pessoas‖.
Esta mesma média vale para o Brasil. Os cerca de 30 trilhões de dólares em paraísos fiscais, com um pouco de taxação sobre grandes forturas, permitiriam financiar amplamente a reconversão tecnológica e de perfil de produção que o meio ambiente exige, e o resgate dos dramas sociais (DOWBOR, 2015, p. 11).
Pode-se apreender nos discursos proferidos pela Comissão Brundtland uma
cadeia de raciocínios, cuja ideologia opera via estratégias diversas. Já a partir do
título que dá nome ao relatório, a Comissão Brundtland busca constituir uma unidade
coletiva em torno de objetivos comuns, independentemente de quaisquer diferenças
que possam apontar separações; uma combinação de estratégias que consistem no
esvaziamento do caráter sócio-histórico dos fenômenos e na eliminação de
referências aos atores das ações, os contextos espaciais e temporais. Nesse
sentido, o discurso do ―desenvolvimento sustentável‖ é útil na medida em que
disfarça a lógica do desenvolvimento, na qual o crescimento econômico está no
centro do processo, por assim dizer, do negócio. No conjunto, o impacto dos
números mostra que o ―desenvolvimento sustentável‖, pautado por uma perspectiva
de crescimento econômico e progresso tecnológico, dissimula a lógica
desenvolvimentista, passando a ideia de que com uma nova postura seria possível
trilhar novos rumos. No entanto, sustentando as relações de dominação
características do capitalismo.
No ensaio intitulado ―Do ecodesenvolvimento ao desenvolvimento sustentável:
evolução de um conceito?‖, Philippe Pomier Layrargues (1997) usa da forma
interrogativa para provocar a reflexão no sentido de desmistificar o debate sobre os
56
O Estado de S.Paulo – ―Consumismo é ameaça ambiental global, adverte relatório‖. Disponível em: <http://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,consumismo-e-ameaca-ambiental-global-adverte-relatorio,497793>. Acesso em 08 abr. 2017.
91
estilos de desenvolvimento e contestar a afirmativa amplamente disseminada a qual
se julga ter ocorrido uma evolução conceitual do ―ecodesenvolvimento‖ para o
―desenvolvimento sustentável‖. Para tanto, o autor faz uma análise comparativa
entre os princípios do ―ecodesenvolvimento‖, formulados por Ignacy Sachs (1986)
―Ecodesenvolvimento: crescer sem destruir‖ com os postulados do ―desenvolvimento
sustentável‖, a partir do ―Relatório Brundtland‖.
Embora apreenda semelhanças entre um e outro, Layrargues (1997) identifica
diferenças que traduzem ideologias diferentes. De acordo com o autor, ―compartilhar
de uma mesma meta‖ não significa ―compartilhar das mesmas estratégias de
execução‖.
Enquanto o ecodesenvolvimento postula com relação à justiça social, que seria necessário estabelecer um teto de consumo, com um nivelamento médio entre o Primeiro e o Terceiro mundo, o desenvolvimento sustentável afirma que seria necessário estabelecer um piso de consumo, omitindo o peso da responsabilidade da poluição da riqueza. Enquanto o ecodesenvolvimento reforça o perigo da crença ilimitada na tecnologia moderna, e prioriza a criação de tecnologias endógenas, o desenvolvimento sustentável continua acreditando firmemente no potencial da tecnologia moderna, e ainda propõe a transferência de tecnologia como o critério de ―ajuda‖ ao Terceiro Mundo. Enquanto o ecodesenvolvimento coloca limites à livre atuação do mercado, o desenvolvimento sustentável afirma que a solução da crise ambiental virá com a instalação do mercado total na economia das sociedades modernas (LAYRARGUES, 1997, p. 10).
O autor não se apoia na teoria de ideologia de Thompson (2009), mas dá
continuidade ao raciocínio de Henri Acselrad (1992) – ―Desenvolvimento sustentável:
a luta por um conceito‖ – e de Walt Whitma Rostow (1971) – ―Etapas do
desenvolvimento econômico‖ – para mostrar que ―a perspectiva da análise de
discurso dos textos onde se encontram suas respectivas matrizes teóricas, esclarece
o quadro ideológico escamoteado por trás do discurso legitimador do
desenvolvimento sustentável‖ (LAYRARGUES, 1997, p. 5).
Primeiramente o autor critica a premissa básica defendida pela Comissão
Brundland, acerca das preocupações e dos desafios comuns na busca de soluções
como uma tarefa também comum à humanidade, ou seja, ―independentemente da
existência de atores sociais implicados na responsabilidade da degradação
ambiental‖. De acordo com suas análises, ―na tentativa de generalizar os fatos (a
Comissão Brundtland) omite um contexto histórico, e cria o ―homem abstrato‖, cuja
consequência significa a retirada do componente ideológico da questão ambiental‖.
92
O autor assinala que ―frente à falta de visibilidade do procedimento histórico que
gerou a crise ambiental‖, ela passa ―a ser considerada com uma certa dose de
ingenuidade e descompromisso‖ (LAYRARGUES, 1997, p. 8, grifo meu).
Seguindo os princípios do ―ecodesenvolvimento‖, pautados pelo conceito de
justiça social, a equivalência entre Norte e Sul implicaria a busca de um nivelamento
médio entre ambos, respeitando a diversidade cultural em relação aos padrões de
consumo. ―Este seria o teto de consumo material, de acordo com a prudência
ecológica e a coerência para com as gerações futuras‖. Ou seja,
[...] Enquanto o padrão de consumo dos países subdesenvolvidos aumentasse, o inverso ocorreria com os países desenvolvidos, até que se atingisse, pelas duas pontas, o ponto de equilíbrio-suporte da biosfera: a capacidade global de consumo, dado o presente padrão tecnológico responder às necessidades da humanidade (LAYRARGUES, 1997, p. 10).
Layrargues (1997) identifica que é precisamente este princípio do
―ecodesenvolvimento‖ que a Comissão Brundtland evita abordar. Ao afirmar a
necessidade de um piso de consumo ao invés de um teto, a Comissão ―omite o peso
da responsabilidade da poluição da riqueza‖, resultado uma proposta ilusória.
Seu discurso ideológico acentua a erradicação da pobreza como a tônica do desenvolvimento sustentável, e assim, estaríamos diante de apenas um problema: a poluição da pobreza. [...] Ocorreu um movimento de dupla conveniência entre Norte e Sul, onde o primeiro desejando omitir a poluição da riqueza, e o segundo, desejando obter investimentos para mitigar a pobreza, orquestraram seus interesses particulares em total harmonia (LAYRARGUES, 1997, p. 10).
De acordo com o autor, a proposta de um ―novo estilo de desenvolvimento‖ não
significa uma mudança de rumo. Ele conclui que ―o desenvolvimento sustentável
assume claramente a postura de um projeto ecológico neoliberal‖ e aponta como um
problema a crença de que ―a proposta do desenvolvimento sustentável pretende
preservar o meio ambiente, quando na verdade preocupa-se tão somente em
preservar a ideologia hegemônica‖ (LAYRARGUES, 1997, p. 10).
Por fim, a Comissão sugere que o ―desenvolvimento sustentável‖ deveria ser
reconhecido como o propósito orientador da ação política e econômica internacional,
preparando o terreno para a realização da ―Conferência das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável‖, em julho de 1992, no Rio de
janeiro. Destaca que ―[...] Em última análise, o desenvolvimento sustentável depende
do empenho político‖ (CMMAD, 1991, p. 10).
93
Antes disso, em 1989, o Conselho de Administração do PNUMA, tomou a
iniciativa de precisar a definição clássica do ―desenvolvimento sustentável‖ do
―Relatório Brundtland‖. ―O desenvolvimento durável é uma forma de
desenvolvimento que responde às necessidades atuais sem comprometer a
capacidade das gerações futuras a satisfazer suas necessidades e que, em nenhum
caso, prejudica a soberania nacional (PNUMA, 1989 apud LE PRESTRE, 2005, p.
131, grifos do autor). Segundo Le Prestre (2005), diante disto e levando em conta
elementos precedentes, muitos ―politecologistas‖ se afastaram do conceito,
apresentando-o como obstáculo principal a todo progresso com vistas ao bem
comum.
Na Rio-92, os debates envolveram novamente os conflitos Norte-Sul. Enquanto
países do Sul apontavam a pobreza como questão prioritária, sustentando que os
problemas ambientais se originam do consumo abusivo de países industrializados e
das desigualdades econômicas internacionais, países do Norte buscaram impedir a
imposição de novas obrigações financeiras e a aprovação de medidas que tivessem
consequências negativas sobre suas economias (LE PRESTRE, 2005).
Apesar dos conflitos, a Rio-92 promoveu a aceitação universal do conceito de
―desenvolvimento sustentável‖ e importantes documentos foram aprovados: a
―Convenção sobre a Diversidade Biológica‖, a ―Convenção Quadro sobre Mudanças
Climáticas‖, além de duas declarações de princípios, a ―Declaração do Rio de
Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento‖ e a ―Declaração sobre Florestas‖.
A ―Declaração do Rio‖57 é composta por 27 princípios: o de que os seres
humanos estão no centro das preocupações; a soberania dos Estados sobre seus
territórios; o direito intergeracional, ―de modo a permitir que sejam atendidas
equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio ambiente das
gerações presentes e futuras‖; a eliminação de padrões insustentáveis de produção
e consumo; o intercâmbio de conhecimento e a transferência de tecnologias; o
acesso à informação e o estímulo à participação social; a eliminação de barreiras ao
comércio internacional; a responsabilização e o direito à indenização, no caso de
danos ambientais; a avaliação de impacto ambiental como instrumento de
planejamento das atividades econômicas; a notificação prévia e o provimento de
informações, no caso de atividades potencialmente causadoras de impactos
57
Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em 01 mar. 2017.
94
transfronteiriços; o reconhecimento da participação das mulheres, jovens, das
populações indígenas e das comunidades locais; a proteção dos recursos naturais
dos povos submetidos à dominação; a guerra, definida como prejudicial ao
―desenvolvimento sustentável‖; a interdependência entre paz, desenvolvimento e
proteção ambiental. Entre eles, a proteção ambiental como parte do
desenvolvimento; o combate à pobreza como prioridade; as necessidades especiais
dos países menos desenvolvidos e dos vulneráveis; os princípios da precaução,
prevenção, do poluidor-pagador e das responsabilidades comuns, mas
diferenciadas.
Para o Papa Francisco e os bispos da Bolívia, o que motiva a existência das
responsabilidades comuns, mas diferenciadas é que ―os países que foram
beneficiados por um alto grau de industrialização, à custa duma enorme emissão de
gases com efeito de estufa, têm maior responsabilidade em contribuir para a solução
dos problemas que causaram‖. As estratégias para a baixa emissão de gases
poluentes, as quais apostam na internacionalização dos custos ambientais impõem
medidas que penalizam os países mais necessitados de desenvolvimento, de
maneira que ―acrescenta-se uma nova injustiça sob a capa do cuidado do meio
ambiente‖ (#170, p. 131-132).
Na Rio-92 também foram criadas as bases para o instrumento de construção
do processo de ―desenvolvimento sustentável‖ global: a ―Agenda 21‖, uma
declaração de intenções que foi imediatamente subscrita por 179 países ou a quase
totalidade das representações presentes e das nações.
A ―Agenda 21‖ constitui um conjunto de ações a serem desenvolvidas,
principalmente pelos governos, estruturada em quarenta capítulos temáticos, aqui
resumidos: combate à pobreza, demografia, saúde, assentamentos humanos,
proteção da atmosfera, recursos terrestres, desertificação, agricultura, biotecnologia,
proteção dos oceanos, recursos hídricos, substâncias tóxicas, resíduos perigosos,
saneamento, mulher, infância e juventude, populações indígenas, trabalhadores/as,
comércio e indústria, comunidade científica, educação ambiental, arranjos
institucionais e instrumentos econômicos.
Além de ―assegurar a sobrevivência, a proteção e o desenvolvimento da
criança, em conformidade com as metas subscritas pela Cúpula Mundial da Infância
de 1990‖, a Agenda 21 chama os Governos para ratificar, o mais rápido possível, a
95
Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989, e implementá-la, dedicando-se às
necessidades básicas da juventude e da infância58.
Além das reuniões de governantes e diplomatas, centenas de organizações e
movimentos sociais promoveram durante a Eco-92 diferentes atividades no Aterro do
Flamengo, no chamado Fórum Global. A partir dali, a sociedade civil mundial passou
a ter pautas e encontros comuns.
Por sua vez, Leonardo Boff (2012) e Oscar Motomura59 (2016) informam que
na Rio-92 foi resgatada a recomendação que consta do ―Relatório Brundtland‖, de
criar uma nova Carta que estabelecesse os princípios fundamentais para orientar a
transição para o ―desenvolvimento sustentável‖.
A ideia de se elaborar um documento de mesma magnitude que a ―Declaração
Universal dos Direitos Humanos‖, mas que incluísse todos os seres vivos foi
proposta por Maurice Strong. Durante o processo preparatório para a Eco-92, várias
propostas sobre o possível conteúdo da Carta foram debatidas, mas não houve
acordo político. E, assim, a ―Declaração do Rio‖ foi assumida como documento
formal do consenso atingido entre as nações naquele momento. No entanto, a
proposta para criar uma efetiva ―Carta da Terra‖ recebeu considerável apoio por
parte da sociedade civil global.
Depois de reuniões prévias e muitas discussões foi formada, em 1997, uma
―Comissão Internacional da Carta da Terra‖, composta por 24 personalidades (entre
elas, Leonardo Boff), com o objetivo de alcançar o consenso em torno desse
documento e coordenar o desenvolvimento final do texto. Ocorreram reuniões
envolvendo 46 países e mais de 100 mil pessoas ao redor do mundo, desde favelas,
comunidades indígenas, universidades e centros de pesquisa. Houve a necessidade
de negociações para que o documento fosse consenso em sua própria escrita, até
que, em início de março de 2000, no espaço da Unesco, em Paris, o texto final foi
aprovado. Alguns meses depois, a ―Carta da Terra‖ foi oficialmente lançada durante
uma cerimônia realizada no Palácio da Paz, em Haia, na Holanda.
Boff (2005) esclarece que a proposta coletiva ―não é o ‗desenvolvimento
sustentável‘, fruto da visão intrassistêmica da economia política dominante‖.
Diferentemente, trata-se de ―um modo de vida sustentável, fruto do cuidado para
58
Disponível em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf>. Acesso em 01 mar. 2017. 59
Co-Chairman do Conselho Internacional da Carta da Terra e da Iniciativa Carta da Terra em Ação.
96
com todo o ser, especialmente com todas as formas de vida e da responsabilidade
coletiva em fase do destino comum da Terra e da Humanidade‖60.
A Carta da Terra61 foi traduzida para 40 idiomas e atualmente é apoiada por 4,6
mil organizações ao redor do mundo, inclusive no Brasil. O documento chama a
atenção para a situação global, os desafios futuros e a responsabilidade universal,
reafirmando que ―os padrões dominantes de produção e consumo estão causando
devastação ambiental, esgotamento dos recursos e uma massiva extinção de
espécies. Comunidades estão sendo arruinadas‖. Expressa a necessidade urgente
de ―uma visão compartilhada de valores básicos para proporcionar um fundamento
ético à comunidade mundial emergente‖ e afirma 16 princípios básicos,
―interdependentes, visando a um modo de vida sustentável como padrão comum‖.
Os princípios estão agrupados em quatro grandes tópicos: respeitar e cuidar da
comunidade da vida; integridade ecológica; justiça social e econômica; democracia,
violência e paz. A erradicação da pobreza, com acesso à água potável, ao ar puro e
à segurança alimentar, e a construção de sociedades democráticas, sustentáveis e
justas são dois princípios expressos pelo documento, que também defende a
promoção de uma cultura de tolerância e não-violência e a distribuição equitativa dos
recursos naturais. Inclui ―eliminar a discriminação em todas as suas formas, como
as baseadas em raça, cor, gênero, orientação sexual, religião, idioma e origem
nacional, étnica ou social‖ e ―Prover a todos, especialmente a crianças e jovens,
oportunidades educativas que lhes permitam contribuir ativamente para o
desenvolvimento sustentável‖.
Para construir uma comunidade global sustentável, as nações do mundo devem renovar seu compromisso com as Nações Unidas, cumprir com suas obrigações respeitando os acordos internacionais existentes e apoiar a implementação dos princípios da Carta da Terra como um instrumento internacionalmente legalizado e contratual sobre o ambiente e o desenvolvimento.
Segundo Motomura (2016), em 2005, na Holanda, ocorreu o lançamento da
―Iniciativa Carta da Terra em Ação‖. Atualmente esse movimento está sendo
orquestrado e coordenado pelo ―Conselho da Carta da Terra‖, que começou com 22
pessoas, 18 países e vem se esforçando para que o documento seja não só muito
60
Cf. Leonardo Boff. Disponível em: <http://www.leonardoboff.com/site/vista/2005/nov04.htm>. Acesso em 01 mar. 2017. 61
Cf. Carta da Terra. Disponível em: < http://www.cartadaterrabrasil.com.br/prt/Principios_Carta_da_Terra.pdf >. Acesso em 01 mar. 2017.
97
mais conhecido no mundo inteiro. Mais do que isso, o objetivo é que a ―Carta da
Terra‖ passe a ser utilizada em todas as ações e atividades de todos os setores
como referencial para decisões éticas.
Posteriormente à Rio-92 foram realizadas duas sessões especiais para revisar
e avaliar a implementação da ―Agenda 21‖. A primeira, a ―Cúpula da Terra+5‖, em
1997, realizada em Nova Iorque, Estados Unidos, e a segunda, ―Cúpula Mundial
sobre Desenvolvimento Sustentável‖ (Rio+10), realizada em Joanesburgo, África do
Sul, em 2002.
Na Rio+5 procurou-se identificar as principais dificuldades de implementação e
dedicou-se a definir prioridades de ação para os anos seguintes, além de conferir
impulso político relacionado às negociações ambientais em curso (LAGO, 2006).
Destaca-se que a Rio+5 contribuiu para criar ambiente político propício à aprovação
do ―Protocolo de Kyoto62‖.
Na Rio+10 foram aprovadas nova ―Declaração Política‖ e o ―Plano de
Implementação do Desenvolvimento Sustentável‖63, o qual trata da erradicação da
pobreza; da alteração dos padrões insustentáveis de produção e consumo; proteção
e gestão das bases de recursos naturais para o desenvolvimento econômico e
social; do ―desenvolvimento sustentável‖ em um mundo voltado para a globalização;
da saúde e ―desenvolvimento sustentável‖; de meios de implementação; e
governança.
Logo na seção 1 do documento, pode-se identificar o reconhecimento ―que a
implementação dos resultados da Cúpula deve beneficiar toda a população, em
especial as mulheres, os jovens, as crianças e grupos vulneráveis‖ e a ―base do
desenvolvimento sustentável‖.
No âmbito nacional, as políticas ambientais, econômicas e sociais corretas, as instituições democráticas que levam em conta as necessidades da população, o estado de direito, as medidas de luta contra a corrupção, a igualdade entre os gêneros e um ambiente propício aos investimentos constituem a base do desenvolvimento sustentável.
Nota-se ausente qualquer menção à educação. É na Rio+10 que se percebe o
quanto a educação começa a ser negligenciada. O silenciamento sobre a educação
62
Cf. Ministério da Ciência e Tecnologia. Protocolo de Quioto. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0012/12425.pdf>. Acesso em 16 mar. 2017. 63
Publicado em 2003 pelo Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/documentos/convs/plano_joanesburgo.pdf>. Acesso em 16 mar. 2017.
98
representa um retrocesso, um dos motivos de muitos/as denominarem o evento de
―Rio Menos 10‖64.
Posteriormente a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu a ―Década da
Educação para o Desenvolvimento Sustentável‖ (2005-2014), marco o qual será
retomado e discutido mais à frente neste texto.
Segundo Lago (2006) foi na Conferência de Joanesburgo que se procurou
traduzir o conceito de ―desenvolvimento sustentável‖ em ações concretas. No
entanto, a Rio+10 recebeu várias críticas. Entre tantas, é que o ―Plano de
Implementação‖ é mais uma carta de intenções do que um plano de metas, uma vez
que as fontes de financiamento para sua implementação não foram explicitadas. As
análises de Wagner Costa Ribeiro (2002) apontam que os governos não
estabeleceram os limites sociais e ecológicos necessários à globalização econômica
e que os compromissos existentes foram simplesmente reafirmados, diluídos ou
destruídos, além de não mencionar as gerações futuras e não combater o
consumismo.
O documento constata que a globalização econômica agravou as
desigualdades sociais no mundo e reforça os foros multilaterais para resolver
pendências e conflitos referentes ao ambiente.
Se para Sachs (2009) ainda aguardamos resposta à pergunta: que
globalização queremos?, o Papa Francisco deixa claro que ―as negociações
internacionais não podem avançar significativamente por causa das posições dos
países que privilegiam os seus interesses nacionais sobre o bem comum‖ (#169, p.
131). Para muitos/as, a preocupação com o meio ambiente é uma das
consequências da globalização, também envolve a incompatibilidade entre o
crescimento das empresas transnacionais e a mudança dos padrões de produção e
consumo, questões as quais constituem importantes aspectos que apontam para as
dificuldades que a globalização representa para a tentativa de se cumprir o
―desenvolvimento sustentável‖.
A ―Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável‖
(Rio+20) surgiu da proposta apresentada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
em 2007. Embora dada como certa, a realização da Conferência no Rio de Janeiro,
64
Cf. VII Fórum Brasileiro de Educação. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VBjkTgenY0s>. Acesso em 16 mar. 2017.
99
realizada entre 13 e 22 de junho de 2012, só foi convocada oficialmente pela ONU
em 24/12/2009.
Segundo Maria Inês Zanchetta, Pedro Telles e Ricardo Barreto, editora/es da
publicação ―Radar Rio+20‖65, de 2011, a conferência ocorreu em um contexto de
crise política e econômica internacional, quando a eficiência do sistema multilateral e
das resoluções da ONU estavam sendo cada vez mais questionadas, assim como a
pouca propensão dos governos nacionais a assumir os compromissos necessários e
implementar os já assumidos. Pretendia-se que a Conferência renovasse o
compromisso com o ―desenvolvimento sustentável‖. Para isso, dois temas centrais
foram selecionados para discussão.
O primeiro se refere à transição para uma ―Economia Verde‖ no contexto da
preservação do meio ambiente e biodiversidade e com a perspectiva de erradicação
da pobreza e de desigualdades.
A ideia central da Economia Verde é que o conjunto de processos produtivos da sociedade e as transações deles decorrentes contribuam cada vez mais para o Desenvolvimento Sustentável, tanto em seus aspectos sociais quanto ambientais. Para isso, propõe como essencial que, além das tecnologias produtivas e sociais, sejam criados meios pelos quais fatores essenciais ligados à sustentabilidade socioambiental, hoje ignorados nas análises e decisões econômicas, passem a ser considerados (ZANCHETTA, TELLES; BARRETO, 2011, p. 20).
O segundo se refere ao quadro institucional – instrumentos de governança –
para o ―desenvolvimento sustentável‖, tido como ―essencial para tirar do papel um
emaranhado de convenções, protocolos, declarações e compromissos pelo
Desenvolvimento Sustentável negociados nas três últimas décadas‖ (ZANCHETTA,
TELLES; BARRETO, 2011, p. 30).
Assim como ocorreu em 1992, a sociedade civil global também se reuniu no
Rio de Janeiro, em evento paralelo à conferência oficial, no Aterro do Flamengo. A
Cúpula dos Povos na Rio+20 recebeu quase 23 mil inscrições das quais foram
selecionados/as 15 mil representantes da sociedade civil, vindos/as de várias partes
do mundo, em especial das Américas, Europa e norte da África66.
―Economia Verde‖ é mais uma das expressões de significados e implicações
controversos, relacionada ao conceito mais amplo de ―desenvolvimento sustentável‖.
Tanto que o documento final, intitulado ―O Futuro que Queremos‖ recebeu várias
65
Disponível em: <http://www.radarrio20.org.br/index.php?r=conteudo/view&id=17&idmenu=30>. Acesso em 24 mar. 2017. 66
Cf. Cúpula dos Povos. Disponível em: <http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20/o-que-e-cupula-dos-povos.html >. Acesso em: 25 mai. 2017.
100
críticas. Embora as delegações tenham expressado contentamento com os esforços
multilaterais, algumas delas (Bolívia, Venezuela, Equador, Canadá, Estados Unidos,
Islândia, Noruega e Vaticano) também apresentaram reservas e comentários
direcionadas a temas tais como, a racionalização dos recursos energéticos, o direito
a água e os direitos reprodutivos. Entre eles, a definição de economia verde.
Em entrevista coletiva, a então Presidenta Dilma Roussef, embora tenha
destacado o multilateralismo como uma das principais conquistas da Conferência,
lamentou o fato de ainda ser preciso avançar em temas como financiamento para o
desenvolvimento sustentável. Em entrevista coletiva, ela disse que ―Hoje é tempo de
multilateralismo, que se constrói consensos históricos, o consenso possível. Não há
método único. Tenho que respeitar quem pensa diferente de mim‖.
No discurso de encerramento, a Presidenta destacou que o documento ―O
Futuro que Queremos‖ torna-se um marco no conjunto dos resultados das
Conferências ligadas ao ―Desenvolvimento Sustentável‖,
[...] O documento que nós aprovamos hoje não retrocede em relação às conquistas da Rio92, não retrocede em relação à Cúpula de Joanesburgo de 2002, não retrocede em relação a todos os compromissos assumidos nas demais conferências das Nações Unidas. Ao contrário, o documento avança e muito, mostrando a evolução das concepções compartilhadas de desenvolvimento sustentável. Lançamos as bases de uma agenda para o século XXI. Tomamos decisões importantes e quero ainda uma vez ressaltar algumas delas. Trouxemos a erradicação da pobreza para um centro do debate sobre o futuro que queremos, em consonância com a proteção e o respeito aos direitos humanos fundamentais. Criamos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para dar foco e orientação aos nossos esforços coletivos. O foro de alto nível que foi instituído coordenará os trabalhos das Nações Unidas no campo da sustentabilidade, inclusive, assegurando a implementação desses objetivos. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente sai fortalecido da Rio+20 inclusive em termos orçamentários. Será, portanto, o PNUMA capaz de auxiliar os países mais pobres na implementação de suas políticas.[...]
67
Apesar da avaliação positiva do governo brasileiro, os resultados da
negociação oficial foram questionados pelos movimentos sociais. A crítica principal é
que o documento final da Rio+20 tem a ―economia verde‖ como peça central e retira
dos povos direitos humanos e sociais.
67
Cf. Discurso da Presidenta da República, Dilma Rousseff, na sessão de encerramento da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). Disponível em: <http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-na-sessao-de-encerramento-da-conferencia-das-nacoes-unidas-sobre-desenvolvimento-sustentavel-rio-20>. Acesso em 23 mai. 2017.
101
É importante ressaltar que enquanto eram propostos caminhos para um ―novo
desenvolvimento‖, cientistas faziam um grande esforço para detectar os
componentes da crise ambiental e mensurá-los. Apesar das complexidades
ecossistêmicas, a emergência do carbono como medida privilegiada passou a ser
referência-guia no contexto dos desafios climáticos. O termo ―pegada ecológica‖,
desenvolvido pelos cientistas canadenses Mathis Wackernagel e William Rees, nos
anos 1990, é hoje internacionalmente reconhecido como uma das formas de medir a
utilização dos recursos naturais do planeta e o impacto que cada pessoa causa à
Terra68. A ―pegada ecológica‖ levou à ―mensuração de carbono lançado na
atmosfera‖ pela civilização ocidental ao mesmo tempo que abriu novos mercados
para os chamados ―serviços ecossistêmicos‖, a exemplo dos esquemas de
compensação de biodiversidade e do mecanismos de venda de créditos de carbono,
uma espécie de moeda ambiental, cuja ideia surgiu na Rio-92. Por exemplo, ―uma
pessoa ou uma empresa pode comprar créditos de biodiversidade para compensar
sua pegada ecológica‖.
Os créditos do exemplo acima citado são de Camila Moreno, uma referência
brasileira neste debate. Ela é pesquisadora da Universidade Federal Rural do Rio de
Janeiro (UFRRJ) e se dedica aos estudos sobre a interface entre a racionalidade
climática, capitalismo verde e as novas equações coloniais. A autora acompanha as
negociações de clima junto às Nações Unidas desde 2008 e faz parte de um grupo
de pesquisadores/as e ativistas em todo o mundo que se dedicam há mais de uma
década ao questionamento dos preceitos da ―economia verde‖.
A agenda da métrica do carbono pode ser identificada no Protocolo de Kyoto,
de 1997, segundo o qual os países industrializados reduziriam suas emissões
combinadas de gases de efeito estufa. A promessa desse compromisso, com
vinculação legal, é produzir uma reversão da tendência histórica de crescimento das
emissões iniciadas nesses países há cerca de 150 anos.
Em vigor desde 2005, o Protocolo de Kyoto definiu metas obrigatórias de
redução (5% em média entre 2008 e 2012 em comparação aos níveis de 1990) nas
emissões de gases-estufa para 38 países industrializados e a União Europeia
(nações desenvolvidas e economias de transição do Leste Europeu e Rússia). Na
época os Estados Unidos não ratificaram o Protocolo, apesar de fazerem parte dele.
68
Cf. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Cartilha didática. Disponível em: <http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=3093 >. Acesso em 22 mar, 2017.
102
O mercado de emissões de gases de efeito estufa, principal mecanismo para
alcançar a meta de reduções, foi impulsionado pelos Estados Unidos em resposta a
uma forte pressão das grandes empresas e a redução das emissões passou a ter
valor econômico. Empresas podem comprar créditos que sobraram das que estão
abaixo da cota. Por convenção, uma tonelada de dióxido de carbono (CO2)
corresponde a um crédito de carbono. O crédito também pode ser negociado
internacionalmente.
Foi em 2011, na 17ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP-17, a primeira vez que os Estados
Unidos, China e Índia concordaram com um ―acordo legal‖. Apesar disso, a COP-17
terminou com a renovação do Protocolo de Kyoto, porém sem definição de um teto
para as emissões de carbono e sem metas para 2020, ano previsto para a
implementação do acordo69. Finalmente na COP-22, realizada em 18 de novembro
de 2016, os chefes de Estado, de Governo e delegações reunidos em Marrakesh,
solicitaram um compromisso político máximo para a luta contra as mudanças
climáticas. No entanto, as críticas apontam ausência de avanços expressivos nas
negociações climáticas, embora a declaração tenha sido considerada uma resposta
à eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, que chamou as mudanças
climáticas de ―fraude‖ durante sua campanha eleitoral70.
Para muitos/as, o acordo estabelecido no Protocolo de Kyoto divide e privatiza
a atmosfera e institui um mecanismo de compra e venda de ―créditos de carbono‖ tal
como qualquer outra mercadoria. O mercado de créditos de carbonos (―licenças para
poluir‖) trata da ―financeirização do meio ambiente‖71. É nesse sentido que o Papa
Francisco (# 171, p. 172) aponta que,
A estratégia de compra-venda de «créditos de emissão» pode levar a uma nova forma de especulação, que não ajudaria a reduzir a emissão global de gases poluentes. Este sistema parece ser uma solução rápida e fácil, com a aparência dum certo compromisso com o meio ambiente, mas que não implica de forma alguma uma mudança radical à altura das circunstâncias.
69
Cf. Ecodesenvolvimento. Disponível em: <http://www.ecodesenvolvimento.org/posts/2011/dezembro/acordo-firmado-na-cop-17-compromete-clima-mundial>. Acesso em 16 mar. 2017. 70
Cf. Deutsche Welle. ―Com Trump, temor que acordo climático desmorone‖. Disponível em: <http://www.dw.com/pt-br/com-trump-temor-de-que-acordo-clim%C3%A1tico-desmorone/a-36361015>. Acesso em 16 mar. 2017. 71
Cf. Mercado de créditos de carbono e a biodiversidade como produto. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/rio20/temas-em-discussao-na-rio20/transicao-paises-economia-verde-reducao-emissoes-desmatamento-degradacao-redd-conceito-logica-compensaoes-mercado-creditos-carbono-biodiversidade-produto.aspx>. Acesso em: 18 abr. 2017.
103
Pelo contrário, pode tornar-se um diversivo que permite sustentar o consumo excessivo de alguns países e sectores.
Em entrevista ao jornal O Globo, publicada na seção Sociedade/Ciência72,
Camila Moreno fala que ―há uma aposta – que é ideológica – de que um mercado
mundial de carbono vai vingar em médio prazo e em nisso apostam atores
econômicos importantes. Ela esclarece que trata-se, no fundo, ―de uma aposta no
capital financeiro, que já domina a economia mundial. Se trata de ―financializar‖ a
atmosfera‖. Ela adverte que ―com a crise de 2008 deveríamos ter aprendido que este
não é o caminho‖.
[...] o debate de fundo é que há uma racionalidade predatória: o reducionismo embutido na métrica do carbono que é incapaz de enfrentar a crise ecológica, que é complexa e multifacetada e que é atravessada por questões qualitativas e políticas. Não é apenas ―fechar a conta do carbono‖. É decidir por outro modelo de sociedade, de produção e de consumo. Ao transformar tudo em carbono, estamos impondo uma forma de ver e de conhecer o mundo que para se impor tem que destruir formas concorrentes. Sob a alegação da ciência, o que está ocorrendo é um epistemicídio: a morte de todo conhecimento que não se reduz à contabilidade do carbono, como a dos povos indígenas, que envolve uma compreensão da natureza e da biodiversidade como uma grande complexidade.
De fato, a Cúpula dos Povos na Rio+20 por Justiça Social cumpriu com seus
objetivos de denunciar a crise planetária e as suas causas, e cobrar medidas em prol
da justiça socioambiental. Entidades e comunidades trocaram saberes e educação
popular e apresentaram experiências e práticas como solução para crises globais e
construção da justiça social e ambiental. As experiências cotidianas de quilombolas,
indígenas, agricultores/as, hackers, coletivos de economia solidária e de grupos
comunitários não só mostraram que ―as práticas sociais consideradas como não
sustentáveis‖ constituem modalidades sociais de duração das coisas como também
evidenciaram, mais uma vez, o quanto os saberes e outras formas diferentes de
conhecimento e de relação com meio ambiente são inferiorizadas, quando não
descartadas pelas ideias e saberes dominantes.
Essa questão tem relações com a ―Década da Educação para o
Desenvolvimento Sustentável‖.
72
Cf. O Globo. ―‘O mercado de carbono precisa ser detido‘, afirma pesquisadora‖. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/meio-ambiente/o-mercado-de-carbono-precisa-ser-detido-afirma-pesquisadora-20457220>. Acesso em: 18 abr. 2017.
104
Segundo informações do Ministério do Meio Ambiente (MMA), que mantém um
―Diretório de Documentos‖ a ―Década da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável‖ trata da Resolução nº 254, adotada consensualmente por mais de 46
países e se constituiu como uma oportunidade de implementação do Capítulo 36 da
Agenda 21 ―Promoção do Ensino, da Conscientização e do Treinamento‖, em
cumprimento às recomendações da Conferência Internacional sobre Meio Ambiente
e Sociedade: Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade73, organizada
pela Unesco e o governo da Grécia, de 08 a 12 de dezembro de 1997, e aos
acordos estabelecidos na Rio+10.
O MMA destaca que desde então ficou firmado o vocábulo definitivo ―educação
para o desenvolvimento sustentável‖ em substituição ao anterior ―educação
ambiental‖, o qual ―conquistou um referencial simbólico no Brasil em mais de trinta
anos de processo de institucionalização associado às questões ambientais com as
sociais. Além disso, frisou o vínculo programático da instituição da ―Década da
Educação para o Desenvolvimento Sustentável‖ com a aplicação do Capítulo 36 da
Agenda 21 (mas sem uma menção também à vinculação com o Tratado de
Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global).
Essa colocação entre parênteses do MMA é muito interessante porque o
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade
Global foi gerado num processo mundial de consulta e nasceu na Jornada
Internacional de Educação Ambiental, durante o Fórum Global paralelo à Rio-92.
Naquele momento o tratado dava a identidade da Educação Ambiental: ―uma
Educação Ambiental política e transformadora, pela construção de sociedades
sustentáveis‖. Um processo de revisita internacional do Tratado foi garantido na
segunda jornada (2008-2012)74.
Por sua vez, o Portal Brasil informa sobre encontros prévios à Rio+20,
―Diálogos Sociais: Rumo à Rio+20‖ para ―debater a educação, colocada como
estratégica na transição para o novo modelo de desenvolvimento, mais sustentável,
no Acordo para o Desenvolvimento Sustentável, firmado entre diversas instituições
da sociedade civil‖. Segundo o Portal, foram abordados temas tais como ―as
73
Cf. Declaração de Thessaloniki. Disponível em: <http://igeologico.sp.gov.br/wp-content/uploads/cea/Decl.Thessaloniki.pdf>. Acesso em 16 mar. 2017. 74
Cf. Processo de construção do Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global Disponível em: <http://tratadodeea.blogspot.com.br/>. Acesso em 24 mar. 2017.
105
necessárias mudanças de padrão de produção‖, ―distribuição e consumo no novo
modelo de desenvolvimento sustentável‖ e ―o papel da educação nesse processo‖,
especialmente viabilizador da construção cultural para um novo padrão de
convivência na sociedade e de interação com o meio ambiente‖75.
A preocupação com debate sobre Educação na Conferência também foi tema
do Grupo de Trabalho de Educação da Rio+20. O GT consiste em: O Conselho
Internacional de Educação de Adultos (ICAE), o Fórum Mundial de Educação (FME),
a Campanha Latino-Americana pelo Direito à Educação (CLADE), o Conselho de
Educação de Adultos América Latina (CEAAL), a Jornada da Educação Ambiental
para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade global, a Faculdade Latino-
Americana de Ciências Sociais (FLACSO, Brasil), a Internacional da Educação, a
Rede de Educação Popular das Mulheres na América Latina e Caribe (REPEM).
O relatório do GT, intitulado ―A educação que precisamos para o mundo que
queremos‖76, trata da conjuntura global de crise, e sua consequência econômica,
social e ambiental, por exemplo, e da mobilização da sociedade civil para enfrentar
os desafios que se impõem frente a essa situação. ―A crise global é também uma
crise da educação – assumida como educação ao longo da vida – de seu conteúdo e
sentido, pois há deixado gradualmente de conceber-se como um direito humano e se
tem convertido no meio privilegiado para satisfazer as necessidades dos mercados,
demandantes de mão-de-obra para a produção e consumo‖.
O GT enfatiza que é ―fundamental significar novamente os fins e práticas da
educação, no contexto particular de disputa de sentidos, caracterizado pela
subordinação majoritária das políticas públicas ao paradigma do capital humano, em
oposição à emergência de movimentos sociais, de paradigmas alternativos que
buscam restituir o caráter de direito e projeto ético e político à prática educativa‖.
Para tanto, defende uma perspectiva Freireana que, pautada no
―desenvolvimento de uma subjetividade crítica resulta em um aspecto central na
construção de uma pedagogia cidadã‖. Dessa perspectiva, uma educação
sustentável é aquela que
75
Cf. Portal Brasil. ―Diálogos Sociais para Rio+20 debate a educação como estratégica para novo modelo de desenvolvimento‖. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/03/dialogos-sociais-para-rio-20-debate-a-educacao-como-estrategica-para-novo-modelo-de-desenvolvimento>. Acesso em 24 mar. 2017. 76
Cf. ―A educação que precisamos para o mundo que queremos‖. Disponível em: <http://flacso.redelivre.org.br/files/2015/03/A_EDUCACAO_QUE_PRECISAMOS.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2017.
106
opõe-se a tudo o que sugere desequilíbrio, competição, conflito, ganância, individualismo, domínio, destruição, expropriação e conquistas materiais indevidas e desequilibradas, em termos de mudança e transformação da sociedade ou do ambiente. Assim, em seu sentido mais generoso e amplo, a sustentabilidade significa uma nova maneira igualitária, livre, justa, inclusiva e solidária de as pessoas se unirem para construírem os seus mundos de vida social, ao mesmo tempo em que lidam, manejam ou transformam sustentavelmente os ambientes naturais onde vivem e de que dependem para viver e conviver (BRANDÃO, 2008, p. 136 apud GADOTTI, 2008, p. 14).
O GT indaga: Se no contexto atual a finalidade da educação é produzir mão-
de-obra para a produção e o consumo, então quem irá formar os/as
cidadãos/cidadãs? E frisa que ―o capital humano reduz as capacidades humanas à
função de produzir maior riqueza nas condições sociais existentes, o que implica
grandes desigualdades‖.
Uma das consequências das lições aprendidas pelas lideranças dos países
participantes da Rio+20 remete a um argumento central: ―a forma de efetivar uma
sociedade apta a viver sob as diretrizes do crescimento verde é aquela que possui
conhecimento adequado e em habilidades e valores pautados no desenvolvimento
sustentável‖.
Na opinião de Irina Bokova, Lena Ek77 e Hirofumi Hirano78 (2012, p. A3), ―a
Educação para o Desenvolvimento Sustentável amadureceu. A Rio+20 proporcionou
uma oportunidade de reconhecê-la e aplicá-la. Defendem que é preciso inserir a
educação para o desenvolvimento sustentável (EDS) nas estratégias e deve ser
parte do quadro de cooperação pós-2015. Em suas visões, o propósito da EDS
exige revisão de currículos, qualificações profissionais, programas educacionais,
formação adequada e capacitação para ampla variedade de profissionais; adquirir as
habilidades sociais necessárias para empregos verdes, aprendendo sobre contextos
ecológicos.
Após a Rio+20, os líderes globais devem seguir com a ideia de que o crescimento verde não é alcançado exclusivamente por acordos econômicos e políticos ou soluções tecnológicas. Não há desenvolvimento sustentável se riscos corroem o progresso, se desigualdades e violências enfraquecem as sociedades. O crescimento verde acontece se enraizado nas sociedades sustentáveis, baseado no conhecimento adequado e em habilidades e valores (BOKOVA; EK; HIRANO, 2012, p. A3).
77
Política sueca, Ministra do Meio Ambiente (2011-2014). 78
Ministro da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia do Japão.
107
Quando debates sobre currículo estão centrados na preocupação com
questões relativas ao conhecimento que deve ser priorizado e difundido (sobretudo
por meio de livros didáticos, e isso ocorre muitas vezes), inevitavelmente nos levam
a questionamentos sobre os rumos da educação.
No Brasil, essas referências têm orientado a construção de seus currículos,
como se pode identificar na 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
O documento também constitui um dos eixos temáticos contemplados nas
entrevistas com autoras/es de livros didáticos, posto que, no que se refere à área de
Ciências da Natureza, a BNCC (p. 273) parte da premissa que ―A sociedade
contemporânea está fortemente organizada com base no desenvolvimento científico
e tecnológico‖. Mas também porque, como assinalado na introdução deste estudo, o
documento implica na produção de livros didáticos. Mas, quais implicações?
Em sua terceira versão, a BNCC abarca unidades temáticas as quais destacam
temas de grande interesse e relevância social.
Matéria e Energia: unidade na qual, entre outras questões, se discute a
perspectiva histórica da apropriação desses recursos em diferentes ambientes e
épocas e sua relação com a sociedade e a tecnologia, no âmbito do sistema
produtivo e seu impacto na qualidade ambiental.
Vida e Evolução: unidade que estuda questões relacionadas a todos os seres
vivos, suas características e necessidades, e a vida como fenômeno natural e social,
os elementos essenciais à sua manutenção e à compreensão dos processos
evolutivos que geram a diversidade de formas de vida no planeta. Outro foco dessa
unidade é a percepção de corpo humano como um todo dinâmico e articulado.
Destacam-se temas relativos à saúde, à reprodução e à sexualidade humana, assim
como o conhecimento das condições de saúde, do saneamento básico, da qualidade
do ar e das condições nutricionais da população brasileira.
Terra e Universo: unidade temática a qual salienta que a construção dos
conhecimentos sobre a Terra e o céu se deu de diferentes formas em distintas
culturas ao longo da história da humanidade. Pretende-se enfocar a riqueza
envolvida nesses conhecimentos de modo a valorizar outras formas de conceber o
mundo. Abrange características importantes para a manutenção da vida na Terra,
tais como clima, vulcões, tsunamis e terremotos, entre outros fenômenos, em uma
perspectiva de ampliação de conhecimentos relativos à evolução da vida e do
planeta.
108
Em conjunto essas três unidades propostas devem contribuir para a visão
sistêmica do planeta, baseada em princípios de sustentabilidade ambiental, com
vistas ao desenvolvimento de atitudes de respeito e acolhimento pelas diferenças
individuais, no que se refere às diversidades, étnico-cultural, de gênero, entre outras.
À medida que chegamos ao fim da ―Década das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável79‖ e buscamos implementar a Agenda 203080,
assistimos a novas discussões sobre escolarização. Assim que reconhecemos que o
grupo de população mundial com maior interesse no futuro são as crianças, então
estamos diante de uma questão de justiça, cidadania e de direitos. É oportuno,
então, refletir sobre sustentabilidade na educação. Sustentabilidade, para quem?
79
Reconhecendo que a Educação é a chave para uma necessária mudança de mentalidades e atitudes na sociedade, em dezembro de 2002 a ONU aprovou, em sessão plenária, a Resolução 57/254, proclamando a Década das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DNUEDS), para o período de 2005-2014. 80
Cf. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível em:<http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Agenda2030completoportugus12fev2016.pdf>. Acesso em: 07 set. 2016.
109
3 ANÁLISE DISCURSIVA
Neste capítulo apresentamos a análise das formas simbólicas focalizadas
nesta pesquisa, cujo corpus é composto por um conjunto de produções discursivas
de autoras/es de livros didáticos de Ciências Naturais, captadas a partir de
entrevistas em profundidade, semiestruturadas, concedidas a esta pesquisadora,
acrescidas das conversas realizadas por e-mail, messenger e/ou whatsApp e
complementadas por discursos veiculados nos referidos livros.
Como em toda pesquisa, a descrição e interpretação desses discursos foram
sustentadas por procedimentos formalizados. No NEGRI adotamos a conceituação
de corpus, que conforme definição de Bardin (2011, p. 126) é ―o conjunto de
documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos. A
sua constituição implica, muitas vezes, escolhas, seleções e regras‖.
De modo geral, os procedimentos de análise envolvem duas etapas: a
localização do corpus e as estratégias para analisá-lo. Nos próximos tópicos
apresentamos o caminho percorrido para a realização das entrevistas, as estratégias
de análise e os resultados. Posteriormente os resultados foram
interpretados/reinterpretados através da articulação com os campos de estudos
propostos. A partir disso, encerramos com nossas considerações.
3.1 Constituição do corpus submetido à análise
A seleção de autoras/es para entrevista foi realizada intencionalmente com
base no objeto de pesquisa e passou por um longo caminho de buscas e tomada de
decisões.
Primeiramente procurei identificar as autorias a partir dos ―Guia de Livros
Didáticos‖, publicados pelo Ministério da Educação (MEC) e Secretaria de Educação
Básica (SEB) em 2010; 2013 e 2016, os quais apresentam as coleções de livros
aprovadas nas três últimas edições (2011; 2014 e 2017) do PNLD Ciências – séries
finais do ensino fundamental.
Como tinha um conhecimento prévio do universo editorial sabia que conseguir
os contatos de autoras/es não seria uma tarefa fácil. Tendo em vista que as
organizações seguem regras, convenções e protocolos de vários tipos e que
contatos de autoras/es, por exemplo, são informações sigilosas, recorrer às Editoras
110
seria a última alternativa. Então, a primeira opção foi realizar buscas e consultas em
fontes de domínio público, tais como a Plataforma Lattes, redes sociais, sites, blogs,
entre outras. Também consultei uma rede de apoio que vem me acompanhando na
trajetória profissional e acadêmica. Realço a ajuda de colegas afastadas/os das
áreas de publicações, os quais sempre que possível me ajudaram com dicas e
referências de pessoas a quem eu poderia procurar.
Anos atrás localizei através de redes sociais as duas autoras entrevistadas
nesta pesquisa. Logo após o término do mestrado, em 2013, falei com elas sobre os
achados naquele estudo, as intenções em dar continuidade à pesquisa e ir à escuta
de autoras/es. Naquela ocasião, as duas autoras solicitaram o envio da dissertação
e se mostraram disponíveis para uma entrevista no futuro. Ao convidá-las, sabia que
estaria diante de duas autoras e leitoras críticas.
Sendo assim, resgatei o contato, por e-mail, no qual informei sobre a pesquisa
e formalizei o convite para participação. Elas aceitaram e as entrevistas foram
agendadas. Nossa intenção era realizar uma entrevista piloto com uma delas,
dependendo da disponibilidade em suas agendas, pois a primeira entrevista
transcrita deveria ser apresentada, como de fato ocorreu, quinze dias antes do
exame de qualificação, realizado em 21 de junho de 2017.
Esgotadas as possibilidades de contato elencadas anteriormente, iniciei um
novo caminho para localizar autoras/es, dessa vez através das centrais de
relacionamento e/ou dos serviços de atendimento a clientes. Fiz contatos formais
com seis das onze Editoras cujas coleções constam dos Guias de Livros Didáticos
referidos anteriormente.
Vale lembrar que os canais de atendimento são uma importante ferramenta de
comunicação. Mais do que potencial desequilibrador da relação editora-leitoras/es,
esses canais constituem uma forma de interagir e criar relacionamento, uma fonte
eficiente de fornecimento de informações.
Sempre me apresentei, expliquei o motivo do contato e a proposta da pesquisa.
De maneira geral as pessoas com quem falei foram receptivas e solícitas. As/os
assistentes, sempre que possível prestaram informações completas e/ou
direcionaram para as áreas e outros profissionais responsáveis, com as quais falei
por telefone e e-mail, apresentando-me e a pesquisa e solicitando contato com
autores/as de algumas coleções.
111
Dentre os contatos realizados, apenas um grupo editorial informou por e-mail
que ―a solicitação foi encaminhada ao setor responsável para conhecimento e
tratativa‖, mas não deu retorno. Ao que parece, trata-se de uma resposta
―automática‖, pois é comum a criação de textos com mensagem ―padrão‖, cujas
regras permitem a execução de tarefas automaticamente em função do conteúdo
das mensagens recebidas. Certamente que o uso de mensagens automáticas pode
ser muito útil. Mas, para o remetente, a ausência de retorno pode soar como
descaso ou que seu e-mail não foi digno de merecimento de tratativa, tampouco
precisa ser respondido.
Falamos com uma coordenadora de marketing, dois supervisores de editorial,
um supervisor de direitos autorais e duas editoras executivas. Quando na
impossibilidade de informar o contato de autoras/es, já que é uma informação
sigilosa, encaminharam-lhes nosso e-mail-convite. Também tentei contato com uma
coordenadora da área de Ciências Naturais de determinada Editora, porém em
resposta automática ela informou que estava de férias.
Ao todo foram dezoito autoras/es convidados (06 mulheres e 12 homens).
Destes, recebemos dez retornos, sendo que um autor não correspondia ao perfil
selecionado e um declinou do convite.
Quadro 1 - Localização de autoras/es potenciais para entrevista, por sexo da autoria.
Fonte: Banco de dados da pesquisa.
A primeira resposta veio de um autor de livros de idiomas, que depois
entendemos, foi uma indicação equivocada por parte do editorial, talvez pelo fato de
ser homônimo de autor de Ciências Naturais, cujo contato nós havíamos solicitado.
Nesse retorno o autor desejou “sucesso na pesquisa” e informou que “talvez não
Mulher Homem
Autoras/es convidadas/os 6 12 18
Não responderam ao convite 4 4 8
Responderam ao convite 3 7 10
Não corresponde ao perfil 0 1 1
Declinou do convite 0 1 1
Aceitaram o convite 3 5 8
Indisponibilidade de agenda 0 3 3
Desistência 1 0 1
Autoras/es entrevistadas/os 2 2 4
TotalAutoriaSexo
112
pudesse me ajudar”, esclarecendo que trabalha com o “desenvolvimento de material
didático voltado ao ensino de inglês”.
Outro autor educadamente agradeceu e declinou do convite. Ele assim se
pronunciou: “devido à timidez que me faz avesso a entrevistas, presenciais ou
escritas, respeitosamente declino do convite”.
Também tivemos retorno de um autor de livros didáticos de Biologia. “Será um
prazer conversar com você. Eu estou no Rio, mas devo ir a São Paulo no final do
mês ou começo de outubro; não tenho ainda a data exata, mas quando tiver entro
em contato para agendarmos o local do encontro”. Em outra ocasião ele se
desculpou por não ter tido oportunidade do encontro. “Estive em São Paulo uma
única vez depois que nos falamos e foi tudo tão rápido que não entrei em contato”.
Embora a entrevista não tenha ocorrido, o autor contribuiu de outras maneiras. Sou
grata por sua atenção e contribuições.
Posteriormente uma autora retornou o contato, disposta a conceder uma
entrevista. Várias mensagens por e-mail foram trocadas para cruzar as agendas,
pois ela estava muito atarefada com diversos projetos nos quais é editora
responsável. Nessas conversas trocamos informações, esclarecemos dúvidas e
agendamos a entrevista. No entanto, problemas de saúde passaram a ocupar boa
parte de seu tempo. Diante dessa delicada situação, a entrevista foi cancelada.
Apesar disso, suas contribuições foram muito importantes e sou bem grata a ela por
ter me ajudado a entrar em contato com colegas autoras/es e pela oportunidade de
esclarecer dúvidas, entre tantas, sobre propriedade intelectual. No que se refere a
esse aspecto, embora em conversas informais, também tive oportunidades de falar
com um editor de materiais didáticos, a quem agradeço pela atenção e ajuda para
esclarecer minhas dúvidas.
Outros dois autores também responderam que estavam dispostos a participar.
No mesmo dia foram trocadas várias mensagens e as entrevistas foram agendadas.
Um deles ajudou no contato com outros dois autores da equipe, que também se
dispuseram a conceber entrevista. Ele sugeriu e se disponibilizou para agendar uma
entrevista coletiva a fim de otimizar o tempo. Agradeci pela atenção e disponibilidade
e expliquei que a entrevista coletiva seria inviável naquele momento, pois o projeto
de pesquisa já estava em processo de aprovação junto ao Comitê de Ética em
Pesquisa / Plataforma Brasil. Apesar disso estava aberta a possibilidade de
entrevistar individualmente os colegas de equipe, caso houvesse disponibilidade por
113
parte deles. Mas naquela altura eu sabia que a equipe estava atarefada e com
prazos curtos, ocupada com reuniões e principalmente com a revisão de coleções.
Embora nem todas as entrevistas potenciais tenham se realizado é importante
reconhecer o trabalho desenvolvido por esses atores sociais. Cada um/uma, ao seu
modo e dentro de suas possibilidades tem se dedicado à educação brasileira,
escrevendo livros didáticos, disponibilizando aulas completas e gratuitas em canais
no YouTube e Facebook, prestando depoimentos gravados ou presenciais para
cursos de formação continuada de professoras/es e ministrando palestras para
estudantes universitários e profissionais da educação.
Na ausência de novos contatos mantivemos a proposta original do projeto
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP81, observando o número de
entrevistadas/os (duas autoras e dois autores), os quais se dispuseram a colaborar
voluntariamente e a proposta de realizar entrevistas em profundidade,
semiestruturadas e individuais, a partir de um conjunto de tópicos e perguntas
baseados nos objetivos da pesquisa e na revisão de literatura.
Procuramos ir além da análise dos traços estruturais internos das formas
simbólicas para captar informações acerca dos campos de relações, as formas de
autoridade, os tipos de recursos empregados, entre outros aspectos implicados na
produção, circulação e recepção de livros didáticos de Ciências Naturais.
Entendemos que esses aspectos podem ser melhor compreendidos se dermos
atenção aos processos, instituições e contextos sociais em que os discursos são
pronunciados e/ou produzidos, transmitidos e recebidos.
No início de cada entrevista as/os autoras/es leram e assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)82 e foram novamente informadas/os
sobre o tema proposto e os cuidados éticos na pesquisa. As quatro entrevistas foram
previamente agendadas em local, data e horário convenientes para as/os
entrevistadas/os e gravadas em áudio com seus consentimentos.
Por medida de segurança as entrevistas foram gravadas em dois suportes
(tablet e smartphone) simultaneamente. Apenas uma entrevista foi gravada somente
no tablet. Os áudios das entrevistas foram salvos em arquivos com extensão
MPEG4, um padrão utilizado para compressão de dados digitais de áudio e vídeos.
81
Cf. CAAE: 73142117.0.0000.5482. 82
TCLE assinado em duas vias, de igual teor e forma, para um só fim de direito, sendo uma delas para a/o entrevistada/o e uma para esta pesquisadora.
114
Já os textos das entrevistas transcritas foram salvos em arquivos no formato PDF83.
Ambos os arquivos foram armazenados no banco de dados da pesquisa.
Seguindo os preceitos éticos, posteriormente cada entrevistada/o recebeu o
texto transcrito de sua entrevista para que pudesse rever suas falas, alterar e/ou
complementar. Na oportunidade fiz apontamentos sobre questões relativas à
privacidade e preservação das identidades, informei sobre os próximos passos da
pesquisa e a organização do material para análise.
Todas/os deram retorno, liberando os textos para darmos continuidade ao
estudo. As autoras fizeram pequenas modificações no texto transcrito. De maneira
geral, as modificações estão relacionadas ao uso de alguns substantivos; aspectos
mencionados que possivelmente permitiriam a identificação de pessoas; correção de
datas e locais; eliminação de frases repetidas e esclarecimentos de alguns pontos.
As duas autoras entrevistadas autorizaram a revelação de suas identidades.
No entanto, considerando que a pesquisa é balizada por princípios éticos, conforme
os critérios estipulados na Resolução CNS/MS nº 466/2012, a qual sugere a adoção
de uma postura reflexiva sobre a responsabilidade de tornar público o estudo,
optamos, judiciosamente, por não revelar seus nomes. Da mesma maneira, optamos
por não revelar nomes de autoras/es e coautoras/es de Ciências Naturais. Sendo
assim, nas citações de trechos das obras didáticas usaremos a palavra Ciências no
lugar das autorias, seguida de consoante, do volume da coleção, do ano de
publicação e página. Exemplo: (CIÊNCIAS b, 8º ANO, 2017, p. 245). Algumas vezes
indicaremos como livro da/o Autor entrevistada/o com o intuito de identificar a atitude
das autorias.
Vale observar que as coleções didáticas aqui citadas são aquelas aprovadas
nas duas últimas edições do PNLD (PNLD Ciências 2014; PNLD Ciências 2017).
Todos os livros incluem o ―Manual do Mestre‖. Tivemos acesso a oito coleções de
Ciências Naturais completas e volumes avulsos que totalizam 46 livros.
A decisão de substituir os nomes das/os entrevistadas/os por vogais (A, E, I, U)
está ligada ao estudo das formas simbólicas. Explicamos os motivos: primeiramente
porque autoras/es são profissionais das palavras. Segundo porque a vogal é o mais
importante dos fonemas. Na Língua Portuguesa não existem palavras nem sílabas
83
PDF significa Portable Document Format (Formato Portátil de Documento), um formato de arquivo criado pela empresa Adobe Systems para que qualquer documento seja visualizado, independente de qual tenha sido o programa que o originou.
115
sem vogais. Principalmente, a vogal se caracteriza pelo fato de o som ser emitido
sem obstáculos. Uma vez que as obras didáticas seguem critérios estipulados pelo
PNLD, as consoantes foram escolhidas para a referência aos livros.
As citações das falas das/os entrevistadas/os foram literais, embora eu tenha
tomado a liberdade de depurar a gramática aqui e acolá. Pois, como se sabe, na
linguagem falada é comum usar gírias e abreviar palavras, né. No entanto, em
poucas exceções foram removidos alguns coloquialismos. À medida que fui
avançando nas análises, sempre que necessário retomei o contato com as/os
entrevistadas/os para discutir questões que talvez pudessem implicar algum tipo de
exposição. Duas foram pontuais. Nestes dois únicos casos com a Autora A e com o
Autor U que fizeram pequenas alterações em suas falas, mas sem causar prejuízo
ao conteúdo.
No pequeno número de casos em que foram revelados os nomes de
instituições com as quais as/os entrevistadas/os mantêm ou mantiveram algum tipo
de vínculo, assim como referências a fatos e pessoas que possam implicar alguma
identificação, nós o fizemos com suas permissões.
A revelação de nomes de autoras/es e coautoras/es de outros componentes
curriculares que não de Ciências Naturais; de personalidades da educação brasileira
e de atores sociais que representam instituições governamentais, educacionais,
empresariais e/ou entidades de classe foi uma decisão compartilhada, mesmo
porque são informações de domínio público.
Consideramos que a produção de conhecimento constitui uma prática social
que deve estar engajada na transformação social. Entendemos que os
procedimentos aqui descritos reforçam a dimensão ética e colaborativa deste
trabalho.
3.1.1 Realização de entrevistas nas atividades de pesquisa
De acordo com Thompson (2013), a realização de entrevistas não é tanto um
método. É uma arte, uma habilidade ou competência que se aprende praticando.
Sempre é possível melhorar, mas nunca chegamos a sentir que a dominamos por
completo, mesmo porque cada situação de entrevista é diferente e não se pode
prever o que acontecerá à medida que se desenrola, que tipo de relação será
estabelecida com a/o entrevistada/o ou quão curta ou longa será.
116
É uma relação em que a riqueza e a qualidade da comunicação dependem
diretamente do grau de confiança entre as partes envolvidas. E claro, se as/os
informantes consideram que a proposta da entrevista tem alguma importância.
Uma entrevista é uma conversa viva, que flui naturalmente e, como em qualquer conversa o timing é um elemento crucial: se algo inesperado é dito, tem-se a chance de explorar isso melhor – se conseguir encontrar as palavras certas rapidamente; caso contrário, a oportunidade se vai. Se for perdida, pode ser que ela jamais volte – essa pode ser a sua única chance de conversar com determinada pessoa. Sem dúvida, é possível enviar um e-mail mais tarde – porém, jamais será a mesma coisa: provavelmente não virá uma resposta, e, se vier, ela com certeza não terá o tipo de franqueza espontânea e o detalhe judicioso de uma resposta dada a uma pergunta direta, feita face a face no pleno fluir de uma conversa (THOMPSON, 2013, p. 453).
Para alguns estudiosos ―o distanciamento pesquisador-pesquisado‖ é
importante e necessário. Para nós é motivo para reflexões. De nossa parte
entendemos que a humanidade se expressa por meio de formas simbólicas. Elas
não são neutras, podem ser e são interpretadas e reinterpretadas pelos sujeitos que
as produzem e as recebem. Mais do que nos limitarmos a expressar um objeto, nós
o significamos emocionalmente pela via do símbolo. Assim, a proposta hermenêutica
e a noção que apresenta sobre as emoções humanas são uma provocação, um
convite ao debate.
Decerto que variações ou mesclas nas intenções dos sujeitos não ocorrem
necessariamente no nível das formas simbólicas como tais, pois os elementos
constituintes de uma forma simbólica ou o significado dela é um fenômeno complexo
que depende de, e é determinado por, uma variedade de fatores. Como destaca
Thompson (2009), aquilo que o sujeito tencionou ou quis dizer ao produzir uma
forma simbólica é um dos fatores, mas não o único. Dessa perspectiva,
exemplarmente Marcos A. B. Silva (2015, p. 135) assinala que ―a própria escolha do
tema e do objeto pode dizer muito a respeito das opções políticas do autor da
pesquisa‖.
Não é irrelevante lembrar que Thompson (2009) se apoia nos fundamentos
filosóficos de pensadores hermeneutas, principalmente Paul Ricouer. Dessa
perspectiva filosófica, ―[...] em todos estes registros e talvez ainda noutros tem lugar
a dialética do poder e da forma, que garante que a linguagem apenas apreende a
espuma na superfície da vida‖ (RICOUER, 1976, p. 75).
117
A hermenêutica de Ricouer (1976) comporta a presença de agentes, fatores e
objetos diversos, inesperados e ocorre num círculo hermenêutico que é existencial.
Considera a própria existência sendo retroalimentada pela interpretação e comporta
ao mesmo tempo estratégias conflitantes de atribuição de significado. Enquanto a
estratégia arqueológica é voltada ao passado, busca causas e origens para o
presente, movimenta-se numa dialética entre passado e presente e busca
explicações, a estratégia teleológica remitifica a realidade, volta-se para o futuro e
para o devir, efetua uma dialética entre presente e futuro e busca compreensões
existenciais. Enquanto a explicação tende à objetividade científica, a compreensão
busca abarcar a intersubjetividade cultural.
[...] compreender não significa que temos de aceitar algo menos do que um relato rigoroso, social e científico desse mundo, como se ―compreender‖ fosse o irmão frágil na família das ciências sociais. Compreender o que é confuso, esclarecer o que é obscuro, tornar inteligível o que parece, à primeira vista, desafiar nossa compreensão – essas são metas perfeitamente legítimas da investigação social e científica. Somente aqueles apegados a uma concepção estreita das ciências sociais pensaria de outra maneira. [...] compreender um mundo que poderia soar como desconcertante e obscuro: ajuda-nos também a ver por que aqueles que atuam no campo agem como agem (THOMPSON, 2013, p. 458).
De acordo com Bader Burihan Sawaia (2009, p. 365) ―esse debate não se
resume à briga entre áreas do saber. Ele é epistemológico. Por trás dele, está a
falsa dicotomia entre objetividade e subjetividade [...]‖. Inspirada em Vigotski e
Espinosa, a autora defende que ―a emoção e a criatividade são dimensões ético-
políticas da ação transformadora‖. Ela explica que o afeto tem duas dimensões:
[...] a da mudança, modificações que meu corpo e minha mente retêm na forma de emoções e sentimentos (affectus), e a da experiência da afetação (affection), isto é, a do poder de ser afetado. Aqui reside a principal contribuição de Espinosa à Psicologia, a relação positiva entre o poder que tem um corpo de ser afetado, na forma de emoções e sentimentos, e o seu poder de agir, de pensar e desejar. E como mente e corpo são uma mesma e única coisa, as afecções do corpo são afecções da alma, sem hierarquia ou relação causal entre eles. O que aumenta ou diminui a potência de meu corpo para agir aumenta ou diminui a potência de minha alma para pensar. Dessa flutuação depende a minha força vital de resistência, o que equivale à qualidade ética de minha existência (SAWAIA, 2009, p. 367).
A autora assinala que ―nessa concepção, os afetos não são estados
psicológicos ou construtos linguísticos, mas condição e fundamento do ser e existir,
portanto, da ética‖ (SAWAIA, 2009, p. 367).
118
A abordagem dessas dimensões é fundamental, pois nos ajuda a compreender
melhor o que motiva nossas ações e posicionamentos. Afinal, as pessoas se
expressam a partir de algum lugar e de algum contexto sócio-histórico-espacial,
econômico, cultural, mas também ético-político, portanto relacional.
3.1.2 Notas preliminares sobre as entrevistas
As quatro entrevistas foram realizadas em 2017. Apenas uma, a entrevista
piloto, aconteceu no primeiro semestre.
A maioria das entrevistas ocorreu em local residencial. Somente a última
ocorreu em espaço empresarial. Todas elas foram realizadas e transcritas por mim,
apresentando-me como pesquisadora doutoranda do Programa de Estudos Pós-
Graduados em Psicologia Social da PUC-SP. Aqui complemento: psicóloga,
psicodramatista, especializada em sociopsicologia, mestra em psicologia social.
Mineira do interior, residente há mais de 20 anos em São Paulo-Capital. Solteira, 49
anos, branca (descendente de imigrantes italianos que vieram ao Brasil para escapar
da miséria provocada pela Grande Guerra). Destaco que foi com meus pais que
aprendi a experienciar a vida com espiritualidade, mas livre de religião e de
quaisquer formas de preconceito e discriminação.
Quadro 2 - Localização espaço-temporal das entrevistas.
Fonte: Banco de dados da pesquisa.
Entrevista 1 - piloto
“[...] Então, o que está por trás de um livro? Só quem mergulha nele é que sabe o
que é que tem, né” (AUTORA A, 01.06.2017).
A primeira entrevista foi realizada com a Autora A, no Rio de Janeiro, no dia 01
de junho de 2017. Por se tratar de entrevista piloto contei com o auxílio de uma
Nº da Entrevista Entrevistada/o Data Hora Local
Piloto - 1 Autora A 01.06.2017 11:00 Residência da autora
2 Autora E 17.08.2017 10:00 Residência da autora
3 Autor I 22.08.2017 10:25 Residência do autor
4 Autor U 22.08.2017 18:49 Empresa da irmã do autor
119
colega de estudos, Jane Fagundes, que cuidou da parte técnica da gravação e
organizou nossa viagem.
Nos dias que antecederam a entrevista conversei com a Autora A sobre a
possibilidade de alteração do horário e do local combinados, caso houvesse atraso
no nosso deslocamento, em virtude dos fortes nevoeiros naqueles dias. Sendo
assim, ela abriu a possibilidade para que a entrevista ocorresse na parte da tarde,
em outro local. Combinamos que eu confirmaria quando embarcássemos.
Conseguimos antecipar o embarque e assim foi mantida a primeira agenda. Como
combinado, quando chegamos entrei em contato para confirmar que estávamos a
caminho.
A Autora A nos recebeu em sua residência. Nós nos apresentamos e eu
declarei minha satisfação em conhecê-la pessoalmente. Trocamos algumas ideias
sobre assuntos cotidianos e, ao falarmos sobre a pesquisa, expliquei os motivos que
me levaram a procurá-la para a realização daquele registro.
A seleção da Autora A foi especialmente intencional. Isto não se deve ao fato
de que ela conhece minha pesquisa de mestrado. Tampouco pela proximidade de
meus estudos e aqueles empreendidos por ela, que também analisou livros didáticos
do mesmo componente curricular. Antes disso, meu primeiro contato com seus
escritos foi em 2010, através da leitura de um artigo muito bem elaborado, escrito
em parceria, no qual as autoras versam sobre questões relativas ao livro didático.
Naquele trabalho elas se referem aos aportes de John B. Thompson e se declaram
―conscientes‖ de que as formas simbólicas não são neutras, podem ser ideológicas,
portanto abertas a interpretações. Assim, além de conhecer suas obras didáticas, eu
sabia que a Autora A tinha conhecimentos sobre o principal referencial teórico e
metodológico que orienta meus estudos.
É possível que o esclarecimento desses aspectos tenha contribuído para que a
conversa fluísse naturalmente. Mas o fato é que a Autora A foi muito generosa,
trouxe informações completas e de qualidade e contribuiu com materiais e fontes de
informação para a pesquisa.
Ela se manteve aberta e receptiva ao longo de toda a conversa, expressando-
se de maneira clara, transparente, com espontaneidade e alegria. Suas colocações
foram críticas e coerentes, enriquecidas por novos tópicos, ilustradas por diversos
exemplos e referências a importantes personalidades da educação brasileira, as
quais eu nunca tinha ouvido falar. Também compartilhou suas experiências nas
120
diversas viagens que fez pelo Brasil atuando junto a professoras do ensino básico. E
ainda deu dicas de passeios pela cidade.
Para mim, a entrevista piloto foi extremamente importante e significativa, não
só porque aprendi muito com a Autora A, uma pessoa admirável, de espírito livre e
energia vibrante. Mas também porque a entrevista apontou as chances de alcance
dos objetivos propostos neste estudo, o que me ajudou a ganhar confiança para o
exame de qualificação, pois eu sabia que a leitura da entrevista, per si, poderia
responder a possíveis dúvidas e questionamentos. Para além de tudo isso, a
entrevista foi impactante porque agregou valor.
Nas palavras da Autora A, a entrevista
[...] me fez refletir. Eu acho que a entrevista foi interessante também por isso. Porque a gente, quando é questionada, fala assim: Puxa, será que alguma vez eu parei para pensar nisso de uma forma tão direta? Acho que é por isso que o explícito é tão importante. Ah não, com certeza que eu já pensei sobre isso. Mas pensei assim, explicitamente? Talvez não. Acho que não. Vai ser bom. Porque agora, como estou revisando o livro, [...] já é uma coisa a pensar. Eu acho que é legal, uma coisa a se pensar, de começar esse questionamento bem, com certeza. Acho importante. Que bom [...] porque as pessoas falam assim, ―ah, os acadêmicos, a academia fica distanciada‖. Mas, espera-se que na academia as coisas sejam comentadas, que as ideias fermentem para que você possa impactar de alguma forma, para trazer isso aqui. Porque lá, espera-se que na academia o que está implícito seja forçado a emergir, o que está por trás das linhas, nas entrelinhas. [...] Gostei muito de poder participar porque me fez pensar. [...] e eu estou em pleno momento de reformulação de materiais didáticos (AUTORA A, 01.06.2017).
Entrevista 2
“[...] Eu acho que sustentabilidade é o tema mais importante que nós temos dentro
da pauta da educação e da política. Eu acho. Número 1” (AUTORA E, 17.08.2017).
A segunda entrevista ocorreu no dia 17 de agosto de 2017, quando a Autora E
me recebeu pela segunda vez em sua residência, em São Paulo.
A seleção da Autora E para entrevista também foi especialmente intencional.
Um conjunto de fatores contribuiu para esta escolha. Já nos conhecíamos desde
2012, quando ela gentilmente disponibilizou uma de suas coleções para minhas
análises na pesquisa de mestrado. No primeiro contato por e-mail, em 23 de outubro
daquele ano, ela declarou: “Para mim é importante a análise (bem feita) da
academia. Eu sou leitora de pesquisas e referenciais, que utilizo no livro e em
formação de professores”. Logo depois nos conhecemos pessoalmente. Embora em
121
situação de conversa informal, naquele encontro ela comentou sobre as relações, às
vezes conflitivas, entre autoras/es e as empresas editoras. Então, ao convidá-la para
entrevista em 2017, eu sabia que estaria face a face com uma leitora e autora crítica.
Não foi surpreendente. A Autora E foi receptiva ao longo de toda a conversa.
Comunicativa que é, ela se colocou de maneira franca e transparente. Sua
espontaneidade e alegria são contagiantes!
Logo no início da entrevista, quando expliquei e lhe apresentei o TCLE, ela
verbalizou: “Estou de acordo com a entrevista, Sílvia. Imagina! Já te conheço, sei da
qualidade do seu trabalho” (AUTORA E, 17.08.2017).
Em conjunto, esses fatores contribuíram para que a conversa fluísse
naturalmente, de maneira que pudemos conversar abertamente sobre muitas
questões. Entre tantas, falamos sobre as potências e fragilidades das pesquisas
acadêmicas. Olhar para dentro da academia com os olhos críticos de quem está de
fora foi uma experiência muito rica e de grande aprendizado. Afinal, não é todo dia
que temos a sorte e a oportunidade de estar com “uma pessoa que fica indignada
com as coisas” (AUTORA E, 17.08.2017).
A Autora E foi especialmente generosa. Além de não economizar informações,
não poupou esforços para me mostrar suas obras mais antigas e contar histórias
muito interessantes sobre cada uma. “A minha história com livros de 1º ao 4º não é
muito frutuosa não. Embora eu goste de todos esses livros. Estamos tentando agora
refazer para esse novo PNLD”.
Foi uma conversa franca e emocionante, ilustrada por diversos exemplos,
recheada de referências bibliográficas e enriquecida pela menção a importantes
personalidades da educação brasileira.
Enfim... mas, quando você estava falando sobre o valor que você dá para o livro didático isso também vai direto para o meu coração. Porque a bandeira que eu trabalho lá na Abrale constantemente é a nossa própria valorização. E cada vez mais isso é importante. Então, por tudo isso, a gente precisa, sim, valorizar o autor. [...] Eu fico muito contente de você estar trazendo essa proposição (AUTORA E, 17.08.2017).
A entrevista com a Autora E foi significativa em diversos aspectos. Além de
tocar em pontos críticos, ela acrescentou diversas questões problemáticas que
carecem de investigação acadêmica. Também foi extremamente importante seu
posicionamento em relação à maneira de me aproximar e principalmente sobre a
122
escolha do tema. Ela apontou que eu estava no rumo certo e isso me ajudou a
enfrentar a tarefa.
Entrevista 3
[...] É... esse tipo de coisa entra na gente e eu acho que em parte isso vai
para os livros também. Na hora que você escreve põe um pouco de si (AUTOR I,
22.08.2017).
Entrevistei o Autor I no dia 22 de agosto de 2017, em sua residência em São
Paulo. Eu não o conhecia nem a sua obra. Mas sabia que a coleção na qual é
coautor é preocupada com preceitos de sustentabilidade socioambiental e configura
entre as mais adquiridas pelo MEC/FNDE, dentre as treze coleções aprovadas no
âmbito do PNLD Ciências, edição 2017.
A entrevista transcorreu de forma cordial e amistosa. O Autor I foi generoso,
atencioso e aberto. Também disponibilizou materiais e referências para esta
pesquisa. Por diversas vezes tive a sensação de estar enfrentando a fala de um
professor de Biologia. E isso foi bom porque ele me permitiu esclarecer dúvidas e
trocar ideias. “Na biologia a gente não é bonzinho, não. A educação é que tem que
nos transformar em pessoas cooperativas” (AUTOR I, 22.08.2017).
Olha, Sílvia, eu fiquei mais de 30 anos na escola como professor de todo tipo de aluno, de todo tipo de nível e acumulei muita experiência e tenho muita coisa pra contar. Por muita sorte tive a oportunidade dos livros porque senão eu ia ficar falando para as paredes. Com os livros a gente fala pra muita gente. Eu tive milhares de alunos aos quais eu passei minhas ideias e com os livros não são milhares, são milhões. Por sorte (AUTOR I, 22.08.2017, ênfase do entrevistado).
Ele compartilhou suas impressões e conhecimentos, contou-me sobre suas
vivências em educação Brasil a fora e Brasil adentro.
[...] eu acabei tendo a oportunidade de ficar um mês e meio na Alemanha, entrando e saindo de escolas e secretarias (lá eles chamam de ministérios), acho que em uns sete Estados. [...] estamos em 2017. Há 20 anos que eu tenho trabalhado com a Editora, parei de dar aulas e a minha experiência tem permitido colocar no livro, nos livros, o que vejo também nas viagens pelo Brasil. [...] e agora eu já estou mais para o final da carreira. [...] (AUTOR I, 22.08.2017, ênfases do entrevistado).
123
Para mim, a entrevista foi muito importante e de grande aprendizado,
principalmente porque permitiu o aprofundamento sobre pontos críticos da educação
brasileira, para além dos livros didáticos e do profissional que os escreve.
Entrevista 4
“São muitos anos observando o céu” (AUTOR U, 22.08.2017).
A entrevista com o Autor U ocorreu no dia 22 de agosto de 2017, quando ele
veio para São Paulo e me recebeu na empresa de sua irmã, que gentilmente
concedeu-nos o espaço.
Eu não o conhecia. Apenas tinha algumas informações, garimpadas aqui e
acolá. Sobre a coleção, eu sabia que é uma obra preocupada com problemas
socioambientais e com uma formação voltada para a cidadania. Também tinha
conhecimento que a coleção ocupa um dos primeiros lugares no ranking de vendas
ao MEC/FNDE, no âmbito do PNLD Ciências, edição 2017.
Desde o primeiro e-mail o Autor U se mostrou atencioso e solícito. Além de me
ajudar no contato com colegas de equipe, ele se preocupou em buscar maneiras de
agilizar o processo para a realização da entrevista, poupando-me viagens ao interior
de São Paulo.
A entrevista fluiu naturalmente. Logo na apresentação do TCLE vi que estava
diante de um leitor atento. Aquela conversa inicial revelou fatos coincidentes de
nossas vidas. Ao ler a data de meu nascimento no TCLE, ele disse: “descobri que
tenho uma irmã gêmea”. Sem demora comentou sobre sua pesquisa de mestrado e
o falecimento de seu Orientador.
Sim, somos seres predestinados a nascer em certo dia do ano. E sim, a vida é
também despedida. Não é contada sem a palavra que a encerra.
Naquele encontro trocamos muitas ideias sobre os sinais de um futuro incerto.
Para além das matrizes energéticas conversamos sobre os impactos da revolução
digital que está em curso no universo de livros didáticos e no âmbito do PNLD.
Também falamos sobre suas “andanças” Brasil afora, as quais ele ilustrou com
vários exemplos e elogiou as/os professoras/es de Minas Gerais.
[...] por essas andanças aí, a gente vê o quanto fora daqui, do grande centro do Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tá. Falei de Minas
124
só pra te (risos). Bom... e enfim, eu percebo assim, nós temos muita informação, muito conteúdo aqui. Sai daí desse grande centro, o professor precisa de tudo. Então, a gente acaba colocando essas coisas no material, né, e explicando pra eles (AUTOR U, 22.08.2017).
Para mim a entrevista foi gratificante e de muita aprendizagem. O Autor U me
deu dicas, referências e conselhos: “[...] Você deveria conversar com o pessoal da
Abrale também”. [...] Vale a pena reservar um tempo pra participar das conferências.
[...] Porque, assim... uma Conferência Popular tem outra conotação, né”.
Foi uma conversa alegre com pitadas de sabedoria e de humor inteligente,
particularidades de um autor ímpar que também é chef, tem os pés na terra e um
olhar voltado para as estrelas.
3.2 Profissionais das palavras: vida e carreira
Neste tópico apresentamos as/os autoras/es entrevistadas/os e procuramos
descrever e fornecer dados sobre suas trajetórias de vida e carreira.
Diferentemente da história livresca seus relatos são carregados de afetos e
particularidades. O resultado é uma viagem pelo tempo, de maneira que seus relatos
compõem o contexto sócio-histórico desta pesquisa, especialmente no que se refere
à educação brasileira e ao ensino de ciências. Embora fuja ao nosso escopo um
estudo aprofundado sobre importantes questões que foram abordadas, procuramos
assinalar alguns aspectos que contribuem para elucidar os contextos enunciados
nos relatos. Para tanto, incluímos informações complementares e/ou notas de
rodapé.
Autora A, a cidadã que fala por si
A Autora A tem 50 anos, é casada, mãe e avó. Desenvolveu carreira
ascendente sempre conciliando trabalho e estudo. Aposentou-se recentemente após
ter trabalhado por 33 anos no ensino de Ciências e Biologia, nos níveis Fundamental
e Médio das redes pública e privada. Dedicou-se simultaneamente à Educação
Superior e Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática.
É coautora de uma obra didática de Biologia dirigida ao Ensino Médio e
coautora de obras didáticas de Ciências Naturais dirigidas a estudantes e
professoras/es das séries finais do Ensino Fundamental II.
125
Bióloga, mestra e doutora em Educação, acumula experiências em consultoria
ao MEC, à Unesco e instituições voltadas para a formação continuada de
professoras/es. No MEC acompanhou a elaboração dos Parâmetros Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), PCN+ e atuou nos Parâmetros em Ação.
É uma estudiosa que trabalha com uma diversidade de temas relacionados:
estudos de gênero e diversidade, currículo, avaliação por competências, ensino de
ciências, materiais didáticos, formação de professoras/es, estudos foucaultianos e
metodologia educacional em geral.
Dentre os trabalhos com projetos, destacamos aqueles interdisciplinares e
transdisciplinares. Por exemplo, quando realiza trabalhos com professoras/es.
Eu estava lá no Ceará, fazendo um trabalho pela Unesco. A Unesco tinha um protótipo de Ensino Médio, com um núcleo voltado para práticas sociais. Eu acompanhei escolas de São Paulo, as escolas Técnicas Paula Souza, duas escolas, em Vila Formosa e Santa Isabel, durante três anos. E fui ao Ceará. Neste trabalho temos os professores, tem o currículo que eles organizam, mas geralmente ninguém olha o projeto pedagógico. Aí eu propus uma revisão do projeto pedagógico (AUTORA A, 01.06.2017).
Ao longo de sua carreira desenvolveu trabalhos sobre vários temas para
variados segmentos da educação. Inclui uma série de publicações sobre juventude e
trabalho; ensino, aprendizagem e tecnologias digitais; conservação, limpeza e
sustentabilidade ambiental, entre outras. É membro do Observatório de Laicidade na
Educação e participa em canais de mídia virtual, entre elas as mídias educativas
voltadas para estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem).
A maior parte de sua formação foi em escola pública. Foi alfabetizada pela mãe
aos quatro anos de idade e ingressou aos sete na terceira série (atual 4º ano), após
a realização de uma prova avaliativa. “Mamãe só fez o Fundamental I, mas ensinava
a rua inteira lá na Baixada Fluminense onde morei” (AUTORA A, 09.10.2017).
“Desde pequena brincava de ser professora. Aos 13, 14 anos já juntava uma
turminha para dar aulas particulares”. Concluiu a educação básica aos 16 anos e foi
homenageada como a melhor aluna da escola. Em 1990 concluiu a graduação em
Licenciatura Plena na área de Ciências Biológicas, na Universidade Federal do Rio
de Janeiro.
Comecei a trabalhar em uma escola na Rocinha, uma escola estadual. Fui parar nessa escola por uma questão assim: imagina você ter que ir tomar posse, você não ter telefone em casa [...]. Aí a vizinha te dá o recado uma
126
semana depois e você perde a sua posse, perde o direito de escolher pela sua classificação. E aí eu não sabia onde ia trabalhar. Eu tinha começado a trabalhar numa escola particular e lá uma amiga que dava aula na Rocinha disse: ―vem trabalhar na Rocinha, a escola é ótima‖. Eu fiquei um pouco assustada porque estava acostumada com a minha comunidade de origem, a Baixada Fluminense. Estava acostumada a trabalhar em comunidade [...], mas a Rocinha é um mundo! Fiquei preocupada. Mas, minha amiga disse: ―Ah, mas a Rocinha é um lugar tranquilo‖. E realmente foi (AUTORA A, 01.06.2017).
No período de 1992 a 1993 cursou especialização em Docência Superior pela
Faculdade Béthencourt da Silva (Fabes) e depois, mestrado e doutorado em
Educação, respectivamente pela Universidade Federal Fluminense (1998) e
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2007).
Quando entrei no mestrado na UFF, em Educação, minha intenção inicial era pesquisar sobre educação e saúde. [...] porque eu sabia que tinha lá o Victor Valla e pessoas que eu gostava na área. Mas aí eu conheci Cecília Coimbra, que era presidente do “Tortura Nunca Mais” e ela trabalhava com subjetividade, com Foucault e Guattari e aí eu me encantei por Foucault. Eu nunca tinha pensado sobre o corpo dentro da linha foucaultiana e aquilo juntou com algumas angústias que eu tinha como professora, de achar que o corpo didático era um corpo que os estudantes não se reconheciam, [...] um corpo sempre fragmentado e eu resolvi mudar minha linha de pesquisa. Eles permitiram e eu comecei a investigar como o corpo era mostrado numa visão sociopolítica nos livros didáticos das décadas de 1960 e 1990 [...] nunca mais me tornei a mesma pessoa depois de Foucault (AUTORA A, 01.06.2017).
No doutorado dedicou-se à investigação sobre como a prática de
professoras/es de ciências da educação básica influencia cientistas em sua escolha
profissional. Para tanto entrevistou cientistas da área de Ciências Naturais.
A carreira de autora de livros didáticos coincide com o término do curso de
mestrado, no final dos anos 1990. “Então, eu me tornei Autora. Digo que mudei de
pedra para vidraça porque primeiro eu meti o pau no livro dos outros, depois fui
escrever livro (risos)”.
Na equipe de profissionais com quem escreve a Autora A é responsável pela
abordagem da sexualidade, cujo eixo é orientado pela concepção de corpo humano.
[...] eu já trabalhava com Sexualidade no Museu Espaço Ciência Viva. Era uma coisa que eu me interessava. E, olha, embora Foucault não trabalhe diretamente com a Sexualidade, com todo o trabalho reflexivo sobre corpos disciplinados, corpos dóceis, você tem que acabar caindo nessa discussão. Eu quis, na hora da divisão, embora todo mundo leia tudo, eu quis me responsabilizar por essa parte (AUTORA A, 01.06.2017).
127
“Por mim, em todos os livros que a gente escreve, a parte de sexualidade seria
até muito mais progressista. Eu sou até light porque não escrevo sozinha, embora
eu tenha abertura para discutir”.
Vale esclarecer que a abordagem da sexualidade no currículo das escolas
brasileiras é uma discussão antiga. Até a década de 1960, a Igreja exercia forte
influência e mantinha severa repressão ao tema. Na década de 1970, devido ao rigor
da censura, as publicações na área eram inexistentes, embora pelo menos na
cidade de São Paulo havia várias experiências em curso. Contudo, no final dos anos
1970 e início dos anos 1980, a liberação da censura, a influência de movimentos
sociais, particularmente, o movimento feminista e as mudanças de comportamento
dos/as jovens pós 1968, levaram a um crescimento do interesse pelo tema.
A retomada contemporânea dessa questão se deu a partir de meados dos anos
1980, em virtude da preocupação social com o anunciado crescimento de incidência
de gravidez durante a adolescência e com o risco da infecção pelo Human immuno
deficiency virus (HIV) entre adolescentes e jovens. Após a Constituição Federal de
1988, a temática de sexualidade e gênero ganhou força no debate nacional sobre
direitos sociais. No contexto das reformas políticas da década de 1990 as agendas
de gênero, sexualidade e educação se entrecruzaram. Desde então vinham sendo
tomadas iniciativas no âmbito das políticas educacionais, como por exemplo, a
implementação dos PCN e os temas transversais. Tais iniciativas estavam alinhadas
aos compromissos e metas internacionais assumidas e ao atendimento às
demandas sociais com vistas ao reconhecimento das identidades sexuais e ao
combate às diversas formas de discriminação e intolerância.
Recentemente o debate voltou a ganhar espaço na imprensa, nos meios
políticos e nas escolas brasileiras. Acompanhamos discussões sobre os Planos
Municipais e Estaduais de Educação, os vetos ao termo ―gênero‖ por parte de
setores conservadores em Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas de todo
o país para que fosse suprimida desses planos qualquer discussão sobre
sexualidade. Vimos professoras/es sendo acusadas/os de ―doutrinação‖ em sala de
aula. Também vimos a volta da caça aos livros, principalmente dos didáticos e
paradidáticos dirigidos ao público infantojuvenil. O livro da entrevistada foi um entre
tantos noticiados pela grande mídia.
128
Você viu, você conhece as imagens, né. Então... eu me preocupo realmente. E aí tem outras discussões que estão por trás, porque é a questão da escola laica, né. Então você também tem uma ingerência da religião na escola, né, e aí ao mesmo tempo se diz, ―não... isso vai ser discutido de uma forma bem ampla‖ (AUTORA A, 01.06.2017).
É nesse contexto que identificamos a cidadã que fala por si. Além de responder
como autora, apoiar a comunidade escolar, a Autora A se posicionou em defesa da
educação laica e democrática.
[...] Depois a gente teve aquele evento com uma situação em uma escola no Norte do país em que a Editora optou por não se pronunciar, e sim esperar algum comunicado oficialmente. Mas eu me senti tão incomodada que eu falei: Eu, (nome da entrevistada), cidadã, tenho direito de me manifestar. Falei: Gente, eu vou falar por mim. Aí veio (nome da jornalista e título do artigo escrito por ela), veio toda a discussão. Até hoje tá rendendo [...] (AUTORA A, 01.06.2017, grifos da pesquisadora).
A persistência e a disposição para tomar iniciativa são características
marcantes em sua vida. Algum tempo depois de nossa entrevista tive acesso a
informações reveladoras: uma de suas obras mais importantes foi escrita aos 13
anos de idade, em coautoria com seu pai. Ao autorizar a publicação nesta pesquisa
ela disse: “[...] faz parte da minha história e eu tenho muito orgulho de meu pai ter
tomado essa iniciativa”.
Em seu texto, publicado em rede social, a Autora A assim o descreve: “meu
pai – mecânico – muito inteligente e perspicaz, mas com pouquíssima escolaridade
– sempre considerou educação prioridade. [...] ele também me incumbiu de uma
missão: escrever uma carta ao então “presidente” do Brasil”.
Na época, o país vivia sob o regime militar, governado pelo general Ernesto
Geisel. ―Papel almaço pautado, caprichei na letra da carta manuscrita porque
máquina de escrever era artigo raro”.
O porquê da missão: papai era servidor civil do exército e tinha sido transferido de Benfica para a ECEME (Escola de Comando e Estado Maior do Exército) na Praia Vermelha. Morando em São João de Meriti, sem Linha Vermelha ou metrô, madrugava pra chegar às 7 no trabalho, assim como a maioria dos funcionários (da Baixada, Zona Oeste, São Gonçalo etc.). Ele e um amigo cabo descobriram que havia um ônibus sem uso no quartel e tentaram convencer o comandante da possibilidade de criar uma linha para transporte dos funcionários, determinando pontos de parada que fossem bons para facilitar o acesso de todos ao quartel. Apresentaram a ideia com os pontos de parada, horários, custos de combustível etc. O cabo seria responsável pela direção e guarda do veículo. Meu pai pela manutenção (inclusive durante as viagens). O comandante não negou nem aceitou.
129
Disse: ―só com autorização superior‖. E encerrou o assunto dizendo que papai estava "inventando moda". Meu pai não desistiu. Não se abateu. Pensou em quem seria o "superior maior" nesse caso. Usou a primogênita CDF - no caso eu - que estava concluindo o Ensino Fundamental em uma escola municipal na Pavuna e repassou a ideia e o objetivo da carta. Boa em redação, usei argumentos, apresentei vantagens, exaltei egos, caprichei no discurso ufanista que agradaria aos donos de insígnias e enchi duas páginas. Selamos a carta, registramos (não havia sedex) e enviamos ao endereço oficial em Brasília. Aguardamos, aguardamos e aguardamos. E seis meses depois a resposta veio. Do gabinete da presidência. Datilografada e assinada. Dizendo que se o Comando da ECEME não se opusesse e a proposta fosse viável, sem custos extras, a autorização estava dada. Carta na mão, papai conseguiu o que queria. Como o comandante poderia negar? Até ele se aposentar, em 1988, sei que o transporte funcionou e beneficiou muitos funcionários. Hoje sou Doutora, leciono, escrevo livros, dou palestras, entrevistas... Sei o poder de saber falar, argumentar e compreender linhas, entrelinhas e até armadilhas nos discursos de diferentes contextos. Obrigada, meu pai. Obrigada, minha mãe. Pelo cuidado, pelo amor e segurança que me permitiram crescer com autoestima sem egocentrismo. Por perceberem o quanto a comunicação e o conhecimento seriam fundamentais na minha vida. Viva a Educação Pública! Viva a Democracia! Ditadura nunca mais.
Autora E, a menina da Matemática que lê e escuta com o coração
A Autora E é casada, mãe de quatro filhos, está com 63 anos de idade. É
autora associada da Abrale, atualmente membro da diretoria. É autora de uma
coleção de Ciências Naturais dirigida ao Ensino Fundamental I e coautora em
coleções do mesmo componente curricular para os ensinos Fundamental I e II.
Também tem obras para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).
“Então, eu sou autora de primeiro ao quinto desse material que eu te contei. E
tenho também uma coleção do Campo. [...] essa coleção me deu muitas alegrias.
Muitas [...]” (AUTORA E, 17.08.2017).
É uma estudiosa dedicada à escrita de livros didáticos e à elaboração de
diversos materiais sobre educação. Suas produções incluem artigos publicados em
periódicos de foco e escopo relacionados à área de educação. Participou da
elaboração de obras paradidáticas voltadas para a difusão científica. Tais obras são
compostas de filmes de animação com foco no letramento científico e abordam
temas diversos, tais como: ecossistemas, caatinga, entre outros. Também escreveu
sobre esses temas, por exemplo sobre o consumo sustentável da água.
130
É licenciada e bacharelada em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências
da USP. Também cursou as disciplinas oferecidas pelo curso de pós-graduação em
Psicologia da Educação na PUC-SP e posteriormente dedicou-se ao estudo de
Filosofia da Educação, na USP.
Sua trajetória educacional é repleta de passagens marcantes.
[...] eu era uma menina da Matemática. Eu não era uma menina das Letras, embora gostasse bastante de ler. Mas a minha leitura era mais emocional. Aos 10 anos, no quarto ano, a professora Cacilda falou pra mim: ―oh, você está péssima de Português. Você tem que melhorar‖. Mas não funcionou naquele momento. E eu continuei lendo rápido, lia bem rápido, com o coração, né. Li Monteiro Lobato, de montão. Depois li José de Alencar, de montão. Sabe? Lia, lia, lia. Fazia bastante exercício de Matemática. [...] Eu era do oral e era da Matemática, entendeu? E por razões pessoais que se você quiser, eu te conto porque também não é segredo. [...] Eu tinha muita dificuldade com História. [...] e eu acho que afinal, a História é um ótimo exercício de escrita, né. A questão da dificuldade com História, uma coisa horrível. Eu tomei pau no exame de admissão, da minha primeira opção de escola, que era o Colégio, na Av. Indianópolis – Alberto Levi, público, né. Então eu fiz o primário na Chiquinha Rodrigues, depois sempre na pública. Eu gostava de Inglês também. Gozado... aí em Inglês não tinha dificuldade, não. Eu ia bem. E também estudei desde bem cedo. E aí, sim, meus pais pagaram meu curso de Inglês, na época. Depois eles ficaram melhor de vida, uma classe média bem remediada, mas teve fases péssimas também no meio do caminho. Mas eles bancaram aquele curso de Inglês pra mim (risos). Fiz desde os treze anos. [...] Então, eu superava as minhas dificuldades com o oral, fazendo muito exercício de Matemática. E no vestibular que eu prestei teve uma parte muito grande, de uma matéria que não costumava cair, que era Geometria analítica. E eu acertei tudo! (AUTORA E, 17.08.2017).
A etapa pré-escolar é recheada de lembranças felizes. “Ah eu tenho que te
contar isso. No primário eu estudei na Escola Chiquinha Rodrigues, que pertencia à
própria Chiquinha Rodrigues”, uma educadora, jornalista, política e escritora
dedicada à literatura infantil, falecida em 1966. ―[...] o meu amor por ela é tão grande,
minha filha, que nada vai substituir. [...] existe uma tese de mestrado sobre ela na
PUC84. Mas eu não gostei, não. Porque... sabe quando lê o passado com os olhos
do presente?”
Eu entrei lá em 1959. Eu tinha cinco anos de idade. Eu fiz a pré-escola e depois mais cinco anos porque eu fiz o curso de admissão lá, tá. Fiz admissão! [...] Quais eram as partes pedagógicas de dona Chiquinha? Tinha duas coisas que se sobressaem, totalmente diferentes de qualquer coisa da época. D. Chiquinha tinha uma prática de discurso oral. Tinha um tabladinho e ela chamava as crianças para fazerem discurso. [...] Então a gente ficava
84
Cf. Eliana de Jesus Reis (2006) - ―O Parlamento Paulista e a questão educacional: uma análise dos discursos de Chiquinha Rodrigues (1935-1937)‖. Disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/10555/1/ElianaDeJesusReis.pdf>. Acesso em: 14 ago. 2018.
131
em fila. Naquela época se fazia fila para entrar na sala de aula, né. Então era fila. Todo mundo de filinha. Ela fazia um discurso primeiro - comemorativos, datas, coisa da época - óbvio, né. O Dia da Árvore, Tiradentes, Dia do Professor, Dia das Mães, aquelas datas comemorativas. Ou às vezes coisas da escola mesmo, que ela explicava. Primeiro ela falava. Depois chamava alguém pra fazer um discurso. E eu tinha 6, 7, 8 anos nesse período em que ela estava lá, atuante. E eu levantava a mão: eu quero falar. Aí eu ia lá, falava. Em público, minha filha! Eu ganhei uma desinibição para falar em público. E... (risos). Quando não tinha ninguém pra falar, ―(sobrenome da Autora E), venha!‖. Era eu. Ia lá e falava, falava. Adorava! Então, vovó Chiquinha tinha essa prática. [...] uma prática de agir muito bacana. Ela fazia baile. Bailes com meninos e meninas [...]. Fazia exposições de desenhos. Sabe essa coisa do varal? Que o pessoal acha uma novidade? Na pré-escola até o terceiro ano, varal. Fantástico! [...] Dona Chiquinha, pra mim, foi um ídolo total, sabe. Porque ela era uma pessoa abertíssima; ela recebia as crianças pra conversar. Veio uma catequista que queria botar medo nas crianças. Eu bati na porta e fui lá falar. Falei: Vovó. Era vovó. Vovó Chiquinha, Dona Fulana está falando A, B, C. ―Ah é?‖. Ela levantou imediatamente e foi lá verificar com as crianças, e coisa e tal, e trocou a catequista. Entende? Era assim, abertura total (AUTORA E, 17.08.2017, grifo da pesquisadora).
Na escola pública “engoliu a língua”. “Saí daquela escola risonha, né, com uma
diretora que te recebe quando você bate na porta. Em assuntos importantes, lógico.
Não era assim também. Tinha muita regra. Muitas regras. E eu era uma boa aluna,
né. Eu era uma aluna que fazia deveres e tudo‖ (AUTORA E, 17.08.2017).
A passagem para a escola pública ocorreu no período de “democratização do
ensino no país”, em 1964. Estava com 11 anos nessa época ―[...] aí eu fui para a
escola pública. Cinquenta alunos na classe. Pré-adolescente. Família vivendo um
monte de problemas. Nossa Senhora! Aí eu engoli a língua. Engoli, né. Não falava,
não escrevia (risos)”.
Para se ter uma ideia, na década de 1960 havia 1.845 Grupos Escolares no
Estado de São Paulo. Na Capital havia somente 267 e desses, apenas 109 podiam
ser considerados prédios escolares, pois os demais eram barracões de madeira ou
prédios adaptados. E mesmo assim não davam conta de atender a demanda85.
[...] Em 1964 a gente estava vivendo aquele período que posteriormente foi chamado democratização da escola pública. O que significava isso? Cinquenta alunos na sala. A gente tinha um vestibulinho e o concurso de admissão era difícil, mas mesmo assim eram cinquenta alunos na sala. A aula era expositiva, não tinha diálogo, não tinha nada. Acabou a conversa. Que choque! (risos) (AUTORA E, 17.08.2017).
85
Cf. BUFFA, Ester; PINTO, Gelson de Almeida. Arquitetura e educação: organização do espaço e propostas pedagógicas dos Grupos Escolares paulistas (1873-1971). São Carlos: Edufscar & Brasília: INEP, 2002.
132
Vale lembrar que o contexto foi marcado por migrações internas e de explosão
demográfica nas cidades. As pressões populares por escolas cresceram e
começaram a se tornar foco de debates da opinião pública e dos meios de
comunicação, por exemplo, a televisão, recém-chegada ao país.
Segundo o relatório da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, na
época a rede escolar foi distribuída seguindo critérios quantitativos, conforme a
demanda real por vagas em cada região86.
Ah e eu fui... essa é quase piada, né, sei lá...uma piada ruim. Porque a Esther de Figueiredo Ferraz
87, que foi Secretária da Educação quando eu
era aluna no ginásio, criou escolas separadas por gênero. Diziam que era por causa da super lotação das escolas. Então, lá no Brasílio Machado onde eu estudei, ela mandou para a extensão os meninos e as meninas ficaram no Brasílio Machado. Então, eu estudei nessa excrescência que foi a escola pública de gênero, escola de meninas. No período da tarde. Manhã e noite, não; era misto. Olha que engraçado. É demais, né? Demais! Então, a gente fazia festa junina só das meninas. Mas, quem fazia? Nós fazíamos, nós mesmas. Então, nós tínhamos a colega [...] que tocava harmônica, eu tocava violão, a gente fazia bandeirinha dentro da sala de aula e tinha um dia que a gente pedia aos professores para fazer festa junina. [...] Nós fizemos dois anos de festa junina, a nossa festa junina. Quer dizer, isso é bacana, né. A questão da organização autônoma, o aprender. A gente organizava, levava comida, levava refrigerante [...] e nós tínhamos nessa época 13, 14 anos. Sabe? Era assim (AUTORA E, 17.08.2017, ênfase da entrevistada).
“Olha quantas transformações, né? Então ali a gente conviveu com as
diferenças de verdade e aprendizagem social e política, você vai crescendo, né, e
vai convivendo com as diferenças, vai compartilhando, vai criando, né [...]”.
Iniciou carreira no magistério com pouco mais de 19 anos, em 1974. Atuou no
ensino de Ciências e Biologia, em São Paulo, por mais de dez anos. Sempre
conciliando a rede pública e privada. Justifica que: “a escola privada te paga um
pouco melhor, a pública é o seu chão de trabalho, onde você coleta e vive melhor a
sua razão social de ser um professor. Um professor idealista, né, um professor que
quer atuar socialmente”. Relata que foi fazendo esse percurso e conseguiu, “então,
trabalhar com dignidade no ensino Fundamental, sendo formada em Ciências
Biológicas”.
86
Cf. A execução do programa de construções escolares. Secretaria da Educação: Fundo Estadual de Construções Escolares. São Paulo, jan. 1963. Obs. Trata-se de um texto em mimeo, disponível na biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP). 87
Esther de Figueiredo Ferraz foi uma advogada e professora brasileira, secretária de Estado em São Paulo, e a primeira mulher ministra de Estado no Brasil, ocupando a pasta da Educação no governo do general João Figueiredo, de 24 de agosto de 1982 a 15 de março de 1985.
133
[...] E eu entrei em sala de aula com o referencial curricular embaixo do braço. Isso é uma coisa que eu vou te falar, pouquíssima gente fez. Mas isso eu fiz graças à minha estimada mãe. Minha mãe era funcionária da Secretaria de Estado da Saúde, e, era educadora de saúde. E ela frequentava a Delegacia de Ensino porque fazia um trabalho conjunto naquela ocasião. Aí, quando eu fui começar a dar aula, em 1974, ela contou, alegre, né, para as colegas dela, da área da educação que ―ah, a (nome da Autora E) vai começar a dar aula‖. ―Leve isso aqui‖. E o que era aquilo lá? Era o anteprojeto do que viria a se tornar o Verdão. O Verdão foi o primeiro currículo de ciências, tecnologia e sociedade que ainda nem tinha esse nome, mas já estava lá, né, dos anos 70 (AUTORA E, 17.08.2017, grifo da pesquisadora).
O ―Verdão‖, currículo ao qual se refere a Autora E fazia parte do projeto do
Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), o qual em 1960 já se
dedicava à preparação de materiais para o ensino prático de ciências biológicas.
Inicialmente foi feita a adaptação do Biological Sciences Curriculum Study, a
chamada BSCS versão azul (bioquímica), que analisava os processos biológicos a
partir do nível molecular, e em seguida a chamada BSCS versão verde (ecologia),
que centralizava sua análise no nível de população e comunidade. Toda a
construção do ―Verdão‖ esteve relacionada aos conteúdos curriculares88.
Então, pra mim, sabe, esse par, livro didático e referencial curricular sempre andou junto. Eu achava, porque a gente quando é muito jovem, acha que todo mundo é igual a gente, né. Não sei se você... (risos). Todo mundo tem que ser igual. Menos os pais. Porque são os diferentes (risos). Sei lá... eu estou de brincadeira aqui. Mas eu achava que todo mundo tinha que olhar referencial curricular. Aí quando eu descobri que ninguém olhava, eu falei: pô, mas não pode, como assim? Tão bom o referencial curricular. Então eu acho que isso é uma coisa que pode causar estranhamento. Eu sempre gostei do referencial curricular, eu sempre gostei de prova, né. Por isso que quando eu te contei que eu ia mal nas provas, eu ficava muito triste, muito chateada porque conversava na escola pública, fundamental e médio, e eu ia bem nas provas e nunca ninguém tinha me puxado a orelha porque eu escrevia mal. Eu acho que os professores falavam: ―não, vai fazer prova de xizinho‖. Porque quando eu prestei vestibular era tudo de xizinho, né, não tinha prova escrita. Todo aquele tempo da prova, das primeiras provas em grande escala, né, era só teste. A gente estava na USP escrevendo mal. Não é que não soubesse escrever, escrevia mal. Daí chegava na aula, e as professoras com aquela exigência uspiana, né, exigência enorme, possibilidades do aluno interagir era 0,2 (risos) (AUTORA E, 17.08.2017).
No final de 1979 a Autora E, então com 26 anos, “muito sonhadora” decidiu
deixar o trabalho de magistério em São Paulo e mudar de cidade. Foi morar no
88
Mais informações sobre o IBCC e os projetos da época podem ser encontradas no artigo de ABRANTES, Antonio Carlos Souza de; AZEVEDO, Nara. O Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura e a institucionalização da ciência no Brasil, 1946-1966. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/bgoeldi/v5n2/a16v5n2.pdf>. Acesso em: 15 set. 2011.
134
Ceará. Na época o Brasil vivia “grave crise política”. “[...] A gente tinha governo Maluf
em São Paulo e eu não suportei a ideia de trabalhar no Estado com Maluf e resolvi
mudar [...]”.
E até eu quero frisar também o seguinte, que a minha decisão de mudar, de morar fora de São Paulo, no caso para o Ceará. Sim, eu tinha 26 anos, era muito sonhadora. Porque eu terminei Biologia com 21, né. Já tinha começado a dar aula com dezenove e meio, quase vinte. E, então, eu estava muito enlouquecida com a ideia de trabalhar para o Maluf, não estava gostando nada. E na época a gente fazia uma confusão, trabalhar para o Maluf, trabalhar para o Estado, porque tem uma interface, é claro, né, ah podia trabalhar na escola pública sem ligar para o Maluf, né? Aliás, atualmente todo mundo faz isso, né (AUTORA E, 17.08.2017).
A mudança para a Região Nordeste foi inspirada por uma palestra ministrada
Florestan Fernandes na PUCSP, no final dos anos 1970. “Foi em 78, 79. Eu fui ver o
Florestan na PUC. Acho muito importante recuperar porque são os meus avatares,
os meus ídolos, né. [...] Eu me lembro até hoje da emoção que isso me causou”.
E naquela época, então, eu assisti uma palestra do Florestan Fernandes, na PUC. O Florestan Fernandes falando um sociologuês que claro, ele era acessível, mas como eu te disse, eu era uma menina da Matemática. Eu não era uma menina das Letras, embora eu gostasse bastante de ler. Mas, a minha leitura era mais emocional. Daí o Florestan falava para aquela audiência puquiana, né, e ele falava assim: que os educadores precisam conhecer o Brasil. [...] Quer dizer, é uma palavra banal porque queria recuperar esse discurso dele. Será que existe na PUC? Não deve ter, né, na época... as coisas se perdem, mas... Ele falou tão bonito, da importância de os educadores conhecerem o Brasil. Eu falei: legal, eu vou conhecer o Brasil. Aí, quando eu fui para o Ceará, fui conhecer o Brasil, sabe. Eu queria ser aquela educadora que conheceu o Brasil. E aí isso serviu pra mim, serve até hoje. Depois eu viajei o Brasil inteiro, né. Trabalhando para o MEC. Depois trabalhando para Editoras também e muitas outras instituições. Graças a Deus foi uma coisa que os anjos me ajudaram porque era um grande sonho meu conhecer o Brasil, melhor, né. E aí eu fui para o Nordeste. [...]. Aí, sim, deu pra sair daquele círculo mais restrito do Rio-SP. [...] eu já tinha uma coisa mestiça de Brasil, mas eu queria mais. Eu tinha uma ambição grande de conhecer o Brasil. Aí eu fui (AUTORA E, 17.08.2017).
Morou no Ceará por “quatro anos e meio”. Lá nasceu sua filha mais velha e
concebeu seu segundo filho. Nessa época preferiu deixar o magistério e trabalhar
em outras atividades, pois sua filha era muito pequena, “fiz comércio, e no fim, fiz até
comércio de material educativo”.
Já na segunda metade dos 80, em São Paulo, aí, sim, eu voltei a dar aula, [...], sempre gostando muito de escolher um bom livro didático, né. Trabalhei com bons livros didáticos. No noturno eu dava aula de Educação para a Saúde, que era um Programa de Saúde, né, chamava. Era uma disciplina que existia nessa época para o Ensino Médio. E aí eu trabalhei com um livro
135
de (um autor) que, para mim é o melhor livro que ele escreveu até hoje: pequeno, conciso, humano. Esse era bom (risos), sabe? Ótimo! Mas eu já gostava naquela época de botar os alunos para pensarem e tal..., a dinâmica da experimentação. Então, no noturno eu fazia pesquisas, trabalhava com educação sexual, fazia aquela caixinha de perguntas. Meados dos 80, hein, já fazia a caixinha de perguntas e usava o intervalo de recreio para conversar com estudantes que tinham alguma questão que não queriam abrir para o mundo, né. Bem... E no diurno eu fazia Clube de Ciências, parte experimental. Gostava muito. Cheguei até ter uma empresinha de Clube de Ciências, que começou a atuar na escola pública, depois foi para as privadas (AUTORA E, 17.08.2017).
De volta a São Paulo, além de retomar as atividade de professora, ingressou
no Programa Pós-Graduado em Psicologia da Educação na PUCSP, interessada em
estudar o pensamento da criança, como ela aprende e se apropria do conhecimento.
Não é que eu não tive uma formação básica de Piaget, eu tive. Lá na Faculdade de Educação teve o professor, teve o curso de Piaget, só que a gente não entende nada. Não é verdade que as pessoas estão explicando esses assuntos. É muito falho. E se você vai trabalhar com evolução conceitual, com os raciocínios, com as formas de cognição das diferentes faixas etárias, a transição entre operatório concreto e o lógico dedutivo, como é que você vai entender essas coisas? Tem que ter, né, uma formação nessas coisas (AUTORA E, 17.08.2017).
Não terminou o mestrado “porque queria entender melhor Piaget”. Do período
que cursou o mestrado, uma constatação: “para entender o que é uma epistemologia
genética, no mínimo tem que entender o que é epistemologia”. Decidiu, então,
estudar as bases filosóficas e foi para a USP. Primeiro como aluna ouvinte, depois
prestou o vestibular.
Eu fui estudar Filosofia lá nos anos 90. Eu comecei fazendo como ouvinte em 89, 90. Em 91 eu fiz vestibular. [...] Nessa altura, eu já tinha quatro filhos. Eu estudava das 10:00 às 02:00 da manhã. Sabe, foi um esforço tremendo fazer isso! Ao mesmo tempo fazendo consultorias. Na luta, né. Naquele tempo de inflação desenfreada... Uma loucura! Que vida! Mas, eu não desisti de entender Piaget (risos), de entender as bases da Filosofia, aonde o Piaget bebeu (AUTORA E, 17.08.2017).
Foi nessa época que passou a se dedicar exclusivamente à formação de
professoras, em serviço e produção de materiais educativos para instituições
públicas e privadas. “Os anos 1990 foram de muito trabalho de consultoria para
governos. Fui cada vez mais deixando a área da escola privada e trabalhando mais
para governos, principalmente governo federal e governo estadual [...]”.
136
Então, nessas alturas a minha rede de contatos foi me ajudando, né, dando consultorias em escolas, assim, mais esporádicas, depois teve consultorias permanentes. Eu passei os anos 90 fazendo isso nas escolas e fui trabalhar na CENP, onde eu trabalhei com aqueles materiais de apoio para o professor. Aí meus colegas da CENP me chamaram e estava lá a [...], que é minha coautora e amiga até hoje. Ela me chamou para trabalhar na CENP. Lá nós fizemos o “Práticas Pedagógicas” [...]. Por causa deste material nós fomos para os Parâmetros. Primeiro eu fui para os Parâmetros de 1ª a 4ª. Depois ela (a coautora) foi para o dos anos finais. E aí nós ficamos fazendo Parâmetros e revisões para os Parâmetros Indígenas. Fizemos tudo no período FHC. Enem, Saeb
89. Saresp
90 também, no Estado de São Paulo, eu
tinha feito antes. [...] Os anos 90 foram assim de muito trabalho de consultoria para governos. Fui cada vez mais deixando a área da escola privada e trabalhando mais para governos, principalmente governo federal e governo estadual bastante também. No final dos 90 aí eu voltei para o livro didático. Aí eu escrevi o (título da obra) [...], essa foi uma obra que eu escrevi sozinha (AUTORA E, 17.08.2017).
Na Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) participou da
elaboração do ―Práticas Pedagógicas‖, material de apoio para professores, publicado
em 1993, “um material que fez bastante sucesso na rede, naquela época”. Também
contribuiu na elaboração de propostas interdisciplinares para os ensinos
Fundamental e Médio.
Vale lembrar que a CENP foi o órgão responsável por definir parte das políticas
educacionais para o Estado de São Paulo. A reforma curricular dos 1980 ficou
conhecida como a Proposta Curricular da CENP. Organizada numa perspectiva
efetivamente democrática, a proposta foi construída no contexto de uma discussão
política, com um conjunto de educadores deste Estado, equipes técnicas e
especialistas das diferentes áreas de conhecimento, ligados às universidades.
Reconhecido como um movimento político enraizado numa discussão conceitual e
numa perspectiva de resgate da qualidade do ensino paulista. Após o trabalho
inicial, em versões preliminares, as propostas foram tornadas públicas e discutidas
com representantes dos docentes da rede de ensino. Ocorreu uma forte mobilização
89
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e a Prova Brasil são avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC), com objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e questionários socioeconômicos. As primeiras avaliações do Saeb datam da década de 1990. 90
O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) é aplicado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo com a finalidade de produzir um diagnóstico da situação da escolaridade básica paulista, visando orientar os gestores do ensino no monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da qualidade educacional. Os alunos do 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio têm seus conhecimentos avaliados por meio de provas com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e redação. Os resultados são utilizados para orientar as ações da Pasta e também integram o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (Idesp).
137
nas diferentes Divisões Regionais de Ensino, num amplo processo de discussão
curricular. Entre os anos 1986 e 1988 foram elaboradas propostas para o então
chamado 1º Grau, nas disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, e
Estudos Sociais, que, ao longo de muitas discussões de historiadores e geógrafos,
foi novamente reorganizada nas disciplinas de História e Geografia. Segundo Palma
Filho (1989 apud Duran, 2012, p. 2073), ―as propostas curriculares foram
apresentadas em forma de fascículos, sendo um para cada conteúdo do núcleo
comum, propostas que incorporaram os princípios das teorias críticas do currículo,
explicitando valores políticos e sociais, declarando o compromisso com as classes
populares, favorecendo a apropriação do saber sistematizado e a qualidade do
ensino público‖.
Também assessorou a Secretaria do Estado de Educação do Acre na
formulação de sua proposta curricular, publicada em 2004. Como consultora do MEC
participou da elaboração dos PCN (Ciências Naturais – 1º ao 4º ciclos) e das
revisões para os ―Parâmetros Indígenas‖. Atuou nos Parâmetros em Ação e
escreveu os Referenciais de EJA. ―[...] eu gosto demais de trabalhar com EJA. Fui
professora de EJA, depois trabalhei com Parâmetros de EJA. Na Ação Educativa fiz
vários trabalhos de consultoria na área de EJA”. Cooperou com a equipe da Abaquar
para a reformulação das Matrizes do Encceja e a produção dos Cadernos de
Orientação para a formulação de itens.
No Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), compôs as equipes do Enem em 1998 e do Exame Nacional de Certificação
de Competências da Educação de Jovens e Adultos (Encceja), projeto que teve sua
coordenação na etapa de produção dos materiais de apoio, em 2002. Também
participou da equipe brasileira de apoio ao Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes (Pisa) desde 2001, contribuindo principalmente na área de Ciências91.
91
O Programme for International Student Assessment (Pisa) é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade obrigatória na maioria dos países. O Pisa é coordenado pelo Inep. A primeira avaliação foi em 2000. Participam estudantes selecionados de todos os estados. Vale observar que a definição de letramento em Ciências praticamente não passou por alterações desde o Pisa 2006, quando esta foi a área central na avaliação. Espera-se que estudantes sejam capazes de utilizar seu conhecimento de e sobre ciências e de compreendê-las como um caminho para adquirir conhecimento.
138
Eu participei dos primeiros referenciais de Saeb, né. Saresp, não. O Saresp é mais velho do que o Saeb, né. Saresp, eu estava como consultora da CENP e eu ajudei os professores, na época eram os assistentes técnicos pedagógicos, fiz oficinas para discutir. Então, eu comecei a me apropriar desse assunto lá, em meados dos 90. Aí nos 2000, quando a gente fez o Saresp, o Saeb, aliás, eu fui me inteirando, né. O Saeb, ele foi dirigido pela Maria Inês Fini, e que depois foi a criadora do Enem, né, foi a pessoa que... e hoje está lá, no Ministério. Eu trabalhei muitos anos com ela e com a equipe dela, né. A equipe dela é o Menezes, o Nilson José Machado e outros, alguns, né. Alguns dessa equipe a acompanharam na atual gestão do Inep. acompanharam na atual gestão dela lá no Inep. Atualmente ela é presidente do Inep. E ela estava no comitê gestor de fechamento da BNCC. Nossa equipe participou das versões do PISA em suas edições de 2002 até 2008. Quando mudou o governo federal, deixamos de ter contrato mas continuamos a trabalhar voluntariamente, aguardando mais decisões. Conseguimos lançar o relatório do Pisa 2006. Depois eles fizeram um concurso público e entrou um monte de gente pós-graduada em avaliação etc e, de fato, os relatórios do Pisa ficaram bons. Bastante gente participando. Eu gosto. Gosto muito. [...]. Eu acho que o pessoal que entrou lá no Inep faz bem. Sabe? Conhece o ofício. Né. Então falam assim: ―ah perdeu espaço‖. Quem perde o espaço... tá bom. Não tem problema. Se as pessoas que estão entrando estão fazendo bem, qual é o problema? Tem outros lugares pra se trabalhar, não preciso trabalhar lá (AUTORA E, 17.08.2017, ênfase da entrevistada).
Ela brinca: ―[...] ah se eu tivesse um lattes [...], mas eu não sou... eu só mordo,
eu não lato (risos)”. É uma estudiosa que ao longo de sua carreira vem
“consolidando um conhecimento que considera básico para o ensino de Ciências.
[...] escrevi muitos livros. E continuo sonhando com livro didático, dia e noite (risos)”.
Eu nunca gostei de me afastar da escola, né. Acho que era isso também que eu não conseguia terminar o mestrado. Assim, eu não queria sair da escola. Eu sempre achava que ia voltar para a escola, como professora, claro. Acabei não voltando porque aí eu fui para o livro didático, fiquei no livro didático e hoje, eu realmente acho que o livro didático é o meu lugar, né. Estou bem. Estou satisfeita, contente, apesar de todas as reprovações, todas as injustiças. Mas eu tenho também pessoas que valorizam o meu trabalho, me chamam pra dar consultoria. Então, eu consigo sobreviver com isso (AUTORA E, 17.08.2017).
Autor I, o professor que sonha com a variedade da vida
O Autor I tem 68 anos, casado, pai de dois filhos. É coautor de obras didáticas
de Ciências Naturais dirigidas ao Ensino Fundamental I e II e de uma coleção
dirigida para a Educação do Campo (3º ano: Alfabetização Matemática e Ciências;
4º ano e 5º ano: Matemática e Ciências). Também é coautor de outras duas obras,
sendo uma delas para a Educação de Jovens e Adultos e outra para o Ensino
Médio.
139
Basicamente eu sou um professor. [...] a escola é meu ambiente. Eu sonho. Os meus sonhos frequentes são dando aula. [...] eu resolvo a situação durante. Como é que eu vou falar sobre a lei de Mendel? Eu sonho isso. Como apresentar? (AUTOR I, 22.08.2017).
Aposentou-se pela rede privada de ensino, trabalho que lhe propiciou a troca
de experiências com colegas alemães e brasileiros. “[...] gostei muito, aprendi muito
do jeito de dar aulas e passei um pouco para o livro”. Também lecionou em
cursinhos pré-vestibulares e atuou como professor e coordenador no Ensino
Superior. É bacharel e licenciado em Ciências Biológicas pelo Instituto de
Biociências da USP. É autor associado da Abrale, entidade na qual ocupou cargo de
diretoria “por cinco ou seis anos”.
Em seus relatos apreende-se que sempre nutriu uma preocupação com o bem-
estar das crianças e as condições de vida delas. Isto não se deve somente à sua
formação acadêmica. Essa preocupação vem de gerações, assim como o gosto pela
leitura e escrita. Tanto que uma poesia extraída do livro de seu pai lhe inspirou um
capítulo sobre ecologia na coleção para as séries iniciais: ―Cuidar de tudo‖.
Na entrevista mencionou o fato ocorrido em 1988 (três baleias cinzentas,
presas em um buraco no gelo do Círculo Ártico) que mobilizou pessoas de variados
grupos. Entre tantos, o Greenpeace; pessoas nativas da região; funcionários de
empresas petrolíferas e até americanos e russos, históricos inimigos durante a
Guerra Fria. Anos mais tarde, em 2012, foi lançado o livro ―O Grande Milagre‖, no
Brasil publicado pela Editora Rocco. No mesmo ano o livro virou pipoca. Produzido
pela Universal Pictures, logo nas três primeiras semanas o filme faturou em
bilheteria quase U$ 19 milhões nos Estados Unidos.
Tinha uma poesia do meu pai sobre as três baleias que foram presas no Ártico. Não sei se você está lembrada. No final da década de 80, três baleias ficaram presas debaixo da calota e havia um só buraco no gelo, onde elas subiam para respirar. [...] iam morrer, exaustas ou de fome. E aí, barcos russos, americanos, helicópteros, aviões, ONGs, o mundo todo preocupado com as três baleias. No Jornal Nacional toda noite aparecia [...] Uma comoção mundial sobre as três baleias. E o meu pai escreveu uma poesia que eu pus no livro [...]. E eu começava o capítulo assim: [...] Quem cuida da sua casa? [...] (AUTOR I, 22.08.2017).
A trajetória de formação do Autor I transcorre as décadas de 1960 e 1970,
quando o Brasil vivia a crise do populismo e depois a reorganização do sistema
político e a aceleração do processo de internacionalização da economia. Destaca-se
140
que nesse período houve a expansão econômica e o acelerado desenvolvimento do
setor industrial, principalmente dos setores químico, automobilístico e eletrônico e
também a adaptação da política ao modelo de internacionalização da economia com
a reordenação das formas de controle político e social, bem como a concentração de
renda e o aumento dos problemas sociais e ambientais.
Quando inaugurou um novo período autoritário, o sistema educacional passou
por mudanças significativas e grande parte pode ser identificada na entrevista com o
Autor I. Seus relatos compõem o que podemos chamar de contemporaneidade do
passado, um lugar de memória situado no tempo e no espaço, um passado
reconstituído por uma memória viva com exemplos concretos.
O Autor I também fez menção aos acordos de cooperação internacional que
influenciaram as mudanças na educação e no ensino de ciências.
Quando eu estudei Biologia não havia livro ainda, praticamente. Mas logo começaram a usar. Isso foi no final da década de 60, o BSCS – Biological Science Curriculum Study, acho que era isso. Dizem que os americanos tinham feito porque eles perceberam que estavam ficando pra trás dos russos em... o Sputnik, década de 50. E aí lançaram um ensino, era o BSCS, o FSCS de Física e o de Química. Eram livros, assim, extraordinários. Mas, difíceis de seguir. Como professor não tinha jeito e os alunos, então, não iam nem... mas eram muito melhores [...] (AUTOR I, 22.08.2017)
92.
Nos anos finais da década de 1960, o Autor I frequentava a educação básica
na rede privada de ensino em São Paulo. Foi nessa época que um professor,
92
As mudanças na educação e no ensino no Brasil foram influenciadas pelos EUA, principalmente
através de acordos de cooperação internacional desde o final da década de 1950. No caso do ensino de ciências, essa influência consistiu na absorção das principais ideias de renovação dos projetos norteamericanos traduzidos, adaptados e difundidos no Brasil nos anos 1960. Dois fatos simbolizaram o início da modernização ocorrida nos anos 1950 nos EUA: a explosão da bomba H, pela URSS, meses depois de os EUA terem desenvolvido esse artefato, e o lançamento, também pela URSS, em 1957, do Sputnik I, o primeiro satélite artificial com órbita ao redor da Terra. Segundo Fracalanza (1993), tais eventos foram muito explorados pela mídia e criaram as condições propícias para reforçar a ―guerra fria‖, reorganizar o sistema de defesa, ampliar os gastos com a pesquisa, inclusive a militar, e promover um esforço concentrado de modernização industrial com vistas ao desenvolvimento das indústrias aeroespacial, de comunicações e dos diversos ramos a ela associados. Nos EUA, o movimento de renovação ocorreu no âmbito institucional, alicerçado pela vontade política e considerável soma de recursos governamentais, com base nos pressupostos de que a ciência, apresentada como conhecida pelos cientistas, seria interessante para todos os estudantes e o conteúdo poderia ―ser ensinado de uma forma intelectualmente honesta para qualquer aluno em qualquer estágio de desenvolvimento‖. Medidas complementares acompanharam tais mudanças, no sentido de assegurar educação e treinamento em ciência e engenharia aos futuros quadros técnicos e científicos, extensivas aos níveis anteriores de escolaridade. Para tanto, a elaboração de novos projetos de ensino foi estimulada, inicialmente nas áreas de Física e Matemática e depois de Química, Geociências e Biologia, com a participação de diversos pesquisadores ligados às áreas das Ciências Naturais, educadores e psicólogos (YAGER, 1981 apud FRACALANZA, 1993, p. 118).
141
pessoa marcante e presente ao longo de sua trajetória profissional, despertou seu
interesse pelas ciências biológicas e ele foi estudar na USP.
[...] Em 1966 eu estava no Terceiro Científico, como era chamado à época o Ensino Médio e um professor de Biologia foi excelente. Ele recuperou coisas que a gente tinha perdido no primeiro e no segundo ano. E eu acabei gostando muito de Biologia e entrei na USP. Eu entrei em 67, mas fiz CPOR
93 em 68, um ano muito agitado. Acabei não fazendo faculdade
aquele ano. Seria o segundo ano, né [...] (AUTOR I, 22.08.2017).
Ao refletir sobre sua formação, o Autor I se mostrou crítico em relação às aulas
ministradas à distância, através da TV.
Bom, talvez seja absurdo o que eu estou falando, mas, a Pedagogia, do jeito que eu, aspas, “aprendi na USP”, é um negócio muito esquisito. São aquelas matérias: Psicologia Educacional. Eu tive na TV, na época, começo da década de 70. Não sei se você ouviu falar disso. A gente ia para os galpões lá embaixo, na USP, na cidade universitária, toda a Filosofia, Biologia, Física, Matemática, Português, História, Geografia. Entrávamos em salas, havia televisores, o professor Fromm falando 20 minutos, 30 minutos, falando sozinho ali no vídeo. Aí a gente ia para outras salas e distribuía um monitor. Aluno da Psicologia discutia alguma coisa, mas ninguém queria discutir coisa nenhuma, dava uma provinha tipo teste, que todo mundo colava. Isso era Psicologia Educacional da USP. Estrutura e Função, Estrufunc. Era uma coisa que todo mundo queria assinar e fugir. Ninguém assistia aula nenhuma. Então a pessoa ficava falando lá da Reforma Capanema e do ginásio de cinco anos e ninguém ouvia. Era um desinteresse dos alunos. Mas também, do jeito que era dado... Didática foi muito ruim também. E tinha Prática de Ensino, que era dada por um professor específico, de Biologia, e eu peguei a professora (nome), não sei se está viva ainda, mas ela sabia que ninguém dava bola pra aquilo e dava nota pra todo mundo (AUTOR I, 22.08.2017, aspas do entrevistado; grifo da pesquisadora).
“Eu me formei em 72. Fiz as Ciências Biológicas. Na época estava acabando
de ser História Natural”.
93
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva - Exército Brasileiro.
142
Quadro 3 - Principais características dos cursos de História Natural e de Ciências Biológicas.
Fonte: Adaptado de Rondon Mamede Fatá (2008).
Seguindo as tendências da época, os cursos de História Natural foram
gradativamente mudando seus currículos, diminuindo as cadeiras ditas científicas,
aumentando a carga horária e o número de disciplinas pedagógicas.
Vale esclarecer que os cursos de História Natural se caracterizavam por uma
visão mais contemplativa, de descoberta da natureza, sem que houvesse grande
interferência sobre ela. A formação era mais focada na preparação de estudantes
para o bacharelado. Sendo a pesquisa o principal objetivo, as/os estudantes
recebiam uma sólida formação, especialmente em Biologia, Zoologia, Botânica e
Geologia. Ao longo do tempo, o curso de Ciências Biológicas foi sendo modificado,
até mesmo para atender ao aumento do campo de trabalho, principalmente após a
Rio-92, quando vários estados e prefeituras criaram as secretarias de Meio
Ambiente. No entanto, a fragmentação tornou-se mais acentuada em virtude da
multiplicação de disciplinas nos cursos. A separação em áreas específicas passou a
acontecer já na metade do curso de graduação, em segmentos tais como: análises
clínicas e meio ambiente, com vistas à pós-graduação (FATÁ, 2008, p. 2).
O nosso ensino, em Biologia, eu vou falar na USP, especificamente, não tem nada que ver com o que a gente vai trabalhar na escola. São dois níveis absurdamente distantes e que uma coisa não serve para a outra, no fim. Eu imagino que as faculdades de Licenciatura e de Bacharelado não deveriam ter como diferença três, quatro cadeiras pedagógicas [...]. Não tem nada que ver estudar a fisiologia das ascídias e depois você vai mostrar no Ensino Médio e Fundamental coisas mil vezes mais simples. Pelo menos na USP é assim. Na faculdade onde eu dei aula, em Guarulhos, era mais simples. Eu diria até mais próprio para formar professores que vão dar aula, particularmente na rede pública, onde, infelizmente, o nível dos alunos e dos professores está um pouco abaixo do que em outras escolas. [...] Mas aquele grupo mais simples, como é que eles vão dar aula? Eu não tenho
História Natural Ciências Biológicas
Maior tempo de contemplação da natureza Pouco tempo de contemplação da natureza
Grandes coleções formadas no curso: animais em formol,
animais empalhados, madeiras, sementes, flores, folhas,
minerais, rochas, fósseis, conchas etc.
Formação de pequenas coleções
Não-interferência quase total no ambiente Interferência no ambiente
Formação em nível de mestrado e doutorado só ocorria
após grande tempo de trabalho
Formação em nível de mestrado e de doutorado
ocorria prematuramente
Grande visão da dinâmica da Terra Menor visão da dinâmica da Terra
143
nenhuma ideia do que pode acontecer porque eles não sabem nada. Então, eles, praticamente, têm que pegar um livro, que é um receituário e seguir aquilo, e com gabarito. Quando eu comecei a dar aula não tinha gabarito, imagina, eu não tinha livro de resposta. Não tinha manual nenhum. E quando começou a aparecer o Manual do Professor eram só respostas (AUTOR I, 22.08.2017, ênfase do entrevistado).
Nos anos 1970 a demanda por professoras/es era de tal ordem que a
licenciatura foi se tornando mais relevante comparada ao bacharelado. Nesse
período, o MEC autorizou a implantação de outros cursos de História Natural e,
posteriormente, de Ciências Biológicas, a fim de diminuir a demanda de
professoras/es. Foi nesse contexto que o Autor I iniciou sua carreira de professor.
[...] em 72 comecei a dar aula na escola onde eu tinha sido aluno. Comecei a dar aula imediatamente porque faltavam professores. A explosão de faculdades foi no começo da década de 70, justamente particulares. Então faltava professor e tinha muito dentista, médico dando aula, e eu rapidamente comecei a lecionar, mesmo ainda na faculdade. E, depois que me formei passei a dar aula na escola onde eu tinha estudado (AUTOR I, 22.08.2017).
O aumento das matrículas nesses cursos impulsionou a formação de
profissionais habilitados ao exercício das disciplinas curriculares de Ciências no 2º
grau. As soluções para atender a demanda de professoras/es envolveram também
aqueles com curso superior sem licenciatura e os que tinham somente o 2º grau
poderiam fazer o curso e o concurso promovidos pelo MEC. Os candidatos
prestavam três provas no concurso: de didática, de conteúdo específico e de prática
de aula. Após a aprovação recebiam um registro para lecionar em locais onde não
houvesse profissionais com curso superior. Ou seja, quase todo o Brasil (FATÁ,
2008).
Foi no período de 1970 a 1980 que as instituições de ensino superior
cresceram aproximadamente 38% em relação ao total. No setor público o
crescimento foi de 29,8%, mesmo com a redução de seis instituições no montante
total desse setor, no mesmo período. Já a expansão no setor privado chegou a 40%
(COSTA, 2016).
Quantas faculdades razoáveis têm? Eu falava da explosão na década de 70, o Ministro Passarinho, que era da Educação, ele mandou abrir em tudo quanto é canto. [...] Aí na década de 70 explodiu. Eu dava aula em Guarulhos, na década de 80, pra classe de 140 alunos, havia oito classes no noturno. Eu dava aula pra mais de 1.000 alunos e 80% não sabia nada. Então tinha uns cinco ou seis por cento ali na frente que eram bons alunos, que poderiam fazer a USP sem problemas, apenas não fizeram porque não passaram uma vez ou não... sei lá... (AUTOR I, 22.08.2017).
144
Nota-se que quanto mais distante maiores são as dificuldades em conseguir
informações. Vale assinalar que elas podem ser divergentes em relação aos
números.
Tabela 1 - Instituições de Ensino Superior e as Matrículas, por categoria administrativa (1965-1980).
(*) Dados inexistentes Fonte: Durham (1998, 2003 apud Costa, 2016, p. 98).
São também dessa época a determinação e ordenação por períodos, séries,
faixas ou etapas a serem vencidas para as/os estudantes completarem seus
estudos, em todos os graus de ensino94. Como observa o Autor I, alguns aspectos
precisam ser considerados.
O Autor I conciliou o trabalho de professor na rede particular de ensino e outro,
junto ao Estado, atuando como Biólogo. Isto porque nessa época estava próximo de
se casar e precisava pagar o apartamento que havia comprado. Então “[...] eu dava,
sei lá, acho que 52 aulas e tinha mais 30 horas de trabalho como Biólogo”. Na
proporção, 90% do seu salário tinha origem nas 52 aulas e os 10% restantes no
trabalho de Biólogo.
A carreira de Biólogo foi em uma época em que o governador, acho que era o Paulo Egydio
95 ou o Laudo Natel
96... instituiu um negócio chamado NU –
Nível Universitário: tinha o salário básico e um incremento de acordo com a procura do profissional fora do Estado. A procura por Biólogos fora das instituições públicas era zero na época. Então não teve. O NU do Biólogo foi zero. Do Químico, do Físico e do Médico foi maior porque eram procurados na indústria. O Biólogo na época tinha nada. Agora tem pouco, mas antes tinha nada. Então, o vencimento era risível (AUTOR I, 22.08.2017).
94
Cf. Lei de Diretrizes e Base de 1971 - Lei 5692/71. Disponível em: <https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128525/lei-de-diretrizes-e-base-de-1971-lei-5692-71>. Acesso em: 22 ago. 2017. 95
Paulo Egydio foi o décimo-segundo governador do estado de São Paulo (15.03.1975 a 15.03.1979), eleito indiretamente durante o governo de Ernesto Geisel, pelo então colégio eleitoral. 96
Laudo Natel foi por duas vezes governador de São Paulo. A primeira, entre 6 de junho de 1966 a 31 de janeiro de 1967, deu-se quando, como vice-governador, substituiu o então governador Adhemar de Barros, cassado pelo governo militar brasileiro. A segunda, entre 15 de março de 1971 e
15 de março de 1975, quando foi eleito, de maneira indireta, pelo colégio eleitoral.
Total Privado Público Total Privado Público
1965 * * * 155.781 67.795 88.986
1970 639 478 161 425.478 214.865 210.613
1975 860 645 215 1.072.548 662.323 410.225
1980 882 673 209 1.377.286 885.054 492.232
Instituições de Ensino SuperiorAno
Matrículas
145
Não era um funcionário efetivo do Estado, mas trabalhou na Campanha de
Combate à Esquistossomose e contribuiu para o desenvolvimento do Mapa
Planorbídico do Estado de São Paulo (figura 1).
Esclarecemos que a Esquistossomose é uma parasitose endêmica com
predomínio nas regiões Sudeste e Nordeste do Brasil. Parasitoses são doenças
causadas por agentes patogênicos tais como vírus, bactérias, protozoários, fungos e
vermes. Podem ocorrer por contato direto, ou indireto, através de vetores. As
principais causas são a exposição a ambientes insalubres. Além da
Esquistossomose, podemos citar outras doenças tais como: Leptospirose, Disenteria
Bacteriana, Febre Tifoide, Dengue e outras doenças infecciosas. As principais
causas são a exposição a ambientes insalubres.
Figura 1 - Campanha de Combate à Esquitossomose. Fonte: Ramos; Piza (1971, p. 271).
Esse foi um conhecimento que frutificou anos mais tarde, na década de 1990,
quando começou a escrever livros didáticos. Aproveitou essa experiência para
despertar o interesse de estudantes até mesmo no sentido de formar novas
gerações de cientistas biólogos.
Eu gostei muito, usei nos livros para escrever coisas. Não da Esquistossomose em si, dos caramujos em si, mas do jeito de fazer ciência,
146
do jeito de fazer experimentos, porque nós fizemos na campanha uma tentativa de controle biológico do caramujo vetor da Esquistossomose. Fomos ao Mato Grosso buscar caramujos que faziam competição com o caramujo vetor. E isso foi feito em Porto Rico, pelos americanos, e deu certo. E eles usaram caramujos nossos. Nós trouxemos caramujos de Mato Grosso, de Miranda pra São Paulo, usamos nos laboratórios. Eu e um médico pesquisamos durante alguns anos. Fizemos experimento no ambiente fechado e não resultou nada positivo no nosso ambiente, com o nosso clima. Os caramujos conviveram com aquele que deveria competir como problemático. Não deu certo. Foi uma tentativa infrutífera. Mas, como ciência foi muito interessante usar o método científico de um modo prático para obter diminuição da Esquistossomose no Estado. No Brasil, à época, havia cerca de 10% das pessoas com Esquistossomose. [...] É... esse tipo de coisa entra na gente e eu acho que em parte isso vai para os livros também. Na hora que você escreve põe um pouco de si [...] (AUTOR I, 22.08.2017).
Autor U, o físico que trabalha com papel, lápis e realidade
O Autor U tem 49 anos, casado, pai de dois filhos, “um garotinho de 5 anos (2º
casamento) e uma garotona de 25 anos (1º casamento)”. ―Após a separação, minha
filha veio morar comigo. Fui, digamos, pai “solteiro” por cerca de 10 anos, até ela
passar na faculdade e morar fora. Hoje ela está em São Carlos” (AUTOR U,
22.08.2017).
É coautor de obras didáticas de Ciências Naturais dirigidas ao Ensino
Fundamental II, desde 2009. Entre suas produções encontram-se artigos publicados
nas revistas "Educação" e "Sinpro Cultura" e apresentação de um programa ―Dicas
do Vestibular‖ em uma emissora de rádio de frequência modulada, no interior de São
Paulo. É coordenador da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual
Paulista (Vunesp) e membro de diretoria do Sindicato dos Professores de Campinas
e região.
“[...] eu tenho muito essa coisa democrática, de socialização [...], essa coisa de
construção. [...] Eu gosto da construção”.
Não é surpreendente que tenha sido eleito conferencista e delegado da
Conferência Nacional de Educação 2010 e 2014 pelo estado de São Paulo.
[...] tiveram as conferências municipais, as estaduais, regionais que culminaram na Conferência Nacional 2010. E tivemos a mesma coisa para 2014. Tinha participação não só de professores, de gestores, o estudante também estava lá [...]. Tinha gente boa lá. Tinha gente de qualidade. [...] era bastante ampla e [...] tinha uma conotação democrática. Foi bem ampla. Tinha gente de esquerda, gente de direita, todo mundo trabalhando pra sair um negócio de acordo. Saiu. [...] Nós criamos um Plano Nacional de Educação vinculado a um sistema nacional de educação. Então aquilo ia ser
147
construído. Tinha um rumo. [...] o problema é que quando o Congresso vai analisar o plano para institucionalizar, o negócio mela. [...] o Plano Nacional de Educação que foi elaborado na Conferência Nacional em 2010 só foi votado em 2015. Quer dizer, cinco anos. E tinha sido já a segunda, em 2014. [...] que tanto mexe? [...] o Fórum foi destituído porque a gente estava cobrando. Eu falo a gente porque eu estava no Fórum, né. A gente estava cobrando a Conferência 2018, e aí foi destituído o Fórum e vai ter a Conferência, mas não vai ter a Conferência, ninguém sabe. Então nós estamos fazendo uma Conferência Popular. [...] porque, assim, uma Conferência Popular tem outra conotação, né (AUTOR U, 22.08.2017).
É licenciado em Física pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Rio
Claro. Atua como professor do mesmo componente curricular há mais de 25 anos
em escolas da rede privada de ensino e há 18 anos em um dos maiores sistemas de
ensino originários de São Paulo.
No início dos anos 1990 mudou-se com a família, de São Paulo para Rio Claro,
para cursar o mestrado em Física aplicada à Geologia, na Unesp. Quando estava
preparando a qualificação faleceu seu Orientador, Sérgio Maniakas. “[...] a morte
dele me abalou mais do que não achar um novo Orientador”.
Passou pelo exame de qualificação, mas não chegou à defesa. “[...] fiquei sem
bolsa, sem orientação e com uma família para sustentar”.
[...] há universidades, cursos e docentes dos mais variados níveis e humores... no departamento de Geociências de Rio Claro, na Unesp, onde eu fazia o mestrado os docentes eram excelentes, mas boa parte não tinha o menor comprometimento com os estudantes. Sem falar na vaidade generalizada deles... não havia sequer o pensamento de coletividade. Já na USP em São Carlos e na Unicamp, a experiência que tive foi bem diferente. [...] Fiquei decepcionado com o departamento de Geociências que pouco se importou comigo. Eu já era casado e tinha uma filha. Já tinha mudado de São Paulo para Rio Claro pra fazer o mestrado. Era difícil me readaptar a uma nova realidade... Minha bolsa de estudos tinha saído no início do ano e em seguida meu Orientador morreu e a cortaram. Fiquei sem bolsa, sem orientação e com uma família para sustentar... Isso o departamento de Geociências não avaliou... Fiz o que dava para ser feito. Por se tratar de um tema muito restrito foi difícil encontrar um novo Orientador que desse sequência no meu mestrado. Os que se propuseram a me orientar sugeriram que eu mudasse de tema. Depois de quase um ano acabei desistindo. [...]. Eu queria ter dado sequência à minha tese, não queria mudar. [...] A minha tese era contundente. Se tivesse que mudar eu iria para outra área e foi o que fiz tempos mais tarde (AUTOR U, 01.11.2017).
Embora tenha sido necessário interromper os estudos por um período, dessa
vez para se dedicar ao trabalho com livros didáticos, está seguindo com o curso de
mestrado em Filosofia da Ciência, na Unicamp. [...] “A Unicamp pra mim, hoje, é um
sonho!”.
148
Sempre estudou em escola pública e “[...] por estar metido em tudo quanto é
coisa de movimento social” mantém contato com professoras/es em diversas regiões
do país. Também participa de oficinas principalmente na rede pública de educação,
um dos contextos nos quais notamos presente a capacidade de outrar-se e de
trabalhar com a realidade de maneira criativa.
[...] eu percebo assim, nós temos muita informação, muito conteúdo aqui. Sai daí desse grande centro, o professor precisa de tudo. [...] às vezes eu faço oficinas de professores e chego lá e falo: [...] que realidade é essa? [...] e eu vou para o lugar assim: eu levo papel e lápis, só. Lá, eu vou ver qual é a realidade. E eu tenho que inventar alguma coisa em cima daquela realidade. É um teste pra mim também. [...] eu acho que é a maneira que eu tenho de incorporar aquilo que o professor que está lá vai fazer. [...] foi uma ideia, a gente começou a pensar em sucatas, [...] aproveitar as sucatas. Só que a gente tem que saber também qual é a sucata que você tem em cada região. E o que é que o professor entende como sucata, né [...] (AUTOR U, 22.08.2017).
3.3 Estratégia de análise do corpus
Em sintonia com a proposta metodológica da hermenêutica de profundidade, a
análise foi organizada didaticamente em três etapas: pré-análise, exploração do
material e o tratamento dos resultados. Este procedimento implica a realização de
leituras flutuantes de todo o material para captar as primeiras impressões e também
indicadores, descrições, unidades de informação, de contexto e/ou aquelas que são
temáticas.
Assim como em outros estudos realizados no NEGRI adotamos procedimentos
da análise de conteúdo com base em Bardin (2011) e Rosemberg (1981; 1984). De
modo geral, a análise de conteúdo designa
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011,p. 48).
Para sistematizar os resultados primeiramente consideramos um processo de
codificação seguindo regras que permitem transformar os dados brutos mediante
recortes. Geramos um banco de dados da pesquisa e organizamos parte das
informações em planilhas Excel, agrupadas e reagrupadas conforme a necessidade
de apresentação. Assim, sempre que necessário incluímos o uso de quadros,
149
complementados por falas das/os entrevistadas/os. Procuramos organizar a
apresentação de resultados em níveis ou dimensões, a fim de alcançar uma análise
dos discursos capaz de esclarecer as características do corpus.
Entendemos que a produção das formas simbólicas e sua interpretação são
processos que envolvem a aplicação de regras, códigos, convenções, referências e
contextos de vários tipos e exibem uma estrutura articulada. Ressaltamos que o
termo estrutura, do modo como usamos aqui, não deve ser confundido com
estruturalista. Embora empreguemos métodos de análise estrutural quando é útil
assim proceder, nosso marco referencial procura relacionar os interesses
correspondentes com o significado e com o contexto.
3.4 Resultados
Os resultados seguem apresentados em eixos de análise, vistos em sua
complexidade como dimensões analiticamente distintas, mas não separadas de um
processo interpretativo complexo.
Assim, no primeiro eixo enfocamos aspectos formais e de expressividade
captados nas entrevistas. No segundo trabalhamos com dados agrupados e
apresentamos uma caracterização do universo de autorias de livros didáticos de
Ciências Naturais, um perfil das/os autoras/es entrevistadas/os e das equipes das
quais participam como coautoras/es. No terceiro eixo procuramos apresentar uma
interpretação pautada na hermenêutica do cotidiano, a qual nos permitiu situar as
falas das/os entrevistados em contextos sociais concretos e captar modos pelos
quais as formas simbólicas produzidas circulam e são recebidas. No quarto eixo
focalizamos o livro didático de Ciências Naturais como veículo de transmissão
cultural. De maneira geral, neste eixo procuramos compreender os processos de
suas composições, investigar tensões e brechas entre estabilidade e mudança
implicadas na produção das obras didáticas. No quinto eixo focalizamos os campos
de interações para identificar a posição dos agentes. Por fim analisamos as
consequências da contextualização das formas simbólicas, a valorização das obras
didáticas para além das/os profissionais que as escrevem.
150
3.4.1 Dando vida às palavras
As entrevistas totalizaram pouco mais de dez horas de conversas gravadas em
áudio. O tempo médio das gravações foi de duas horas e meia (maior do que o
tempo calculado, de aproximadamente uma hora e meia por entrevista).
Quadro 4 - Duração das gravações em áudio, por entrevista.
Fonte: Banco de dados da pesquisa.
Embora o que mais interessa em nossas análises seja o conteúdo e não a
forma, no quadro 5 é possível visualizar a extensão geral das entrevistas e verificar
que os aspectos formais variaram.
Quadro 5 - Extensão geral das entrevistas, por indicadores.
Fonte: Banco de dados da pesquisa. (*) Inclui as entrevistas e as conversas por e-mail, whatsApp e messenger.
A extensão do corpus de análise resultante da segunda entrevista foi maior
quando comparada às demais. O corpus resultante da primeira e terceira entrevistas
quase se equiparam e o da entrevista 4 é o menor em extensão.
É importante destacar que as entrevistas não se sobrepõem umas às outras.
Elas se complementam e estão relacionadas de formas distintas com diferentes
movimentos. Particularmente neste estudo, parte disso se deve ao fato de que
Nº da Entrevista Entrevistada/o Gravação em áudio
Piloto - 1 Autora A 2h03m53s
2 Autora B 3h55m22s
3 Autor C 2h45m02s
4 Autor D 1h24m24s
10h08m41sTotal
Páginas PalavrasCaracteres
(sem espaço)
Caracteres
(com espaço)Linhas
Autora A 31 17.294 81.212 98.549 1.237
Pesquisadora 5 1.814 8.981 10.803 138
Subtotal 36 19.108 90.193 109.352 1.375
Autora E 41 24.379 113.310 137.977 1.723
Pesquisadora 16 5.113 23.893 29.003 614
Subtotal 57 29.492 137.203 166.980 2.337
Autor I 26 15.815 72.765 88.697 1.111
Pesquisadora 5 2.756 13.408 16.275 210
Subtotal 31 18.571 86.173 104.972 1.321
Autor U 14 8.070 36.646 44.850 573
Pesquisadora 7 3.386 15.867 19.254 247
Subtotal 21 11.456 52.513 64.104 820
145 78.627 366.082 445.408 5.853Total geral
2
3
4
Indicadores
ParticipantesNº da Entrevista
1 - Piloto
151
nossas perguntas vão se tornando melhores à medida que melhoramos nossa
compreensão sobre os sistemas organizacionais, as relações entre os campos de
interação e os sujeitos que deles participam.
Cabe à pesquisadora emprestar significância aos dados aparentemente mais
simples, captar nas brechas das discussões novas linhas de indagações e colocar
em relação coisas que poderiam parecer desconexas. Diferente de apontar uma
cisão, as categorias elencadas procuram mostrar que da interação entre
pesquisadora e entrevistadas/os resulta um conhecimento que é construído
socialmente, de modo colaborativo.
Durante as entrevistas não ocorreu momento de silêncio. Tivemos quatro
pausas solicitadas pelas/os entrevistadas/os, duas para água e café e duas para
atender telefone. Um autor interrompeu sua fala para silenciar notificações de seu
celular, porém a gravação não foi interrompida.
A única ocorrência de barulhos externos foi observada nos últimos trechos da
segunda entrevista. A poluição sonora causada pelos incontáveis novos
empreendimentos do mercado imobiliário paulistano deixou para trás a ideia de que
morar em um bairro tradicional de casas com grandes terrenos, em meio a praças e
ruas arborizadas é estar em um local de paz e qualidade de vida.
Tá horrível isso hoje. Estamos agora com uma revolução na Vila [...]. Vai aparecer tudo na sua gravação. Que tristeza! Essa entrevista nós não vamos conseguir fazer igualzinha jamais. Porque essa é assim de chofre, né. Vai falando espontaneamente. Bom... (AUTORA E, 17.08.2017).
Em nenhum momento solicitaram-me que desligasse o gravador. Foram raras
as ocasiões em que o aparelho foi objeto de observação por parte das/os
entrevistadas/os. Além da situação anteriormente mencionada, houve poucas
ocorrências e foram pontuais, quando se referiram a questões particularmente
delicadas ou fariam referência a algo pessoal; ao colocar um adjetivo ou expressar
livremente um pensamento específico.
É possível que o microfone não tenha impactado de forma negativa, pois
mesmo nas situações referidas, as falas vieram acompanhadas de um riso do qual
por vezes compartilhei. Alguns exemplos: “[...] Tá gravando, mas... (riso)”; “Esse (...)
é entre nós, não vai entrar na sua tese (risos)”; “Está gravando (riso). Bom, mas vou
ser honesto de qualquer forma”.
152
Nessas ocasiões sempre reafirmei às/aos entrevistadas/os a garantia de
poderem rever suas falas, modificá-las e/ou retirá-las. Embora nas revisões das
entrevistas transcritas as/os entrevistadas/os não tenham modificado essas
passagens, não custa repetir aqui que se porventura dissessem algo confidencial
continuaria e continua a ser preservado.
Foi necessário redobrar a atenção na entrevista em que utilizei somente o
tablet. Ao captar meu receio, o Autor U reafirmou sua disponibilidade caso algo
desse errado. “[...] Tá tudo certo? (riso)”. [...] Ah, tranquilo. Se der chabu, a gente
grava de novo, outro dia, outra hora, sei lá (riso)”.
As risadas tiveram presença garantida em todas as entrevistas. Foram 185
passagens risonhas, de humor inteligente, preenchidas por risos diversos. Risos de
felicidade e satisfação; risos de indignação, às vezes de angústia; risos de
constatação; risos de prazer ao contar uma piada sobre si e outros risos
intencionais, de vez em quando se referindo à minha mineirice.
Alguns exemplos: “[...] Falei de Minas só pra te... (risos)” (AUTOR U,
22.08.2017). “Ah, então a água se renova... uai, gente, por que essa preocupação
com a água? (risos)” (AUTORA A, 01.06.2017). “[...] a piada que eu faço lá ninguém
nunca riu, mas um dia vão rir ainda (risos). A minha piada, eu rio sozinha dela
(risos)” (AUTORA E, 17.08.2017). “[...] e eu lembro que eu usei, na década de 60,
uma coisa horrorosa para tentar segurá-los: eu ditava algumas questões”. “Enquanto
você dita (risos), eles ficam em paz. Imagina se isso é pedagogia?” “[...] e quando
falo de cinco sentidos, pô, pode provocar as meninas. Dizem que a mulher tem seis
(risos)”. “[...] os quatro elementos. Isto é... (riso) Empédocles. Não sei... 200, 300
anos a.C. já se falava nesses quatro elementos [...]. Olha só que coisa doida (risos)”
(AUTOR I, 22.08.2017). “Detesto a lei da mordaça (risos)”. “Ai meu deus, que
situação que nós estamos neste país, né! (risos)” (AUTOR U, 22.08.2017). “[...] não
vamos perder o núcleo indignação (risos), que é a nossa veia”. “[...] mais uma coisa,
né, que está desgovernada (risos)”. “[...] o problema continua lá, impávido (risos)”
(AUTORA E, 17.08.2017). “[...] e aí as pessoas: o que é que a ONU tem a ver com
isso? (risos). Isso é uma coisa que eu fico assim..., a gente não sabe se ri ou se
chora mesmo. O que a ONU tem a ver com isso? (risos). É só a ONU, né!?”
(AUTORA A, 01.06.2017).
Ao transcrever as entrevistas, as palavras foram sinalizadas de maneira a
tornar possível a observação da expressividade no tom da voz das/os
153
entrevistadas/os, afinal as pessoas se comunicam através daquilo que dizem, mas
também da forma como dizem.
A expressividade pode ser captada em determinados termos e palavras que
compõem uma frase, mas também nas ênfases, na entonação e nas pausas,
comuns em toda comunicação, dependendo do contexto. Geralmente a frase
caracteriza-se por uma curva melódica, de maneira que a entonação lhe dá vida. As
palavras são organizadas para diversas finalidades e a ênfase constitui um recurso
que empresta realce, causando mais impacto. A entonação não muda o significado
das palavras, mas pode fazer muita diferença, pois serve para destacar sentido e
significado do contexto na frase.
[...] qual é a maior invenção da humanidade? Sempre se fala a roda, né? É a linguagem. Imagina! A fala, a comunicação é muito, está muito longe de qualquer roda, eletricidade ou luz, ou o que seja. É isso. Sem a comunicação, acabou. Não existia a humanidade (AUTOR I, 22.08.2017, ênfases do entrevistado).
Na totalidade das entrevistas ocorreram 56 passagens enfáticas. É possível
identificar: maior ênfase (negrito) e menor ênfase (sublinhadas) nas palavras. Da
totalidade de palavras proferidas pelas/os entrevistadas/os, somente uma foi
pronunciada em tom de sussurro. Neste único caso utilizamos o recurso do Word (X2
para criar letras acima da linha de base do texto) para diferenciar das demais
ênfases. A seguir são apresentados alguns exemplos.
―Como cidadão, a gente precisa se entender como parte do ambiente”. [...] Eu
falo isso de vivência infantil, que é aquela mais fundamental, que você guarda,
assim, no seu “DNA”, né (risos), entre aspas (risos), mas, no seu código pessoal
(AUTORA E, 17.08.2017). “Eu vi professores formados em Português dando aula de
Química, no Ensino Médio. Quer dizer, uma coisa impressionante!” “[...] e tem um
mundo de técnicos da educação que ficam enclausurados em secretarias
consumindo o dinheiro público que não chega no professor.” “[...] temos que acabar
com o analfabetismo. Isto é um absurdo! Poxa vida!” (AUTOR I, 22.08.2017). “Eu
acho que a escola está ficando muito velha, diante da pressão que o mundo digital
trouxe, né” (AUTORA E, 17.08.2017). “[...]. Quando a gente teve os Parâmetros
aparece lá Meio Ambiente como tema transversal, toda a discussão. Só que no lugar
de você ter que pensar então, por não ser uma disciplina, por trazer questões
transversais, disciplinares, transdisciplinares, deveria estar presente no projeto
154
pedagógico e estar mais presente..., acaba que ninguém trabalha” (AUTORA A,
01.06.2017). “[...] Isso é eugenia.” “[...] quer dizer, a ciência é extremamente
complexa. Colocar isso num livro para crianças de 10, 12, 14 anos é muito
complexo.” “Por muita sorte tive a oportunidade dos livros porque senão eu ia ficar
falando para as paredes” (AUTOR I, 22.08.2017). “Obaaa! Então, quer dizer, essa
alegria, né, de acertar e de fazer uma revisão bem feita, sabe?” (AUTORA E,
17.08.2017). “[...] eu estou discutindo Educaçãooo!”. [...] eu me pego numa situação
como essa... eu sou meio assim, meio subversivo” (AUTOR U, 22.08.2017).
3.4.2 Uma obra escrita a muitas mãos
As/os entrevistadas/os compõem um universo amplo de 94 autoras/es (49
mulheres e 45 homens), identificadas/os a partir dos Guias de Livros Didáticos –
Ciências Naturais resultantes das seis últimas edições do PNLD – séries finais do
Ensino Fundamental – 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 e 2017.
Ressaltamos que o recorte é estratégico considerando que a produção e
avaliação de livros didáticos sofreram influências dos PCNs, quando o mercado
editorial foi aberto a novas/os autoras/es, preferencialmente àqueles e aquelas que
compreendessem as diretrizes estabelecidas por esse instrumento legal, entre
outros97.
“Nós vamos voltar a ter autor sabe quando? No futuro, quando os livros não
satisfizerem os professores. Do jeito que eu virei autora, vai ter professor lá no futuro
que vai virar autor” (AUTORA E, 17.08.2017)
Em nossas análises localizamos 39 títulos de obras didáticas e identificamos
três tipos de autoria: individual, composta e coletiva.
97
O ―Plano Decenal de Educação para Todos‖ foi elaborado e implantado pelo MEC em 1993, em decorrência da ―Conferência Mundial sobre Educação para Todos‖ ou ―Conferência de Jomtiem‖, cuja meta principal era assegurar em dez anos (1993 a 2003), às crianças, jovens e adultos, os conteúdos mínimos em matéria de aprendizagem em correspondência às necessidades elementares da vida contemporânea. Nessa ocasião, o Brasil assumiu, junto às organizações internacionais (Unesco, Unicef, PNUD), importantes compromissos com vistas à melhoria da educação (RIBEIRO, 2013).
155
Quadro 6 - Tipos de autorias das obras didáticas.
Fonte: Banco de dados da pesquisa.
Nas obras que ostentam autoria individual (9 em 39) notamos ligeiro equilíbrio
entre os sexos (5 mulheres e 4 homens). As obras coletivas serão foco de análise
específica, mas antecipamos neste eixo que elas ostentam autorias denominadas
“editoras responsáveis”, portanto do sexo feminino. Esta característica das obras
coletivas aponta para uma possível exploração do trabalho intelectual feminino pelo
mercado editorial de literatura didática. Como veremos mais à frente, nesse
segmento os valores de remuneração diferem dos percentuais pagos por direitos
autorais.
Na medida em que a maioria das obras (24 em 39) tem autoria composta
podemos identificar até oito coautoras/es. Nota-se predominância do tipo composta
mista, no qual observamos maior presença de autorias do sexo feminino (31
mulheres e 19 homens).
Uma vez que predominam autorias compostas, distinguimos mais 11
coautoras/es além das/os entrevistadas/os, como veremos mais à frente.
Identificamos que 50% das/os entrevistadas/os são coautores em obras cujas
autorias são compostas por homens, 25% compostas por mulheres e o mesmo
percentual na categoria mista. Duas entrevistadas têm obra escrita individualmente.
―[...] Eu estava há muitos anos escrevendo com muitas pessoas e eu queria ter
aquela experiência de escrever sozinha” (AUTORA E, 17.08.2017).
Os indicadores de autoria apontam que as/os quatro entrevistadas/os são
coautoras/es de obras didáticas de Ciências Naturais dirigidas ao Ensino
Fundamental II, sendo que 50% escreveram obras dirigidas ao Ensino Médio, à
Educação de Jovens e Adultos e para as séries iniciais do Ensino Fundamental.
Entre as obras dirigidas às séries iniciais do Ensino Fundamental encontram-se
aquelas voltadas para a Educação do Campo.
N %
Composta 24 62
Composta de homens 8 21
Composta de mulheres 5 13
Composta mista 11 28
Individual 9 23
Coletiva 6 15
Tipos de AutoriaObras didáticas (N=39)
156
Quadro 7 - Indicadores de autoria, por tipo de análise.
Fonte: Banco de dados da pesquisa.
Neste foco da análise identificamos que a rede de relações pessoais constitui
um fator facilitador para a entrada no campo de publicações didáticas.
[...] porque é difícil arranjar um lugar numa Editora. O risco de você “perder tempo”, aspas, é muito grande. Porque se você fica dois, três, quatro anos trabalhando numa obra, num original, enquanto dá aulas, portanto, é fim de semana, feriado, férias e depois apresenta à Editora. Se o editor se designar a ler ou pedir pra alguém ler, já está bom. E se ele falar ―não‖ ou ―não é o momento‖ ou ―gostei, mas, é..., fica pra depois”, você jogou fora três, quatro anos (AUTOR I, 22.08.2017, aspas do entrevistado). [...] a (nome da amiga) que me levou pra Rocinha já era autora da minha atual Editora, de História. Quando ela soube, na Editora, que estavam querendo autores novos de Ciências, ela falou: ―[...], você não se interessa por livros didáticos?‖. Você vê, quer dizer, eu não tinha nenhuma ideia, acho que eu nem imaginava como seria o processo de chegar a ser autor de Ciências porque eu ficava imaginando... como deve ser? Você tem que conhecer alguém da Editora? Como é o processo? Então não era uma coisa que eu pensava. Eu gostava de escrever e ela me apresentou à Editora (AUTORA A, 01.06.2017, grifo da pesquisadora).
Identificamos que as/os entrevistadas/os iniciaram carreira na área como
coautoras/es, geralmente escrevendo em parceria com colegas mais experientes.
[...]. E lá na Editora já existia a [...]. Ela já era autora, na época de 1ª a 4ª séries, Fundamental I. Isso foi em 1999. 1998 para 1999. E aí ela, a Editora, disse assim: ―Olha, nós já temos a [...], que gostaríamos de manter‖. Então, [...] foi meu primeiro contato. E aí eu chamei mais uma amiga para escrever junto, a [...]. Depois outros dois se agregaram, de Física e Química. Então a [...] já era autora da Editora, né. Autora experiente, ela é de Pedagogia e Astronomia. Então, eu me tornei autora. Digo que mudei de pedra para vidraça porque primeiro eu meti o pau no livro dos outros, depois fui escrever livros (risos). E aí a responsabilidade de você ter a chance de fazer diferente. Então, se eu reclamava de ter um corpo fragmentado no livro, nesse eu posso fazer diferente, né (AUTORA A, 01.06.2017).
N %
Tipos de Autoria
Composta 4 100
Composta de homens 2 50
Composta de mulheres 1 25
Composta mista 1 25
Individual 1 25
Obras didáticas
Ciências Naturais - Ensino Fundamental I 2 50
Ciências Naturais - Ensino Fundamental II 4 100
Biologia - Ensino Médio 2 50
Educação de Jovens e Adultos 2 50
Educação do Campo 2 50
IndicadoresAutoria (N=4)
157
[...] quando voltei, em 1994, desse passeio a trabalho, lá da Alemanha, tive a ideia de escrever didático. E isso, motivado pelo que tinha visto na Alemanha, dentro das salas de aula e fora das salas de aula também, nas escolas. E aí lembrei que o professor [...] já era autor desde 1975. Eu o procurei e falei: e aí, como que é esse negócio de escrever livro? Eu estou já sei lá..., com 25 anos de magistério, daqui a pouco eu termino, passa o meu tempo, mas queria deixar um pouco a minha experiência noutra área, em Educação do mesmo jeito, mas... Ele falou um pouco sobre o assunto e tal, nos despedimos, mas no mesmo dia me telefonou perguntando se eu não queria escrever com ele. E aí isso caiu do céu naturalmente [...]. É claro, fiz um pequeno teste. Ele pediu pra escrever um, dois capítulos, mas gostou e a Editora gostou também, e a partir daí... essa foi uma obra de 5ª a 8ª, antigamente chamada, depois escrevi de 1ª a 4ª, uma obra de 5ª a 8ª depois foi transformada também um pouco em EJA e depois acabei escrevendo também o novo 1º ano. E do Fund I e Fund II trabalhei por, já por 20 anos agora. Comecei a escrever em 1994, mas o livro saiu em 1997 a primeira vez (AUTOR I, 22.08.2017). [...] eu entrei num projeto do [nome do sistema de ensino], em São Paulo, né, e nesse projeto já tinha o professor [...], que já era autor de livro didático e aí ele me chamou pra escrever na Editora [...]. Aí a gente montou um outro projeto pra Editora. E foi assim que eu entrei. Isso foi em 2009. Já faz oito anos. Mas foi... só foi publicado em 2011, o livro, né, então, demorou dois anos escrevendo pra ser publicado dois anos depois (AUTOR U, 22.08.2017).
Apenas a Autora E iniciou carreira com uma obra dirigida às séries iniciais do
Ensino Fundamental.
[...] Fui escrever livro didático porque eu queria ensinar os meus alunos de um jeito X e não de um jeito Y. Eu estava no Rainha da Paz em 1976, 1977 e 1978. Nesse período, eu conheci a Clélia Lagazzi Pastorello, que tinha sido coordenadora dos anos iniciais/alfabetização, mas logo que eu entrei ela saiu de lá, do Rainha, e se tornou Psicopedagoga. Ela é uma Psicopedagoga muito importante ali na área de Perdizes, viu. Você já ouviu falar dela? Ela é uma decana, é uma mulher que hoje não sei se está atuando ainda; ela deve estar encostando nos 80, mas até uns anos atrás ela continuava atuando. Então, a Clélia recebeu um convite para escrever a área de Ciências. Quem a convidou foi o professor Inaldo, de Língua Portuguesa, para a Bloch Educação. Então, como a Clélia era Pedagoga e as demais interlocutoras também, aí ela me convidou porque eu era de Ciências. Eu era muito jovem, claro. E aí nós tivemos um grupo que durou três anos e escrevemos três livros. Só um deles foi publicado. Nesse meio tempo teve problemas de doença da Clélia, da filha da Clélia que depois veio a falecer, então, realmente desmantelou o grupo. Porque quando você tem um coordenador que está sem condições e eu também não tinha noção do que era um livro didático, estava começando a aprender, não segurei essa obra. Bem, então, eu comecei a trabalhar esse livro, depois eu te mostro, eu quero te mostrar os livros, né. Chamava-se “Ciências do Visconde”, que era no tempo em que a Globo tinha essa concessão/direitos autorais do Monteiro Lobato, criou a série “Sítio do Picapau Amarelo”, né. E a Bloch Educação escreveu os livros com essa temática do Sítio, com história em quadrinho. Era uma jogada de educação e marketing (AUTORA E, 17.08.2017)
98.
98
Informações garimpadas aqui e ali apontam que o grupo Bloch ou Empresas Bloch começou a ser erguido pelo imigrante ucraniano Adolpho Bloch em 1952 e resultou em um dos mais importantes
158
Observa-se uma variação no que se refere ao tempo de experiência e atuação.
A média de tempo de experiência das/os entrevistadas/os nesse segmento é de 22
anos. Em ordem decrescente, a Autora E escreve há 41 anos, seguida do Autor I,
atuante há 23 anos. Na sequência a Autora A que escreve há 19 anos e o Autor U,
com 08 anos de experiência na escrita de livros didáticos.
Apreendemos que em média uma obra didática pode ser elaborada e
produzida em até 03 anos. De maneira geral as obras didáticas consistem em
coleções compostas por oito volumes, nas versões ―livro do aluno‖ e ―livro do
professor‖ ou ―livro do mestre‖ (04 volumes para estudantes e 04 dirigidos às/aos
professoras/es, sendo um volume para cada ano/série). É, portanto um conjunto que
pode ser organizado em volumes por ano ou únicos, inscrito/s no PNLD sob um
mesmo título e organizado em torno de uma proposta pedagógica única e de uma
progressão didática articulada com o respectivo componente curricular para o
período de vigência do edital ao qual a obra foi inscrita.
As obras didáticas passam por processos de melhoria e avaliação contínuas.
Para corresponder aos critérios de qualidade, a cada edição do PNLD as autorias
trabalham na revisão e aprimoramento, atentam à correção e atualização de
conceitos, informações e procedimentos, sejam obras derivadas, inéditas ou
reinscritas99 no PNLD.
conglomerados de mídia brasileiro, composto por duas gráficas, uma fábrica de tintas, editora e distribuidora de livros didáticos e revistas, um teatro, 12 emissoras de rádio e cinco de TV, que compunham a Rede Manchete. Dispondo de um parque gráfico considerado como um dos três melhores do Brasil, era esperado que as Empresas Bloch pensassem no mercado de livros didáticos. A partir de 1968, com a criação da Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (Colted), quando o governo tinha investido milhões de dólares nesse processo, estimulando editoras a lançarem suas obras para compras em grandes volumes foi criada a Bloch Educação com seus livros didáticos, cursos e seminários para professores. As primeiras obras foram oferecidas às Secretarias Estaduais de Educação. Dentre as coleções encontra-se o livro ―Amor à vida‖, de educação ambiental, que vendeu um milhão e duzentos mil exemplares. São dessa época a série ―Sítio do Picapau Amarelo‖. Além do livro ―Ciências do Visconde‖, tinha também ―Matemática da Emília‖, obra que consta do Guia de Livros Didáticos de 1985, quando o governo federal, através da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) retomou o Programa do Livro Didático e reconheceu aos professores o direito de indicar os livros a serem usados. A Bloch teve sua falência decretada em agosto de 2000. Em dezembro de 2002, seus principais títulos (Manchete, Pais&Filhos, Ele&Ela e Fatos&Fotos) foram leiloados. O comprador foi Marcos Dvoskin, ex-diretor geral da Editora Globo, que criou a Manchete Editora. Antes disso passou a publicar somente livros de outras editoras e seu fundador justificava que a Bloch não tinha papel para imprimir seus próprios livros. Até hoje parte da fortuna Bloch é discutida na Justiça entre herdeiros e a massa falida, composta por funcionários – como jornalistas e gráficos – que ficaram sem nada receber após o fim da Manchete e da Bloch Editores. 99
Obra derivada: criação nova resultante da transformação de obra originária. Obra inédita: aquela produzida sem tomar por base as obras já avaliadas pelo MEC, mesmo que apenas parcialmente, ou sob outro título ou autoria diversa. Obra reinscrita: aquela que teve a mesma edição ou edição anterior inscrita em outro PNLD, como também aquela que foi produzida tomando por base
159
[...] é como eu falei pra você, é um projeto, né. O livro didático acabou surgindo disso. Só que eu acho assim: o projeto só vai ficar pronto mesmo, eu acho que... nós estamos na quinta edição, eu acho que na sexta edição é que vai casar mesmo com o que a gente quer. Porque a educação também está mudando, né, e aí a gente está vendo essa mudança seguindo por essa mobilização de saberes diferentes [...] (AUTOR U, 22.08.2017).
Esses “saberes diferentes” mencionados pelo Autor U podem ser identificados
no leque diversificado de profissionais coautoras/es. Identifica-se uma variedade de
áreas de formação, sendo que pouco mais da metade (6 entre 11 coautoras/es) é
graduada em Ciências Biológicas ou História Natural e uma autora tem licenciatura
especial para professoras/es indígenas. As/os demais têm formação em Física,
Matemática, Química ou Pedagogia. Do total, mais da metade (7 entre 11) cursou a
pós-graduação stricto sensu (45% são mestres em ensino de Ciências e
Matemática, Educação ou Zoologia); (18% são doutores/as em História das
Ciências, das Técnicas de Epistemologia ou na área de Zoologia).
Quadro 8 - Indicadores das coautorias, por tipo de análise.
Fonte: Banco de dados da pesquisa.
livros/coleções já avaliados em edições anteriores do PNLD, ainda que seja agora inscrita sob outro título ou outra autoria ou publicada por outra Editora (EDITAL PNLD, 2019, p. 18).
N %
Sexo
Homem 7 64
Mulher 4 36
Formação
Ciências Biológicas / História Natural 6 54
Física 2 18
Matemática 1 9
Química 1 9
Pedagogia 1 9
Ciências Farmacêuticas 1 9
Pós-Graduação
Doutorado 2 18
Mestrado 5 45
Especialização 2 18
Atuação
Professor/a da Educação Básica 9 82
Professor/a do Ensino Superior 3 27
Professor/a da Pós-Graduação 2 18
Coordenação 3 27
Formação de Professores e Técnicos Pedagógicos 2 18
Consultoria em Educação Ambiental 1 9
Consultoria ao MEC 1 9
IndicadoresAutoria (N=11)
160
Apreendemos que 82% das/os coautoras/es (9 entre 11) atuaram e/ou atuam
como professores/as da educação básica, 27% no Ensino Superior e 18% na Pós-
Graduação. Também identificamos atuação em consultoria (uma autora prestou
serviços ao MEC; um autor realiza atividades de coordenação pedagógica em
organização não governamental e atua como consultor em educação ambiental).
Focalizando, agora, a formação educacional das/os quatro entrevistadas/os
identificamos que em sua maior parte, da educação básica ao ensino superior, tais
autoras/es cursaram em escolas públicas. Quanto à educação básica, apenas um
autor estudou na rede particular de ensino.
Na totalidade, as/os entrevistadas/os têm nível superior de escolaridade,
formadas/os em universidades públicas brasileiras, situadas na Região Sudeste. A
maioria tem formação em Ciências Biológicas e um autor é formado em Física. A
pós-graduação é ou foi frequentada por 75% das/os entrevistadas/os, sendo que um
autor está cursando mestrado em Filosofia da Ciência e uma autora é mestra e
doutora em Educação.
No que se refere ao histórico profissional apreendemos que as/os
entrevistadas/os demonstram grande afinidade com o trabalho em sala de aula e
proximidade com o universo estudantil. Na totalidade atuam e/ou atuaram como
professoras/es da educação básica, sendo que 50% acumulam experiências em
docência no ensino superior (25% na graduação e o mesmo percentual na pós-
graduação). Observa-se que como professoras/es da educação básica, 50%
conciliaram o trabalho nas redes pública e privada.
Neste foco da análise identificamos que 25% das/os entrevistadas/os atuaram
em outras áreas e pesquisas. Neste único caso, na Saúde Pública. Duas autoras
atuam formalmente na formação continuada de professoras e acumulam
experiências em consultorias diversas, em sua maioria para órgãos governamentais,
tendo participado da elaboração e/ou implementação dos PCNs, entre outros
trabalhos. Uma autora participou da equipe brasileira de apoio ao Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), como consultora do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), contribuindo
principalmente na área de Ciências.
161
Quadro 9 - Indicadores de formação educacional das/os autoras/es entrevistados, por tipo de análise.
Fonte: Banco de dados da pesquisa.
Na medida em que grande parte das/os entrevistadas/os participa ativamente
de discussões em diversos canais de mídia, 75% participam de discussões em
mídias educativas, por exemplo, nos canais Univesp TV e TV Escola (YouTube).
Destacam-se discussões sobre o Enem, direcionadas a professoras/es e/ou
estudantes que se preparam para o referido exame, depoimentos e entrevistas para
jornais e revistas de grande circulação, programas de rádio e televisão. Além dessas
e das obras didáticas suas produções incluem materiais paradidáticos e artigos
sobre uma variedade de temas relacionados à educação em seus múltiplos
segmentos.
A maioria das/os entrevistadas/os é membro de entidades de classes, tais
como a Abrale e o Sindicato de Professores da rede privada de ensino, de maneira
que em ambas as categorias tais profissionais estão representadas/os nas
conferências de educação realizadas em nível nacional, estadual e regional e
também nas Audiências Públicas sobre a BNCC. No que se referem a essas últimas,
de maneira geral as/os entrevistadas/os têm acompanhado as discussões através de
seminários e colóquios promovidos pela Abrale e outros canais de acesso, sendo
que 50% declaram ter participado presencialmente das audiências públicas. Desses,
25% participam e contribuem na organização de Conferências Populares de
Educação.
N %
Educação Básica
Escola Pública 2 50
Escola Privada 1 25
Mista 1 25
Educação Superior
Universidade Pública 4 100
UFRJ 1 25
USP 2 50
UNESP 1 25
Bacharelado / Licenciatura 4 100
Ciências Biológicas 3 75
Física 1 25
Pós-Graduação 3 75
IndicadoresAutoria (N=4)
162
Quadro 10 - Indicadores de atuação e participação das/os autoras/es entrevistadas/os, por tipo de análise.
Fonte: Banco de dados da pesquisa.
De modo geral as/os entrevistadas/os são estudiosas/os que ao longo da
carreira vêm construindo seus conhecimentos de maneira parcialmente autodidata,
sempre na parceria com professoras/es da rede, colegas e docentes universitários.
São pessoas atualizadas em relação ao cenário político, econômico, social e cultural
do Brasil e conhecem a educação brasileira de perto.
As/os entrevistadas/os situam-se na faixa etária entre 50 e 69 anos e 50% são
aposentados na categoria de “Professoras/es de Educação Básica” (1 autora pela
rede pública estadual e 1 autor pela rede privada de ensino). Na totalidade são
pessoas casadas, com filhos, sendo que a maioria tem dois ou mais. Uma autora é
avó e apenas um autor tem filho menor de idade. A maioria é residente na Capital de
São Paulo e/ou interior do Estado.
Quando focalizamos as atividades econômicas encontramos um leque
diversificado de ocupações no interior do que estamos chamando de camadas
médias da sociedade. Sem pretender discutir abordagens metodológicas que tratam
N %
Atuação
Professor/a da Educação Básica 4 100
Rede Pública 2 50
Rede Privada 2 50
Mista 2 50
Professor/a da Educação Superior 2 50
Outras áreas 1 25
Saúde Pública 1 25
Consultoria 2 50
MEC 2 50
UNESCO 1 25
INEP 1 25
Formação de Professoras/es 2 50
Outras 2 50
Participação
Elaboração / Implementação 2 50
PCNs 2 50
Pisa / Enem 1 25
Discussões em canais de mídia educativa 3 75
Presença em Conferências de Educação 2 50
Entidade de Classe 3 75
IndicadoresAutoria (N=4)
163
dessa categoria sociológica, o que as entrevistas revelam é a presença de um estilo
de vida sem excessos, rica de afetos.
[...] sempre foi hábito em casa eu acordar cedo e me divertir preparando um café da manhã gostoso e isso se manteve no segundo casamento. [...] quanto ao café da manhã e também às demais refeições aqui em casa, sempre houve uma preocupação com a sustentabilidade... claro que aspectos que surgiram ao longo da minha vida contribuíram com isso. Pra mim nunca foi fácil, sempre precisei racionar o dinheiro. A intolerância à lactose também foi outro fator. Assim, cozinho tudo aqui em casa e aproveitamos tudo também! (AUTOR U, 12.10.2017). [...] eu não sou aposentada. Porque eu parei de contribuir com o INSS há dez anos, naquele período dos anos 2000, que eu achei que ia voltar para a sala de aula e não voltei. Então, agora eu estou com vinte anos de contribuição. E aí no período do Ceará, eu também não contribuí. Eu sempre achei que os meus livros iam me dar uma aposentadoria, mas me deram muitas alegrias, um cotidiano bom, ajudando meus filhos e tal. Não posso reclamar. Mas, a aposentadoria, não me deu (risos) (AUTORA E, 17.08.2017).
Eu estou aposentado basicamente, tenho ainda um recurso dos direitos autorais, mas, como a maior parte dos professores, quase todos não têm nada disso. E a aposentadoria do INSS são dois, três, três mil e quinhentos por aí. Não se vive com isso. Ou se vive, vive de um modo bem simples. Então, ou você está trabalhando até morrer ou você tem um pecúlio que conseguiu fazer durante a vida pra essa fase que não tem mais dinheiro (AUTOR I, 22.08.2017). [...] meu filho estudou em uma escola pública aqui perto, Colégio Pedro II. Embora seja uma escola que tenha resultados de excelência, é uma escola pública e que você tem estudantes de diversas origens. Hoje em dia, diferente da minha origem, que foi uma origem humilde, eu tenho uma vida, um padrão de vida de classe média, e ele poderia estudar em uma escola aqui da zona sul, né. Foi uma opção minha, de vida. Eu quis que ele estudasse em um bom colégio, mas que fosse um colégio que recebesse estudantes de diferentes origens pra que ele pudesse vivenciar mesmo a diversidade. E acho ótimo porque, quando ele fazia trabalhos e ia na casa de estudantes, de colegas da comunidade, de estudantes de classe média também, isso foi importante. Hoje ele faz medicina e não à toa se encantou com a medicina de família. Ele gosta de ir nas casas, de escutar. Então acho que foi muito bom ele usar uniforme, comer merenda, pegar ônibus. Quando ele fez 11 anos, eu disse: vamos aprender a ir de ônibus para a escola. [...] embora eu seja uma mãe preocupada, como qualquer outra, com violência, do tipo que fala: manda um torpedo quando chegar e tal. Então, acho que a diversidade pra mim é o mais bacana (AUTORA A, 01.06.2017).
Diferente do que ocorre com a categoria ―sexo‖ que pode ser identificada nas
obras didáticas a partir das formas nominais (além dos antropônimos, os marcadores
de linguagem identificados no uso de substantivos masculinos ou femininos:
―biólogo‖, ―coordenador‖, ―bióloga‖, ―licenciada‖, ―professora‖), as categorias de
pertença étnico-racial constituem variáveis difíceis de ser identificadas ainda que
164
seja por heterodeclaração e/ou heteroidentificação100. Embora tenhamos localizado
nas redes sociais uma autora ―não branca‖ e um autor ―não branco‖,
respectivamente de Ciências Naturais e de Biologia, as obras didáticas não
apresentam essas informações sobre as autorias, em texto ou imagem.
Neste eixo de análise a pertença étnico-racial das/os autoras/es
entrevistadas/os será apresentada em seus aspectos identificadores. Esclarecemos
que no método de identificação não apresentamos categorias para escolha. Isto
porque privilegiamos a maneira como as pessoas se autodefinem. Também porque
levamos em consideração que a vivência comunitária e religiosa de uma coletividade
pode ser ilustrada pela presença de mesquitas, sinagogas, catedrais, templos afro-
brasileiros, budistas, espíritas, evangélicos entre outros espalhados pelas cidades,
inclusive em aldeias indígenas. Não desconsideramos que o país abriga ativas
organizações de pessoas ateias e agnósticas às quais a Constituição Brasileira
assegura a liberdade de não crer e de serem respeitadas em suas identidades e
dignidade.
Seguindo esta linha de raciocínio fizemos perguntas complementares: qual a
sua pertença étnico-racial? Você tem religião? Se sim, qual?
A Autora E assim se autodefine: “Sou espiritualista e me interesso por várias
religiões. Tenho horror aos dogmas. A religião com que mais me identifico é a
espírita. Sou bem brasileira... tenho ascendência indígena e branca diversa. Acho
difícil me classificar!”. Ela é paulistana e tem “uma origem fluminense também”
(AUTORA E, 09.10.2017).
O Autor I é paulistano e se autodeclara ―católico (apostólico romano)”. Ele
informa: “quando dos últimos censos no Brasil me declaro branco. Quando preencho
formulários em que não há essa classificação preencho como caucasiano” (AUTOR
I, 09.10.2017).
Assim como o Autor I, o Autor U se autodeclara “caucasiano”. Ele é paulistano
e compõe o conjunto da população que se declara sem religião e “pensa numa
educação pública, laica [...]” (AUTOR U, 09.10.2017).
Por sua vez a Autora A foi “criada na Baixada Fluminense”. Ela se autodeclara
“branca” e sem precisar ser indagada informou ter “uma visão Kardecista” e
declarou: “eu sofri um ataque em relação a minha fé”. Ela se coloca da seguinte
100
Atribuição de uma categoria étnico-racial a alguém, escolhida por outra pessoa.
165
maneira: ―eu me considero uma pessoa religiosa, sou presidente de um grupo
espiritualista, sou médium e sou totalmente defensora da escola de ensino laico [...]”.
Até aqui apresentamos a pertença étnico-racial das/os entrevistadas/os em
seus aspectos identificadores. Isto não significa que a abordagem dos aspectos
hermenêuticos será ignorada. Diferente disso, analisaremos a questão em contextos
mais amplos, como segue no próximo tópico.
3.4.3 Formas simbólicas em contextos sociais estruturados: uma análise da doxa
Neste eixo apresentamos uma análise da doxa, pautada na hermenêutica do
cotidiano, a qual nos permitiu situar as falas das/os entrevistadas/os em contextos
sociais concretos e captar modos pelos quais as formas simbólicas produzidas
circulam e são recebidas. Iniciemos pelas ―classificações censitárias‖.
Embora os termos ―raça‖ e etnia sejam geralmente associados, não são
equivalentes diretos. Etnia pode ser definida por uma ―raça‖ (determinada pelo
conjunto de características fenotípicas como a cor da pele, por exemplo). Num
sentido mais amplo, etnia compreende fatores culturais como nacionalidade,
afiliação tribal, religião ou cosmovisão, língua e tradições de determinados grupos
situados geograficamente num mesmo território (MUNANGA, 2003).
Observamos que não existe uma classificação internacional para raças ou para
etnias. Rafael Guerreiro Osório (2003) explica que as classificações censitárias são
singulares em diferentes países, produzidas pela história de cada sociedade. Assim,
por exemplo, na Índia pesquisa-se a orientação religiosa; na Inglaterra, o grupo
étnico; nas Ilhas Maurício, os grupos linguísticos. Nos censos dos Estados Unidos e
do Canadá a classificação por raça é complementada com uma classificação da
origem étnica.
No Brasil, no primeiro recenseamento geral da população, realizado em 1872,
havia quatro opções de respostas na classificação por ―cor‖: preta, parda, branca ou
caboclo. Preta e parda eram as categorias consideradas para pessoas escravizadas.
Reservada à população indígena, a categoria caboclo considerava a origem da
pessoa declarante (PIZA; ROSEMBERG, 2003). A partir do censo de 1991, com a
166
inclusão da categoria indígena, a classificação passou a ser de "cor ou raça"101 e
são definidas cinco categorias: branca, parda, preta, amarela, indígena.
Vale observar que a partir de 2020, a população quilombola poderá constituir
uma categoria no censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE)102. Atualmente, as comunidades quilombolas se autodenominam a
partir de suas relações com o território ocupado e a ancestralidade negra ligada a
ex-escravizadas/os que criaram esses espaços de resistência. De acordo com
Vinícius do Prado Monteiro, oficial do Fundo de População das Nações Unidas
(UNFPA), ―a construção de um mundo menos desigual, prevista nos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável, passa pela produção de dados e informações
sensíveis principalmente às populações em situação de maior vulnerabilidade‖.
O plano de incluir dados sobre comunidades quilombolas no Censo de 2020
vem sendo discutido desde 2016 e a metodologia está sendo sistematizada pelo
IBGE, em parceria com a Organização da Nações Unidas (ONU), em Brasília. Em
conversa com a Agência Brasil, o oficial do UNFPA explicou que as equipes
responsáveis por atualizar o modelo de levantamento trabalham para formular
perguntas adequadas ao novo propósito, já que, em suas visitas, as/os
recenseadoras/es irão considerar como quilombolas cidadãos e cidadãs que assim
se autodeclararem, a exemplo do que se verifica entre grupos indígenas. Vinícius do
Prado Monteiro assinala que "nos últimos anos, há uma tendência de melhora na
autodeclaração, na população negra como um todo. E é um processo que vai além
da questão estatística, é de identificação de cultura"103.
De fato, os resultados do Censo Demográfico 2010104 mostram que o
percentual de pessoas que se autodeclararam brancas representam 47,73% da
população brasileira. É a primeira vez na história do censo que este percentual é
menor do que a soma de pretos, pardos, amarelos e indígenas.
Os dados de 2010 também revelam crescimento da diversidade dos grupos
religiosos no país. Foram catalogados mais de 140 credos, sendo que a proporção
de declarantes católicas/os seguiu a tendência de redução observada nos dois
101
Cor é uma metáfora, um tropo para raça. 102
Cf. ONU Brasil. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/fundo-de-populacao-da-onu-ajuda-brasil-a-incluir-populacao-quilombola-novo-censo-demografico/>. Acesso em: 09 set. 2018. 103
Cf. Agência Brasil. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/censo-de-2020-deve-incluir-dados-sobre-comunidades-quilombolas>. Acesso em: 09 set. 2018. 104
Cf. Agência de Notícias IBGE. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/2013-agencia-de-noticias/releases/14244-asi-censo-2010-numero-de-catolicos-cai-e-aumenta-o-de-evangelicos-espiritas-e-sem-religiao.html>. Acesso em: 20 ago. 2018.
167
últimos censos, embora se mantenha majoritária representando 64,6%. A pesquisa
indica que paralelamente consolidou-se o crescimento da população evangélica,
cujo percentual passou de 15,4% em 2000 para 22,2% em 2010. Embora em ritmo
inferior comparado à década de 2000, houve aumento de pessoas que se
declararam espírita, de 1,3% da população (2,3 milhões) em 2000 para 2,0% em
2010 (3,8 milhões). A pesquisa censitária também registrou o aumento de pessoas
pertencentes às demais religiosidades. No conjunto da população que se declarou
sem religião também foi registrado aumento. Em 2000 eram quase 12,5 milhões
(7,3%), ultrapassando os 15 milhões de pessoas em 2010 (8,0%).
Os indicadores de cor, sexo, faixa etária e grau de instrução revelaram que os
católicos romanos e o grupo sem religião são os que apresentaram percentagens
mais elevadas de pessoas do sexo masculino. Os espíritas apresentaram os mais
elevados indicadores de educação e de rendimentos (IBGE, 2010).
[...] importante diferença dos espíritas para os demais grupos religiosos no que se refere ao nível de instrução. Este grupo religioso possui a maior proporção de pessoas com nível superior completo (31,5%) e as menores percentagens de indivíduos sem instrução (1,8%) e com ensino fundamental incompleto (15,0%). Já os católicos (6,8%), os sem religião (6,7%) e evangélicos pentecostais (6,2%) são os grupos com as maiores proporções de pessoas de 15 anos ou mais de idade sem instrução. Em relação ao ensino fundamental incompleto são também esses três grupos de religião que apresentam as maiores proporções (39,8%, 39,2% e 42,3%, respectivamente). Os católicos e os sem religião foram os grupos que tiveram os maiores percentuais de pessoas de 15 anos ou mais de idade não alfabetizadas (10,6% e 9,4%, respectivamente). Entre a população católica é proporcionalmente elevada a participação dos idosos, entre os quais a proporção de analfabetos é maior. Por outro lado, apenas 1,4% dos espíritas não são alfabetizados (IBGE, 2010).
Vistas em seus aspectos hermenêuticos as informações de pertença étnico-
racial não são informações neutras. Elas expressam categorias que passam por um
processo de politização interna e externa às instituições que as produzem e
difundem. Um processo que se dá na medida em que elas, ao informarem uma
característica fundamental da população, contribuem para a construção de
indicadores que orientam políticas setoriais, governamentais, também voltados ao
monitoramento da Agenda 2030. Ao longo de nossas análises veremos que o
sexismo, os racismos em suas diversas formas – institucional; ambiental; religioso –
entre outras discriminações, atingem as pessoas nas suas trajetórias de vida,
embora não da mesma maneira nem com o mesmo impacto.
168
Nesse sentido, consideramos que Editoras de maneira geral, assim como as
entidades de classe, tais como a Associação Brasileira de Editores de Livros
(Abrelivros), a Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos (Abrale) e a
Câmara Brasileira do Livro (CBL) poderiam contribuir para o monitoramento no setor.
Em nossos estudos identificamos que selos temáticos nasceram da falta de
espaço em grandes Editoras. O racismo institucional que muitas vezes desvaloriza a
produção intelectual de autoras/es negros/as e indígenas pode ser apontado como
um dos motivos para a menor presença da literatura africana e indígena em estantes
e livrarias, apesar do interesse do público em geral, da resistência de autoras/es e
da promoção de eventos e feiras com temáticas sobre a representatividade e a
questão étnico-racial nos últimos anos.
Na Academia Brasileira de Letras não é diferente. Num universo inferior a mil
acadêmicos, nota-se a reduzida presença de mulheres e a forte presença de
homens brancos. Nesse universo identificamos algumas dezenas de não brancos
que sentaram em uma de suas cadeiras ao longo da história. Mas, não identificamos
indígenas.
Embora tenhamos identificado a presença da literatura temática na lista
completa de finalistas do Prêmio Jabuti 2018105, publicada pela CBL, a participação
de pessoas ―não brancas‖ em eventos literários geralmente se dá pela regra da
exceção. Por exemplo, a participação brasileira na Feira de Frankfurt em 2013 o
Ministério da Cultura levou uma delegação de 70 escritoras/es. No entanto, havia um
negro, Paulo Lins e um indígena, Daniel Munduruku.
Em nossas análises identificamos que os relatos das/os entrevistadas/os
refletem a história nacional. Embora não tenham usado o termo racismo institucional,
dentre as várias personalidades do campo literário e científico, três nomes foram
destacados.
A Autora E destacou o trabalho de Germano Bruno Afonso, Prêmio Jabuti na
categoria Melhor Livro Didático (2000), "O Céu dos Índios Tembé". Ele é um dos
mais premiados cientistas nacionais e também o único brasileiro especialista em
Arqueoastronomia, uma ciência relativamente nova no país. O estudioso é
descendente de indígenas, professor aposentado da Universidade Federal do
105
Na lista identifica-se obras literárias temáticas dirigidas ao público infantojuvenil. Disponível em: <https://www.uai.com.br/app/noticia/artes-e-livros/2018/10/04/noticias-artes-e-livros,235092/camara-brasileira-do-livro-anuncia-finalistas-do-60-premio-jabuti.shtml> Acesso em: 17 de out. 2018.
169
Paraná, graduado em Física, Mestre em Ciências Geodésicas (UFPR), Doutor em
Astronomia e Mecânica Celeste pela Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), Pós-
doutor em Astronomia pelo Observatoire de la Cote d‟Azur, França. É um
pesquisador atuante nas áreas de educação ambiental; impactos das mudanças
climáticas nos povos indígenas e quilombolas; etnoastronomia indígena e
africana106.
Alfredo Boulos Júnior, autor de coleções didáticas de História, também
mencionado pela Autora E, foi destacado pelo Autor I, pela introdução da História e
cultura afro-brasileira nos livros didáticos antes mesmo da determinação legislativa
(Leis 10.639/2003 e 11.645/2008)107. “Eu viajei muito com ele [...]. Ele foi um dos que
introduziu África nos livros. [...]. Ele adora o tema, estuda muito. Coloca a História da
África, mas não retira Grécia, não retira a Revolução Francesa, a Revolução
Industrial (AUTOR I, 22.08.2017).
Não nos surpreendemos ao identificar nos relatos do Autor I, que para além da
história escrita nos seus livros, Alfredo Boulos Júnior vem construindo uma história
muito particular, de vida e laços afetivos com a África e afrodescendentes.
O Autor I também ressaltou que “o acesso dos negros e das mulheres à cultura
é recente”. Disse que a História do Brasil está rica de personalidades de destaque,
como Teodoro Sampaio. Na Literatura, mencionou Machado de Assis. Afirmou que
“na Ciências Naturais é difícil” e destacou o colega José Mariano Amabis, “uma
capacidade em Biologia!”
[...] e o negro, socialmente, não teve acesso, né. Agora, o Amabis, autor de livro de Biologia, um dos que mais vende – José Mariano Amabis – foi meu colega [...]. Brilhante! Brilhante o professor! Aposentou na USP. O Mariano entrou em 1967, junto comigo, eu sentava ao lado dele. Brilhante aluno. E ele escreveu, escreve, tem livros, e está trabalhando. Ele escreve desde a década de 1970. Brilhante professor, uma pessoa que vende muito livro. Uma capacidade em Biologia! Praticamente dentro da Biologia Genética, Bioengenharia. É José Mariano Amabis. O nome dele é Amabis no livro, Amabis e Martho (AUTOR I, 22.08.2017).
106
Cf. Plataforma Lattes. Disponível em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783599P9>. Acesso em: 17 de ago. 2017. 107
Cf. Legislação informatizada. Lei 11.645, de 10 de março de 2008, a qual Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena". Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2008/lei-11645-10-marco-2008-572787-publicacaooriginal-96087-pl.html>. Acesso em: 17 de ago. 2017.
170
José Mariano Amabis é professor aposentado do Instituto de Biologia da USP,
Mestre e Doutor em Ciências Biológicas (USP) e Pós-doutor pela Catholic University
Nijmegen, Holanda (1975)108. Além do desenvolvimento de pesquisas na área de
Biologia Genética, identificamos suas contribuições para cursos voltados para a
formação continuada de professoras/es. Ele fala sobre a origem da biologia como
ciência, do desenvolvimento histórico e conceitos biológicos, dos seus diversos
ramos e teorias e sobre como o nascimento da genética abriu um novo horizonte nas
Ciências Biológicas como um todo109.
Para nós do NEGRI, a discussão sobre o racismo institucional constitui um
importante aspecto das categorias de análise de nossas pesquisas, as quais nos
possibilitam compreender os mecanismos de produção e reprodução das
desigualdades étnico-raciais.
Vale, portanto, ressaltar a notória capacidade intelectual, a capacidade de
superar barreiras e a potência de resistência de Alfredo Boulos Júnior, que não
poupou esforços no desafio para implementação do estudo da África e de
afrodescendentes na sala de aula; de Germano Bruno Afonso, que foi muito criticado
até por intelectuais e alvo de preconceito em virtude de seus projetos na área de
Astronomia Indígena; e de José Mariano Amabis, que também é autor da foto-
legenda bastante significativa publicada em rede social, cuja imagem retrata seu
avô, Cândido Amabis, ―criador do sobrenome Amabis, (do verbo amar em latim =
amarás) que adotou em substituição a seu sobrenome original herdado dos
―proprietários‖ de seus ancestrais‖110.
108
Cf. Plataforma Lattes. Disponível em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783864P9>. Acesso em: 17 de ago. 2017. 109
Cf. Bate-papo com o professor Dr. José Mariano Amabis. Disponível em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783864P9>. Acesso em: 17 de ago. 2017. 110
Reprodução autorizada pelo autor. AMABIS, J.M. Entrevista [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por <[email protected]> em 26 mar. 2018.
171
Figura 2 - Cândido Amabis. Fonte: Amabis (2016).
Ao focalizar os aspectos hermenêuticos e identificadores da pertença étnico-
racial apreendemos a importância que as tradições culturais, religiosas e científicas
mantêm na atualidade. Elas estão interligadas com atividades da vida diária e
proporcionam um meio de dar sentido ao mundo, de alimentar uma identidade
individual e de criar um sentido de pertença a uma ou a mais de uma coletividade.
Como vimos no capítulo 2 desta tese, as tradições culturais, religiosas e
científicas enfrentam muitas das mais importantes questões de nossas sociedades,
tanto que se aproximam na agenda global pela sustentabilidade no planeta. Neste
foco da análise veremos que independente de seus valores e posições sobre fé,
religião e ciência, cientistas são frequentemente conectadas/os em ambientes
sociais cujos debates enfrentam oposição religiosa.
Em nossos estudos apreendemos que a pressuposição de que o avanço da
ciência moderna incentivaria a secularização não se sustenta na análise histórica.
172
Embora a crença e a prática religiosa continuem em declínio em muitos países, o
número de pessoas que seguem um credo é expressivo111.
Quadro 11 - Indicadores da população global, por religião e número de adeptos.
Fonte: Adaptado de Carolina Vilaverde (2016).
Podemos observar que da população global, 5,4 bilhões de pessoas seguem
alguma religião, sem considerar os credos minoritários. Os números motivam
muitas/os estudiosas/os a afirmarem que a tese de que a ciência causa
secularização não passou no tradicional teste empírico.
De nossa perspectiva, entendemos que as consequências da transformação
tecnológica são de grande alcance e influenciam muitos aspectos de nossas vidas,
desde aqueles mais íntimos da experiência pessoal até a natureza mutável do poder
e da visibilidade no domínio público. É nesse sentido que consideramos equivocada
a pressuposição de que o avanço da ciência moderna incentivaria a secularização.
Equivocada porque ignorou que o desenvolvimento tecnológico, particularmente das
tecnologias de comunicação e o seu uso vem provocando mudanças na organização
social da vida cotidiana desde o surgimento das primeiras máquinas impressoras
desenvolvidas por Johann Gutenberg, no século XV. De lá para cá um sistema
global de processamento de comunicação e informação se ramificou e se
complexificou cada vez mais (THOMPSON, 1998).
É inegável que as tecnologias de comunicação foram e são usadas para
desafiar valores e crenças, expandir e consolidar tradições, sejam elas científicas,
religiosas ou culturais. Notemos que foi a escrita, e não a impressão, que permitiu
estabelecer uma defasagem entre a gênese das ideias e seu registro. A invenção de
111
Cf. Carolina Vilaverde, Revista Superinteressante ―As 8 maiores religiões do mundo‖. Disponível em: ―<https://super.abril.com.br/blog/superlistas/as-8-maiores-religioes-do-mundo/>. Acesso em: 10 set. 2018.
Adeptos religiosos Número
Cristãos 2 bilhões
Muçulmanos 1,6 bilhão
Hinduístas 900 milhões
Religiões tradicionais chinesas 394 milhões
Budistas 376 milhões
Religiões tradicionais africanas 90 milhões
Sikhs 25 milhões
Judeus 15 milhões
Espíritas 12 milhões
Xintoístas 4 milhões
Zoroatristas 2,6 milhões
173
Gutenberg, que permitiu a propagação universal das ideias, não afetou o tempo,
mas o espaço. Na atualidade há tantas fontes de informação científica com acesso
gratuito na internet quanto páginas religiosas on line, além das teleaulas, o
televangelismo e a difusão de textos impressos, acadêmicos e bíblicos, entre muitos
outros que versam sobre tradições culturais. Tanto que até a BNCC propõe a análise
das ―formas de uso das mídias e tecnologias pelas diferentes denominações
religiosas‖112.
As tecnologias de comunicação também servem para desqualificar discursos
públicos e pessoas, por vezes desconsiderando os contextos em que as formas
simbólicas foram e são produzidas. O uso dos meios técnicos de comunicação
propicia àqueles que têm a habilidade deslocar discursos de seus contextos originais
conforme seus interesses e reimplantá-los em outros.
Não é difícil identificar discursos que a partir do deslocamento e da
descontextualização do debate original são propagados para desacreditar e
desestabilizar a opinião pública.
Um exemplo é o ocorrido com a fala da psicóloga e pesquisadora Tatiana
Lionço, representante da Anis - Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero,
nas Comissões de Direitos Humanos e de Educação e Cultura, na Câmara dos
Deputados, em 2012113. Naquela ocasião ela falou sobre ―Sexualidade na infância‖
vista de uma perspectiva científica. Explicou que ―meninos e meninas brincam,
inclusive sexualmente, em seus corpos, com outros meninos e meninas. Eles não
estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é
disso que se trata‖. Também defendeu que o reconhecimento da sexualidade na
infância não pode ser desculpa para abusos por parte de adultos, referindo-se às
vulnerabilidades intrínsecas das crianças. Justificou que a discussão da temática da
sexualidade na escola está prevista nos documentos orientadores da educação
nacional, publicados pelo MEC, e fez referência aos PCN.
112
Cf. BNCC (versão final, p. 453) - Tradições religiosas, mídias e tecnologias (EF08ER07). Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79601-anexo-texto-bncc-reexportado-pdf-2&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 10 set. 2018. 113
Cf. Câmara Notícias. Direitos Humanos. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/417311-ESCOLA-DEVE-PROMOVER-RESPEITO-A-DIVERSIDADE-SEXUAL,-DIZEM-ESPECIALISTAS.html>. Acesso em: 10 set. 2018. O vídeo da fala de Tatiana Lionço, na íntegra pode ser assistido em: <https://gloria.tv/video/1E8yx6vBxboWBh7gYKCKpNiqq>. Acesso em: 10 set. 2018.
174
Sua fala, que durou 18m44s, foi manipulada em um vídeo, intitulado ―Deus
salve as crianças‖114. Esse vídeo tem várias edições e vem desde 2012 sendo
compartilhado por três parlamentares. É possível acessar as várias edições no
Youtube, nas redes sociais, em blogs e outras páginas da internet.
Ao assistir ao vídeo podemos constatar que ele foi editado com cortes.
Identificamos que nessas edições o discurso religioso é utilizado para tratar a
psicóloga, mas não só ela, como um símbolo do inimigo a ser combatido e
perseguido. Identifica-se no vídeo a participação de um parlamentar, na ocasião
deputado federal, chamando a atenção do público para assistir ―ao que foi tratado no
último dia 15 de maio na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados‖. No
vídeo, o parlamentar afirma: ―é a volta do ―Kit gay‖ nas escolas onde milhões de
crianças estarão sendo estimuladas a serem homossexuais‖. Ele complementa, ―não
podemos assistir passivamente este movimento que busca acabar com a família e
as religiões‖. Ao final, ele assume: ―mesmo respondendo a dezenas de processos
continuarei fazendo a minha parte‖.
Nós do Negri temos combatido o uso instrumental de crianças e adolescentes.
Entendemos que alguns discursos levantam inevitavelmente a suspeita de que as
infâncias e as crianças não são o alvo principal, mas apenas um instrumento para
outras propostas.
O vídeo ―Deus salve as crianças‖ é mais uma evidência de que a tradição
religiosa tem se mostrado extraordinariamente universal e duradoura. A continuidade
dessa tradição é evidenciada em propostas políticas voltadas para a educação, nas
quais se mobilizam com êxito os ditos ―cidadãos de bem‖. Como veremos mais
adiante, a ideologia da ―família tradicional‖ é exemplarmente concretizada nos
projetos de lei que compõem o ―Programa Escola Sem Partido‖.
Vale esclarecer que o ―Kit gay‖ como se refere o parlamentar é um material
direcionado à formação continuada de professoras/es para tratar questões
relacionadas ao gênero e à sexualidade - projeto ―Escola Sem Homofobia‖. O
referido projeto faria parte do ―Programa Brasil Sem Homofobia‖, lançado pelo
governo federal em 2004, suspenso posteriormente em virtude das pressões de
determinados setores da sociedade e do Congresso Nacional. O material foi
114 Cf. ―Trecho do vídeo ―Deus salve as crianças‖, enviado pelo Deputado Federal Jair Bolsonaro*‖, editado com cortes. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ZCLZrbDQLrc>. Acesso em: 10 set. 2018.
175
elaborado por meio de um convênio com o FNDE, mas não chegou a ser distribuído
pelo MEC, embora tenha sido investido 1,9 milhão de reais no projeto. Quatro anos
depois, em 2015, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transexuais e Intersexos (ABGLT), envolvida na elaboração do material, decidiu
divulgar o caderno de instruções para professoras/es. O material impresso e
audiovisual pode ser acessado através da matéria intitulada ―Conheça o ―kit gay‖
vetado pelo governo federal em 2011‖, publicada pelo site Nova Escola, em 2015115.
Não custa repetir que a liberdade de expressão é um direito fundamental e um
dos suportes da democracia é a verdade. Temos visto inverdades sendo
disseminadas em grande escala e num fluxo infinito pelas redes sociais, através de
uma sequência lógica: os algoritmos. Considerando que as tecnologias aumentam
significativamente o alcance da agência ou poder para impactar o mundo através de
nossas ações, ressaltamos que ela também exige o desenvolvimento de uma
concepção de responsabilidade ética expandida.
―E aí, de que lugar você fala, né? Você desqualifica discursos. Isso é
insustentável também. Você vê, a gente está sofrendo uns embates interessantes”
(Autora A, 01.06.2018).
Destacamos aqui outro exemplo de discurso descontextualizado do debate
original, propagado para desacreditar e desestabilizar a opinião pública. Assim como
no exemplo descrito anteriormente é notável o uso da fragmentação como modo de
operação, no qual a diferenciação e o expurgo do outro constituem estratégias de
ideologias que enfatizam as distinções, diferenças e divisões entre pessoas e
grupos, apoiando as características que as desunem e impedem-nas de constituir
um desafio efetivo às relações existentes, envolvendo a construção de um inimigo,
comumente retratado como mau, perigoso, ameaçador, desqualificado, contra o qual
as pessoas são chamadas a reagir coletivamente ou a expurgá-lo.
Dessa vez, entra em cena o “discurso da racionalidade” como disse a Autora A
que declarou ter sofrido ataques por parte de determinado blog.
Eu fui questionada até em relação à minha fé... eu sofri um ataque em relação a minha fé. Eu sou presidente de um grupo espiritualista, que é universalista, na verdade. Não é um centro Kardecista, não é de Umbanda, ele é mais aberto. E eu sou presidente e eu dou palestras lá também. Estão
115
Cf. Nova Escola. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/84/conheca-o-kit-gay-vetado-pelo-governo-federal-em-2011>. Acesso em: 22 set. 2018.
176
no Youtube. Bem, tem no Facebook um determinado blog116
, mas não tem uma pessoa claramente à frente. Mas alguém criou o blog e escreve por ele, então existe um indivíduo ou um grupo por trás. Na verdade é uma pessoa porque ele fala como uma pessoa só. Ele, ao ler o artigo da (nome da jornalista), fez um comentário e uma montagem com a foto do Chico Xavier
117 em volta e falou que o artigo era ótimo, mas também disse que,
―mas o que a jornalista não comenta no seu artigo é que a autora em questão, apesar de ter construído uma carreira como autora, como pesquisadora em ciências, é uma espírita militante, e acredita naquelas baboseiras todas de o pensamento tem força, o espírito...”. Aí ele botou o link das minhas palestras e completou: ―então eu fico pensando se ela realmente estaria qualificada para escrever um livro de ciências‖ (AUTORA A, 01.06.2017, grifo da pesquisadora).
Partindo dos relatos da Autora A empreendemos uma investigação e
identificamos uma ―plataforma independente que reúne blogueiros céticos e
racionalistas‖, os quais ―acreditam que a melhor maneira de se obter conhecimento é
através do método científico‖. Ora, se assim é então por qual motivo o blogueiro
deveria questionar o fato de a jornalista não ter mencionado a pertença religiosa da
autora de livros? Então ele desconsiderou que o artigo é veiculado em um jornal que
desde sua origem ―sempre foi, e continua sendo, um jornal comprometido com a
democracia e a defesa das minorias marginalizadas‖. Um ―jornal laico, que sempre
defendeu a separação entre a Igreja e o Estado. Liberal na economia, progressista
no campo social, crítico em relação aos poderes civis e religiosos, fiel na defesa dos
direitos humanos. E, sobretudo, plural em suas ideias‖118.
Embora assuma não ter lido a obra na qual A é coautora, o blogueiro considera
que livros didáticos ―deveriam ser escritos por ótimos divulgadores científicos‖ e cita
como exemplos somente aqueles cujos nomes são conhecidos por suas visões
céticas. Na página do blog lemos:
Não li o livro e é possível que ela não tenha deixado transparecer ali qualquer viés espírita. Mas põe em dúvida a qualificação técnica que ela tem para escrever uma obra desse tipo. [...] eu não desqualifico o livro em si, só a autora. Creio que vamos concordar que livros didáticos, que vão influenciar o entendimento científico de gerações, deveriam no mundo ideal ser escritos por ótimos divulgadores científicos, estilo Neil deGrasse Tyson ou Carl Sagan.
116
Em respeito à postura ética assumida nesta pesquisa não divulgamos o título do artigo jornalístico, o nome da jornalista, nem a página do blogueiro no Facebook, a fim de preservar a identidade da entrevistada. Mas não deixamos de pesquisar os fundamentos nos quais se baseiam o jornal. 117
Cf. ―Chico Xavier 100 anos - Quem foi e o que fez este homem?‖, texto publicado por Haroldo Vilhena, em 25 de março de 2010, no Portal Luiz Nassif. Disponível em: <http://blogln.ning.com/forum/topics/chico-xavier-100-anos-quem>. Acesso em: 22 set. 2018. 118
Esta fala é de Antonio Caño que trabalha na sede do jornal há mais de 40 anos, publicada em 22 de fevereiro de 2017, em uma matéria que questiona se o jornal é de esquerda ou de direita. Não divulgaremos a fonte pelos motivos já explicados.
177
Aqui destacamos o trecho da entrevista no qual a Autora A se posiciona:
E aí eu penso... não sou criacionista, eu sou evolucionista, mas acredito numa consciência cósmica. Ué, pra mim é compatível. Só que eu acho que no meu livro de Ciências, como o estudante já traz informações da sua cultura religiosa, meu papel ali é mostrar o que diz a ciência, né. Se ele vai compatibilizar aquilo com a fé dele, aí sinceramente são outras questões (AUTORA A, 01.06.2017).
Como veremos mais à frente, embora tenhamos identificado livros cujos
discursos se limitam a afirmar que o tema é bastante polêmico, algumas coleções
procuram enfrentar a tarefa de apresentar visões diversificadas e promover o debate
de maneira interdisciplinar.
A Autora A alertou:
Se você não contextualizar a evolução, vai parecer questão de fé. O pessoal fala: ―Como é difícil vencer essa mentalidade criacionista‖. Mas se o professor vai trabalhar evolução de uma forma descontextualizada fica parecendo também que é uma questão de fé. Aí fé por fé, o estudante diz: ―nós vamos, então, no que o pastor ou padre falou‖. Se você não trabalha mostrando como que é que foi essa construção, as lacunas que ainda existem, as evidências nas quais a ciência se apoia. Se você só chega e conta: oh, é assim, você está sendo tão dogmático quanto outras correntes (AUTORA A, 01.06.2017, grifo da entrevistada).
Por sua vez, o Autor I relatou uma “experiência curiosa”
Eu dei aula, falando quando eu estava no terceiro Científico, eu dei aula pra 5ª série num colégio ortodoxo judaico, tinha nove alunos. Foi uma experiência curiosa. E não era fácil porque era um colégio diferente, ortodoxo judaico, um colégio com outro jeito, os alunos com outro tipo de educação. Não estou comentando se boa ou ruim, mas, diferente, embora brasileiros. A educação onde, se dentro da matéria de Evolução, que tem nos livros, o aluno tem uma outra percepção em casa, e com os rabinos tem que tomar muito cuidado. Mas, eu tive surpresa lá porque quando apareceu o assunto Evolução, eu fui falar com o rabino, pra ver se ele... o que ele achava, se pulava o capítulo... e ele falou... a resposta é excelente: ―dê as aulas conforme você aprendeu na faculdade, diga apenas o momento que você fará isso porque eu vou colocar um professor de História Judaica pra mostrar a nossa visão‖. Então, perfeito, eu vou falar biologia, não como inventei, como eu aprendi e o aluno tem a visão judaica conforme a Torah, a Bíblia etc, então... Não sei o que o aluno concluiu no final, os alunos, mas, tiveram as visões (AUTOR I, 22.08.2018).
Decerto que participantes dos debates sobre as relações entre ciência e
religião empregam diversas estratégias, dependendo do que procuram. Em nossas
buscas identificamos três perspectivas: independência, compatibilidade, conflito. A
Autora A questiona: “[...] então agora todo cientista tem que ser ateu?”
178
Em nossas investigações não identificamos pesquisas brasileiras nem dados
estatísticos que nos permitissem relacionar as variáveis ―ocupação‖ e ―crença
religiosa‖, a não ser aqueles já apresentados com base nas informações censitárias.
Mas os relatos da Autora A oferecem pistas.
[...] aí quando eu penso, que nós temos tantos professores e cientistas, mestres e doutores, que são assumidamente religiosos, outros que são até médiuns. Mas para o tal blog, cientista tem que ser ateu. Se não for ateu, não é cientista. Um dos piores tipos de cerceamento. Gente, eu não condeno ninguém por ser ateu. E agora eu tenho que aguentar isso... Aí eu ia responder. Depois, quer saber? Eu não vou dar ibope pra esse cara, não. Ignorei. [...] aí eu imprimi. Está por aqui. [...] eu vou guardar porque se esse cara me irritar muito, no futuro, eu vou processar ele. Mas se não, eu vou ignorar. [...] E aí ninguém desenvolveu. Morreu o assunto. [...] (AUTORA A, 01.06.2017).
Foi no campo de publicações acadêmicas internacionais que localizamos o
estudo da pesquisadora Elaine Howard Ecklund, que investigou a fé de cientistas
das 21 mais influentes universidades de pesquisa dos Estados Unidos. Trata-se das
descobertas do primeiro estudo sistemático sobre o que cientistas pensam e sentem
sobre fé e religião. O estudo foi desenvolvido durante os anos de 2005 e 2006,
quando foram pesquisados cerca de 1.700 cientistas (homens e mulheres) das
Ciências Naturais e Ciências Sociais e realizadas entrevistas em profundidade com
275 deles119.
As descobertas de Ecklund (2008) lançam dúvidas sobre o estereótipo ateu da
profissão. A pesquisadora afirma que a maior parte do que acreditamos sobre a fé
de cientistas em universidades de elite está errada. Seus estudos apontam que
quase 50% deles são religiosas/os e apenas uma minoria é hostil à religião. Muitos
são ―empreendedores espirituais‖ em busca de maneiras criativas de trabalhar as
tensões entre ciência e fé fora das restrições da religião tradicional e vários
cientistas estão procurando por ―pioneiros fronteiriços‖ para cruzar as linhas de
separação entre ciência e religião.
A pesquisadora sustenta que as ideias sobre religião e ciência como não-
sobrepostas são inadequadas e que os modelos de independência e conflito são
principalmente modelos ocidentais. A pesquisa confirma a percepção de que
aqueles que buscam a ciência tendem a abandonar a religião, seja por causa do
conflito inerente entre as duas visões ou porque a educação científica exerce uma
119
A autora não aponta indicadores por sexo, por isso usamos o genérico masculino.
179
força secularizadora. Embora os resultados mostrem alguma verdade sobre a
percepção de que os cientistas e a academia são ―sem deus‖, a autora assinala que
ao observá-la apenas a partir desta visão monolítica ignoram-se os 48% de
cientistas acadêmicos que se identificam com alguma forma de religião e os quase
68% interessados em espiritualidade, posto que até os cientistas ateus têm um
impulso espiritual (ECKLUND, 2008).
Quando a pesquisa focaliza as origens religiosas dos cientistas, os resultados
apontam que eles vêm desproporcionalmente de origens liberais religiosas e
irreligiosas. Assim como o público em geral que cresceu sob alguma influência
religiosa segue suas trajetórias de vida confiante na fé e acreditando no que não
veem, o mesmo ocorre com cientistas. A pesquisa aponta ainda que uma boa
proporção de cientistas não crentes teve pouca ou nenhuma experiência com
religião na infância, nem foram ensinados a ver a religião como parte integrante da
vida cotidiana (ECKLUND, 2008).
Os resultados indicam um descompasso entre a alta religiosidade do público
americano e a religiosidade comparativamente baixa de cientistas. Na interpretação
de Ecklund (2008), esse descompasso pode ser uma barreira para a comunicação e
compreensão, um problema potencialmente sério numa época em que, com base
em comparações internacionais, estudantes das escolas dos Estados Unidos têm
uma educação mais pobre em ciências do que as outras nações mais
industrializadas, como apontam os dados de um relatório do National Center for
Education Statistcs (Centro Nacional de Estatísticas da Educação)120. De acordo
com pesquisadora, os cientistas estão certos ao lamentar o analfabetismo científico
entre a população, mas essas descobertas também revelam que uma porção de
cientistas acadêmicos podem ser religiosamente analfabetos.
Como se pode apreender dos relatos da Autora A, esses aspectos são
complementares e ajudam a colocar em debate a prática do ―ensino religioso‖ nas
escolas públicas brasileiras. Como sabemos, o Brasil é um país constitucionalmente
120
O National Center for Education Statistcs (NCES) é a principal entidade federal de coleta e análise de dados relacionados à educação nos Estado Unidos (EUA) e em outros países. O NCES está localizado no Departamento de Educação dos EUA e no Institute of Education Sciences (Instituto de Ciências da Educação). O NCES cumpre um mandato do Congresso para coletar, cotejar, analisar e relatar estatísticas completas sobre a condição da educação americana; conduzir e publicar relatórios; revisar e relatar atividades de educação internacionalmente. Disponível em: <https://nces.ed.gov/about/>. Acesso em: 22 set. 2018.
180
laico, que não rejeita a religião e busca assegurar o respeito à diversidade social121.
Apesar disso, o ensino público tende à adoção de práticas hegemônicas. Entre a
legislação e a prática há variações, entre outras, regionais e contextuais.
Gravei outro dia um podcast sobre escola laica. [...] porque eu sei no que o ensino não laico vai cair, no que ele vai escorregar. Aqui no Rio de Janeiro, então... você vai na escola pública, o mural não tem frase de Paulo Freire, tem frase da Bíblia. Falei, ok. Tem da Bíblia? Então, tem do Alcorão? Tem da Torah? Tem lá do Livro Tibetano dos Mortos? ... Mas, se é um jornal multicultural... Não. Versículo da Bíblia. Aí, a escola laica. [...] eu fui numa universidade pública e a professora que coordenava o evento mandou o grupo dar as mãos e disse: ―vamos rezar um Pai Nosso‖. Eu falei: O que é isso, gente? A professora puxou o Pai Nosso. Gente, olha só, primeiro é uma questão de local, é uma questão de respeito... ―ah mas o Pai Nosso é universal‖. E se você é muçulmana? E se você é ateia? E se você é judeu? Quer dizer, que universal é isso? É uma violência contra uma pessoa. Primeiro que pode até ser uma pessoa muito religiosa que não quer fazer isso naquele espaço. Reza mentalmente, ora. E aqui no Rio, nós tínhamos o governo da Rosinha e seu marido, Garotinho, que botaram a religião na escola. E são as religiões hegemônicas. Entra evangélico, católico. Matriz africana, nada [...] (AUTORA A, 01.06.2017).
Embora as ciências da religião constituam um campo do saber assim como
outros, sua abordagem na educação formativa de crianças e adolescentes é tema de
discussão há décadas. Com as novas orientações para o ensino infantil e
fundamental, assim como as demais disciplinas curriculares, o ―ensino religioso‖
passa a ter, a partir de 2018, uma diretriz nacional a qual define unidades temáticas,
objetos de conhecimento e habilidades.
Em linhas gerais, o ―ensino religioso‖ na educação básica pode ser
compreendido como componente curricular da área das ciências humanas,
fundamentado nas ciências da religião, cujo objeto de estudo é o fenômeno religioso,
a partir da escola e não de uma ou de outra tradição religiosa. Porém, na prática não
é assim que acontece.
Vale lembrar que livros sobre ―ensino religioso‖, distribuídos pelo MEC, não
passam por nenhum tipo de avaliação. A despeito das Leis 10.639/2003 e
11.645/2008, em sala de aula praticamente não há referências às religiões
coexistentes, como por exemplo, as religiões de matrizes africanas. Nota-se
manifestações de racismo religioso contra professoras/es quando a legislação é
cumprida.
121
Todas as Constituições brasileiras estão disponíveis em: <https://goo.gl/WbsjPq>. Acesso em: 09 set. 2018.
181
Sobre esses aspectos metade das/os autoras/es entrevistadas/os aponta a
estreita ligação entre religião e política como obstáculo à laicização da escola
pública brasileira, sendo que 75% fizeram menção aos projetos apresentados nas
câmaras legislativas, baseados no movimento “Escola Sem Partido”, tais como a
conhecida “lei da mordaça” e as “políticas antisexualidade” como denominou a
Autora E.
De nossa perspectiva observamos que a revitalização das crenças e práticas
religiosas não é um fenômeno singular das sociedades orientais. Nas sociedades
ocidentais, movimentos religiosos de vários credos ganharam força e começaram a
readquirir poder na esfera política. Tanto que no Brasil o conceito de laicidade
encontra-se atualmente em disputa e envolve, sobretudo interesses políticos e
ideológicos (THOMPSON, 1998).
Como veremos ao longo deste capítulo, na totalidade as/os entrevistadas/os
chamaram a atenção para o modo como têm atuado os grupos políticos na bancada
atual do Congresso.
Eu vejo de uma forma angustiada, preocupada porque não há como negar que você tem essa onda conservadora no país. E que com certeza, não teria como não ter uma ingerência na educação. Porque se formam pessoas. Você tem, né, jovens, tem crianças. É... acho que grupos políticos, né, nas bancadas, o pessoal do BBB, né, Boi, Bala, Bíblia, muito forte. É... a ponto de você... coisas que eu não pensei que estaria viva para ver, Alexandre Frota sendo recebido pelo Ministro da Educação, como consultor quase, né, dando, traçando uma pauta. Veja, eu não tenho nenhum preconceito por ele ser ator pornô. Nesse ponto acho que a questão não é essa. A questão (risos) é ele, né, dizer, falar mal de Paulo Freire. Fico pensando, né. Acho que vamos ter, se essa onda não for e eu não acho que vai ser, não a médio e curto prazos, brecada, nós vamos ter graves retrocessos como já estamos tendo concretamente (AUTORA A, 01.06.2017).
O “pessoal do BBB” (Boi, Bala e Bíblia), ao qual se refere a Autora A constitui
um bloco de parlamentares formado por latifundiários, defensores do armamento e
dos fundamentos bíblicos, respectivamente.
Em nossas análises identificamos que embora haja alguma divergência sobre o
tamanho das bancadas que compõem a Câmara dos Deputados, as fontes de
informações coincidem ao apontar que no atual panorama político brasileiro a
―bancada evangélica‖ ou ―bancada da Bíblia‖ foi a que mais cresceu no parlamento
ao longo das duas últimas décadas, de 21 deputados em 1994 para 196 em 2017.
Esse número corresponde a 38% do total de 513 parlamentares que compõem a
182
Câmara dos Deputados, sendo a maioria vinda da Assembleia de Deus e da Igreja
Universal, sem contar os que se declaram católicos122.
A ―bancada da Bíblia‖ é conhecida por seus posicionamentos
ultraconservadores, cujos integrantes são ferrenhos combatentes àquilo que
classificam como ataques à moral, à família e aos costumes cristãos. Ela se
configura entre as bancadas mais fortes e bem articuladas no Parlamento. A saber:
a ―bancada da Bala‖ composta por policiais e militares, conta com a participação de
35 integrantes; a ―bancada da mineração‖ (23 deputados). Embora pequenas essas
duas bancadas são igualmente fortes pelo teor dos conteúdos que defendem. Entre
as maiores identificam-se a ―bancada da Agropecuária‖ também conhecida como a
―bancada do Boi‖, composta por 207 parlamentares ruralistas; a ―bancada
empresarial‖ (208 deputados), a ―bancada das empreiteiras e construtoras‖ (226
deputados) e a ―bancada dos parentes‖ (238 deputados), sendo que esta última
representa o maior agrupamento e confirma a tendência de aumento do número de
deputados com familiares políticos.
Nota-se que a ―bancada da Bíblia‖ atua em sintonia com todas as bancadas,
exceto com a ―bancada de Direitos Humanos‖, a qual é oposta a esses grupos
(figura 3), formada por 23 parlamentares atuantes no combate da opressão às
mulheres, às populações LGBT123, indígenas e tradicionais, ao racismo e toda forma
de violência, entre outras pautas específicas tais como o desmatamento, a
concentração de terras, o trabalho escravo, a monocultura.
122
Nossa principal fonte de informação é a Pública - Agência de Jornalismo Investigativo. Fundada em 2011 por repórteres mulheres, a Pública é a primeira agência de jornalismo investigativo sem fins lucrativos do Brasil. Todas as reportagens são feitas com base na rigorosa apuração dos fatos e têm como princípio a defesa intransigente dos direitos humanos. A Pública distingue-se por aliar preocupação social com jornalismo independente e de credibilidade. Em 2016 realizou o mapeamento das bancadas na Câmara. Disponível em: <https://apublica.org/2016/02/truco-as-bancadas-da-camara/>. Acesso em: 23 set. 2018. 123
LGBT é uma sigla que compreende todas as pessoas que em nossa sociedade são denominadas como homossexuais, ou seja, Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros.
183
Figura 3 - Bancadas da Câmara dos Deputados e as relações entre elas. Fonte: Adaptado da Pública - Agência de Jornalismo Investigativo (2016).
Atuando em conjunto, os grandes blocos têm articulado vários projetos de lei e
de emendas constitucionais que representam retrocessos em direitos e garantias
sociais alcançados ou em processo de conquista. Resumidamente, a compreensão
restrita de família, a redução da maioridade penal, a liberação do porte de armas, a
privação dos povos indígenas e quilombolas ao direito aos seus territórios, o
desprezo ao Estado Laico com a imposição de princípios religiosos específicos
sobre todos os cidadãos e cidadãs e tantos outros.
De acordo com Ivanilda Figueiredo (2016), Relatora de Direitos Humanos e
Estado Laico, todos os direitos humanos são interdependentes e inter-relacionados.
A negação ou violação de um influencia diretamente na realização dos demais,
sendo que alguns deles, por seu caráter estruturante, têm maior impacto quando
afetados, como é o caso da educação. A permeabilidade de valores religiosos num
Estado que se professa Laico, mas que culturalmente sempre aceitou e aceita
manifestações da fé cristã como naturais nos espaços públicos, constitui um desafio
para a garantia de direitos humanos.
Eu acho que você formar um estudante cego para o que está acontecendo no mundo, né, você não está formando. [...] aí a gente entra numa luta de classe, né, porque... você tem um aspecto político, você tem um aspecto social, né, e... pra classe dominante, que detém o poder financeiro, né, eles vão investir na educação, na educação que eles querem pra eles, né, sob a ótica deles, pra poder perpetuar a dominação. [...] eu não consigo conceber isso. [...] Eu dou aula, eu não consigo deixar de falar de gênero na sala de
184
aula, eu não consigo deixar de falar de política. Né. Detesto a lei da mordaça (riso). Ah, eu falo. Eu falo. Meu, você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, mas tenha argumento. Cria argumento. Né. É isso que importa. Entendeu? E eu acho que há, por parte da classe dominante, um desejo de nem se criar hipótese do cara pensar o que é a outra classe. Entendeu? Então, é assim, é aquela coisa de só existir uma coisa, né. Então, por isso que eu falo, você forma um cara cego pra o que está ocorrendo no meio dele. Eu não gosto disso. Não gosto e eu acho que assim, os professores são meio subversivos, eles conseguem dar. Por isso que já vem aí, vem lei da mordaça, né, tudo e todas essas coisinhas afins aí pra..., nesse sentido (AUTOR U, 22.08.2018). Porque também agora, o que é o Ministério da Educação, gente? A gente nem sabe o que é que é. Dizem que está lá, dizem que não acabou, não, a Secretaria de Diversidade. Só que antes, o professor que fosse punido por falar ou pressionado a não falar de gênero, ele podia ligar para a Secretaria de Diversidade e fazer queixa. Agora não tem mais isso. Pelo contrário, é capaz de ser punido se ele falar de gênero, né. Porque agora tem o tal projeto Escola Sem Partido... (AUTORA A, 01.06.2017).
A ―lei da mordaça‖ à qual se referem o Autor U e a Autora A é tema recorrente
na Câmara dos Deputados. Além do Projeto de Lei - PL nº 9.957/2018124, cuja
proposta é ―coibir a doutrinação na escola‖, mais conhecido como ―lei da mordaça‖,
identificamos outros seis projetos apensados que tramitam em conjunto e compõem
o ―Programa Escola Sem Partido‖125. São eles: PL 7.180/14126; PL nº 7.181/2014127;
PL nº 1.859/2015128; PL nº 867/2015129; PL nº 5.487/2016; PL nº 8.933/2017130 e
compõem o ―Programa Escola Sem Partido‖131.
Tais projetos têm a autoria de parlamentares, como é o caso de Erivelton
Santana (PL nº 7.180/2014 e PL nº 7.181/2014), deputado baiano, pastor evangélico
124
Acrescenta artigo à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para coibir a doutrinação na escola. 125
Cf. PL 7180/14 – COMISSÃO ESPECIAL ESCOLA SEM PARTIDO. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1661955&filename=VTS+1+PL718014+%3D%3E+PL+7180/2014>. Acesso em 24 set. 2018. 126
―altera o art. 3º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996‖ (inclui entre os princípios do ensino o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa). 127
Dispõe sobre a fixação de parâmetros curriculares nacionais em lei com vigência decenal. 128
Acrescenta Parágrafo único ao artigo 3º da LDBEN (9.394/96) ―para determinar que a educação não desenvolverá políticas de ensino, nem adotará currículo escolar, disciplinas obrigatórias, ou mesmo de forma complementar ou facultativa, que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo ‗gênero‘ ou ‗orientação sexual‖. 129
Inclui, entre as diretrizes e bases da educação nacional, o "Programa Escola sem Partido". 130
Altera a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Lei de Base e Diretrizes da Educação Nacional, para dispor que o ensino sobre educação sexual somente será ministrado ao aluno mediante autorização dos pais ou responsáveis legais. 131
Cf. PL 7180/14 – COMISSÃO ESPECIAL ESCOLA SEM PARTIDO. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1661955&filename=VTS+1+PL718014+%3D%3E+PL+7180/2014>. Acesso em 24 set. 2018.
185
ligado à Assembleia de Deus, integrante da Frente Parlamentar Evangélica; de Izalci
Lucas (PL nº 1.859/2015 o mesmo do PL nº 867/2015) que é ligado aos proprietários
de escolas privadas de Brasília e integra a Frente Parlamentar Mista Católica
Apostólica Romana; de Francisco Eurico (PL nº 8.933/2017), deputado federal por
Pernambuco, pastor e membro da Assembleia de Deus; de Jhonatan de Jesus (PL
nº 9.957/2018), que é da Igreja Batista e também autor do PL nº 8.126/2017, o qual
propõe instituir o ―Dia Nacional do Pastor Evangélico‖, a ser comemorado
anualmente no segundo domingo do mês de junho.
De maneira geral tais projetos visam alterar as diretrizes vigentes da educação
para ―incluir entre os princípios do ensino o respeito às convicções do aluno, de seus
pais ou responsáveis, dando precedência aos valores de ordem familiar sobre a
educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa‖ e
à suposta ―conduta doutrinadora ideológica‖ por parte de professoras/es dentro da
sala de aula.
[...] eu, como professora, até brinco que agora que eu me aposentei posso ―doutrinar‖, né (risos). Agora eu posso ―doutrinar‖ usando meu Facebook, que é pessoal, posso expor minhas ideias, né. Antes eu não podia porque se eu falasse em sala de aula, seria ―doutrinadora‖. Mas isso nunca me impediu de na sala de aula combater o preconceito e combater as formas de discriminação (AUTORA A, 01.06.2017).
De nossa perspectiva entendemos que julgamentos sobre valores e normas
não operam num vácuo social. Eles estão condicionados a processos sociais
diferenciados de cultura. Quanto mais decisões estiverem colocadas nas mãos de
um pequeno círculo de indivíduos nomeados, maior será o risco de o resultado
refletir as sensibilidades culturais de grupos ou estratos sociais particulares.
No site do movimento ―Escola Sem Partido‖ lemos que ―o educador deve ter a
prática contínua e disciplinada do estudo, associada sempre à honestidade
intelectual de expor o maior número de pontos de vista que um assunto comporta e
as possíveis conseqüências (sic) que a adoção de cada um deles pode acarretar‖132
(grifo da pesquisadora).
O referido texto, entre outros identificados no site nos parecem tão
controversos quanto o movimento e os ideólogos dos projetos que levam seu nome.
132
Disponível em: <http://www.escolasempartido.org/artigos-top/614-ensinar-x-doutrinar>. Acesso em 24 set. 2018.
186
Ora, a educação ocorre em um processo de ensino e aprendizagem. Daí a
importância da dialogicidade. Ademais, sabemos que a educação escolar não
substitui nem concorre com a educação familiar. Elas se complementam, ―é dever do
Estado e da família‖.
À escola compete abordar os diversos pontos de vista, valores e crenças
existentes na sociedade para auxiliar as/os estudantes na construção de suas
próprias referências, por meio da reflexão e do diálogo entre as pessoas que dela
participam (PCN, 1998). É reconhecido que a educação deve afirmar valores e
estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a
mais humana, socialmente justa e, também, voltada para a preservação da natureza
(BRASIL, 2013)133.
[...] a gente precisa entender a escola como esse espaço, político, de formação, um lugar onde as ideologias se expressam. A gente aprende a ser democrático na escola. Eu falo isso de carteirinha porque fui aluna de Chiquinha Rodrigues, minha queridona do coração, né. E não é, eu não falo isso de leitura. Eu falo isso de vivência infantil, que é aquela mais fundamental, que você guarda, assim, no seu “DNA”, né (risos), entre aspas, mas, no seu código pessoal (AUTORA E, 17.08.2017, aspas e ênfase da entrevistada).
Em conjunto os projetos do ―Programa Escola Sem Partido‖ afrontam preceitos
constitucionais que asseguram a promoção do pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, a
liberdade e o direito de aprender e de ensinar, a valorização das/os profissionais do
ensino, o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e a gestão democrática
do ensino público134. E por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB - Lei nº 9.394, de 1996), a qual ratifica os preceitos constitucionais e
os complementa, determinando que o desenvolvimento do ensino observe, ainda, os
princípios de respeito à liberdade e apreço à tolerância, valorização da experiência
extraescolar e vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
133
Cf. BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Caderno de Educação em Direitos Humanos. Educação em Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais. Brasília: Coordenação Geral de Educação em SDH/PR, Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=32131-educacao-dh-diretrizesnacionaispdf&Itemid=30192>. Acesso em: 23 mar. 2017. 134
Cf. Constituição Federal de 1998, Seção I – Da Educação, Artigo 205 e Artigo 206 – incisos I, II, III, V e VI.
187
[...] acho que temos uma onda conservadora muito preocupante e as pessoas não estão se dando conta do que significa isso, de como que uma Escola Sem Partido é uma escola que toma partido sim, mas partido a favor do preconceito, toma partido a favor do cerceamento de ideias, não é um projeto de neutralidade de forma alguma e eu me preocupo muito quando você vê documentos orientadores, norteadores políticos, norteadores de currículo como o da Base Curricular, no lugar de desconstruírem isso, colaborarem, darem ferramentas para esses tipos de visões... eu tenho muita esperança ainda, que havendo mudança de governo, que essas coisas possam ser revistas (AUTORA A, 01.06.2017).
Aqui destacamos o PL nº 5.487/2016, de autoria do deputado Victório Galli,
professor e pastor evangélico. O referido PL ―institui a proibição de orientação e
distribuição de livros às escolas públicas pelo Ministério da Educação e Cultura que
verse sobre orientação de diversidade sexual para crianças e adolescentes‖135.
É só ver casos concretos como o de um certo município brasileiro. [...] o prefeito achou por bem tirar dos livros didáticos de Geografia referências a famílias homoafetivas. E apesar de o Ministério Público ter feito voltar atrás, o prefeito não foi penalizado. Em última instância, a Juíza que julgou o caso disse que isso seria ―uma questão ideológica‖. Bom, então, se abre um precedente, né. Um livro que foi avaliado pelo MEC, que mostrava famílias e dizia que dentre as famílias brasileiras temos famílias homoafetivas. Então, os vereadores resolveram que isso não era adequado. No caso dos meus livros, essa questão de tentativa de censura numa escola no Norte do país, 160 mães e pais fizerem abaixo-assinado porque consideraram a parte de Sexualidade inadequada para estudantes de 13, 14 anos. E aliás, até mais velhos, porque com a defasagem de séries vai ter lá estudantes de 13 a 16, né. Consideraram imoral que tivesse um pênis ereto, que tivesse vulva, que tivesse camisinha e aí eu fiquei até ainda mais pasma, né, que tivesse uma mulher fazendo autoexame das mamas... Disseram que parecia que a mulher estava se masturbando. Então, eu não sabia se eu ria ou se chorava [...] (AUTORA A, 01.06.2017). Olha, eu vou falar com franqueza, por um autor esse assunto é de extrema dificuldade. Porque não há uma homogeneidade na sociedade, é impressionante a heterogeneidade, há um grupo gigantesco de pessoas evangélicas que usam bastante ao pé da letra, e tem direito de fazer isso, textos bíblicos que podem ser interpretados de modo mais agressivo contra homossexualidade, e isso representa, sei lá, 15%, 20% da população, atualmente. Eu não sei se não é uma coisa desse tipo os novos evangélicos, ou até mais. Aqui agora tem uma Igreja, um templo, mas esse é Adventista. Aos sábados, na hora do almoço, enchem a rua de carros e todos com a Bíblia debaixo do braço, parece que um nível bom, assim, não é uma coisa de pegar dinheiro, mas muita gente estudando a Bíblia e se interpretar ipsis litteris vão achar que a questão de gênero é um... vai para o inferno. E aí nós vamos escrever no livro... é muita gente a ser considerada e precisa pensar bastante pra escrever coisas que não ofendam... é difícil, né (AUTOR I, 22.08.2017).
135
Cf. PL N.º 5.487, DE 2016. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1468304.pdf>. Acesso em 24 set. 2018.
188
Profissionais de vários campos do conhecimento têm chamado a atenção para
o atual momento político, a exemplo de João de Lira Cavalcante Neto, pesquisador e
biógrafo que assina coluna no jornal Folha de S.Paulo, publicada aos domingos, a
cada duas semanas.
No artigo intitulado "Onde se queimam livros, acabam-se queimando pessoas,
já disse o poeta‖, Lira Neto retoma os escritos de Heinrich Heine e de Marguerite
Yourcenar para fazer um alerta sobre a investida política que estamos vivendo136.
Livros não são escritos para consolar certezas. Na verdade, mostram-se muito mais úteis quando conseguem semear a dúvida, desestabilizar credos, vergalhar convicções. Por isso mesmo, livros sempre foram considerados perigosos pelos regimes de força, pelas mentes autoritárias e cheias de verdades, pelos inquisidores da vida alheia. Nos antigos ordálios da Antiguidade e da Idade Média, escritos considerados perniciosos eram atirados ao fogo e submetidos ao "juízo de Deus" (LIRA NETO, 01.10.2017).
Para a Autora A e o Autor U, essas ―ingerências‖ tentam insistentemente
direcionar a educação para um pensamento único. Por sua vez, a Autora E aponta
um fato quase sempre ignorado: “esses aspectos polêmicos entram na escola pelo
portão dos alunos, né (risos)”.
A afirmativa da Autora E pode ser ilustrada com um exemplo relatado pela
Autora A:
Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, o Pedro II, que era uma escola tradicional e que finalmente aboliu o uniforme por gênero, mas foi depois de toda uma discussão de problemas que já houve. Foi uma situação que surgiu na escola e que levou a uma mudança. No (nome da escola) onde eu trabalho, o uniforme não é por gênero. Lá a questão de exigências é só por segurança no laboratório. Então o estudante de gênero masculino pode ir de vestido desde que seja com o jaleco. O que não quer dizer que não cause estranhamento, mas há um enfrentamento dessa questão. Eu acho que dentro dessa onda conservadora você tem tudo isso que vai sendo perdido, né. Não vejo de uma forma otimista esse cenário (AUTORA A, 01.06.2017).
De fato, a escola muitas vezes é o único espaço que crianças e adolescentes
têm para falar sobre essas e outras questões. Portanto, o impedimento constitui
violação de seus direitos. Além disso, os referidos projetos de Leis representam
retrocessos em vários sentidos. Entre tantos concebem a educação em mão única,
do adulto para a criança/adolescente, como se estes fossem sujeitos passivos,
136
Cf. Jornal Folha de S.Paulo. Colunistas. Lira Neto ―Onde se queimam livros, acabam-se queimando pessoas, já disse o poeta‖. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/lira-neto/2017/10/1922797-onde-se-queimam-livros-acabam-se-queimando-pessoas-ja-disse-o-poeta.shtml>. Acesso em 24 set. 2018.
189
tábulas rasas sobre os quais adultos impõem sua cultura, negando a dupla
hermenêutica. Ou seja, que crianças e adolescentes são sujeitos ativos na
construção e determinação de sua própria vida social, da vida dos que as/os
rodeiam e das sociedades em que vivem.
Não por acaso os relatos da Autora E apontam que de uma perspectiva
democrática a vivência escolar permite a apresentação da realidade social em sua
diversidade. De seu relato podemos apreender que a diversidade social ocupa as
escolas pela presença concreta das pessoas que a frequentam. Ela afirma que a
escola constitui um espaço de socialização, “onde a criança começa a desenvolver o
seu eu político, o seu estar no mundo, para além das fronteiras da família, e passa a
conviver com a diversidade, necessariamente de uma forma democrática”.
É necessário que isso aconteça. E mesmo que ela seja uma criança de condomínio, ali existe uma certa igualdade latente. Na escola, essa igualdade latente se torna mais difusa e menos garantida, né. Então, ela abraça pessoas de diferentes origens étnicas, religiosas. Abraça crianças de diferentes níveis socioeconômicos, culturais. Então, de verdade, eu mesma te digo, eu aprendi a conviver com as diferenças, de verdade, na escola pública. Na privada, não. Na privada era todo mundo muito parecido, né. É... olhando à distância eu estou vendo. Quando era criança eu não podia saber. Mas, na pública, sim. Na pública, minha melhor amiga era uma menina judia, durante meus quatro anos de curso ginasial. Na época era ginasial mesmo. Era uma judia, uma espanhola, a outra era de origem libanesa. A classe tinha metade japonês porque era ali na Vila Mariana. Então, na Vila Mariana, naquela época, tinha muitos nisseis, de origem japonesa. Tinha uma japonesa, vinda do Japão, menina bem mais velha. Então, naquela época ainda era São Paulo dos imigrantes e não dos migrantes, que se tornou nos anos 80. Você conhece essa história, né? (AUTORA E, 17.08.2017).
Embora essa realidade seja compartilhada por muitas pessoas, é notória uma
recusa do reconhecimento da diversidade no país, seja ela de cariz religioso ou
outro.
Você tem estudantes de religiões de matriz africana sofrendo preconceito na escola. É... estudantes que são chamados a atenção. Se são um casal heterossexual, se andam de mãos dadas na escola não são chamados a atenção, e de um casal, né, homoafetivo é chamada a atenção. Essa é uma realidade. [...]. O estudante que for com uma guia no pescoço é discriminado. É assim. É isso que acontece. Então, também é insustentável. Intolerância. Então por isso que essa coisa, você formar para a tolerância? Não. Tem que ser além da tolerância, gente. Que é isso? Então não dá. Não dá. Não dá mesmo. É isso (AUTORA A, 01.06.2017).
Não é demais repetir que o compromisso com a construção da cidadania pede
necessariamente uma prática educacional voltada para a compreensão da realidade
190
social e dos direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal, coletiva e
ambiental. É nessa perspectiva que as questões da Ética, da Pluralidade Cultural, do
Meio Ambiente, da Saúde e da Orientação Sexual foram contempladas como temas
transversais nos PCN (BRASIL, 1998).
Por exemplo, no meu livro, tem uma imagem de estudantes, dois jovens conversando, é... o vereador que aparece falando em uma reportagem na TV, disse que ia fazer disso uma missão, que o livro fosse proibido, né. Ele disse assim: ―ah, claramente, são jovens homossexuais‖. Ora, eu falo de homossexualidade, sim, no livro... ah, e isso também foi considerado imoral, eu dizer que todo mundo pode viver bem, plenamente, dentro da sua orientação sexual. Mas no caso da imagem dos jovens nem era esse o contexto. Se eu quisesse colocar foto de um casal homossexual, eu colocaria explicitamente se beijando ou abraçando, por exemplo. Não ficaria nas entrelinhas. E no caso, eu estava falando de adolescentes de um modo geral. Então, isso é uma coisa, né, isso aqui eu ri muito. ―A mulher está com uma cara prazerosa‖, então...ela está se tocando no autoexame das mamas. (Mostra as imagens no livro) (AUTORA A, 01.06.2017, grifo da pesquisadora).
Em nossos estudos temos dedicado atenção à análise de imagens e
ilustrações veiculadas em livros didáticos de Ciências Naturais. Apresentaremos as
imagens que a Autora A nos mostrou naquela entrevista. Queremos com isso
proporcionar o acesso para que leitoras/es desta pesquisa possam fazer suas
interpretações e tirar suas conclusões.
Informamos que imagens como de adolescentes e jovens são comuns em
todas as obras didáticas, principalmente porque os livros são dirigidos a este público.
No caso, ambas as imagens compõem unidades ou capítulos que versam sobre a
vida na adolescência e abordam temas como sexualidade e reprodução humana.
Mais à frente apresentaremos a fotografia dos ―dois jovens‖ e as imagens da
―mulher‖. Esta última compõe o texto sobre prevenção do câncer de mama feminino
e do colo do útero. Também apresenta orientações sobre a realização do autoexame
de mamas.
A Autora A informou que na ocasião “a Sociedade Brasileira de Ensino de
Biologia fez uma nota de repúdio e uma análise do livro”.
[...] então tem uma nota que depois eu até mando pra você, repudiando essa atitude, né. Acho que não vai dar em nada porque o livro foi avaliado pelo MEC e foi aprovado. Mas eu até mandei para os professores da escola em questão essas notas pra poder dar apoio e isso desencadeou uma série de situações [...]. Então, agora recentemente, tem um projeto de lei que propõe que figuras sejam censuradas se forem consideradas obscenas, em livros didáticos. Eu fico pensando, que livro didático traz figura obscena? Como que isso não está claro, uma imagem como a do meu livro pode ser
191
considerada obscena... ou a de uma família homoafetiva do livro de Geografia? (AUTORA A, 01.06.2017).
Para nós não foi surpreendente saber do posicionamento da Sociedade
Brasileira de Ensino de Biologia, mas chamou nossa atenção a passividade dos
ilustradores. Não foi por acaso que a Autora A se colocou como cidadã que fala por
si. Fato é que os ilustradores também não foram mencionados pela jornalista que
escreveu um artigo sobre o ocorrido. Ir à escuta de ilustradoras/es pode ser um
interessante objeto para pesquisas futuras.
De nossa perspectiva entendemos que quando concepções antidemocráticas
são incorporadas aos projetos educacionais, as mensagens podem assumir uma
dimensão ideológica bastante poderosa. É nesse contexto que materiais didáticos
podem servir e servem de fonte para o exercício de diferentes formas de poder,
portanto como instrumento de manipulação da opinião pública, como é o caso
quando a atenção é orientada em direção ao conteúdo veiculado e a ideologia é
identificada por determinados setores da sociedade como resultado de uma pretensa
―ideologia de gênero‖.
Finalmente podemos entender porque determinados setores da sociedade,
sobretudo grupos conservadores são hostis às posições feministas. Vinda de uma
crítica política da sociedade e de suas instituições, qualquer descrição acerca das
relações sociais torna-se suspeita de tentar transformá-las em uma ―ideologia‖. Daí
também a origem dos vetos ao uso do termo ―gênero‖ nos Planos de Educação,
Municipais e Estaduais, e a qualquer ação por parte das escolas sobre igualdade de
direitos, o respeito às diversidades, o combate ao preconceito e às discriminações.
3.4.4 O livro didático: um meio de transmissão cultural
Neste eixo de análise focalizamos o livro didático como veículo de transmissão
cultural. Procuramos compreender os processos de composição das obras didáticas,
investigar tensões e brechas entre estabilidade e mudança implicadas na sua
produção. Também buscamos compreender a organização interna, seus padrões,
relações e características.
Ao considerar os tipos de habilidades, competências e formas de conhecimento
envolvidos no uso de um meio técnico de comunicação, Thompson (2009) faz uma
distinção entre os processos de codificação e decodificação da mensagem e/ou
192
conteúdo. Enquanto a codificação está mais ligada ao processo de produção, a
decodificação tem mais a ver com a recepção.
Para nós do NEGRI, a distinção entre os dois processos é importante, pois
enquanto receptoras/es podemos ter habilidades, competências e conhecimentos
que nos permitam decodificar e analisar discursos veiculados nas obras didáticas.
No entanto, conhecemos pouco sobre a produção delas e o que está por trás delas.
Uma das características das publicações didáticas é que elas estabelecem
uma dissociação estrutural entre os processos de produção, circulação e recepção,
sendo que o primeiro abrange a elaboração e a escrita. Para uma melhor
compreensão desses processos, em nossas entrevistas procuramos investigar o que
autoras/es de obras didáticas levam em consideração, que desafios intelectuais e
profissionais são enfrentados e qual a autonomia de que dispõem. As/os
entrevistadas/os falaram sobre enfrentamentos e desafios de várias ordens e
dimensões. Falaremos sobre cada uma delas.
Ah, tem muitos desafios, né. Você vê, a obra didática é feita assim, vamos dizer, de várias camadas. Tem várias camadas, né. Tem aquela camada inicial que é o planejamento, a sequenciação de conteúdo e uma seleção mais genérica. Depois você põe à prova isso, organizando uma sequência de conteúdos. Muitas vezes você tem que voltar no planejamento inicial, tem que refazer [...] (AUTORA E, 17.08.2017). E assim, aquela sequência que a gente propõe não é uma sequência neutra. Ela foi baseada para atender a documentos oficiais, para atender a orientações dos parâmetros da avaliação dos livros didáticos, para não fugir muito do que os colegas, os outros colegas do mercado vão fazer, para também não ser aquele livro, assim, ―ah, esse aqui, nossa, esse aqui é o estranho‖. Então, você pode ousar, mas também se você for super ousado, é rejeitado. E eu sei porque já vivenciei isso como usuária do livro (AUTORA A, 01.06.2017).
“Nossa, tem tanta coisa que é levada em consideração”, informou o Autor U.
Bom, primeiro pela nossa própria formação, né. Eu sou formado em Licenciatura, então, há uma preocupação com a educação como um todo, né. Existe uma preocupação na formação do estudante. Existe uma preocupação com o professor que está utilizando o material, porque é muito comum você ter sistemas didáticos que focam muito no estudante e esquecem o professor, né. Então, a gente tem uma preocupação mais ampla com o professor. Há uma preocupação com a sociedade, né. Porque a gente, de certa forma, é... forma aquele estudante pra interagir com o meio, né. Então, como a gente espera que ele interaja, né? Que a gente, assim, seja uma ponte, e dê ferramentas pra que ele possa interagir da melhor forma possível, né. [...] Então, eu acho que a nossa preocupação é essa, mais lá na frente, de você formar o cidadão [...] (AUTOR U, 22.08.2017).
193
“Eu tenho os referenciais curriculares, os referenciais teóricos, nossa prática
como professoras ou como assessor de escola, né. Aí você junta tudo isso e você
cria mesmo, né. Aí é um trabalho de criação” (AUTORA E, 17.08.2017).
Para além das referências teóricas e curriculares, as/os entrevistadas/os
apontaram a experiência em sala de aula como referenciais importantes no processo
de elaboração e composição das obras didáticas.
Eu levo em consideração, em primeiro lugar, o aluno. Né. Em primeiro lugar, o aluno. Tem um colega nosso, que é o Alfredo Boulos, que você deve saber quem é de nome, né, autor muito renomado, de História. Ele fala assim: "eu tenho sempre um aluninho sentado aqui comigo, do meu lado". Ele conta assim o modo de reviver sua experiência como professor, ao escrever livros. Os meus alunos estão na minha imaginação, os alunos que eu conheci nas minhas oficinas, nas minhas aulas ou alguns que eu conheço por intermédio dos professores que assessoro. E, é claro, alunos que a gente vai observando, vai se referindo. [...] esse fiozinho de ligação com os alunos, eu procuro não perder, né. Procuro não perder (AUTORA E, 17.08.2017, grifo da pesquisadora). [...] todo mundo aqui é professor há muito tempo. Então, a gente também já tem a experiência, pois a gente trabalha na escola, no Ensino Médio e Fundamental. [...] nós, como professores, e eu, antes de ser autora, usei vários livros de colegas, autores também. Então eu sei como eu me sentia, o que me levava a escolher determinado livro. Então isso você não perde (AUTORA A, 01.06.2017). E, então, a maneira como a gente trabalha acaba se refletindo nesse trabalho quando a gente dá orientação para o professor no Manual do Professor. E a gente trabalha em cima de três saberes, né, é você ter o conteúdo atitudinal, então ele vai ter uma atitude frente ao ambiente onde ele se encontra; vai ter um procedimental, como que se dá isso; e o conceitual, que você tem que ter uma fundamentação pra poder interagir (AUTOR U, 22.08.2017).
O Autor I ressaltou que “é uma responsabilidade impressionante você passar
aquilo que pensa pra tanta gente”.
Com os livros a gente fala pra muita gente. Eu tive milhares de alunos aos quais eu passei minhas ideias e com os livros não são milhares, são milhões. Milhões e milhões de livros. Uma vez, num ano nós vendemos três milhões e trezentos mil livros no PNLD, acho que em 2004, 2005, por aí. É uma responsabilidade impressionante você passar aquilo que pensa pra tanta gente. Agora, voltando àquela sua primeira pergunta, a gente se baseia também na experiência, né. Coisas da vida que a gente agregou tenta passar [...] (AUTOR I, 22.08.2018).
A Autora E explicou que tem “um tripé para pensar no aluno, nos aspectos
humanísticos e no conhecimento científico”.
194
Em primeiro lugar o aluno. As referências teóricas, né, que, como eu te disse, adquiridas parcialmente de modo autodidata, mas, assim, com uma batalha muito grande pra chegar nas minhas referências, estudando das dez às duas da manhã, essas que eu acho que foram as principais, tá. São as referências que eu adquiri, claro, a USP, evidente, né, a formação de Biologia é fundamental, mas, assim, nas humanísticas, eu adquiri na PUC e na Filosofia na USP. Essas são as mais importantes como autora de livros didáticos, né. Até porque a ciência andou tanto que aquilo que eu aprendi lá na USP, se eu fosse usar só aquilo eu estaria perdida. Mas, assim, eu sou apaixonada por ciências também, sabe, procuro me atualizar, né. Então eu tenho esse tripé, né (AUTORA E, 17.08.2017).
É que nem um compositor de música, né, que vai inventar uma música nova,
né. Então você cria. Aí você junta tudo isso e cria mesmo [...]. Aí é um trabalho de
criação (AUTORA E, 17.08.2017, ênfase da entrevistada).
Nesse foco da análise apreendemos que a criação é um ato comunicativo. Ou
seja, a criação de um texto (escrito e/ou ilustrativo) é uma ação concreta. Nota-se
que no seu ofício, autoras/es propõem uma forma de relacionamento com o público
leitor. Dizer que de maneira geral levam em consideração os públicos-alvos, os
referenciais teóricos, curriculares e a prática em sala de aula é descrever um
processo comunicativo que de simples tem nada. Se há simplicidade, ela está na/no
artista.
Nossas análises apontam que a complexidade do processo de composição de
uma obra didática exige tempo e dedicação, experiências, conhecimentos,
habilidades específicas e não dispensa reflexões. Implica a superação de barreiras
diversas, o emprego de regras, códigos e convenções de vários tipos, além da
interpretação delas. Como vimos, autoras/es também se atentam que as publicações
didáticas estão disponíveis para uma variedade de leitoras/es.
Embora parte do público se aproxime da obra didática com outros interesses,
em que pese o interesse político de manipular a opinião pública, importa dizer que o
livro didático está presente nos lares de camadas menos e mais abastadas da
sociedade brasileira, até mesmo naquelas de perfil internacional como é o caso do
colégio Liceu Pasteur, de São Paulo, mencionada nos relatos do Autor I. Não é à toa
que a função social do livro didático, assim como da escola foi ressaltada em todas
as entrevistas.
[...] já tive casos. [...] era no Pasteur. Um pai veio falar na Editora. Ele escreveu para a Editora dizendo que tinha pegado um livro antigo nosso, da 6ª série, Plantas e Animais, que o filho estava usando. Gostou demais e começou a ler. E exigiu que a esposa lesse também (riso). Então, poxa,
195
está atrativo o livro, para o pai achar tão interessante assim (AUTOR I, 22.08.2017, ênfase do entrevistado).
“Mesmo que você ouse, sempre também dá um reforço naquilo que você gosta
mais, né” (AUTORA A, 01.06.2017). “[...] a gente vive rindo em torno desse assunto”
(AUTORA E, 17.08.17).
[...] é outra piada particular nossa. Eu gosto muito dessa piada. Que é o seguinte, toda vez que você vai dar uma aula ou você vai escrever um texto, ou você vai dar um curso para professor, onde você coloca mais ênfase, inicialmente? Quer dizer, tirando todos aqueles critérios bonitos que eu te falei, é aquilo que você gosta. Sabe? Você escolhe aquilo que você gosta. É inevitável. Isso está por baixo de tudo, de tudo, tudo, tudo. Todos os critérios científicos que eu enumerei, mas aquilo que eu gosto está em primeiríssimo lugar. Quer dizer, estou usando esse eu, no sentido amplo, né. E vira e mexe a gente se pega fazendo isso porque aí a gente volta. Opa, já estamos aqui naquilo que a gente gosta de novo. Vamos voltar ao que interessa? (AUTORA E, 17.08.17).
“Então, quando você faz um livro didático, você tem que ter um interesse muito
mais genérico do que aquilo que você gosta. [...] o livro didático tem uma função
social. Assim como a aula, né (risos). A aula também tem uma função social”
(AUTORA E, 17.08.17).
[...] vira e mexe a gente pega um material e vê lá um monte de Zoologia. Por quê? Ah, porque o cara é zoólogo. É o que ele gosta. Ah, eu lembro. Meu filho, o mais velho, teve aula numa escola muito bacana, ótima. Mas, quando ele estava no segundo ano do Ensino Médio, o professor de Biologia deu, sei lá, mais de um mês, dois meses de equinodermos. Fui lá falar com a coordenadora. Não vai mudar? Vai continuar falando de ouriços, estrela do mar. Vai continuar falando disso? ―Ah é... é porque é o mestrado dele esse assunto‖. Falei: Tudo bem, ele gosta. Mas todo mundo é obrigado a gostar de ouriço? Vamos mudar. Vamos dar uma anêmona que é vizinha do ouriço. Nem da anêmona ele falava! Então era isso, a estrela do mar com todos os seus pés ambulacrais, entendeu? Po, as pessoas vão às raias da loucura com esse eu gosto! Sabe? Tudo bem que eu goste. Eu gosto. Ok. Né? Sonha com isso. [...] o livro é para o leitor. Você não está escrevendo ficção. Eu até admito que quem escreva ficção, escreva pra si. De repente alguém mais gosta e o cara vira até um sucesso. Porque aquele eu era um eu universal. Mas isso é uma história da ficção (AUTORA E, 17.08.17).
“Tem escola que se o professor não usar o livro todo vem pai, mãe, todo
mundo reclamar: „porque eu comprei o livro. Não usou o livro todo?‘‖ (AUTORA A,
01.06.2017).
[...] eu sempre penso no professor daquela escola particular que está sendo pressionado a usar o livro todo. [...] aí eu fico, gente!? E aí, exercício. Por incrível que pareça sempre tem gente querendo mais exercício. Não é possível! Porque se fizer todos os exercícios que estão nos volumes já
196
precisa de muito tempo. Aí eu fico pensando, deve ser aquela situação assim, tem que passar exercício pra casa, né. Tem que ocupar o filho em casa. Então, você imaginando que dentro da sua realidade, o que você já passou, o que deve ser? Então e aí, como faz? Então a gente bota no Manual do Mestre alguns exercícios extras. Eu tenho clareza que aquilo que eu coloco no volume fica meio legitimado como sendo conteúdo que tem que ser trabalhado. Por mais que a gente coloque lá no Manual do Mestre: professor, o livro, sem a sua autonomia, não é um material... ele é um material de auxílio, é um material para ajudar o seu trabalho, mas você tem que fazer escolhas. E outra coisa, o livro pode ser trabalhado de trás para frente [...] (AUTORA A, 01.06.2017).
―Um livro, a gente do grupo de autores costuma dizer: não é para atender a
nossa vaidade acadêmica” (AUTORA A, 01.06.2017).
[...] se fosse pela minha verdade acadêmica, o livro seria diferente em muitas coisas. Ele seria menos linear e mais transdisciplinar. Mas a gente já tem experiência nesse campo, se for assim os professores não usam. E aí também você tem um livro que a academia bate palmas, é maravilhoso e tal, mas o professor não se sente confortável pra usar. Eu acho que é um pouco também de você não querer sair desse lugar da academia. Nós, pesquisadores do ensino de Ciências, entendemos que tem que ser assim, mas o professor não se sente confortável em usar (AUTORA A, 01.06.2017).
O que interessa o que é? É o aluno, é a referência curricular, é a referência
teórica, é o professor, é a sala de aula, é a multiplicidade do Brasil [...]. Sabe? Isso
interessa. Pra todos! (AUTORA E, 17.08.17, ênfase da autora).
A variedade da vida
Neste foco da análise apreendemos que as/os entrevistados se posicionam a
partir do princípio da não-exclusão com vistas à justiça social e ambiental. Falaram
dos mesmos fatos de diferentes pontos de vista, mobilizadas/os por questões
estruturais e simbólicas.
A maioria abordou um aspecto cujo lugar é cada vez mais comum nos debates
e que se refere à ausência ou limitada presença de mulheres e de ―não brancas/os‖
na ciência e tecnologia. Embora não tenham usado os termos, as/os
entrevistadas/os chamaram a atenção para o sexismo e o racismo em suas diversas
formas. Também defenderam o combate ao preconceito e à discriminação.
A Autora E fez referência aos saberes silenciados e à injustiça cognitiva.
Ressaltou a importância da ciência indígena e seu valor.
197
[...] Então, você tem aí uma noção daquilo que é ciência, que vai apartando o ser humano da ciência da natureza, né. [...] porque ele usa vários instrumentos, logística, muita tecnologia, né. [...] A ciência do indígena é tão importante. [...] eu gosto muito de trabalhar com a ciência do indígena. Tem um autor, que é um pesquisador da Federal do Paraná que se chama Germano Bruno Afonso. Ele faz uma pesquisa sobre o conhecimento dos Tupinambá. E ele vai mostrar que os Tupinambá já sabiam da relação Terra, Sol e Lua para a determinação das marés. Antes de Galileu explicar, eles já tinham explicado, eles já sabiam isso. Quer dizer, é um conhecimento mais objetivo. Tem isso. A ciência não revolucionária ou pré-revolucionária, ela tem essa capacidade de trabalhar com hipóteses tão boas ou às vezes melhores do que a ciência revolucionária. Mas a quantificação, a falseabilidade, a independência dos mitos, a questão da comunicação da troca, a exposição entre pares, tudo isso é pós-revolucionário e isso os indígenas não têm. Então, a gente deve ensinar a ciência indígena de uma maneira respeitosa, tal como ela é, capaz, sim, de perceber pela observação e pela comparação, as regularidades dos fenômenos naturais. Compara e percebe as regularidades que é o primeiro degrau da formação das teorias. Qualquer teoria científica é isso, você percebe as regularidades dos fenômenos, né. Depois começa a expandir com outras hipóteses, buscando explicações. Às vezes a explicação também é uma hipótese, né, mais geral. Às vezes é um fato. Então, eu acho que a ciência indígena tem esse lugar, né, da gente poder trabalhar o valor da observação e da percepção de regularidade (AUTORA E, 17.08.2017).
Sobre o uso de instrumentos, tecnologias e o afastamento do ser humano da
natureza, a Autora E explicou que se deu no sentido de que a relação entre ser
humano e natureza passou a ser ―mediada‖. Ela discorreu sobre as revoluções
científicas, a visão de natureza como ameaça. Também identificou que “o respeito
pela natureza é um valor recente”. Situou o Clube de Roma como marco histórico,
nos anos 1970, “quando começamos a perder a natureza” e fez menção ao livro
―Antes que a natureza morra‖, escrito por Jean Dorst, publicado originalmente em
meados dos 1960. “Antes disso, não, minha cara. Antes disso, a gente achava que a
natureza era inimiga. Estávamos evoluindo de um jeito que não era tão legal, né?
Agora a gente precisa voltar”.
Que antes, a natureza era inimiga, né. A natureza não era amiga, do homem ocidental. [...]. Para o homem ocidental, a natureza é inimiga, né. Porque, claro que a gente não é mais pagão há milênios e no paganismo a natureza é adorada, é amiga, é o ancestral, é respeitada etc. Mas, não sendo pagão, a gente não adora a natureza e a natureza, “ela ficou só destruindo”. As enchentes, os raios, os vulcões, né. É, a ameaça. Bom... eu tenho aqui um exemplar, eu espero que eu tenha ainda, que eu não tenha emprestado para alguém que não me devolveu, que eu não lembro quem é. Mas, o fato é que a gente teve aí um material dos escoteiros, quando meu pai era escoteiro, sei lá, explica, fazia arapuca pra passarinho. Esse respeito pela natureza é um valor muito recente. Isso é anos 70. Nós começamos a ver quando a gente começou a perder a natureza. “Antes que a natureza morra”, que é o livro clássico. Foi ali, anos 70. Clube de Roma, né? (AUTORA E, 17.08.2017).
198
Referências à iconografia e ao uso de imagens e ilustrações nas obras
didáticas foram ressaltadas em todas as entrevistas. A Autora A apontou o propósito
das imagens, ―que têm muita força para dar representatividade”. Ela realçou a
atitude das autorias em não silenciar, em desmistificar a ideia de ciência masculina e
branca.
[...] Então, né, ―ah por que é que tem uma mulher negra cientista?‖. É proposital, gente. Eu quero, primeiro desmistificar a ideia da ciência como masculina. Segundo, reforçar também, fazer o contraponto com os estereótipos que os livros mostram, aliás, mostravam, pois agora as análises de livros didáticos já estão mais atentas a isso. Mas era de praxe mostrar sempre a mulher negra como uma mulher pobre. Ou a criança indígena como a criança com verminose. Então, eu posso não silenciar, usar as imagens que têm muita força para dar representatividade, isso é de propósito. Então as pessoas pensam que no livro a imagem é só para enfeitar. Não é. Cada vez que eu escolho uma imagem, quando eu escrevo o texto, por exemplo, eu quero uma imagem de uma família. E a Editora me dá opções de imagens, eu quero gente com cara de gente, eu não quero gente com cara de modelo, né. Eu quero uma família multiétnica. Ali não é pra ser aquela coisa composta pra dizer que eu estou contemplando todas as etnias. Eu quero uma família brasileira, misturada, de verdade, né [...] (AUTORA A, 01.06.2017).
O Autor U e a Autora E fizeram referência às imagens icônicas de Rosalind
Franklin e de Marie Curie. A Autora E afirmou que a iconografia dos livros didáticos
apresenta mais homens que mulheres porque “não teve mais mulheres na ciência”.
[...] agora, efetivamente, tem menos mulher do que homem pra ser citado, no passado. [...] mulher começou a votar quando? Em trinta e... trinta e tanto [...], eu acho. Nem votar, não tinha o direito de votar
137. Mulher
analfabeta era o comum no século XIX, ―pra que aprender a ler?‖. Isso dá uma diferença! [...] (AUTOR I, 22.08.2017).
A Autora E teceu críticas ao uso de um repertório de imagens restrito a
“celebridades” ligadas às ciências e fez menção a estratégias pautadas em
competição e intriga como o caso de Rosalind Franklin que morreu no anonimato.
137 As mulheres conquistaram o direito de frequentar a escola antes do direito ao voto, antes do
direito a manter seu nome de solteira quando casada, antes do direito à interrupção voluntária da gravidez. O voto feminino no Brasil foi assegurado após intensa campanha nacional pelo direito das mulheres ao voto, no código eleitoral Provisório (Decreto 21076), de 24 de fevereiro de 1932, durante o governo de Getúlio Vargas. O direito de votar e ser eleita para cargos no executivo e legislativo foi conquistado depois de muitos anos de reivindicações e discussões. Fruto de uma longa luta, iniciada antes mesmo da Proclamação da República, foi ainda aprovado parcialmente por permitir somente às mulheres casadas, com autorização dos maridos, e às viúvas e solteiras que tivessem renda própria, o exercício de um direito básico para o pleno exercício da cidadania. Em 1934, as restrições ao voto feminino foram eliminadas do Código Eleitoral, embora a obrigatoriedade do voto fosse um dever masculino. Foi somente em 1946 que a obrigatoriedade do voto foi estendida às mulheres.
199
Também mencionou Marie Curie, motivo de reprovação de um livro de Química
avaliado no âmbito do PNLD.
Tudo bem. Até tem algumas. Além da Marie Curie, você tem outras, né. Tem a Rosalind, que foi uma injustiçada na descoberta do DNA, que hoje em dia já se fez justiça a ela. Você pode colocar algumas, né. No Brasil eu falaria de algumas pessoas, mas dá vontade de colocar uns anônimos também. Sabe? Porque já que nós não temos famosos, vamos botar anônimos. Vamos parar com essa mania de celebridade [...] (AUTORA E, 17.08.2017).
Não foi surpreendente que as/os entrevistadas/os tenham feito referências à
iconografia. Inúmeras pesquisas sobre livros didáticos são críticas em suas análises
da iconografia e da participação de mulheres na ciência. Menos discutido é o fato de
que os financiamentos de fundos para pesquisa, de origem corporativa ou do
Estado, são geridos por pessoas brancas, preponderantemente do sexo masculino.
Como as autoras assinalaram, a contribuição feminina vai além quando se leva
em consideração o valor atribuído ao trabalho de tantas mulheres invisíveis que não
são contempladas nas estatísticas nem nas mídias científicas.
Nunca é demais lembrar que há mulheres que fornecem ―matérias-primas‖ para
pesquisas e aquelas que trabalham nos serviços de fornecimento e provisões.
Secretárias, técnicas, assistentes, faxineiras, cozinheiras, cuja atividade artesanal e
prática são menos valorizadas em detrimento da carga teórica, científica e
tecnológica. Aquelas que dão conta do serviço doméstico (remuneradas ou não),
especialmente as que cuidam das crianças, pois, como se sabe, pouquíssimas são
as universidades e institutos de pesquisas que mantêm creches e instalações para
cuidado e educação infantil, o que contribuiria sobremaneira para o acesso e
permanência das mulheres e para um ambiente científico mais humano.
Entre tantas, as mulheres guardiãs de sementes do campo e das cidades.
Também as mulheres produtoras de sabão de cinzas, identificadas pelo Autor I138 e
as catadoras e artesãs que trabalham com reciclagem de lixo, bem lembradas pela
Autora A.
Eu acho que discutir gênero dentro de qualquer temática que envolva gente é importante. Porque se eu pensar em qualquer contexto que tenha o ser humano envolvido, que você tenha relações sociais imbricadas, você tem estereótipos a serem desconstruídos, você tem comportamentos vistos como padronizados, você tem pouca ou nenhuma ou muita
138
O sabão de cinzas tem origem nas realidades cultural, familiar e comunitárias das herdeiras desses conhecimentos. É um patrimônio cultural de famílias e comunidades do interior de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, entre outros.
200
representatividade. É... e aí vai desde coisas muito simples, né. [...] digamos, limpeza urbana. Você só via antigamente homem gari. Aí se começou a ter mulher gari. Então há mudança também na visão deste trabalho. Eu me lembro do meu pai, imagina, a gente era de família pobre. É o pobre massacrando pobre, né. Quando se dizia assim: ―tem que estudar porque senão vocês vão ser lixeiros‖. É uma visão do emprego, da pessoa que trabalha com limpeza como uma coisa ruim, imagina. E nunca vi alguém dizer assim, você vai ser lixeira. Porque é uma profissão “masculina”, aspas. Mesmo porque ninguém pensava em lixo como resíduo, ninguém pensava, né... quando você vê cooperativas de mulheres catadoras, de artesãs, de trabalhos com reciclagem, em que cada vez mais a mulher está presente, acho que dá e é interessante discutir. Nunca pensei isso, mas é interessante discutir. É importante (AUTORA A, 01.06.2017, aspas da entrevistada).
Lembremo-nos das mulheres que cuidam de outras mulheres. Aquelas que
ensinam as mulheres a cuidarem de si, sobretudo porque a luta contra o câncer de
mama e de colo do útero é uma luta de todas nós.
Figura 4 - “Imagens da mulher realizando autoexame das mamas”, mencionada pela Autora A. Fonte: Livro da Autora A.
Como vimos, a abordagem de gênero nos livros didáticos tem sido uma
dificuldade enfrentada por todas/os. Os exemplos apresentados pelo Autor I e o
Autor U coincidem com a afirmativa da Autora E: “as questões de gênero estão
extremamente confusas”.
A questão de gênero, dentro de Ciências, nós, nos livros, primeiro temos uma dificuldade em escrever porque são um cuidado extremo, que a gente pretende também que se use o livro em escola particular e eu já deixei de ter livros adotados no Mackenzie por causa de Evolução. No Nordeste, uma escola falou: ―o Senhor falou em bruxa. Não podemos usar isso aqui porque não existe‖. No nosso livro, o (título da obra), antigo, de 1º ao 5º ano, tinha historinhas no começo de cada capítulo. Eu não falei que existia bruxa, obviamente. Uma menina estava assistindo TV, o filme era um filme de medo, e ela ai ai ai e no filme tinha uma bruxa, uma coisa assim. Bateu a
201
porta atrás e ela se assustou. Era pra falar do ar em movimento, vento. Eu não ia falar de bruxa, imagina (AUTOR I, 22.08.2017). Apesar de a gente tomar paulada de tudo quanto é lado quando escreve alguma coisa de gênero, né. [...] ah, o editorial; ele faz uma revisão do nosso material, né. Então, [...] nós não somos isentos, né, sempre que você vai publicar alguma coisa, você publica sob a sua ótica. Então, a gente vê o desenvolvimento da ciência na idade média principalmente, foi visto sob a ótica da Igreja. Então, existe uma ótica aí envolvida, e eles fazem cortes. Eles falam: ―ah, eu acho melhor não trabalhar assim porque a gente não sabe como é que está o MEC, se vai ser selecionado‖. Então, não é um negócio democrático. Tem lá suas restrições também. Ou então, eles falam ―olha, a gente acha importante ter a discussão, mas a gente acha que vai dar problema, então é melhor não por‖. Entendeu? Então tem isso (AUTOR U, 22.08.2017).
O Autor U ressaltou a importância da discussão sobre gênero e racismo. Disse
que os livros didáticos prezam pela inclusão e justificou: “se você vai deixar de
discutir gênero já está fazendo uma exclusão. Porque existe o gênero na sociedade.
[...] eu acho importantíssimo ter a discussão de gênero na sala de aula”.
Sobre o racismo, ele apresentou um ponto para ser problematizado: ―[...] eu
não gosto do termo relações raciais. Porque pra mim é raça humana, é uma raça só.
Eu acho muito preconceituoso isso [...]” (AUTOR U, 22.08.2017).
Esse ponto de vista de um físico é compartilhado por autoras/es antirracistas
de várias áreas do conhecimento. Biólogas/os chegaram a sugerir que o conceito de
raça fosse eliminado dos dicionários e dos textos científicos.
A Autora A também ressaltou a inexistência de raças biológicas e destacou a
importância do combate ao racismo.
Gente! Quando eu coloco racismo no livro de Ciências: “pra que isso?‖ Pra que? Eu estou falando aqui que não existem raças biológicas, todo mundo é Homo sapiens sapiens. Mas eu não ignoro que exista racismo. E também o conceito de raça do ponto de vista etnográfico, sociológico. Não vou ignorar essa discussão porque é um embate importante. Aí eu vou deixar de aproveitar a oportunidade para trabalhar o racismo na escola? Discutir o racismo? Não. ―O que é que tem a ver?‖. Como “é o que tem a ver‖, gente? [...] (AUTOR A, 01.06.2017).
Os relatos da Autora E são esclarecedores. Ela enfatizou que “do ponto de
vista das Ciências Naturais faz muito mais sentido o ser humano, né; como um
membro da árvore da evolução”. “A gente pode ser um ser racional, irracional,
pensante, deficiente, qualquer coisa, mas a gente é ser vivo [...]”.
202
A gente não está separado. E tudo bem, a gente está separado na medida em que a gente tem a capacidade de falar sobre e de explicar, e de modificar tão profundamente. Nesse ponto nós estamos separados. Mas, como ser vivo que somos, e antes de qualquer coisa nós somos seres vivos. [...]. Somos. É de vida. A gente é vida, a gente é parte do ambiente. A gente é componente do ambiente. Nós fazemos trocas com o ambiente. Então, eu acho que a gente precisa entender, como cidadão, agora me colocando do ponto de vista mais humanístico, como cidadão, a gente precisa se entender como parte do ambiente (AUTORA E, 17.08.2017, ênfase da entrevistada).
As colocações das/os entrevistadas/os podem ser ilustradas com a
apresentação veiculada no livro da Autora A, no qual identificamos dentre as
imagens de adolescentes: um ―jovem asiático‖, uma ―adolescente brasileira do povo
indígena Sateré-maué‖, de Manaus; uma ―adolescente europeia‖; um ―adolescente
inuíte‖, ―povo originário das regiões geladas do norte do Canadá‖, e um ―jovem
africano da República da Namíbia‖.
Figura 5 - “Nós, seres humanos”.
Fonte: Livro da Autora A.
Nós, seres humanos O que um asiático, uma sul-americana, uma europeia, um inuíte do Polo Norte e um africano têm em comum? Apesar de habitarem diferentes regiões do planeta e terem aparências física e cultural distintas em alguns aspectos, os seres que aparecem nas imagens a seguir são todos da mesma espécie: a espécie humana. Somos seres vivos do Reino Animal e
203
nossa identidade biológica indica que pertencemos ao filo dos cordados, à classe dos mamíferos, à ordem dos primatas, à família dos hominídeos, ao gênero Homo e a espécie Homo sapiens. Tal como as outras espécies de seres vivos, os seres humanos não podem ser estudados como se fossem um grupo à parte e independente do meio ambiente no qual está inserido. 1 Alguma vez você já se perguntou como surgiu a espécie humana? 2 Será que o ambiente físico da Terra, formado por fatores como o solo, a água e a atmosfera sempre foi como é hoje? (LIVRO DA AUTORA A, grifos da pesquisadora).
Enquanto estudos mais recentes focados nas relações sociais usam o termo
―interseccionalidades‖, autoras/es de livros didáticos de Ciências Naturais chamam a
atenção para a inseparabilidade.
Não foi à toa que a Autora E falou sobre a cooperação entre espécies
diferentes. De seus relatos destacamos a importância de se atentar para as
implicações da falta de conexão com corpos de outros seres vivos (seres sercientes)
diferentes de nós, seres humanos. O pedido de socorro da tartaruga139, mencionada
pela Autora E é um exemplo dos impactos das atividades humanas na vida marinha.
Figura 6 - Tartaruga vítima de rede de pesca. Fonte: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio/MMA, 2016).
A Autora E também falou sobre as relações “entre as árvores” e discorreu
sobre a construção da ciência. Ela explicou: “Ciências Biológicas evoluiu com um
trabalho bem positivista. Nós estamos saindo desse positivismo agora”.
Porque existe cooperação entre espécies. Coisa que anos atrás a gente achava que não tinha. Ciência, né. [...] estamos entendendo mais as relações entre as espécies, as relações até entre grupos maiores, entre
139
Cf. Tartaruga nada até pescador pra pedir ajuda. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Eb52F1GIou8>. Acesso em: 20 ago. 2017.
Aquilo que você dá para o ambiente, ele vai te devolver. Talvez não te devolva assim, trazendo de volta, né. Que nem aquela tartaruga presa na rede de pesca que veio pedir para o pescador cortar. A tartaruga vai e pede ajuda (AUTORA E, 17.08.2017).
204
componentes de uma floresta, as árvores, né. Tem um livro que eu estou louca pra ler, que fala sobre os sentimentos das árvores, uma comunicação entre as árvores (AUTORA E, 17.08.2017).
―A vida secreta das árvores‖ é o título do livro mencionado pela Autora E,
publicado no Brasil em 2017, pela Editora Sextante. O autor é Peter Wohlleben,
engenheiro florestal e pesquisador alemão que se tornou conhecido no Brasil por
escrever sobre ecologia em linguagem popular, quase poética.
Wohlleben (2017) mostra que as árvores são seres sociais, mais do que
pedaços de madeira esperando para serem transformados em bens econômicos.
São mais do que organismos que servem à humanidade produzindo oxigênio ou
limpando o ar.
Os porquês das árvores serem sociais ―são os mesmos que movem as
sociedades humanas: trabalhando juntas elas são mais fortes‖. Isto porque ―uma
única árvore não forma uma floresta, não produz um microclima equilibrado; fica
exposta, desprotegida contra o vento e as intempéries‖. Diferentemente, ―muitas
árvores juntas criam um ecossistema que atenua o excesso de calor e de frio,
armazena um grande volume de água e aumenta a umidade atmosférica‖,
propiciando um ambiente no qual elas conseguem viver protegidas e durar bastante
tempo. ―A floresta não tem interesse em perder seus membros mais fracos, pois com
isso surgiriam lacunas entre as copas. Com isso, a alta incidência de luz solar e o
excesso de umidade do ar perturbariam o microclima sensível‖ (WOHLLEBEN, 2017,
p. 11 e 19).
O autor não ignora que há competição entre espécimes de espécimes
diferentes, já que as árvores competem por recursos (sol para as copas e água para
as raízes). Ele explica que as condições de crescimento podem variar bastante em
questão de metros: o solo pode ser pedregoso ou muito solto, armazenar muita ou
pouca água, ser rico em nutrientes ou extremamente árido. Assim, cada árvore
cresce em seu ritmo. Ele menciona a pesquisa de Vanessa Bursche, da
Universidade Técnica da Renânia do Norte-Vestfália em Aachen que apresenta
resultados surpreendentes: as árvores se sincronizam de tal forma que todas têm o
mesmo rendimento; elas igualam os pontos fracos e fortes entre si.
Não importa se têm o tronco grosso ou fino: todos os espécimes produzem a mesma quantidade de açúcar por folha. Esse nivelamento acontece nas raízes. No subterrâneo ocorre uma troca ativa, segundo a qual quem tem
205
muito cede e quem tem pouco recebe ajuda. E é nesse momento que entram em cena os fungos, que, com sua rede extensa, funcionam como uma gigantesca redistribuidora de energia. Lembra um trabalho de assistência social tentando evitar que o abismo para os indivíduos desfavorecidos da sociedade cresça ainda mais (WOHLLEBEN, 2017, p. 20).
Também o Autor I discorreu sobre o reino animal. Disse que a cooperação
ocorre em algumas ―classes‖ e sinalizou que a noção de competitividade adotada
pelos países é o fator central do contexto dominante. Ele explicou:
[...] os leões trabalham em sociedade, diferentemente das onças, dos tigres. A sociedade humana, com toda certeza, de início era uma mortandade impressionante. Quer dizer, você conseguiu algum alimento, eu vou lá, bato na sua cabeça e uso pra mim. Você tem mulheres, eu bato na sua cabeça. Isso só diminuiu na hora que começaram as leis. Se você bater na cabeça dele nós vamos juntar um grupo e te pegar. Começou policiamento, leis. Na Biologia, a gente não é bonzinho, não. A educação é que tem que nos transformar em pessoas cooperativas. “Existe um gene social, gregário, que lobos têm, que leões têm, que ser humano tem, mas existem os genes agressivos” aspas em tudo isso. Quer dizer, primeiro eu e aí, primeiro eu e minha família, não, minha família e eu, até (riso). Na sociedade competitiva foi o jeito que alguns países encontraram para que as pessoas rendam no trabalho, a competição, o superar os outros. O resultado é horrível. [...]. Tem se que encontrar um dia um jeito que haja uma coisa mais fraterna, menos competitiva, onde todos contribuam igualmente, com empenho, com toda a sua capacidade, inteligência que usam na hora de competir. Agora se não põe a competição, se é amistoso é... o futebol, se é amistoso, fala: ―ah, agora vai pagar o bicho‖. Você sabe o que é que é? (AUTOR I, 22.08.2017, aspas do entrevistado).
A noção de competitividade foi uma questão bastante criticada pelo Autor I. Ele
até traçou um raciocínio da vida competitiva na Biologia e arriscou uma proposta
para reflexão crítica.
[...] começar a competição desde tão cedo? É tão precoce essa competição. ―ah, mas é a competição que vai ter a vida inteira‖. A gente compete, eu estou competindo com livro do país inteiro aí, o tempo todo, passou, não passou, o Bandeirantes está usando, o outro não está usando, vamos até lá pra ver, vamos conversar com os professores, aí eu vou, o outro vai também, o (nome de colega autor concorrente) vai no mesmo dia falar sobre o livro dele (riso). Coisa horrorosa, né? Então, mas não sei se tem solução isso. A vida competitiva, aliás, tá na Biologia isso, né. Darwin. Coisa horrorosa, né (riso). Darwin diz no social. Do darwinismo intelectual, nunca ouvi falar esse texto assim, mas estou propondo, a seleção da luta pela vida. O mais forte sobrevive, o mais “forte” aspas ganha mais, tem um emprego, o mais “fraco” se entorta. Mas é difícil, né. Não sei em que tipo de não haveria isso, em que tipo de sociedade haveria sustentabilidade, todo mundo trabalhando o suficiente, com afinco, com estímulo pra dar certo. E o estímulo é isso aqui ($)
140. Há outro estímulo que funcione? O que você
140
Linguagem gestual.
206
acha? (AUTOR I, 22.08.2017, aspas do entrevistado; grifo da pesquisadora).
“Quando tem o bicho, quando tem o prêmio, o bônus, o esforço é muito maior.
Os professores na rede particular, o mesmo professor dando aula na escola pública, é diferente. É lamentável dizer isso. Onde ele falta se tiver que faltar? Na pública. Porque é menos remunerado e porque não é punido. Se você faltar três, quatro vezes no ano no (nome do colégio), você é mandado embora. Se chegar atrasado um monte de vezes vão te chamar atenção. Na rede pública, você tem direito a faltar, não sei como que está a lei agora, mas pode faltar 12 vezes por ano, sem justificar e depois tem mais 12 abonadas. Eu acho que é uma coisa assim ou é seis, enfim... é impressionante. O professor que lê jornal na classe recebe o mesmo que o que não lê jornal. E esse que lê jornal na classe, na rede pública, na rede particular está trabalhando com afinco. Como é que a gente pode evitar isso? Eu pergunto, eu não respondo (riso). Eu não sei (riso) (Autor I, 22.08.2017, grifo da pesquisadora).
Nesse contexto o Autor I focalizou a posição das crianças na sociedade
brasileira. Em diversos momentos da entrevista ele mostrou sua preocupação com
as condições de vida delas. De seus relatos podemos entender que assim como o
vazio quântico é cheio, as crianças, em si mesmas, também são repletas de
potencialidades. No entanto, a dinâmica gerada pelas ações do ambiente e as
condições diversas da realidade social são componentes que podem comprometer o
seu pleno desenvolvimento e aprendizagem, principalmente em um mundo que se
torna cada vez mais hostil a elas.
Ele sinalizou que na competição da luta pela vida, as crianças estão em
desvantagem, dadas as suas condições de dependência e vulnerabilidade
intrínseca. No campo da educação, seus relatos apontam que o “darwinismo
intelectual” tem mais a ver com as desigualdades estruturais (moradia, saúde,
nutrição).
[...] e aí é diferente. Um aluno de classe alta, acompanhado pelos pais, com professores, com particulares, com estudo de línguas, com não-sei-quê é diferente da pessoa, da criança na favela, que luta pela subsistência, que ajuda a mãe, que ajuda o pai ou que não tem pai [...]. Essa criança tende a render menos. [...] a mãe que toma mais conta dos filhos que o pai, um negócio esquisito também, mas... Enfim vai tomar o ponto do filho e é o decorado. Eu lembro uma vez, lecionava na 5ª série. Era uma 5ª série excelente, criancinhas, né. [...]. Às vezes eu puxava minha cadeira para o meio da sala, cadeira giratória, e conversava com os estudantes. Aquela era uma classe muito quieta e gostava. Era uma classe que só tirava 8, 9, 10, a classe toda. Crianças saudáveis, num ambiente bom tendem a ir bem (AUTOR I, 22.08.2017, ênfase do entrevistado).
207
Ele mencionou que as crianças estão mais expostas às ameaças ambientais e
focalizou as desigualdades regionais. Destacou a falta de saneamento básico como
principal fator da Esquistossomose em crianças que vivem na Região Nordeste. A
doença pode causar anemia, raquitismo e reduzir a capacidade de aprender.
[...] a Esquistossomose é uma coisa brava. Hoje melhorou um pouco, mas, em região do interior de Alagoas, Sergipe, entre outros, ainda é inevitável. Inevitável porque o calor é imenso e a criança vai para a água. Então, chegar e falar ―você não pode brincar nesse laguinho‖, como? Você vai ficar fazendo o que? Não tem lazer, o calor é terrível, o esgoto não existe, a água está contaminada, tem o caramujo, naturalmente (AUTOR I, 22.08.2017).
“É... esse tipo de coisa entra na gente e eu acho que em parte isso vai para os
livros também. Na hora que você escreve põe um pouco de si” (AUTOR I,
22.08.2017).
Aqui reproduzimos a poesia que inspirou o capítulo de seu livro, ―Cuidar de
tudo‖, dirigido a estudantes e professoras/es do ensino fundamental I, extraída do
livro ―Boa sorte‖, escrito pelo seu pai em 1999.
Que será que aconteceu? Tá todo mundo correndo! Quebra-gelo soviético... Aviões americanos... Cientistas alemães... Tem até submarino com reator nuclear! Que será que aconteceu? Em Londres, Moscou, Paris... Em Roma, Rio de Janeiro... O povo do mundo inteiro percorre ruas e praças exigindo pronta ação. Uma ―palavra de ordem‖: É preciso salvar! É preciso salvar! Elas vão morrer... A espécie vai se extinguir... Nessa altura eu perguntei: O que é que há por aqui? De que vocês estão falando? Das crianças da Somália? Não! De baleias encalhadas no gelo perto do polo — bem ali! Ah! Bem! Agora entendi. Só lamento que não sobre um pouco desse entusiasmo para salvar as crianças do Nordeste aqui ou ali (LIVRO DO AUTOR I).
Não é irrelevante lembrar que a proposta midiática do filme ―O Grande Milagre‖
não era mostrar o lado ecologicamente correto da ação em prol dos animais, mas
explorar o episódio político que reuniu forças contrárias em torno de um objetivo
comum. No caso, americanos e russos, históricos inimigos durante a Guerra Fria.
Destacamos que o propósito da publicação desse gênero textual não é
questionar sobreposição de direitos, tampouco comparar a proteção de crianças e
animais. A proposta é promover a leitura, discussões compartilhadas e promover o
debate crítico tal como propõem outros livros, a exemplo do texto veiculado na obra
didática dirigida a estudantes e professoras/es do 7º ano do ensino fundamental, no
qual lemos:
208
[...] os animais têm papéis diferentes e complementares nos ambientes em que vivem. Essa dinâmica promove o equilíbrio na natureza. Os animais matam para se alimentar ou para se defender, mas não fazem guerra. [...]. No Brasil há problemas ambientais e sociais muito sérios que não podem ser excluídos um pelo outro. Lutar pelo mico-leão-dourado, por exemplo, não deve significar o abandono da educação infantil, pois a sociedade que não cuida de suas crianças também não cuida de seu ambiente. São preocupações que se somam e não se dividem, pois o sentimento de preservação inclui a própria espécie. Por isso, preservar e ter cuidado com o ele só tem sentido em uma sociedade voltada para a sobrevivência digna de todos. Se o foco da preservação não se dirigir para as gerações futuras, a luta ambientalista não terá sentido (LIVRO DA AUTORA E, grifo do livro).
Ao longo de nossas análises veremos que a estratégia ideológica da
―competição‖ e da ―bonificação‖ em suas várias formas tem consequências de longo
alcance, principalmente para a vida das crianças.
Importa dizer que as colocações das/os entrevistadas/os chamaram nossa
atenção para a emergência de um pensamento cartesiano, por assim dizer uma
mentalidade quantitativa, mensuradora e competitiva, parte integrante das relações
de poder, cujo processo vem desde a modernidade moldando o mundo tal como o
conhecemos hoje.
Como apontou a Autora E, essa visão distorcida tem suas raízes no
positivismo. Remonta ao momento das teorias econômicas emergentes no século
XIX que representaram uma grande mudança quanto ao significado e o sentido do
raciocinar e do agir. A mentalidade mensuradora foi gradativamente adentrando à
vida cotidiana que passou a ser direcionada com vistas à contagem do custo-
benefício. Enquanto alguns lucram com essa ideologia, outros tantos são
prejudicados.
Parafraseando Fúlvia Rosemberg, o que conta é o ―vil metal‖. No campo das
ideias dominantes, o dinheiro é o “bicho”. É nesse sentido que de nossa perspectiva
negriana argumentamos que discursos acionados pela lógica do crescimento
econômico tendem a seguir uma forma de raciocínio muito parecida, focalizando a
infância e as crianças como fazem ao se referir ao potencial de reservas
inexploradas de recursos naturais e de novas tecnologias, até mesmo as
educacionais, com vistas à resolução de problemas, mas com a finalidade de
maximizar lucros e contabilizar resultados.
De acordo com Jens Qvortrup (2010, p. 787), fato é que ―as crianças sempre
tiveram um papel específico – a saber, o de matéria-prima para a produção de uma
população adulta‖. Ideologicamente o grupo dominante se refere a elas como o
209
futuro da nação. É nesse sentido que advertimos que a corrente do pensamento
dominante é falha porque é projetado para maximizar lucros e resultados. Tem como
valor de definição o dinheiro no lugar de vida.
Temas, conteúdos, imagens e textos
As obras didáticas podem ser vistas em seus aspectos intencional,
convencional, estrutural, referencial e contextual. Todos eles estão relacionados com
a sua composição. Elas apresentam uma configuração geral muito próxima, pois
seguem os critérios de estrutura editorial e de especificação técnica para produção,
estabelecidos nos editais do PNLD, comentadas anteriormente e detalhadas mais à
frente.
Já a partir das capas nota-se que as coleções didáticas fazem uso de uma
variedade de imagens, desde diagramas, mapas e tabelas, células, plantas e insetos
pinturas rupestres, obras de arte até estruturas de órgãos internos e externos dos
corpos humanos.
As imagens veiculadas em obras didáticas de Ciências Naturais podem ser
categorizadas por tipos. Daremos prioridade àqueles que são mais frequentes: as
ilustrações científicas e as fotografias. Na figura 7 identificam-se a fotografia dos
―dois jovens‖ e as demais que são exemplos de ―ilustração científica‖.
Visto em seus aspectos estruturais, nas obras didáticas de Ciências Naturais,
textos e imagens compõem as páginas, ou seja, as imagens dialogam com o texto.
Talvez possamos denominar essa composição de técnicas de produção gráfica. Às
vezes privilegia-se a imagem, como por exemplo, na abertura de capítulos e/ou
unidades, que apresentam uma ou mais de uma imagem que ocupa uma ou duas
páginas.
Em levantamento realizado em estudo anterior identificamos que as fotografias,
além de constituírem um numeroso conjunto de ilustrações, apresentam uma
particularidade notável: a principal fonte delas são os bancos de imagens, os quais
são compostos por um conjunto de imagens em arquivo, ou seja, em estoque. A
maioria dos bancos de imagens identificados nas obras didáticas é internacional,
alguns resultantes de aquisições e fusões, com presença ativa no mercado global de
210
mídia. Por exemplo, a fotografia dos ―dois jovens‖ é da Dreamstime.com141, uma das
líderes mundiais em fotografia de stock (RIBEIRO, 2013).
Figura 7 - Página com exemplos de imagens dos tipos “fotografia” e “ilustração científica”. Fonte: Livro da Autora A.
Um dos serviços oferecidos pelos bancos de imagens é o sistema de
assinaturas. Na maioria dos casos, essa modalidade de comercialização é usada,
principalmente, pelo mercado editorial. As assinaturas são uma opção de baixo
custo para clientes que necessitam de volume de imagens, mas reservam um
orçamento reduzido para adquiri-las. Em nossas análises identificamos que as
Editoras também utilizam fotografias Royalty Free, um tipo de licenciamento para
uso de obras protegidas por direito autoral, livre de custo.
Entre as fotografias veiculadas em obras didáticas de Ciências Naturais, as
imagens em 3D e 4D são comuns. Elas são facilmente identificadas nas unidades
que abordam a temática da sexualidade e reprodução humana, as quais apresentam
141
A Dreamstime é uma empresa de fortuna. Excede 11.000.000 de visitas únicas mensais. Online desde 2000 como um website de fotografia de stock livre de direitos, a Dreamstime evoluiu para um ativo e poderoso site baseado numa comunidade de fotografia. A agência ocupa o 2º lugar mundial em audiência de fotografia de stock e licenciamento de imagens. Dados históricos recolhidos em Dezembro de 2007 apontaram 500.000 membros registrados, 26.000 colaboradores, 2.000.000 de imagens online e 4.000.000 de visualizações únicas. Desde 2006, a Dreamstime é membro da Digital Media Licensing Association, a associação comercial para bancos de imagens nos Estados Unidos. Em outubro de 2007, a Dreamstime tornou-se a primeira agência de cunho comunitário a ser aceita como membro integrante da Coordination of European Picture Agencies Press Stock Heritage. Também é uma das fundadoras da European Tech Alliance.
211
a etapa intrauterina da vida humana. Através da reprodução de imagens de exames
de ultrassonografia ou simplesmente ultrassons, leitoras/es podem identificar o
desenvolvimento e detalhes físicos do feto.
É claro que as imagens têm uma função educativa e informativa. No campo de
publicações científicas toda representação gráfica ou artística que se relacione
estreitamente com a ciência é considerada ―ilustração científica‖. Esse tipo de
ilustração é característico das obras didáticas de Ciências Naturais. A ―ilustração
médica‖ é uma modalidade da ilustração científica. ―Arte rupestre‖ ou ―pintura
rupestre‖ são termos utilizados para se referir às mais antigas representações
artísticas conhecidas, por isso é considerada precursora da ilustração científica
(RIBEIRO, 2013).
Ressaltamos a distinção entre ―obras de arte‖ e ―ilustração científica‖. A figura a
seguir é um exemplo de ―obra de arte‖ reproduzida em livros didáticos de Ciências
Naturais. No caso, a pintura reproduzida no livro Ciências f, (2015) representa o
laboratório de um alquimista, por Johannes Stradamus ―Laboratório de alquimista‖.
Figura 8 - Página com exemplo de imagens do tipo “obra de arte”. Fonte: (CIÊNCIAS f, 9º ANO, 2015, p. 62).
Podemos considerar que as ―obras de arte‖ e as ―ilustrações científicas‖ se
diferem pela função. As obras de arte são criadas, apreciadas e/ou avaliadas por
sua função artística, ou seja, a representação do belo, do símbolo. Por exemplo, os
212
vestígios da herança artística flamenga de Johannes Stradamus (na Itália Giovanni
Stradano) foram muito apreciados no ―refinado círculo maneirista‖, um movimento na
arte italiana de aproximadamente 1520 a 1600 e que deu origem ao ―movimento
barroco‖, o qual reflete as tensões religiosas (católico versus protestante) do período
(1.600 a cerca de 1.750), marcado por uma nova e mais ampla visão de mundo
baseada em ciência e exploração, e pelo crescimento de monarquias absolutistas142.
De nossa perspectiva entendemos que a reprodução de obras de arte em livros
didáticos contribui para promover o diálogo entre as várias áreas do conhecimento.
Além disso, contribui para romper com as hierarquias da cultura. Como a pesquisa
de Pierre Bourdieu e Alain Darbel (2007) revelou, ―o amor pela arte‖ é fruto de
aprendizagem e socialização e o ―gosto‖ é uma ideologia que acaba tendo
consequências políticas.
As ilustrações científicas têm uma função prática. Elas servem para esclarecer
o texto científico e sua criação leva em conta as informações proporcionadas pela
ciência, ou seja, o foco está na precisão da informação. Esta diferença fica muito
clara quando se atenta aos aspectos convencionais da ―ilustração científica‖. A
convenção institui que as cores utilizadas são fantasia; os tamanhos e as distâncias
estão fora de escala. Por exemplo, na ilustração da ―mulher‖, ―as dimensões das
estruturas representadas estão fora de escala; as cores usadas não são as reais‖.
Também na imagem de Plutão, apresentada mais à frente, na qual se pode ler:
―Ilustração fora de escala de tamanho e distância entre os planetas. As cores
utilizadas são ilustrativas e não correspondem aos tons reais‖.
Para nós, destacar essa distinção é importante, pois o objeto posto sob análise
é uma construção simbólica significativa que exige uma interpretação. Daí a
importância de se atentar ao processo de composição das obras didáticas. Como
afirma Thompson (2009), somente desse modo é possível fazer justiça ao caráter
distintivo do campo-objeto, levando em consideração que as formas simbólicas
estão também inseridas em contextos sociais e históricos de diferentes tipos e, como
construções simbólicas significativas, estão estruturadas internamente de várias
maneiras. Imagens e textos são formas simbólicas sujeitas a inúmeras
interpretações. Dependendo das circunstâncias podem até ser alvo de protesto em
142
Cf. Web Gallery of Art, uma base de dados pesquisável de belas artes e arquitetura europeia (séculos III-XIX), que contém atualmente mais de 46.000 reproduções, biografias de artistas, comentários, música, catálogo etc. Disponível em: <https://www.wga.hu/index.html>. Acesso em: 22 dez. 2018.
213
abaixo-assinado, como ocorreu com algumas coleções didáticas de Geografia e de
Ciências Naturais, entre outras obras literárias.
Protestos e atividades políticas também têm espaço nas obras didáticas.
Algumas fotos-legenda mostram manifestações realizadas em diferentes contextos
históricos, espaciais e temporais. Focalizando as legendas identificamos: ―Protesto
em frente ao Palácio do Itamaraty em Brasília (DF) pedindo a criação do Santuário
de baleias do Atlântico Sul‖ (CIÊNCIAS d, 7º ANO, 2010, p. 161); ―Manifestação na
Cidade do México reivindicando maior comprometimento do governo com as
questões das mudanças climáticas. A frase escrita no balão diz: ―O tempo está
acabando: salvem o clima!‖, em 28 de agosto de 2009 (CIÊNCIAS b, 6º ANO, 2015,
p. 137).
Entre tantos livros que registram protestos e atividades políticas, apresentamos
as legendas que focalizam o Brasil, reproduzidas nas obras analisadas. Um dos
livros destaca a união da Marcha Mundial das Mulheres e os movimentos negros:
―Manifestantes de movimentos negros e sociais reúnem na Marcha da Consciência
Negra, realizada em São Paulo (SP), em 2008‖.
No mesmo livro identificamos duas imagens que apresentam posições
contrárias e a favor da ―legalização‖ do aborto: ―Passeata na cidade de São Paulo, a
favor da legalização do aborto‖. ―Representantes de entidades religiosas protestam
contra a legalização do aborto em frente ao Congresso Nacional‖ (CIÊNCIAS r, 8º
ANO, 2009, p. 10 e 75).
Laços vermelhos colocados na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para marcar o Dia Mundial de Luta contra a Aids, 1º de dezembro. Segundo o Programa das Nações Unidas sobre HIV/Aids, desde 1981, quando surgiu a doença, a Aids já matou cerca de 25 milhões de pessoas no mundo (CIÊNCIAS d, 8º ANO, 2009, p. 143). Manifestação estudantil contra a ditadura militar no centro de São Paulo, em 1977. A ditadura militar foi um período da política brasileira (1964 a 1985) em que os militares governaram o Brasil. Caracterizou-se pela falta de democracia, supressão dos direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime (LIVRO DA AUTORA E).
Essas fotos-legenda indicam que mudanças nas relações sociais não
acontecem num vácuo. Elas resultam de conflitos sociais que se somam em todos
os continentes. Parafraseando o sociólogo mineiro, Herbert de Souza, o Betinho, no
Brasil, as mudanças não correm, mas ocorrem (SOUZA, 1993).
214
Seus sinais estão, por exemplo, no melhoramento das cidades em plena crise da administração federal, no basta à corrupção e no movimento pela ética na política, na emergência de movimentos em favor da mulher, da criança ou da ecologia, no anti-racismo. São antídotos contra a cultura autoritária que sempre ditou a receita do desastre social. Eles estão na confluência de duas tendências. Parte da elite não quer viver no apartheid sul-africano. E cada vez mais pobres querem sua cota de cidadania. Essa maré vai empurrando a democracia da sociedade para o Estado, de baixo para cima, dos movimentos sociais para os partidos e instituições políticas (SOUZA, 1993, p. 19).
O livro da Autora E apresenta um texto intitulado ―A conquista da liberdade
sexual no século XX‖, o qual contextualiza historicamente mudanças, muitas delas
resultantes de conflitos sociais, por exemplo, na estrutura da sociedade, na
organização das famílias e o rompimento com normas de comportamento sexual que
teria mudado principalmente a vida de mulheres. Indica que ―a pílula
anticoncepcional foi revolucionária ao surgir‖. Também uma foto-legenda indica
mudança doméstica ―anúncio de máquinas de lavar da década de 1950. Máquinas
ajudaram na libertação da mulher do mundo doméstico‖. Visto em seus aspectos
intencionais, o texto destaca algumas palavras que demarcam mudanças ocorridas
já comentadas.
Na década de 1960, [...] houve nos EUA um movimento de jovens – o movimento hippie – que se opunha ao serviço militar para participar da Guerra do Vietnã. Um lema desse movimento se tornou muito conhecido: Paz e Amor. O rompimento com normas de comportamento sexual, o então chamado amor livre, colocava-se como uma forma de oposição à guerra e a quem defendia e detinha o poder, geralmente pessoas de geração mais velha com valores morais tradicionais. A repressão sexual, baseada em valores religiosos e dominante [...] o amor livre significava para os jovens de ambos os sexos, mas principalmente para as mulheres ter condições de escolher com quem, quando e como fazer sexo com alegria e prazer, desde o início de sua vida sexual, atendendo aos seus desejos, sem a necessidade de casamento. Essa bandeira era nova na sociedade, era modernizante. Propunha mudanças culturais, sociais e também políticas. Disseminou-se por todo o mundo ocidental [...]. No Brasil, nas décadas de 1960 e 1970, jovens favoráveis ao amor livre tiveram papel importante na luta contra a ditadura militar. A partir dessa época, nas culturas ocidentais, a sexualidade não foi mais norteada apenas segunda a moral sexual repressora e ocupa hoje papel reconhecidamente importante, embora adquira, em cada localidade, variações que dependem de alguns fatores, como a cultura e a economia. O surgimento da Aids na década de 1980 reforçou a importância da discussão entre parceiros e entre pais e filhos, de forma séria e obrigatória, sobre comportamento sexual, pois envolve cuidados com a proteção à vida [...] (LIVRO DA AUTORA E, grifos do livro).
Ao longo de nossas análises vimos que a abordagem de gênero na temática da
sexualidade está no centro dos debates atuais. Como se pode apreender dos relatos
215
do Autor I, de maneira geral as unidades que versam sobre sexualidade e/ou
reprodução humana abarcam temas tais como: adolescência; gravidez; saúde e
hereditariedade.
No 8º ano, a gente descreveu o que é heterossexualidade, homossexualidade e em nenhum momento fala de comportamentos ou de desvios. [...] Nós falamos o que é isto, o que é aquilo, obviamente tudo quanto é defesa contra doença sexualmente transmissível, falamos sobre o que é aborto, como evitar gravidez, falamos de gravidez indesejável no caso de menores, porque isto é legal, é muito complexo uma menina de 12, 13 anos começar uma família, um negócio... e aí há um pouco de crítica, mas a gente tentou apenas nos envolver com a parte científica (AUTOR I, 22.08.2017).
A abordagem do tema sexualidade e/ou reprodução humana vai evoluindo à
medida que estudantes ganham idade. Ou seja, o nível de complexidade e
profundidade é diferente em obras didáticas dirigidas às séries iniciais e finais do
ensino fundamental. De maneira geral, nas obras dirigidas para estudantes das
séries iniciais, o tema é abordado no último volume (5º ano). Raramente os livros do
7º e 9º anos abordam a temática. De maneira geral, a temática é retomado nos livros
do 8º ano, quando as/os estudantes estão na etapa da vida socialmente conhecida
como adolescência.
Nossas balizas para apreender concepções de adolescência partiram da
perspectiva sócio-histórica em Psicologia, como uma produção social, livre de
estigmatização e de estereotipia de idade. De acordo com Ana Bock (2007, p. 70)
defendemos que da perspectiva sócio-histórica ―não há uma adolescência, enquanto
possibilidades de expressão de ser; há uma adolescência enquanto significado
social, mas suas possibilidades de expressão são muitas‖. Até mesmo as marcas
corporais do desenvolvimento são significadas socialmente.
Em estudos anteriores identificamos que gênero e sexualidade são termos
raros nos livros didáticos, embora todos eles adotem uma concepção implícita.
Diferente do termo adolescência/adolescente, que foi conceituado em dez dos onze
livros que analisamos, o termo gênero foi mencionado em apenas dois e sexualidade
em três. Nos demais, não localizamos termos ou conceitos de sexualidade ou
gênero, tampouco sobre a noção de ―papéis sexuais‖, o modo privilegiado de tratar
gênero nos livros que abordam o tema (RIBEIRO, 2013).
Cuidadosas menções à homossexualidade foram identificadas em três livros.
Um deles é o livro da Autora E (em coautoria), único que versa sobre a variação
216
sócio-histórica do conceito de adolescência, suas definições e referenciais e afirma
que a ―adolescência não é somente o conjunto de alterações corporais [...]‖. O livro
questiona: ―a adolescência é um problema?‖. Na sequência apresenta uma proposta
de atividade que consiste em relacionar afirmações a uma característica da
―Síndrome da Adolescência Normal‖, segundo Aberastury e Knobel. Na atividade,
uma das afirmações se refere à sexualidade na adolescência ―no início da
adolescência, não é nítido o contorno que separa a homossexualidade, sendo
frequentes sentimentos confusos de amizade e amor entre pessoas do mesmo
sexo‖.
Nossas análises apontaram a predominância do tema ―reprodução humana‖,
eixo central ao redor do qual a sexualidade é abordada na maioria dos livros. O que
prevalece são conteúdos ―tradicionais‖ do ensino de Ciências Naturais, focados nas
funções do corpo humano, cujos discursos ressaltam os cuidados com a saúde, a
―reprodução humana‖ e o combate da gravidez na etapa da vida, compreendida
socialmente como adolescência. De maneira geral, os livros encerram a discussão
sobre sexualidade com os tópicos sobre DST/Aids e seguem para a hereditariedade,
enfocando os mecanismos de herança genética.
Para esta apresentação refizemos o estudo focalizando as coleções aprovadas
na última edição do PNLD 2017. Vista em seus aspectos referenciais, a identificação
de temas e conteúdos pode ser feita já a partir do sumário, como a Autora E
mencionou na entrevista.
Através da leitura dos sumários publicados nos Guias dos Livros Didáticos,
identificamos o termo sexualidade em seis livros que compõem 13 coleções
aprovadas. Dos seis livros que apresentam o termo sexualidade no sumário, tivemos
acesso a três não contemplados no estudo anterior. Esclarecemos que estes
compõem as coleções novas da Autora A, do Autor I e do Autor U.
Nesta análise focalizamos questões pontuais. Nenhum dos três livros emprega
o termo gênero, sendo que as três coleções buscam desconstruir estereótipos.
Na nova coleção do Autor I não identificamos descrições sobre
homossexualidade. Lembremo-nos que a revisão desta última edição do livro foi feita
pela própria Editora e não contou com a participação dele. O livro da Autora A
emprega o termo homossexualidade. Neste único caso, o faz em nota no Manual do
Mestre. ―Professor, atenção ao discutir a homossexualidade em sala de aula.
217
Atitudes que demonstrem preconceito, discriminação e homofobia, ainda que
velados, não devem ser de modo algum estimulados ou ignorados‖.
Nos dois livros identificamos uma conceituação do termo sexualidade.
Em nossa cultura, tempos atrás, já houve uma tendência de reduzir a sexualidade à sua função reprodutiva e concentrada no aspecto genital, sem levar em conta a importância dos sentimentos e das emoções dos envolvidos. Isso pode gerar preconceitos de alguns em relação a quem ―foge‖ dos padrões sexuais. Cada um pode viver muito bem, e plenamente, de seu jeito e conforme sua orientação sexual. O importante é fazê-lo com responsabilidade e ter direito a informação e espaço para expressar opiniões (LIVRO DA AUTORA A). Existe uma diferença entre reprodução e sexualidade. A reprodução garante a sobrevivência da espécie, mantendo ou aumentando as populações. Todos os seres vivos podem se reproduzir. No caso do ser humano, a sexualidade envolve, além dos aspectos biológicos, os psicológicos e sociais. Nos homens, a capacidade de reprodução ocorre desde a puberdade até a morte; nas mulheres, ocorre desde a puberdade até a menopausa. [...] qualquer barreira social, pessoal, econômica ou religiosa que interfira no procedimento dos adolescentes levará ao uso incorreto ou ao não uso de um método eficaz de contracepção (LIVRO DO AUTOR I).
Ao focalizar fotos-legenda que pudessem indicar alguma mudança na vida de
mulheres, identificamos duas as quais destacamos aqui. No livro do Autor U, uma
foto que compõe o texto que versa sobre ―papéis sociais‖ apresenta uma mulher
dirigindo um veículo de cargas pesadas, possivelmente um caminhão. ―Atualmente
as mulheres desempenham funções no mercado de trabalho que eram
exclusivamente masculinas".
No livro da Autora A, mulheres mães trabalhadoras são destacadas. Entre as
brasileiras, as imigrantes. O texto informa que os indicadores ―do IBGE em 2009
mostraram que 46% da população economicamente ativa no Brasil é do sexo
feminino‖. O núcleo central do texto é o direito de crianças e mães ao aleitamento
materno, garantido por lei, mas descumprido por parte de algumas empresas. O
texto é composto por uma foto-legenda que mostra uma mulher costureira
trabalhando em uma fábrica de roupas. Na legenda da foto, lemos:
O direito ao aleitamento materno se torna ainda mais prejudicado nos casos daquelas trabalhadoras que não têm os seus direitos trabalhistas garantidos, como ocorre com muitas imigrantes de países da América Latina que atualmente vêm ao Brasil em busca de trabalho, sobretudo originárias da Bolívia e do Peru (LIVRO DA AUTORA A).
218
De maneira geral, os livros didáticos de Ciências Naturais versam sobre a
importância e os benefícios do aleitamento materno para a saúde de recém-
nascidos. Livros que apresentam os reflexos do aleitamento materno na economia
doméstica é exceção. É o caso dos livros da Autora A e da Autora E. Ambos os
livros apresentam propostas de atividade interdisciplinar sobre o tema ―leite‖.
No livro da Autora A, identificamos uma proposta de trabalho em equipe:
1- Combine com seus responsáveis e reúna-se com alguns colegas para ir a um mercado ou supermercado. a) Verifiquem os preços da lata de leite em pó (calcule o equivalente a 1
litro) e de 1 litro de leite tipo B, vendido em saquinhos ou integral, em embalagem longa vida. Calculem os gastos com a amamentação de um bebê durante um mês, com cada um desses dois tipos de leite.
b) Discutam as vantagens, do ponto de vista econômico e da saúde, de se amamentar um bebê com leite materno e com leite de aca que vocês pesquisaram.
c) Registrem todas as conclusões no caderno. 2- No Brasil são realizadas muitas cesarianas desnecessárias. Conversem com colegas a respeito e, se possível, com ginecologista/obstetras. Depois, debatam as causas e as consequências do excesso de cesarianas em nosso país (LIVRO DA AUTORA A).
Entre as várias informações apresentadas para projeto de pesquisa no livro da
Autora E, identificamos que ―a importância social do aleitamento materno para a
família reflete-se na economia do salário (de 20% a 30% do salário mínimo), pois a
produção de leite materno pode variar de 500 mL a 1000 mL por dia‖ (LIVRO DA
AUTORA E).
Como vimos, há coleções que de maneiras distintas apresentam diferentes
posições da sociedade, favoráveis e contrárias ao aborto, a exemplo do livro
Ciências r (8º ANO, 2009) já apresentado. No estudo anterior observamos que o
tema aborto ―provocado‖ é discutido em meio à ―problemática‖ da gravidez
―indesejada‖, mas apenas 04 em 11 livros apresentaram informações sobre a
legislação vigente: a lei brasileira permite o aborto em situações em que a gravidez é
decorrente de estupro, quando a gestação representa risco de morte para a mulher e
em casos de feto anencéfalo, sendo que a conceituação de estupro foi identificada
em dois deles. Não identificamos informações sobre o consentimento da mulher
nestes casos. Mas vale lembrar que de acordo com o Código Civil, o consentimento
da mulher é necessário para o abortamento em quaisquer circunstâncias, salvo em
caso de eminente risco de vida, estando a mulher impossibilitada para expressar seu
consentimento.
219
O Ministério da Saúde normatizou os procedimentos para o atendimento ao
abortamento em gravidez por violência sexual, conforme ―Norma Técnica Prevenção
e Tratamento dos Agravos Resultantes de Violência Sexual contra Mulheres e
Adolescentes‖. A iniciativa contempla a organização da atenção e um guia geral para
este atendimento.
Como o Ministério da Saúde afirma, o Código Penal ―não exige qualquer
documento para a prática do abortamento nesses casos e a mulher violentada
sexualmente não tem o dever legal de noticiar o fato à polícia‖, mas deve ser
orientada para tomar as providências policiais e judiciais cabíveis.
De acordo com os arts. 3º, 4º, 5º, 1631, 1690, 1728 e 1767 do Código Civil:a) A partir dos 18 anos: a mulher é capaz de consentir sozinha; b) A partir dos 16 e antes dos 18 anos: a adolescente deve ser assistida pelos pais ou por seu representante legal, que se manifestam com ela; 13 c) Antes de completar 16 anos: a adolescente ou criança deve ser representada pelos pais ou por seu representante legal, que se manifestam por ela. A outra circunstância em que é necessário o consentimento de representante legal (curador/a ou tutor/a) refere-se à mulher que, por qualquer razão, não tenha condições de discernimento e de expressão de sua vontade. De qualquer forma, sempre que a mulher ou adolescente tiver condições de discernimento e de expressão de sua vontade, deverá também consentir, assim como deverá ser respeitada a sua vontade se não consentir com o abortamento, que não deverá ser praticado, ainda que os seus representantes legais assim o queiram (BRASIL, 2005, p. 13 e 14, grifos do documento).
No livro da Autora E o tema é atividade de investigação: ―Aborto: um assunto
difícil‖. ―O que você pensa sobre o aborto? O que mudaria se o aborto fosse
legalizado? Por que tantas mulheres, embora corram risco de morte, ainda
abortam?‖ O livro apresenta um texto e um caso de gravidez na adolescência,
proposta para dramatização. O texto de abertura traz informações quase nunca
apresentadas em obras didáticas.
No Brasil, estima-se que é feito 1 milhão de abortos clandestinos por ano e que as mortes deles decorrentes sejam a terceira causa de mortalidade materna. Segundo a Comissão Nacional de População e Desenvolvimento (CNPD), órgão ligado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, os abortos representaram, em 1997, 16% das mortes maternas de mulheres de 15 a 24 anos, nas regiões mais pobres do país. Faz parte do conhecimento informal sobre o assunto, entre os profissionais da saúde, que as gestações que acontecem com adolescentes de extratos sociais mais elevados terminam com maior frequência em aborto, geralmente realizado de modo seguro e sem complicações, o que as faz desaparecer das estatísticas disponíveis. Já os números de adolescentes que passam pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para corrigir sequelas de abortos mal-feitos crescem a cada ano. Pense, discuta brevemente essas questões e
220
faça com seu grupo uma dramatização sobre uma jovem solteira de 18 anos que está grávida sem ter planejado. Estudem e discutam a caracterização de cada personagem e introduzam as modificações que o grupo julgar interessantes, elaborando os diálogos, acrescentando personagens e decidindo o final da história. Tenham por base o texto ―Uma opção, um drama‖ e outras informações que pesquisarem.
O livro do 8º ano, escrito pela equipe do Autor U chamou nossa atenção. Nele
identificamos um texto intitulado ―A sexualidade e os papéis sociais‖ que versa sobre
violência contra a mulher. As expressões ―violência social‖, ―violência doméstica e
familiar‖, e a Lei Maria da Penha são explícitas.
―Apesar de a gente tomar paulada de tudo quanto é lado quando escreve
alguma coisa de gênero, né” (AUTOR U, 22.08.2018).
Você já parou para pensar sobre o que é ser homem ou ser mulher na nossa sociedade? Qual o papel de cada um? Quais são os comportamentos considerados ―corretos‖ e ―adequados‖ para homens e mulheres? Apesar dos enormes avanços ocorridos nas últimas décadas, a mulher ainda enfrenta preconceito e diversos tipos de violência social. Pesquisas mostram que as mulheres chegam a ganhar até 30% menos que os homens para desempenhar as mesmas funções ou atividades econômicas. A conquista do mercado de trabalho, assim como o desenvolvimento e a popularização dos métodos contraceptivos vêm permitindo que as mulheres exerçam sua sexualidade de maneira mais plena, reivindicando os mesmos direitos dos homens. Nos dias de hoje, as mulheres podem ter mais segurança para expor suas ideias e sentimentos e vêm lutando pelos seus direitos. A Lei Maria da Penha, por exemplo, promulgada em 2006, é um instrumento legal importante para impedir que a violência doméstica e familiar continue. Ela é uma ferramenta que permite às mulheres brasileiras, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, terem garantidos seus direitos fundamentais, assegurando-lhes oportunidades de viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e desenvolver seu aperfeiçoamento pessoal, intelectual e social (LIVRO DO AUTOR U).
Em seu artigo, intitulado ―EM NÚMEROS: A violência contra a mulher
brasileira‖, a jornalista Nana Soares é taxativa e direta: ―Inúmeras pesquisas
mostram, há anos, a vergonhosa prevalência da violência contra as mulheres no
Brasil. A realidade, no entanto, muda pouco‖143.
De nossa perspectiva, as obras didáticas podem e devem contribuir para
mudar essa realidade. Em nossa interpretação a atitude das autorias e do editorial
em não silenciar também é um indicativo de mudanças nas obras didáticas e
fortalece o compromisso de combater a violência contra a mulher na sociedade
143
Cf. Nana Soares. Reflexões sobre gênero, violência e sociedade. Feminicídio. ―EM NÚMEROS: A violência contra a mulher brasileira‖. Disponível em: <https://emais.estadao.com.br/blogs/nana-soares/em-numeros-a-violencia-contra-a-mulher-brasileira/>. Acesso em: 07 jan. 2018.
221
brasileira. Vale observar que a equipe de autoria é majoritariamente do sexo
masculino e a equipe editorial é composta em sua maior parte por mulheres.
Diante desse achado retomei a conversa com o Autor U para melhor
compreender como se deu a decisão de publicar o referido texto. Ele, que “detesta a
lei da mordaça”, explicou: “acredito que isso se deve ao fato de ainda estarmos na
sala de aula e também ao editorial que sempre nos apoiou” (AUTOR U, 07.01.2019).
Coincidentemente, dois dias depois dessa conversa veio à tona a confusão no
Edital do PNLD 2020144. Não tivemos acesso a todas as coleções aprovadas nas
duas últimas edições do PNLD, mas a amostra de livros analisados indica que a
―reprodução humana‖ permanece como eixo central ao redor do qual a sexualidade
é abordada. Também pode indicar que abordagem do tema ―violência contra a
mulher‖ ainda é um tabu nos livros de Ciências Naturais, mesmo porque não
identificamos a palavra ―violência‖ em nenhum dos livros anteriormente analisados.
Observa-se que a polêmica em torno desses assuntos está muito mais presente em
discursos proferidos por alguns atores sociais que naqueles veiculados nas obras
didáticas.
É nesse cenário que o tema ―evolução‖ ganha destaque. Como vimos é mais
um tema ―polêmico‖, mencionado ao longo de nossas entrevistas. A Autora A
afirmou ser “evolucionista” e o Autor I disse que já teve livros rejeitados em uma
escola protestante “por causa de Evolução” e até compartilhou sua experiência em
uma escola judaica. Para melhor compreender essas questões empreendemos uma
investigação nas obras didáticas, focalizando as unidades e capítulos que versam
sobre a ―Evolução dos seres vivos‖.
Primeiramente identificamos a valorização de grupos historicamente
discriminados, principalmente mulheres, negras/os e indígenas. De maneira geral, as
coleções apresentam saberes e hábitos culturais de diversos povos.
A evolução dos seres vivos é abordada em maior profundidade nos volumes
dirigidos a estudantes do 7º e 8º anos. Vimos que o tema possibilita inúmeros
debates e possibilidades de diálogo com outras disciplinas curriculares.
Nas unidades que tratam o tema identificamos a categoria ―Homo sapiens”
mencionada pela Autora A. É uma das nomenclaturas utilizadas na Taxonomia,
―área de estudo da Biologia que busca descrever, identificar e classificar os seres
144
Veremos mais à frente ao longo de nossas análises.
222
vivos‖ (CIÊNCIAS f, 7º ANO, 2015, p. 51). No caso, a nomenclatura denomina a
espécie humana que caracteriza o ser humano moderno, ―espécie à qual nós, seres
humanos, pertencemos‖ (CIÊNCIAS b, 8º ANO, 2015, p. 20).
Figura 9 - Crânios fossilizados de ancestrais humanos. Fonte: (CIÊNCIAS f, 7º ANO, 2015, p. 299).
O significado de ―Homo sapiens sapiens‖ é o ser humano que sabe o que sabe,
o ser inteligente e faz referência, entre outras, à característica evolutiva do cérebro,
sem perder de vista a concepção culturalista, como mencionou a Autora A “Homo
cultural”.
―[...] Dos primeiros Homo sapiens até os mais recentes, reconhece-se o desenvolvimento na produção cultural. [...] entre os ancestrais mais velhos e nossa espécie, pode-se observar a tendência de algumas características, comparando as atuais com as dos antecessores [...]‖ (CIÊNCIAS d, 8º ANO, 2009, p. 228). O ser humano pertence à espécie Homo sapiens. Apresenta maior desenvolvimento cerebral do que os outros primatas; constrói instrumentos para o seu uso; fala diversas línguas; desenvolve diferentes culturas (comportamentos sociais e valores morais). Como um ser social, ele se organiza em sociedade com outros indivíduos da sua espécie, comunicando-se intensamente e promovendo numerosas formas de colaboração entre si. Com sua capacidade exclusiva de criar a linguagem, o ser humano tornou possível a transmissão de conhecimentos de uma geração para outra. Assim, foi construindo ao longo do tempo um conjunto de conhecimentos, de técnicas, de idiomas e de valores religiosos, éticos e morais, entre outras considerações. Foi desse modo que surgiu a cultura, um patrimônio que se acumula e se transmite a cada geração. [...] A cultura foi um importante agente da evolução humana. Desde então, a evolução cultural se sobrepôs à evolução biológica do ser humano, conforme afirmam muitos cientistas (CIÊNCIAS r, 8º ANO, 2009, p. 10 e 13)
145.
Em nossas análises identificamos quatro livros que versam sobre a inexistência
de raças biológicas na espécie humana, um deles dirigido à educação do campo.
145
No Apêndice A esta coleção, da Editora Ática, está identificada como Ciências (CB/WP).
223
Notamos que o uso do conceito sociológico de raça ajuda a atribuir realidade social
à discriminação e a combatê-la.
No livro ―Ciências r (2009), única coleção aprovada em todas as edições do
PNLD desde 2002, identificamos o texto que leva o subtítulo: ―O preconceito e a
ideia de raças humanas‖.
No que diz respeito à espécie humana, a ideia de ―raças‖ não tem base científica. Estudos recentes revelam que não existe um ―gene racial‖, isto é, um gene que estaria presente em todos os indivíduos de um grupo humano e ausente nos indivíduos de outro grupo. Um dos mais completos estudos sobre o assunto foi publicado pelo médico e pesquisador italiano Luca Cavalli-Sforza, em seu livro História e geografia dos genes humanos, lançado em 1995. [...] Não há, de fato, nenhum critério científico para afirmar que uma população humana é intelectual ou fisicamente superior a outra. A genética moderna mostra que não podemos ser agrupados em raças. E mais: quaisquer formas de preconceito ou discriminação causam sofrimento e devem ser banidas. Só com a convivência pacífica e a tolerância das diferenças entre pessoas, grupos, religiões e nações é que poderemos promover um mundo melhor, em que todos os indivíduos tenham garantidos os mesmos direitos e o acesso ao pleno exercício da cidadania (CIÊNCIAS r, 8º, 2009, p. 11). [...] a noção de ―raça‖ não é verdadeira para os seres humanos. É ainda preciso que esse conhecimento seja divulgado mais amplamente, ao mesmo tempo que novos estudos se desenvolvem nessa área. A ciência deve mostrar que o fato de haver diferenças entre o corpo ou o modo de pensar das pessoas não implica que um indivíduo é melhor que outro (CIÊNCIAS r, 8º, 2009, p. 44).
Além da segunda citação acima, extraída do ―Manual do Professor‖, no mesmo
livro identificamos definições de racismo, intolerância, discriminação e expurgo da
xenofobia (ideologia irmã do racismo). Da Conferência da Organização das Nações
Unidas (ONU) contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a
Intolerância Correlata, ocorrida em Durban, na África do Sul, no período de 31 de
agosto a 08 de setembro de 2001, o livro destaca o acordo sobre os fatos do
passado e o acordo sobre o Oriente Médio. É o que trata uma matéria publicada no
jornal Folha de S.Paulo, em 2001, reproduzida no livro com o objetivo de cooperar
com a tarefa da/o professora/o para coordenar a atividade proposta no capítulo, na
seção ―Discuta estas ideias‖, atividade proposta no livro da/o estudante.
224
Figura 10 - “O ser humano: um animal social” Fonte: (CIÊNCIAS r, 8º ANO, 2009, p. 10).
Também no livro Ciências k, 8º ANO (2009) identificamos o uso do conceito de
raça contemporâneo. O livro veicula trechos da reportagem de Norton de Godoy,
publicada na ―Revista IstoÉ‖ em 18/11/1998: ―Somos todos um só: pesquisa genética
internacional mostra que não existem raças na espécie humana, derrubando
qualquer base científica para a discriminação‖146 e aponta em nota: ―Professor: a
questão da discriminação racial não deve ser ignorada na escola. Ela pode servir de
tema para um trabalho interdisciplinar com História, por exemplo‖ (CIÊNCIAS k, 8º
ANO, 2009, p. 18).
Como vimos, a perspectiva de raça como construção social é tema de abertura
de unidades e capítulos em alguns livros. Observamos que os livros que abordam o
tema, o racismo não é concebido como produto exclusivo ou principal de ações
interpessoais e decorrentes do preconceito racial.
No livro da Autora A, o tema é desenvolvido ao longo das páginas iniciando na
abertura da unidade que leva o título ―Nós, seres humanos‖. Observamos que o
compromisso de atribuir realidade social à discriminação e a combatê-la é
explicitado também nas atividades propostas que retomam os conteúdos do capítulo,
como nos exemplos abaixo.
146
Disponível em <http://labs.icb.ufmg.br/lbem/aulas/grad/evol/humevol/templeton/>. Acesso em 03 jun. 2018.
225
Pedro tem a pele negra, grandes olhos escuros e cabelos crespos. Sua namorada, Sandra, é filha de japoneses e tem a pele amarelada, cabelos bem lisos e olhos amendoados. Biologicamente, está correto dizer que esse casal é formado por pessoas de raças diferentes? Explique. Não. Biologicamente, Pedro e sua namorada, e todos os outros seres humanos, são da espécie Homo sapiens, e não apresentam diferenças genéticas significativas entre si que justifiquem a divisão em raças (LIVRO DA AUTORA A)
147.
Na seção ―Ciências e cidadania‖, o referido livro menciona o Art. 5º da
Constituição Federal: ―Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza [...]‖ e chama a atenção para a campanha ―Por uma infância sem racismo‖,
lançada pelo Unicef em 2010, alertando sobre os impactos do racismo nessa etapa
da vida e a necessidade de ações que assegurem o respeito e a igualdade étnico-
racial desde a infância.
O ―Trabalho em Equipe‖ propõe uma atividade que abre espaço para um
trabalho interdisciplinar com História, Arte e Língua Portuguesa. No texto,
identificamos a desconstrução da ideia de raça biológica. E o uso do conceito de
raça como construção social ideológica. O livro menciona relações de poder e
dominação.
1 Leiam o texto a seguir. Raça é uma denominação vulgar para subespécie. É usada comumente para classificar alguns seres, como cães, gatos, bois, cavalos etc. No caso dos seres humanos, o conceito de ―raça‖ não é biológico e reflete apenas uma denominação relativa a aspectos culturais, étnicos etc. Não existem raças biológicas diferentes na espécie humana. A ideia de ―raça pura‖, ―raça superior‖ ou ―raça inferior‖ é errônea em relação a qualquer espécie, apesar disso, já foi usada como base para a escravatura e a ideologia nazista. a) Pesquisem a diferença entre os conceitos de etnia e raça. b) Busquem informações sobre políticas afirmativas, tais como o sistema de reserva de vagas por cotas nas universidades públicas (LIVRO DA AUTORA A).
É notória uma concepção de racismo como produzido e sustentado nos planos
material e simbólico, bem como o seu combate direcionado aos dois planos. Não por
acaso, o livro propõe a atividade de ―busca de informações sobre políticas
afirmativas, tais como a reserva de vagas por cotas nas universidades públicas‖.
Em nosso entendimento esta é uma informação importante, pois leva as
políticas de inclusão ao conhecimento de estudantes que podem e devem usufruir
desse direito. Vale lembrar que as chances de estar fora das escolas é maior para
147
Resposta do Manual do Mestre.
226
pessoas indígenas, pretas e pardas em todas as etapas da vida escolar, da creche à
universidade.
Em nossa interpretação esta é também uma indicação de que o racismo se
sustenta, ainda, das políticas públicas ditas universais, mas que concretamente não
são para todas/os e que as políticas públicas de inclusão, como aponta os estudos
de Marcos A. B. Silva (2015, p. 220), ―só se efetivam pela ação e força dos sujeitos e
movimentos sociais‖.
De nossa perspectiva entendemos que as desigualdades sociais, sobretudo
quando elas surgem como reflexo de práticas sociais discriminatórias e representam
um obstáculo à superação das relações que se estabelecem de forma assimétrica,
quando a parcela da população, alvo dessas práticas, as sofre pelo simples fato de
pertencer a determinado grupo étnico-racial, a ação afirmativa se apresenta como
importante instrumento para a anulação dos efeitos dessa discriminação e
superação das assimetrias sociais por ela geradas.
No mesmo livro identificamos sugestões de leitura sobre ―evolução humana e
ideologia‖. Trata-se de publicações acadêmicas dentre as quais destacamos ―Mídia
e racismo‖, trabalho organizado por Roberto Carlos da Silva Borges e Rosane da
Silva Borges (2012), que se dedicam ao estudo das temáticas apresentadas e
defendidas durante o percurso histórico da Associação Brasileira de
Pesquisadores/as Negros/as (ABPN).
O livro avança um pouco mais e no ―Manual do Professor‖ apresenta
possibilidades de trabalho com o tema ―evolução humana‖. Uma delas é ―Evolução e
racismo – problematização utilizando as ferramentas das mídias e redes sociais‖. O
livro versa sobre as implicações sociológicas das produções científicas e assinala
que desde o século XIX muitos estudiosos ―atuaram de diferentes maneiras na
busca de bases científicas para teorias racistas que legitimassem a hegemonia
sócio-político-econômica de certos grupos sociais‖.
Antes do evolucionismo de Lamarck e Darwin, os criacionistas (para os quais as espécies eram imutáveis e frutos de atos isolados do Criador) debatiam-se entre as correntes monogenista e poligenista. Segundo os monogenistas, Adão e Eva seriam a origem comum de todos os povos. As diferentes raças humanas seriam, então, produto da degeneração do Paraíso. Essa ―degeneração‖ era ―vista‖ em maior grau nos negros, índios etc. Alguns consideravam a degeneração reversível, desde que os indivíduos de raças inferiores fossem criados e estimulados em um ambiente físico de clima ―adequado‖ (no caso, temperado). Aos poucos, iriam ficando mais brancos e, em consequência, mais ―belos‖. Para os
227
poligenistas, as diferentes raças humanas descendiam de mais de um Adão. As teorias evolucionistas eliminaram a base criacionista dessas correntes, mas acabaram por trazer ―justificativas‖ ainda maiores para o racismo. Na segunda metade do século XIX a quantificação se juntou ao evolucionismo para embasar as teorias racistas ―científicas‖ (LIVRO DA AUTORA A, aspas do livro).
Em nossas análises também identificamos uma coleção dirigida às séries
iniciais, que apresenta no ―Manual do Professor‖ um texto intitulado ―Educação
étnico racial‖, adaptado da apresentação do livro ―Superando o racismo na escola‖,
escrita por seu organizador, Kabengele Munanga, publicado pelo MEC/SECADI, em
2005.
O resgate da memória coletiva e da história da comunidade negra não interessa apenas aos alunos de ascendência negra. Interessa também aos alunos de outras ascendências étnicas, principalmente branca, pois ao receber uma educação envenenada pelos preconceitos, eles também tiveram suas estruturas psíquicas afetadas. Além disso, essa memória não pertence somente aos negros. Ela pertence a todos, tendo em vista que a cultura da qual nos alimentamos cotidianamente é fruto de todos os segmentos étnicos que, apesar das condições desiguais nas quais se desenvolvem, contribuíram, cada um a seu modo, na formação da riqueza econômica e social e da identidade nacional. [...] cremos, que a educação é capaz de oferecer aos jovens e aos adultos a possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de superioridade e inferioridade entre grupos humanos que foram introjetados neles pela cultura racista na qual foram socializados. [...] Se nossa sociedade é plural, étnica e culturalmente, desde os primórdios de sua invenção pela força colonial, só podemos construí-la democraticamente respeitando a diversidade do nosso povo, ou seja, as matrizes étnico-raciais que deram ao Brasil atual sua feição multicolor composta de índios, negros, orientais, brancos e mestiços (MUNANGA, 2005, p. 15 a 17, grifos da pesquisadora).
Destacamos que a referida coleção é dirigida à educação do campo e a Autora
E compõe as autorias da obra, a qual está organizada em quatro volumes, a saber:
―Alfabetização Matemática e Ciências‖ (2º ano); ―Alfabetização Matemática e
Ciências‖ (3º ano); ―Matemática e Ciências‖ (4º ano); ―Matemática e Ciências‖ (5º
ano). Não é nosso foco de análise, mas vale esclarecer que ―a criação de uma obra
didática específica para a educação do campo caminha para a afirmação do espaço
do campo como um espaço específico e vivo‖ (COLEÇÃO, campo, 3º ANO, 2014, p.
1). Além de destacar o modo de vida particular das pessoas que vivem no campo,
especialmente aos modos de vida das crianças (viver, conviver, estudar e brincar), a
obra destaca temas que permitem também refletir sobre as igualdades e as
desigualdades na sociedade em que vivemos e em diferentes tempos e espaços. A
diversidade constitui um elemento fundamental na coleção, como forma de indicar os
diferentes modos de vida das muitas populações do campo: ―quilombolas,
228
comunidades agrícolas, ribeirinhos, caiçaras, indígenas, enfim, todas as populações
que têm organizações sociais particulares, mas em constante interação com outros
modos de vida‖.
Embora tenhamos identificado livros cujos discursos se limitam a afirmar que a
―Evolução‖ é um tema bastante polêmico, os livros das/os autoras/es
entrevistadas/os são exemplos de coleções que procuram enfrentar a tarefa de
apresentar visões diversificadas. Nos volumes dirigidos a estudantes do 7º e 8º anos
identificamos várias passagens.
As ideias evolucionistas são muito antigas. O filósofo grego Hipócrates (460-377 a.C.), por exemplo, acreditava que as características dos seres vivos podiam ser adquiridas e passadas às gerações seguintes. Um exemplo disso são as crianças gregas de origem nobre: elas tinham as suas cabeças enfaixadas para que, quando adultas, ficassem com a cabeça alongada. Na época de Hipócrates, a cabeça alongada era considerada um sinal de nobreza e de superioridade. Para ele, as crianças incorporavam essa característica e, assim, poderiam passá-la para as demais gerações – o que de fato não acontecia (LIVRO DO AUTOR U). Até o século XVIII, a única explicação aceita para a variedade de seres vivos era a de uma criação divina do início dos tempos. Acreditava-se que o número de espécies de seres vivos era fixo, e essa ideia ficou conhecida como fixismo. Entretanto, já no século XVII, outras explicações começavam a surgir. Essa nova visão sugeria uma contínua evolução dos seres vivos no decorrer do tempo e foi chamada de evolucionismo (LIVRO DO AUTOR I, grifos do livro). Foi no começo do século XVIII, em meio a profundas transformações sociais, que começou a ganhar força a ideia de que o mundo está sempre em progresso, em evolução. Essa ideia atravessou o século XIX e ganhou destaque inclusive no Brasil, como verificamos no lema de nossa bandeira nacional: ordem e progresso
148. Ampliando essa ideia, destacou-se o debate
sobre a evolução dos seres vivos. Nessa visão, as espécies não teriam sido criadas simultaneamente. [...]. Acatando teoria recente em sua época, Darwin imaginou que a existência da Terra era muito anterior à do ser humano e que, na Terra, os ambientes mudaram ao longo do tempo. [...]. As discussões que se seguiram à publicação da obra Origem das espécies por meio da seleção natural foram enormes. [...] (LIVRO DA AUTORA E). Até meados do século XVII, predominava a ideia do fixismo, segundo o qual as espécies eram fixas e imutáveis [...]. Somente a partir do século XIX, alguns cientistas questionaram essas ideias e levantaram a hipótese de que as espécies se modificam e evoluem com o tempo [...]. Os evolucionistas
148
A atual Bandeira Nacional foi adotada pelo decreto n.° 4, de 19 de novembro de 1889, quatro dias após a Proclamação da República, que ocorreu em 15 de novembro de 1889. Sua elaboração foi realizada por Raimundo Teixeira Mendes (positivista), Miguel Lemos (diretor do Apostolado Positivista do Brasil), Manuel Pereira Reis (astrônomo) e Décio Vilares (pintor). Identifica-se, portanto, que o lema ―Ordem e Progresso‖ foi inspirado pelas ideias positivistas de Auguste Comte, filósofo francês fundador do positivismo. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/brasil/bandeiradobrasil.htm>. Acesso em: 17 jun. 2018. De forma geral, partindo-se das definições, ―progresso‖ e ―evolução‖ não significam necessariamente melhoria. Progresso pode simplesmente significar um avanço em direção a um objetivo. Evolução seria um processo de mudanças ao longo do tempo.
229
defendem a hipótese de que todos os seres viventes atualmente compartilham um ancestral comum no passado (LIVRO DA AUTORA A).
Na coleção da Autora E identifica-se que diversas culturas têm o seu
criacionismo. No livro do 6º ano são apresentadas explicações sobre a criação do
mundo nas visões, babilônica, chinesa antiga, indígena tradicional, grega antiga, na
Bíblia e ―A origem do Universo segundo a Ciência‖.
A criação do mundo: várias explicações [...]. Muitos povos têm elaborado explicações para as origens do Universo, da Terra e do ser humano. Algumas são muito antigas, criadas antes da era cristã, e ainda hoje permanecem como cultura dos povos. Essas explicações antigas organizam o conhecimento sobre a natureza, a origem do Universo e do ser humano e o sentido da vida. Nelas, a criação do mundo e das leis que definem os costumes é atribuída a personagens sobrenaturais (LIVRO DA AUTORA E).
A preocupação do “cuidado ao tratar o tema”, como se referiu o Autor I, é
destacado no ―Manual do Professor‖, na coleção da Autora A. O trabalho com o
tema em sala de aula exige cuidados, ―pois é comum encontrar obstáculos tanto no
campo epistemológico quanto no campo das crenças‖, como apontam os estudos de
Fernanda Meglhioratti (2004) e de Edmara Zamberlan (2008), citadas no livro
―embates entre as crenças religiosas e as questões evolucionistas ainda são
frequentes‖.
Notas dirigidas às/aos professoras/es são comuns. O livro do Autor U inclui
uma nota dirigida para o/a professor/a do 7º ano, na qual esclarece sobre a
abordagem adotada. Também aqui identificamos a reprodução de uma obra de arte:
a ―Criação de Adão‖, de Michelangelo. É um detalhe da pintura do teto da Capela
Sistina, localizada em um dos edifícios dos Museus Vaticanos: ―A Criação de Adão.
Capela Sistina-Vaticano. Michelangelo Buonarotti. 1508-1512 (Afresco –
280X570cm)‖.
230
Figura 11 - “O criacionismo e o fixismo”. Fonte: (LIVRO DO AUTOR U).
Mais à frente, no ―Manual do Professor‖, identificamos uma orientação didática
a qual propõe um trabalho interdisciplinar com História:
Converse com o colega de História para ver a possibilidade de aprofundarem, em um trabalho interdisciplinar, a questão religião e ciência, enfatizando que se trata de uma questão política. Não é raro acontecer a situação de os estudantes se sentirem incomodados com a incompatibilidade entre suas crenças e a aceitação das ideias evolucionistas. É preciso tratar essa questão com muito cuidado e mostrar que a interpretação científica para a origem das espécies é a explicação científica mais aceita na versão atual da teoria evolutiva. A maior validade da explicação para a origem das espécies no domínio da ciência não torna essa explicação mais válida em todos os domínios da sociedade e cultura humanas. Portanto, não refute a interpretação de que a vida é uma criação divina, pois trata-se de fé. No domínio da religião, a explicação científica não é válida. No entanto, isso não afeta o fato de que é a explicação mais aceita na ciência (LIVRO DO AUTOR U).
Também o livro Ciências g, (2015) inclui uma nota dirigida para o/a professor/a
ao abordar ―A origem da vida‖.
É sempre bom lembrar aos alunos que é importante ter em mente alguns pontos a respeito da ciência: • a ciência não explica tudo; • há questões importantes que não podem ser resolvidas pela ciência, como as questões éticas, filosóficas e religiosas; • a ciência é apenas uma parte da cultura humana, juntamente com as artes, a filosofia, a religião, o conhecimento cotidiano; • tanto a ciência quanto a tecnologia são influenciadas pela
231
cultura de uma época e por fatores sociais e econômicos; • o cientista precisa ter compromissos sociais e éticos e respeitar os valores e os direitos humanos; • a sociedade deve pressionar o governo e participar das decisões que podem afetar suas condições de vida; • para resolver muitos dos problemas atuais não bastam as pesquisas científicas: é necessário investir mais na educação, no saneamento básico e nos serviços de saúde (CIÊNCIAS g, 7º ANO, 2015, p. 30).
Nos livros didáticos, mais precisamente no ―Manual do Professor‖ identificamos
a História e a Filosofia da Ciência como importantes recursos para a discussão.
O recurso à história da Ciência, mais uma vez, cumpre um duplo papel: mostrar que a Ciência é um processo histórico e seu curso depende de várias pessoas com suas ideias, que às vezes se somam e outras são concorrentes. A Ciência não é linear, uma simples soma de novas definições; ao contrário, ela é dinâmica e comporta momentos de intenso debate (LIVRO DA AUTORA E). Para desmistificar que a ciência é neutra, é importante mostrar que ela é feita por seres humanos e que eles estão sempre vinculados a uma sociedade com seus valores e interesses. Portanto, a ciência nunca é neutra – como atividade humana, sofre a influência, em suas diretrizes e escolhas, das necessidades impostas pela sociedade. Como a religião também faz parte da sociedade, a interface ciência/religião sempre deve ser considerada. Um dos exemplos históricos de descobertas científicas que sofreram ataque de dogmas religiosos, comumente usado, é o de Galileu Galilei. No entanto, este consiste na verdade em um mito, deixando de considerar que ele era religioso, muito próximo do Cardeal Belarmino, que se tornou papa, e de que o conflito em que esteve envolvido é melhor explicado internamente à religião, e não em termos de conflito entre ciência e religião. Converse com seu colega para aprofundar essas questões/exemplos (LIVRO DO AUTOR U). [...]. Ao aprofundar o debate sobre a visão de ciência predominante no século XIX, pautada na neutralidade e na objetividade, vemos que ela deixou marcas, até hoje, no imaginário social e nas práticas cotidianas. Quando o discurso assume a dimensão de verdade absoluta e inquestionável, acaba se enraizando como um dogma religioso que não precisa ser evidenciado. Quando se investe dessa autoridade, a ciência, pretensamente, ganha legitimidade para, inclusive, reforçar estereótipos, justificar preconceitos e manter a exclusão. Sendo a ciência uma construção humana, e, portanto, também marcada por valores e princípios, reconhecer essa dimensão significa realizar um exercício de ―desnaturalização‖ da realidade, a partir do qual podemos nos comprometer com questões éticas, com os direitos humanos e com a igualdade social (LIVRO DA AUTORA A).
―Aqui está o grande desafio da educação como estratégia na luta contra o
racismo‖,
pois não basta a lógica da razão científica que diz que biologicamente não existem raças superiores e inferiores, como não basta a moral cristã que diz que perante Deus somos todos iguais, para que as cabeças de nossos alunos possam automaticamente deixar de ser preconceituosas. Como educadores, devemos saber que apesar da lógica da razão ser importante nos processos formativos e informativos, ela não modifica por si o imaginário e as representações coletivas negativas que se tem do negro e do índio na nossa sociedade. Considerando que esse imaginário e essas
232
representações, em parte situados no inconsciente coletivo, possuem uma dimensão afetiva e emocional, dimensão onde brotam e são cultivadas as crenças, os estereótipos e os valores que codificam as atitudes, é preciso descobrir e inventar técnicas e linguagens capazes de superar os limites da pura razão e de tocar no imaginário e nas representações. Enfim, capazes de deixar aflorar os preconceitos escondidos na estrutura profunda do nosso psiquismo (MUNANGA, 2005, p. 19).
O livro Ciências x (2009) chamou nossa atenção. No ―Manual do Professor‖
identificamos uma sugestão de atividade complementar àquela apresentada no livro
das/os estudantes, cuja proposta é colocada como ―Tema para pesquisa‖. Ambas as
atividades estão relacionadas ao conteúdo trabalhado no capítulo: ―Onde se
localizam as Ilhas Galápagos?‖ ―Por que as observações que Darwin fez nessas
ilhas foram tão importantes para a elaboração de sua teoria sobre a seleção natural
e a evolução dos seres vivos?‖ (CIÊNCIAS x, 2009, p. 58).
Figura 12 - Atividade "A evolução dos seres vivos" Fonte: (CIENCIAS x, 7º ANO, 2009, p. 114).
Também aqui podemos observar a “força das imagens para dar
representatividade”. Vista em seus aspectos referenciais, contextuais e espaço-
temporais, a imagem indica a degradação ambiental nas ilhas Galápagos. Nossa
interpretação é que os ecossistemas que ensinaram a seleção natural ao mundo
volta a nos dar uma lição149. Qual a natureza da seleção natural?
Finalmente podemos compreender o porquê do tema ―evolução‖ ser um dos
pilares do ensino de Ciências Naturais. Discutir a evolução dos seres vivos pode
contribuir para a desmistificação de narrativas ideológicas que carregam o mito da
superioridade humana. Contribui para a promoção de diálogos sobre sociedades
149
Cf. Swissinfo.ch. Rosa Amelia Fierro, Zúrich ―Situação em Galápagos é de constante degradação‖. <https://www.swissinfo.ch/por/ciencia/situa%C3%A7%C3%A3o-em-gal%C3%A1pagos-%C3%A9-de-constante-degrada%C3%A7%C3%A3o/29149030>. Acesso em: 24. Dez. 2018.
Veja a imagem e responda: O que significa a palavra Galápagos, que aparece no lado direito do desenho? O que tem essa palavra a ver com Darwin e a teoria da seleção natural? (CIÊNCIAS x, 7º ANO, 2009, p. 114).
233
com justiça social e ambiental nas quais os seres humanos se percebam na sua
diversidade, semelhantes uns aos outros e até mesmo ―a Deus‖, se for o caso. Não
como superiores uns aos outros e aos demais seres vivos, mas como parte do
ambiente em que vivem e convivem. É nesse sentido que argumentamos que
ciência e religião se aproximam na agenda global de proteção ao meio ambiente.
Tendo em vista que o conhecimento é acumulativo, a definição de temas a
serem abordados constitui um desafio para autoras/es de obras didáticas. Mesmo
porque há necessidade de se apresentar uma diversidade de gêneros textuais
(artigos jornalísticos, charges, gráficos, informações estatísticas, pesquisas, mapas
etc) como recomendam as diretrizes do PNLD. De maneira geral, a decisão sobre
temas e conteúdos é tomada em conjunto e a tarefa da escrita é dividida. No final, a
equipe lê tudo.
Então eu tinha falado lá atrás que você tem várias camadas, né. Você tem a camada do planejamento inicial, os seus primeiros sumários, os textos, né. E aí você tem as referências em textos externos que são exigências na atualidade para você escrever um bom livro. Dez, quinze anos atrás, isso começou. Então isso é uma coisa do PNLD, né. [...] eu acho que é importante mesmo você trazer texto de jornal, sempre achei. Então você precisa achar o texto que se adequa. Esse texto está adequado no ano e, passados quatro anos já não está mais (AUTORA E, 17.08.2017).
“[...] sempre aquilo que escapa da sua formação inicial é mais difícil, né. Eu
acho que essa é a regra do mais difícil em matéria de temas (AUTORA E,
17.08.2017).
[...] eu acho assim, que quando você escreve ciências, você é um polivalente, né. [...] se você é formado em Biologia ou Física ou Química, mas raramente; em geral é um biólogo, que é um autodidata em Química, Física, Tecnologia e está escrevendo essas temáticas. [...]. E aquilo que está dentro da sua formação inicial, pelo menos na parte conceitual é mais fácil. Então, quando a gente vai dividir os temas, em geral Ser Humano, Corpo Humano fica pra uma e Ambiente fica pra outra. Porque pelo menos a gente dividiu a Biologia em dois. Então, dizendo em tirar do branco, né, porque depois todo mundo lê tudo, né. A gente faz assim pra trabalhar essas temáticas que são da Biologia, já que as duas são biólogas. Mas, são duas biólogas muito autodidatas, que deram aula em Fundamental II, criadoras de apostilas, criadoras de texto do professor. Então, a gente tem esses acervos, né. Que às vezes ajuda e às vezes atrapalha também, viu. Não é sempre que ajuda, não. [...] ah, e tem a questão da atualização científica, né, que vai mudando a ciência, então, coisas que você pesquisou dez anos atrás te dão algumas dicas, mas, quais são as boas dicas e quais não são? Então, tem que voltar no assunto, tem que estudar de novo (AUTORA E, 17.08.2017).
“Como fazer para não dar um viés biologizante? Garantir que tenham também
os aspectos químicos, físicos?” (AUTORA A, 01.06.2017).
234
Aí a gente até tem Autores que são de Química e de Física, que são responsáveis pelo último volume, que é o do 9º ano, mas que a gente também recorre pra tentar colocar um pouco dos aspectos físico-químicos nos outros volumes. Já tentamos, no lugar de ter um volume único, diluir a Química e a Física. Aí, o professor chega e: ―Cadê?‖. Aí, sabe o que o professor do 9º ano faz? Você não produz um volume de 9º ano adequado, ele vai e traz o livro do Ensino Médio pra trabalhar no 9º ano, que também é complicado porque é um livro adequado ao Ensino Médio. [...] eu viajava pelos Estados e os professores falavam: ―Poxa, a gente já dá Biologia também no 9º ano. Aqui os nossos estudantes têm Química, Física e Biologia, em vez de ter Ciências‖. Eu atentei que isso era predominante. E o que eles faziam com a Biologia? Pegavam um livro de Ensino Médio, faziam apostila (AUTORA A, 01.06.2017).
―Eu sempre brinco que poderia tirar o cnidoblasto para poder trabalhar mais a
questão dos transgênicos” (AUTORA A, 01.06.2018).
Então na hora de escolher os conteúdos a gente meio que senta e vamos pensar... Como é, vamos mudar alguma coisa? Vamos enxugar alguma parte? Porque também tem isso, o conhecimento não para de ser produzido e o tempo físico é o mesmo. Então o professor continua tendo dois, três tempos semanais para trabalhar os conteúdos. Então, como é que você faz? Por mim já teria tirado vários conteúdos. [...] Só que tem professor que quer o cnidoblasto lá, com detalhe. Então, é difícil a gente manter o livro num tamanho... eles tendem a ficar cada vez maiores, né. E eu tenho certeza que é humanamente impossível trabalhar o livro todo. É impossível! Eu já falo: gente, não dá! Vocês vão ter que fazer escolhas. É... a gente faz algumas. E assim, como não sou eu que vou dar aula e eu sei que tem colegas que querem trabalhar, então a gente mantém algumas coisas mesmo o livro ficando um pouco maior do que gostaríamos (AUTORA A, 01.06.2017).
A Autora A defendeu no processo de ensino e aprendizagem é preciso criar
conflitos cognitivos e isso demanda tempo.
Criar conflitos cognitivos, levá-los a refletir sobre as concepções, gente, consome tempo físico. Não dá. Pode ser o meu livro, pode ser qualquer coleção. Se o professor quiser trabalhar tudo o que está ali, ele não vai conseguir desenvolver autonomia, não vai conseguir fazer o trabalho dele. Não dá. Ele vai ter que fazer escolhas em qualquer coleção (AUTORA A, 01.06.2017).
Ela argumentou dizendo que “a escola não pode ser só um lugar onde se
adquire informação. Primeiro porque com as tecnologias de informação e
conhecimento, se a escola for só lugar de acesso à informação, já perdeu para o
Google, né”. Ela afirmou que as/os professoras/es não estão para a informação. Se
for, “o Google oráculo vai informar mais”.
Esse ponto de vista é compartilhado pelo Autor I. “Daí a aula dialogada é mais
importante ainda porque a aula recitada está no Google. A aula tem que ser um
235
momento em que o aluno fale e o professor fala e escuta etc. Porque recitar está
mais bonito no Google, e mais fácil” (AUTOR I, 22.08.2017).
A Autora A defendeu que a aprendizagem se dá em um contexto e que os
debates contribuem para a busca de sentidos.
[...] eu chego no encontro de professores e falo assim: se eu perguntar agora, por que o código genético é degenerado não ambíguo e universal? Só o professor de Biologia vai saber responder. E é um conteúdo considerado importantíssimo no Ensino Médio. Alguém lembra? Ninguém lembra. Eu digo: vocês não são profissionais competentes no trabalho? Não estão lendo, vivendo? Então, gente, olha só, ninguém lembra da resposta desta pergunta. Mas se vocês tivessem vivenciado na escola um debate, os prós e contras do uso de organismos geneticamente modificados, por exemplo, será que isso teria mais sentido, vocês não teriam saído mais instrumentalizados do que saber por que o código genético é assim ou assado? Então não é que eu acho que não é importante saber. Mas é dentro de um contexto, de uma discussão. Então meu medo, quando eu coloco cnidoblasto lá, é que o professor foque isso, que ele peça para descrever a estrutura do cnidoblasto no lugar de se trabalhar como são as adaptações ao ambiente, o que os afeta, como é que ao afetar um elo da cadeia alimentar você afeta toda a teia. Se o estudante tiver muito tesão para estudar cnidários, diga pra ele: olha, aqui tem um site bacana, tem um material tal e dá o caminho das pedras que ele com autonomia, vai. O professor tem que meter a faca na carne. Se eu não corto conteúdo, não trago questões que a gente tem que trabalhar. Porque quando eu estudei no meu Ensino Médio, não se falava de transgênicos, não se falava de clonagem. E agora a gente não tem que falar? Só que ninguém quer tirar conteúdos que já existiam, nenhum conteúdo. Ninguém quer tirar nada (AUTORA A, 01.06.2017).
As autoras entrevistadas ressaltaram a importância da integração para se
trabalhar a temática da sustentabilidade no livro didático.
Então, a inovação, ela vai por aí, né. Você trazer temas que são de interesse do momento. [...]. Qual é o limite que você vai trabalhar para aquele ano? O que você pode trabalhar com aquilo? Sem trabalhar com História e Geografia, onde você vai integrar? Tudo isso vai trazendo dificuldades, né. Então é isso. É a dificuldade de você ir amadurecendo um texto, né (AUTORA E, 17.08.2017). Eu acho difícil trabalhar sustentabilidade isolada porque quando eu uso o termo sustentabilidade dentro de um conteúdo de meio ambiente, de uma unidade em que as questões ambientais sejam mais fortes, embora a gente tenha a pretensão que atravesse todo o livro, eu penso numa visão que leve a uma preocupação, primeiro de uso racional de recursos e que vá além de uma visão utilitarista, né. É um tal de isso serve pra isso, é importante para nós pra isso, pra aquilo, pensando numa coisa concreta, nos recursos do planeta. O planeta como um sistema tem seus limites, né. E que são frágeis. Então, como viver nesse planeta, como utilizar os recursos? Sejam aqueles mais diretos à minha sobrevivência como água, alimento. E aí aqueles que também estão ligados à minha sobrevivência, não como Homo sapiens sapiens, mas como um Homo cultural, né, tecnologia, arte, roupa e outras coisas (AUTORA A, 01.06.2017).
236
A Autora A esclareceu sobre o uso e os sentidos da noção de sustentabilidade.
―Quando a gente pensa assim, ah, como garantir que as gerações futuras terão
acesso? É muito difícil você não cair na mesma visão utilitarista”.
Como utilizar isso sem esgotar, ainda que seja numa visão egoísta, quando você está falando de sustentabilidade, como garantir que os recursos estarão aqui no futuro? [...]. Aí minha preocupação não é porque eu estou usando os recursos de uma forma inadequada, porque eu estou sempre impactando, porque essas ações antrópicas estão poluindo, ou porque eu estou deixando meus rastros. Mas porque eu quero garantir que no futuro eu possa continuar fazendo isso (AUTORA A, 01.06.2017).
Na entrevista, ela fez uma crítica e uma avaliação da obra na qual é coautora.
Se eu pegar a coleção, em vários momentos tem um ali que a gente fala especialmente do consumo e uma seção que é interdisciplinar e ao longo a gente vai questionando. Então toda vez: discuta com os colegas, discuta com a comunidade, analise produtos da mídia. Mas não acho que seja assim, um eixo que a gente siga. Nem sei se está presente em outros livros. Talvez até porque quando eu me formei, bem, tem muito tempo, né. Mas eu não sei nem como é que estão os currículos nesse ponto de formação de professores em ciências. Acho que a formação para questões ambientais ainda é nas relações ecológicas, o impacto. Mas assim, talvez falte uma coisa mais explícita. A gente tenta estimular ações, estimular condutas, projetos que pensem e repensem, mas é assim um conceito como outros que atravessa a coleção. Não é uma coisa ainda muito emblemática, tipo você não analisa assim, essa é uma coleção que tem como uma das bandeiras a sustentabilidade. Acho que é um dos conceitos e um contexto que a atravessa (AUTORA A, 01.06.2017).
Apreendemos que a importância da abordagem da temática ambiental é
unânime entre as/as entrevistadas. “[...] então, por exemplo, tem professores que
falam: ‗por que meio ambiente em dois volumes?‘. Falei: por mim estaria nos três
(risos), nos quatro (risos), né. Por quê? Porque eu acho que o eixo evolutivo
ambiental tem que perpassar todo o ensino de Ciências” (AUTORA A, 01.06.2017).
Porque o meio ambiente é a chave. É a matéria mais importante, no meu entendimento, que qualquer outra não só dentro das Ciências, englobando Português, Matemática, o que seja. Meio ambiente é aqui onde a gente está, aqui é o nosso destino. Ou cuida do meio ambiente ou não tem mais jeito [...] (AUTOR I, 22.08.2017). Eu acho que esse é o tema mais importante que nós temos dentro da pauta da educação. E da política. Eu acho. Número 1. Mais importante até do que as questões de gênero [...]. A questão da sustentabilidade não tem nenhuma confusão (risos). Porque assim, ou a gente cuida do planeta e ele será viável daqui 20, 30, 40 anos ou a gente vai entrar num ciclo de naufrágio, né, de perda de recursos. Então, a sustentabilidade, pra mim, é a mais importante pauta do livro de Ciências. Sempre foi, viu. Pra mim sempre
237
foi. Então, é tanto a prova, que você está vendo aí os meus livros, todos tratam do ambiente. Começa com a questão ambiente. Então, sempre foi. A questão do apreço pelo ambiente, o conhecer o ambiente, o observar o ambiente, o fazer parte do ambiente (AUTORA E, 17.08.2017, ênfase da entrevistada).
Assim como é nos livros didáticos também nas entrevistas as/os autoras/os
discorreram sobre a problemática socioambiental em dimensões globais e locais. De
maneira geral, os posicionamentos foram espontâneos. Discorreram sobre o
aquecimento global, o saneamento básico, os lixos, entre outras problemáticas.
Essa é uma discussão muito ampla e difícil, pois há problemas ambientais de ordem local ou global, conforme atinjam espaços e comunidades mais específicas ou todo o mundo. Fatos como o ―buraco‖ na camada de ozônio e o aquecimento do planeta são exemplos de problemas globais. Já os problemas locais são aqueles que afetam ambientes específicos, como os relativos ao acúmulo de lixo nas grandes cidades, a falta de espaço de lazer e de verde, a diminuição do pescado nos nossos litorais. Os ambientes no Brasil sofrem com problemas globais e locais. Nas grandes cidades, é evidente a poluição atmosférica. Na zona rural, é corriqueira a poluição das águas pelo exagero de agrotóxicos, assim como o tráfico de animais silvestres e a derrubada de matas nativas sem a preocupação com a sua reposição. Ao lado desses exemplos, caberiam muito s outros, que vêm sendo discutidos pelos cidadãos brasileiros e do mundo todo (CIÊNCIAS d, 7º ANO, 2010, p. 162-163, grifos do livro).
O aquecimento global foi mencionado em todas as entrevistas, sendo que
metade das/os entrevistados abordou a questão de maneira espontânea. As
políticas de emissões de gás carbônico (CO2) foram alvo de questionamentos por
grande parte das/os entrevistadas/os. Até nomes de conhecidos ―negacionistas
climáticos‖ do campo político e científico foram citados. Ressaltamos que embora
haja controvérsias, o IPCC considera incontestáveis as evidências científicas para o
aquecimento global.
“Insustentável é o aquecimento global. Então, pensando desde os vários níveis
contextuais, no individual, no local, no global” (AUTORA E, 17.08.2017).
O Autor I disse que “o aquecimento global é uma coisa curiosa‖. Ele discorreu
sobre as controvérsias entre integrantes da comunidade acadêmica a respeito do
assunto. Mencionou que “3% ou 4% das pessoas estudiosas em clima não
acreditam no aquecimento”. Citou como exemplo Ricardo Felício, ―aquele professor
que é da USP, mas está no Nordeste. Você deve ter visto na TV, ele apareceu no
Jô. Ele diz que não existe aquecimento gerado pelo ser humano”. Também destacou
que Donald Trump, “o presidente dos Estados Unidos não sabe nada disso, mas
238
está usando esses 3%, 4% pra dizer: ah, não está provado que é então nós não
vamos fazer‖. Ele assinalou que a maior parte da comunidade científica em
climatologia concorda que o aquecimento global existe e em grande parte é causado
pela ação humana. Baseado nesse ―consenso‖, ele posicionou-se dizendo: “eu
prefiro estar com 97”.
Neste foco da análise identificamos que os presidentes dos Estados Unidos
têm presença nas coleções didáticas brasileiras. O Autor I disse que George Bush
foi retratado em uma coleção antiga, com destaque para a recusa em ratificar o
Protocolo de Kyoto. A publicação da foto de Donald Trump é uma promessa para a
próxima edição: “[...] se eu puder participar, vai ter uma foto do homem laranja (riso).
Ele não acredita no aquecimento” (Autor I, 22.08.2017).
Em um texto de atividades e exercícios, Barack Obama (2009-2017) é
destacado em um cartaz de campanha do Greenpeace: ―Desculpe, poderíamos ter
impedido mudanças climáticas catastróficas... e não o fizemos‖. A campanha
ocorreu na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2009,
em Copenhague (COP 15). Foi a 5ª reunião das partes para tratar do Protocolo de
Kyoto.
[...] apesar dos dados alarmantes divulgados pelos cientistas em relação ao aquecimento global, por razões econômicas, os EUA sempre foram contrários às ações sugeridas no Protocolo, que exigem redução crescente da emissão de gases de efeito estufa. [...] Por que organizações ambientais costumam fazer campanhas criticando os líderes mundiais? Pesquise e indique que posição o Brasil tem assumido nesses encontros acerca das mudanças climáticas no planeta. Socialize com a turma o resultado de sua pesquisa (CIÊNCIAS b, 6º ANO, 2015, p. 145).
O Autor I informou que na coleção, o tema “não é tratado como um dogma,
assim como não é dogma do outro lado também” e resgatou um aspecto bastante
criticado nas pesquisas que analisam livros didáticos: ―apresentar a ciência com
dúvidas é sempre bom, não como perfeita e acabada” (AUTOR I, 22.08.2017).
Alguns exemplos podem ser identificados nos textos. Há obras que apresentam
a questão como tema de pesquisa, como é o caso da Coleção x, (2009, 9º ANO, p.
100) que propõe uma atividade em equipe. O trabalho consiste em reunir notícias de
jornais e revistas sobre o efeito estufa e montar um mural com elas. Analisar as
notícias e debater: ―a Ciência é algo pronto e acabado ou envolve um processo
dinâmico, que nunca termina?‖
239
As alterações da biosfera, a médio e longo prazos, podem ser consequência indireta de diferentes fatores de degradação ambiental, como o efeito estufa e a destruição da camada de ozônio na estratosfera, mas também podem ser consequência direta de fatores como o acúmulo de metais pesados (por exemplo, chumbo, mercúrio e cádmio) nas águas de rios e lagos, o vazamento de petróleo no mar e os acidentes nucleares (LIVRO DO AUTOR I). No mundo científico, já se levanta a hipótese de elevação da temperatura da atmosfera, consequência do aumento da emissão de gases, principalmente CO2 (gás carbônico) pelas atividades humanas. Essa hipótese baseia-se em observações da temperatura global do ar nos últimos 150 anos, no monitoramento da concentração de CO2 e em simulações com modelos matemáticos. [...] cientistas de todo o mundo monitoram as consequências do agravamento do efeito estufa e fazem cálculos (embora haja divergências e controvérsias entre eles) que apontam para um aumento da temperatura média do planeta. Isso pode provocar a subida do nível dos mares por causa do degelo de parte das calotas polares; a alteração dos regimes das chuvas e do clima em geral; e também a proliferação dos insetos, que se reproduzem melhor em clima quente (LIVRO DA AUTORA A, grifo do livro). Se é fato que algumas pessoas bem-intencionadas têm visões e ideias ingênuas, não se pode generalizar o problema e reduzir o meio ambiente a uma questão pouco importante. São muitas as pessoas que têm trabalhado seriamente no Brasil e no mundo para que algumas catástrofes não aconteçam, prevenindo acidentes nucleares, bloqueando o desmatamento de áreas verdes necessárias à manutenção do planeta, fiscalizando o uso e o manejo ambiental de florestas, pescados, o uso da água doce, monitorando a atividade petroleira, entre outros (LIVRO DA AUTORA E, grifos do livro).
As/os entrevistadas/os se posicionaram de maneira crítica em relação ao
mercado de carbono, um dos temas mais controversos no âmbito da discussão
sobre ―economia verde‖.
―Eu coloquei problemas sobre crédito de carbono num dos livros meus. [...] nós
temos um 9º ano que é Química e Física e um especial que é Biologia, Química e
Física. Nesse eu coloquei questão de Matemática de crédito de carbono. Acho
importante” (AUTOR I, 22.08.2017).
Por sua vez, o Autor U apontou a pouca divulgação sobre o tema e mencionou
a falta de consenso. “Primeiro que não é amplamente divulgado, né. A gente não
sabe como que é a política dos créditos de carbono”.
Porque há muito jogo de interesse nisso. Então, de que maneira vai ser usado esse crédito, quais são os países que estão envolvidos? Eu acho que existe, sim, uma preocupação mundial nesse sentido, mas crédito de carbono é uma política de se trabalhar sustentabilidade. Dentro dessa é uma das. Você pode trabalhar de várias maneiras, né. Então, acho que ainda há que se construir um consenso nesse sentido. Acho que a partir do momento que se tiver um consenso, né, dá pra se trabalhar com os créditos de carbono (AUTOR U, 22.08.2017).
240
Não é irrelevante observar que ao final da última COP24150 muitas expectativas
não foram superadas. As regras para adoção de mecanismos de mercado de
carbono, por exemplo, não tiveram consenso entre os países envolvidos na
discussão.
Esse ponto também foi criticado pela Autora A, que questionou: ―e como é que
funciona isso de países comprando? Então explica isso para os poluentes daquele
país que é para eles não atingirem, não terem impacto no resto do planeta”.
Então eu tento trabalhar sustentabilidade pensando que não há inocência, não há neutralidade nas ações numa sociedade capitalista. Então todos os programas voltados para sustentabilidade, com raras exceções, são feitos por pressão. Tem pressão ambientalista, tem pressão de lei, de legislações que cobram. E de imagem perante a sociedade, vamos dizer. Mas, e o posicionamento pensando em termos de nações, né?. Como que o Brasil se posiciona, como é que os outros países se posicionam? (AUTORA A, 01.06.2017).
Ela considera importante trabalhar a questão “principalmente como uma forma
crítica, porque tem uma discussão que a gente faz com estudantes, que não adianta
se nós estamos aqui na sala, eu limpar o meu pedaço, garantir que aqui fique
limpinho se essa preocupação não é uma preocupação global”.
[...] ―ah olha eu vou poluir, mas como você não polui, então eu vou pagar aqui uma cota, né‖. Gente! [...]. Ainda que ficasse o máximo possível limitado, como é que isso não impacta no planeta? Se eu vivo no planeta não posso ter uma visão de que isso acontece na China e eu estou aqui, né. [...] então a gente geralmente tem essa discussão dos créditos dentro da sustentabilidade (AUTORA A, 01.06.2017).
Também apontou como a política pode servir de matéria para crítica e para o
pensamento reflexivo. Ela ressaltou que no movimento macropolítico, ―as empresas
não são inocentes quando fazem programas”. Mais à frente veremos um exemplo de
como esses programas interferem nos projetos pedagógicos das escolas.
Ao mesmo tempo, o meu estudante não vai definir macropolíticas, então eu tenho que investir para que ele tenha atitudes cotidianas que ajudem, de uma forma ou de outra, na utilização dos recursos. Mas, cada vez mais, eu tento vincular a atitude pessoal, a atitude cotidiana com uma visão política
150
A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2018 foi a 24ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, também conhecida como a Conferência sobre Mudanças Climáticas de Katowice. Foi realizada entre 2 e 15 de dezembro de 2018 em Katowice, na Polônia.
241
de sustentabilidade. De como as empresas não são inocentes quando fazem programas. Um banco, né, ah sustentabilidade; então, o que é que está por trás? (AUTORA A, 01.06.2017).
A Autora A também chamou a atenção para ―a coisa da moda”. Foi enfática e
se posicionou da seguinte maneira: “tem que ser discutido, né, porque acho que
algumas pessoas têm tão pouca elaboração que talvez achem que realmente isso
basta”. Ela citou exemplos de eventos particulares.
Então a pessoa vai casar, aí já tem empresa que faz o cálculo do quanto você está impactando. Porque tem o transporte, o número de pessoas, de embalagens e aí eu vou e planto tantas árvores. Gente! fica uma coisa assim: então eu acho até interessante, eu paguei uma miséria para o garçom, paguei uma miséria para a pessoa que limpou, gastei uma fortuna no vestido que eu ia usar, porque isso é uma preocupação, com as fotos, com as bebidas, e vou plantar tantas árvores e pedir aos convidados que levem uma muda para amenizar a minha ação, o impacto ambiental. Aí fica no nível do caricato, né. [...] ―ah, puxa, eu impactei, plantei uma árvore, fiz a minha parte‖. Ah, madeira de reflorestamento. Então, eu planto eucalipto. E aí, não impactou? Eu estou com a minha consciência tranquila porque eu plantei eucalipto, né (AUTORA A, 01.06.2017).
Na oportunidade da entrevista questionei a Autora A sobre eventos públicos
como os Jogos Olímpicos, cuja sede foi no Rio de Janeiro, em 2016. Ela, que
acompanhou de perto o evento “Olimpíadas da sustentabilidade” teceu vários
comentários.
Então, aqui no Rio teve a coisa das sementes e tal, os atletas vinham com as suas sementes... Eu acho sempre importante. Acho que nada é, assim, vamos dizer: ah, não valeu. Então você tem um evento que é internacional, né, que vai ser mostrado para o mundo inteiro e aquela questão aparecer nem que seja por segundos é um lampejo. Se aquilo vai ser potencializado é que é a questão. Então, o que me preocupa muito é que se levanta a lebre, né, se faz aquela coisa, e pessoas que estão interessadas, que realmente estão comprometidas investem seu tempo, sua formação, suas emoções, sua vida pessoal e aí esbarram na vontade política, na crise financeira (AUTORA A, 01.06.2017).
As imagens da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no Maracanã ainda
estão presentes na memória de muitas/os espectadoras/es. Naquela ocasião, as/os
atletas depositaram em totens que formaram os arcos olímpicos verdes, cerca de 13
mil sementes de 207 espécies de plantas da Mata Atlântica, algumas ameaçadas de
extinção. Dois bilhões e meio de pessoas testemunharam o compromisso assumido
de que a ―Floresta dos Atletas‖ seria plantada e cuidada no Parque Radical de
Deodoro. No entanto, passados dois anos do evento e faltando dois para a
242
Olímpiada de Tóquio quando deverá ser mostrado um documentário, o plantio das
mudas ainda não foi executado.
Nenhuma instância do poder público brasileiro seja no âmbito federal, estadual
ou municipal, nem o Comitê Rio 2016, assumiram a responsabilidade de viabilizar o
chamado ―Parque dos Atletas‖. As mais de 13 mil mudas encontram-se até hoje em
uma fazenda em Silva Jardim, no Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro sob os
cuidados da empresa Biovert, a qual vem garantindo, com recursos próprios, que as
mudas não morram.
Segundo a Assessoria de Comunicação Social da Procuradoria da República
no Rio de Janeiro, em setembro de 2018, o Ministério Público Federal (MPF)
realizou uma reunião com a Biovert e a Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD)
para tratar da destinação das mudas. Em nota a Procuradoria da República no Rio
de Janeiro informou que a partir da reunião, o MPF deverá oficiar ao Comitê
Organizador dos Jogos sobre as soluções para esse compromisso assumido
internacionalmente. O procurador Leandro Mittidieri afirmou que ―o MPF é contra a
utilização de mais dinheiro público nessa questão. Cabe ao Comitê explicar como
contratou a cerimônia de plantação das sementes, sem se preocupar com o
posterior estabelecimento da floresta"151.
O descaso com o plantio das mudas não é a única questão que nos faz
questionar se de fato, o espírito das Olimpíadas abrigou conceitos de
sustentabilidade. Como informou a Autora A, “se você vai lá nas instalações
olímpicas, têm instalações que estão com o ar condicionado ligado direto, desde
então”.
E aí a questão não é só pagar. É intangível. Então se eu pago a conta de luz e o que eu gasto de energia, né? Então se eu desperdiço água, mas eu pago pela água. Eu paguei a água? Não. Eu não paguei a água porque não se paga a água do planeta com dinheiro. Então, sabe, e aí? Discutia-se a Olímpiada da Sustentabilidade, mas o restaurante gratuito para os atletas era McDonald‟s? Ah... tá. É complicado. Então você tem uma incoerência tal nas ações. [...] tudo é comprado. Então você não estimula as pessoas a, por exemplo, traga a sua caneca de casa, né... vamos trazer coisas, trabalhar com material não descartável e a água vai ser gratuita, né. Não. Você compra a água, uma fortuna. Garrafa plástica. Então, que sentido? (AUTORA A, 01.06.2017, grifo da pesquisadora).
151
Cf. MPF. Procuradoria da República no Rio de Janeiro. ―MPF se reúne no local das mudas da Floresta dos Atletas semeadas na abertura da Olimpíada 2016‖. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-se-reune-no-local-das-mudas-da-floresta-dos-atletas-semeadas-na-abertura-da-olimpiada>. Acesso em: 27 set. 2018.
243
“[...] de fato, o que é produzido hegemonicamente é a coisa do evento, é a
coisa do espetáculo, espetacularização que fica bonito para se mostrar, né, fica
bonito na logo, uma empresa sustentável, um governo sustentável”.
Eu sempre acredito que... não sou uma estudiosa do campo, mas li Guattari no mestrado, eu acho que têm subjetividades que são dominantes, que são hegemônicas, mas eu não posso dizer assim, ok, então não há nada que se fazer, né. Acho que aí a gente não vive. Então, ok. Que linhas de fuga eu vou identificar como sendo possíveis para poder contrapor a essas subjetividades hegemônicas? Então, acho que no campo da sustentabilidade, o que a gente tem hoje são linhas de fuga (AUTORA A, 01.06.2017).
Tanto a Autora A quanto o Autor I não silenciaram sobre a produção intensiva
de grãos, a criação de gado e o quanto essas atividades contribuem para o
aquecimento global.
“É óbvio que eu falo assim: olha, faça a sua parte, não desperdice. Mas quem é
o maior impactante em termos de recursos da água? Agronegócios. [...] Então eu
não vou falar nada dos plantadores de soja?
E eu sempre aprendi, sempre estudei que a água se renova. Então ah, a água se renova. Uai, gente, por que essa preocupação com a água? (risos). Agora a gente já tem uma proposta exigente, água potável, água limpa, água em estado líquido, água doce, né. Ela vai e não necessariamente ela volta para onde estava. Então, vamos economizar e cuidar, né. Ao mesmo tempo não acho justo ficar fazendo atividades, dizendo para o estudante, ―é sua responsabilidade economizar água‖. [...] Eu acho, sabe, desculpe a expressão, sacanagem, falar que o estudante que escova os dentes com a torneira aberta é o responsável pela crise hídrica no Brasil (AUTORA A, 01.06.2017).
Por sua vez, o Autor I também chamou a atenção para o agronegócio. Ele
enfatizou: “a pecuária é uma coisa horrorosa”.
[...] é uma coisa assim, o que uma terra pode render pra uma alimentação sem ser de carne, alimentando mil pessoas, pra carne vai aumentar dez. A diferença é assim, de um pra cem, a brutalidade. E estão entrando na Amazônia, no Pará com pecuária, pecuária. E, agora, esse assunto é de quem? E de que momento? Está espalhado. Aliás, na nossa coleção, Ecologia entrou no final do 6º, do 7º, do 8º e do 9º. É sempre no final, sempre termina com a Ecologia, o livro. Não tem Ecologia no 6º ou no 7º, não, não. Em todos, no final, pra fazer um gancho. Sustentabilidade em todas as matérias, em todos os momentos, nas aulas. Eu acho vital isso. E nós tentamos fazer isso no livro (AUTOR I, 22.08.2017).
244
Entre “as linhas de fugas possíveis para poder contrapor a essas
subjetividades hegemônicas”, a redução do consumo é a que a Autora A identificou
e tem investido. Ela justificou: “Porque acho que é uma coisa que se eu investir
ainda em crianças e adolescentes, na questão do consumismo, de uma forma ou de
outra, eu acabo chegando às outras dimensões de uma visão sustentável que eu
gostaria de atingir” (AUTORA A, 01.06.2017).
Então, embora a gente trabalhe no livro a definição mais clássica de pensar, de uso dos recursos de forma a garantir para as gerações futuras, eu tenho insistido muito na questão da redução do consumo, principalmente, quando eu trabalho os 5Rs. [...]. É possível trabalhar isso em Ciclo da água. (AUTORA A, 01.06.2017).
No que se refere à reciclagem, a fala da Autora A foi clara e direta:
“Reciclagem não é solução, gente! Quando você recicla, significa que já tem lixo pra
caramba produzido”. Ela apontou o que podemos chamar de ideologia da
reciclagem: ―Por que é que houve tanta ênfase na reciclagem? Porque era uma
forma de dizer assim: olha, ok, vamos consumir. Produzimos lixo, mas a gente pode
reciclar”.
[...] o que é que isso tem a ver com o fato de eu ter que reduzir, tentar reduzir o consumo? Tentar... Porque, por exemplo, se bateu muito na tecla de reciclagem. Então, reciclagem, reciclagem, reciclagem. [...]. Nem tudo pode ser reciclado. A própria reciclagem impacta, né. Pra se produzir aquilo que eu estou tentando reciclar já se gastou de recurso, já se impactou. [...]. Então não dá (AUTORA A, 01.06.2017, ênfase da pesquisadora).
Como afirmou a Autora E: “na temática de meio ambiente [...], você precisa, de
fato, tratar questões ambientais. Não é um assunto fácil porque você entra com
questões sociopolíticas, né. Você vai trabalhar com questões que vão mexer com
muita gente”.
Os relatos das/os entrevistadas/os assim como as obras didáticas apontam que
a falta de saneamento básico ultrapassa a questão social, pois impacta a saúde
pública, o meio ambiente e a economia. Por exemplo, o Autor I fez referência à falta
de saneamento em Sergipe e Alagoas, entre outros.
Em nossas análises identificamos que o saneamento básico é tema abordado
na maioria das obras didáticas das séries finais e em menor proporção nas séries
iniciais do ensino fundamental (3 entre 14 coleções aprovadas no PNLD 2019).
245
No livro Ciências d, (9º ANO, 2010) identificamos que o saneamento tem
história. ―Práticas de saneamento e de higiene são conhecidas desde a Antiguidade.
O povo judeu, por exemplo, utilizava banhos públicos nas vilas hebraicas‖.
Outras regras de higiene corporal, alimentação e cuidados com as crianças estão narradas no Antigo Testamento. Para os antigos judeus, estar purificado e limpo era uma forma de agradar a Deus. Durante a civilização romana, [...] as cidades eram dotadas de aquedutos, banhos públicos e esgotos. [...]. O primeiro aqueduto que trouxe água limpa para Roma foi construído em 312 a.C. No começo da era cristã já havia seis aquedutos e, cem anos depois, dez aquedutos forneciam 10 bilhões de litros de água por dia! Além disso, havia um sistema de drenagem de esgotos e banheiros públicos [...]. A limpeza de ruas era providenciada por uma armada, e o hábito de cremar os mortos, mais higiênico do que enterrar, só foi substituído muito tempo depois, quando o cristianismo ganhou popularidade. Para os cristãos, o enterro dos mortos é valorizado. [...] após a queda do Império Romano, os hábitos de higiene e as práticas de saneamento foram se perdendo durante a Idade Média. Não ocorria nem aos senhores feudais nem ao povo que deveria haver fornecimento de água em seus castelos e pequenas vilas, que o lixo não poderia ficar espalhado ao ar livre e que as fezes deveriam ser enterradas. Muito tempo transcorreu até que os benefícios da higiene fossem novamente valorizados (CIÊNCIAS d, 9º ANO, 2010, p. 204, grifo do livro).
Também identificamos que no Brasil, a luta pelo básico, à primeira vista, está
relacionada às desigualdades regionais. É o que apontam os indicadores do IBGE,
apresentados em tabelas, gráficos e mapas reproduzidos nos livros didáticos.
Figura 13 - Apresentação de indicadores de Saneamento Básico, em tabela, gráfico e mapa. Fonte: (CIENCIAS d, 6º ANO, 2010, p. 107); (CIENCIAS t, 6º ANO, 2010, p. 154); (CIENCIAS f, 6º ANO, 2015, p. 211).
A tabela reproduzida no livro do 6º ano da coleção Ciências d (2010, p. 107)
apresenta indicadores de coleta e tratamento de esgoto, no Brasil e regiões, com
base nas pesquisas da PNAD/IBGE, de 2001. Observa-se que 60% dos distritos
brasileiros não são servidos com coletas de esgoto e apenas 14% contam com
coleta e tratamento de esgoto. Enquanto na Região Sudeste, 25,5% dos municípios
246
recebem os serviços de coleta e tratamento de esgoto, no Norte apenas 3% dos
distritos têm acesso ao serviço. No Nordeste, estado no qual o número de distritos
quase se equipara ao número de municípios da Região Sudeste, o serviço é
acessível somente para 8% deles. ―De acordo com o IBGE, 60% da população não é
servida por rede de esgoto, o que significa que mais da metade dos dejetos vão para
fossas, córregos e valas‖ (CIÊNCIAS d, 6º ANO, 2010, p. 107).
No livro do 6º ano, da coleção Ciências t (2010, p. 154) identifica-se as
informações apresentadas em gráfico. O livro informa que ―em 2005 cerca de 60
milhões de brasileiros não eram atendidos por redes de coleta de esgotos‖. Nota-se
que o gráfico indica que menos de 20% do esgoto coletado no país passava por
tratamento.
Como vimos, as obras didáticas utilizam vários dados estatísticos. Nesse
sentido, os relatos da Autora E são de grande importância. Ela informou que “a
maior dificuldade recente e que todo mundo está reclamando é o problema das
pesquisas de saneamento básico”. Também apontou que os investimentos no setor
estão parados.
Porque nós tivemos uma série histórica de pesquisa em saneamento básico, feito pelo IBGE, no âmbito da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar - PNAD. Então essa pesquisa veio repetida até 2008. Depois sumiu. Infelizmente. Tá. Sumiu. [...] Então, o que é que acontece? Muitos livros didáticos investiram nisso. Eu investi nisso. Bom, estava nos Parâmetros, né, a questão do saneamento básico, trabalhar com pesquisas. Então a gente comparava séries históricas de saneamento com base na PNAD. E sumiu, não tem mais. Cadê? Acabou. O governo federal não fez mais. E a ABRELPE
152 faz umas pesquisas correlatas, mas [...] numa
amostragem menor na área de saneamento, mas, ligada à área de resíduos sólidos, né. São empresas recicladoras, empresas, sabe. Isso aí também foi de grande valia pra gente, em matéria de dados sobre meio ambiente e reciclagem. Então, nos auxilia no fornecimento de dados, mas nem ali a gente tem saneamento na área de recursos ambientais, recursos utilizados para o desenvolvimento de saneamento, no sentido de reciclagem de esgotos, né. [...]. A gente sabe que está parado, né, que não fez mais nenhum investimento. [...] então, essa é uma dificuldade grande de
152 A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) é
uma entidade que congrega e representa as empresas que atuam nos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, fundada em 1976 por um grupo de empresários pioneiros nas atividades de coleta e transporte de resíduos sólidos. É integrante da Iniciativa para os Resíduos Sólidos Municipais da Climate and Clean Air Coalition (CCAC), uma parceria internacional para o meio ambiente que atua em diversas frentes para redução de poluentes e no combate às mudanças climáticas. Também é a representante nacional da ISWA, principal organização internacional voltada para a gestão de resíduos sólidos, e sede da Secretaria Regional para a América do Sul da IPLA. IPLA é a sigla para Parceria Internacional para desenvolvimento dos serviços de gestão de resíduos junto a autoridades locais. É um programa reconhecido e mantido pela ONU através da UNCRD - Comissão das Nações Unidas para Desenvolvimento Regional.
247
encontrar dados, séries históricas na área de meio ambiente. Isso é bem difícil (AUTORA E, 17.08.2017).
Lembremo-nos que 2008 foi o Ano Internacional do Saneamento, quando no
Brasil foi aprovado, pelo Conselho das Cidades, em 03/12/2008, o ―Pacto pelo
Saneamento Básico‖, regulamentado pela Lei nº 11.445/2007153.
O Pacto marcou o início do processo participativo de elaboração do Plano
Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), eixo central da política federal para o
saneamento básico. Em 2009 diversos segmentos da sociedade foram mobilizados
para construir o PLANSAB e no engajamento para o alcance dos objetivos e metas,
nacionais e regionalizadas, organizados em cinco grandes eixos: Metas para a
universalização; participação e controle social; cooperação federativa; integração de
políticas; gestão e sustentabilidade.
Essa legislação determina diretrizes para o conjunto de serviços,
infraestruturas e instalações de: abastecimento de água potável, coleta e tratamento
de esgoto, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das
águas pluviais. Em sintonia com os acordos assumidos junto à Assembleia Geral
das Nações Unidas, o PLANSAB define:
A universalização do Saneamento Básico – em abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais deve garantir (independente de classe social e capacidade de pagamento), qualidade, integralidade, continuidade e inclusão social e, ainda, contribuir para a superação das diferentes formas de desigualdades sociais e regionais, em especial as desigualdades de gênero e étnico-raciais (BRASIL/MCIDADES, 2008, p. 6).
Na ocasião da Declaração do Milênio, o PLANSAB teve como proposta
identificar o real impacto do Saneamento Básico e planejar o esforço do setor para o
alcance dos oito objetivos propostos para o milênio e buscar os meios possíveis para
que até 2015 fosse cumprida a meta de reduzir pela metade o número de pessoas
sem acesso, em 1990, ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário. Um
estudo prévio contou com indicadores do IBGE e da PNAD. Foi estabelecido um
153
Cf. Agência Nacional de Águas. Lei nº 11.445/2007, a qual estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. Disponível em: <http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/todos-os-documentos-do-portal/documentos-sre/alocacao-de-agua/oficina-escassez-hidrica/legislacao-sobre-escassez-hidrica/uniao/lei-no-11-445-2007-saneamento-basico/view>. Acesso em: 22 dez. 2018.
248
conjunto de diretrizes e ações estratégicas para o alcance de níveis crescentes dos
serviços de saneamento básico no território nacional para os próximos 20 anos.
Entre 2014 e 2033, a meta é atender 90% do território brasileiro com tratamento e
destinação do esgoto e 100% com abastecimento de água potável.
Não é irrelevante notar que o processo de construção do PLANSAB foi
coordenado pelo Ministério das Cidades (MCidades), que por sua vez foi criado em
2003, em atendimento à demanda de movimentos sociais. Ao Ministério compete
definir as diretrizes das políticas setoriais de habitação, saneamento ambiental,
transporte urbano e trânsito, responsável pela articulação dos programas entre
estados, municípios, organizações não governamentais e Caixa Econômica Federal,
que opera os recursos. Apesar de sua importância, no atual governo eleito o
MCidades corre risco de extinção.
Destacamos que por meio do MCidades, a União administra o Sistema
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), um importante sistema de
informações sobre saneamento no Brasil154. O ―SNIS Série Histórica‖ coleta dados
sobre a prestação de serviços de Água e Esgotos desde 1995 e sobre os serviços
de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos desde 2002, anos de referências. Os
dados de cada ano são publicados nos respectivos Diagnósticos dos serviços de
saneamento.
É importante observar que a adimplência com o fornecimento dos dados ao
SNIS é condição para acessar recursos de investimentos da Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental (SNSA) do MCidades, conforme definido nos normativos dos
Manuais dos Programas. A adimplência é concedida ao prestador de serviços e é
154
Cf. Ministério das Cidades. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. ―Aplicação web Série Histórica‖. A coleta de dados é feita exclusivamente via web por meio do sistema denominado SNISWeb. As informações são fornecidas por companhias estaduais, empresas e autarquias municipais, empresas privadas e, em muitos casos, pelas próprias prefeituras, por meio de suas secretarias ou departamentos, todos denominados no SNIS como prestadores de serviços. Em muitos municípios existe mais de um prestador de serviços, seja para o mesmo tipo de serviço, seja para um tipo diferente. A situação mais recorrente, neste caso, corresponde a uma companhia estadual prestando o serviço de água e a prefeitura prestando o de esgotos. Mas, há também situações em que duas companhias estaduais atendem a um mesmo município e, até mesmo, casos em que o mesmo município é atendido por dois prestadores de abrangência local. O pedido de informações, por meio de um ofício, alcança a todos os municípios do país, seja por intermédio de prestadores de serviços previamente cadastrados no Sistema, seja por meio de solicitação feita diretamente aos prefeitos municipais, nas situações em que a própria prefeitura é responsável pela prestação dos serviços de Saneamento. Vale observar que a partir do ano de referência de 2009 a amostra do SNIS passou a ser censitária, com o convite a todos os municípios do país, seja por intermédio de prestadores de serviços previamente cadastrados no Sistema, seja por meio de solicitação feita diretamente às prefeituras municipais. Disponível em: <http://www.snis.gov.br/aplicacao-web-serie-historica>. Acesso em: 17 dez. 2018.
249
extensiva ao município em que o prestador opera, sendo publicada anualmente na
Internet. Para conceder o atestado de adimplência, o SNIS analisa cada tipo de
serviço. Portanto, a adimplência ocorre para água e para esgotos separadamente.
Desta forma, pode ocorrer, por exemplo, da companhia estadual, responsável pelos
serviços de água no município, enviar os dados, mas a prefeitura, que responde
pelos serviços de esgotos, não enviar. Nesse caso, o município torna-se adimplente
em água, mas não em esgotos (BRASIL/SNSA/MCIDADES, 2018).
Como assinalou a Autora E, “a gente sabe que está parado, né, que não fez
mais nenhum investimento” (AUTORA E, 17.08.2017).
De fato, em 2016, o governo admitiu que não conseguirá cumprir a meta de
saneamento estipulada. Tanto é que em agosto daquele ano, um novo regime
passou a integrar o PLANSAB, quando o presidente interino, Michel Temer,
sancionou a Lei nº 13.329/2016155, a qual institui o Regime Especial de Incentivos
para o Desenvolvimento do Saneamento Básico (REISB), cujo objetivo é incentivar
empresas prestadoras de serviços de atendimento básico a aumentarem os
investimentos na área. Em contrapartida elas terão concessão de créditos na
cobrança de tributos.
Duas questões devem ser observadas: a primeira é sobre as fontes de
investimentos e a segunda sobre o consumo de energia elétrica.
O setor de saneamento básico brasileiro conta com três principais fontes de
investimentos: recursos onerosos, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), ambos sob a gestão do
Governo Federal; recursos derivados de empréstimos internacionais, adquiridos
junto às agências multilaterais de crédito, como, por exemplo, Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial (BIRD); recursos não onerosos, do
Orçamento Geral da União (OGU), disponibilizados por meio da Lei Orçamentária
Anual (LOA), e de orçamentos dos estados e municípios; e recursos administrados
pelos prestadores de serviços, resultantes da cobrança pelos serviços
(SNSA/MCIDADES, 2018).
O consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário também deve ser levado em consideração, uma vez que é
155
Cf. Lei nº 13.329/2016. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13329.htm>. Acesso em: 17 dez. 2108.
250
indispensável na gestão e operação dos sistemas e originam uma despesa de
exploração significativa seja da perspectiva financeira seja da ambiental. Isto quer
dizer que as ineficiências no uso de energia constituem custos evitáveis que são
suportados por subsídios à operação dos serviços e por taxas e tarifas cobradas dos
usuários. O uso de energia sem considerações de eficiência contribui para a
emissão de gases de efeito estufa com impactos nas alterações climáticas em
escala global. Além disso, toda energia utilizada na produção e transporte da água
também é perdida (SNSA/MCIDADES, 2018).
A relação entre investimentos e déficit de acesso, segundo informações dos
prestadores de serviços participantes do SNIS, na média de 2007 a 2016, apontam
que enquanto as regiões Norte e Nordeste apresentam participação nos
investimentos realizados inferior à participação no déficit de acesso em ambas as
categorias (abastecimento de água e esgotamento sanitário), nas regiões Sudeste,
Sul e Centro-Oeste, os investimentos em água são superiores ao déficit de acesso.
No Sudeste o investimento realizado em esgoto é o dobro do déficit. No Sul e
Centro-Oeste o investimento quase equipara ao déficit. No Norte, o déficit é 5,5
vezes superior ao investimento para o abastecimento de água. Para o esgotamento
sanitário, o déficit é 4,6 vezes superior ao investimento. No Nordeste, os
investimentos alcançam quase 70% do déficit de acesso ao abastecimento de água,
mas o investimento em esgotamento sanitário não chega a atingir 50% do déficit.
Ao identificar os valores de investimentos nos últimos três anos, de 2014 a
2016, notamos que muitos estados se mantiveram na mesma posição no que se
refere à participação no total de investimentos. No entanto, observa-se que dos 27
estados da federação, 11 reduziram os investimentos nos dois últimos períodos.
Os estados da Região Sudeste lideraram os investimentos realizados
(20.308,00 milhões). Na sequência, os estados do Nordeste (5.955,56 milhões), Sul
(5.210,60 milhões), Centro-Oeste (3.187,20 milhões) e Norte (1.221,80 milhão). Os
resultados do estado de São Paulo provocaram um viés de alta nos investimentos
realizados na Região Sudeste. Minas Gerais e Espírito Santo tiveram redução nos
investimentos ao longo do período analisado.
No Nordeste, o estado de Alagoas foi o que apresentou o maior crescimento. O
investimento em 2015 foi três vezes maior que em 2014 e se manteve em 2016. Lá o
tratamento de esgoto dobrou de 20,1% para 41,7%. Já no Piauí a situação se
inverte. Nota-se que o investimento foi reduzido. Comparativamente, em 2016 o
251
investimento foi três vezes menor que em 2014. Em nível regional, o índice de coleta
de esgoto é de 26 em cada 100 famílias e somente 36% dos esgotos são tratados
de forma adequada. Já a Região Norte veio sofrendo redução de investimentos no
período analisado. Lá a situação é extrema: 90% da população vive em municípios
sem rede de tratamento de esgoto; somente 10 em cada 100 famílias contam com o
serviço e apenas 18% dos esgotos coletados recebe tratamento adequado. A
situação do Amapá salta aos olhos. É o pior índice de saneamento básico do país.
Na capital, ¼ da população vive em regiões alagadas e o índice de redes de esgoto
é de nove em cada 10 habitantes. A pesquisa aponta que a maioria dos Estados (22
em 27) trata menos do que 50% do esgoto gerado, sendo que seis tratam menos de
20%. No que se refere à coleta nas áreas urbanas, 19 Estados contam com
indicador de coleta menor do que 50%, sendo quase todos das Regiões Norte e
Nordeste. Embora 83,3% da população brasileira tenha acesso à água, 43% vivem
em distritos sem rede de tratamento de esgoto. Em números totais, 35 milhões de
pessoas não têm acesso à agua tratada e mais de 100 milhões não são
contempladas com coleta de esgoto (SNSA/MCIDADES, 2018).
Informações mais recentes apontam que no orçamento federal, o valor da
despesa com saneamento básico efetivamente liquidado em 2018 caiu cerca de
40% em comparação ao ano de 2014. A maior diferença está no total relacionado à
área rural, com uma queda de mais da metade no período. É o que aponta os dados
mais recentes da plataforma Siga Brasil156.
O PLANSAB serviu de referência para planos regionais e municipais de
saneamento básico, elaborados e executados pelos estados, Distrito Federal e
prefeituras, mas a realidade é que a adesão dos municípios é baixa desde o início.
Em parte pelo despreparo das cidades, em que pese muitas são desprovidas de
capacitação técnica para elaborar um plano de saneamento básico. Por esse motivo
os prazos estabelecidos para as prefeituras elaborarem seus planos foram
prorrogados, passando de 2013 para 2015 e, posteriormente, para 2017.
Segundo o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto ―mesmo quando os
programas de investimentos procuram corrigir as distorções nas alocações de
recursos, adequando-as aos déficits absolutos, verifica-se que muitas vezes os
156
Cf. Portal Saneamento Básico. Disponível em: <https://www.saneamentobasico.com.br/gasto-saneamento-caiu/?rdst_srcid=1619126&utm_source=Newsletter&utm_medium=Portal%20SB&utm_campaign=Vin%C3%ADcius&utm_term=Saneamento&utm_content=Saneamento>. Acesso em: 14 jan. 2019.
252
investimentos são executados com menor agilidade do que a necessária‖
(SNSA/MCIDADES, 2018, p. 55). Apesar, dessas justificativas veremos que na
prática isso não é tudo.
Qualquer projeto de ação que vise beneficiar a saúde pública envolve necessariamente uma política de saneamento. Essa política é quase inexistente no campo e na maioria das regiões rurais brasileiras. Também as populações urbanas têm convivido com graves problemas de saneamento, tais como abastecimento e tratamento de água e esgoto, e escoamento dos rios e das chuvas (CIÊNCIAS b, 8º ANO, 2015, p. 158, grifo do livro).
Esta afirmativa do livro Ciências b (2015) pode ser ilustrada com a proposta de
atividade identificada no livro Ciências f (6º ANO, 2015, p. 209), o qual apresenta
fotografias com dois tipos de moradias, localizadas na zona rural e na zona urbana
de Guaxupé (MG). Entre as várias questões que o livro apresenta, destacamos
algumas: ―em qual das moradias é mais provável que o esgoto seja coletado e
encaminhado para uma ETE? Justifique sua resposta. Em qual das regiões é mais
provável que exista um sistema de fornecimento de água tratada e encanada?
Justifique sua resposta‖.
Figura 14 - Atividade sobre saneamento básico. Fonte: (CIENCIAS f, 6º ANO, 2015, p. 209).
O livro também propõe uma atividade prática: ―entrevista e debate com um
representante da prefeitura‖. Lamentavelmente o livro Ciências f (2015) não foi
adotado em Guaxupé (MG), mas entendemos que a atividade proposta merece uma
investigação porque várias cidades no interior de MG passam pela mesma situação.
Exemplarmente, o tratamento de esgoto no município de Guaxupé (MG) se
arrasta desde 1998. A primeira tentativa para a construção de uma Estação de
253
Tratamento de Esgoto (ETE) em Guaxupé foi em 1998, mas a Câmara de
Vereadores não aprovou. Por 15 anos o município continua lançando in natura no rio
Guaxupé e seus afluentes urbanos, todo o esgotamento sanitário, contaminando
águas e gerando fontes de poluição e contaminação, apesar das diretrizes do
PLANSAB. Nota-se que a prefeitura vinha cobrando a taxa de esgoto nas contas de
água, desde 1998 até o final de 2007, com o objetivo de se implantar uma ETE.
Em nossas investigações identificamos que várias prefeituras da região foram
submetidas à fiscalização da Controladoria Geral da União (CGU), órgão do governo
federal responsável pela defesa do patrimônio público, transparência e combate à
corrupção. No Relatório que trata do resultado de ação de controle desenvolvida em
função de situações presumidamente irregulares, ocorridas em Guaxupé/MG,
apontadas ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União - CGU, o
fato é assim descrito:
Em 20/03/2012 foi publicado no Diário Oficial da União – DOU o extrato do Termo de Compromisso nº TC/PAC 0196/2012, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde – Funasa e a Prefeitura Municipal de Guaxupé/MG, cujo objeto é a execução de obras e serviços de engenharia destinados a implantação de interceptores de esgoto sanitário e de uma estação de tratamento de esgoto sanitário – ETE, no valor total de R$ 14.589.850,08. Contudo, importante esclarecer que, em 16/03/2012, 4 dias antes da publicação do citado TC, por intermédio da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae/MG, o município de Guaxupé firmou com o estado de Minas Gerais Convênio de Cooperação com a finalidade de estabelecer uma colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação de serviços públicos municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. O convênio dispõe, na Cláusula Terceira, que a regulação e fiscalização dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município será realizada pela Arsae/MG. Dentre outras atividades estabelecidas para desenvolvimento pela agência está a execução da política tarifária, por meio da fixação, controle, revisão e reajuste das tarifas (§ 2º da Cláusula Terceira). A relação da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa
157 com o município fica estabelecida
na Cláusula Quarta do convênio [...] (RELATÓRIO Nº 201702023/CGU).
O trabalho foi realizado em função de situações de irregularidades apontadas
ao referido órgão, na execução do Termo de Compromisso nº TC/PAC 0196/2012,
destinado à implantação de sistema de esgotamento sanitário no município. Os
exames envolveram, dentre as técnicas utilizadas, inspeção física das obras e
análise documental. Verificou-se que as obras de implantação do sistema estavam
157
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) é uma sociedade de economia mista brasileira com sede no município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, Região Sudeste do país. É a responsável pela prestação de serviços de saneamento no estado mineiro, que é o seu maior acionista.
254
paralisadas comprometendo o pleno atingimento dos objetivos do Termo de
Compromisso. Também a obra foi contratada com base em projeto básico deficiente.
Foram detectadas falhas na realização do processo licitatório com restrição à
competitividade, além de ter ocorrido substancial alteração no plano de trabalho sem
a realização de nova licitação. O relatório ressalta o dano ao erário público por
superfaturamento na antecipação de pagamentos, no montante de R$ 198.803,61 e
pagamento relacionado a medição de serviços, no valor total de R$ 176.332,73, cuja
complexidade e prazo de execução se mostraram incompatíveis com o quantitativo e
com a capacidade produtiva da mão de obra disponível158.
Como vimos, fato é que a ―má vontade política‖ e o modo de atuação de alguns
políticos faz com que a injustiça ambiental ainda impere em muitos lugares. Até em
cidades da Região Sudeste, considerada ―a mais desenvolvida do país‖ e
responsável por 55,2% do PIB brasileiro, 17% da população não tem acesso ao
serviço de tratamento de esgoto. Como se pode notar na ilustração reproduzida no
livro Ciências b (2015), a cidade do Rio de Janeiro é mais uma delas.
Figura 15 - “Comunidade sem saneamento básico na cidade do Rio de Janeiro, RJ, 2013”. Fonte: (CIÊNCIAS b, 8º ANO, 2015, p. 158).
A legenda da foto dispensa comentários, mas nunca é demais lembrar os
excessos que transbordam. Nas palavras de Bertold Brecht, ―Do rio que tudo arrasta,
diz-se que é violento. Mas ninguém chama violentas às margens que o comprimem".
Mais à frente veremos que as ―margens‖ são muitas, de várias ordens e dão
margem para pensar e repensar o impacto da enchente, mencionada pela Autora E.
Para este eixo de análise nosso limite é apontar que as enchentes são consequência
158
Cf. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. Relatório Nº 201702023. Disponível em: <https://auditoria.cgu.gov.br/download/10992.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2018.
255
de construções em áreas de mananciais, da impermeabilização e da canalização
urbanas, agravadas pelas falhas de saneamento básico e o acúmulo de lixo.
Assim como ocorreu nas entrevistas, também nas obras didáticas o lixo é
destacado como problema socioambiental, nos níveis global e local, relacionado com
os padrões de consumo atuais. Por exemplo, na foto extraída do livro Ciências f,
(2015, p. 202) identifica-se a seguinte legenda: ―O biólogo Mario Moscatelli escolheu
a Baía de Guanabara, Rio de Janeiro (RJ), para dar uma entrevista à imprensa,
alertando sobre a poluição, em 2015‖.
A falta de compromisso do poder público com as questões socioambientais
ficaram evidentes com a proximidade dos Jogos Olímpicos. Apesar de o problema
da degradação da Baía de Guanabara datar de décadas e há muito prejudicar a vida
da população fluminense que vive no seu entorno, foi a escolha da capital carioca
para sediar os Jogos Olímpicos, em agosto de 2016, que a colocou sob os holofotes
da imprensa nacional e internacional.
Figura 16 - Biólogo Mario Moscatelli na Baía de Guanabara. Fonte: (CIÊNCIAS f, 6º ANO, 2015, p. 202).
Mario Moscatelli, que estuda a baía há mais de 20 anos afirma que ―o assunto
ambiental não é item prioritário‖.
Porque nunca houve a intenção de alcançar coisa alguma. A Baía de Guanabara faz parte daquilo que eu chamo da indústria da degradação, onde de tempos em tempos o governo estadual do Rio de Janeiro inventa projetos de recuperação da baía e obtém empréstimos bilionários do exterior. Os recursos chegando são usados de qualquer maneira, ao gosto
256
dos políticos do momento, alcançando pífios resultados ambientais sem qualquer tipo de investigação ou sanção das esferas de fiscalização. Aí, anos depois, novos programas são criados e mais dinheiro é captado. [...]. Em resumo: O mal ambiente compensa! (MOSCATELLI, 2016)
159.
Sem considerar os vazamentos de óleo que poluíram a Baía de Guanabara,
amplamente divulgados pela mídia e reproduzidos em textos e imagens divulgadas
nas obras didáticas, a fotografia reproduzida na Coleção f, (2015) chama a atenção
pela quantidade de lixo, uma das causas da poluição na baía. Vale lembrar que,
embora o IBGE informe que a coleta de lixo está praticamente universalizada no Rio
de Janeiro, o serviço não é prestado adequadamente em áreas de ocupação
informal, como favelas e bairros periféricos e agravado pela falta de esgotamento
sanitário.
A Autora E chamou a atenção para os investimentos no destino do lixo e fez
uma breve retrospectiva. Ela afirmou: “Imagina... nós estamos muito baixo”.
Destacou que “os municípios não usaram as verbas para fazer os aterros sanitários”.
Teve assim um investimento grande aí dos meados dos 1990 até... atravessou do segundo do Fernando Henrique para o Lula e assim, no começo do governo Dilma ainda tinha porque existia, inclusive um pacto municipal de não ter mais lixões a céu aberto em 2014. Oh, foi para o beleléu. Não tem mais. Não se cumpriu esse pacto. Os municípios não fizeram. Os municípios não usaram as verbas para fazer os aterros sanitários, tá. O pacto de 2014 acabou. Certo? (AUTORA E, 17.08.2017).
De fato, a maior parte dos municípios não cumpriu o prazo de quatro anos
dado em 2010 pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)160. Tanto é que o
PL do Senado n° 425, de 2014, prorrogou o prazo que as cidades terão para
erradicar os lixões a céu aberto, dando destino ambientalmente correto aos resíduos
sólidos e investindo na construção de aterros sanitários. A proposta está no relatório
final da Subcomissão Temporária de Resíduos Sólidos, que funcionou no Senado
em 2014, aprovada em 1º de julho pelo Plenário e enviada à Câmara. Até 2021,
159 Cf. Estratégia ODS. Olimpíadas 2016: ―O assunto ambiental não é item prioritário‖. Entrevista especial com Mario Moscatelli. Disponível em: <http://www.estrategiaods.org.br/olimpiadas-2016-o-assunto-ambiental-nao-e-item-prioritario-entrevista-especial-com-mario-moscatelli/>. Acesso em: 22 dez. 2018. 160
Cf. Câmara dos Deputados. Lei 12.305/2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2010/lei-12305-2-agosto-2010-607598-publicacaooriginal-154180-pl.html>. Acesso em 17 set. 2017.
257
depósitos de lixo a céu aberto terão de ser eliminados161. O relatório observa os
financiamentos de infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 e
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e destaca que a construção de aterros
sanitários merece tanto técnica como socialmente, ser incluída nesse restrito rol de
exceções.
Foram realizadas seis audiências públicas das quais participaram
representantes de diversas instituições e órgãos do governo. Entre elas, a
ABRELPE, referida pela Autora E.
Do relatório destacamos o estudo feito em parceria com a International Solid
Waste Association (ISWA) que apresenta a estimativa de tempo necessário para que
as medidas previstas na Lei da PNRS surtam efeito. As projeções indicam de três a
cinco anos para alcançar um cenário de adequação na destinação final. No caso da
reciclagem, algo em torno de sete a dez anos para atingir índices satisfatórios –
tempo exigido para disponibilizar a infraestrutura, operacionalizar esses serviços,
instruir a população sobre como agir e ter uma indústria recicladora disponível no
país para absorver todos esses materiais. Já para um cenário de redução na
geração de resíduos, o tempo estimado seria de 12 a 15 anos, devido à necessidade
de mudança de processo produtivo e de cultura de consumo da população. Também
o estudo ABRELPE apresentou um cenário que evidencia a importância da
educação: 75% do povo brasileiro revela não separar seus resíduos em casa e
menos da metade da população diz saber que alumínio, papel e PET162 são
materiais recicláveis.
De sua parte, os livros didáticos têm contribuído para a difusão de informações.
Apesar disso, neste triste cenário é lamentável notar a ausência de representantes
do MEC nas audiências públicas realizadas pela Subcomissão Temporária de
Resíduos Sólidos, o que denota a pouca ou nenhuma articulação entre os
ministérios, secretarias e demais instituições participantes.
Como explicou a Autora E, a ABRELPE “faz umas pesquisas correlatas” e
servem como fonte de informações para as obras didáticas. Aqui reproduzimos a
161
Cf. Relatório da Subcomissão Temporária de Resíduos Sólidos. Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Om82HgekufkJ:www19.senado.gov.br/sdleg-getter/documento/download/4c1e40a1-f7c0-404c-b4e2-436645b37c5d+&cd=4&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br >. Acesso em: 24 dez. 2018. 162
Poli (Tereftalato de Etileno). Começou a ser produzido na década de 1970 e chegou ao Brasil em 1988. Pesquisas afirmam que ainda não é possível determinar exatamente o grau e o tempo de degradação, mas estima-se que o tempo de decomposição da garrafa PET é de no mínimo cem anos em média, podendo variar conforme as condições ambientais.
258
título de exemplo, trechos de textos extraídos de dois livros que citam a referida
entidade e dados de pesquisas.
Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), em 2010 foram produzidos 61 milhões de toneladas de resíduos sólidos no Brasil. Uma megalópole como São Paulo produz mais de 17 mil toneladas de resíduo por dia, das quais 75% saem das residências. Além disso, não há informação suficiente para os procedimentos de embalar, coletar, transportar e tratar os resíduos, isto é, dar-lhes um destino correto, agredindo o menos possível o ambiente onde vivemos (CIÊNCIAS n, 6º ANO, 2017, p. 73, grifo do livro). No Brasil, segundo uma pesquisa realizada pela Abrelpe (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), em 2011, aproximadamente 30% dos municípios ainda destinam o lixo coletado para espaços abertos, os chamados lixões. Em agosto de 2010 foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que regulamenta, entre outros, a coleta, o destino final e o tratamento de resíduos urbanos, perigosos e industriais. [...]. No ano de 2011, de acordo com a Abrelpe, apenas 39% dos municípios brasileiros utilizavam aterros sanitários (CIÊNCIAS f, 6º ANO, 2015, p. 131 e 133, grifo do livro).
Há mais de dez anos a ABRELPE publica o ―Panorama dos Resíduos Sólidos
no Brasil‖, um documento que traz os dados atualizados anualmente para o setor,
sendo o de 2017 a publicação mais recente. Os dados revelam que a destinação
adequada dos resíduos sólidos urbanos coletados pelos municípios pouco avançou,
enquanto o volume enviado para lixões apresentou um crescimento de 3% de 2016
para 2017, com 1.610 cidades fazendo uso dessas unidades, que são a pior forma
de destinação dos materiais descartados, pois não apresentam nenhuma proteção
ambiental e causam severos impactos na saúde das pessoas. Foi observado um
aumento de 1% na destinação inadequada em 2017, com mais de 29 milhões de
toneladas depositadas em lixões e aterros controlados. Outro dado verificado no
Panorama 2017 e que também traz uma situação preocupante refere-se ao
tratamento dos resíduos de serviços de saúde. Identificou-se que 28% do que é
coletado em hospitais, clínicas e demais unidades de geração não é submetido a
processos de tratamento, contrariando a legislação e demais normas vigentes, que
classifica esse tipo de resíduo como perigoso (ABRELPE, 2017, p. 70 e 71).
259
Figura 17 - Interações entre um lixão e o meio ambiente. Fonte: (ISWA; ABRELPE, 2015, p. 9)
163.
Em nossas análises identificamos que lixo e/ou lixões ―a céu aberto‖ é um
termo usado para caracterizar um local em solo no qual ocorre disposição
indiscriminada de resíduos sólidos, geralmente ―terrenos baldios periféricos onde
diariamente são jogadas toneladas de resíduos‖. Por aterro sanitário entende-se:
―locais onde amplas camadas de rejeitos são cobertas diariamente com terra. A
decomposição desse material por bactérias gera o gás metano, que pode ser
aproveitado como combustível‖. Mas ―há o risco de poluir as águas subterrâneas se
o chorume não for recolhido e se não houver vedação adequada do solo‖
(CIÊNCIAS n, 6º ANO, 2017, p. 73, grifos do livro).
Diferente dos lixões, o aterro sanitário constitui um método aceitável e
adequado de destinação dos resíduos, com emissões controladas e limitados
impactos à saúde e ao meio ambiente. É notável a ausência de medidas ou no
máximo limitadas medidas de controle das operações e proteção ambiental do
entorno.
Algumas prefeituras utilizam locais de baixo valor comercial, como buracos naturais distantes do centro. Neles, o lixo depositado é comprimido, para ocupar menos espaço, e arrumado em camadas alternadas com terra. Essa forma de tratamento simples de lixo é chamada de aterro controlado, em que a reprodução de insetos e roedores é muito menor que nos lixões. Nos aterros sanitários, mais adequados, o solo, antes de receber o lixo, é coberto com plástico ou concreto, e há tubulações que canalizam o chorume, líquido escuro, malcheiroso e corrosivo resultante da transformações do lixo e que dele escorre (CIÊNCIAS d, 6º ANO, 2010, p. 49, grifos do livro).
260
Os lixões recebem diferentes tipos de fluxos de resíduos. Entre tantos, os
resíduos municipais, esgotos, lodos, lixo eletrônico, resíduos hospitalares e até
resíduos perigosos tais como peças de computadores e baterias de celulares.
Já apontamos que os livros didáticos têm contribuído para a difusão de
informações. Assim como as origens, os destinos dos resíduos coletados (lixões;
aterros sanitários; incineração; compostagem; biodigestão; reciclagem de materiais)
e explicações sobre cada um deles são difundidos nas obras didáticas. Todas essas
informações e outras se transformam em exercícios e atividades variadas nos livros
didáticos.
Todos os livros analisados enfatizam que para mudar hábitos é preciso
conhecer a classificação do lixo, também seus significados e implicações. Imagens
das ―lixeiras para coletas seletivas‖ são facilmente identificadas nas obras didáticas.
As cores usadas nos coletores de lixo reciclável são: vermelho para plástico, azul
para papel, verde para vidro e amarelo para metal. Não identificamos menção aos
coletores de cor: preta para madeira; laranja para resíduos perigosos; branco para
resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde; roxo para resíduos radioativos;
marrom para resíduos orgânicos e cinza para resíduo geral não-reciclável ou
misturado.
Quadro 12 - Classificação do lixo, por tipo e origem.
Fonte: Adaptado dos livros: Ciências f, 6º ano (2015, p. 130 e 131) e Ciências f, 9º ano (2015, p. 289).
TIPO ORIGEM
Lixo domiciliar
formado pelos resíduos sólidos gerados nas casas e edifícios residenciais. É constituído basicamente por restos de comida
(matéria orgânica), papéis, embalagens (plástico, isopor, papelão, vidro etc), fraldas descartáveis, objetos dos mais diferentes
materiais, pilhas e muitos outros itens.
Lixo comercial
gerado em estabelecimentos comerciais como supermercados, restaurantes, escritórios, bancos etc. Sua composição pode variar
muito dependendo do tipo de estabelecimento. É composto, geralmente, de matéria orgânica, papéis, madeira e vários tipos de
plástico.
Lixo públicoé aquele gerado pela limpeza das áreas públicas. É composto de restos de vegetais, papéis, embalagens plásticas, latas e outros
objetos e materiais encontrados nos locais públicos.
Lixo industrial
é produzido pelas indústrias. O lixo industrial é bastante variado, podendo conter: cincas, lodos, óleos, ácidos, plásticos, papéis,
madeiras, fibras, borrachas, metais, vidros e cerâmica. Nessa categoria inclui-se a maioria do lixo considerado tóxico, como
pilhas, baterias, embalagens de agrotóxicos e de combustíveis.
Lixo hospitalar
produzido em hospitais, clínicas médicas e veterinárias, postos de saúde e farmácias. Exemplos: agulhas, seringas, algodões,
tecidos e órgãos extraídos de pacientes, sangue, luvas e restos de medicamentos. É um tipo de lixo muito perigoso porque pode
conter muitos microrganismos capazes de provocar doenças.
Lixo espacialé composto de satélites abandonados, restos de equipamentos gerados de explosão e choque, partes de foguetes, cintas
metálicas (junções) e ferramentas. Estima-se que sejam deixadas no espaço 200 toneladas por ano desse tipo de lixo.
Lixo radioativo
é produzido sobretudo pelas usinas nucleares, as quais têm como matéria-prima substâncias radioativas, como o urânio e o
plutônio. Seu uso deve ser bem avaliado, pois a ocorrência de acidentes com liberação de material radioativo poderia provocar a
morte de muitas pessoas e animais; alterações genéticas nos organismos sobreviventes; e, por causa da contaminação radioativa
da atmosfera, do solo, dos rios e dos aquíferos, tornaria grandes áreas inabitáveis. Outro problema das usinas nucleares é a
produção de lixo nuclear (rejeito radioativo), pois os produtos obtidos na fissão são altamente radioativos e precisam ser
acondicionados e isolados por centenas de anos. No Brasil, tais rejeitos ficam provisoriamente armazenados na Central Nuclear
Almirante Álvaro Alberto (CNAAA - conunto das usinas nucleares Angra 1, Angra 2 e Angra 3 até que a Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN) determine um local apropriado para seu armazenamento definitivo.
261
Identificamos que nos volumes dirigidos ao 6º ano, os lixos ―extraordinários‖
podem ser classificados em tipos e origens e geralmente são destacados os mais
comuns. Por exemplo, o quadro Classificação do lixo, por tipo e origem, foi
elaborado a partir de informações veiculadas na coleção Ciências f (2015).
Observamos que dentre os tipos de lixo apresentados nos livros do 6º ano, os
resíduos radioativos não são identificados, por exemplo, de instrumentos de
laboratórios/hospitais que realizam exames clínicos e usam produtos radioativos,
como o raio x. No livro do 6º ano da coleção Ciências f, (6º ANO, 2015, p. 131), o
―lixo radioativo‖ é mencionado, mas não constam exemplos: ―além desses, existem
vários outros tipos de lixo, como o lixo radioativo‖.
É no contexto da discussão sobre ―a energia no cotidiano‖, para usar uma
expressão da coleção Ciências f (9º ANO, 2015, p. 287) que localizamos o ―lixo
nuclear (rejeito radioativo)‖, identificado como ―lixo atômico‖ no livro do 7º ano da
coleção Ciências d (2010, p. 262). ―As preocupações com a energia nuclear são
muitas. Vão desde os problemas ecológicos causados durante a mineração de
urânio164, o lixo atômico, até o temor de um desastre na usina‖.
Nesse contexto, a maioria dos livros didáticos do 9º ano destaca a questão do
uso de energia nuclear. No livro Ciências n, (9º ANO, 2017, p. 135), a ―utilização de
energia nuclear no Brasil‖ é tema proposto para debates em duas turmas que
deverão assumir posições opostas, uma favorável e outra contrária ―a qualquer tipo
de utilização dessa forma de energia‖.
Na coleção Ciências b (9º ANO, 2015, p. 16), ―a polêmica das usinas nucleares
no Brasil‖ é apresentada em um texto que informa e ao mesmo tempo questiona.
Antes disso, assinala que ―como afetam vida de todos nós, as decisões sobre
questões científicas e tecnológicas não devem se restringir a cientistas, governantes
ou grandes empresas. Aos cidadãos do século XXI cabe opinar, influenciar e tomar
grandes decisões nesse sentido. E você é um deles‖.
O tempo e principalmente o dinheiro investidos na construção dessas usinas levantam uma discussão que permanece sem consenso: é acertada a decisão do governo brasileiro em ativar a usina nuclear Angra III, que tem previsão para começar a operar em 2018? A decisão já foi tomada e a usina já está em plena construção, mas a polêmica continua (CIÊNCIAS b, 9º ANO, 2015, p. 16 e 17).
164
Em Minas Gerais, o lixo nuclear que restou da primeira mina de urânio que foi explorada no Brasil preocupa ambientalistas, o Ministério Público e moradores de uma região no sul do estado. Disponível em: < http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/09/lixo-nuclear-de-extinta-mina-de-uranio-ocupa-area-de-cem-maracanas.html>. Acesso em: 22 dez. 2018.
262
No mesmo livro identificamos a seção ―Com a palavra, o especialista‖ que
apresenta o texto de uma entrevista com Fernando de Souza Barros, pesquisador
em Física Aplicada. Por meio do texto reproduzido no livro, o renomado físico
brasileiro, falecido em 2017, deixa um alerta de importante valor.
Pergunta: A quais das questões atuais sobre ciência e tecnologia a sociedade deve ser mais atenta: Fernando: A sociedade deve ficar atenta ao processo de acompanhamento das aplicações científicas. Para isso, seus representantes legítimos devem estar em condições de obter informações confiáveis sobre as consequências sociais de novas tecnologias. Isso requer a formação de comissões com competência técnico-científica que sejam confiáveis, capazes de fornecer diagnósticos precisos não influenciados por grupos financeiros em tecnologias que lhes tragam benefícios próprios (CIÊNCIAS b, 9º ANO, 2015, p. 18).
Esperava poder passar por este texto sem ter que mencionar a ―anti-rosa
atômica‖, mas não foi possível. Na legenda, ―a cidade de Hiroshima, no Japão, foi
destruída por bomba atômica na Segunda Guerra Mundial, em 1945‖. Na imagem,
os destroços da devastação (CIÊNCIAS d, 9º ANO, 2010, p. 83).
No mesmo livro identificamos informações sobre um problema premente na
órbita da Terra: o lixo espacial. O livro aborda o tema a partir de uma matéria
publicada em 2005, pela Agência Fapesp, intitulada ―Regras para o lixo espacial‖165.
Desde 1957, quando Sputnik se tornou o primeiro artefato humano a orbitar a Terra, mais de 4 mil lançamentos foram feitos ao espaço. O enorme ganho tecnológico conseguido em áreas como telecomunicações ou geografia – para citar apenas duas – trouxe a reboque um problema indesejável: o lixo. Satélites quebrados, pedaços de foguetes e uma infinidade de sobras metálicas circundam o planeta [...]. Hoje, dos mais de 13 mil objetos identificáveis na órbita terrestre, apenas cerca de 700 são satélites funcionais. O resto é lixo. Para discutir o atual estágio do problema e lançar alternativas que possam solucioná-lo, cientistas de diversos países reúnem-se de 18 a 20 de abril na 4ª Conferência Europeia de Detritos Espaciais, em Darmstadt, Alemanha [...] (CIÊNCIAS d, 9º ANO, 2010, p. 196).
A coleção Ciências x (2009) utiliza seções para dialogar diretamente com as/os
estudantes. Uma delas, ―Use a internet‖ orienta atividades.
Use a internet O Laboratório Multimídia do Departamento de Física da Universidade Federal de Alagoas disponibiliza uma simulação do lançamento de satélites
165
Cf. ―Regras para o lixo espacial‖. Disponível em: <http://agencia.fapesp.br/regras-para-o-lixo-espacial/3595/>. Acesso em: 19 dez. 2018.
263
em que você pode escolher o valor da velocidade inicial e ver o que acontece. http://www.phy.ntnu.edu.tw/oldjava/portuguese/dinamica/satelliteorbits/satelliteorbits.htm No seguinte endereço você encontra uma simulação parecida, que utiliza como base o desenho originalmente feito por Newton: http://galileoandeinstein.physic.virginia.edu/more_stuff/flashlets/NewMtn/NewMtn.hml (acessos: abr. 2009) (CIÊNCIAS x, 9º ANO, 2009, p. 64).
Já o texto reproduzido mencionado no livro Ciências d, (2010), apresenta o link
de acesso ao portal da Agência Espacial Americana (Nasa), no qual identificamos
informações e gráficos de detritos orbitais gerados a partir de diferentes pontos de
observação.
Os gráficos retratam objetos na órbita da Terra rastreados atualmente.
Aproximadamente 95% dos objetos (pontos brancos) são detritos orbitais, ou seja,
satélites não funcionais. Quase 8.000 toneladas de lixo espacial em órbita, incluindo
cerca de 29.000 objetos com mais de dez centímetros e mais de um milhão deles
pequenos demais para serem seguidos.
Figura 18 - Gráficos de detritos orbitais. Fonte: Galeria de Fotos - NASA
166.
Atualmente cerca de 200 cientistas de ambos os sexos, representantes de
donos de satélites, empresas de foguetes e agências espaciais reúnem-se todos os
anos na Holanda, na base da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla original)
166
As fotos são todas consideradas abertas ao público e podem ser visualizadas ou baixadas livremente. Cf. Galeria de fotos. Disponível em: <https://www.orbitaldebris.jsc.nasa.gov/photo-gallery.html>. Acesso em: 19 jan. 2019.
264
para debater a limpeza do espaço, confrontar ideias e buscar por soluções que
possam evitar uma colisão trágica ou até mesmo, o infortúnio de qualquer detrito cair
e atingir uma ou várias vidas na Terra. Tais cientistas concordam que a primeira
coisa a fazer é parar de poluir o espaço e a segunda é remover o lixo e os detritos
que se acumulam no espaço há décadas.
A preocupação com a queda de objetos se deve principalmente ao fato de que
alguns deles estão equipados com geradores eletro-nucleares, que ativam funções
específicas dentro do aparelho, e podem usar como combustível o urânio ou
plutônio, substâncias altamente radioativas. Há vários exemplos de objetos vindos
do espaço, tanto é que o livro Ciências f, 6º Ano (2010, p. 131) mostra um deles. No
caso, a imagem da ―peça de foguete, exemplo de lixo espacial, que caiu na Arábia
Saudita em 2001‖.
Se objetos na órbita terrestre fogem aos nossos olhos nus, não é diferente o
que acontece no fundo das marés. Um levantamento feito pela TeleGeography167
registrou aproximadamente 448 cabos submarinos em serviço em todo o mundo;
eles cruzam oceanos e outros seguem o litoral de vários países. Acredita-se que
existem atualmente mais de 1,2 milhão de quilômetros de cabos de fibra ótica em
serviço globalmente.
Segundo a TeleGeography, o número total de cabos está em constante
mudança. Isto porque novos cabos entram em serviço e os mais antigos são
desativados. Eles podem permanecer operacionais por mais de 25 anos, mas
geralmente são trocados mais cedo porque são economicamente obsoletos, ou seja,
economicamente inviáveis, insustentáveis. Não podem fornecer tanta capacidade
quanto os cabos mais novos a um custo comparável e, portanto, são muito caros
para serem mantidos em serviço.
167
A equipe de design da TeleGeography é conhecida por suas representações e gráficos únicos. Mas ela é mais do que isso. É uma empresa de consultoria e pesquisa de mercado de telecomunicações que realiza pesquisas aprofundadas, compila grandes conjuntos de dados e apresenta essas informações em relatórios e bancos de dados on-line. Os dados são utilizados desde 1989 por provedores de serviços, fabricantes de equipamentos, investidos, governos, entre outros. A equipe de design da TeleGeography é conhecida por suas representações e gráficos geográficos únicos. Telecom Maps. Disponível em: <https://www.submarinecablemap.com/>. Acesso em: 19 dez. 2019.
265
Figura 19 - Mapa mundial da rede de cabos submarinos. Fonte: TeleGeography. (*) as rotas de cabos representadas no mapa são estilizadas e não refletem o caminho real percorrido pelos sistemas.
O cabo retirado pode permanecer inativo no fundo do oceano. No entanto, há
mudanças em curso, pois atualmente existem empresas que estão ganhando os
direitos de exploração desses cabos, retirando-os do fundo do mar para serem
utilizados como matéria-prima. Mas a maior mudança identificada é o tipo de
empresas envolvidas na construção de cabos. Diante da perspectiva de crescimento
maciço da banda larga, a propriedade de novos cabos submarinos tem despertado o
interesse de provedores de conteúdo. Assim, mais que empresas de redes privadas
(operadoras de backbone168), operadores de conteúdo como Google, Facebook,
Microsoft e Amazon são grandes investidores em novos cabos.
Finalmente podemos mencionar o ―lixo digital‖, embora não tenhamos
identificado em nenhuma coleção didática as quais tivemos acesso o uso do termo,
tampouco menção aos cabos submarinos, embora todas elas façam referências ao
uso da internet e às fontes de energia elétrica.
O conceito de ―lixo eletrônico‖ ou ―e-lixo‖ é abrangente, vai além do descarte de
baterias, tablets, smartphones e outros resíduos de dispositivos móveis. Toda vez
que uma pessoa usa a internet para compartilhar e/ou armazenar arquivos (fotos,
música, documentos) ela está usando a ―nuvem de dados‖. Até mesmo os arquivos
168
Backbone significa espinha dorsal. É o termo utilizado para identificar a rede principal pela qual os dados de todos os clientes da Internet passam. Essa rede é também responsável por enviar e receber dados. No Brasil, as empresas prestadoras deste serviço são: BrasilTelecom, Telecom Italia, Telefônica (Vivo), Embratel, Global Crossing e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa.
266
deletados ou de pessoas falecidas são mantidos na ―nuvem‖. O mecanismo que
impulsiona a ―nuvem‖ é o data center. A eletricidade que alimenta os centros de
dados é na maior parte, proveniente do carvão e de origem nuclear, o que qualifica a
internet e a nuvem de dados como ―sujas‖. É o que trata o relatório do Greenpeace,
intitulado ―How Clean is Your Cloud?‖ (Quão limpa é a sua nuvem?), publicado em
2012169. No relatório, os centros de dados são descritos como as fábricas da
informação do século XXI. Alguns consomem energia equivalente a quase 180.000
residências.
O relatório aponta o crescimento exponencial da computação em ―nuvem‖ e o
uso de energia não renovável, apesar das significativas melhorias. Dentre as
empresas da área de tecnologia da informação (TI) identificam-se: Microsoft, Apple,
Amazon, Oracle, Google, Yahoo, Facebook, entre outras. Todas sob a mira e as
análises do Greeanpeace. Embora o consumo de cada uma delas, seja aproximado
considera-se que esses centros de dados consomem grande quantidade de energia
e a tendência é aumentar. Daí a importância de verificar quais fontes de eletricidade
as empresas estão utilizando, já que estas escolhas de energia são completamente
invisíveis para consumidoras/es internautas. Espera-se que os gigantes de TI
passem a utilizar energia limpa, mas não são muitas as empresas que prezam pela
transparência nesse tipo de informação.
Para se ter uma ideia, o Google Green (2013) informa que realizar cem buscas
no Google emite 20g de CO2, equivalente a passar uma camisa a ferro. Segundo o
relatório do Greenpeace, um usuário comum do Google consome 120 Wh por mês,
equivalente a uma lâmpada de 60 W ligada por 3 horas. Parece ínfimo, mas
considerando que é o maior site do mundo, com mais de 1 bilhão de buscas diárias,
o consumo total é 2 bilhões de kWh por ano (GREEANPEACE, 2012).
Notamos que a coleção Ciências b, (2015) inúmeras vezes chama a atenção
de estudantes para a tomada de decisões. Uma delas no livro do 8º ano: ―no
presente suas decisões quanto à economia de energia são muito importantes, pois
ajudam a construir um cenário futuro mais positivo para a sociedade‖. Na mesma
página identifica-se uma conceituação de máquina. ―Máquinas são aparatos de
criação humana, formadas por uma ou por um conjunto de peças mecânicas,
169
Cf. Greenpeace. How Clean is Your Cloud?. Disponível em: <https://storage.googleapis.com/planet4-international-stateless/2012/04/e7c8ff21-howcleanisyourcloud.pdf >. Acesso em: 21 jan. 2019.
267
elétricas, eletrônicas, orgânicas etc. que facilitam ou ampliam o desempenho do ser
humano em diversas atividades, sempre necessitando, para isso, de uma fonte de
energia‖ (CIÊNCIAS b, 8º ANO, 2015, p. 105).
Uma interessante questão sobre máquinas é apresentada na coleção Ciências
n (8º ANO, 2017, p. 40). O livro reproduz um infográfico170 criado por Fritz Kahn, em
1926, ―O ser humano como um palácio industrial‖. O livro pergunta: ―Você acha que
é boa a comparação do corpo humano com um conjunto de máquinas‖? De nossa
parte perguntamos: você acha boa a comparação do processo de circularidade das
informações na internet com a rede complexa de vasos e pequenas estruturas do
sistema linfático?
Vimos que a “obsolescência programada”, para usar um termo mencionado
pela Autora A tem alcance no mar profundo e no espaço sideral. Ela discorreu sobre
o que podemos chamar de impactos do mundo on-line no mundo off-line nos seus
vários sentidos. Entre tantos, a ―obsolescência programada que nos é incutida”.
Eu trabalho, trago as definições mais tradicionais, então de você ter uma visão, adotar condutas de uso racional dos recursos [...], mas eu tenho tentado, nas atividades, mexer um pouco com essa visão de consumo. O lixo eletrônico, por exemplo. Então, meu filho tem um iphone. Já trocou a tela duas vezes. Já foi feito para não funcionar durante muito tempo, né. Então você tenta resistir, tenta não trocar. Cada vez que consertou foi R$ 500,00. Então, já gastou R$ 1.000,00 pra consertar o iphone. Se der mais algum problema, o que ele vai fazer? Ele vai querer comprar outro, outro celular, outro iphone. Então já temos a obsolescência programada, já temos aquela que nos é incutida, você começar a se sentir careta com um telefone fora de moda, né, então. Nesse ponto eu acho que aquele filme, “A história das coisas” é muito legal porque ele traz essas questões. Então, eu reconheço que não é uma visão assim, não é um conceito que a gente tenha como sendo assim, ah é o que define a nossa coleção. Mas a nossa visão em Meio Ambiente, é uma visão que a gente tenta abrir (AUTORA A, 01.06.2017).
―Você já se perguntou se um telefone celular pode causar impactos à
natureza?‖
Tão impactante quanto a pergunta são as informações apresentadas na seção
―Bagagem Cultural‖, do livro da Autora A. ―O ciclo de vida do celular‖, da extração de
matérias-primas, o processamento de materiais, a fabricação, a embalagem e
transporte, a vida útil, o fim dela, até o destino final também é apresentado em uma
170
Infografia ou infográficos são textos visuais informativos associados a elementos não verbais, tais como imagens, sons, gráficos, hiperlinks etc. São utilizados com frequência na mídia impressa e digital.
268
versão bem-humorada, na visão de um cartunista. ―Segundo a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), em dezembro de 2014 havia no Brasil cerca de 280
milhões de telefones celulares ativos‖.
Em um aparelho celular existem mais de 100 componentes, feitos de metal (40%), plástico (40%) e cerâmica (20%). Assim, quanto maior o consumo de aparelhos celulares, maior a extração dos recursos naturais que dão origem a essas matérias-primas. A produção mineral do ouro, chumbo e cobre para um celular envolve a remoção de vegetação nativa e alto consumo de água. Muitos processos de mineração, quando não cuidadosos, contaminam o solo e a água com componentes tóxicos usados na purificação dos minérios. O plástico tem origem no petróleo. A técnica de sua extração é muito delicada e envolve riscos ao meio ambiente. Vazamentos em alto-mar despejam milhares de toneladas de óleo nos oceanos todos os anos (LIVRO DA AUTORA A).
Identificamos conteúdo similar na Coleção Ciências n (2017), no qual os
componentes de um telefone celular, a desmontagem de suas partes, a extração da
matéria-prima, reciclagem e o descarte são apresentados no formato infográfico,
parte do conteúdo multimídia do livro. Desse material destacamos as informações
sobre as baterias de celulares: ―[...] têm em sua composição níquel, cobalto, cádmio,
exemplos de metais pesados. Quando descartadas de maneira incorreta, esses
metais podem atingir os lençóis freáticos, contaminando, dessa maneira, a água. Se
a água contaminada for ingerida, pode causar doenças graves como o câncer‖.
As mesmas informações podem ser identificadas no livro impresso, do 6º ano
da coleção Ciências f, (2015), no qual pilhas e baterias são objetos de destaque em
leitura complementar.
As pilhas e baterias apresentam em sua composição substâncias tóxicas, que podem contaminar o solo e a água se não forem descartadas de forma adequada. [...] contêm em sua composição chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos são classificados como lixo perigoso pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Elas são geralmente utilizadas em aparelhos de telefonia móvel ou fixa, câmeras fotográficas e alguns aparelhos eletroeletrônicos, como jogos e brinquedos. Após seu esgotamento, as pilhas e baterias não devem ser jogadas no lixo comum, devem ser entregues pelos usuários aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias. [...] (CIÊNCIAS f, 6º ANO, 2015, p. 146).
De maneira geral, as coleções didáticas apresentam plataformas de petróleo,
fontes de energia, tipos de usinas de eletricidade, mapas das reservas hídricas e da
população. Apresentam o conceito de ―água virtual‖ e a necessidade dela para a
fabricação de diversos produtos. Também versam sobre a vida submarina, até
269
mesmo da Água-viva, o animal mais perigoso do oceano. Notamos que os livros
didáticos indicam filmes e vídeos e orientam para a realização de pesquisas na
Internet ao mesmo tempo em que recomendam a redução do consumo de energia
elétrica. Exceção são os livros que conceituam ―rede sem fio‖ e alertam para os
riscos da radiação emitida por torres e antenas de telefonia celular.
Exemplarmente, no livro do 9º ano, da coleção Ciências b (2015, p. 20)
identificamos a seção ―em dia com a saúde‖ e o conceito de ―rede sem fio‖.
Rede sem fio: ―termo de origem inglesa (wireless, em que wire significa ―fio‖ e less, ―menos ou sem‖) que designa conjunto de computadores e outros equipamentos que partilham serviços, informação e recursos, trabalhando sem fios ou cabos de eletricidade, a distâncias curtas, como no controle remoto da televisão, ou longas, como nas realizadas de um país a outro. Comunicação feita apenas por meio de ondas eletromagnéticas (CIÊNCIAS b, 9º ANO, 2015, p. 20).
Entre os conceitos apresentados, o texto aponta ―possíveis problemas
provocados pelo tipo de radiação responsável por transmissão e recepção de sinais
emitidos por antena celular‖.
Especialistas divergiram nesta quarta-feira (13 nov. 2013) sobre os efeitos à saúde causados por torres e antenas de telefonia celular, em audiência pública sobre o assunto na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Alguns consideram seguras as chamadas estações radiobase (torres e antenas), desde que a radiação emitida por elas respeite os limites estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Outros acreditam que a população não está protegida por essas normas e que a radiação emitida pelo próprio aparelho celular causa danos à saúde. [...] O professor [...] da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Álvaro Salles afirmou que a OMS* classificou em 2011 as radiações de celulares, internet wifi, bluetooth, estações de rádio e de TV e micro-ondas, por exemplo, como possivelmente cancerígenas. ‗É impressionante que essa classificação não resultou em nenhuma ação dos governos para proteger a saúde pública dessas radiações‘, destacou [...] (CIÊNCIAS b, 9º ANO, 2015, p. 20).
Assim como ocorreu nas entrevistas, as obras didáticas também mencionam as
chamadas ―Política dos R‘s‖ (responsabilidade, redução, reutilização, reciclagem,
recusa, revolução). Como afirma o livro Ciências f, (6º ANO, 2015, p. 139), ―existem
muitos R‘s, porém os mais comuns são: reduzir, reutilizar, reciclar e repensar‖. No
mesmo livro localizamos importantes informações para compor nossas análises.
270
Da floresta para o aço da conectividade
No campo das ideias dominantes não falta quem defenda a troca da floresta
pelo aço da conectividade, até mesmo a substituição do livro didático em papel pelo
formato digital. Os debates giram em torno da necessidade de inovação na escola,
desde a inserção das tecnologias digitais na sala de aula, a capacidade de treinar
um número maior de pessoas à distância até a adoção de livros didáticos digitais.
De nossa parte refletimos que não podemos simplesmente morder a isca sem
considerar que o que é durável assume distintas formas sociais, ao exemplo dos
escritos em rochas, as ―artes rupestres‖ já comentadas. Ao longo de nossas análises
veremos que são muitos os fatores que contribuem para qualidade boa e/ou ruim no
ensino público. Possivelmente o uso das tecnologias não nos salvará, tampouco a
sustentabilidade das relações humanas, embora as tecnologias possam ser
utilizadas como recursos pedagógicos e dar alguma contribuição para alargar
nossos horizontes éticos.
É claro que a escola se apresenta como ambiente capaz de fazer imergir tais
tecnologias a serviço de uma metodologia de ensino que promova a interação entre
as pessoas que dela participam e com outras mais distantes, mas as coisas são
complexas demais e a noção de ―inclusão digital‖ ultrapassa os limites de discussão
nesta tese. Nossos propósitos são mais modestos.
Queremos Refletir sobre as políticas dos R‘s da Revolução digital, os Rumos
de um futuro incerto, Repensar as Relações humanas, bem lembradas pela Autora
A, que no campo das práticas se mostrou crítica e realista. De sua fala destacamos
a necessidade de uma Revolução ética nas relações entre as pessoas no ambiente
escolar.
Então, ah tá, não, aqui a escola tem um compromisso com a sustentabilidade, aí bota aquelas lixeiras para lixo reciclado, né, que depois quem recolhe bota tudo numa sacola só também. Aí também não adianta. Ah e tem aqueles lixos que são aquela incógnita, né, a caixinha de suco que tem metal, tem plástico, onde eu ponho isso? Então, você vai ao banheiro e tem lá o desperdício de água, é, sabão... E fora as coisas, as pessoas são tratadas de uma forma autoritária numa escola que é pró sustentabilidade. Também... eu acho um dissenso total. Então eu fico pensando nisso (AUTORA A, 01.06.2017, grifo da pesquisadora).
Ela também apontou que é importante considerar a necessidade de se
redimensionar o tempo/conteúdos, “para fazer com eles os gráficos, os
experimentos. E aí, ainda tem isso, não adianta ficar trazendo método científico de
271
forma linear para a sala do Ensino Fundamental. Até isso você tem que
redimensionar”.
“A escola é um universo de grande importância”, ressaltou a Autora E. Ela
enfatizou que a “escola está ficando muito velha, diante da pressão que o mundo
digital trouxe, né”.
Agora, eu vou lhe falar que hoje eu ando um pouco revoltada com a antiguidade da escola. Eu acho que a escola já teria subsídios pra fazer-se mais ousada e se apresentar com novas roupagens e mais novidades. Né? [...]. Tudo bem que o mundo digital, como falava lá uma palestrante, o mundo digital é uma novidade de fora da escola que entrou na escola. Não vai resolver o problema da educação. Né? (AUTORA E, 17.08.2018).
Em suas considerações: “Ah (nome da Autora E), vai mudar isso”. Desculpa,
não vai mudar nada. Quem muda a escola é ela mesma (AUTORA E, 17.08.2018).
De nossa parte identificamos que no âmbito da Revolução digital poucos
estudos consideram os custos ambientais com a produção de papel e a fabricação
de dispositivos eletrônicos para leitura de livros digitais. De maneira geral, não são
considerados os custos com a aquisição, manutenção, as “obsolescências
programadas”, o descarte de dispositivos eletrônicos, tampouco os custos de
energia elétrica para o seu funcionamento, nem o gosto de estudantes e
professoras/es leitoras/es.
Convém lembrar que no Brasil a energia é água. A matriz energética brasileira
é predominantemente baseada na geração de energia hídrica, representando mais
de 90% do total gerado e consumido. Não polui o ar, mas ―todas as fontes de
energia apresentam danos ambientais que podem se somar a danos sociais‖
(CIÊNCIAS f, 9º ANO, 2015, p. 294). Por exemplo, a hidrelétrica ―chega a inundar
grandes áreas, provocando a perda de diversidade [...] (CIÊNCIAS d, 7º ANO, 2010,
p. 267).
A conservação de usinas geradoras de energia elétrica sempre causa polêmica por causa dos danos ambientais e sociais que elas provocam na região onde são instaladas. No Brasil, vivemos o dilema da preservação ambiental versus crescimento econômico em relação às usinas hidrelétricas em construção na região amazônica (CIÊNCIAS n, 9º ANO, 2017, p. 101).
―É difícil você chegar e falar: viu, bonito, por mais limpa que seja a matriz, ela
tem impacto. Porque você está interagindo, né. Você está interagindo com a
natureza, você tem impacto” (AUTOR U, 22.08.2018).
O livro Ciências f (2015) explica que ―o papel é feito a partir da celulose, uma
fibra obtida do caule de árvores como o eucalipto e o pinheiro. Sua produção
272
consome muita água e energia, e várias substâncias utilizadas na sua fabricação
podem provocar danos ao ambiente‖ (CIÊNCIAS f, 6º ANO, 2015, p. 142).
O referido livro também informa que o papel pode ser reciclado a partir de
jornais, caixas de papelão, aparas e livros. Por exemplo, o papel reciclado e as
pastas mecânicas são reaproveitadas nas camadas interiores de alguns tipos de
papel cartão. Implica dizer que o papel reciclado é de certo modo, matéria-prima
para a produção do novo papel. O Reciclato é o primeiro papel reciclado para
imprimir e escrever não revestido produzido em escala industrial no Brasil.
Figura 20 - Floresta de eucaliptos. Fonte: (CIÊNCIAS f, 6º ANO, 2015, p. 142).
Há muitas controvérsias acerca da monocultura de eucalipto e seu impacto no
meio ambiente. Neste foco da análise procuramos esclarecer alguns pontos.
Iniciemos com os relatos do Autor I que são esclarecedores quanto à exploração de
florestas nativas. “É insustentável essa gula industrial pra expansão agropecuária,
“vamos criar gado”. Concorda?”
Poxa... olha, é inevitável falar, o descaso de certos segmentos da indústria, dos governos com o ambiente em certos momentos. O... e cito de novo, a pecuária. É visível que há um interesse em expandir a área. É um descaso com o futuro. Não pode acontecer isso. Aquela conversa de que os europeus já usaram tudo, nós também temos o direito de usar. Isso é um absurdo. Primeiro que os europeus não usaram exatamente assim, lá está cheio de floresta, preservada e/ou refeita. Eles cuidam e cuidam muito. Nós já destruímos e continuamos a destruir e ―ah, nós temos direito‖. O que é isso? Não temos direito coisa nenhuma. Não se trata de “pulmão do mundo” que isso é uma bobagem científica. É nosso problema, nós é que temos que resolver. Não, não é. A humanidade está globalizada e nós temos que participar desse globo com a nossa responsabilidade. Nós temos florestas
273
magníficas, quantidade de água doce que não há no resto do mundo, nós somos responsáveis. O que nós fazemos atualmente, isso é insustentável. Com rios? É o fim do mundo. O Tâmisa tem peixe, o Sena tem peixe, o Danúbio, o Reno. É lá que eles destruíram? Não, não é bem assim, não. Lá está conservado um monte de coisas. Você anda nas estradas da Alemanha e tem verde pra todo lado. Berlim é a capital europeia com mais verde, muito mais verde do que o Rio de Janeiro que está na praia. Nas montanhas não tem verde mais quase. Tem ainda uma reserva bonita, mas inacessível (riso) de tão perigosa (riso). Na Tijuca... mas, é um resto só. Há uma incapacidade de se degradar lá, física, porque se não, já tinha tirado tudo (AUTOR I, 22.08.2017, ênfases do entrevistado).
Como assinalou a Autora A, o reflorestamento de vegetação nativa com
eucaliptos e pinus é uma ideia equivocada. Sendo assim, vale esclarecer que
existem dois tipos principais de reflorestamento: o de fins comerciais (eucalipto e
pinus) e o de fins ambientais e ecológicos (vegetação nativa).
A comparação entre os tipos de reflorestamento é difícil tanto quanto discutir as
diferenças entre livro impresso e digital. Isto porque suas funções e importância são
diferentes. As florestas plantadas possuem fins econômicos e diminuem a pressão
sobre as florestas nativas, que por sua vez contribuem para a diversidade genética e
para recompor os serviços ecossistêmicos com destaque para a água.
De certo modo, as florestas plantadas contribuem para a recuperação de áreas
degradadas, seja do solo, seja da biodiversidade; com a prevenção da erosão e do
assoreamento dos rios. No caso das florestas de eucalipto e pinus, o conceito de
reflorestamento é similar a uma fábrica de árvores, ou seja, a área destina-se
exclusivamente para fins comerciais. A ideia de que as florestas plantadas estão
substituindo as florestas nativas é equivocada. Isto porque as florestas plantadas
ocupam preferencialmente áreas degradadas pela agricultura e pecuária, sem
alteração no impacto da produção de alimentos (CNI, 2017).
Como apontou o Autor I, ―a pecuária é uma coisa horrorosa”. Até mesmo a
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO)171, indica
que metade do corte de árvores em todo o mundo é devido à substituição da terra
agrícola degradada por práticas não sustentáveis, em que pesa o uso de
agrotóxicos.
De acordo com Acselrad e Leroy (1999), a atividade florestal brasileira tem se
caracterizado pela prevalência de formas de trabalho violentas, rudimentares e
171
CF MMA. Alimentos: os impactos na produção. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/4%20-%20mcs_alimentos.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2018.
274
geradoras de poucos empregos em termos proporcionais e não tem contribuído para
a melhoria da qualidade de vida e trabalho das populações em áreas de florestas. A
renda produzida pelo setor é baixíssima, representando quase nada para a
economia brasileira. Exceção é o setor de plantações de árvores para produção de
eucalipto, que de fato introduziu modernas relações capitalistas em algumas regiões,
embora ao custo de forte desagregação nas formas tradicionais de agricultura e do
êxodo rural da população.
Segundo informações da Indústria Brasileira de Árvores172 (IBÁ), para crescer
rápido, o eucalipto precisa de energia, que é obtida por meio da fotossíntese, de
maneira que ele absorve uma quantidade significativa de gás carbônico em curto e
médio prazo. Comparativamente, em longo prazo, as florestas nativas são mais
―eficientes‖ na captação de CO2 que as florestas de eucalipto. As árvores nativas
são capazes de acumular mais carbono em sua biomassa de acordo com a idade da
floresta, diferente das florestas de eucaliptos que são colhidas em poucos anos. Em
geral, as monoculturas não são amistosas ao meio ambiente. Daí a necessidade de
minimizar os impactos por meio da boa escolha da localização, manejo, estrutura de
plantio e bioma. Se manejadas corretamente, as florestas plantadas podem trazer
benefícios, pois diminuem a pressão sobre a exploração de florestas nativas.
No Brasil, as florestas são plantadas em esquemas de mosaico, onde extensas
áreas de preservação permanente e de reserva legal se mesclam com as plantações
florestais e áreas vizinhas de produtores rurais, o que fornece um ambiente
diversificado e sustentável. Também são plantadas por produtores rurais como
alternativa adicional de negócios para áreas marginalizadas (IBÁ, 2017).
Dados do setor indicam que no Brasil o plantio diário (de florestas de papel e
outros produtos) corresponde em média ao equivalente a 500 campos de futebol. O
país conta com 7,8 milhões de hectares de florestas plantadas (menos de 1% do
território brasileiro, sendo que 2,6 milhões de hectares correspondem ao plantio
florestal do setor de celulose e papel). Em 2015, os 7,8 milhões de hectares de
árvores plantadas no país foram responsáveis pelo estoque de aproximadamente
1,70 bilhão de toneladas de dióxido de carbono. Muitas empresas responsáveis
pelas florestas plantadas possuem grandes áreas dedicadas à preservação de
vegetação nativa (IBÁ, 2017).
172
Cf. Relatório 2017. Indústria Brasileira de Árvores. Disponível em: <https://twosides.org.br/wp-content/uploads/sites/15/2018/07/IBA_RelatorioAnual2017.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2018.
275
Em números, as indústrias que usam essas árvores conservam outros 5,6
milhões de hectares de matas nativas. Estima-se que 50% da extração de madeira
do mundo direciona seu uso para energia e 28% para construção. Existem outras
utilizações, mas o papel geralmente corresponde diretamente a 13%. Quanto ao
gasto na produção, cerca de 85% da matriz energética do setor de papel e celulose
têm origem em fontes renováveis, como a biomassa e outros subprodutos (IBÁ,
2017). Por exemplo, a Suzano Papel e Celulose utiliza diversas fontes de energia,
sendo que a principal delas é produzida no próprio processo de fabricação de
celulose, resultante da queima do licor negro na caldeira de recuperação. O vapor
produzido nesta queima é empregado na geração de energia elétrica e em diversos
outros usos no processo produtivo. Uma segunda fonte de energia, também
associada ao processo de produção, consiste na queima de resíduos florestais
(cascas e galhos de eucalipto) em uma caldeira auxiliar, onde também podem ser
utilizados gás natural e/ou óleo combustível. Adicionalmente, utiliza energia elétrica
adquirida de geradoras locais para complementar as necessidades. Isso representa
67% da necessidade total de energia elétrica das unidades produtoras. O restante é
comprado da concessionária, no caso a Companhia Bandeirante Energia S.A. Os
preços praticados são aqueles baseados nos padrões de mercado para usuários
industriais, comparáveis àqueles de outros grandes produtores de papel. A empresa
informa que os custos com energia elétrica adquirida responderam por 3% dos
custos de produção em 2002173.
Vale esclarecer que a indústria de papel possui diversos sistemas de
certificações que garantem a fonte florestal sustentável. A maioria das empresas que
planta florestas é certificada. Defende-se que tão importante quanto repor as árvores
é o respeito em garantir o futuro das florestas do mundo. São mais de 30 sistemas,
mas as duas principais certificações são o Forest Stewardship Council (FSC®) e o
Programa Brasileiro de Certificação Florestal (Cerflor). Exemplarmente, identificamos
o selo nas coleções didáticas da Editora FTD.
173
Cf. O Processo de Produção de Celulose e do Papel. Disponível em: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rE_Wd5f89fMJ:ri.suzano.com.br/modulos/doc.asp%3Farquivo%3D00406020.WAN%26doc%3Dian480.doc%26language%3Dptb+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em 22 dez. 2018.
276
Figura 21 - Selo de Certificação FSC do papel utilizado em livros didaticos. Fonte: Editora FTD.
O sistema FSC® fornece padrões globais para o gerenciamento de florestas,
que abrangem um equilíbrio de aspectos ambientais, sociais e econômicos e preza
pelo bem estar de comunidades e ecossistemas da floresta. Também fornece uma
forma de rastrear os produtos florestais através da certificação da Cadeia Produtiva
verificada independentemente. Isso serve para cobrir cada estágio no
processamento, conversão, distribuição e impressão antes do produto final poder
levar o selo FSC®174. Por sua vez, o Cerflor tem como objetivo a certificação do
manejo florestal e da cadeia de custódia, segundo o atendimento dos critérios e
indicadores – aplicáveis para todo o território nacional – prescritos nas normas
elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e integradas ao
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - Inmetro175.
A primeira etapa da certificação florestal consiste na elaboração de um Plano
de Manejo Florestal, que contempla a proteção e conservação dos recursos naturais,
entre eles a água. Os princípios e critérios dos programas de certificação florestal
são formas de garantir o uso eficiente da água e do solo pelas florestas plantadas.
São utilizados indicadores para monitorar esses efeitos ambientais sobre o solo, os
recursos hídricos, a biodiversidade e sobre as comunidades dos entornos florestais.
Desde 2014 que representantes brasileiras participam da Two Sides,
campanha mundial em defesa da sustentabilidade da comunicação impressa e do
papel como um meio de ―comunicação excepcionalmente poderoso, de fonte
174
Cf. FSC Forests for all forever. Disponível em: <https://ic.fsc.org/en/for-business/business-benefits/becoming-fsc-certified>. Acesso em 22 dez. 2018. 175
Cf. Avaliação da Conformidade. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/cerflor.asp>. Acesso em 22 dez. 2018.
277
renovável, reciclável e biodegradável‖. Criada na Inglaterra em 2012, a campanha
está presente na Alemanha, França, Itália, Estados Unidos, Austrália e África do Sul.
Contamos mais de 40 membros da Two Sides Brasil (associações, sindicatos,
indústrias, gráficas e editoras). Entre tantos, identifica-se a Câmara Brasileira do
Livro e a Universidade Federal de Viçosa176.
Por sua vez, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) desenvolveu em seu
Laboratório de Papel e Celulose uma pesquisa com o objetivo de verificar a
viabilidade da reutilização do papel utilizado na produção de livros didáticos
distribuídos às escolas públicas. Para tanto, foram consideradas as características
médias do livro (papel miolo com gramatura de 75 g/m2, formato de 20,5 x 27,5 cm e
200 páginas) e o quantitativo de distribuição trienal pelo FNDE (138 milhões de
exemplares distribuídos em 2011), equivalente a um total de 123 mil toneladas de
papel com potencial para reciclagem. O projeto trabalhou com amostras do miolo e
da capa dos livros e mostrou a viabilidade do reaproveitamento do papel em
produtos de maior ou menor valor agregado. As características semelhantes das
amostras de livros didáticos usadas nos ensaios permitiram a geração de aparas
mais homogêneas, o que facilitou os trabalhos de reciclagem. Os processos
envolvendo cozimento com solução alcalina e destintamento resultaram papéis com
pouca ou quase nenhuma sujidade, e com alvura equivalente a dos papéis
empregados na confecção dos livros didáticos177.
Concordamos com Fabio Arruda Mortara178 que ―é decisivo disseminar de
modo amplo a informação de que no Brasil não se derruba um arbusto nativo sequer
para que nossas crianças tenham livros e cadernos‖ (MORTARA, 2015). Em seu
artigo, intitulado ―Sustentabilidade: da árvore ao livro‖, ele declara que:
se dependesse unicamente da produção gráfica e do fabrico de celulose e papel, não se cortaria uma árvore nativa sequer no Brasil, onde, assim como na América Latina como um todo ainda é necessário conter o desmatamento, provocado, dentre outras causas, pelo contrabando de madeira, grilagem de terras, lavouras clandestinas e desrespeito às reservas
176
A Two Sides promove a produção e o uso responsável da impressão e do papel, bem como esclarece equívocos comuns sobre os impactos ambientais da utilização desse recurso. Esclarece que o papel, por ser proveniente de florestas certificadas e gerenciadas de forma sustentável, ―é um meio de comunicação excepcionalmente poderoso, de fonte renovável, reciclável e biodegradável‖. Disponível em: <https://twosides.org.br/>. Acesso em 22 dez. 2018. 177
Cf. IPT. Disponível em: <http://www.ipt.br/centros_tecnologicos/CT-FLORESTA/noticias/605-reciclagem_de_livros.htm>. Acesso em: 22 dez. 2018. 178
Presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de São Paulo e da Confederação Latino-americana da Indústria Gráfica; coordenador do Comitê da Cadeia Produtiva do Papel, Gráfica e Embalagem (Copagrem) da Fiesp e country manager da Two Sides Brasil.
278
indígenas. Entre 2010 e 2015, a despeito de muitos avanços, as perdas florestais na região ainda foram de 2,18 milhões de hectares. É isso que o Brasil precisa combater, ao invés de perder tempo acusando livros, jornais, revistas, cadernos e embalagens de vilania ambiental. Os impressos são sustentáveis e, enquanto mídias da informação e do conhecimento, sua disseminação é fundamental para formar novas gerações mais conscientes sobre a necessidade premente de preservar o meio ambiente e todo o patrimônio vegetal de nosso país (MORTARA, 2016)179.
Em nossas buscas identificamos o trabalho de Filipe Almeida e Marcos
Nicolau, apresentado no XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação
que apresentam interessantes contribuições para a discussão que empreendemos
aqui.
O trabalho discute ―A Reconfiguração do Livro Didático em Versão Digital: Uma
Ideia de Sustentabilidade‖. Os autores destacam os impactos ambientais causados
pela quantidade excessiva de água utilizada na indústria do papel e a queima
constante de combustível fóssil para transformar a fibra de madeira em papel seco
como fortes argumentos para a adoção das tecnologias digitais180. Também se
apoiam em uma análise em vídeo, realizada em parceria com um projeto do Banco
Santander para argumentar sobre o custo ambiental da produção do livro impresso:
―cada livro de papel consome 30 litros de água e emite entre 2 e 3 quilos de dióxido
de carbono em sua produção‖. Afirmam que ―o custo ambiental de um livro digital é
muito pequeno‖. Diante da necessidade de um dispositivo digital para leitura, os
autores identificam que o custo ambiental do livro impresso é inferior àquele
dispendido na fabricação de dispositivos eletrônicos, cujo gasto gira em torno de
aproximadamente 300 litros de água e a emissão de 60 a 100 quilos de CO2
(ALMEIDA; NICOLAU, 2012, p. 7).
Entre as vantagens, o estudo aponta que ―ao invés de um, o leitor digital
carrega consigo dezenas ou centenas de livros no mesmo suporte do tamanho de
um livro tradicional‖, o que torna o dispositivo uma ―alternativa sustentável‖.
Defendem que é no ―contexto dessa inovação tecnológica que se vislumbra uma
nova era para o livro didático, reconfigurando uma prática educacional que poderá
contribuir com a inclusão digital e com um modelo de sustentabilidade para a
indústria editorial brasileira‖ (ALMEIDA; NICOLAU, 2012, p. 1).
179
Cf. Publishnews. Disponível em: <https://www.publishnews.com.br/materias/2016/03/24/sustentabilidade-da-rvore-ao-livro>. Acesso em 22 dez. 2018. 180
Notamos que a referência para este argumento é internacional e se refere a países onde a fonte principal de energia provém da queima de combustíveis fósseis.
279
Parece que as coisas não são bem assim. Segundo o presidente da Abrelivros,
―tem a redução do custo de impressão e do custo logístico de distribuição, mas, por
outro lado tem todo o incremento do custo de você transformar aquele arquivo, que
era um PDF para impressão, para ele virar um livro digital, não é um custo
desprezível‖181.
Em nossas análises não contemplamos dados estatísticas sobre a aquisição do
livro didático digital pelo MEC/FNDE, mas observamos que desde o Edital do PNLD
2014, é prevista a aquisição de livros digitais. Tanto é que a maioria das Editoras
oferece o conteúdo em formato digital, que na realidade é uma reprodução do livro
impresso. O “plus” são vídeos, infográficos, jogos e links. Isso porque é uma
exigência do MEC que o formato digital tenha todo o conteúdo do impresso
integrado a soluções multimídia, além de login e senha para estudantes e
professoras/es baixarem o material no site das Editoras.
Embora o MEC defina que o livro digital deverá ser utilizado sem necessidade
de conexão com a internet, para baixar o material é necessário o acesso. Além
disso, para suportar os conteúdos on-line são necessários computadores com alta
capacidade de armazenamento e banda larga potente, o que está muito distante da
realidade brasileira, apesar das ações do Programa Nacional de Informática na
Educação (ProInfo)182. Não seria mais viável investir em laboratórios de informática e
salas de aula com computadores integrados e equipamentos que possam ser
compartilhados por um coletivo em vez de distribuir equipamentos individualizados?
Por exemplo, tomando por base o PNLD 2017, foram adquiridos 10.789.369
exemplares de livros impressos de Ciências Naturais, somente para estudantes e
professoras/es das séries finais do ensino fundamental. Se fosse o caso,
demandaria a aquisição de pelo menos 10.000.000 de dispositivos eletrônicos para
leitura, destinados a esse público estudantil. Quem paga o custo ambiental disso?
Em nossas entrevistas, parte das/os entrevistadas/os discorreu sobre a
problemática do livro digital. O Autor U destacou que este é o maior desafio para
autoras/es. Primeiramente ele apontou os desafios em relação ao PNLD.
181
Cf. EBC. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/educacao/2015/10/livro-didatico-digital-ainda-nao-chegou-aos-estudantes>. Acesso em: 22 dez. 2018. 182
Cf. ProInfo. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/index.php/programas/proinfo>. Acesso em: 22 dez. 2018.
280
Eu acho que assim, o desafio (riso), o desafio maior quanto ao PNLD é que a gente nunca sabe qual vai ser a indicativa dele naquele momento. Entendeu? Assim, tem coisas que a gente espera de um jeito e eles mandam de outro, como por exemplo, o material digital, né. O material digital é sempre um problema porque a gente nunca sabe o que se espera desse material digital. Não existe material digital. E assim, a nossa... acho que o maior desafio é esse, é o material digital porque pra gente, nós autores, né, nós temos uma concepção. Os estudantes, a diferença de idade é gritante, né, (deixa eu desligar isso aqui)
183. E o que o estudante
espera é algo muito diferente. Então, eu acho que até nisso, o MEC tá tateando. Acho que é dificuldade até pra eles, entendeu? Esperar. Tanto é que na inscrição no PNLD, você tem o papel e o digital, né. Então eles estão aceitando só o papel, e eu acredito que nos próximos eles não vão aceitar mais. Então, estamos esperando sair o Edital, né (AUTOR U, 22.08.2017).
Ele falou sobre as complicações para lidar com o digital e apontou as
preocupações da equipe em corresponder às expectativas de estudantes.
É complicado porque a gente não sabe como lidar com o digital. A concepção no papel é uma, a concepção no digital é outra. A gente tem até uma ideia, né, que seria interessante pra trabalhar com o digital. Mas, será que é essa ideia que a gente tem casa com a ideia que o estudante está esperando? Né, então, é muito disso (AUTOR U, 22.08.2017).
Ao ser questionado, o Autor U falou sobre a expectativa de estudantes e as
ideias da equipe de autores para trabalhar com o digital. Ele apontou dois
importantes fatores a superar: tempo e dinheiro.
acho que o problema nesse sentido, é que o nosso tempo é diferente do deles (as/os estudantes). No deles as coisas são muito mais rápidas. Eles estão acostumados a ver as coisas acontecerem mais rapidamente. A gente, não. A gente já sabe lidar com essa espera, né, e assim, por outro lado, que é importante que ele também saiba esperar. Então, a gente tem que criar um meio termo ali. Que eduque ele para a espera, né. Mas que também não seja algo assim que ele desista rapidamente. É nesse sentido. E a gente está pensando já em algo assim, digitalmente falando, mais palatável pra eles. O problema é que, a gente pensa num negócio legal, bacana e vem a Editora e fala: ―a gente não tem dinheiro pra isso‖ (riso). Porque é muito caro. Então, a gente tem que lidar com isso. Também é outro desafio que a gente enfrenta. Então eu acho que é nesse sentido que pega (AUTOR U, 22.08.2017, grifo da pesquisadora).
Por sua vez, a Autora E disse que “o fato é que enquanto a gente não tiver
internet, acesso digital nas escolas, o aparato técnico não adianta. O município tem
que ter uma equipe técnica que dê suporte para o professor. Tá cheio de analfabeto
digital dando aula. Sabe?”. Ela também apontou o fator tempo: “eu acho que isso
pode ser que aconteça, sim. Mas não vai ser agora, não. Não vai ser agora. A gente
183
Pausa para silenciar notificações de seu celular.
281
vai ter livros digitais, material digital e tudo, ok, teremos. Mas não vai ser agora.
Ainda vai demorar” (AUTORA E, 17.08.2018).
De nossa parte entendemos que a noção de tempo é diferente para jovens,
ainda mais para nativos digitais. Por outro lado, dinheiro é tempo. Se o dinheiro
precisa do tempo para render, nós precisamos do tempo para ―amadurecer‖, assim
como as ideias e até mesmo os textos. É o tempo de maturação de todas as coisas.
Mas a quem pertence o tempo?
Tentando romper uma rede de crença coletiva
Em nossos estudos consideramos categorias para apreender dimensões no
modo de produção de obras didáticas. A inovação foi um dos desafios mencionados
nas entrevistas. Há duas dimensões desse aspecto das obras didáticas que foram
destacadas. Até aqui falamos sobre a dimensão tecnológica. Neste foco da análise
buscamos compreender os sentidos da inovação no processo de composição das
obras didáticas. Ao longo de nossas análises eremos que essa inovação independe
do suporte e/ou do formato, em impresso e/ou digital, ou seja, independe de
tecnologias. É uma questão de atitude pedagógica.
Em nossas análises apreendemos que a proposta integrada, interdisciplinar e
transdisciplinar constituem importantes aspectos da inovação em obras didáticas. A
busca pelo alcance dessa evolução foi ressaltada nas entrevistas. Tanto que as/os
autoras/es chamaram a atenção para as linhas de pensamento concorrentes.
Em estudos anteriores identificamos a tentativa de ruptura com o modo
―tradicional‖ de ensino de Ciências Naturais. Nossas análises apontaram que
permanências e mudanças na produção de livros didáticos convivem num espaço de
disputa acirrada no âmbito de vendas ao governo federal. Mostramos que as
coleções cujo conteúdo segue uma linha mais ―tradicional‖ de ensino de Ciências
Naturais são as mais adquiridas pelo FNDE (RIBEIRO, 2013).
Nesta pesquisa identificamos o que estamos chamando de rede de crença
coletiva. Coletiva, não unânime. Veremos que ela está presente no centro das
discussões sobre o mercado de publicações didáticas e a formação educativa.
Embora faltem evidências claras que fundamentem as análises dos processos
de avaliação e de escolha das obras no âmbito do PNLD, observamos que as
fragilidades de formação e o interesse mercadológico são importantes componentes
282
que sustentam essa rede de crença coletiva. Uma linha ―clássica, tradicional‖ e/ou
uma ―autoria de confiança‖, são características que podem conferir maior aceitação
a determinadas obras didáticas, elevar o seu potencial comercial e até mesmo de
aprovação no âmbito do PNLD.
Certamente que ―tradição‖ e ―inovação‖ são características das obras didáticas,
mas ao entrevistar autoras/es apreendemos que essas características também estão
ligadas à atitude das autorias. Romper uma rede de crença coletiva não é tarefa
fácil. Mesmo porque a ilógica dos mercados produz, reproduz e sustenta
insustentabilidades.
Esta afirmativa é evidenciada nas falas das/os entrevistadas/os. Como
assinalou a Autora A, ―é difícil às vezes vencer a resistência de um professor que
usa o mesmo livro há 20 anos”.
[...] Então, tem outro lado que eu tenho que admitir, que a gente também espera que o livro venda porque é um trabalho que você gasta anos escrevendo. A Editora não é entidade filantrópica, então ela também quer um livro que seja aceito pelo mercado. Então, como conjugar anseios pessoais? No nível autoral, você quer se colocar no livro. Um livro que o professor goste de usar, um livro que você também apresente umas linhas de fuga para o professor sair um pouco da sua zona de conforto e ter segurança pra caminhar de uma forma diferente. Também um livro que o mercado aceite, né? E, um livro que o MEC também considere num padrão aceitável. Então são muitas coisas e a gente teve que passar por isso tudo. E a gente passou por um primeiro PNLD em que só seis coleções foram aprovadas. Em nossa primeira avaliação de PNLD, fomos aprovados. Foi aprovado nesse PNLD, (2002), nossa primeira inscrição (AUTORA A, 01.06.2017, grifo da pesquisadora).
Por sua vez, a Autora E informou que “na escrita do livro tem autor que escreve
porque está de olho no mercado. E tem autor que escreve porque acredita em
algumas tendências e quer inovar [...]. A necessidade de inovar e de levar a um
público maior a sua própria experiência, que é bem o meu caso, né” (AUTORA E,
17.08.17).
Ela disse que “os livros concorrentes também podem trazer sugestões pra
quem gosta de seguir nas linhas majoritárias”.
Quem está querendo agradar o mercado, muitas vezes pega os livros concorrentes e vai melhorar o que está lá. Ele acha que está melhorando. Mas às vezes ele não melhora nada, né. Mas ele está achando que está. Tanto que eu já ouvi colega da Abrale mesmo contando, né, de gente que fala assim, ―ah, eu peguei os livros dos concorrentes e fui organizando o meu sumário‖. Esse é um jeito de fazer. Porque é claro que existe uma tradição, né. Na área de ciências você trabalha tradicionalmente com algumas temáticas. E você vai recuperar essas temáticas. É assim que você
283
faz. Você recupera as temáticas, reorganiza e vai fazendo; vai ganhando um acervo de materiais, né. Então, nunca você começa um livro do zero se você tem outro anterior. Você pega aqueles anteriores e vai recuperando, vai retomando, o que funcionou, o que entrou de um jeito que você queria, chegou num tal resultado. É assim (AUTORA E, 17.08.17).
A Autora A se associa ao coro que defende essa inovação. Seu interesse está
focado nas experiências inovadoras. Tanto que ela mostrou que está atenta às
linhas concorrentes, identificou coleções “menos lineares” e reconheceu: “poxa, é
bacana, né”.
[...] a gente também olha o que os colegas fazem, né. Então, a gente dá uma olhada nos livros concorrentes porque não se trata de copiar, mas você tem uma ideia. Se tem coleções menos lineares, como é que está sendo apresentada, também pra pensar. [...] olha, é uma coisa que funcionou, é possível. A gente pensa assim: [...] o que o nosso livro têm? o que tem de novo no mercado? Como é que as pessoas estão trabalhando? (AUTORA A, 01.06.2017).
Também o Autor I relatou suas experiências. Ele vem tentando romper a rede
de crença coletiva há anos.
À Editora eu levei uma vez uma ideia de estudar a 5ª série antiga como na Alemanha. Eu tenho, eu trouxe muito livro da Alemanha, de Biologie. E a 5ª série começa assim, um modo curioso [...]. Eles começam estudando o ambiente com Zoologia, com Botânica, com Física, com tudo, tudo misturado. E vai crescendo assim. E tem pouca classificação. O nosso, o meu livro de Zoologia e Botânica do 7º ano, fala em invertebrados e vertebrados. Os invertebrados, poríferos, cnidários, platelmintes, nematelmintes; os poríferos respiram assim, circulam assim... é bem organizado, tudo em ordem, tudo em... É bastante classificatório, é bem diferente. Eu cheguei a falar com o antigo editor, falecido já há anos, o (nome do editor), e ele falou: ―ah, o que você está pensando? Você vai vender livro só pra sua família‖ (riso). Bom... é o lado comercial. Mas é um lado que... O Estado de São Paulo já monta, já montou grupos aí, pra fazer Guias Curriculares, acho que o nome era esse, e fizeram ideias mirabolantes e tal, mas não pega o professor clássico (AUTOR I, 22.08.2017).
Em vez de sugerir qualquer fragilidade nas propostas apresentadas nas obras
didáticas que possam apontar para fragmentações, consideramos que a estrutura
escolar é organizada em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, com base na
idade, na competência e em outros critérios passíveis de questionamentos. Uma
delas é a formação do professorado brasileiro. Ademais, as propostas curriculares
têm uma diretriz que orienta a organização das disciplinas lecionadas em cada série
e ―objetos de conhecimento‖ que devem abordar em cada uma delas.
284
Observamos que nos livros, os ―objetos de conhecimento‖ de maneira geral
estão assim distribuídos: no sexto ano, ar, água e solo; no sétimo, seres vivos; no
oitavo, corpo humano e no nono, Química e Física.
Tem coisas que a gente já experimentou. Então, por exemplo, nós já experimentamos no livro que trata de Seres Vivos. Na época, que era da 6ª série, agora 7º ano, a gente já experimentou começar daquilo que era mais próximo do estudante. Então, já começou com Mamíferos. E aí fomos caminhando em direção ao invisível, né, até chegar aos Vírus. Porque a gente achava que era mais fácil falar de um cachorro pra um estudante do que falar de Vírus, né. Mas aí, por incrível que pareça (risos), os professores que foram muito resistentes. ―Ah, por que vocês não seguem a sequência evolutiva?‖. [...] tem a tradição, né, que a gente, como eu disse, já tentou romper. E aí a gente percebe que também não dá pra puxar o tapete do professor – oh, vamos fazer tudo diferente. Então, o que é que tradicionalmente é trabalhado? Tradicionalmente, no 6º ano se trabalha aí o solo. Ah, tá. Mas, aí como é que a gente pode fazer? Então, a gente pega a questão ambiental e aí, dentro da questão ambiental, sempre que possível, a gente faz o enfoque evolutivo (AUTORA A, 01.06.2017). Quando eu comecei a escrever, o programa clássico que tinha sucesso e é o que tem sucesso, é no 6º ano apresentar o ambiente, que inclusive normalmente o nome é Meio Ambiente. No 7º ano, introduzir Os Seres Vivos. No 8º ano destacar um ser vivo especial, o Ser Humano. E no 9º ano descer à intimidade da matéria, com uma coisa mais abstrata, a Química e a Física. Esse é o programa clássico que na verdade não é secular, ele começou, eu diria até, no começo dos anos 1980 só, final da década de 70. E os professores de hoje estudaram assim e mantêm assim. Nós, por incentivo da Editora, uma época, mexemos na programação. Fizemos uma programação chamada Integrada. E eu defendi o livro em palestras, tem mais lógica, mas, vendeu muito menos porque saía do dia a dia do professor. Nessa nova tentativa, a gente misturou, quando se estudava olho, no 8º ano, já estudava Física Ótica do 9º ano. Estudando a água já falava em Botânica, por causa da necessidade da água e tal, misturando 6º e 7º ano. Essa integração não vende. Então, se você pergunta, coisas que vendem, a pressão comercial, não só da Editora como do autor, está escrevendo pra quê? Pra que ninguém leia? Então, agora, a tradição da antiga 5ª série, que eu disse que começou, talvez, no final da década de 70, no fundo, no fundo é coisa dos gregos. Olha a matéria básica do 6º ano, antiga 5ª série, Ar, Água, Fogo e Terra. Os quatro elementos. Isto é (risos) Empédocles, não sei, isto é 200, 300 anos a.C. já se falava nesses quatro elementos e é a base da 5ª série. Olha só que coisa doida (risos). Mas é o que o professor usa. E a Base, eu acho que não vai fugir muito disso (AUTOR I, 22.08.2017).
“[...] e os professores de hoje estudaram assim e mantêm assim” (AUTOR I,
22.08.2017). Nos relatos da Autora A essa questão é problematizada. Ela apontou
“uma formação predominante, hegemônica dos professores”.
Gente! Mas também é uma cabeça linear, né. Porque eu posso trabalhar Ambiente e de Ambiente trabalhar Seres Vivos, trabalhar Citologia, trabalhar Bioquímica. Não preciso ficar presa a uma lógica apenas. Então, tem uma formação predominante, hegemônica nos professores. Nós não damos essa formação inicial. Eu acho que o livro ajuda na formação continuada porque
285
ele leva o professor a tentar pensar diferente, né. Mas houve muita resistência. Então, a gente voltou a trabalhar dentro de uma linha que o professor achou mais lógica. Mas essa foi uma coisa que a gente deu pra trás, né (AUTORA A, 01.06.2017).
A problemática da formação de professoras/es será analisada posteriormente
de maneira circunstanciada. Neste foco nossas análises recaem sobre a escolha e o
uso do livro. Esclarecemos que as coleções didáticas são compostas de quatro
volumes, um para cada ano do ciclo, sendo que os quatro volumes destinados para
professoras/es é composto pelo ―livro do aluno‖ e o ―livro do professor‖.
Identificamos que a evolução do ―Manual do Professor‖ é parte da estratégia do
MEC para a formação continuada de professoras/es. Tanto que dentre os critérios
de conformidade publicados nos Editais, uma obra cujo Manual não apresente
instruções e orientações teórico-metodológicas para professoras/es, acompanhadas
do livro da/o estudante de forma integral, com ou sem comentários adicionais é
excluída logo na etapa de triagem.
Em nossas análises apreendemos que autoras/es compartilham desse ponto
de vista. O ―Manual do Professor‖ foi mencionado em todas as entrevistas. A maioria
das/os entrevistadas/os considera que o livro contribui para a formação continuada
de professoras/es, a exemplo do que foi explicitado pela Autora A.
Nós fizemos alguns manuais junto com pedagogos, pedagogas e aprendemos bastante também. Mas os Manuais, se o professor pegar aquilo, nossa! [...] Não sei se algum professor leu aquele trabalho todo (AUTOR I, 22.08.2018, grifo da pesquisadora).
Na oportunidade ele mencionou um exemplo das dificuldades enfrentadas no
processo de avaliação e escolha do livro didático.
O professor é simples. Quando a gente faz um livro tem uma dificuldade terrível com a avaliação, com as perguntas. [...]. Então, o gabarito que está no livro não é um gabarito fechado (riso). A questão é aberta, é o certo, é claro. Só que quando isso vai para a divulgação no Guia, o professor quer escolher um livro cheio de o que é isso, o que é aquilo, quantos são esses e quantos são aqueles, quais são as capitais dos Estados, tal, a tabela periódica, Neônio, Plutônio, Xenônio, Radônio. Hoje li na cama Robinson Crusoé francês, frases mnemônicas pra decorar a tabela. O professor adora fazer isso na prova, ele corrige rápido, ele fala fácil, ele sabe de cor tudo aquilo e quer que os alunos decorem, ele põe na lousa, usa giz colorido, motiva, o aluno gosta, os pais gostam, [...] enfim é o decorado (Autor I, 22.08.2017, ênfase do entrevistado).
286
De maneira geral, os Manuais apresentam mais do que as respostas dos
exercícios e atividades, além de valorizar e incentivar a autonomia das/os
professoras/es. Alguns exemplos:
[...] cada módulo didático apresenta grande autonomia e pode, portanto, ser visto como ―uma história‖ dentro de um livro com várias outras ―histórias‖ (ou seja, um livro com vários outros módulos didáticos). Isso possibilita ao professor compatibilizar a obra com o seu trabalho da forma que julgar mais adequada (CIÊNCIAS s, 4º ANO, 2008, p.10). [...] Este manual propõe, além das orientações teóricas e informações que contribuem para a formação e atualização do professor, uma análise do contexto do trabalho docente tornando-se, efetivamente, um subsídio para a reflexão e a prática docente. A decisão de adotar ou não um livro didático é apenas uma das etapas da elaboração do projeto pedagógico. Muito além disso, são necessários estudos, discussões, entusiasmo e dedicação. As orientações aqui apresentadas fortalecem essa empreitada educacional e, ao mesmo tempo, indicam como esta coleção pode se tornar um instrumento eficiente de ação educativa (CIÊNCIAS n, 9º ANO, 2017, p. 307). [...] é do professor a atribuição de adaptar o uso do livro didático à realidade local. Isso inclui a sequência em que os temas serão tratados. E esta pode ser adaptada. Os capítulos não precisam ser trabalhados necessariamente na sequência apresentada (CIÊNCIAS x, 6º ANO, 2009, p. 19). Para que este material alcance o objetivo para o qual foi elaborado, sua mediação pedagógica será essencial. Use criatividade e autonomia ao explorar a obra, planejar e conduzir as atividades, incentivar o debate e levantar questões que reforcem a autoestima dos alunos (CIÊNCIAS b, 8º ANO, 2015, p.305). Todo o material foi elaborado objetivando apoiar o professor em seu trabalho, em uma parceria (livro didático-professor-aluno) benéfica ao cotidiano da sala de aula, estimulando a autonomia docente para o uso criativo e flexível do livro didático (CIÊNCIAS k, 8º ANO, 2009, p. 7). [...] sabemos que é você quem faz as conexões entre o material didático, o projeto educativo da escola e a aprendizagem de seus alunos. Materiais de estudo, cursos, palestras e livros são necessários, mas só serão úteis se o professor fizer a seleção de seus conhecimentos para a montagem de um programa de curso para os alunos. Percebemos, portanto, que a prática de ensino do educador, realizada a cada momento, é única e intransferível em sua totalidade, por mais que experiências sejam trocadas em espaços coletivos de estudo e de discussão. Ressaltamos, também, a importância do trabalho da equipe de educadores de cada escola. São os espaços coletivos de estudo e discussão que possibilitam a cada professor ser ainda mais competente em seu trabalho, pois assim os componentes escolares são desenvolvidos como um todo (CIÊNCIAS d, 7º ANO, 2010, p. 2).
Os referidos Manuais apresentam a proposta pedagógica da coleção bem
como o plano proposto para cada ano do ensino, orientações gerais sobre os temas
e conteúdos abordados em cada volume da coleção, textos de apoio, sugestões de
exercícios complementares e atividades variadas.
287
[...] tem um porquê que a gente defende no Manual do Mestre, que muitos professores nem leem. Então o Manual do Mestre dialoga por que aquelas escolhas foram feitas. Mas tem professor que só vai lá ver as respostas dos exercícios (AUTORA A, 01.06.2017).
O Autor I também ressaltou esse aspecto sobre o uso do ―Manual do
Professor‖ “[...] os manuais do PNLD são excelentes, mas o professor não lê. Duvido
que um professor leia aquela história. E são manuais excelentes”. Ele
complementou:
Mas a deficiência em leitura, né, a gente vê pelo nível dos deputados aí, com aquelas votações, o jeito deles falarem, não só a gramática, mas o pensamento que deveria estar embutido nas palavras. Não são pessoas que falam mal, são pessoas que pensam mal e aí não tem como traduzir em palavras isso (AUTOR I, 22.08.2017).
A leitura do ―Manual do Mestre‖ revelou que autoras/es procuram estabelecer
um diálogo com as/os professoras/es e naquelas páginas compartilham suas
experiências em sala de aula. Versam sobre o processo de ensino e aprendizagem e
apresentam contribuições para a realização do processo avaliativo (conteúdos
conceituais, procedimentais e atitudinais apresentados no livro da/o estudante). Nas
entrevistas pudemos compreender melhor como isso se dá no processo de
composição das obras didáticas.
[...] nosso material tem um alcance nacional, então eu tenho que fazer também uma ação via professor, né. E, então, a maneira como a gente trabalha acaba se refletindo nesse trabalho quando a gente dá orientação para o professor no Manual do Professor. E a gente trabalha em cima de três saberes, né, é você ter o conteúdo atitudinal, então ele vai ter uma atitude frente ao ambiente onde ele se encontra; vai ter um procedimental, como que se dá isso; e o conceitual, que você tem que ter uma fundamentação pra poder interagir. E isso é muito específico em termos de região e também é muito específico de turma pra turma. [...] De maneira geral, a gente dá linhas, né. Assim, bem ampla também, pra o cara seguir. E colocamos no Manual experiências que a gente tem. Porque hoje não dá pra você dizer como é que eu vou avaliar uma habilidade. Então, só conhecendo é que você vai avaliar. Então a gente dá linhas, aí fala: oh, em nossa experiência chega a isso. Então, o professor vendo essa experiência, ele também pode identificar aquilo e avaliar dessa forma (AUTOR U, 22.08.2017).
Sobre estes aspectos avaliativos, a Autora A apontou uma questão importante
e que se refere ao conceito de coavaliação.
288
Essa é uma coisa que a gente pensa dentro da metacognição, né. Falo para os meus colegas professores quando faço alguma formação, de insistir na autoformação, de insistir na coavaliação, de deixar bem claro para os estudantes que critérios estão sendo utilizados na hora de avaliar um trabalho, que competências você está focando naquela atividade para que eles possam pensar: eu avancei nisso, não avancei [...] (AUTORA A, 01.06.2017).
Assim como é no ―Manual do Professor‖, no livro da/o estudante, autoras/es
procuram estabelecer um diálogo com a/o leitor/a e incentivar sua autonomia,
independentemente da atuação da/o professor/a.
Considerando a pesquisa como princípio formativo, tanto no Manual como no
livro das/os estudantes são apresentadas propostas de atividades interdisciplinares,
sugestões de projetos envolvendo disciplinas variadas para o desenvolvimento de
pesquisas que propiciam o contato com a comunidade, autoridades políticas,
profissionais de postos de saúde etc.
Trabalho em Equipe Com base no que aprendeu neste capítulo e em dados obtidos em outras fontes confiáveis (entrevista com um profissional de saúde, por exemplo) elaborem uma cartilha com informações sobre prevenção do câncer de mama e próstata. Não esqueçam de:
caprichar na linguagem, que deve ser acessível, mas correta;
ilustrar com desenhos;
divulgar para a família e a comunidade, se possível reproduzindo esse material ou expondo-o em um mural ou blog (LIVRO DA AUTORA A).
Também identificamos várias indicações de sites, vídeos, filmes, estações de
ciências e parques para visitas, até mesmo expedições científicas no entorno da
escola, além de inúmeras referências com bibliografias completas para leituras sobre
educação, ensino de ciências, Biologia, Astronomia, Química, Física.
Combine com o professor uma excursão a um lugar próximo de sua escola para compreender melhor o ambiente do qual fazem parte você e sua comunidade. Com esse objetivo, até uma simples volta no quarteirão pode ser interessante. Procure registrar suas observações por escrito, com desenhos ou fotos representativas de cada aspecto estudado no roteiro. [...] Elementos do meio físico; [...] Observando o céu; [...] Condições meteorológicas; [...] os seres vivos; [...] a participação humana; [...] Observando o lixo; [...] as construções humanas. [...] Conclusão do estudo do meio (CIÊNCIAS d, 6º ANO, 2010, p. 26-35).
Ressaltamos que as coleções apresentadas neste eixo de análise estão em
conformidade com as propostas curriculares e o contexto em que foram produzidas.
Não é demais lembrar que os PCN de Ciências afirmam que é essencial que
289
o ensino das Ciências Naturais seja realizado em atividades variadas que promovam
o aprendizado da maioria, evitando que as fragilidades e as carências tornem-se
obstáculos intransponíveis para alguns. Atividades como participação oral, debates,
dramatizações, entrevistas, exposições espontâneas ou preparadas, observação e
reflexão rompem qualquer barreira para que o processo de aprendizagem seja
efetivo (BRASIL, 1998).
A preocupação com o dinheiro público foi ressaltada em duas entrevistas. A
Autora A fez referência a escolas em que professoras/es não usam o livro porque a
coleção recebida não foi aquela escolhida como primeira opção.
Eu tenho um professor que me levava a escolher um determinado livro. Eu tenho colegas também professores. O que os atrai no livro? Atrai, assim, no sentido de sentir vontade de usar. Porque cada vez mais isso é uma coisa que me preocupa. Eu vi. Meu filho, agora, já está fazendo Medicina. Mas, quando ele estava no Fundamental e no Médio, apesar do PNLD, como às vezes não vinha o primeiro livro de escolha do professor, os livros não eram usados. [...] então eu fico pensando: nada no livro dá pra ser usado? Nada? Eu não posso usar uma imagem? Não posso fazer um exercício? Não posso pegar um texto? Não posso usar criticamente? Então é uma postura meio assim: ―ah...‖. Nenhum livro vai dar conta de tudo. Pelo amor de Deus, então, não coloque tudo em cima disso. Eu sempre brinco que o professor precisa adotar o livro e não ser adotado por ele. Não dá pra ser adotado pelo livro (AUTORA A, 01.06.2017).
Esclarecemos que no âmbito do PNLD a escolha do livro didático implica a
indicação de duas coleções, ou seja, primeira e segunda opção. Isto porque a
definição das obras adquiridas depende em grande parte do valor negociado entre
FNDE/MEC e Editoras. Essa definição ocorre na etapa do PNLD, compreendida
como etapa de negociação.
Os dados estatísticos revelam que na última edição do PNLD 2017 foram
atendidas 117.600 escolas públicas e 29.416.511 estudantes dos níveis de ensino
Fundamental e Médio. Segundo o FNDE, autarquia federal responsável pela ação,
foram adquiridos e distribuídos 152.351.763 exemplares de livros para estudantes e
professoras/es. O investimento total foi de R$ 1.295.910.769,73.
O Autor I considerou o aspecto sustentável do livro didático, no que se refere à
utilização e reutilização do material. De fato o processo é ―custoso‖, o que justifica o
período de vigência de cada edição do PNLD. Ademais a ciência não muda de uma
hora para outra.
Ele mencionou o valor expressivo dos investimentos do governo federal em
livros didáticos. Na oportunidade fez referência às suspeitas de montantes de
290
dinheiro público desviado, num processo de corrupção que se perpetua e é mantido
por grande parte dos políticos no Brasil. Interpretamos que o dinheiro público passa
de mão em mão, mas grande parte dele continua nas mesmas mãos.
[...] o PNLD, de três em três anos, acho razoável porque não pode trocar todo ano e o processo é custoso. Isso é dinheiro. Antigamente era um bilhão. Agora já é um pouco mais. Se bem que falar em bilhão quando se consegue roubar mais do que isso, né? (riso). Antigamente roubavam as galinhas, né (riso). Agora parece que, pelo menos pelas acusações, todos os partidos e sei lá se é 70 ou 80 por cento dos políticos meteram a mão, né, no que é nosso (riso). Um negócio feio, né. Então, um bilhão não é muita coisa (riso) (AUTOR I, 22.08.2017).
Em nossos estudos apreendemos que no âmbito do PNLD, a participação de
estudantes na escolha e avaliação do livro não é uma questão problematizada. Na
escolha do livro didático, o PNLD concede autonomia à unidade escolar, através do
corpo diretivo e docente. As Editoras, por sua vez têm como público-alvo o
professorado. Para o mercado didático, o/a aluno/a é o filão. Porém, a relação entre
empresas editoras e estudantes é praticamente nenhuma. Ou seja, estudantes são
receptoras/es finais da literatura didática e ―se constituem em um público cativo na
medida em que são levados a consumi-la sem participarem, no entanto, do processo
de seleção do livro a ser adotado‖ (NEGRÃO; AMADO, 1989, p. 52).
Em nossas análises contemplamos categorias para apreender a posição de
autoras/es com relação ao público leitor e se têm interesse em saber sobre a
avaliação de suas obras do ponto de vista de estudantes. Identificamos que de certo
modo, a pergunta pegou autoras/es de surpresa. A maioria das/os entrevistadas/os
verbalizou que não tinha pensado sobre o assunto, mas considerou a questão
interessante. Todas/os refletiram e apresentaram exemplos. Até sugeriram formas
de viabilizar a participação de estudantes de maneira mais direta.
O Autor U disse já ter pensado sobre o assunto, mas não se referiu à
participação de estudantes na avaliação e escolha das obras didáticas. Ele
considerou que as Conferências de Educação eram um meio para viabilizar a
participação de estudantes em assuntos que dizem respeito às suas vidas.
Ressaltou a participação de estudantes no Plano Nacional de Educação. Notamos
que ele usou o verbo no passado destacando as mudanças que implicaram perda de
democracia.
Já, já pensei, já pensei. Eu gostava muito das Conferências de Educação, né. Teve as Conferências Municipais, as Estaduais, Regionais que
291
culminaram na Conferência Nacional em 2010, né. E tivemos a mesma coisa pra 2014. Tinha participação. Não só de professores, de gestores, o estudante também estava lá, entendeu? [...] (AUTOR U, 22.08.2017).
A Autora A achou a questão interessante. Ela refletiu e fez sugestões para
mudar isso. Para ela é importante saber o ponto de vista de estudantes sobre a obra
didática. “Seria bem interessante. É uma coisa que não tem. Realmente. Eu gostaria
que meu livro fosse avaliado pra saber se os estudantes gostam ou não, o que
acham. Por exemplo, se o texto é difícil, se basta ter [...]”
Essa é uma coisa interessante mesmo. Porque é assim, eu fico pensando como mudar isso? Uma coisa é se o estudante já utilizou uma coleção, talvez criar um mecanismo de avaliação do que foi usado, né. Porque quando você apresenta o Guia com as coleções, muitas são novas ou foram reformuladas. Então o estudante também, talvez, não tivesse parâmetros. Até o professor, gente. [...] acho que talvez o que se pudesse pensar era de uma avaliação dos livros que estão sendo usados e isso ficar um pouco como material para que os professores consultassem na hora de escolher o novo livro. Do tipo: ―olha, gostamos dessa coleção ou gostamos de alguma coisa e algumas coisas não‖. Como é que ela veio agora? Ela veio reformulada? Isso aqui está diferente? Ou então, eles não gostam disso, mas será que nas outras coleções também é diferente? Porque às vezes também não é (AUTORA A, 01.06.2017).
Ela considera uma perversidade não levar coisas novas para os/as estudantes.
E às vezes aquele professor usa aquele livro [...] ―ah, mas, é que eu uso há muitos anos...‖. Sabe, aquele livro que eu usava quando aluna? [...] e eu sei que usar um novo livro demanda o que? Conhecer o livro, não é? Você se planejar para usá-lo, ver como é a sequência, o que ele tem de sugestões. Tem aquele livro que já está assim, até meio amassadinho, amarelado, você já sabe onde estão as páginas, quais são os experimentos... Por outro lado, é muito perverso, né, que você não se permita mudar e trazer para o estudante coisas novas (AUTORA A, 01.06.2017).
Ela e o Autor I apontaram a intermediação de professoras/es sobre o que
pensam os/as estudantes. No entanto, apontaram que a comunicação entre
estudantes e autoras/es é sempre mediada. Ela se referiu mais às escolas públicas
e ele às escolas privadas. O Autor I apontou o aspecto sustentável do livro didático,
dessa vez se referindo à economia no âmbito da família.
Porque os professores quando nos dão feedback, me parece que eles trazem um pouco do que os estudantes falam. Então, quando eu vou nas escolas visitar, ouço assim: ―Ah, os estudantes gostam disso, os estudantes não gostam‖. Mas aí é sempre alguém como intermediário. Deve ser diferente se você tem acesso a uma coisa que o estudante pudesse falar diretamente (AUTORA A, 01.06.2017).
292
Indiretamente. Porque falam, não gostam, ―está horrível esse livro‖. O professor percebe se o aluno não gostou, se não deu certo, se não deu certo com o aluno. Na escola particular pode mudar praticamente no ano seguinte. É difícil porque os pais reclamam: ―vocês fizeram comprar um livro de R$ 150,00 e já vão trocar no ano seguinte?". Porque vão passar para o irmão e tal. Mas realmente, se você... o professor considerou o livro bom, usou o primeiro ano e não deu certo... Porque os alunos, quer dizer, não é feito uma pesquisa com os alunos. Mas extraoficialmente o professor pode perceber assim que ―está muito difícil esse livro‖; ―o aluno não está conseguindo acompanhar”. Então eu acho que indiretamente, a opinião dos alunos, o rendimento dos alunos pode influenciar. Agora no PNLD são três anos, né (AUTOR I, 22.08.2017).
Por sua vez, a Autora E concordou que o “aluno está apartado” do processo de
escolha e avaliação do livro didático. Ela disse: “Comecei a ver agora (risos).
Comecei a ver agora. Porque eu nunca tinha pensado nisso. Obrigada, viu!”
Ela também refletiu sobre possibilidades da participação de estudantes no
processo de escolha e avaliação do livro a ser usado. Sinalizou sobre detalhes
importantes acerca da escolha das obras no âmbito do PNLD, os quais serão
tratados mais à frente. ―Olha, seria uma ideia boa, não? O aluno poder participar, né.
Agora tem um detalhe, né. Sei lá... precisa ter uma cultura em relação a isso, sabe.
A própria cultura da escolha; é muito de perna, de pé quebrado, né” (AUTORA E,
17.08.2017).
Na oportunidade ela fez comentários sobre sua leitura acerca da produção
acadêmica. Apontou a necessidade e sugeriu que os grupos pesquisem sobre o uso
do livro didático. “Então falta isso também. Falta saber o livro em uso. É outra
sugestão aí para os grupos de pesquisa”.
Eu acho que os grupos de pesquisa se centrarem, aí agora vai uma leitura minha, né, que provavelmente muito parcial, mas foi o que ficou pra mim. Annn... os grupos, os pesquisadores fizeram nesse primeiro momento uma pesquisa focada nas temáticas. Então é o seu caso, né. Mas, você fez uma pesquisa bem abrangente, foi corajosa, pegou vários livros e tudo e era uma temática bem abrangente. Agora, às vezes têm outras coisas que são bem pontuais, que vão pra um congresso. Teve um lá que pesquisou sobre como aparece o ambiente de restinga nos livros didáticos. Você viu esse já? Então, eu achei muito justo esse interesse do pesquisador, foi de um pessoal lá de Santa Catarina. De fato, a restinga em Santa Catarina, lá na ilha, né. Meu filho mais novo morou cinco anos lá na ilha. Teve uns intervalos que ele morou fora, depois voltou. Mas no total ele ficou cinco anos. A gente até visitou ele lá, um par de vezes. É... é o fundamento da ilha, né, é a restinga. Então, realmente, se você tem um livro didático lá em Santa Catarina que não tem três páginas sobre restinga, deve doer. Né? O nosso falava de restinga e nem por isso ele foi mais escolhido lá em Santa Catarina (AUTORA E, 17.08.2017).
293
Ela informou sobre pesquisas sobre o uso do livro didático e do ―Manual do
Professor‖, produzidas por instituições governamentais e entidades de classe, por
exemplo, uma pesquisa que contou com a participação da Abrelivros.
Já aconteceram algumas pesquisas de avaliação do livro em uso, né. Teve uma lá nos meados dos 1990. Mas essa pesquisa foi conduzida pela mesma equipe que fazia a avaliação dos livros. Eu acho que isso não é uma boa ideia em matéria de avaliação porque o seu olhar já é arrevesado, né, mas, teve. [...] até eu conheço uma pessoa que depois veio trabalhar comigo no MEC e me contou várias coisas. Eu acho que apesar do olhar arrevesado, ela teve um valor. (frase inaudível). Depois teve, uns dez anos passados, outra pesquisa. [...] até eu assisti a palestra lá na FTD. Foi uma pesquisa conduzida com a participação da Abrelivros. Você sabe da Abrelivros, né? Então, teve a participação da Abrelivros, teve a SEF
184. Ah,
é. Era uma pesquisa que tentava entender o uso do Manual do Professor. E... é. O foco principal era o Manual do Professor. Essa foi uma pesquisa bem extensa. Não sei se era o foco principal, foi o que ficou pra mim, o mais importante. Mas teve essa pesquisa também. [...] tirando essas duas, se tem outras, eu realmente não sei. A Abrale também não sabe. Porque se tivesse alguma lá Abrale eu também saberia (AUTORA E, 17.08.17, grifo da pesquisadora).
Não tivemos acesso às pesquisas mencionadas pela Autora E. Em nossas
buscas identificamos o levantamento baseado nas respostas ao questionário
socioeconômico da Prova Brasil 2011, aplicado pelo INEP. O ―QEdu: Aprendizado
em Foco‖, resultou da parceria entre a Meritt e a Fundação Lemann. O levantamento
apontou que, depois da Bíblia, o livro didático ocupa o 2º lugar entre os mais lidos no
Brasil, utilizado por 98% do professorado brasileiro que atua na rede pública de
educação185.
No campo acadêmico, localizamos dois estudos que versam sobre o uso do
livro didático. Um deles é a tese de Ana Júlia Lemos Alves Pedreira (2016), que
investigou o uso do livro didático de Biologia em escolas da rede pública de
Sobradinho, Distrito Federal. Parte de suas análises é dedicada ao uso do ―Manual
do Professor‖. Também os estudos de Rafael Gonçalves Bezerra e Lucy Mirian
Campo Tavares Nascimento (2015) que investigaram o uso do livro de Ciências
Naturais por 75 estudantes do 9º ano, de quatro escolas da rede pública de
Formosa, interior de Goiás.
O levantamento bibliográfico apresentado na pesquisa de Pedreira (2016) e a
leitura da Autora E sobre a produção acadêmica são coincidentes. Apenas 3,7%
184
Secretaria de Educação Fundamental. 185
Cf. EBC. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/educacao/2013/02/livro-didatico-ocupa-segundo-lugar-dentre-os-mais-lidos-no-brasil>. Acesso em: 03 jan. 2018.
294
dos artigos e 2,4% das teses e dissertações fazem referência ao uso do livro
didático.
Os resultados da pesquisa de Pedreira (2016) indicam que as/os
professoras/es de Biologia entrevistadas/os utilizam o livro didático basicamente
para fazer o planejamento das atividades desenvolvidas e sua subutilização em sala
de aula. Ao livro didático, as/os entrevistadas/os atribuíram as funções de
informação científica e geral, transmissão de conhecimento e formação pedagógica.
Também no que se refere ao uso do ―Manual do Professor‖, foi possível
verificar sua subutilização. Entre cinco docentes entrevistadas/os, apenas dois
professores consultam o material durante suas atividades. Foram identificadas três
funções atribuídas ao ―Manual do Professor‖, segundo o Guia de Apresentação do
PNLD 2015: auxiliar no papel de mediador na condução das atividades; dar a
oportunidade de reflexão sobre as diferentes propostas do ensino de Biologia; e
trazer para os professoras/es sugestões de atividades pedagógicas. Em nenhum
momento, os dois professores que utilizaram o ―Manual do Professor‖ fizeram
referência às funções de orientação visando à adequada utilização da obra com
estudantes, uso que também não foi verificado durante as observações das aulas.
Segundo a pesquisadora, ―esses professores tampouco se referiram à função do
manual de contribuir de alguma forma para a sua formação e atualização‖
(PEDREIRA, 2016, p. 168).
De algum modo, os resultados da pesquisa de Pedreira (2016) contribuem para
a confirmação das suspeitas de autoras/es entrevistadas/os sobre a subutilização do
―Manual‖, embora seja um material elaborado para contribuir com a formação
continuada de professoras/es.
Ambas as pesquisas indicam que estudantes, em sua maior parte, usam o livro
em casa para estudo e resolução de exercícios e que o livro didático não é o único
material utilizado em sala de aula (PEDREIRA, 2016); (BEZERRA; NASCIMENTO,
2015).
Segundo as percepções de estudantes pesquisadas/os por Bezerra e
Nascimento (2015, p. 140), ―a frequência de utilização do livro didático ocorre de vez
em quando (53%); portanto, não é empregado em todas as aulas‖. As/os estudantes
relataram que os recursos visuais, a apresentação de problemas, exercícios e
atividades, além de informações complementares sobre assuntos tratados em sala
de aula são atributos importantes dos livros didáticos. Também elencaram
295
vantagens do uso do livro didático com destaque para a autonomia e independência,
pois podem consultar os conteúdos e conhecimentos na hora e local que julgarem
mais apropriados: ―Não precisamos copiar, assim aproveitamos mais a aula‖; ―além
de levar para casa para ficar viajando lendo as coisas interessantes, poder estudar
na hora que quiser‖ (BEZERRA; NASCIMENTO, 2015, p. 142).
As/os estudantes disseram não viram nenhuma desvantagem do uso do livro
didático, mas apontaram dificuldade na compreensão e a necessidade de ajuda
das/os professoras: ―Tem umas coisas muito difíceis no livro didático e dificulta um
pouco‖; ―Por que tem algumas coisas confusas que só é possível aprender com a
ajuda do professor‖; ―Em muitas das vezes, ele não explica muito bem, faz a gente
ficar confusa‖. Sobre esses aspectos, Bezerra e Nascimento (2015, p. 144)
consideram a necessidade de orientações para o melhor uso do livro. ―Trata-se de
esclarecer os discentes sobre os recursos que esse material oferece por meio de
discussões acerca da propriedade de suas informações‖ e citam como exemplo, o
uso do glossário.
Certamente que quanto mais informações sobre os recursos que o livro
didático oferece, melhor. Mas esta é também uma questão de estrutura editorial e
projeto gráfico que pode facilitar o processo de busca de informações. Algumas
obras didáticas já inserem o glossário no texto. Para tanto, usam o recurso das
seções, na forma de quadros e/ou boxes laterais. É o caso, por exemplo, da obra
didática da Autora A e da Coleção Ciências x (2009).
Ambas as pesquisas apontam questões importantes, embora os resultados
obtidos não possam ser vistos de forma generalizada, mesmo porque as realidades
são diferentes em cada canto deste país como afirmaram as/os autoras/es por nós
entrevistadas/os.
Nas duas pesquisas não identificamos referências sobre a participação de
estudantes na escolha e avaliação do livro a ser usado nem referências ao livro
digital. De sua parte, pesquisadoras e pesquisador não levantaram essas questões.
Da parte de estudantes pesquisadas/os não identificamos menção ao livro digital
e/ou à Internet.
Nos estudos de Pedreira (2016, p. 152) há menção ao datashow, um tipo de
projetor multimídia, utilizado por parte das/os professoras/es para finalidades tais
como: ―a apresentação de slides com o conteúdo da aula, projeção de imagens,
vídeos ou filmes, não perder tempo copiando no quadro ou ainda para a
296
apresentação de trabalho dos alunos‖. Participaram de sua pesquisa através de
questionários 60 estudantes de ambos os sexos, com idade entre 15 e 19 anos.
Desses, 13 foram sorteadas/os para participar de entrevista.
As/os estudantes informaram que o livro didático é o terceiro recurso de ensino
e aprendizagem utilizado em sala de aula, depois do quadro. Ao livro didático
atribuíram diferentes funções: ―um recurso que possibilita que o aluno aprofunde o
estudo dos conteúdos, um apoio aos seus estudos, seja como base para leitura ou
mesmo na realização de exercícios‖. O datashow foi apontado como primeiro
recurso ―que auxilia no entendimento, pois, com ele, o professor pode enriquecer a
aula com slides, vídeos e imagens‖. No entanto, a pesquisa aponta que algumas das
escolas pesquisadas não têm os recursos na sala de aula, havendo necessidade de
agendamento para uso de outra sala, o que acaba acarretando mais problemas que
soluções (PEDREIRA, 2016, p. 140).
As/os professoras/es pesquisadas/os relataram que costumam utilizar o
Moodle186 e disponibilizar as apresentações dos slides. Mas disseram que a maioria
das/os estudantes não se interessa pela plataforma e poucos acessam e baixam os
materiais ali disponibilizados. Quatro professores disseram fazer uso da Internet
durante seu planejamento e dois relataram dificuldades em realizar o planejamento
na escola ―por falta de internet de qualidade‖. A Internet é utilizada para assistir
videoaulas, filmes, buscar imagens, informações, preparar slides ou mesmo para
pegar alguma apresentação de slides pronta para utilizar em sala de aula
(PEDREIRA, 2016, p. 152).
De fato, a internet não está democratizada no país. Vale lembrar que desde o
final dos anos 1990, o MEC/FNDE tem investido na inserção de Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC). Em 2007, o ProInfo passou por reestruturação
através do Decreto n° 6.300. Executado no âmbito do FNDE, o Programa possui
como objetivos o estabelecido no Parágrafo Único do Art. 1º do referido Decreto187 e
186
Moodle é a sigla utilizada para se referir ao Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, um ambiente virtual de aprendizagem utilizado no contexto da educação corporativa, também na maioria das universidades por ser uma plataforma digital bastante utilizada para a realização de cursos a distância. Segundo Pedreira (2016, p. 140), apesar de ser de fácil utilização, é necessário pagar para ter acesso à plataforma, o que pode dificultar seu uso como recurso pedagógico na rede pública. ―Na escola em que se utiliza essa plataforma, são os próprios professores os responsáveis pelo pagamento anual da taxa de utilização, uma vez que a escola não dispõe de recurso disponível para essa finalidade‖. 187
Cf. Decreto nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007. Dispõe sobre ProInfo. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6300.htm>. Acesso em: 22 dez. 2018.
297
está sustentado em três grandes pilares ou dimensões, a saber: formação inicial e
continuada de profissionais da educação, produção e disponibilização de recursos
educacionais digitais e prospecção e aquisição de tecnologias educacionais. Nota-se
que na primeira versão, o objetivo maior do ProInfo era criar salas de informática nas
escolas. Na segunda versão, a proposta foi ampliada para outras mídias e
tecnologias. Em 2007 a ação previa a aquisição, instalação e manutenção de
equipamentos de informática para escolas públicas, núcleo de tecnologia
educacional e centro de experimentação em tecnologia educacional. Também a
pesquisa, o desenvolvimento e a manutenção de soluções multimídia em módulos
aplicáveis à educação a distância, bem como suporte técnico e pedagógico para os
cursos de capacitação de recursos humanos, apoio técnico com orientação
pedagógica a estudos e pesquisas, viabilização de interfaces com o INEP,
organismos nacionais e internacionais e apoio ao processo de adesão das escolas.
Contemplava, ainda, o acompanhamento e a avaliação dos programas estaduais de
introdução de tecnologias na educação, relatórios detalhados por estado e com
consolidação nacional.
Empreendemos uma investigação nos Relatórios de Gestão do FNDE,
referentes ao exercício dos anos de 2007 a 2017188. Identificamos que as aquisições
do ProInfo foram realizadas mediante pregões eletrônicos conduzidos pelo FNDE.
Com a execução das atividades desenvolvidas pelo ProInfo, cerca de 47,5 mil
unidades foram equipadas. A estimativa de investimentos para o exercício de 2007
foi de R$ 109,4 milhões, dos quais foram executados cerca de R$ 106 milhões para
equipar 12.750 unidades, totalizando por volta de 97% e 26,84% da meta financeira
e física, estimadas.
Até o mês de dezembro de 2015, foram registradas 55.109 conexões à
Internet, beneficiando cerca de 30 milhões de estudantes e aproximadamente 3
milhões de professoras/es, sendo que ao longo do ano, a iniciativa atendeu cerca de
17 mil escolas, beneficiando 2,5 milhões de alunos e cerca de 13,5 mil professores.
Identificamos que no âmbito das escolas rurais, o FNDE também prestou assistência
técnica, em parceira com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)189.
188
Os FNDE. Relatórios de Gestão do FNDE. Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/acoes/fnde-estrategico/plano-estrategico/historico/item/2489-relat%C3%B3rios-de-gest%C3%A3o>. Acesso em: 18 dez. 2018. 189
Cf. Edital Nº 004/2012/PVCP/SVP. Desde 2012 ficou estabelecido que as operadoras de telefonia passarão a ofertar gratuitamente o acesso à Internet para todas as escolas do campo que possuam
298
Desde sua concepção em 2012, a iniciativa atendeu cerca de 29 mil entidades de
ensino (FNDE, 2016).
Sem um nome definido para o projeto, a partir de 2012 o MEC disponibilizou a
distribuição de tablets para as escolas públicas de ensino médio. A compra cabe a
cada Estado, que deve negociar com as empresas vencedoras do pregão, a saber,
CCG Digibras e Positivo Informática. Nos tablets, são disponibilizados os seguintes
conteúdos: Conteúdo Portal do Professor / MEC; Portal Domínio Público; Khan
Academy190 (Física / Matemática / Biologia / Química): tradução para português com
parceria da Fundação Lemann; Projetos de Aprendizagem Educacionais (Banco
Internacional de Objetos Educacionais – MEC); Coleção Educadores.
No período do Plano Plurianual 2012-2015, foram destinados R$ 394,3 milhões
para entregar mais de nove mil laboratórios de informática para as escolas públicas,
distribuir 92.209 notebooks para professoras/es da educação básica de escolas
públicas municipais e estaduais, adquirir 526.268 tablets. Nesse mesmo período,
foram investidos R$ 54,7 milhões na formação de 259.319 professoras/es. Também
foram distribuídos mais de 107 mil computadores interativos (projetores interativos e
lousas eletrônicas), com recursos de aproximadamente R$ 220,9 milhões (FNDE,
2008; 2016). Até o mês de dezembro de 2015, foram registradas 55.109 conexões à
Internet, beneficiando cerca de 30 milhões de estudantes e aproximadamente 3
milhões de professoras/es, sendo que ao longo do ano, a iniciativa atendeu cerca de
17 mil escolas, beneficiando 2,5 milhões de alunos e cerca de 13,5 mil professores.
Identificamos que no âmbito das escolas rurais, o FNDE também prestou assistência
técnica, em parceira com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)191.
Desde sua concepção em 2012, a iniciativa atendeu cerca de 29 mil entidades de
ensino (FNDE, 2016).
cadastro no censo da educação básica, energia elétrica, algum recurso tecnológico e estejam a uma distância de até 30 km a partir da sede de cada município. Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=287817&assuntoPublicacao=null&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=287817.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2018. 190
A Khan Academy é uma ONG educacional criada e sustentada por Sal Khan. Tem como missão fornecer educação de alta qualidade para qualquer um, em qualquer lugar. Oferece uma coleção grátis de vídeos de vários temas e disciplinas. 191
Cf. Edital Nº 004/2012/PVCP/SVP. Desde 2012 ficou estabelecido que as operadoras de telefonia passarão a ofertar gratuitamente o acesso à Internet para todas as escolas do campo que possuam cadastro no censo da educação básica, energia elétrica, algum recurso tecnológico e estejam a uma distância de até 30 km a partir da sede de cada município. Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=287817&assuntoPublicacao=null&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=287817.pdf>. Acesso em: 18 dez. 2018.
299
Em 2017, mantendo-se os mesmos critérios de elegibilidade, foram registrados
62.202 pontos de conexão, beneficiando mais de 30 milhões de alunos e
aproximadamente 1,5 milhão de professores, segundo informações dos Relatórios
(FNDE, 2016; 2018). No mesmo ano foram destinados R$ 7,93 milhões para a
aquisição de tablets, computadores e notebooks. Segundo o Relatório de Gestão do
exercício de 2017, cerca de 2.000 unidades educacionais, estaduais e municipais
foram beneficiadas com a ativação de 3.886 tablets educacionais, adquiridos para
uso de estudantes da Educação Básica de escolas públicas (FNDE, 2018). Ainda em
2017, o ProInfo teve como uma das suas ações a implementação do sistema
operacional Linux Educacional (LE6), desenvolvido ao longo de 2016, e
disponibilizado para uso por meio de um Termo de Execução Descentralizada (TED)
celebrado entre o FNDE e a Universidade Federal do Paraná (UFPR). A versão LE6
foi projetada para oferecer um ambiente agradável e de fácil utilização por parte de
usuárias/os. Oferece uma série de recursos de interface e interação, como
aplicativos, integração com o Portal MEC e ferramenta para gerência de laboratório.
O LE6 já está disponível para uso da comunidade escolar desde novembro de
2017. A padronização do parque tecnológico, no âmbito do ProInfo, com a utilização
do LE6, pretende tornar as informações mais apresentáveis e organizadas,
minimizar a dependência da Internet para seu funcionamento (por meio de
aplicativos off-line) e oferecer uma interface mais amigável para utilização de
estudantes e professoras/es. Considerando que a utilização desse sistema
operacional é uma escolha da gestão escolar, espera-se a imediata aplicação em 20
mil laboratórios da área rural e em 15 mil da área urbana (FNDE, 2018).
De olho nos Editais
Neste foco buscamos compreender o contexto em que o livro é produzido.
Nossas análises se centraram nas relações entre regras, códigos e convenções
implicados na produção de livros didáticos e na sua interpretação por sujeitos que as
recebem. Assim, o primeiro aspecto analisado diz respeito às diretrizes da educação
nacional.
[...] A gente seguiu desde sempre, a gente já tentava se orientar pelos PCN. Bem, é, que a gente sempre, primeiro, querendo ou não, fica um pouco preso ao contexto em que o livro está sendo produzido. Quer dizer, agora, por exemplo, a gente está revisando a coleção atentos à Base Nacional
300
Curricular. [...] uma demanda importante: ficar atento ao que está sendo proposto pela Base Nacional Curricular (AUTORA A, 01.06.2017). [...] Quer dizer, aí eu levo em conta, é claro, dentro das questões humanísticas, os referenciais teóricos e os referenciais curriculares. [...] Aí você pega Parâmetros, pega currículos internacionais também. Eu andei trabalhando muito e está citado em minhas obras, depois dos PCN, o Benchmarks, para letramento científico, né, que é o currículo americano. A gente ganhou um xerox desse material em 95, quando estava ainda escrevendo PCN de primeiro ao quarto ano. E até hoje eu uso. Ele está online, é o Benchmarks for science literacy
192, da Associação Americana
para Avanço da Ciência, corresponde à nossa Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né. [...] tem uma parte só de pesquisa. É bárbaro! Ele também está substituído. Mas, o novo, que já não é tão novo, já tem uns dois anos que eles estão nesse debate do currículo novo, eu ainda não tive tempo suficiente pra me debruçar e fazer uma leitura melhor, mais crítica, porque eles ampliam muito a parte de tecnologia no currículo novo. [...] quem está inovando vai criar. Ah, eu acho que a BNCC trouxe esse desafio que é salutar. Entre muitas dificuldades que a BNCC trouxe e muitas pedras no caminho, o desafio de criar livros para um novo referencial curricular é presente, né. Agora, as pessoas estão reciclando aquilo que fizeram e tal, tentando encaixar. Uai, os editores assim, eu já vi, vai, mais de um editor falando ―ah, hoje, ai que bom que eu não estou editando livro antigo, estou editando livro novo‖. Pelo menos o novo, ele está sendo feito de acordo com as bases, mais fácil do que reciclar um livro já mais antigo (AUTORA E, 17.08.2017). Bom, no começo era diferente. Tem os PCN e agora a Base. A Base oficial, oficial, acho que ainda não tem, né. A Abrale está fazendo congressos e simpósios, e enfim, está discutindo. Eu não estou entrando muito hoje nisso porque como disse anteriormente, a Editora fez sozinha a última modificação no livro, então, eu tenho lido e acompanhado [...] Então, usar os assuntos clássicos, as modificações que estão na sua cabeça, as orientações do governo são importantes (AUTOR I, 22.08.2017). A gente não sabe. Saiu a BNCC, há uma demanda pra se criar em cima da BNCC, só que não saiu o Edital ainda, do PNLD do ensino fundamental, né. Então, a gente está assim, de repente as coisas mudam de direção. A gente tem o Manual do Professor que foi aprovado no último PNLD, junto com o livro, né, e a gente não sabe se pra esse vai estar direito. Ou se tem que mudar tudo de novo. Então, é uma nova criação, né, fora as mudanças que ocorrem na sociedade, que você vê. Assim, coisa de 20 anos, não se falava em celular em sala de aula, né, todo mundo descia a lenha, né. Hoje, não. Hoje já se fala em tablete em sala de aula. Então, a coisa muda muito rápido, né. É uma dinâmica assim, absurda, e a gente tem que se adaptar a isso também (AUTOR U, 22.08.2017).
Como vimos, a produção de obras didáticas está inserida em um conjunto de
diretrizes. A compreensão dessas diretrizes é fundamental, posto que a produção de
192
Publicado em 1993 pela Oxford University Press, o Benchmarks for Science Literacy surgiu a partir de mais de três anos de trabalho da equipe do Projeto 2061. Contou com mais de 1.300 participantes entre professoras/es, cientistas e consultores universitários. O Projeto 2061 disponibilizou a publicação através do Benchmarks On-line, facilitando o acesso e a navegação pelo texto completo por capítulo ou usando palavras-chave. Disponível em: <www.project2061.org/publications/bsl/online/index.php>. Acesso em: 05 nov. 2018.
301
formas simbólicas de maneira geral e particularmente as obras didáticas é
diretamente influenciada por elas.
Desde 1930, o governo federal vem implementando mecanismos de controle
sobre a produção e o uso de obras didáticas para o sistema educacional, conferindo
maior ou menor liberdade à definição de conteúdos e propostas de ensino. Tais
políticas orientam também as escolhas dos livros pelo corpo diretivo das escolas
públicas, porém, com pouco ou nenhum impacto nos materiais didáticos escolhidos
pelas escolas particulares.
Em linhas gerais a execução do PNLD ocorre em até dois anos. As obras
didáticas que comporão o Programa são inscritas pelos detentores de direitos
autorais, e, após triagem, são enviadas à secretaria finalística do MEC, responsável
pelo nível/modalidade de ensino, para avaliação pedagógica. Uma vez avaliadas, as
obras comporão o Guia do Livro Didático (instrumento contendo resenha detalhada
de cada obra)193, dirigido para professoras/es para ajudar na escolha do livro mais
adequado à sua realidade. A escolha é formalizada e registrada no SIMEC194. Após
essa etapa de escolha das obras, o FNDE processa os dados, gerando subsídios à
negociação e aquisição dos livros didáticos. Após parecer da secretaria finalística, é
providenciada a pretendida aquisição, antecipada pela negociação e distribuição.
O PNLD é uma iniciativa do MEC, cuja ação é realizada pelo FNDE. Seus
objetivos são a avaliação, aquisição e distribuição de obras didáticas, pedagógicas e
literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática,
regular e gratuita, às escolas públicas de educação básica das redes federal,
estaduais, municipais e distrital e às instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público. Prevê a
aquisição de material para estudantes com surdez e cegueira severa ou profunda,
em Libras e Braille, buscando garantir a inclusão de estudantes com estas
necessidades especiais nas escolas.
O atual modelo do PNLD foi consolidado pelo Decreto nº 9.099, de 18/07/2017,
o qual apresenta algumas mudanças em comparação ao anterior, o Decreto nº
193
Os Guias de Livros Didáticos eram encaminhados para professoras/es, mas atualmente podem ser acessados no portal do FNDE. Cf. Guia do Livro Didático. Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/livro-didatico/guia-do-livro-didatico?start=20>. Acesso em: 17 jan. 2019. 194
O Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação (Simec) é um portal operacional e de gestão do MEC, que trata do orçamento e monitoramento das propostas on-line do governo federal na área da educação. Também no Simec as/os gestoras/es verificam o andamento dos Planos de Ações Articuladas em suas cidades.
302
7.084/2010. Com a edição do Decreto nº 9.099/2017 todos os Programas do Livro
foram unificados. Assim, as ações de aquisição e distribuição de livros didáticos e
literários, anteriormente contempladas pelo PNLD e pelo PNBE, foram consolidadas
em um único Programa, então denominado, ―Programa Nacional do Livro e do
Material Didático – PNLD‖. O período de vigência de cada edição do PNLD passou
de três para quatro anos. Também observamos que o Decreto nº 9.099/2017 prevê o
apoio do PNLD à implementação da BNCC, apesar de não homologada e aberta a
revisões na data de publicação.
Por meio de Editais, o MEC estabelece regras e diretrizes que orientam o
processo de execução do PNLD. Portanto, o Edital é um documento de destacada
relevância tanto para autoras/es quanto para as empresas editoras.
As inovações do referido Decreto podem ser identificadas no Edital nº 01/2017,
que objetivou a convocação para o processo de inscrição e avaliação de obras
didáticas para o PNLD 2019 (séries iniciais). Focalizaremos as principais mudanças
ao longo de nossas análises.
Em seus princípios gerais todos os Editais seguem as linhas definidas pelos
instrumentos legais que regem o PNLD195. Alguns exemplos,
O acesso aos bens culturais produzidos pela humanidade é um dos direitos fundamentais do cidadão. A educação escolar, como instrumento de formação integral dos alunos, constitui requisito fundamental para a concretização desse direito. Para tanto, a educação deve organizar-se de acordo com a legislação em vigor, de forma a respeitar o princípio de liberdade e os ideais de solidariedade humana, visando assim, ao pleno desenvolvimento do educando, ao seu preparo para o exercício da cidadania e à sua qualificação para o trabalho (EDITAL DE CONVOCAÇÃO 06/2011 – CGPLI – PNLD 2014, p. 52).
A União, por meio do Ministério da Educação (MEC), representada pela Secretaria de Educação Básica (SEB) e pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), em cooperação com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com base no art. 208, VII, da Constituição Federal de 1988, na Lei nº 9.394/1996 e no Decreto nº 9.099/2017, faz saber aos interessados que
195
Além da Constituição Federal de 1988, atualizada com as Emendas e Revisões Constitucionais, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com as respectivas alterações legais (Lei nº 10.639/2003, Lei nº 11.274/2006, Lei nº 11.645/2008, Lei nº 11.525/2007, LEI nº 13.415/2017), o Estatuto da Criança e do Adolescente; o Estatuto da Pessoa com Deficiência; O Estatuto do Idoso; a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências; as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola; as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos; Parecer CNE/CP nº 3, 10/03/2004 e Resolução CNE/CP nº 01 de 17/06/2004 – Aborda assunto relativo às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, entre outros instrumentos legais.
303
se encontra aberto o processo de aquisição de obras didáticas no âmbito do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2017 – CGPLI – PNLD 2019, p. 1).
Entre os princípios gerais, como parte integrante de suas propostas
pedagógicas, ―as obras didáticas devem contribuir efetivamente para a construção
de conceitos, posturas frente ao mundo e à realidade, favorecendo, em todos os
sentidos, a compreensão de processos sociais, científicos, culturais e ambientais‖.
Nessa perspectiva, elas devem representar a sociedade na qual se inserem,
procurando:
1. promover positivamente a imagem da mulher, considerando sua participação em diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder, reforçando sua visibilidade e protagonismo social; 2. abordar a temática de gênero, visando à construção de uma sociedade não-sexista, justa e igualitária, inclusive no que diz respeito ao combate à homo e transfobia; 3. proporcionar o debate acerca dos compromissos contemporâneos de superação de toda forma de violência, com especial atenção para o compromisso educacional com a agenda da não-violência contra a mulher; 4. promover a educação e cultura em direitos humanos, afirmando os direitos de crianças e adolescentes, bem como o conhecimento e vivência dos princípios afirmados no Estatuto do Idoso; 5. incentivar a ação pedagógica voltada para o respeito e valorização da diversidade, aos conceitos de sustentabilidade e da cidadania, apoiando práticas pedagógicas democráticas e o exercício do respeito e da tolerância; 6. promover positivamente a imagem de afrodescendentes e dos povos do campo, considerando sua participação e protagonismo em diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder; 7. promover positivamente a cultura e história afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros, dando visibilidade aos seus valores, tradições, organizações, conhecimentos, formas de participação social e saberes sociocientíficos, considerando seus direitos e sua participação em diferentes processos históricos que marcaram a construção do Brasil, valorizando as diferenças culturais em nossa sociedade multicultural; 8. abordar a temática das relações étnico-raciais, do preconceito, da discriminação racial e da violência correlata, visando à construção de uma sociedade antirracista, solidária, justa e igualitária (EDITAL PNLD CIÊNCIAS 2017, 2015, p. 40).
É importante destacar que os editais do PNLD, desde as edições mais antigas
até a mais recente (PNLD Ciências 2020)196, publicado em 01/10/2018, indicam
claramente a ―observância aos princípios éticos necessários à construção da
cidadania e ao convívio social republicano‖. As obras que não respeitam esta
determinação são excluídas. Sendo assim, a obra deve: estar livre de estereótipos
ou preconceitos de condição socioeconômica, regional, étnico-racial, de gênero, de
orientação sexual, de idade, de linguagem, religioso, de condição de deficiência,
196
Cf. FNDE. Edital consolidado PNLD 2020 - 01/10/2018. Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/consultas/editais-programas-livro/item/11555-edital-pnld-2020>. Acesso em: 12 jan. 2019.
304
assim como de qualquer outra forma de discriminação, violência ou violação de
direitos humanos; estar livre de doutrinação religiosa, política ou ideológica,
respeitando o caráter laico e autônomo do ensino público; promover positivamente a
imagem de afrodescendentes, considerando sua participação em diferentes
trabalhos, profissões e espaços de poder, valorizando sua visibilidade e
protagonismo social; promover positivamente a imagem da mulher, considerando
sua participação em diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder,
valorizando sua visibilidade e protagonismo social, com especial atenção para o
compromisso educacional com a agenda da não-violência contra a mulher; promover
positivamente a cultura e a história afro-brasileira, quilombola, dos povos indígenas e
e dos povos do campo, valorizando seus valores, tradições, organizações,
conhecimentos, formas de participação social e saberes; representar a diversidade
cultural, social, histórica e econômica do país; representar as diferenças políticas,
econômicas, sociais e culturais de povos e países; promover condutas voltadas para
a sustentabilidade do planeta, para a cidadania e o respeito às diferenças; estar
isenta de publicidade, de marcas, produtos ou serviços comerciais, exceto quando
enquadrar-se nos casos referidos no Parecer CEB nº 15 de 04/07/2000 (PNLD
CIÊNCIAS 2020, 2018, p. 39).
Nos Editais do PNLD são apresentadas a caracterização das obras didáticas
(componentes curriculares, ano de escolaridade, tipo de obra) e os critérios para
participação e inscrição de livros, bem como os princípios e critérios de avaliação,
prazos de entrega e os parâmetros de triagem. Embora sigam as linhas definidas
pelos instrumentos legais que regem o programa, os Editais não são idênticos, pois
podem incluir exigências novas entre uma e outra edição do PNLD. Por exemplo, no
Edital do PNLD 2010 foi apresentada a exigência da nova ortografia da Língua
Portuguesa. Com a edição do referido Decreto, o PNLD 2019 já está alinhado com
as novas diretrizes da BNCC.
Este edital irá utilizar esta versão como critério, mesmo entendendo que a versão final da BNCC depende da discussão e aprovação do Conselho Nacional de Educação e posterior homologação pelo Ministro da Educação. Eventuais alterações da BNCC em relação à versão aqui apresentada serão tratadas conforme o item 5.4 deste edital (EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2017 – CGPLI – PNLD 2019, p. 28, grifo do documento)
197.
197
5.4 A partir de notificação ou convocação específica do Ministério da Educação, o editor se compromete a: 5.4.1 fazer adequação da obra quando da publicação da Base Nacional Comum Curricular, após a aprovação do Conselho Nacional de Educação e homologação do Ministro de
305
Sobre essa determinação, a Abrale, entidade que representa 96 autoras/es
associados se posicionou através do ―Parecer sobre a BNCC (3ª versão)‖,
documento encaminhado ao Conselho Nacional de Educação (Comissão Bicameral
– BNCC).
Em princípio, nos alegra a expectativa de que os livros sejam peças-chave na implementação da BNCC e a participação nesta etapa dos debates, junto ao Conselho Nacional de Educação. No entanto, é preocupante que um documento ainda não homologado e aberto a revisões seja, de imediato, a referência para elaboração e avaliação de livros e materiais didáticos para o PNLD 2019 (ABRALE, 2017, p. 1).
Identificamos que as análises das/os autoras/es abralistas estão
fundamentadas a partir da seleção e sequenciação de conteúdos e habilidades,
considerando as novas diretrizes e os PCN, os referenciais teóricos no campo das
áreas de conhecimento específicas e nos campos pedagógicos, didáticos e
metodológicos, além de suas práticas e intercâmbios com educadoras/es e
editoras/es.
[...] nós estamos nessa discussão sobre a BNCC, né. Estamos consolidando as opiniões. Hoje à tarde eu vou terminar a primeira versão (com base nos colóquios realizados anteriormente) do documento que a gente vai entregar para o Conselho Nacional de Educação, né. E, você vê, né, primeira versão, depois todo mundo participa, dá retoques, completa. A gente tem um trabalho bem participativo dentro da Abrale, né (AUTORA E, 17.08.2017).
As/os autoras/es entrevistadas/os também se debruçaram sobre o documento
já que ele constitui uma das diretrizes para o trabalho que realizam. Assim como
as/os abralistas, as/os entrevistadas/os teceram críticas à BNCC em relação aos
PCN e a proposta do trabalho com temas transversais.
Então, a BNCC, ela dá uma direção, né. Fala: “oh, tal conteúdo”. Na verdade ela não trabalha com conteúdo, trabalha com habilidades, né. Eles falam ―oh, no sexto ano tem que ter essa habilidade e tal habilidade está vinculada a um conteúdo‖. Então a gente está tendo que reestruturar toda a obra, reescrever tudo por conta disso. Então, se a gente quiser inscrever no PNLD vai ter que seguir isso daí (AUTOR U, 22.08.2017).
Estado da Educação; 5.4.2 alterar a obra aprovada em caso de identificação de correções ou atualizações necessárias; e 5.4.3 apresentar novo material digital para a segunda metade do ciclo de atendimento deste edital. 5.4.4 apresentar planos de desenvolvimento bimestrais/trimestrais no manual do professor digital dos anos iniciais do ensino fundamental para uso a partir do segundo ano do ciclo de atendimento deste edital (EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2017 – CGPLI – PNLD 2019, p. 5, grifos do documento).
306
Para o Autor U, a BNCC implicou perda de autonomia.
Então, nós temos uma mudança agora, né. Porque o tema, a gente escolhia antes. A gente via pela experiência em sala de aula [...] que tema cabia mais pra o sexto ano, para o sétimo e oitavo. Montamos a nossa obra dessa maneira e vimos que todo mundo trabalha mais ou menos nesse sentido, eu acho que pela própria experiência. Então, já não temos mais essa autonomia. Então, a gente vai nesse sentido. Olha, eu não vejo com bons olhos isso daí. Não pelo fato de vir um projeto e falar: ―olha a BNCC trabalha...‖. O problema é que essa BNCC, ela não foi é... não surgiu democraticamente. Entendeu? Não teve discussão, né. A pouca discussão que teve surgiu no seguinte sentido, eles mandaram, publicaram e falaram: ―ah, olha, o que vocês acharam?‖. Desceram a lenha. Eles mudaram uma ou outra coisinha e reapresentaram: ―olha, depois das discussões‖. Quer dizer, é um negócio vindo de cima pra baixo, tem que ser desse jeito. E isso é ruim, né. Porque tem coisas que a gente já detectou, e erros, né, nas habilidades. E tem coisas que assim, não casam bem pra faixa etária. Mas não tem muito diálogo, não teve muito diálogo. Então, pra gente é ruim isso, nesse sentido. Se fosse algo construído, né? Eu acho que seria melhor. [...] E eu, particularmente, não gosto de como veio. Então, eu acho que nisso a gente perdeu autonomia (AUTOR U, 22.08.2017, ênfase do entrevistado).
Para o Autor U a ausência de menção aos PCN “pega mal porque PCN foi de
certa maneira construído. Houve uma construção. E a BNCC tiraram da cartola”.
Os erros nas habilidades, apontados pelo Autor U também foram mencionados
pela Autora E, que fez referência aos erros e inconsistências em Matemática, na
versão vigente no momento da entrevista (3ª versão).
Você tem na BNCC competências gerais que não são ruins. São boas. Até a palavra sustentabilidade aparece lá, né? Aparece a competência socioemocional, sustentabilidade, respeito, diversidade. Está tudo lá. [...] então, eu acho o seguinte, que ao fazer as reformulações, eu espero que não se perca tanto, no sentido de preservar aquilo que havia e utilizar como referência não apenas as habilidades, que são ruins. [...] Estamos reparando nas “pérolas” da BNCC. Porque, realmente, é cheio de pérola essa [...] BNCC. Tem cada habilidade lá que é incompreensível até pelos especialistas de Matemática mais incríveis. Nós tivemos no segundo debate, reunidos três autores de Matemática, fantásticos. Os caras leem três, quatro vezes e não conseguem entender certas habilidades da BNCC. Por quê? Porque está errado. Entendeu? As habilidades em Matemática, que são obrigatórias em 100% do livro didático. Nós vamos pedir para baixar para 80% das habilidades no PNLD. Vamos ver se a gente consegue, né? Mas, enfim... mesmo sem conseguir, o professor pula aquela atividade, relacionada a habilidades esdrúxulas da BNCC. Ele tem essas possibilidades, né (AUTORA E, 17.08.2017, grifo da pesquisadora).
Posteriormente fomos informadas sobre o retorno ao pedido para baixar o
percentual das habilidades no PNLD. “Não conseguimos. Não foi atendido o pedido
da Abrale” (Autora E, 11.12.2017).
307
De sua parte, abralistas apontaram a ausência dos temas transversais Saúde,
Orientação Sexual, Pluralidade Cultural e Meio Ambiente, os quais ocupam
destacada importância nos PCN, ―com textos próprios‖ e ―menções específicas nos
componentes curriculares e documentos de introdução‖. No entanto, foram
abandonados na BNCC, o que para muitas/os, até mesmo as/os entrevistadas/os
representa um retrocesso.
Ficou preservada dos PCN a menção à estratégia de transversalidade para temas especiais, que na atual versão da BNCC chamam-se temas contemporâneos. [...] Seria esperado que esses temas, mencionados direta ou indiretamente nas Competências Gerais da BNCC, ganhassem mais visibilidade nos componentes, porém, eles desaparecem nos componentes, ou são mencionados insuficientemente tendo em vista a progressão de conhecimentos pretendida. Muitos de nós, abralistas, compreendem essas ausências como retrocesso da BNCC (2017) em face aos PCN (1997) (ABRALE, 2017, p. 3).
Esse ponto crítico é compartilhado. A Autora E destacou que “[...] nós viemos a
ter BNCC só agora. E falando mal, né, falando mal dos Parâmetros, né, no começo,
jogando no lixo os Parâmetros. Quer dizer, tudo isso desautorizou aquilo que estava
colocado antes”.
Então, vamos dizer, quem estava pondo Meio Ambiente, Educação Sexual por pura obrigação, tirou. Porque não tem mais obrigação, pra que eu vou por? Então, enfraqueceu. Ficou naquela coisa comercial. [...]. Na segunda versão tinha o tema Ambiente. Na terceira versão não tem. Não tem (AUTORA E, 17.08.2017).
Nas palavras da Autora A também destacou falhas na BNCC e isso implicou
perda de legitimidade.
[...] Bem, é, que a gente sempre, primeiro, querendo ou não, fica um pouco preso ao contexto em que o livro está sendo produzido, quer dizer, agora, por exemplo, a gente tá revisando a coleção atentos à Base Nacional Curricular. Gostando ou não dela, como é o meu caso. Eu declaro publicamente que eu não gosto. Porque eu acho que ela deixou de fora algumas coisas importantes, dentre elas, a discussão explícita de combate ao preconceito de gênero, que eu acho que (risos) não é assim: ―ah, mas, professores podem falar‖. Claro que eu posso trabalhar isso. Eu não estou proibida. Só que, ao não explicitar, né, você deixa de reforçar o quanto é importante e tira a força, por exemplo, de um professor que queira trabalhar gênero na escola e que poderia se apoiar, como tínhamos nos Parâmetros, né. Os Parâmetros recomendam, né, que se trabalhe a Orientação Sexual. Então, quando você exclui de um documento oficial, você tira a legitimidade. Deixa no âmbito do querer, deixa por conta do professor brigar lá pra trabalhar ou não (AUTORA A, 01.06.2017).
308
Ela destacou que “a Base Curricular, ao excluir o preconceito de gênero como
sendo um dos alvos de desconstrução vai na contramão das recomendações da
ONU”, alinhada à Agenda 2030198.
[...] como que o projeto Escola Sem Homofobia não foi adiante e um projeto Escola Sem Partido vai adiante? Como que é uma preocupação e aí as pessoas, ―o que é que a ONU tem a ver com isso?‖ (risos). Isso é uma coisa que eu fico assim..., a gente não sabe se ri ou se chora mesmo. ―O que a ONU tem a ver com isso?‖ É só a ONU, né? (AUTORA A, 01.06.2017).
A Autora A mencionou outros dois alvos de desconstrução não explicitados na
BNCC: o bullying e o preconceito racial. “Aí você também vê a questão do
esvaziamento das questões sociais”.
Então coloco bullying, eu acho que é uma coisa para ser discutida pela sociedade, né, não só sobre a escola. Quando eu coloco bullying no livro de Ciências, tem gente que diz assim: ―ah, mas pra quê isso?‖. Gente! [...] Discutir o racismo? Não. ―O que é que tem a ver?‖. [...] Mas quando você não explicita isso, complica. Eu acho que era um ponto positivo dos Parâmetros. [...]. Agora, no lugar de se abrir mais, esse negócio está implícito. Explicitou certas coisas bem quadradinhas e fechou para outras. É óbvio que vai virar... Minha esperança é que se tem PEC, a gente pode tentar, né. Se tem PEC contra o trabalhador, contra a sociedade, também pode ter uma mudança a favor, né. Porque eu quero crer que vai ter um novo Ministério da Educação, que as coisas vão ser discutidas de novo. Eu quero crer. Nesse ponto eu sou otimista, só que eu acho que não vai ser assim, em curto prazo. Porque algumas pessoas acham que é besteira mesmo, né. ―Pra quê, gente? isso aí está implícito‖. Não gosto de coisas implícitas. No que depender de mim estará explícito no meu livro (AUTORA A, 01.06.2017).
A abertura para discussões é um ponto positivo dos PCN, compartilhado pela
Autora A e Autora E.
Tudo bem, os PCN foram inspirados na reforma espanhola, teve aquela equipe externa, né, César Coll..., tudo bem. Mas a gente, além de explicitar certas coisas, dava pano para você fazer umas costuras interessantes, trazer discussões... (AUTORA A, 01.06.2017). Ah, sem dúvida, os PCN deram camisa pra muita gente. Espera lá. Fizeram muita pesquisa de tudo, dos vários objetos de conhecimento tratados nos PCN... tem trechos meus que eu já vi citado lá em n lugares. Falei: ai que bom que leram e entenderam, que legal, né. Imagina. Os PCN foram ótimos. Eu acho que... agora eu também sou suspeita, né verdade? Porque eu também sou mãe dos PCN, escrevi, né (AUTORA E, 17.08.2017).
198 ONU. Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 23 mar. 2017.
309
A Autora E apontou “a perda da importância daquilo que foi a educação
ambiental que é hoje a educação para a sustentabilidade” e fez um apelo à
consciência de autoras/es para reintroduzi-la.
[...] quer dizer, perdeu importância, perdeu, perdeu, perdeu tanto que nem está na BNCC mais. Né. Então não existe. Perdeu tanto que não existe no referencial nacional e deverá ser reintroduzido pelos autores. Fica na consciência dos autores. Né? Porque aí, realmente, eu posso ficar reprovada, mas eu não vou tirar o ambiente do meu livro. [...]. Em educação não dá pra começar do zero. A gente regride. A gente volta para as cavernas, né? A gente tem que inovar com cautela, respeitando o passado. Eu já me coloquei aqui como uma inovadora. Tudo o que eu fiz prova isso fartamente. [...] mas eu procuro respeitar o passado, gente, o que é isso? Não dá pra começar do zero, sabe? O passado imediato, né? E a BNCC tem que respeitar os PCN, que é o irmão mais velho. E não respeitou (AUTORA E, 17.08.2017).
Assim como a Autora E, a Autora A também fez referência à mudança de
nomenclatura e à transversalidade do tema. Ambas as autoras disseram que esta é
uma opção mais do campo político que teórico, mas não ignoraram as implicações
na educação.
Olha, a questão da nomenclatura eu acho que é sempre uma atualização mais teórica do que prática. Eu entendo que em vários momentos o que acontece na Educação é isso, né, você precisa atualizar. Outras vezes são questões políticas mesmo, né. Não é nem tanto uma atualização do ponto de vista da tendência teórica, mas uma opção política, né. Eu vejo mais por aí (AUTORA E, 17.08.2017).
Acaba sendo aquele filho que não é de ninguém, né. O que acontece? A própria educação ambiental, assim, embora, é consenso de estudiosos, [...] quer dizer, um consenso relativo. O que predomina é quase um consenso, que não deveria ser uma disciplina. Então já tinha essa discussão, que não tem que ser uma disciplina no currículo. Ok. Quando a gente teve os PCN tem lá Meio Ambiente como tema transversal, toda a discussão. Só que no lugar de você ter que pensar então, por não ser uma disciplina, por trazer questões transversais, disciplinares, transdisciplinares, deveria estar presente no projeto pedagógico e estar mais presente, acaba que ninguém trabalha. Então fica assim, como se o professor de Ciências trabalhe lá como conteúdo e não se desenvolve nenhum projeto, seja dentro de educação ambiental ou desenvolvimento para a sustentabilidade. Então, não adianta mudar o nome se a mesma coisa que acontecia, assim embora eu entenda que a gente tenha pensado porque é diferente eu trabalhar, por exemplo, falar sobre resíduos, falar sobre lixo, se eu tenho lá uma visão de educação para a sustentabilidade, isso está implícito que eu vou ter uma abordagem diferente. O próprio gênero, como você falou, se eu trabalho gênero. Talvez eu não trabalhasse gênero dentro da educação ambiental tradicionalmente, mas ao falar de sustentabilidade, eu abra mais. Então, nesse ponto seria um ganho. Só que, se for só estar lá, pode acabar sendo aquela coisa que todo mundo acha lindo. Mas que não se trabalha em lugar
310
nenhum, se dilui de tal forma que cai no lugar comum (AUTORA A, 01.06.2017, ênfase da entrevistada).
“Eu não vejo como um trabalho de desenvolvimento para a sustentabilidade
sem estar articulado não só com os ministérios, com outros organismos, com
secretarias de educação”.
Tem que ter um esforço, tem que ter, ao estar no (Ministério) Meio Ambiente, sem uma articulação com o Ministério da Educação. Isso vai acabar diluindo, diluindo, diluindo até ficar aquela coisa tênue, de eventos pontuais. Porque também agora, o que é o Ministério da Educação, gente? A gente nem sabe, o que que é. Dizem que está lá, dizem que não acabou, não, a Secretaria de Diversidade (AUTORA A, 01.06.2017, ênfase da entrevistada; grifo da pesquisadora).
Foi nesse contexto que a Autora A informou sobre os trabalhos realizados junto
à Unesco e apontou as dificuldades enfrentadas pelas escolas: os projetos
pedagógicos, a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade.
“[...] então, tinha um projeto pedagógico. Tinha. Eles pegam que conteúdo?
Olha como o Autor de livro didático tem uma responsabilidade”.
Em uma determinada escola, a equipe docente e gestora era ótima, mas tinha lá um documento que ninguém olhava, ninguém viu, ninguém revia. Vamos rever, né, se está atendendo. [...]. O que o livro que a gente adota, tem qual sequência? Ah, a sequência do livro didático, da criança, aqui, muito bem. Vamos fazer uns projetos (AUTORA A, 01.06.2017).
As orientações que a Autora A apresentou são um exemplo prático de
formação continuada de professoras/es no contexto da educação para a
sustentabilidade. “E aí qual foi a minha orientação?”. [...] daí procurei mostrar, tipo
mapa conceitual. Uma coisa simples mesmo, no chão, no papel”
Por exemplo, em uma escola lá eu discuti... Pessoal, o que vocês têm que trabalhar, pessoal de terceiro ano, por exemplo, de Ensino Médio. É o que sobra né, o que a gente não trabalhou nos outros anos agora vai trabalhar com o pessoal de terceiro ano. Então já sabe que não vai dar para trabalhar tudo, né. Então, vamos pegar aqui: selecionar alguns conteúdos nas áreas. Tá. Agora por área, pelo menos. Que conceitos vocês veem como interessantes? Conceito, gente. Ah, dentro desses conceitos aqui, da área, será que tem alguma articulação com as outras áreas? Ah tem uma articulação. Ok. Então, esse ano aqui vocês querem trabalhar esses conceitos. Que contextos significativos para o estudante seriam interessantes a gente trazer e que permitissem que fossem férteis, favoráveis ao trabalho desses conceitos? ―Ah, tem aqui a questão da Matriz Energética, por exemplo, que está sendo discutida e que daria para
311
trabalhar‖. Ok. Então, dentro de Matriz Energética tem as questões históricas, geográficas que têm a ver também (AUTORA A, 01.06.2017).
“Sem forçar, gente, sem forçar. Porque tem também aquilo, é assim, ―ah a
gente pode trabalhar isso, pode trabalhar aquilo‖ e daqui a pouco está tudo
fragmentado de novo”.
Não. Sem forçar. Ok. Então é aqui. Agora, esse projeto que você vai trabalhar investigando, problematizando em cima de Matriz Energética. Ok. O que precisa de Biologia, de Sociologia? ―Isso‖. Quanto tempo? ―Três meses‖. Gente, acabou. Não precisa ser o ano inteiro falando de Matriz Energética. Então, ok. Às vezes, ah, aqui, pontualmente, a gente vai precisar de Matemática. Ok, pontualmente. Então não precisa forçar a inserção. E aí, a aula de Biologia, a aula de História, é o conteúdo que o Professor está trabalhando normalmente que subsidia o projeto. Tudo bem que o estudante vai fazer investigações mais aprofundadas, ele vai fazer um trabalho de campo, vai trabalhar com a comunidade, vai entrevistar. Ok, se espera isso. Mas não pode ter uma coisa do tipo, eu vou ter aula comum e ter a aula do projeto. Porque acaba acontecendo isso, quando não se explicita, né [...] (AUTORA A, 01.06.2017).
[...] por exemplo, se eu não tenho lá no projeto pedagógico fica complicado.
Mas se escrevemos isso no projeto, se dentro da missão da escola está educar para
a sustentabilidade, supõe-se que isso tenha que ser contemplado na prática
(AUTORA A, 01.06.2017).
A maioria das/os entrevistadas/os questionou os motivos por trás dos fatos.
Principalmente, questionaram o porquê da retirada da temática ambiental na BNCC.
“Agora veio a BNCC e cortou de vez essa parte na Física [...] há uma
manipulação em relação a isso?” (Autor U, 22.08.2017).
[...] então não existe mais, né. [...] eu vejo assim, será que é uma necessidade do mercado, né, que eu não estou enxergando? Será que os estudantes, os professores não estão gostando de falar disso e por isso que a Editora..., né? Ou se há uma manipulação em relação a isso? Entendeu? Porque eu acho bacana, né, mas eu vejo assim, que nessa BNCC, você tem uma preocupação muito mais histórica, né, de você ter a história e a evolução de conceitos do que uma preocupação com o meio onde ele está inserido. Fato. Eu acho que isso daí é muito mais político, né (risos). [...] sei lá, eu acho que nós estamos, aqui no Brasil, construindo um estudante que não interage muito. Entendeu? Um cara que aceite sem questionar muito [...] tipo aquele cara que se emociona vendo Rede Globo, sabe? (AUTOR U, 22.08.2017). Isso é o fim do mundo. Eu acho que ainda que não haja um momento em que se escreva, “agora é meio ambiente”, porque como eu acabei de falar, tem que ser sempre, permear tudo, todas as matérias, todos os momentos, todas as séries, vertical, horizontal. Mas, tirar não pode (Autor I, 22.08.2017).
312
“Mas a gente está vendo uma certa coincidência de más intenções [...]”
(AUTORA E, 17.08.2017).
E... agora, eu sinto falta, né. Eu acho que a BNCC está comendo bola no campo da educação ambiental, tá. Por que está fazendo isso eu não ousaria explicar. Mas a gente está vendo uma certa coincidência de más intenções em relação à Educação Indígena, à preservação do território indígena, à preservação do ambiente, da preservação das áreas que deveriam ser santuários nacionais e não são, né, por razão da Amazônia, certo?, da ocupação da Amazônia, né, com as terras produtivas, né, ahnnn, com o que mais? Então tem tudo isso concomitante (AUTORA E, 17.08.2017).
“É óbvio que há uma tentativa de diluição né, das questões sociais, dos
embates, dos movimentos sociais. Então vamos voltar a uma visão cartesiana,
aquela coisa das Ciências Naturais neutras, da racionalidade técnica” (AUTORA A,
01.06.2017).
A gente não quer ter aquela mania... não quer ser paranoico, entrar na linha da... tudo é conspiração. Mas ao mesmo tempo não podemos ser ingênuos, gente! [...] é um retrocesso total. Total. Não tem como. Gente, eu não consigo trabalhar quase nada de Biologia, por exemplo, sem abordar o contexto social, as implicações sociais, sociopolíticas, não tem como. Eu não consigo trabalhar Ambiente, não consigo trabalhar Corpo, não consigo trabalhar Alimento, não consigo trabalhar Evolução. Não consigo. Eu não sei como os colegas conseguem. Porque eu não consigo. É antinatural você trabalhar assim. Por quê? Porque você ignora as implicações políticas, toda forma de conhecimento, toda ação antrópica. Então, eu acho, só quero crer, se alguém que foi convocado para construir um currículo não teve essa preocupação, eu me recuso a crer que seja uma questão de desconhecimento, uma questão de incapacidade. Eu acho que é uma opção política (AUTORA A, 01.06.2017).
A Autora E questionou as implicações da BNCC sobre a produção de livros
didáticos. Também apontou aspectos relacionados às avaliações de larga escala
que serão foco de análise em outro eixo.
Sabe que a BNCC trás tantos percalços. São tantos. Discrepância entre a parte inicial e as habilidades, que, afinal, são as obrigatórias de fato, né. Porque o decálogo das dez competências ninguém vai dizer que aquilo é obrigatório, né, porque aquilo lá é um sonho numa noite de verão, né. Agora o que é obrigatório é colocar planta no segundo ano, animal no terceiro ano e meio ambiente sabe-se lá, onde. Né? Porque não tem. Onde vai ser o meio ambiente? Então, o autor de boa consciência vai pondo, né. Onde ele achar. Mas, se não está lá é porque não vai entrar na avaliação. Certo? Porque aquilo lá foi feito pensando na avaliação, no Saeb (AUTORA E, 17.08.2017).
Ela apontou a presença de instituições do terceiro setor parceiras na educação.
Apontou um lado positivo, mas não deixou de assinalar pontos críticos.
313
[...] até eu, assim, estava cheia de preconceitos. Preconceitos mesmo porque a gente ouve falar muito e não vai ver direito a história, né. Ontem à noite que eu fui olhar. Então, a Fundação Lemann tem um papel. Eles estão fazendo uma coisa legal. Estão incentivando o planejamento. Isso é uma coisa legal. É importante incentivar o planejamento. Mas isso representa uns 30% da história, né? (AUTORA E, 17.08.2017).
Ela enfatizou: “esse planejamento precisa estar é... me veio a palavra eivado,
sustentado por valores, por uma ideologia digna, não sectária, né, democrática. A
escola é um espaço micropolítico. Ou meso, vai, mesopolítico. Porque a sala de
aula é um espaço muito político”.
Também apontou implicações da BNCC sobre as obras didáticas.
[...] então agora vai piorar o livro? Vai. Vai piorar. Muito? Não. Vai piorar um
pouco. Não vai melhorar. Porque podia melhorar, né? Já que essas bases são tão
bacanudas, segundo a Fundação Lemann, né (AUTORA E, 17.08.2017, ênfases da
entrevistada).
Por sua vez, a Autora A mencionou a presença de empresas parceiras do
segmento financeiro. Ela apontou a maneira invasiva com que esses grupos
interferem. ―E por conta disso as escolas tinham que fazer um monte de “projetos”
(aspas) relacionados a tal parceria. Mas era um monte de penduricalhos do
currículo” (AUTORA A, 01.06.2017, aspas da entrevistada).
Na oportunidade, ela orientou a escola no sentido de aceitar a parceria, mas
sem perder de vista as reais necessidades da instituição escolar.
Eu estava lá no Ceará fazendo um trabalho pela Unesco. [...] aí na época tinha uma parceria da Secretaria de Educação com determinado banco. [...]. Eu falei: gente, o projeto tem que estar a serviço do currículo. Então se naquele ano você definiu que dentro de Ensino Fundamental, vai trabalhar Seres vivos e Ambiente; se Ciências vai participar de algum projeto, espera-se que tenham projetos que trabalhem as questões que estão sendo trabalhadas em sala de aula. A sala de aula precisa subsidiar o projeto. Não pode ter aula de Ciências para trabalhar uma coisa que não tem nada a ver com o projeto e estou num projeto com Ciências. Porquê? ―Porque a gente tem uma parceria‖. Gente? E aí, faz o que? Ignora as parcerias? Não. Olha só, que parcerias vocês querem oferecer? ―Ah, a gente quer oferecer laboratórios‖. Ok. Mas olha só, nossa demanda é isso aqui. Então vamos tentar ver como é que vocês podem nos ajudar, né. Não pode ser uma invasão. Você chega assim, e aí o diretor quer mostrar que a escola faz tudo, que a escola tem mil parcerias, que a escola desenvolve um monte de coisas e fica tudo assim, enganchado no currículo, aqueles penduricalhos no currículo que não tem nada a ver com o que se está trabalhando (AUTORA A, 01.06.2017).
314
Em nossos estudos temos acompanhado o surgimento de importantes gestores
de fundos de investimentos motivados por missões socialmente responsáveis, que
se mostram comprometidos com o meio ambiente, respeitosos com os direitos
humanos e sociais, de gênero, raciais e da infância. Mas a estratégia não é altruísta,
baseia-se na convicção de que a sustentabilidade será um fator importante para o
desempenho comercial de longo prazo.
Quanto à BNCC, a Autora A enfatizou os impactos na sala de aula. Apontou
retrocessos e criticou a visão eurocêntrica do currículo. “É uma opção política. [...] é
uma tentativa de esvaziamento, de cerceamento de ideias, de conservadorismo,
sim”.
[...] é uma opção de realmente você esvaziar a discussão. E aí eu tenho que contar com a autonomia do professor e aí é aquela preocupação, né. Porque o professor tem que chamar muito a atenção. Na sala de aula, gente, se a sua secretaria vai fazer uma opção tradicional, se a sua escola vai fazer uma opção tradicional, lembrar que você tem que identificar, como professor, as linhas de fuga e na sua sala de aula fazer diferente. Mas não é o ideal, né. Porque se eu tenho uma política pública, tenho um currículo que supostamente foi discutido e ele retrocede, ele ignora, vai na contramão de tudo o que se pensa, acho que é uma opção claramente política. Não tem nada de neutro. E aí me irrita ver, quando vem representante do MEC lá dizer, ―ora, isso aqui não é o currículo‖. Eu sei que não é o currículo. ―Isso é um norteador‖. Gente, olha só. Primeiro que eu não quero nem um norteador, eu quero um suleador (risos). Então não quero um norteador, já é hegemônica essa visão eurocêntrica aí, ―vamos nortear‖. Não. Vamos sulear, né. Então também é querer subestimar a minha inteligência, achar que isso não tem legitimidade, que isso não vai impactar, que isso não vai limitar a abordagem nos currículos. Ora, gente, até nos Editais de avaliação de livros, né, é óbvio. Então me dá uma irritação quando vem essa coisa, ―ai isso não é o currículo‖. Ah que bom, né, não é o currículo. Mas está escrito lá, o que se considera importante. Está implícito claramente o que não se considera [...] (AUTORA A, 01.06.2017).
De sua parte, as/os abralistas apontaram as implicações da ―descontinuidade
entre as propostas da BNCC e os referenciais curriculares‖ que até então orientavam
a educação brasileira. Defenderam que os referenciais curriculares ―persistem no
imaginário e na prática‖ de profissionais da educação e argumentaram que ―não é
possível trocar referenciais instantaneamente‖.
Esse aspecto foi apontado em todas as entrevistas. Implica a formação de
professoras/es que colocarão as novas diretrizes em prática na sala de aula.
Também por isso a contribuição do PNLD e os livros didáticos como peças-chave no
processo de implementação da BNCC.
Os PCN já vinham sendo trabalhados, né. Era uma proposta mais aberta. Então havia uma evolução dela. E a BNCC, não. Ela veio e nós vamos ter
315
que construir a evolução dela, né. O impacto vai ser esse, vai dar mais trabalho para o professor. O professor é que vai sofrer mais. Entendeu? Eu acho que o impacto maior é esse. E... nossa, em outros aspectos? É porque, assim, poderia ter aspecto na formação do estudante. Mas, eu não vejo um reflexo ali porque vai cair na mão do professor e ele não tira leite de pedra. Você entendeu? Ele faz o negócio acontecer. Então, eu acredito muito no professor (AUTOR U, 22.08.2017).
“[...] a gente quer trazer o estudante para a realidade pra ele interagir com o
meio, né. Então, a gente vai acabar arredondando essa BNCC. É fato”.
É como eu falei, né, eu vejo a BNCC como uma bolha de sabão. E nós vamos ter que mexer e mudar isso daí, construir, transformar isso numa realidade futura. Nós, quem? Nós, a sociedade, a sociedade. Não é só, o aluno, o professor, os gestores. Nós, a sociedade, vamos ter que construir isso, né. Porque assim, nós, professores não... assim, não ficamos à vontade com uma coisa assim, meio que, limitada [...] (Autor U, 22.08.2017).
A Autora A e o Autor I também apontaram dificuldades na implantação da
BNCC, tanto no âmbito operacional quanto nos aspectos pedagógicos.
O Autor I se colocou da seguinte maneira: “os PCN foram uma obra muito bem
feita e o uso deles é muito complexo. E assim vai ser com a Base‖ (Autor I,
22.08.2017).
A Autora A, que trabalhou com orientações educacionais complementares aos
PCN apontou um aspecto importante dessa problemática: ―não é que o professor
não tenha capacidade de entender o texto, mas pra ele fica tão distante do que
enfrenta cotidianamente que ele acaba ficando meio refratário”.
Eu gostava dos PCN. Eu, quando vejo hoje essa Base Nacional Curricular, acho que a gente retrocedeu muito. Tinha problemas nos PCN? Algumas coisas talvez. Porque eu acompanhei no MEC os PCN do Ensino Médio também e como a gente teve que fazer os PCN Mais, os PCN em Ação, para que os professores tivessem uma clareza maior do que se pretendia. É sempre muito difícil porque, eu escrevo material para a Unesco, né, para professores, e cada vez mais a gente pensa assim, que está claro. Aí, tem que clarear mais. Por quê? Porque se você é doutor, você vai fazer um artigo, você vai fazer um texto, e ainda que seja para professor, você resiste em usar uma linguagem muito coloquial. Você resiste em fazer uma coisa que pareça feijão com arroz. Você resiste. Aí você acha que vai ser muito prescritivo. Aí, eu estou dando receita de como dar aula? Aí você, não. Você fica citando autores pra embasar. E aí, sabe, o professor não se vê no texto. [...] então, você se despir dessa vaidade é que dói, tá. Ah, então eu não vou ficar citando autor. Eu vou dialogar com o meu colega aqui de uma forma mais direta. Não é fácil. Porque sempre outro colega acadêmico pega o seu texto: ―[...] mas, tá, cadê as citações? Cadê as referências ...‖. Então, o livro didático, nesse ponto, dialoga com o professor (AUTORA A, 01.06.2017).
316
Entendemos que no conjunto essas questões implicam um compromisso maior
por parte das instituições de ensino superior, no que se refere à formação de
professoras/es e à avaliação de materiais didáticos. Isto porque as universidades
refletem importantes aspectos, seja nas reformas curriculares e nas avaliações de
obras didáticas que contam com a participação delas, seja na formação do
professorado brasileiro que atua nos níveis básicos da educação.
De nossa parte, não ignoramos que a implantação da BNCC exige
investimentos financeiros. Assim, procuramos investigar a questão no último
Relatório de Gestão do FNDE, exercício de 2017, publicado em 2018 identificamos o
aporte de R$ 100,45 milhões para atender a iniciativa.
Quanto à dimensão de formação de professores, dos profissionais de serviço e apoio escolar, o FNDE, em 2017, apoiou o início da implantação da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), anunciada em 2016, e que pode ser definida como um conjunto orgânico e progressivo de propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas de todas as etapas e modalidades da Educação Básica brasileira. Além disso, importa ressaltar que a BNCC é um documento de caráter normativo e exigido pela Constituição Federal (CF) de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e pelo Plano Nacional de Educação (PNE). Assim, em 2017, o valor destinado para atender a essa iniciativa foi de R$ 100,45 milhões (FNDE, 2017, p. 33).
A Autora E atentou à inovação no Edital de 2019: “O PNLD atual pede
Interdisciplinar. Mas eles não fizeram consulta. Eles, os Técnicos, entende? Tá
fraco, né. Chato, né? Ensina errado [...]”
O PNLD atual, que é o de 2019, pede interdisciplinar. Trocaram as bolas, né. Trocaram as bolas. O projeto que devia chamar interdisciplinar, eles chamam de integrado e o livro, que deveria chamar integrado, chamam interdisciplinar. [...] eles, quem? Eles. Eles são os “Técnicos”, também aspas, né, os Técnicos do Ministério da Educação, do FNDE, esses que são responsáveis pelo Edital do PNLD. Então, os ditos cujos. Então, vai olhar o de 2019. No de 2019 tem isso, eles simplesmente trocam as bolas. Eu espero que a Abrale e, quem sabe, a Abrelivros também, porque eu sei que alguns editores que já notaram essa... essa... esse erro, né. Não tem outro nome. Ou incorreção, vai, pra ficar mais chique. Incorreção. Mas é um erro porque isso é erro conceitual. No PNLD 2016 estava certo. Essas obras, de 1º ao 5º, integradas. E a integração de conteúdo em torno de temas, em torno de conceitos-chave. Enfim, usando as propostas que foram organizadas nas diretrizes de 1990, né, de dezenove anos, que esse é um aspecto teórico muito considerado, muito importante (AUTORA E, 17.08.2017, aspas da entrevistada).
317
Ela destacou Ivani Fazenda, pesquisadora reconhecida por suas contribuições
ao estudo dos sentidos e significados que as políticas públicas de educação
atribuíram (e atribuem) à interdisciplinaridade.
Não consultaram a página da Ivani Fazenda (risos). Não precisava nem clicar duas vezes, era clicar uma vez só e via definido o que é interdisciplinar, que a comunidade educativa brasileira está trabalhando. Eles não fizeram esse movimento (AUTORA E, 17.08.2017).
De fato, ao longo de mais de quarenta anos de pesquisas e produções
acadêmicas, a professora Ivani Fazenda constituiu parcerias, criou e coordena o
Grupo de Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade da PUC-SP (GEPI), sempre
buscando compreender e reelaborar os conceitos inaugurais de Interdisciplinaridade.
Tanto que foi convidada em 2007 para compor o grupo de estudiosos/as do Centro
Internacional de Pesquisa Transdisciplinar (CIRET-UNESCO).
Na página do GEPI é possível acessar inúmeras informações, desde o histórico
do grupo, as pesquisas desenvolvidas, fontes de referências.
Figura 22 - Página do GEPI, mencionada pela Autora E na entrevista. Fonte: Grupo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinaridade - PUC-SP
199.
Destacamos que vários livros da professora Ivani Fazenda estão disponíveis
para download gratuito na Internet. Foi assim que tivemos acesso àquele que
resultou de sua pesquisa de mestrado desenvolvida na PUC-SP, em 1978, sob a
199
Cf. GEPI. Disponível em: <https://www.pucsp.br/gepi/>. Acesso em: 05 nov. 2018.
318
orientação do professor Antônio Joaquim Severino. A pesquisa contou com os
aportes de Georges Gusdorf. Também de Hilton Japiassú, considerado precursor
dos estudos sobre Interdisciplinaridade no Brasil, a partir do lançamento de seu livro
―Interdisciplinaridade e patologia do saber‖, publicado pela Imago Editora, em 1975.
O livro ―Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro‖, de Ivani
Fazenda, foi originalmente publicado em 1979, pelas Edições Loyola Jesuítas. O
titulo do livro é o mesmo de sua pesquisa de mestrado e está na 6ª edição (2011).
Não cabe aqui a retrospectiva das discussões por ela empreendidas, mas
destacamos que a partir da leitura do referido livro pudemos melhor compreender o
valor que a Autora E confere à epistemologia piagetiana.
Foi na década de 1960, no espaço do laboratório de Jean Piaget que a Teoria
da Interdisciplinaridade foi gestada. Fazenda (2011, p. 18) explica que ali era o
espaço onde se discutiu e investigou a complexidade dos limites das ciências. Após
longa investigação, ―Piaget cria o conceito de transdisciplinaridade, imaginando com
ele, a possibilidade de transgressão dos principais paradigmas fechados das
ciências convencionais da época‖.
O trabalho de Ivani Fazenda parte da interdisciplinaridade como atitude. Ela
vai delineando o que compreendemos como ―atitude pedagógica‖. Explica que a
interdisciplinaridade implica mudança de atitude perante o problema do
conhecimento, da substituição de uma concepção fragmentária pela unitária do ser
humano. É uma questão de atitude frente à educação, que necessita das disciplinas,
não rompe com as barreiras disciplinares, mas incorpora as disciplinas para dar
legitimidade e sentido para cada uma delas e para a vida das pessoas.
Na interdisciplinaridade escolar as noções, finalidades, habilidades e técnicas visam favorecer sobretudo o processo de aprendizagem, respeitando os saberes dos alunos e sua integração. Cabe-nos também mais uma vez reafirmar a diferença existente entre integração e interdisciplinaridade (Fazenda, 1979). Apesar de os conceitos serem indissociáveis, são distintos: uma integração requer atributos de ordem externa, melhor dizendo, da ordem das condições existentes e possíveis, diferindo de uma integração interna ou interação, da ordem das finalidades e, sobretudo entre as pessoas. Com isso, retomamos novamente a necessidade de condições humanas diferenciadas no processo de interação que faça que saberes de professores em uma harmonia desejada integrem-se aos saberes dos alunos. Isso requer outro tipo de profissional com novas características ainda sendo pesquisadas. Assim como o conceito de integração – o primeiro por nós pesquisado –, muitos outros ensaiamos pesquisar no nosso grupo de pesquisas (FAZENDA, 2011, p. 154).
319
Em seus escritos apreende-se que a educação tem uma intencionalidade, pois
visa à formação humana por meio de conteúdos e habilidades de pensamento e
ação. Assim, o trabalho de ensinar implica escolhas, valores, compromissos éticos,
objetivos conceituais, procedimentais e valorativos em relação aos conteúdos que
ensina. Identifica-se, portanto, que as posições e a atitude pedagógica das/os
entrevistadas/os, sobretudo seus esforços em romper com uma rede de crença
coletiva estão em sintonia com a perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar.
De nossa parte entendemos que este é um aporte muito importante para o
momento que estamos vivendo em nível global, particularmente no Brasil em que
vemos ressurgir partidários de uma ―escola sem partido‖, ―sem ideologia‖
defendendo uma educação neutra, desprovida de críticas e questionamentos.
Lembremo-nos das palavras de Basarab Nicolescu (1997),
A transdisciplinaridade não é neutra, pois ela opta pelo sentido. Uma educação neutra e objetiva não passa de um fantasma que nos foi legado pela ideologia cientificista. A transdisciplinaridade tem como ambição a unificação, em suas diferenças, do Objeto e do Sujeito: o sujeito-conhecedor faz parte integrante da Natureza e do conhecimento. [...] o estudo do universal é inseparável da relação entre os campos disciplinares, buscando o que se encontra entre, através e além de todos os campos disciplinares (PROJETO CIRET-UNESCO, 1997, grifo do documento).
Mas, não imaginávamos o que viria pela frente. Recentemente, em 09.01.2019,
logo após a posse do novo governo, o Edital do PNLD 2020, que trata da aquisição
de obras didáticas e literárias destinadas para estudantes e professoras/es dos anos
finais do ensino fundamental, ganhou espaço na mídia. Isto porque teria passado por
―mudanças polêmicas‖ no meio do processo de produção das obras inscritas200. Tais
mudanças indicariam supressões relativas à violência contra a mulher e a
participação delas em espaços de poder; à diversidade étnico-racial, a participação
de povos quilombolas, do campo e indígenas na história e cultura brasileira; erros de
impressão, ortografia e gramática e da apresentação de referências bibliográficas; o
veto à publicidade e marcas também teria sido modificado. As mudanças foram
associadas às medidas tomadas pelo novo governo. Participaram do debate
midiático professoras/es, especialistas, editoras/es, pessoas apoiadoras e opositoras
do novo governo.
200
Cf. Nova Escola. ―Vai-não-vai: entenda a confusão no edital do PNLD 2020 que permitia erros nos livros‖. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/14998/vai-nao-vai-entenda-a-confusao-no-edital-do-pnld-2020-que-permitia-erros-nos-livros>. Acesso em: 09 jan. 2019.
320
De nossa parte fizemos uma revisão das alterações. A convocação para
participar do PNLD 2020 foi publicada no Diário Oficial da União em 28 de março de
2018 (Edital de Convocação Nº 1/2018 – CGPLI PNLD 2020). O Edital passou por
quatro retificações nos meses de Junho, Julho, Agosto e Outubro de 2018,
relacionadas ao material digital. Nesse intervalo houve prorrogação de prazo para
inscrição das obras em virtude de instabilidades no SIMEC. Como se pode notar
este é mais um problema de ordem tecnológica.
Identificamos que os critérios gerais permaneciam os mesmos, assim como os
princípios cujas linhas são definidas pelos instrumentos legais que regem o PNLD.
Observamos que no portal do FNDE permanecia a publicação do ―Edital consolidado
PNLD 2020-01.10.2018‖, sem alteração posterior. Entendemos que as ―mudanças
polêmicas‖ não faziam sentido. Mesmo porque embora os Editais e o Decreto nº
9.099/2017 regulamentem a execução do PNLD, eles não podem alterar direitos
porque estão abaixo da Constituição Federal e da legislação na pirâmide das leis.
De qualquer modo, as ―mudanças polêmicas‖ anunciadas no início de 2019 são
motivo de preocupação de Editoras e autoras/es que têm obras inscritas. Nesse dia,
a Autora A entrou em contato informando sobre as alterações. Conversamos sobre o
assunto e ela disse: “está difícil entender. É tanta contradição nos discursos oficiais.
Eu já nem sei mais”. Ela verbalizou suas preocupações com a avaliação no atual
contexto político.
Diz que foi feita alteração. Se for o Edital de 2020 é o que eu estou participando. A avaliação vai ser agora em 2019. O resultado da avaliação sai agora para entrega em 2020. Está bem complicado. Eu não sei se meu livro será aprovado nesse contexto porque não sei quem vai avaliar” (AUTORA A, 09.01.2019).
Também o Autor U disse que estava “complicado” porque mesmo
considerando que as obras foram entregues para avaliação em novembro de 2018,
havia a possibilidade de solicitarem aos autores adequações. “É isso que pega”
(AUTOR U, 09.01.2019).
Também tivemos a oportunidade de conversar com a Autora E que
compartilhou suas análises. “Teve muito exagero nesse debate [...]”
Nunca saiu do edital esse item. Não serão selecionadas obras que apresentem preconceitos, estereótipos ou discriminação de ordem racial, regional, social, sexual e de gênero, entre outros, tampouco aquelas que incitem a violência entre seres humanos ou contra outros seres vivos, em qualquer uma de suas diversas manifestações. As obras devem respeitar as
321
legislações presentes nesse edital, particularmente, as determinações dos artigos 78 e 79 do Estatuto da Criança e do Adolescente (AUTORA E, 09.01.2019).
No fim da tarde de 11 de janeiro de 2019, a mídia publicou trecho do
documento do MEC, datado de 10 de janeiro de 2019, assinado eletronicamente por
Estevão Perpetuo Martins, coordenador de Habilitação e Registro do Fundo Nacional
para o Desenvolvimento da Educação (FNDE), no qual informa que as alterações no
Edital do PNLD 2020 ocorreram por ―erro operacional de versionamento‖. Segundo
sua explicação, ―as mudanças solicitadas foram realizadas em uma versão antiga do
edital, feita em agosto e alterada em outubro‖. Segundo a mídia, o documento
assinado pelo coordenador diz que a equipe técnica do MEC e o FNDE encontraram
o erro e, a pedido do novo ministro, Ricardo Vélez Rodriguez, iniciaram atos de
anulação da última versão do edital. "Passando a viger o texto anterior, sem
prejuízos ao erário, à política pública ou aos estudantes e professores beneficiários
do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático)‖, afirma o texto201.
Os desafios da comunicação científica
Identificamos que a comunicação científica constitui um dos maiores desafios,
principalmente para autoras/es de livros didáticos. De fato, comunicar não é tarefa
fácil para profissionais das palavras. Imagina para artesãs e artesãos de livros
didáticos. A tarefa constitui um desafio intelectual. “E assim, você imagina o quanto a
gente estuda pra fazer um capítulo” (AUTOR U, 22.08.2017).
A linguagem científica tem inúmeras implicações. O complexo e o atraente
constituem grande desafio na comunicação em ciências. Tanto que as/os
entrevistadas/os chamaram a atenção para vários aspectos dessa problemática.
Iniciemos pela ―alfabetização científica‖, também conhecida como ―letramento
científico‖ nos primeiros anos das séries iniciais.
―Sentindo a Natureza‖. Esta frase impactante está escrita na abertura de um
dos livros que a Autora E me mostrou, publicado em 1979.
201
Cf. O Estado de S.Paulo. ―Servidor do MEC fala em 'erro operacional' e diz ser responsável por mudança em edital‖. Disponível em: <https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,servidor-do-mec-fala-em-erro-operacional-e-assume-mudanca-em-edital,70002676187>. Acesso em 11 jan. 2019.
322
É o meu primeiro livro. Dois anos de reflexões com as pedagogas e leitura de referenciais. A gente fez toda a consulta na época, dos currículos nacionais - Estado de Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. [...]. Nós estudamos esses currículos. Tinha livro do professor. Foi principalmente uma escola de fazer livro. [...] tivemos essa prática, né, de escrever para criança pequena, pensar a criança pequena e desde então eu tenho essa preocupação de considerar o raciocínio da criança. Eu estudei bastante sobre lógica e epistemologia a partir de Piaget. [...] foi assim que eu comecei a escrever livros (AUTORA E, 17.08.2017).
Na oportunidade daquela entrevista falamos sobre minha emoção ao ler o título
da unidade. Afinal, os cheiros, sabores e as texturas de nossas vidas têm lugar
garantido na memória das primeiras experiências vivenciadas na infância. O perfume
de uma flor, o aroma de uma fruta, o sabor da refeição quentinha, o vento que
assopra e anuncia a mudança de tempo, o cheiro da chuva molhando a terra seca,
os sons emitidos pelos animais. A textura e coloração da lama e até mesmo da
cicatrização daquele machucado no joelho compõem nosso alfabeto emocional e
científico. Sinto, logo existo.
Figura 23 - Páginas de apresentação das Unidades I, II e III, mencionadas na entrevista. Fonte: Livro da Autora E.
A Biologia é a ciência da vida? “É. Da vida. Muito mais, né. É muito
emocionante. Então, eu acho que a gente precisa aprender a se emocionar. Sabe?
É o sentir. Começando por aí” (AUTORA E, 17.08.2017).
Cada palavra foi um parto. Porque a gente escolhia, depois não gostava, voltava. [...] o mais difícil é escolher as palavras, escolher a ordem dos textos, isso é muito difícil. [...] escrever um texto de três linhas é muito mais difícil do que escrever um texto de dez, sobre o mesmo assunto (AUTORA E, 17.08.2017).
323
“Esse é um livro da criança”. A Autora E explicou: “um livro amistoso, com
figuras grandes, pouco texto, espaço de interferência, palavras muito bem
selecionadas, gestos dos personagens”.
Ah é, eu estou falando criança, estudante no Fund I. Já no Fund II, quando estudantes já têm uma leitura melhor, já podem encarar um livro maior. Mas, mesmo assim, eu acho os livros muito longos. Tá. De modo geral diminuiu esse problema. Do meu ponto de vista, né. Diminuiu. Você já tem livros mais amistosos. Mas, é... a palavra amistosa eu acabei traduzindo do inglês. Porque no inglês tem, né, a palavra friendly, que é amistoso. O que é que é? Qualquer coisa. Um objeto pode ser um objeto amistoso, né. Uma faca não é amistosa. Um livro pode ser amistoso e pode não ser amistoso. Então, sabe... quer dizer, aí você tem experimentos que a criança pode fazer de fato, né. Então, na formação de professores eu pergunto: quem não plantou o feijão no algodão? [...] aparecem lá uns dois ou três em uma turma de vinte, vai. Então, está na hora de plantar (risos). Tem que plantar de novo o feijão (AUTORA E, 17.08.2017).
Ela também falou sobre a importância de conhecer as plantas e as árvores
frutíferas. De seus relatos apreendemos que a semente do conhecimento pode
florescer e frutificar em muitos lugares. Sobretudo quando reconhecemos o valor de
nossa ignorância. ―Então esta é uma educação sustentável”.
Eu fui criada aqui na Capital de São Paulo. Também não conhecia planta. O meu pai foi para o mato também cheio de vergonha porque ele também não conhecia planta. Lá ele começou a conhecer. Eu e ele começamos a conhecer juntos. Ele sabia mais que eu porque tinha sido escoteiro e tinha lá uma noção, né. Mas não foi o forte da formação dele, não. Não, de jeito nenhum. E minha mãe gosta muito do ser humano pra ligar para as plantas. É esse tipo de pessoa (risos). Minha mãe entende mais de micro-organismo do que de planta (AUTORA E, 17.08.2017).
“Eu acho que o professor não pode ter medo e receio de fazer aquilo que ele
não fez como aluno. Um professor, dentro de uma sala de aula, todos sabem
mostrar? Não sabem. Porque eles também não aprenderam. Eles precisam
aprender”.
Então, precisam ver, dentro da escola, quem sabe ensinar, reconhecer as plantas frutíferas. O grupo de professores da escola fundamental I, nas periferias ou no centro das cidades grandes, quem sabe conhecer planta? Ninguém sabe? Vamos procurar alguém que sabe. Vamos ver, vamos mapear as frutíferas do nosso quarteirão, do nosso bairro. Ah, mas não tem frutífera. Puxa, será que tem passarinho? Tem passarinho. O que eles comem? Sabe? Esse tipo de atitude, esse tipo de metodologia, eu chamaria de indutiva, no sentido de trabalhar do menor para o maior, vamos trabalhar a partir da observação, a partir do que nós podemos fazer, podemos ver, sem medo de reconhecer a nossa ignorância (AUTORA E, 17.08.2017).
324
Na oportunidade, a Autora E compartilhou uma experiência com a qual ela
também aprendeu. “Ah, vou te dar um exemplo”.
Eu tenho uma sobrinha que trabalha com teatro. Ela é de Rondônia. Ah ela é paulista do interior, foi criada em fazenda. A família foi para Rondônia e depois ela veio, bastante jovem, para São Paulo. E ela dá aula de teatro para crianças de Ocupação. Foram dar uma volta no quarteirão, lá no centro da cidade e tal e ela conhece árvores frutíferas. Ela ficou mostrando a pitangueira, o abacateiro, sabe? [...] em São Paulo está cheio, gente, tem muitos passarinhos. Os passarinhos carregam sementes. Aqui na rua tem goiaba, tem pitanga. Lá na praça tem grupo que planta abacate, mangueira, tá cheio. Então ela foi mostrando para as crianças, sabe. Então, ela sabe mostrar (AUTORA E, 17.08.2017).
O roteiro de observação foi mencionado pela Autora E, como parte do
letramento científico de crianças. Ela até relatou uma experiência. “Quem nunca
observou precisa aprender a observar. Quem nunca fez registro precisa aprender a
registrar”.
[...] eu tive experiência numa escola onde eu fiz consultoria por um tempo bem longo e aí entrou um aluno novo na antiga terceira série, atual quarto ano, né. O assunto deles era Solo. [...] naquela ocasião, estava abrindo um buracão do vizinho pra construir um prédio. Dava pra ver direitinho o perfil do solo, sabe? [...] a modificação das cores do solo. Então, fazia uma curva bonita, solo vermelho e solo amarelo. Ah, a criançada tem que ir lá ver, né. Aí a professora falou: ―vamos ver?‖ Eu estava junto. Foi assim uma coisa extraordinária porque todo mundo, que eram alunos nossos há mais tempo pegaram suas pranchetinhas. Não precisamos falar nada. “Vamos lá olhar, pessoal?”. ―Vamos‖. Eles já entenderam na hora que era olhar e registrar. O aluno novo, não. Já ia saindo da sala de aula de mãozinha abanando. Entendeu? (AUTORA E, 17.08.2017).
Em um de seus livros, dirigido a professoras/es e estudantes das séries finais
do ensino fundamental, identificamos uma proposta de investigação que consiste em
observar plantas e até sugere a criação de um ―catálogo de folhas: o herbário‖. Inclui
a observação externa e interna das folhas a olho nu e com o uso de microscópio. Em
nota para a/o professor/as, lemos: ―Este guia é um referencial para a nomeação e a
classificação das plantas, útil nas atividades de observação em visitas e estudos do
meio. Não corresponde à classificação taxonômica usada pelos biólogos‖.
O roteiro de observação também foi mencionado nos relatos da Autora A. Ela,
que tem preocupação com sugestões do tipo “receita”, ao longo de sua experiência
identificou que, embora o roteiro de observação possa parecer algo simples de fazer
há professoras/es que têm dificuldades, seja por falta de tempo ou porque não
sabem.
325
[...] eu vou botar uma sugestão de roteiro de observação para o professor? O professor sabe fazer um roteiro de observação, gente! Aí eu via que alguns, por falta de tempo, pela dificuldade, não faziam. E alguns não faziam porque não sabiam. Ah, então vamos botar um modelo entre aspas? Se o professor quiser, ele usa outro, cria, modifica e se não der tempo, usa esse. Então também é uma coisa que a gente aprende e muda, né (AUTORA A, 01.06.2017).
A Autora A destacou que a educação científica é também um compromisso
social e ressaltou a importância de se criar conflitos cognitivos para o
desenvolvimento da consciência crítica.
Porque eu sempre brinco que escola é o lugar onde se espera que a aprendizagem aconteça, não se der, se pintar um clima, se calhar, né. A sociedade espera que a escola seja um lugar onde a aprendizagem seja intencional, planejada. Então por mais que eu respeite, que eu valorize, que eu parta do que o estudante traz do seu senso comum, da suas referências culturais, ele tem que ir além disso na escola. O estudante chega na escola achando que rato velho vira morcego, ok. Mas ele não pode sair da escola achando isso. Então, a minha aluna dizer, porque eu já tive alunas, por incrível que pareça, eu já tive alunas no Fundamental que achavam que se fizessem um bolo, menstruadas, o bolo ia solar. Então, você não vai desqualificar, você não vai rir, mas ela tem que sair da escola pensando diferente, né. E aí como você faz mudar? Não adianta eu dizer. Como é que você faz mudança conceitual? Se você não cria conflitos cognitivos, se você não leva, né. Se aquela resposta continuar sendo suficiente, ela pode até responder do jeito que eu quero na prova, mas vai continuar achando que o bolo vai solar. E isso demanda tempo. Criar conflitos cognitivos, levá-los a refletir sobre as concepções, gente, consome tempo físico. Não dá. Pode ser o meu livro, pode ser qualquer coleção. Se o professor quiser trabalhar tudo o que está ali, ele não vai conseguir desenvolver autonomia, não vai conseguir fazer o trabalho dele. Não dá. Ele vai ter que fazer escolhas em qualquer coleção (AUTORA A, 01.06.2017, grifo da entrevistada).
Também a Autora E explicou que “vai trabalhando com as possibilidades
cognitivas do aluno”.
[...] eu acho que a gente precisa ir trabalhando indutivamente. Partir do que está mais perto, incluindo esse conhecimento sobre a natureza. E nesse trabalho nós colocamos as nossas bandeiras. E não ao contrário, da bandeira para o vamos chamar “Ah, vamos respeitar a natureza”. O que significa? Fica oco, sabe. Então, eu já vi muito professor explicando os animais, aí trabalha o tema animais em extinção. Está muito longe, gente. Criança pequena... eu acho que tudo bem, vamos trabalhar esse tema também. Mas, aquilo que está perto, aquilo que a gente conhece, no bairro, na cidade, no parque. Aí vamos olhar filmes, vamos cotejar o longe e o perto, sempre trabalhando comparação que é uma operação mental maravilhosa para se trabalhar com crianças, né, já diziam os mais espertos do que. Piaget, né. Então, isso é uma educação sustentável. Porque ela vai ensinando conceitos básicos, ao mesmo tempo em que você trabalha com questões de valores, procedimentos. Grosso modo é isso. Estou falando de Fund I, né (AUTORA E, 17.08.2017).
326
[...] aí eu vou trabalhar com questões políticas com os alunos mais velhos, né.
Por exemplo: “Rio+20, alunos mais velhos”.
Depois que aprendeu essas coisas, aí sim, eu amplio. [...] com escalas de valores, né. Porque eu posso mesclar atividades, com leitura de jornal, posso ir mesclando. [...] Rio+20, alunos mais velhos. Vou falar para o pequeno que teve? Falo. Mas, é repertório. Não vou esperar que ele entenda tudo. Né. E nem vou cobrar na prova. É repertório, né. Aí tem um outro lá que vai se interessar, vai atrás. Ok. Eu vou passar uma matéria específica pra ele, mas não forçou a barra, entende? Eu não gosto de forçação de barra. Eu acho que a gente precisa ser leve. Por aí (AUTORA E, 17.08.2017).
No contexto da comunicação referências às principais Cimeiras Internacionais
foram mencionadas em todas as entrevistas. A Autora A disse que nas obras
didáticas, no máximo são comentadas.
[...] os colegas que são pesquisadores nessa área, ainda trazem, procuram desenvolver trabalhos mostrando se houve avanço se não houve, se os compromissos firmados foram cumpridos, o que é que ficou de brecha. Mas eu, sinceramente... Até mesmo nos nossos livros, nos outros livros, no máximo a gente comenta. Olha, a Rio 92, a Rio+20 o que se avançou o que não avançou, países que aderiram (AUTORA A, 01.06.2017).
O Autor I destacou que ―em educação, muita gente está escrevendo sobre isso.
[...] quando a gente sai procurando textos pra colocar nos livros, nas coleções, os
textos mais fáceis de ser encontrados são os ligados às Conferências e à
sustentabilidade” (AUTOR I, 22.08.2017, ênfase do entrevistado).
Questionamos s/os entrevistadas/os sobre possíveis reflexos das Conferências
mundiais na educação brasileira. Para a Autora E, “a Rio 92 repercutiu mais que a
Rio+20”. Dos resultados da Conferência Rio 92, ela destacou os PCN.
[...] eu não sei se eu estou dando uma opinião muito particular nesse assunto, tá. Eu realmente não sei porque eu não tenho uma análise profunda. Mas eu acho que a Rio 92 repercutiu mais que a Rio+20. Até eu gostaria de saber se os pesquisadores concordam comigo. Porque eu entendo que a Rio 92, ela teve assim, em seguida os Parâmetros Curriculares Nacionais. E logo a gente teve o tema Meio Ambiente. Alguns anos depois teve o Parâmetros, teve o tema transversal e o Meio Ambiente ganhou um livro separado. Você já viu esse? (AUTORA E, 17.08.2017).
327
A Autora A apontou uma repercussão “tímida. O máximo que você acaba
ouvindo é de quem é de educação ambiental”. Também o Autor U considera que “o
reflexo é pequeno”.
Já o Autor I disse que é “otimista nesse aspecto”. De seu ponto de vista “é um
assunto que não vai cair, não, vai aumentar. É inevitável. O aluno quer esse
assunto, há interesse [...]”
Eu me lembro de pessoas adultas, parentes jogando papel pelo carro, pra fora, isso aí era comum. Hoje não é comum. Não é comum. Buzinar aqui em São Paulo é incomum. Não sei se você concorda. Mesmo em congestionamentos monstro é raro ouvir pessoas enfiando a mão na buzina. Há 20 anos era direto. Parou, todo mundo enfiava a mão na buzina. Isso faz parte da educação e sustentabilidade. Bom, a educação ambiental está considerando sair fazendo barulho aí. Melhorou muito. Isso é resultado da educação pelos pais, pela escola, pela mídia (AUTOR I, 22.08.2017).
O Autor U falou sobre a importância das Conferências Rio 92 e Rio+20. Ele se
referiu à participação de professoras/es e da sociedade em geral. Apontou que “são
poucos aqueles que vão”. “Nós estamos muito mais preocupados, financeiramente.
Se eu não sei o que vou botar na mesa no almoço, eu vou lá?”
Também disse que “a grande mídia está corrompida” e “a mídia alternativa é
pouco sustentável financeiramente”
[...] o reflexo é pequeno porque o professor, ele tem até acesso a isso. Mas o acesso mais fácil é pela grande mídia [...]. Então, a grande mídia passa aquilo que ela quer passar, sob sua ótica. Eu entendo, está fazendo o viés dela. E assim, não sobra tempo pra professor ir atrás, né. Quando você tem uma mídia alternativa, ela é pouco sustentável, entendeu? Financeiramente, né. Há uma dificuldade de acesso ao que se discute porque... nossa! Essas Conferências têm os dias que são abertos e tem os dias que são fechados. Quando se dá oportunidade de trabalhar isso daí, o professor poderia ter acesso e até mesmo a sociedade, são poucos aqueles que vão, por vários aspectos. Não é? [...] (AUTOR U, 22.08.2017).
Para o Autor I, a escola é a que mais trabalha para passar ideias pró-
sustentabilidade. Ele até ironizou dizendo que “os pais passam muito para a escola”.
Quanto à grande mídia, ele afirmou que pode ser “excelente” e “péssima”.
328
Figura 24 - Reprodução interpretativa de uma criança, apresentada em charge
202.
Fonte: (CIÊNCIAS t, 7º ANO, 2010, p. 14).
Esse ponto de vista é compartilhado pela Autora A, que se referiu ao
“consumismo de certas ideias”. Destacou que como professora, ela “tem que ler
sobre tudo”.
Há muito tempo que já não assisto determinada emissora de TV. E fico triste, sim. Porque acho que ela produziu muitas coisas excelentes do ponto de vista de qualidade técnica, mas do ponto de vista de ideias, eu tenho muitas restrições. Então eu não leio mais tantas revistas, não acesso mais certos sites, não vejo mais certos programas de TV porque eu não quero consumir certas ideias. E até para ter uma visão crítica, às vezes me incomoda tanto, que até isso eu tenho dificuldade. Às vezes eu quero ver para poder saber o que se anda dizendo. Mas às vezes é tão visceralmente tendencioso, é tão visceralmente conservador que me incomoda fisicamente. Então eu tenho que respirar, ficar calma, né, porque como eu sou professora, eu também tenho que ler sobre tudo. Então eu tenho que aguentar (AUTORA A, 01.06.2017).
Em nossas análises identificamos que o maior desafio da comunicação em
Ciências nos livros didáticos é ―simplificar aquilo que é complexo. E sem errar”
(AUTOR I, 22.08.2017). Implica dizer que ―a facilitação do texto deve ser a
dificuldade número 1, a transposição didática” (AUTORA E, 17.08.2017).
“[...] a gente pensa em várias formas de trazer aquela informação mais didática
possível” (AUTORA A, 01.06.2017).
O público, embora você pense na turma, nos estudantes, na hora de pensar no livro, se eu coloco um esquema... Olha, vamos botar uma foto de uma anêmona porque eu acho bacana que o estudante, principalmente pra um estudante que não mora no litoral, possa ver como é uma anêmona na realidade, mas aí também tem que colocar o esquema. Ah, vamos botar também a informação em texto [...] (AUTORA A, 01.06.2017).
202
Desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, ger. veiculado pela imprensa e tendo por tema algum acontecimento atual, que comporta crítica e focaliza, por meio de caricatura, uma ou mais personagens envolvidas; caricatura, cartum. Cf. Por reprodução interpretativa entende-se que a criança se apropria de informações do mundo adulto e transformam-nas a fim de responder às próprias preocupações (CORSARO, 2011).
Não sei quem trabalha mais, acho que é a escola. (riso) os pais passam muito para a escola. As professoras com quem eu converso, conversei tanto, não tem exceção, todas se preocupam em passar ideias pró-sustentabilidade e fazer projetos dentro das escolas. E a mídia, às vezes é excelente, às vezes é péssima, né. Não sei se você concorda. A mídia em relação à educação, alguns programas são muito bons e outros destrutivos, mas... (AUTOR I, 22.08.2017).
329
Figura 25 - Imagem de anêmona-do-mar e informação em texto, mencionada pela Autora A. Fonte: Livro da Autora A.
[...] quer dizer, a ciência é extremamente complexa. Colocar isso num livro para
crianças de 10, 12, 14 anos é muito complexo, essa transcrição do conhecimento
científico para o nível de 11 anos” (AUTOR I, 22.08.2017, ênfase do entrevistado).
Difícil é você falar de briófitas em sala de aula, de pteridófitas, falar dos gimnofionos. Isso é complicado (riso). [...] Vamos falar de Ser Humano no 8º ano, vamos falar do rim, como simplificar? Do batimento cardíaco, a pressão do sangue, vamos falar como é que sobe a água do xilema com os sais até a copa. É muito complexo. E a criança, bom, faz parte do programa explicar essas coisas, briófita faz parte do programa, musgos, e aí nós vamos não só simplificar como ainda tentar deixá-la atraente. [...] eu acho que é essa a dificuldade. E é essa a essência, a transposição, a palavra é essa, do conhecimento científico para o conteúdo do ensino fundamental (AUTOR I, 22.08.2017, ênfase do entrevistado).
“Dá pra deixar a briófita atraente? É difícil”. A resposta à pergunta do Autor I,
pode ser identificada em seu livro que apresenta a explicação científica e a imagem.
Figura 26 - “Os musgos formam um tapete “aveludado” sobre o solo”. Fonte: Livro do Autor I.
Os musgos formam um
tapete ―aveludado‖ sobre o solo.
330
Como apontou a Autora A, o uso de analogias pode ser uma estratégia
interessante. Por exemplo, apresentar os musgos como ―um tapete ‗aveludado‘
sobre o solo‖ pode ser entendido como uma maneira de tornar a briófita atraente
mais do que dizer que ―os musgos são plantas de pequeno porte que vivem em
locais úmidos‖ e/ou apresentar uma visão utilitária das briófitas, relacionada ao uso
delas como indicadoras da qualidade ambiental, por assim dizer dos níveis de
poluição. De nossa perspectiva entendemos que para alguns, talvez a informação
em texto na imagem possa parecer desnecessária ou incorreta. Insignificante,
jamais.
“Você tem uma linguagem tão complexa e mutante. Então, às vezes o que está
certo hoje fica errado amanhã” (AUTORA E, 17.08.2017).
É muito difícil você acertar a ordem dos conteúdos, as ênfases nos assuntos. É muito difícil. [...]. É muito difícil você facilitar o texto, principalmente quando você fala de ciências, né, as Ciências Naturais. [...]. Eu me lembro quando Plutão deixou de ser um planeta e ele virou planeta-anão. E a gente estava com esse assunto muito assim na ponta da linha. [...] quando estávamos fechando o livro, a gente conseguiu botar Plutão de planeta-anão (AUTORA E, 17.08.2017).
Figura 27 - Imagem de Plutão (planeta-anão) no Sistema Solar, mencionada pela Autora E. Fonte: Livro da Autora E. (*) Ilustração fora de escala de tamanho e distância entre os planetas. As cores utilizadas são ilustrativas e não correspondem aos tons reais.
―Ilustração produzida com base em: SEEDS, M.A. Horizons: exploring the universe. 5. Ed. Belmont: Wadsworth, 1998, p. 304‖.
331
“Obaaa! Então, quer dizer, essa alegria, né, de acertar e de fazer uma revisão bem
feita, sabe?”
Você sabe que um dos aspectos conceituais que notificam essa troca de conceitos é a órbita de Plutão. Plutão não está no mesmo prato, né. Os astrônomos chamam de prato, que é aquele plano onde os planetas orbitam ao redor do Sol. E Plutão, não. Plutão já faz uma órbita excêntrica. E tem até outro que está lá no cinturão externo, um asteroide que cruza a órbita de Plutão. É outra razão pela qual ele é chamado planeta-anão. E aí a gente quer trocar, a nossa figura está certa, já tínhamos posto a órbita de Plutão correta, diferente dos demais planetas, de fato, né. Então comemoramos, eu e (nome da colega com quem escreve) (AUTORA E, 17.08.2017, grifo da pesquisadora).
“[...] você sabe que é difícil ser coloquial sem cair num erro conceitual, se você
for bem rigoroso. Tem coisas que a gente gostaria de colocar de uma forma mais
coloquial porque pensa naquele estudante, mas não podemos. Porque ao colocar, a
gente é reprovado pelo MEC. Reprovado pelo MEC mesmo” (AUTORA A,
01.06.2017).
Sempre vai exigir que o professor, ao falar aquilo, ele, olhe, atente que... E aí ainda que a gente coloque uma observação para o professor, a gente se arrisca a ser reprovado. Então, nós já tivemos experiência de tentar colocar. Aí, o que a gente tenta fazer é botar uma analogia, fazer um modelo, olha, cuidado que isso aqui não é a realidade, é só uma representação, colocar mil vezes ali mesmo até para o estudante, não só para o professor. Nós não somos mais coloquiais porque a gente não pode. Não pode. E aí nesse ponto, quem faz um material mais livre, como uma apostila, que é feita independente, pode botar o que quiser (AUTORA A, 01.06.2017).
“Quer dizer, a questão da facilitação do texto, eu acho que é a mais importante
das dificuldades, é onde todo mundo toma pau [...]” (AUTORA E, 17.08.2017).
Pedra e lama: a avaliação pedagógica em foco
Não é de hoje que dificuldades com o processo de avaliação pedagógica no
PNLD são foco de discussão no universo de autoras/es.
De nossa parte buscamos compreender a composição de uma obra didática.
Vimos que implica o emprego de um conjunto de regras e convenções de vários
tipos e que não necessariamente são coincidentes. Isto porque formas simbólicas
que são codificadas a partir de determinadas regras e convenções podem às vezes
ser decodificadas a partir de outras regras e convenções. Até mesmo as regras e
convenções estão sujeitas a interpretações.
332
Entendemos que isto ocorre porque no processo de decodificação (de formas
simbólicas, imagens e textos), pessoas e grupos empregam não somente as
habilidades e competências requeridas pelo uso do meio técnico de transmissão
cultural, mas também várias formas de conhecimento e suposições de fundo que
fazem parte de seus recursos culturais e formativos, também do aparato institucional
e das posições que ocupam. No caso das avaliações, os meios técnicos de
transmissão cultural são desenvolvidos e avaliados dentro de aparatos institucionais
que estão relacionados com a regulação, produção e circulação das formas
simbólicas (THOMPSON, 2009). Por isso mesmo são passíveis de questionamentos
e críticas. Tanto é que em nossos estudos identificamos a ―Nota Técnica
2566/2012/OGU/CGU-PR‖ que trata da análise referente à instrução do recurso (art.
23 do Decreto nº 7.724/2012)203 ―interposto por um cidadão brasileiro‖ perante a
CGU204.
O recurso foi interposto face à negativa de acesso, pelo MEC, à relação de
livros avaliados e reprovados no âmbito do PNLD e aos pareceres que embasaram
tal reprovação, nas edições de 2007 a 2012. Segundo o documento, o requerente
rebateu, um a um, os argumentos apresentados pelo referido órgão na 2ª instância
recursal, mas foi mantida a decisão. Por fim a CGU considerou satisfatória a
resposta apresentada pelo MEC, que justificou a negativa do acesso com base nos
seguintes argumentos:
a) O PNLD se caracterizaria como procedimento licitatório na modalidade concurso, ao qual autores e editoras seriam convidados para participar, mediante a entrega de prêmio ou remuneração; b) Os regulamentos dos PNLDs não contemplam a possibilidade de divulgação das obras reprovadas propositadamente, isto é, porque poderiam afetar a honra e a imagem dos autores e das editoras; c) A divulgação dos autores e editoras detentores das obras reprovadas poderia impactar negativamente na re-análise das mesmas, após ajustes, nas edições posteriores do PNLD; d) ―(...) não há um interesse público determinado na divulgação desses trabalhos. Nenhuma lei ou regulamento dispõe que a Administração Pública deve prover assessoria educacional para as escolas privadas, certificando a presença ou ausência de qualidade em material didático‖; e) Incabível comparar o PNLD com a sindicância administrativa, uma vez que ―(...) têm por objeto a conduta de agentes públicos no exercício de suas funções‖; f)
203
Cf. Decreto nº 7.724/2012. ―Regulamenta a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição‖. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm>. Acesso em: 14 dez. 2018. 204
Cf. NOTA TÉCNICA nº 2566 de 27/11/2012. Disponível em: <http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/recursos/recursos-a-cgu/mec/nt25662012.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2018.
333
O direito à informação não poderia ser sobreposto ao direito à intimidade, vida privada, honra e imagem, havendo risco à própria viabilidade do programa caso se dê preferência ao primeiro; e g) Necessário garantir a intimidade dos avaliadores também (NOTA TÉCNICA Nº 2566/2012/OGU/CGU-PR).
Vale lembrar que o processo de avaliação das obras didáticas existe desde
1995 e seu modelo foi primeiramente consolidado pelo Decreto nº 7.084/2010. Como
vimos, atualmente substituído pelo Decreto nº 9.099, de 18/07/2017.
Inicialmente as coleções avaliadas eram classificadas em quatro categorias:
―recomendada‖, ―recomendada com ressalvas‖, ―não recomendada‖, ―excluída‖. As
obras classificadas como ―não-recomendada‖ também podiam ser escolhidas por
professoras/es (Brasil/MEC, 1996). No ano seguinte foi acrescentada a categoria
―recomendada com distinção‖. Nesse mesmo ano, as categorias foram identificadas
graficamente com uma estrela para as obras ―recomendada com ressalvas‖, duas
estrelas para ―recomendada‖ e três estrelas para aquelas ―recomendada com
distinção‖. Na avaliação de 1999, a categoria ―não-recomendada‖ foi eliminada e de
modo articulado, acrescentaram-se aos critérios de exclusão, a incorreção e
incoerência metodológicas. Naquele mesmo ano, diferente do que vinha sendo
praticado, os pareceres das obras excluídas deixaram de ser enviados às Editoras.
No PNLD de 2003/2004, a grafia com estrelas deixou de ser utilizada por
considerar-se que influenciava as/os professoras/es a não lerem as resenhas dos
livros a escolher. Nas edições posteriores, todas as coleções constantes dos Guias
foram aprovadas sem o uso de classificação. Nas edições de 2008 a 2014 foi
apresentado um ―Quadro comparativo das coleções‖ aprovadas, cuja finalidade era
oferecer uma visão sintética do conjunto das coleções. A intensidade da cor indicava
o resultado da avaliação das coleções: quanto mais intensa, mais a coleção atendia
aos critérios especificados no edital, conforme o resultado da avaliação. Nas
avaliações posteriores, o quadro comparativo das coleções foi eliminado, mas as
resenhas ressaltam ―pontos fortes‖ das coleções.
A execução do processo avaliativo envolve um conjunto de profissionais do
ensino de Ciências em diferentes níveis de formação e em diferentes áreas. A
validação dos resultados é feita por uma comissão técnica específica, integrada por
especialistas das diferentes áreas do conhecimento correlatas, cuja vigência
corresponde ao ciclo a que se referir o processo de avaliação.
334
Para a execução do processo avaliativo, o MEC firma convênio com
universidades públicas brasileiras. Por exemplo, no PNLD 2017 (Ciências Naturais)
a avaliação ficou sob a responsabilidade da Universidade Federal do Triângulo
Mineiro (UFTM), selecionada pela Chamada Pública n.º 1/2015 (DOU 13/04/15).
Segundo informações da pasta, o novo PNLD apresenta alterações no perfil
das/os técnicas/os que irão compor as comissões, devendo imprimir maior
pluralidade à avaliação, incorporando não apenas professoras/es de universidades
públicas, mas também das universidades privadas, de escolas públicas e privadas e
especialistas das áreas de conhecimento.
Os Editais informam que as obras avaliadas recebem pareceres elaborados
pelas equipes técnicas indicando a aprovação; a aprovação condicionada à total
correção de falhas pontuais apontadas; ou a reprovação.
É importante destacar que as obras analisadas nas pesquisas acadêmicas são
aquelas que passaram por processo de avaliação pedagógica, aprovadas pela
comissão técnica e constam dos Guia de Livros Didáticos. Implica dizer que o
acesso aos títulos de obras reprovadas é restrito, assim como os pareceres de
avaliação. Ao final do processo de escolhas das obras, por parte das escolas, os
dados são compilados e inicia-se o processo de negociação entre Editoras e
MEC/FNDE. Por meio dos dados estatísticos do MEC/FNDE é possível identificar
quais obras didáticas foram mais e menos adquiridas (Apêndice). Mas não é
possível saber quais foram as mais escolhidas pelas escolas.
Você não sabe e não tem como saber porque não tem como a gente saber. Porque faz parte da caixa preta. [...]. A caixa preta do PNLD é gorda, viu. É. Faz parte da caixa preta. Olha, as suspeitas são inúmeras. A gente não consegue trabalhar cientificamente com suspeitas, a não ser que seja detetive, né (risos) (AUTORA E, 17.08.2017).
No livro intitulado ―Com a palavra, o autor: em nossa defesa: um elogio à
importância e uma crítica às limitações do Programa Nacional do Livro Didático‖,
Francisco Azevedo de Arruda Sampaio e Aloma Fernandes de Carvalho (2010)
detalham a complexidade do PNLD e do sistema de avaliação.
Sampaio e Carvalho também escreveram um artigo, intitulado ―A arte de
avaliar: quando a avaliação precisa ser avaliada‖, no qual expõem que ―a maior das
limitações do PNLD é a avaliação pedagógica dos livros didáticos, desenvolvida pela
Secretaria de Ensino Básico (SEB) com o apoio de pesquisadores e especialistas
335
em ensino de diversas universidades brasileiras‖. No artigo, Sampaio e Aloma fazem
um convite para refletir sobre a participação das universidades no desenvolvimento e
na implantação das políticas públicas e concluem ―que também elas precisam
passar por avaliações e, principalmente, serem avaliadas‖205.
Algumas questões e apontamentos feitos por Sampaio e Aloma (2010), podem
ser identificados nas falas das/os entrevistadas/os em nossa pesquisa. As/os
autoras/es discorreram sobre o processo avaliativo das obras e apresentaram várias
situações que precisaram enfrentar e superar.
O Autor I disse que “quando a gente faz um livro, tem uma dificuldade terrível
com a avaliação, com as perguntas”.
Se você não fizer perguntas estimulantes, de raciocínio, que exigem criatividade e todos aqueles verbos da pedagogia, não passa na avaliação do PNLD. Bom, eu acabei de dar uma lista de uns vinte deles, mas a memória vai atrapalhar. Um verbo, por exemplo, comparar, relacionar, criar, experimentar, resolver. Enfim, as perguntas têm que ser variadas e se possível essas de mais raciocínio, de mais criatividade, de mais relacionamento são muito importantes. Só que essas perguntas passam, conseguem uma avaliação boa, se forem bem feitas. O livro passa, mas o professor não gosta porque permitem respostas variadas (AUTOR U, 22.08.2017).
Nas palavras da Autora E, a facilitação do texto “é onde o PNLD encontra um
campo fértil para dar pau nas pessoas. Porque aí fica muito aleatório, sabe? Então,
de repente eu concordo com essa facilitação, mas com aquela acolá eu vou achar
um jeito de dizer que ela está ruim” (AUTORA E, 17.08.2017).
Esse ponto de vista é compartilhado pelo Autor U. “Olha, a avaliação da obra é
muito subjetiva. Eu vejo assim”.
Então, tem muita, muita conversa. [...] há uma construção da obra, né. A gente trabalha muito em conjunto mesmo. Então, nesse aspecto, a gente consegue ter uma abrangência maior na avaliação, né. A gente percebe que a nossa obra foi bem avaliada porque vem de um projeto. Mas mesmo assim a gente não sabe qual é o foco dessa avaliação. O que eu posso te dizer é que eu não confio muito nessa avaliação do PNLD. Eu acho que vai muito de ano pra ano e não deixam claro o que é que é, né (AUTOR U, 22.08.2017).
Ele mencionou um exemplo que ocorreu com a obra didática na qual é coautor.
205
O artigo foi localizado na Biblioteca da Abrale. Não apresenta data de publicação, nem numeração de página. Disponível em: <http://www.abrale.com.br/wp-content/uploads/a-arte-avaliar.pdf>. Acesso em: 24 jan. 2018.
336
[...] no último PNLD, nossa obra foi aprovada e teve umas pequenas ressalvas. A impressão que eu tive é que eles colocaram as ressalvas porque não tinha o que mexer. Entendeu? Sabe aquela coisa de, assim... foi justamente num termo técnico, do olho, e foi até eu que fiz. Eles falaram que tinha que ter o caminho da luz dentro do olho. Então, se eu coloco já, na obra, que estou tratando aquilo como sistema; estou fazendo um esquema, não é real a coisa, não preciso mostrar a realidade em cima de um esquema. Né? Mas tudo bem, fizemos pra... Eu acho assim, é... faltou um pouco de jogo de cintura. Eu achei (AUTOR U, 22.08.2017).
“Ah, isso aqui, oh, no PNLD já tinha dado pau, oh: encontre pedras com o
Visconde. PNLD não gosta de pedras. Tem que ser rochas”.
Não pode ser pedras. Então. Fica antipático com a criança. Fica antipático. Para a criança, pedra é pedra, gente! Por que não pode ser pedra? Começa usando o nome popular, o nome que está no cotidiano, depois dá o outro, né? Não. Não pode. Quer dizer, nos livros reprovados porque nos livros aprovados, pode. Entendeu? (AUTORA E, 17.08.2017).
Também a Autora A apresentou uma situação parecida: “Nós já tivemos uma
observação do MEC, ao escrevermos o termo lama, quando falava de manguezal no
livro. Disse que é um termo que poderia, olha só, ‗soar como pejorativo‘‖.
O MEC criticou. Eles mandavam colocar ―solo inconsolidado‖ pra uma turma de crianças, em um livro de 6º ano. Gente, é lama! É lama até pra mim, pra você. Por que não seria para o estudante? ―Solo inconsolidado‖? (AUTORA A, 01.06.2017).
Marie Curie foi motivo de reprovação de um livro de Química avaliado no
âmbito do PNLD.
Um livro de Química do meu grande amigo, que é excelente. Foi usado durante anos no seu formato comercial pela Editora de uma escola privada. Mas ele era um grande professor. Sabe por que desaprovaram o livro? Primeira razão: porque desconsidera questões de gênero. Por que desconsidera questão de gênero? Porque esqueceram de botar a Marie Curie. [...] Você acha que uma pessoa que tem filhas desconsidera as questões de gênero? E é um homem de uma grande sensibilidade. [...] Só porque não citou Marie Curie? Bota a Marie Curie depois, gente! [...] (AUTORA E, 17.08.2017).
“[...] insustentável é essa criançada ficar sem esses livros didáticos, reprovados
por aspectos que seriam facilmente corrigidos, tá. Isso é insustentável” (AUTORA E,
17.08.2017).
O Autor U discorreu sobre seus questionamentos sobre a falta de clareza nas
avaliações. “[...] a gente não sabe qual é o foco dessa avaliação”.
337
[...] toda avaliação está sujeita a erro, né. Você avalia o avaliador e ele está sujeito a errar, né, é humano também. [...] putz, tem tantas variáveis na avaliação. Então eu penso sob que aspectos estão sendo avaliados, né? Se sob um aspecto mercadológico, se é uma necessidade social, se é uma... sei lá... algo acadêmico, né. Porque tem livros que são ótimos e não foram selecionados, né. E assim, isso não fica muito claro na avaliação (AUTOR U, 22.08.2017).
Esse ponto também foi questionado pela Autora E: ―[...] dentro dessa caixa
preta tem fenômenos do tipo, Editoras pequenas que não aprovaram nenhum livro,
ficaram à mingua no PNLD 2018, o de ensino médio. Acabou de ser divulgado. As
pequenas, nenhum livro. Como assim?”
Ela também chamou a atenção para as linhas de pensamento no interior da
academia.
[...] veja só: Sentindo a natureza. Agora, se esse meu livro, em 2018 chega na mão do avaliador positivista, ele vai dizer: ―como assim, sentindo a natureza? Não. Imagine. Isso não existe. Como o professor vai ensinar sentindo?‖. Então, a radicalização das opiniões está nos levando para um buraco bastante grande. Certo? Em vez de a gente estar se unindo em torno das questões comuns, quais sejam: melhorar a convivência humana pra gente poder se apoiar na sustentação do planeta etc. Mas não, né. Cada um querendo tirar seu biscoitinho, sua lasquinha. Isso é completamente contrário à ideia de sustentabilidade (AUTORA E, 17.08.2018).
De fato, “isso é completamente contrário à ideia de sustentabilidade”. É nesse
sentido que nos associamos ao coro que defende que a popularização do
conhecimento científico e seu desenvolvimento por meio da crítica e de
questionamentos são fundamentais para uma melhor aplicação nos contextos
práticos da vida cotidiana, na atenção com a saúde, o meio ambiente e as políticas.
No momento exato em que eu escrevo estas palavras recebo ―notícias do
mundo de lá‖206: ―Minas tá na lama. Não, dessa vez não foi em Mariana. Foi em
Brumadinho‖, disse a voz do outro lado da linha. Mais uma injustiça socioambiental.
Nesse contexto trágico, a palavra lama logo ganhou destaque nas manchetes.
―Barragem da Vale se rompe e lama invade Brumadinho, na Grande BH‖ 207. Então
eu pergunto: ―Quanto Vale o ―solo inconsolidado‖?
206
Cf. Milton Nascimento. ―Encontros e despedidas‖. Disponível em: < >. Acesso em: 25 jan. 2019. 207
Cf. Metro Jornal com BandNews. ―Barragem da Vale se rompe e lama invade Brumadinho, na Grande BH‖. Disponível em: <https://www.metrojornal.com.br/foco/2019/01/25/barragem-da-vale-se-rompe-e-lama-invade-brumadinho-na-grande-bh.html>. Acesso em: 25 jan. 2019.
338
Figura 28 - “Imagens aéreas da região onde se rompeu a barragem Córrego do Feijão antes e depois da tragédia”. Fonte: João Vítor Marques (foto: Reprodução/ Wahatsapp) - Jornal O Estado de Minas
208.
3.4.5 Os campos de interações
Neste eixo focalizamos os campos de interações, a fim de identificar a posição
dos agentes. Analisamos as consequências da contextualização das formas
simbólicas, particularmente a valorização das obras didáticas e das/os profissionais
que as escrevem.
Tal como fez Thompson (1998, 2013), nossas análises articulam-se com
conceitos desenvolvidos pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, compreendidos em
sua interdependência209. Assim, a noção de campo serve de instrumento ao método
relacional de análise das dominações e práticas específicas de um determinado
espaço social. Cada espaço corresponde a um campo específico no qual são
determinadas as posições sociais das/os agentes e onde se revelam os grupos
detentores de maior volume de capital, entendido como todo recurso ou poder que
se manifesta em uma atividade social.
Ressaltamos que a noção de campo nos ajuda a compreender o universo de
autoras/es de publicações didáticas de uma perspectiva relacional, para além de
208
Cf. O Estado de Minas. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/25/interna_gerais,1024498/antes-e-depois-da-regiao-onde-se-rompeu-a-barragem-em-brumadinho.shtml>. Acesso em: 25 jan. 2019. 209
Os conceitos aqui utilizados podem ser identificados em diversas obras de Pierre Bourdieu. Para os objetivos aqui propostos concentramo-nos principalmente na obra intitulada ―Razões práticas: Sobre a teoria da ação‖, publicada originalmente em 1994, na qual o autor apresenta um retorno reflexivo sobre o conhecimento acumulado e os fundamentos de suas pesquisas anteriores.
339
instituições e organizações específicas. Embora identifiquemos a presença de
diferentes agentes, nossas análises primeiramente se concentram nas relações de
autoras/es com o campo editorial de materiais didáticos brasileiros. Isto porque tal
como Thompson (2013) entendemos que o ponto de partida da cadeia de valor é a
criação, a seleção e a aquisição de conteúdo, principal território onde autoras/es e
Editoras interagem.
Decerto que o processo de publicações didáticas é influenciado pelas
complexidades do campo educacional e do PNLD, mas de maneira geral o campo
de publicações é um universo amplo e complexo e a cadeia editorial é composta por
uma série de elos organizacionais por meio dos quais um produto específico, no
caso o livro, é gradativamente produzido e distribuído até chegar às/aos leitoras/es.
A partir dos dados catalográficos das obras é possível constatar que a cadeia
editorial envolve diferentes atividades e profissionais (diagramação, editoração de
texto e imagem, iconografia, programação visual, ilustração, revisão, gráfica,
controle de qualidade, distribuição etc). Implica dizer que a cadeia editorial é também
uma cadeia de valores, no sentido de que cada elo e cada profissional agregam
algum valor ao processo de produção.
De maneira geral, o campo editorial funciona da seguinte maneira: as pessoas
ocupam determinadas posições, podem se tornar especialistas e ser promovidas a
posições mais altas e de mais autoridade dentro dele, mas podem não saber
absolutamente nada do que se passa em outros campos. Veremos que não é o caso
das/os autoras/es entrevistadas/os. Falaram com eloquência sobre seus mundos
para além do campo editorial nos quais interagem, principalmente o campo
educacional.
Informações sobre as autorias são comuns em todos os tipos de literatura, mas
é notável a riqueza de detalhes sobre a formação e experiências de autoras/es nas
apresentações, geralmente publicadas na folha de rosto das obras didáticas,
conforme definições constantes dos Editais do PNLD, no que se refere à ―Estrutura
Editorial‖. Este é um aspecto interessante das formas simbólicas haja vista que o
capital cultural de autoras/es é um recurso que se manifesta na atividade social e
criativa que constitui a escrita e elaboração de uma obra. Por outro lado, o capital
cultural, entendido como saberes e conhecimentos reconhecidos por diplomas,
títulos e experiências profissionais contribui para conferir credibilidade à obra.
340
Quando consideramos que no PNLD professoras/es são indicadas/os como
principais agentes de decisão sobre a escolha da coleção que será utilizada na
escola, podemos inferir que a experiência das/os autoras/es em sala de aula pode
significar um diferencial, haja vista que tal atuação propicia não só a proximidade
com o universo de professoras/es e estudantes, mas também implica o uso de
habilidades e competências, um conhecimento que se traduz na prática da escrita e
elaboração das obras didáticas. O valor agregado pode, por exemplo ampliar as
possibilidades de uma coleção ser adotada, embora este não seja o único fator
determinante da escolha. [...] Todo mundo aqui é professor há muito tempo. Então, a
gente também já tem a experiência, pois a gente trabalha na escola, no Ensino
Médio e Fundamental (AUTORA A, 01.06.2017).
Em nossas análises apreendemos que o mundo de autoras/es escritoras/es
não é o mesmo das Editoras. Embora interdependentes, são dois universos
diferentes e que por vezes colidem um com o outro. Alguns exemplos:
Porque vamos pensar o seguinte: você como autor depende de uma Editora, certo? A Editora, ela não é criada para inovar, né. Ela é criada para vender. Então, a Editora, mesmo que ela fale que está inovando, porque muitas delas usam isso como palavra-chave de campanhas comerciais, o que elas mais estão interessadas é reciclar aquilo que elas já têm, né. Quando você chega com uma proposta muito nova, vixe, elas se arrepiam. Algumas topam. Outras, não. Então, assim, a inovação, ela vai encontrar mais obstáculos. A começar, vamos dizer assim, a começar do sumário, né. Porque quem não está inovando já tem o sumário, já, bem pronto, né, lá nos livros alheios, né. Quem não está inovando. Quem está inovando vai criar. (AUTORA E, 17.08.2017). Cada texto, cada frase, às vezes você briga pra manter uma frase. Briga pra que uma preposição não entre. Porque aquela preposição muda tudo. E não é do ponto de vista conceitual. É do ponto de vista das ideias mesmas, das concepções que você tem. Então são embates. Porque, apesar de eu ter liberdade na Editora pra propor, sempre tem aquelas ponderações, ―ah, então...‖. [...] acho que se você tem os ônus e bônus, né. Então, se você tem os ônus, você ganha dinheiro com o livro, né. Você ganha prestígio com os livros. Então, você tem uma responsabilidade social, né, política e social. Acho que de forma alguma é uma literatura neutra (AUTORA A, 01.06.2017). Faz uns sete, oito anos, a Editora falou: ―vamos tirar esses textos que vocês escrevem e substituir por leituras de outros livros‖. É, usando gente de gabarito, talvez seja até melhor, tem mais chamariz. Mas era um momento que a gente usava leituras pra passar a nossa ideia. Eu lembro que eu tinha textos meus que falei muito para os alunos e hoje já não estão no livro. É pena (AUTOR I, 22.08.2017). [...] eu tinha, no nono ano, três capítulos falando de meio ambiente na Física (riso). Eu estava falando de matriz energética, eu estava falando dos impactos ambientais e assim, a maneira como a gente trabalha, né. [...]. E
341
muitas vezes sugeriram pra gente ―nãooo, de novo isso?‖, a própria Editora: ―ah, tá muito, nanananan‖ e foi enxugando. Resumimos a um capítulo só no nono, na quarta, na quinta edição (Autor U, 22.08.2017).
“Agora tem coisas que são autorais, a gente não muda. Por quê? Porque a
gente acha importante”.
[...] como Sexualidade, que em algumas escolas: ―ah, por que não bota no final do livro?‖. Olha, tá de propósito no início. Que é para o professor começar o ano e já trabalhar isso. Não é pra ficar para o final do ano letivo, não. E aí, o que a gente pode fazer, ok... mas outras vezes não. Porque cada vez que a gente tem que abrir mão de alguma coisa no livro ou mudar muito uma coisa que a gente concebe como interessante, mexe com toda a lógica interna nossa, (da equipe de autoras/es) né. [...] Depois a gente teve aquele evento com uma situação com uma escola no Norte do país em que a Editora optou por não se pronunciar, e sim esperar algum “comunicado oficialmente”. [...]. Aí alguém que gosto muito da equipe da Editora falou assim: ―ah, não, que é isso? Claro que vai. Mas qualquer coisa a gente faz uma adaptação‖. Eu falei: Opa! Aí na hora eu pensei assim, calma, [...]. Uma batalha de cada vez. Não vai brigar agora por uma coisa que é daqui a três anos. Calma. Mas pensei, opa, que adaptação? Vou tirar meu (risos) pênis ereto do livro? Mas não vou mesmo. Eu já tive que abrir mão de outras coisas ao longo dos anos. Olha só, o livro da década de 1990, também aprovado pelo PNLD, era muito mais progressista. Tinha a imagem – desenho em corte – de um casal transando, mostrando o caminho dos espermatozoides. Sim, tinha. E tinha outra imagem representando a vulva, bem grande. Aí você também vê a questão do esvaziamento das questões sociais (AUTORA A, 01.06.2017, grifo da pesquisadora).
A ocorrência de conflitos aponta para um viés ideológico haja vista que o poder
simbólico naturaliza a ideologia dominante. No plano material o valor simbólico de
um bem está relacionado com seu valor econômico. No mercado editorial, quanto
maior a aceitação da obra, mais comercial e maior valor econômico será a ela
atribuído.
No âmbito do PNLD, quanto maior a aquisição maior o poder de negociação.
Quanto maior o volume de venda, menor o preço do caderno tipográfico210. Quanto
maior o capital econômico de uma Editora maior o investimento em divulgação e
marketing, o que coloca em vantagem os grandes grupos editoriais que cada vez
mais expandem seus negócios no Brasil, território cada vez mais controlado por
capital estrangeiro. Embora a margem de lucro obtida com as vendas ao governo
federal seja inferior àquela obtida pelas vendas ao mercado privado, a escala de
vendas no âmbito do PNLD é maior. Portanto, compensa. Não por acaso as vendas
210
A negociação é baseada no número de cadernos tipográficos que geralmente são adquiridos pelo percentual de 10% do preço de capa.
342
ao governo federal constituem um grande negócio para as Editoras e representam a
fatia mais significativa do mercado editorial brasileiro.
No contexto de produção, algumas práticas e procedimentos adotados podem
impactar no ciclo de vida da obra: “[...] o primário meu acabou, a Editora não está
usando mais. Fora do catálogo é o nome” (AUTOR I, 22.08.2017).
Dependendo dos interesses, uma Editora pode manter no catálogo obras de
autoras/es falecidos, responsabilizando-se pela reformulação, revisão e atualização
de informações, respeitando os contratos com os sucessores legais. Trata-se,
portanto, de um tipo de obra coletiva.
[...] se um professor gostou dos meus livros, ele tende também a escolher de novo. Mas isso acontece com os concorrentes também. É difícil às vezes vencer a resistência de um professor que usa o mesmo livro há 20 anos. E às vezes aquele professor usa aquele livro... Eu brinco: Professor, desse livro, o autor já está morto. Quem faz a atualização é a Editora. Você não tem nem com quem dialogar. Que tal usar um livro de um autor vivo, com quem você possa conversar, né? (risos). [...] então, e tem aquela coisa e vendem muito. Muito, muito, muito. Muito. Porque é um livro que os professores, assim, já se sentem seguros [...] (AUTORA A, 01.06.2017).
Na cadeia de valores, caso a Editora considere insuficiente o valor agregado
frente às despesas, ela pode romper o elo da cadeia. Mudanças tecnológicas
também contribuem para isso uma vez que elas alteram as funções desempenhadas
pelos elos específicos.
[...] São duas coisas que podem acontecer, concomitantemente ou isoladamente. O trabalhador parar ou ser parado. Ou as duas coisas confluem. Eu fico meio desconfiado que a Editora já está pegando mais pra si a reformulação. A última que houve, eu preparei uma série de coisas e de repente recebi um telefonema: ―olha, já está pronto‖. Então, bom... (risos). De um lado, você pode dizer: poxa, que bom, eles fizeram tudo. Mas, eu sinto que a Editora usou um critério que acho que podia ter... eu ainda tenho condições de trabalhar, inclusive porque nem sempre a Editora tem gente de Biologia, de Química, de Física e tem um que faz lá, que não tem experiência, recém formado na faculdade (AUTOR I, 22.08.2017).
O ciclo de vida de uma obra também pode ser impactado por resoluções no
âmbito federal, como apontaram o Autor I e a Autora E. É o caso, por exemplo, das
coleções destinadas à Educação do Campo. O último Edital de Convocação para
Inscrição e Avaliação de Obras Didáticas para o PNLD-Campo foi em 2016. O FNDE
informou em 2018 que, ―em decorrência de estar em andamento a revisão de
marcos legais da educação nacional, não haverá, para 2019, escolha específica de
343
materiais para atendimento das escolas rurais‖ (INFORME Nº 07/2018 –
COARE/FNDE).
[...] já estamos só com um livro do Fund II porque parece que não vai sair mais o Campo. Eu tinha um Fundamental I para o PNLD do Campo. Acho que você deve conhecer, talvez, parece que ele não está no Edital. Parece não, não está. [...] Então, não se sabe direito se vai voltar o Campo para o ensino normal ou se vai prolongar o uso do material que está sendo usado já no Campo por algum tempo. Parece que não. O mais provável é que volte o ensino, ou melhor, o material, o PNLD do Campo volte a fazer parte do ensino Fundamental I, normal. Pra mim, pessoalmente, é ruim porque eu não tenho o material. E eu gostei do material do Campo, ficou muito bom. Agora, eu estou realmente mais para o final do tempo, aí. O professor (nome do autor com quem escreve) já tem 83 (anos), vai fazer 84 já, está ótimo, mas já não tem trabalhado mais com os livros (AUTOR I, 22.08.2017, grifos da pesquisadora). [...] esse é o livro interdisciplinar. Esse aí não tem Edital pra ele esse ano. Era pra ter e não tem. A gente até fez um estudo de acordo com a BNCC. Mas a BNCC não tem nada a ver com o Campo, tá. Nada. Porque não faz o menor sentido o Campo estudar plantas apenas no segundo ano do fundamental, certo? Você tem que estudar todos os anos, em vários enfoques... to exagerando, tá. Talvez tenha lá um ano que estudou a planta de um jeito mais associado, com ênfase em outro conteúdo. Mas enfim, não tem nada a ver com o Campo. Ainda bem que não saiu o Edital. Se saísse, você ia ver, ia sair tudo diferente (AUTORA E, 17.08.2017).
Identificamos que a proximidade de autoras/es com o professorado brasileiro
somada a habilidade em saber diagnosticar pode levar à criação de um produto novo
que atenda e se adeque melhor às necessidades de seu público. É o caso de
sucesso mencionado pela Autora A.
[...] E eu tive a oportunidade, eu tenho a oportunidade, pela Editora, de visitar a escola e saber dos colegas o que acham. Trazer, por exemplo, sugestões, “o que a gente gostou, o que a gente não gostou”. Por exemplo, por demanda de colegas, a Editora produziu um volume de Biologia para o 9º ano. Eu viajava pelos Estados e os Professores falavam: “Poxa, a gente já dá Biologia também no 9º ano. Aqui os nossos estudantes têm Química, Física e Biologia”, em vez de ter Ciências. Eu atentei que isso era predominante. E o que eles faziam com a Biologia? Pegavam um livro de Ensino Médio, faziam apostila. Falei: Gente, vamos produzir um volume para o 9º ano? A gente tem a nossa coleção, e aí não é pelo MEC, né. Vamos fazer um volume para o 9º ano, em que a gente traga já questões ambientais, traga um pouco de evolução, de genética? Mas, assim, uma linguagem bem mais palatável, para aquele estudante que está no 9º ano. Foi um sucesso! Começou assim. A Editora: ―ah, será?‖. Falei: Confia que vai. Muitas escolas são assim (AUTORA A, 01.06.2017).
O caso ilustrado pela Autora A nos leva a investigar outro aspecto: as Editoras
possuem um tipo de recurso que é vital para obter sucesso – o capital intelectual
frequentemente chamado de propriedade intelectual. Esse tipo de recurso se traduz
344
no direito que a Editora adquire de usar e explorar o conteúdo intelectual, de publicar
ou torná-lo disponível para que ele gere retorno financeiro. A maioria das
organizações editoriais não cria ou detém seu próprio conteúdo. Para adquirir
conteúdo, as Editoras entram em relações contratuais com autoras/es.
No âmbito do PNLD a propriedade intelectual é condição indispensável para a
participação das Editoras. Tanto que os editais de convocação para inscrição no
processo de avaliação e seleção de obras a serem incluídas no Guia de Livros
Didáticos são dirigidos aos ―titulares de direito autoral‖ ou aos ―editores‖. Por Editor
entende-se ―a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo de
reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no contrato de
edição‖ (EDITAL PNLA, 2010, p. 15). Visando comprovar que detém o direito autoral
patrimonial sobre a obra, a Editora deve apresentar o ―Contrato de edição‖ logo na
primeira fase de triagem. Trata-se de instrumento escrito mediante o qual a empresa
editora obriga-se a reproduzir, divulgar e comercializar a obra, ficando autorizada,
em caráter de exclusividade, a publicá-la e explorá-la, pelo prazo e nas condições
pactuadas com a/o autor/a, com base no que preceitua a legislação, em especial a
Lei nº 9.610/98, a qual altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos
autorais. Portanto, podemos considerar que o desenvolvimento da lei do copyright
tem menos a ver com a salvaguarda dos direitos de autoras/es do que com a
proteção dos interesses dos editores.
Neste foco de análise a noção de campo pode ser utilizada para caracterizar a
autonomia de certo domínio de concorrência e disputa interna. São diversos os
aspectos implicados nessa problemática.
Os ―Contratos‖ implicam o pagamento por direitos autorais e dependem do tipo
de acordo estabelecido entre as partes, podendo ter adiantamentos, pagamentos
trimestrais etc. Dificilmente autoras/es de livros didáticos conseguem ganhar 10%
em cima do preço de capa. Como confirma a Autora A, “para livros didáticos o
percentual é 9%”. Mas este percentual pode variar para menos. Como explicita o
Autor U,
É. Eu sei assim, pelo seguinte, tem muita manipulação. Tem muita. Tanto da Editora quanto governamental. Entendeu? Tem muita corrupção, né, nesse país. A corrupção não é só lá em Brasília. Corrupção está aí, está na esquina. E eu vejo assim, a gente tem uma preocupação na nossa coleção. E a gente passa essa preocupação pra Editora, a gente cobra da Editora, mas eles fazem do jeito deles. É assim, eu sei o jeito que eles ganham mais dinheiro, né, a própria Editora é..., no nosso material, eles fizeram uma proposta da gente reduzir o direito autoral pra poder entrar em determinado
345
local. Entramos em determinado local e aí depois aquilo estourou. Não se falou mais em reajustar os direitos autorais [...] (AUTOR U, 22.08.2017).
Se por um lado a necessidade de adquirir conteúdos coloca as Editoras em
posição competitiva frente a outras que podem querer adquirir o mesmo conteúdo ou
conteúdo semelhante, por outro as grandes Editoras cujo acúmulo de capitais é
maior leva vantagem frente às Editoras de menor porte. Tais aspectos são
apontados pela Autora E, ao expor as virtudes e vulnerabilidades das pequenas
frente às grandes Editoras:
Olha tá difícil. Porque estar em Editora grande, se você não é aquele feijão com arroz que..., sabe, que vende? Por que é que vende? ―Ah porque o professor brasileiro é baixo nível‖, usando a palavra deles, dos Editores. Ah, então, tá. Então, nós vamos sempre deixar o nível do livro desse jeito porque você não propõe mais nada, né? Sabe? Então é assim. Aí você vai para uma Editora, os caras enchem a sua bola: ―não, nós vamos vender em tal lugar, que é bacana, a sua obra entra, não sei o que‖. Só que eles não fazem nada pra vender, na Editora grande. Sabe? A Editora é comercial mesmo. Ok. Aí você vai para a Editora pequena. Só que a pequena não tem a estrutura editorial para dar conta do tamanho da empreitada. E aí, de última hora, eles não dão conta, eles erram, eles trocam as bolas, eles metem o pé pela mão. Nesse caso, eu vou te falar, eu estava vendo que o negócio estava correndo um sério risco, mas eu não podia fazer nada porque depois que você entrega pra eles é deles, né. No último PNLD (2017 – séries finais do Fundamental), a Editora que nos editou fez diversos erros e a obra foi excluída. É uma tristeza, né? A obra foi inscrita e reprovada. Foi reprovada por erros editoriais. Sabe o que é que tinha? O livro tinha página duplicada (AUTORA E, 17.08.2017, grifo da pesquisadora).
Além da disputa entre grandes e pequenas Editoras, algumas delas também
―desenvolvem‖ e produzem conteúdo próprio e com isso promovem uma disputa
interna. No âmbito do PNLD tais coleções configuram na categoria de ―obra coletiva
concebida, desenvolvida e produzida‖ pelas próprias Editoras, denominadas
simplesmente ―obras coletivas‖.
A produção “das obras coletivas que significa sem autoria, com editor
especialista responsável” vem aumentando desde os anos 2000, como pudemos
identificar a partir dos relatos da Autora E.
Ao empreender uma investigação nos ―Guias de Livros Didáticos‖ publicados
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no período de 1985
a 2017, identificamos os títulos das coleções, as Editoras e os nomes de autoras/es
que assinam as obras. Foi nos Guias publicados em 2006, 2007, 2013 e 2016,
resultantes, respectivamente, da Edição 2007 do PNLD (séries iniciais do Ensino
346
Fundamental) e das Edições 2008, 2014 e 2017 do PNLD (séries finais do Ensino
Fundamental) que identificamos obras coletivas, as quais as Editoras se assumem
como ―Organizadoras‖ e nomeiam um ―editor responsável‖.
Embora tenhamos identificado que obras coletivas constem dos Guias a partir
de 2006 (Edição PNLD 2007), as categorias ―organizador(es)‖ e/ou ―editor(es)
responsável(eis)‖ são mencionadas pela primeira vez no Edital de 2010, do PNLD
para a Alfabetização de Jovens e Adultos, quando a identificação na capa passou a
ser uma exigência apontada no item que versa sobre ―Caracterização das Obras
Didáticas‖: ―3.5. Somente serão aceitas inscrições de obras cujo(s) autor(es),
organizador(es) ou editor(es) responsável(is) seja(m) pessoa(s) física(s), claramente
identificadas na primeira capa do livro‖ (EDITAL PNLA, 2010, p. 3). Nota-se que
essa condição passou a constar dos editais subsequentes.
Segundo informações de um editor com quem tivemos conversas informais, ―o
mercado brasileiro entende que uma obra deve ser assinada por um autor pra gente
colocar a responsabilidade do conteúdo sobre ele e não sobre a Editora‖. De seu
ponto de vista, isso ―é complicado porque geralmente nós temos autor que é
generalista e não são especialistas‖. Em sua explicação, ―nem sempre o
professorado e quem não é do meio editorial entende que uma obra coletiva é uma
obra em que o editorial encomenda os seus capítulos para especialistas de
referência na área e paga direitos autorais por isso‖. No que se refere ao valor
econômico, ele informou que ―evidentemente tem um preço diferenciado, superior
para o colaborador que vai escrever e que recebe independente se o livro vai ser
aprovado ou não‖.
Quem são as/os profissionais para quem os editoriais encomendam a escrita
de capítulos de obras didáticas? De maneira geral, nas Editoras são considerados
como autoras/es colaboradoras/es.
Assim como as Editoras podem manter em seu catálogo obras autorais e
coletivas, no PNLD elas podem inscrever e submeter ao processo de avaliação mais
de uma obra ou coleção, de maneira que a concorrência ocorre não só entre as
várias Editoras, mas também internamente, entre as obras publicadas pela mesma
Editora. Quanto maior a propriedade intelectual maior pode ser o número de obras
inscritas, conforme os interesses.
Embora os Guias de Livros Didáticos possam ser vistos como uma ―vitrine‖ de
coleções aprovadas, constatamos que quanto maior o capital econômico de uma
347
Editora maior o investimento em divulgação e marketing, que por sua vez pode ser
estrategicamente segmentado.
Em 2001 participei da Convenção Anual de uma das maiores Editoras atuantes
no Brasil. Como veremos mais adiante esse tipo de evento é comum no campo
empresarial. O evento reuniu mais de 500 vendedoras/es e representantes de todo o
país, vinculados à empresa. Pude constatar que as/os divulgadoras/es são
profissionais que geralmente têm uma remuneração baixa, complementada com
uma comissão sobre as vendas, o que se revela na prática um grande incentivo.
Brindes e ofertas de toda natureza são comuns, assim como outras práticas
condenáveis de concorrência.
[...] mas há excelentes professores e alguns coordenadores e secretários e há os que se vendem pra usar um livro tal. A cidade tal usa o livro tal. E aí você ouve dizer. “Mas por que escolheram esse? O que falta no meu?‖. ―Não, no seu não faltou nada, mas compraram não sei quantos tablets, não sei quantos computadores, notebooks e salas especiais em troca de usarem os livros tais, tais e tais‖. E isso é o próprio secretário, o coordenador responsável. Você já deve ter ouvido falar nisso também. É uma briga comercial das Editoras, de modo agressivo, comprando aí. Ainda tem. É, a gente ouve dizer que tem que usar o livro tal porque... É claro que prova é outra coisa, mas... É porque aconteceu, né? Claro. Riqueza de detalhes é o que a gente ouve aí na TV com esses... atualmente com a política, né? É tanta coisa que surge... (AUTOR I, 22.08.2018).
“Os sistemas de ensino são os mais agressivos”, disse o Autor I. Ele citou
como exemplo o COC e o Positivo que supostamente patrocinam equipamentos
para escolas públicas. Ele explicou o funcionamento nas escolas particulares.
O mais agressivo é o sistema. O COC é um dos patrocinadores. É o Positivo e o COC. São extremamente agressivos, né. Assim, no colégio particular, você assina contrato por cinco anos, pra usar o o sistema, o primeiro ano sem custo algum. Você só começa a pagar no segundo ano. Esse primeiro ano você cobra dos alunos e fica com você o dinheiro. E o dono da escola vai optar o que? Por livros e coisa? Não. O primeiro ano inteirinho os alunos pagando pra ele. E o sistema só vai cobrá-lo a partir do segundo ano. Um contrato desse pouco importa a qualidade da apostila [...] (AUTOR I, 22.08.2018).
A disputa entre as Editoras é tão acirrada que o MEC considerou a
necessidade de regulamentar a forma de divulgação das obras. Assim, desde 2005
foram instituídas normas de conduta para o processo de execução do PNLD, quando
ficou vedado às Editoras realizar a divulgação das obras diretamente nas escolas,
348
exceto o envio de livros e catálogos por remessa postal. Na ocasião, a Abrelivros,
entidade que reúne as maiores Editoras de livros didáticos no Brasil, reagiu com
intensidade. Segundo Sampaio e Carvalho (2010, p. 35), a entidade insistia em
manter ―a livre concorrência‖ e a ―desregulamentação‖ da divulgação, com ênfase na
permissão da presença de divulgadoras/es nas escolas. Usou a imprensa,
encomendou pesquisas, fez pressão parlamentar211.
Em nossas buscas constatamos o investimento das Editoras na força de
vendas. Exemplo disso é a Convenção Nacional de Vendas, realizada em 2016,
―promovida e idealizada para motivar e engajar a equipe comercial‖ da Santillana
Brasil na campanha PNLD 2017212.
Figura 29 - “Convenção Santillana Brasil, estratégia para o PNLD 2017”. Fonte: Blog Santillana (2016).
Segundo seus idealizadores, ―o encontro é o estopim para o lançamento da
campanha‖. O evento intitulado ―Convenção Santillana Brasil, estratégia para o
PNLD 2017‖ foi batizado de ―Olimpíadas PNLD - A Luta pelo Ouro‖. Entendemos que
a escolha está em sintonia com o momento vivido no Brasil em 2016, quando o país
211
Cf. MEC/FNDE – Conselho Deliberativo. Resolução Nº 15, de 26 de Julho de 2018. Dispõe sobre as normas de conduta no âmbito da execução do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Disponível em: <https://www.snel.org.br/wp-content/uploads/2018/07/Resolucao_Normas_de_CondutaII_PNLD.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2018. 212
Cf. Convenção Santillana Brasil, estratégia para o PNLD 2017 – ―Olimpíadas PNLD – A Luta pelo Ouro‖. Disponível em: <https://www.gruposantillana.com.br/web/guest/home/-/blogs/convencao-santillanabrasil?_33_redirect=https%3A%2F%2Fwww.gruposantillana.com.br%2Fweb%2Fguest%2Fhome%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_tag%3Dpnld >. Acesso em: 18 dez. 2017.
349
sediou os ―Jogos Olímpicos‖. Tanto que o evento da Editora contou com a
participação especial de Giovane Gávio, ―atleta renomado do esporte mundial,
bicampeão olímpico no vôlei, que compartilhou sua experiência de vida, revelando
conceitos importantes de motivação, para desenvolver atitudes de campeão, superar
e atingir a excelência nos resultados‖.
Participaram da ―Convenção Santillana Brasil‖ mais de 300 profissionais da
força de vendas da companhia para que ―recebessem as orientações necessárias
para visitar escolas e órgãos públicos envolvidos na escolha do livro didático‖.
Nas palavras de Ivan Aguirra Izar, gerente de Marketing e Comunicação da
Editora Moderna,
Nesses dias, promovemos atividades para que a equipe compreenda a importância estratégica da campanha e, fundamentalmente, receba informações comerciais de forma uniforme e estruturada para garantir efetividade em cada visita. O profissional sai da convenção com objetivos claros para cada visita e ferramentas adequadas para sua execução. [...]. Esperamos manter nossa posição de liderança reconhecida no meio educacional, com livros didáticos da Moderna nas mãos de estudantes de todo o Brasil.
Gostando ou não, autoras/es são envolvidas/os nessas estratégias de
divulgação. Metade das/os entrevistadas/os sinalizou a participação em oficinas e
palestras para professoras/es e todas/os relataram sobre viagens e visitas a escolas
de várias regiões do país, patrocinadas pelas Editoras. O Autor I explicitou o
acompanhamento de divulgadoras/es.
Porque a Editora pede auxílio, não pra divulgar o livro, mas dar palestras, e o divulgador que vai junto faz a divulgação. Mas aí é muito contato com professores, com coordenadores, com secretários. O intuito é vender o livro, mas eu ouço muita coisa e vejo muito. [...] sei lá, em 20 Estados, talvez 21, por onde passei, capitais e interior, conversando com os professores, nas condições mais inóspitas possíveis. Eu dei palestras em quintais, dei palestra em rua onde tinha loja Marabrás fazendo propaganda com megafone, e... Mas acho que estou mais ou menos encaminhando para o final mesmo. E depois a saúde não ajuda pra esse ritmo de viagens. Quando sai o PNLD aprovado são dois, três meses com palestra manhã, tarde e noite, com frequência. Em alguns lugares, em Brasília, Londrina, a filial pega você em palestras de manhã, à tarde e à noite. Em Pato Branco, sul do Paraná, pertinho de Santa Catarina, eu cheguei a dar uma palestra para quatrocentos e poucos professores, estava até o prefeito, e, no Teatro Municipal da cidade, cheguei a fazer algumas (AUTOR I, 22.08.2018, ênfases do entrevistado).
350
Ele assumiu não ter “nenhuma facilidade pra comercial”. Explicou que as
palestras são direcionadas para professoras/es, mas em determinada cidade o
prefeito também participou.
Na verdade não é sobre as obras. É um... o intuito é vender o livro. Eu não tenho nenhuma facilidade pra comercial, mas os títulos das minhas palestras, de um modo geral, foram ou são Motivação para as aulas de Ciências, Aulas Práticas de Ciências, Avaliação em Ciências, mas, de um modo geral, um pouco práticas. Prática no sentido de reais, com pouca teoria pedagógica [...] (AUTOR I, 22.08.2018).
Em nossas análises identificamos que além do capital econômico e do capital
intelectual, nessa acirrada disputa mercadológica também conta o capital social, ou
seja, os canais e as redes de contatos e relações, às vezes ilícitas, que uma
organização constrói ao longo do tempo e que envolvem diversos interesses. “[...] o
comercial é um abacaxi. É pena a gente ter que... há livros excelentes que não
vendem nada” (Autor I, 22.08.2018).
[...] se eu tivesse aceitado, na ocasião, trabalhar com um grupo que estava mais fortalecido dentro da Editora (nome da organização), eu teria feito uma contribuição mais forte dentro da Editora, né, porque esta obra coletiva que era a (título da obra) naquela época, né (início dos anos 2000). A (título da obra) ganhou muita força de divulgação e a minha ficou por baixo na parte de divulgação. E por isso a obra ficou enfraquecida e eu acabei me incomodando muito porque os meus colegas ligavam pra lá, (para a Editora), imagina, eu conhecia, naquela época eu tinha uma rede de contatos enorme. O pessoal ligava pra lá: ―ah, eu quero o livro da (Autora E)‖, eles levavam a (título da obra). Isso mais de uma vez, relatado assim por pessoas amigas que queriam trabalhar com a minha proposta, né. E aquilo foi me incomodando, me aborrecendo. Mas, aí, nesse momento a gente..., eu, quando o meu livro foi reprovado, (2004) junto com vários outros de autores importantes, né, nesse momento eu me aborreci bastante com a (Editora). Já vinha me aborrecendo e eu tirei o livro de lá, achando que eu ia levar para outro lugar e não levei. Fiquei sem obra de primeiro a quinto. Até o último PNLD tem, né. [...] Mas, a Editora faliu, não fez a reposição dos livros (AUTORA E, 17.08.2017, grifos da pesquisadora).
A Autora A apontou que um aspecto importante. Disse que, embora as Editoras
enviem as coleções para apreciação de professoras/es, por algum motivo algumas
escolas não recebem.
[...] em muitas escolas não sei por que, porque são mandadas as coleções, os livros às vezes não chegam na mão do professor e aí o professor tem que escolher só pela resenha do MEC. E é importante que ele olhe, que ele folheie, a gente sabe que tem pressões variadas, tem pressão, sim, pressões políticas, às vezes, né, é o livro que o coordenador gostou mais e
351
rola uma pressão ou outras questões que a gente já acompanhou que deu até cadeia. Municípios, que o município inteiro escolheu uma coleção e aí depois soube que era um processo fraudulento, mas acho que isso aí é caso de polícia, mas pensando aí na leitura do que é lícito [...] (AUTORA A, 01.06.2017).
É possível que em virtude dos custos de produção, a distribuição gratuita das
coleções por parte das Editoras não cubra todo o território nacional. Mas em nosso
entendimento essa questão pode ser facilmente resolvida com a disponibilização das
obras completas em PDF, com link de acesso aos portais das Editoras, via Guia de
Livros Didáticos.
Como dissemos anteriormente, embora o valor agregado possa ampliar as
possibilidades de uma coleção ser adotada, este não é o único fator determinante,
pois às vezes as escolhas são direcionadas por outros agentes que não
professoras/es. Aqui a noção de capital simbólico, aquilo que chamamos de prestígio
ou honra, nos ajuda a identificar a posição de agentes no espaço social.
[...] e... tem uma manipulação aí. Eu vejo assim, a nossa coleção não é muito bem vendida aqui em São Paulo. Bom, eu vou atrás, eu vou ver. Por que é que não vende? Aí eu chego na Editora e falo assim: é gente, a gente tem que fazer um trabalho de divulgação maior aqui. ―Não, a gente tem que ver..., não sei o que e tal...‖. Então, mas é uma necessidade... Eles não falam qual é o motivo. Eles falam que: ―não, o pessoal pede mais no Rio de Janeiro, em Recife, Santa Catarina, tal‖. Na verdade é o seguinte: quem vende mais aqui em São Paulo, essa pessoa está estritamente relacionada com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Entendeu? E há um jogo, até dentro da Editora, porque essa pessoa está na mesma Editora que eu. Então, fica assim: “São Paulo vai ficar pra tal pessoa‖. E eles fazem isso. Então, não há uma ampla divulgação. E mesmo no PNLD eles dão uma reforçada, ―olha...‖. Então, dos demais, a divulgação... Por que como que é feito? A gente faz a inscrição no PNLD, ele (a coleção) está aprovado, só que a Editora distribui para as escolas. Então... Se a Editora não quiser distribuir a nossa coleção no Rio Grande do Sul, não vai ter a nossa coleção no Rio Grande do Sul. Então não é amplamente divulgado. Então tem uma limitação. Porque a Editora fornece onde ela acha que vai vender mais. [...], a nossa coleção tem uma conotação mais social, pode ter certeza que ela vai ser super bem vendida onde há uma necessidade de uma discussão social de ciências. (o marketing/divulgação) é segmentado. Então é complicado isso (AUTOR U, 22.08.2017, grifo da pesquisadora).
Mas será que Editoras que mantêm em seus catálogos ambos os tipos de
obras vendem ao PNLD mais as coletivas que as autorais? Embora não tenhamos a
pretensão de responder a esta pergunta, consideramos importante realizar uma
investigação. Cruzamos os dados obtidos na investigação realizada nos ―Guias de
Livros Didáticos‖ com os ―Dados estatísticos‖ do PNLD - Ensino Fundamental II –
352
Coleções de Ciências, ambos publicados pelo FNDE (Apêndice). Neste foco da
análise a investigação cobriu o período de 2010 a 2017, pois os valores de aquisição
por ano, título e Editora, anteriores a 2010, não estão disponíveis para consulta no
portal do FNDE.
Localizamos dois grandes grupos editoriais que mantêm em seus catálogos
ambos os tipos de obras: a Saraiva S/A Livreiros Editores e a Editora Moderna.
Identificamos que os números de exemplares e os valores de aquisição da obra
coletiva da Editora Saraiva, ―Jornadas.cie‖, são inferiores aos de suas coleções
autorais. Já a obra coletiva da Editora Moderna, ―Projeto Araribá‖ supera os números
de exemplares e os valores de aquisição das outras duas obras, coletiva e autoral.
Identificamos que os números de exemplares e os valores de aquisição da obra
coletiva intitulada ―Projeto Araribá‖ foram superiores aos da coleção autoral intitulada
―Ciências Naturais: aprendendo com o cotidiano‖, no período de 2010 a 2017, exceto
nas aquisições de 2011, 2012 e 2013. Uma explicação possível para a exceção
pode ser o fato de não ter havido concorrência interna entre as coleções, pois a
referida coleção coletiva não consta entre aquelas que foram aprovadas na edição
2011 do PNLD Ciências (possivelmente não tenha sido inscrita), publicadas no Guia
de Livros Didáticos em 2010.
Observa-se que a coleção ―Projeto Araribá‖ é uma obra coletiva que consta do
Guia de Livros Didáticos 2007 – PNLD 2008. A referida coleção consta também do
PNLD 2014 e 2017, sendo que neste último, conforme publicidade da Editora
Moderna, trata-se do ―Novo Projeto Araribá‖, ―Edição comemorativa dos 10 anos de
Inovações na escola pública‖213. A obra autoral ―Ciências Naturais: Aprendendo com
o cotidiano‖ é uma ―coleção integrante do Projeto Autores Consagrados‖214.
213
Cf. PNLD 2017 – Projeto Araribá Ciências. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OqiQc968zG8>. Acesso em: 17 dez. 2017. 214
Cf. PNLD 2017 – Ciências naturais: aprendendo com o cotidiano. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jdhEmnlZaSc>. Acesso em: 17 dez. 2017.
353
Quadro 13 - Valores de vendas da Editora Moderna ao MEC/FNDE, por título, tipo de coleção- Ensino Fundamental II, no período de 2010 a 2017.
Fonte: Elaboração própria, com base em consulta aos Dados Estatísticos do MEC/FNDE - PNLD Ensino Fundamental II e dos ―Guia de Livros Didáticos‖. (*) Valores de aquisição por título e por editora não constam dos Dados Estatísticos PNLD 2017.
Considerando que os Dados Estatísticos do período anterior a 2010, por título e
por editora, não estão disponíveis no portal do FNDE, realizamos uma busca na
Internet. Não localizamos informações sobre dados estatísticos nem o Registro da
Negociação. Identificamos que em 2007, ano de lançamento das coleções coletivas
―Projeto Araribá‖ no Guia de Livros Didáticos-PNLD 2008, houve uma denúncia por
parte da Abrelivros sobre suposta fraude na compra de livros didáticos em 190
cidades do país. No documento de denúncia, a Abrelivros ―afirma que os livros
recebidos não eram os mesmos pedidos pelos professores‖. Havia suspeita de que a
AQUISIÇÃO EDITORA CÓDIGO TÍTULO REFERÊNCIA TIPO DE COLEÇÃONº DE
EXEMPLARESVALOR TOTAL
PNLD2010 Editora Moderna Ltda 00068C04 Projeto Araribá - Ciências Guia 2007 / PNLD 2008 Coletiva 996.239 4.933.962,81
PNLD2010 Editora Moderna Ltda 00069C04Ciências Naturais: Aprendendo
com o Cotidiano Guia 2007 / PNLD 2008 Autoral 249.615 1.654.565,97
PNLD2011 Editora Moderna Ltda 24844C04Ciências Naturais: Aprendendo
com o Cotidiano
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011Autoral 3.416.398 22.516.061,93
PNLD2012 Editora Moderna Ltda 24844C04Ciências Naturais: Aprendendo
com o Cotidiano
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011Autoral 1.139.270 7.401.087,00
PNLD2013 Editora Moderna Ltda 24844C04Ciências Naturais: Aprendendo
com o Cotidiano
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011Autoral 979.759 6.862.820,28
PNLD2014 Editora Moderna Ltda 27339C04Ciências Naturais: Aprendendo
com o Cotidiano
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014
Autoral 1.159.944 8.475.085,58
PNLD2014 Editora Moderna Ltda 27431C04 Observatório de Ciências Guia 2013 / PNLD 2014 Coletiva 621.053 4.321.620,32
PNLD2014 Editora Moderna Ltda 27455C04 Projeto Araribá - Ciências Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2013 / PNLD 2014Coletiva 1.952.825 11.322.485,81
PNLD2015 Editora Moderna Ltda 27339C04Ciências Naturais: Aprendendo
com o Cotidiano
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014
Autoral 300.373 2.201.332,89
PNLD2015 Editora Moderna Ltda 27431C04 Observatório de Ciências Guia 2013 / PNLD 2014 Coletiva 157.333 1.097.744,04
PNLD2015 Editora Moderna Ltda 27455C04 Projeto Araribá - Ciências Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2013 / PNLD 2014Coletiva 497.133 2.886.048,51
PNLD2016 Editora Moderna Ltda 27339C04Ciências Naturais: Aprendendo
com o Cotidiano
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014
Autoral 304.283 2.628.681,76
PNLD2016 Editora Moderna Ltda 27431C04 Observatório de Ciências Guia 2013 / PNLD 2014 Coletiva 268.184 2.015.268,74
PNLD2016 Editora Moderna Ltda 27455C04 Projeto Araribá - Ciências Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2013 / PNLD 2014Coletiva 524.084 3.607.500,60
PNLD2017 Editora Moderna Ltda 0021P17032Ciências Naturais: Aprendendo
com o Cotidiano
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014
Guia 2016 / PNLD 2017
Autoral 971.831 *
PNLD2017 Editora Moderna Ltda 0032P17032 Projeto Araribá - Ciências
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2013 / PNLD 2014
Guia 2016 / PNLD 2017
Coletiva 1.702.220 *
354
Editora Moderna ―estaria se beneficiando no suposto esquema, já que os livros eram
trocados por material de sua autoria‖215.
Neste foco da análise queremos realçar alguns aspectos da sustentabilidade
do negócio. É certo que os livros didáticos são, na maior parte, livros não
consumíveis216, portanto podem ser e são reutilizados num ciclo que é trienal,
atualmente quatrienal. Embora haja esse intervalo entre as edições do PNLD, a cada
ano são feitas a aquisição principal de um dos níveis de ensino e apenas a
reposição dos livros de outros níveis. Isso implica dizer que as Editoras, cujas obras
foram adquiridas pelo FNDE, têm suas vendas garantidas, por assim dizer,
sustentadas anualmente, ainda que se trate de reposição.
Explicamos. Por exemplo, o PNLD 2010 foi direcionado à aquisição e à
distribuição integral de livros para estudantes e professoras/es do 1º ao 5º ano do
ensino fundamental. Mas nele estão incluídas a reposição e a complementação do
PNLD Ensino Médio 2009 e do PNLD 2008 (6º ao 9º ano do ensino
fundamental). Como se pode notar no Apêndice A, o ―Projeto Araribá‖ liderou o
ranking de reposição de obras em 2010, com 996.239 exemplares cujo montante
resultou em R$ 4.933.962,81. Podemos a partir daí imaginar o volume de aquisição
da referida coleção no PNLD 2008, direcionado às séries finais do ensino
fundamental. Reafirmamos que a referida coleção volta a ser identificada somente a
partir da edição PNLD 2014, ocupando o segundo lugar no ranking de vendas,
posição na qual vem se mantendo.
Uma particularidade das obras coletivas é que elas implicam menor gasto e
maior lucratividade. Ora, ―evidentemente‖ que o valor pago para a/o editora/or
responsável difere do original, já que na maioria das vezes a/o profissional consta da
folha de pagamento e no máximo recebe uma variável pela Participação nos Lucros
e Resultados (PLR)217, geralmente inferior ao percentual pago por direitos autorais e
condicionada pelo cumprimento de metas e apresentação dos resultados (lucros).
215
Cf. MEC: denúncia de fraude na compra de didáticos. Disponível em: <http://www.crmariocovas.sp.gov.br/noticia.php?it=10024>. Acesso em: 17 dez. 2017. 216
Os livros consumíveis são aqueles que, diferentes dos não consumíveis, apresentam em seu projeto gráfico espaços para os/as estudantes escreverem, razão pela qual não podem ser reutilizados. 217
A PLR pode ser definida como um bônus que é ofertado pelo empregador e negociado com uma comissão de trabalhadoras/es da empresa com base no resultado (Lucro) apresentado. Também pode ser definida em acordos coletivos, com a divisão em partes iguais para toda/os as/os trabalhadoras/es independentemente do cargo ou com o pagamento conforme a remuneração e o cargo de cada empregada/o. Ou, ainda, com o pagamento de uma parte igual para toda/os e outra parcela proporcional ao salário e cargo.
355
Vale lembrar que nos limites das relações trabalhistas, a propriedade
intelectual pela criação e produção de um bem simbólico e/ou material geralmente
está prevista em contrato de trabalho e os direitos autorais/propriedade intelectual
passam automaticamente à empresa contratante. Não por acaso, recursos humanos
são tidos como ―o ativo mais valioso de qualquer empresa‖. Ao longo de nossas
análises veremos que não é bem assim.
[...] a bandeira que eu trabalho lá na Abrale constantemente é a nossa própria valorização. E cada vez mais isso é importante, né. Porque hoje, com esse novo PNLD que ficou mesclado com o aspecto dos livros apostilados, né, ele vai ganhar esse caráter, assim, um pouco, do apostilado. E também com o aumento das obras coletivas que significa sem autoria, com editor especialista responsável. Então, a figura do autor está se perdendo por conta dessas políticas, tanto das Editoras quanto do MEC. Como você bem disse, a gente ―é o recheio do sanduíche‖, né. E estão achando que as pessoas vão comer pão puro, né (risos), sem recheio, né (risos). Mas, enfim, por conta disso tudo, a gente tem, até mesmo perdido sócios, porque as pessoas estão perdendo suas coleções. Com a fusão que houve da Somos, muita gente recebeu Distrato. Então, sabe, tudo isso me dá mais razão pra gente trabalhar em torno da valorização do autor, né. Que mesmo na obra coletiva tem autor, está cheio de autor e o editor é um autor também. Só que ele não se vê assim, ele não se assume assim e, principalmente, o chefe dele não quer que ele seja, por razões capitalistas, né. E é muito ruim porque dez anos atrás, a gente, as pessoas, tinham vergonha de dizer que se faz obra coletiva, tinham vergonha de dizer que era um editor coordenador. Agora perdeu-se a vergonha. Agora o pessoal... E nós, da Abrale, também estamos acolhendo essas pessoas nos debates. Afinal, é um autor sem nome, sem autoria, né. É um autor circunstancial, é um autor diarista. Ele não tem obra. Ele tem autoria, mas não tem obra (AUTORA E, 17.08.2017).
Como apontou a Autora E, “com a fusão que houve da Somos, muita gente
recebeu Distrato”. Sobre este aspecto das fusões, estudos do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) já apontavam em 2007, que tais negociações deveriam
ser analisadas com cuidado porque sinalizavam a possibilidade de
internacionalização de impressão e/ou até mesmo de conteúdo de livros didáticos
(SOARES, 2007, p. 22).
Essas movimentações têm atingido as entidades, não só a Abrale, mas
também o setor gráfico que vem sofrendo reveses econômicos desde 2007, com o
avanço das importações no mercado de livros, principalmente de livros didáticos,
haja vista que algumas Editoras do segmento elevaram para quase 70% as
encomendas no exterior, principalmente para a China, Estados Unidos, Hong Kong,
Reino Unido, Chile e vários outros países, segundo a Abigraf.
356
Lembremo-nos que o governo responde pela compra de cerca de 4,5 bilhões
de reais na área de livros do Brasil, representando quase ¼ da produção nacional de
livros. Embora em 2017 a Comissão de Educação tenha aprovado o Projeto de Lei
7867/14218, que determina que a impressão de livros didáticos adquiridos pelo PNLD
seja feita somente por empresas instaladas no país, proibindo a terceirização de
qualquer etapa da impressão a empresas sediadas no exterior, a restrição será
válida apenas para impressão de livros e não para a produção. Vale observar que
até o momento da escrita deste eixo de análise, o projeto estava aprovado pelas
comissões de Desenvolvimento Econômico e de Cultura, mas ainda seria analisado
em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Em
setembro de 2018, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados e agora deve seguir para o Senado219.
Enquanto alguns são destacados, outros são invisibilizados e muitos são os
profissionais da cadeia editorial que têm suas carreiras prejudicadas, como se pode
apreender da Nota oficial da Somos Educação.
Figura 30 - Nota oficial da Somos Educação. Fonte: PublishNews, Carlo Carrenho (2016).
218
Cf. Câmara Notícias. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/480163-PROPOSTA-PROIBE-PRODUCAO-DE-LIVROS-DIDATICOS-NO-EXTERIOR.html>. Acesso em: 22 dez. 2017. 219
Cf. Publishnews. ―Câmara aprova projeto que quer proibir a impressão do PNLD no exterior‖. Disponível em: <https://www.publishnews.com.br/materias/2018/10/18/camara-aprova-projeto-que-quer-proibir-a-impressao-do-pnld-no-exterior>. Acesso em: 28 dez. 2018.
357
Às vésperas da entrega do PNLD 2018 (Ensino Médio) a Editora Somos, a
Moderna e a Positivo cortaram da folha de pagamentos mais de cem profissionais.
As demissões se concentraram na área editorial de livros didáticos. Justifica-se que
a movimentação demissionária está ligada à crise financeira e ao risco de diminuição
das compras governamentais220.
Não ignoramos as implicações da atual crise econômica nas políticas públicas,
particularmente aquelas voltadas para a infância, uma vez que são comuns
reduções nos gastos públicos, principalmente com educação, em tempos de crise
financeira. Apesar disso, parece que a justificativa das Editoras quanto ao risco de
diminuição das compras governamentais não procede.
Empreendemos uma investigação nos Relatórios de Gestão do FNDE, a fim de
verificar evidências que pudessem compor nossas análises. Identificamos que as
principais ameaças para o setor educacional brasileiro, no âmbito dos programas,
projetos e ações financiadas pelo FNDE foram a instabilidade política e fiscal.
No Relatório de Gestão do FNDE, de 2016 verificamos que embora a aquisição
e distribuição de livros e materiais didáticos e pedagógicos para a educação básica
tenham sofrido alterações orçamentárias que totalizaram cancelamentos de R$
241,51 milhões para atender outras políticas educacionais, a dotação final do FNDE
de 2016 alcançou R$ 1,77 bilhão (BRASIL/FNDE, 2017).
Segundo o Relatório de Gestão, em 2016 foi empenhado o total de R$ 1,74
bilhão para aquisição de 180 milhões de livros, para utilização em 2017, destinados
para estudantes e professoras/es. Em relação à quantidade de livros adquiridos,
observa-se uma superação da meta física prevista, que era de 173 milhões de
exemplares. Entre outros fatores, a diferença entre a meta física planejada e o total
adquirido pode ser atribuída à dificuldade de previsão da inflação para o período.
Embora no orçamento de 2016, assim como vinha acontecendo desde 2014,
não tenham sido executadas as iniciativas do Programa Nacional Biblioteca da
Escola (PNBE), responsável pela aquisição de livros para compor os acervos das
bibliotecas, identificamos o registro da aquisição de livros literários, porém, entre as
iniciativas do PNLD. Segundo o Relatório, essas obras foram destinadas para
utilização em sala de aula no contexto do Pacto Nacional pela Alfabetização na
220
Cf. Publishnews. ―Crise e demissões nos didáticos‖. Disponível em: <http://www.publishnews.com.br/materias/2016/06/20/crise-e-demisses-nos-didticos>. Acesso em: 17 dez. 2017.
358
Idade Certa (PNAIC). Assim, em vez de adquirir 9 milhões de exemplares no âmbito
do PNBE, foram adquiridos 19,9 milhões de livros para o PNAIC, dez milhões a mais
do que o previsto no PNBE (BRASIL/FNDE, 2017).
No Relatório de Gestão de 2017, identificamos que ao longo daquele ano, as
aquisições e a distribuição de livros abrangeram as iniciativas do PNLD
regular, PNLD Campo – Ensino Fundamental, Anos Iniciais e PNLD EJA – Ensino
Fundamental. Embora tenha havido diminuição, em números totais não foi
significativa comparada ao ano anterior, posto que foi empenhado o total R$ 1,72
bilhão na aquisição de 154 milhões de livros destinados à distribuição a estudantes e
professoras/es para utilização em 2018. Ressaltamos que o montante contempla a
execução de ações de apoio ao Programa, tais como a triagem e controle de
qualidade realizado pelo IPT e a descentralização de crédito para a realização da
avaliação das obras didáticas, entre outras. Ainda, no exercício de 2017, foram
investidos aproximadamente R$ 4 milhões na produção e distribuição dos livros do
PNLD 2018 para o atendimento aos estudantes de nível médio com necessidades
especiais visuais (BRASIL/FNDE, 2018).
Com a edição do Decreto nº 9.099/2017 ampliou-se o leque de oportunidades
de negócios. Pela primeira vez algumas obras estão acompanhadas de material de
apoio para professoras/es, no PNLD Literário. Inclui a disponibilização de obras
literárias em língua inglesa para o Ensino Médio. A abrangência do Programa
também aumentou, passando a incluir no PNLD Literário o atendimento às
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos,
conveniadas com o Poder Público, que atendam a educação infantil oferecida em
creches para crianças de até três anos de idade. Além disso, o atendimento à
educação infantil inclui obras didáticas destinadas para professoras/es, previstas no
Edital do PNLD 2019.
Não é de hoje que o mercado editorial se encontra em plena expansão.
Segundo Nelson Sá (2011), articulista do jornal ―Folha de S.Paulo‖, na acirrada
disputa por quem detém a maior fatia desse mercado encontram-se, de um lado as
Editoras brasileiras, com capital brasileiro; de outro, as Editoras brasileiras de capital
estrangeiro.
Em nossos estudos temos acompanhado essas movimentações e o crescente
interesse de grupos empresariais no campo educacional. Também o interesse de
grupos estrangeiros por aquisições de Editoras no Brasil e a ampliação, no âmbito
359
de atuação do segmento editorial. Neste foco da análise identificamos a criação de
novos produtos educativos, como os ―sistemas apostilados‖ e/ou ―sistemas
estruturados de ensino‖, geralmente conhecidos como ―programas estruturados de
ensino‖, que podemos traduzir como sistemas privados de ensino. Também os
chamados ―ensino à distância‖ (EaD)221.
Veremos que no conjunto são muitas as movimentações que têm impactado na
qualidade do ensino em ambos os níveis, no superior e no básico. Isto porque a
precariedade da formação somada à baixa valorização (simbólica e material) são
fatores que refletem no trabalho daquelas/es que optam por atuar como
professoras/es na educação básica; um círculo vicioso em que a crise na educação
parece interminável.
Primeiramente apreendemos que as movimentações no mercado editorial
consistem na concentração e diversificação das indústrias da mídia, que resulta na
formação e conglomerados que possuem grandes interesses numa variedade de
indústrias ligadas à informação, à comunicação e à educação. Aqui destacamos
alguns grupos midiáticos com atuação no campo educacional.
O espanhol Prisa é um dos principais grupos midiáticos do mundo, o qual se
coloca na vanguarda das empresas de comunicação e de educação -
Richmond/Santillana; Prisa Radio, Prisa Audiovisual, Prisa Noticias (Jornal El País;
El Huffington Post), entre outros veículos de comunicação222.
Vale destacar que a Editora Moderna é responsável por quase 60% da receita
da Santillana, o que coloca a Santillana Brasil à frente das demais subsidiárias do
grupo Prisa no mundo. A Moderna foi adquirida pelo grupo espanhol em 2001, na
época, por cerca de R$ 150 milhões pela totalidade das ações da companhia
brasileira (RIBEIRO, 2013).
A britânica Pearson é uma das maiores empresas de educação do mundo. Até
2017 era detentora de 47% da Penguim Randon House, uma das principais editoras
em língua inglesa. Veremos que por meio de aquisições, a Penguin Random House,
221
Essas movimentações foram acompanhadas através dos sites dos grupos citados, de publicações na mídia jornalística (Jornal Valor Econômico; Folha de S.Paulo; Revista Isto é Dinheiro; O Globo; PublishNews; InfoMoney, Esquerda Diário; Observatório da Imprensa, Brazil Journal). Também através do site da Abrelivros – ―Notícias das Editoras‖; do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular, e dos estudos publicados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 222
Cf. Medios del Grupo Prisa. Disponível em: <https://www.prisa.com/uploads/2016/07/i-pie-comun-enlaces.html>. Acesso em: 14 ago. 2018
360
posteriormente, tornou-se líder no mercado literário em língua espanhola, entre
outros.
No campo educacional a Pearson investe na Bridge International Academies,
uma rede de escolas que começou no Quênia em 2007. Conhecida por fornecer
―treinamento e suporte contínuo de professoras/es, planos de aula avançados e o
uso de tecnologia sem fio para oferecer educação, em qualquer lugar que seja
necessário‖, esta corporação com fins lucrativos motivou, em maio de 2018, o
―Protesto Mundial contra a Pearson‖ em virtude de seu apoio a cadeias que usam
pessoal não qualificado oferecendo aulas roteirizadas em uma estrutura robótica.
Nas palavras de Kevin Courtney, Secretário Geral da União Nacional da
Educação, principal sindicato de professoras/es da Inglaterra e do País de Gales,
Toda criança tem direito a uma educação gratuita e de alta qualidade, com professores capacitados e um ambiente de aprendizado seguro. A Bridge explora esse direito com fins lucrativos e, no processo, oferece uma educação abaixo do padrão que aprofunda a desigualdade nas comunidades a que "serve". O investimento da Pearson neste modelo de negócios explorador é totalmente indefensável.
Não é a primeira vez que professoras/es, sindicatos e grupos de justiça global
acusam a Pearson de transformar a educação em uma commodity e lucrar com
escolas privadas de baixo custo em regiões pobres da África e da Índia223.
O Brasil é um dos países prioritários da Pearson no mundo. Considerado um
dos maiores players privados de educação, o grupo atua no país desde a década de
1970. Na educação básica atua através dos ―Sistemas de Ensino COC by Pearson‖
e ―Dom Bosco by Pearson‖, ―Atitude by Pearson‖ do segmento privado, e NAME, da
educação pública. Já no ensino superior é parceiro de universidades e instituições
contando com um catálogo de livros de referência no mercado, conteúdo e recursos
tecnológicos, tais como os e-books, a biblioteca virtual e o EaD. Também atua no
segmento de idiomas com as escolas ―Wizard by Pearson‖, ―Yázigi‖, ―Skill‖,
―Quatrum‖ e ―Smartz‖, além da ―Pearson Clinical Brasil‖ que oferece avaliações
educacionais e psicológicas224.
223
Cf. International Movement to stop the Pearson Octopus. Disponível em: <https://www.huffingtonpost.com/alan-singer/international-movement-to_b_7750594.html>. Acesso em: 14 ago. 2018. 224
Cf. Pearson Brasil. Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=pearson&oq=pearson&aqs=chrome..69i57j0j69i59j0l3.2249j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Acesso em: 14 ago. 2018.
361
Dentre os grupos que assumem ganhar milhões ao privatizar a educação no
sul global, destacamos a alemã Bertelsmann, a qual tem investimentos em educação
nos Estados Unidos e na Ásia. Enquanto a Pearson detinha 47%, a Bertelsmann
participava com 53% da Penguim Randon House. A participação de ambos os
grupos resultou da fusão entre as editoras Random House e Penguin, em 2013. Em
todos os mercados nos quais atua, a Penguim Random House assume sempre a
primeira ou segunda posição. Na Espanha e na América Latina atua como Penguin
Random House Grupo Editorial S.A. Com a aquisição de mais 22% das ações da
Pearson em 2017, a Bertelsmann atingiu sua meta estratégica de ser o único grupo
mundial de publicação global.
No Brasil, a Bertelsmann atua há anos por meio de suas divisões. Tem
participação em duas Editoras líderes: a Companhia das Letras e a Objetiva. Parte
do Grupo RTL, a Fremantle Media atua por meio de programas de televisão. No
segmento musical tornou-se ativa no país quando a gravadora BMG adquiriu em
2016 a editora de música Basement Brasil. No segmento financeiro, a Arvato
expandiu seus negócios após adquirir participação na Intervalor, que é especializada
em serviços e soluções para crédito, cobrança, backoffice e relacionamento com o
consumidor.
Além de vários negócios operados por essas divisões, desde 2012 a
Bertelsmann tem realizado investimentos corporativos em um dos campos de
crescimento estratégico no país: a educação. Suas iniciativas estão reunidas na
plataforma Bertelsmann Brazil Investments e se concentram nos setores de
educação, internet e mídia digital225.
Junto com a Bozano Investimentos criou o BR Education Ventures (BREV),
fundo de venture capital voltado para empresas que oferecem soluções e serviços
em tecnologias educacionais226. A Bozano Investimentos também conta com
empresas de educação investidas no portfólio de private equity. A maioria delas
explora a educação à distância online ou redes de universidades. Explicamos:
Venture capital é um tipo de fundo de investimento focado em capital de
crescimento para empresas de médio porte que já possuem carteira de clientes e
225
Cf. Bertelsmann Brasil Invetments. Disponível em: <https://www.bertelsmann.com.br/investimentos-no-brasil/investimentos-em-educacao/tecnologias-educacionais.html>. Acesso em: 14 ago. 2018. 226
Cf. Revista Exame ―Bozano levantará fundo para investir em educação‖. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/blog/primeiro-lugar/bozano-levantara-fundo-para-investir-em-educacao/ >. Acesso em: 14 ago. 2018.
362
receita, mas que ainda precisam dar um salto de crescimento. Essa modalidade de
investimento é composta por investidores e fundos de investimento de risco. A
prática consiste na aplicação de recursos em negócios cuja expectativa é de
crescimento acelerado e com alto grau de rentabilidade227.
Como investidor-âncora, a Bertelsmann detém cerca de 30% do fundo. O grupo
informa que o BREV lhe ―garante acesso antecipado a empresas inovadoras em um
campo que apresenta grandes oportunidades, graças à digitalização e à crescente
demanda por educação no Brasil‖.
Nota-se a participação de outros investidores. Por exemplo, o Bozano
Educacional II (BR2) é um fundo que investe exclusivamente em empresas que
ofertam produtos e serviços com foco na educação superior. O BR2 é resultante da
parceria com a Bozano Investimentos e outros investidores, inclusive institucionais
da esfera pública federal, como é o caso do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco
do Brasil (PREVI), fundo de pensão brasileiro que gerencia a previdência
complementar das/os funcionárias/os do Banco do Brasil também é uma das
investidoras.
É nesse contexto que identificamos investidores e partidários do EaD, como é o
caso de Paulo Guedes228 e de Stravos Xanthopoylos229, ambos integrantes da
campanha eleitoral do presidente eleito. Ligados a organizações desse setor,
possivelmente eles têm um grande interesse que essa modalidade de ensino seja
expandida, abarcando os níveis Fundamental e Médio em ambos os segmentos,
privado e público.
As movimentações nesse campo também incluem interesses de fundos de
private equity, outro tipo de atividade financeira realizada por instituições e
investidores financeiros que investem essencialmente em empresas que ainda não
227
Cf. Dicionário Financeiro. Disponível em: <https://www.dicionariofinanceiro.com/venture-capital/>. Acesso em: 14 ago. 2018. 228 Paulo Guedes é um dos fundadores do Instituto Millenium. Também fundou e é sócio majoritário
do grupo financeiro BR Investimentos (Bozano) e um dos quatro fundadores do Banco Pactual. Até o momento da escrita deste eixo de análise ele assinava colunas no jornal ―O Globo‖ e na revista ―Época‖. Ex-CEO e sócio majoritário do Ibmec, suas áreas de atuação são: o mercado de capitais e gestão de recursos. Disponível em: <https://www.institutomillenium.org.br/author/paulo-guedes/>. Acesso em: 17 jun. 2018. 229
Na Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), Stavros Panagiotis Xanthopoylos – FGV (Online) ocupa o cargo de diretor de relações internacionais. O perfil completo de Xanthopoylos pode ser visualizado na rede LinkedIn. Disponível em: <https://br.linkedin.com/in/stavros-xanthopoylos-32ab378>. Acesso em: 17 jun. 2018.
363
estão listadas em bolsa de valores, como é o caso do paulistano Grupo Objetivo,
que busca atrair um fundo de investimento ou um grupo de ensino disposto a
comprar uma parcela da empresa.
À frente do Grupo Objetivo está João Carlos Di Genio. O empresário é
fundador de um dos maiores conglomerados de educação privada do Brasil, a
Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo (Assupero),
mantenedora de 21 instituições de ensino superior, além do Colégio Objetivo e de
emissoras de rádio e televisão (Rádio Mix FM, RBI TV, Mix TV, Mega TV). Di Genio,
que recusou ofertas de venda para concorrência e de associação com fundos de
investimento, tem por meta preparar o Grupo Objetivo para ir à bolsa de valores230.
Por outras palavras, os private equity são um tipo de fundo que compra
participações em empresas231. Veremos que a fusão da Somos, a qual se refere a
Autora E, constitui um grande negócio da Tarpon Investimentos. Com a fusão, o
grupo passou a deter a quase totalidade da produção de material didático produzido
no país, além de sistemas de ensino232.
Em seu site, identificamos a Somos como um grupo com amplo portfólio de
soluções educacionais que conta com Editoras, Sistemas de Ensino, escolas
próprias, cursos preparatórios, de idiomas; e desenvolvimento de tecnologias para a
educação.
Sua história tem início em 2010, quando as Editoras Ática e Scipione e o
sistema de ensino SER, que pertenciam ao Grupo Abril, foram cindidos para formar
a Abril Educação. Aproveitou-se a tradição e o pioneirismo na produção de livros
didáticos e paradidáticos de ambas as Editoras e o foco foi direcionado para a
exploração do segmento educacional. A expansão resultante desse negócio atraiu
fundos de private equity. Com isso a BR Investimentos incorporou 24,7% do capital
da Abril Educação em 2010.
230
Cf. Revista Exame ―Di Genio, o último rei do ensino‖. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/revista-exame/o-ultimo-rei-do-ensino/>. Acesso em 25 mar. 2018. Valor Econômico ―Unip pode buscar sócio ou fazer IPO‖. Disponível em: <https://www.valor.com.br/empresas/5232867/unip-pode-buscar-socio-ou-fazer-ipo>. Acesso em 25 mar. 2018. 231
Cf. (ALONSO, 2010); (RIBEIRO, 2013). 232
Cf. Forma-se um truste no mercado educacional brasileiro. Disponível em: <http://www.esquerdadiario.com.br/Forma-se-um-truste-no-mercado-educacional-brasileiro>. Acesso em: 17 dez. 2017.
364
Em julho de 2011, a Abril Educação decidiu captar recursos no mercado de
capitais por meio de uma Oferta Pública Inicial de ações (IPO)233. Quatro anos
depois concluiu a migração para o Novo Mercado da Bolsa de Valores, Mercadorias
e Futuros S.A. (BM&FBOVESPA), segmento no qual estão alocadas empresas de
destaque em práticas de governança corporativa. Posteriormente, a Tarpon assumiu
o controle da companhia, em 2015, quando adquiriu 40,6% da empresa, da Abrilpar
Participações, pertencente à família Civita e depois atingiu participação de 51,83%
no capital votante da empresa. Nesse mesmo ano foi concluída a aquisição de 100%
da Saraiva Educação.
O ano de 2016 foi dedicado à integração das operações integrando seis
centros de distribuição em um, localizado em São José dos Campos, interior de SP;
também a integração do Centro de Serviços Compartilhados (SSC) e a continuidade
ao plano de expansão de escolas próprias, destacando-se a aquisição do Colégio
Integrado na Capital de Goiás. O ―AppProva‖, uma plataforma de testes e
diagnósticos para estudantes, escolas e instituições de ensino superior foi adquirida
no início de 2017 e no final desse mesmo ano, a ―Stoodi‖ (aulas Online para
vestibular, reforço escolar e Enem) e a ―Livro Fácil‖, distribuidora especializada na
venda de didáticos para escolas.
A fusão da Somos atraiu o interesse da Kroton, grupo brasileiro que detém a
maior parte do segmento privado de educação superior e que atua na educação
básica por meio do sistema de ensino Pitágoras. A Kroton sinalizou à Tarpon que
estava disposta a oferecer até R$ 5 bilhões pela Somos Educação. Por sua vez, o
grupo espanhol Prisa também manifestou interesse na venda de seu principal
negócio, a Editora Santillana. Uma das companhias sondadas foi a Kroton.
Ambos os grupos, Somos e Kroton, têm interesse em todos os segmentos da
educação, do ensino básico ao superior. Até em 2017, ocasião da escrita deste eixo
de análise, a Somos era o maior grupo de educação básica do país e a Kroton o
maior do ensino superior. A partir de 2018, com a compra da Somos, a Kroton
Educacional tornou-se o maior grupo de educação nos dois níveis, o que faz dela o
maior grupo de ensino privado do mundo.
233
IPO é a sigla para Oferta Pública Inicial. Como o próprio diz, é quando uma empresa vende ações para o público pela primeira vez. No caso referido significa que é a primeira vez que os proprietários da empresa renunciaram de parte dessa propriedade em favor de acionistas em geral.
365
Com a compra da Somos, a Kroton passa a deter 44 colégios (entre eles, Anglo e PH), que juntos atendem 37 mil alunos; 120 escolas da rede inglês para crianças Red Ballon; as editoras de livros didáticos Ática, Scipione e Saraiva, além dos sistemas de ensino Pitágoras, Anglo, ph, Máxi, Motivo, entre outros. No total, o grupo contará com 66 mil alunos no ensino fundamental e médio, enquanto outros 43,2 milhões de alunos das redes pública e privada de ensino estarão usando seus livros didáticos (KOIKE; VALENTI; GUTIERREZ, 2018)
234
Vale destacar que essas movimentações ocorreram com o aval do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), autarquia federal brasileira, vinculada
ao Ministério da Justiça que tem como objetivo orientar, fiscalizar, prevenir e apurar
abusos do poder econômico. Portanto, exerce um papel tutelador da prevenção e
repressão de abusos desse tipo de poder235.
Mas as movimentações não param por aí haja vista as demissões em massa
ocorridas nas instituições particulares. Certamente que a flexibilização das novas
propostas trabalhistas tem contribuído para o aumento das demissões. Apesar de as
instituições justificarem ―reestruturação pedagógica‖, as demissões de
professoras/es no ensino superior têm sido em grande parte motivadas pela
flexibilização dos currículos com um número mínimo de aulas exigido e a criação de
cursos à distância. Ressaltamos que a diminuição da carga horária de aula
presencial e do número de docentes não impacta no número de estudantes, que por
sinal tende ao crescimento uma vez que cursos à distância comparados aos
presenciais têm um custo menor.
Como observa o Autor U, a “mercantilização da educação” constitui um “jogo
de interesses”.
Você tem diversos interesses. Você pega, por exemplo, um Di Genio, ele tem um interesse muito grande que aqueles 10% do PIB
236 para a educação
pública não sejam públicos. Há suspeitas de que o cara compra deputado. Entendeu? E eu já vi, já presenciei processos contra a UNIP. Há suspeitas de que ele pede intervenção de deputado, para vereador, deputado federal intervir em favor da universidade. Sabe? O Sindicato de Professores [...] teve um problema lá. Pode baixar deus e todo mundo aqui, foi assinada uma convenção coletiva, é um acordo coletivo, você não está cumprindo, meu amigo, o problema é seu; você vai ser indiciado nisso, acabou. Você
234
Cf. Valor Econômico. ―Kroton fecha a compra da Somos Educação por R$ 4,57 bilhões‖. Disponível em: <https://www.valor.com.br/empresas/5474105/kroton-fecha-compra-da-somos-educacao-por-r-57-bilhoes>. Acesso em 25 mar. 2018. 235
Conheça o Cade. Disponível em: <http://www.cade.gov.br/acesso-a-informacao/institucional> Acesso em: 17 jun. 2018. 236
PIB é a sigla para Produto Interno Bruto, e representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um determinado período. A ideia do PIB é fornecer uma medida da produção total da economia. Informações sobre para o que serve o PIB conferir ―Economês em bom Português‖. Disponível em: <http://porque.uol.com.br/cards/para-que-serve-o-pib/>. Acesso em: 17 jun. 2018.
366
entende? Assim, a maneira como ele lida com isso. Ele é um deles, né. Tem vários outros. O que a Kroton faz também, né... Então, vê a Estácio, o que aconteceu com a Estácio, né
237. O que a gente tem aí na mercantilização da
educação (risos). Vai por aí afora (risos) (AUTOR U, 22.08.2017).
Como assinalou o entrevistado, desde 2010, na 1ª Conferência Nacional de
Educação (CONAE) ficou estabelecido que o Plano Nacional de Educação (PNE)
deve ter como meta atingir, no final de sua vigência, um patamar equivalente a 10%
do PIB para a educação pública.
Então, tinha gente boa lá. Tinha gente de qualidade. Tinha uma conotação democrática. Foi bem ampla. Tinha gente de esquerda, gente de direita, todo mundo trabalhando, [...] se estapeando (riso) pra sair um negócio de acordo. Saiu. O problema é que quando chega, isso daí é um projeto, o Congresso vai analisar pra institucionalizar o plano, e quando chega no Congresso, o negócio mela. Você tem o Plano Nacional de Educação que foi elaborado na Conferência Nacional em 2010, ele só foi votado em 2015. Quer dizer, cinco anos. E tinha sido já a segunda, em 2014. Meu, que tanto mexe? (AUTOR U, 22.08.2017).
Frente ao descumprimento de boa parte das metas do PNE 2001-2014, na 2ª
Conferência, realizada no período de 19 a 23 de novembro de 2014, foi intensificada
a pressão para que no PNE 2014-2024 tivesse ao menos uma meta clara e
adequada de financiamento, sem possibilidade de veto presidencial, tal como
ocorreu no plano anterior.
[...] Então. Você põe 10% destinados para a educação pública. Tá. Chega lá, eles mudam. Tiram o pública; 10% destinados para a educação. Quer dizer, isso daí não foi discutido. Foi discutido e colocado, publicamente, porque tinha um porquê ter aquele pública lá. Melou. Quer dizer, a escola pública vai deixar de receber. Porque se eu coloco educação, eu posso fazer uma parceria público-privada e destinar para escolas privadas. Quer dizer, isso sucateia ainda mais a escola pública. Então, pra mim, isso é melar. Entendeu? Eu acho que é nesse sentido que tá melado (AUTOR U, 22.08.2017).
No documento que contém as deliberações identificamos o eixo VII que trata
do ―Financiamento da Educação, Gestão, Transparência e Controle Social dos
Recursos‖. Tendo em vista a construção do PNE e do Sistema Nacional de
Educação (SNE) como política de Estado, o ―Documento Final CONAE 2014‖, que
237
Denúncias de demissões na Estácio podem ser conferidas nos links abaixo, entre outros: <https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/12/19/reforma-trabalhista-demissoes-em-massa.htm>. Acesso em: 20 jul. 2018. <https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,cade-quer-esclarecimentos-de-kroton-e-estacio-sobre-denuncia-de-demissoes,10000076374>. Acesso em: 20 jul. 2018.
367
contém as deliberações, apresenta proposições e estratégias indicando as
responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições concorrentes, complementares
e colaborativas entre os entes federados (União, estados, DF e municípios) e reitera
o que ficou estabelecido desde 2010.
Ampliar os recursos financeiros educacionais investidos em educação, até atingir o patamar equivalente de 10% do PIB e definir outras fontes de recursos, além dos impostos, para a educação pública brasileira, para todos os níveis, etapas e modalidades, são fatores essenciais, diante da complexidade das políticas educacionais. O acesso equitativo e universal à educação básica para as crianças e jovens com idade entre quatro e 17 anos e a elevação substancial de alunos matriculados na educação superior pública exigem que se eleve o montante estatal de recursos na área. A garantia da escola pública para mais pessoas, no campo e na cidade, com qualidade socialmente referenciada, implica, necessariamente, a elevação dos recursos financeiros. O movimento em favor da ampliação de recursos envolve, ainda, a regulamentação do regime de colaboração entre União, estados, DF e municípios, em conformidade com o artigo 23 da CF (CONAE, 2014, p. 98 e 101, grifo da pesquisadora).
Verificando o percentual do investimento público total em educação em relação
ao PIB, observa-se que a etapa de ensino que apresentou a maior evolução nos
recursos financeiros aportados, no período de 2004 a 2013, foi o ensino médio, com
crescimento real de 272,6%, seguido pela educação infantil, com 168,1%. A
educação superior apresentou crescimento real de 124,2% e representou 18,2% do
total de recursos destinados à educação em 2013. A menor evolução ocorreu nos
anos iniciais do ensino fundamental, com ganhos reais de 81,4% (BRASIL/INEP,
2015).
Em pesquisa anterior abordamos o debate sobre fatores econômicos em torno
da utilização dos chamados ―sistema de ensino‖238. Usando a expressão do Autor U,
aqui queremos destacar a implicação dos programas estruturados de ensino na
―parceria público-privada”.
De acordo com Theresa Adrião e Teise Garcia (2010), a expressão ―sistema de
ensino‖ é teórica e juridicamente inapropriada para nomear o fenômeno aqui
destacado. Seu uso tem sido recorrente para designar o que poderíamos chamar de
um pacote de produtos e serviços voltados para o campo da educação básica e
ofertados aos gestores públicos.
Marcelo Lellis, autor de obras didáticas de Matemática também se dedicou a
investigar a questão. Ele assinala que os sistemas de ensino incluem ―como parte do
238
Cf. Ribeiro (2013).
368
‗pacote‘, a chamada orientação pedagógica, ciclo de palestras visando treinar o
professorado para uso do material (críticos ácidos dizem ser apenas um ―show‖ de
inspiração pedagógica)‖. O autor observa que de um lado, desde o momento em que
se tornaram empresas franqueadoras, os ―sistemas de ensino‖ vêm ―arrebatando
das editoras tradicionais o mercado de livros representado pelas escolas privadas‖ e
se expandindo para o mercado público. ―Naturalmente, tudo isso tendo ocorrido
dentro das regras do jogo capitalista, as editoras nada podem reclamar‖ (LELLIS,
2012, p. 4 e 5, grifos do autor). Nota-se que muitas delas apresentam ferramentas e
soluções educacionais propostas pelo sistema de ensino que oferecem.
Um dos principais argumentos de vendas de sistemas estruturados de ensino é
baseado na precária formação do professorado brasileiro e nos resultados das
avaliações de larga escala. É nesse contexto que as análises da investida comercial
ganham novos contornos.
É importante lembrar que a emergência das avaliações em larga escala, no
Brasil, se deu na década de 1980 quando o MEC começou a desenvolver estudos
sobre a Avaliação Educacional, impulsionado pelo incentivo proveniente das
agências financiadoras transnacionais. Após a promulgação da LDBEN 9394/96
houve a centralização no Estado, das políticas públicas educacionais e da
coordenação das aplicações dos testes avaliativos em larga escala.
―Os resultados do Saeb funcionam em grande medida como base para mapear
a eficácia do sistema geral e para análise econométrica; uma forma muito imprecisa
de responsabilização (accountability) e regulamentação estatal‖ (CARNOY, 2009, p.
61). O que ocorre é que a responsabilidade pelo fracasso escolar, antes atribuída ao
alunado passou a recair sobre professoras/es.
“[...] o professor está órfão, desamparado”. “[...] sai daí desse grande centro, o
professor precisa de tudo”.
Eu entro nas secretarias, entrava nas secretarias, tem uma multidão, tem mais gente que cadeira. Tem gente, mas eu não sei o que elas discutem, porque o professor está órfão, desamparado. E ainda recebe desses grupos de técnicos, papelada pra fazer. Quando veio aquela, foi em 1996, 1997, que veio a obrigatoriedade de justificar cada nota baixa [...]. Meu Deus do céu! Eu usei até na época uma frase, por brincadeira, mas de tanta nota que tinha que preencher e justificar uma por uma, eu falei: no próximo trimestre os meus alunos foram bem. Usei o verbo (riso). No próximo eles foram bem (riso). Atrapalhando os verbos aí, mas era assim. Não dá. Eu vou dar aula, não quero esse negócio todo, chega de papel. É um tal de preencher diário que dá [...] (AUTOR I, 22.08.2017).
369
[...] por essas andanças aí, a gente vê o quanto fora daqui, do grande centro do Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tá. [...] eu percebo assim, nós temos muita informação, muito conteúdo aqui. Sai daí desse grande centro, o professor precisa de tudo (AUTOR U, 22.08.2017).
Nosso intuito não é descaracterizar as avaliações em larga escala. Queremos
mostrar que os usos que se tem feito dos resultados é que precisam ser avaliados.
Ao que parece, assim como as políticas de produção de alimentos em larga escala
não estão resolvendo a crise alimentar, também as políticas de avaliação em larga
escala não estão resolvendo a crise na educação.
Como afirma a Autora A, “essa distorção é muito grave”
Tem salas de aulas que, e isso acontece em Ciências, que os estudantes são, eu ouso dizer que, adestrados mesmo, pra se saírem bem nos exames. E aí eu digo assim, no lugar de você ter uma avaliação a serviço do currículo, você tem um currículo a serviço da avaliação. Como acontece também com o Ensino Médio, né. Quando o Enem se tornou vestibular, muitas escolas mudaram seus currículos para se adequar ao Enem. Então, essa distorção é muito grave. O Pisa não impacta tanto. Por quê? Porque quem está preocupado com o Pisa é uma coisa mais macro, o governo. Mesmo porque a gente participa espontaneamente. Todo mundo fica horrorizado quando vê o resultado do Pisa, ―ah, né, nossa, tal, né‖. Mas não é uma coisa que vai ali atingir diretamente a Prefeitura, o Estado, mas essas avaliações Saeb, Prova Brasil, sim. Então, eu, sinceramente... (AUTORA A, 01.06.2017).
Na avaliação de alguns educadores brasileiros, o Brasil é um país que ―sofre
de analfabetismo científico‖239, uma expressão que significa falta de acesso ou
dificuldade de apreender o conhecimento disponível. A análise foi motivada pelos
resultados do Pisa 2012. Os educadores afirmam que a razão do desinteresse das
crianças brasileiras por ciência está na oferta de um ensino fundamental deficiente e
desinteressante, com professoras/es mal preparadas/os e condições inadequadas
de infraestrutura.
Embora às vezes os resultados do Pisa sejam utilizados para a comparação, a
concorrência, o desempenho, a eficiência e o cálculo de ganhos em relação ao PIB,
reivindicações são feitas para o progresso e práticas de ensino ―eficiente‖ e ―eficaz‖.
O que é que a gente faz? A minha preocupação é assim, eu sei que os descritores que são avaliados, se o professor fizer um bom trabalho, independente do livro, mas com o livro a gente espera que o ajude, o
239
Cf. SBPC – Jornal da Ciência ―O analfabetismo científico no Brasil‖. Disponível em: <http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/pisaquebrao-analfabetismo-cientifico-no-brasil/>. Acesso em 17 nov. 2018.
370
estudante vai ter aquilo desenvolvido, que é investigação, leitura e interpretação. O que a gente defende: competências variadas exigem situações de aprendizagem diversificadas. Então o professor que acha que ele está cumprindo o programa porque ele vai lá e dá uma aula expositiva, o estudante, né, ouve e responde como ele quer às questões, que ele está desenvolvendo algum tipo de autonomia intelectual, não vai. Então, se o professor trabalhar de forma diversificada, ele vai preparar o estudante também para a Prova Brasil, para o Saeb e para o Pisa. Mas, a gente não tem essa preocupação no livro. O máximo que a gente fez, assim, de uma preocupação explícita, foi colocar numa seção com exercícios variados, algumas questões do Pisa. Meio assim: professor, você está vendo? Se você deixar seu estudante experimentar, ele fica também preparado para o Pisa. Se você colocar seu estudante para escrever... Porque, como é que se aprende a debater? Tem que debater. Como é que se aprende a escrever? Tem que escrever. Se você não diversifica as situações de aprendizagem, no máximo vai formar escribas e ouvintes (AUTORA A, 01.06.2017).
Ambas as autoras, A e E, assinalaram que o Brasil participa do Pisa
voluntariamente. Nas palavras da Autora E,
O Pisa tem bom senso em todas as suas ações e continua sendo um trabalho muito bem feito, um trabalho de primeiro mundo, a gente está lá de circunstancialmente, né. A gente está lá porque tem gente que gosta. Aqui, naquele critério de professor dá o que gosta. Então, o gestor de política pública também. Ele vai lá porque gosta. Sabe? O Peru entrou e saiu várias vezes. Eu não sei se o Peru está agora, né. A Argentina entrou e saiu várias vezes. Só o Brasil que entrou e ficou (AUTORA E, 17.08.2017).
Ela explicou que o Pisa “continua com um referencial baseado em
competência. Não é competência e habilidade. É competência mesmo”.
[...] essa duplicata de competência e habilidade é... nós aqui que inventamos isso, né. Ele trabalha com a competência geral e as habilidades específicas. Para o Pisa a competência é geral e o item, é o item de prova, ele trabalha na associação entre a competência geral, os contextos e os conteúdos. E o conteúdo a gente divide lá em duas categorias. Por último ele dividiu em duas, foi e voltou, foi e voltou e ficou assim. É o grupo dos epistemológicos ou procedimentais, né, que é o conhecimento sobre ciências. Então, por exemplo, se você está trabalhando com a capacidade do aluno de trabalhar com hipóteses. É claro que toda hipótese tem um conceito associado, né. Mas ali, naquele item, está trabalhando com hipótese, o conceito está dado. Esse seria um conhecimento epistemológico, procedimental. Então, ele trabalha com o conhecimento sobre ciências e o conhecimento de ciência, o conhecimento conceitual, propriamente dito, né. O Pisa é muito responsável. Tudo nele é feito com extremo cuidado. E tem revisões. É muita gente trabalhando com revisão. Tem monitor pra todo lado (AUTORA E, 17.08.2017).
Quanto ao impacto dos resultados, embora considere que “piora a nossa
autoestima”, a Autora E é categórica: “tem que parar de sapatear e ver o que o Pisa
mostra de verdade”. Por exemplo, ―na dimensão atitudinal, o Pisa revela que o Brasil
371
valoriza a aprendizagem em meio ambiente e que o brasileiro valoriza o meio
ambiente. Ah, onde foi que eles aprenderam isso? Não foi na escola?”.
Porque é o seguinte, a gente tem que ver que as notas do Brasil... Então nós estamos no nível 1, 2 e 3 de proficiência. Vai até o 6. Tem que se entender o que é o nível 1, 2 e 3. E assim, que a questão do reconhecimento de conceitos simples [...], brasileiro não conhece além de conceito simples. Mas não somos tão analfabetos porque conhece apenas conceitos simples. Só porque a gente tira, vamos supor que a gente tirou 4 na prova não quer dizer que a gente não saiba nada, né? (AUTORA E, 17.08.2017).
A autonomia de professoras/es na escolha do material didático constantemente
é posta em xeque. A Fundação Lemann defende veementemente o uso do sistema
estruturado. Tanto que publicou uma pesquisa intitulada ―Sala de aula estruturada: o
impacto do uso de sistemas de ensino nos resultados da Prova Brasil – um estudo
quantitativo no estado de São Paulo‖, na qual questionou a autonomia do
professorado na escolha do material didático, ao identificá-la como uma resistência
ao uso dos programas estruturados.
Na oportunidade foram citados os estudos da Fundação Carlos Chagas sobre
os cursos de pedagogia e uma pesquisa da própria Fundação Lemann, cujos
resultados indicaram que ―os professores brasileiros estão entre os 30% de menor
desempenho no Ensino Médio e que 80% deles têm mães com até 4 anos de
educação‖; pesquisas nas quais as autoras, Ilona Becskeházy e Paula Louzano se
apoiam para disparar a pergunta: ―De que autonomia estamos falando?‖
(BECSKEHÁZY; LOUZANO, 2010, p. 34).
Vimos anteriormente que o levantamento ―QEdu: Aprendizado em Foco‖
resultou da parceria entre Meritt e Fundação Lemann. Esclarecemos que a Meritt é
uma startup que desenvolve projetos com diversas instituições: redes públicas,
escolas privadas e terceiro setor. Por exemplo, neste último, além da parceria com a
Fundação Lemann no levantamento do ―QEdu‖, a Meritt destaca o projeto
―Alfabetização para todos‖, em parceria com a Fundação Itaú Social. Por startup
entende-se um novo modelo de negócios relacionado com companhias e empresas
que buscam explorar atividades inovadoras no mercado. No caso da Meritt, o
negócio ―é dar vida e organizar dados‖ de provas, simulados, avaliações de larga
escala e portais públicos240.
240
Cf. Meritt. Disponível em: <https://meritt.com.br/quem-somos/>. Acesso em: 11 jan. 2019.
372
Ao longo de nossas análises vimos que empresas do terceiro setor foram
mencionadas por autoras/es entrevistadas/os, entre elas uma instituição financeira e
a Fundação Lemann. Esta última foi fundada por Jorge Paulo Lemann, um
economista e empresário suíço-brasileiro, identificado no ranking da Forbes como o
homem mais rico do Brasil e um dos mais ricos do mundo241. Lemann é um dos
investidores da Gera Venture Capital, que investe em startups, deu origem e
mantém a holding Eleva Educação242, cujo foco é a construção de uma rede de
escolas de alta qualidade acadêmica. Criada em 2013, a Eleva constitui um
conglomerado de ensino com 115 escolas no Brasil com unidades no Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Paraná, divididas entre as redes Pensi, Elite, Coleguium, Alfa, Escola
Eleva243, entre outras que configuram entre aquelas com maior índice de aprovação
no Enem.
Os interesses de Lemann estão para o Vale do Silício244 e o mercado
educacional. Tanto é que a missão do QEdu é ―dar vida aos dados para promover
melhores escolhas na educação‖. O QEdu é hoje a maior plataforma de dados da
educação básica no Brasil. Em 2016 já somava mais de 4 milhões de visitantes e se
tornou uma instituição independente245.
Em nossas entrevistas questionamos as/os autoras/es sobre o que pensam
sobre as avaliações de larga escala.
Nossa! isso aí é um embate também. Por quê? Aqui no Rio de Janeiro, apesar de a gente ter livros didáticos muito bons sendo aprovados e comprados pelo governo para usar nas escolas, é uma prática corrente que os professores recebam apostilas para preparar seus estudantes para as provas, os exames externos, né, as avaliações de larga escala, Prova Brasil, Saeb. Porque há toda uma cultura de resultados, produtividade. Então, uma escola que tem bons resultados, ela, até pouco tempo, não sei se continua, mas algumas escolas estaduais ganhavam um bônus para os professores, né (AUTORA A, 01.06.2017, ênfase da entrevistada). É tudo uma hipocrisia gigantesca. Na escola pública, não sei como lidar com isso. Mas, me parece que no Estado de São Paulo,
241
Cf. Infomoney. ―Esses são os 15 brasileiros mais ricos do mundo‖. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/carreira/gestao-e-lideranca/noticia/7320736/esses-sao-brasileiros-mais-ricos-mundo-2018>. Acesso em: 11 jan. 2019. 242
Cf. Eleva Educação. Disponível em: <https://elevaeducacao.com.br/>. Acesso em: 11 jan. 2019. 243
Cf. ―Rio: aula rica, aula pobre, por Andy Robinson‖. Disponível em: <https://jornalggn.com.br/noticia/rio-aula-rica-aula-pobre-por-andy-robinson>. Acesso em: 11 jan. 2019. 244
Maior polo de tecnologia do mundo, situado na região da baía de São Francisco, na Califórnia, onde estão sediadas algumas das principais startups e empresas de tecnologia, tais como Google, Facebook, Apple, Tesla. Também algumas filias de renome, como Amazon, Asus, Dell, Fujitsu, Hitachi, McAfee, Microsoft, Mozilla, Sanyo, Siemens, Sony Erickson, Sun Microsystem, entre outras 245
Cf. QEdu. Disponível em: <https://www.qedu.org.br/sobre>. Acesso em: 11 jan. 2019.
373
ultimamente se premia escolas e professores com melhor rendimento (AUTOR I, 22.08.2017). Eu conheço a do Saresp, né. Eu sei como é feita porque eu sou coordenador da Vunesp, então eu sei qual é a pegada. Entendeu? Mas, assim, vem mais ou menos um esquema pronto do que se deseja, né, e você avalia sob alguns aspectos. Eu acho que a avaliação, ela deixa a desejar porque ela não avalia o trato do professor com o estudante, né, você não avalia habilidade; você, basicamente, avalia conteúdo conceitual e procedimental, né. Atitudinal, como que ele lida, aquilo, no meio onde ele está inserido não é avaliado. Né. E eu acho também que isso porque tem alguma coisa assim: não. Eles querem desse jeito (AUTOR U, 22.08.2017).
Os relatos de entrevista revelam fatos que nos permitem apontar que o uso das
avaliações de larga escala constitui uma das estratégias intrusivas de captação de
clientes.
Olha, nas escolas particulares isso é uma bomba. Elas estão sendo usadas pra propaganda. Há escolas que estão fazendo dois CNPJ
246. É a mesma
escola, mas numa estão os alunos bons, ótimos, na outra, os alunos mais fracos. E aí o nome da escola vai, o Enem da escola tal, primeiro lugar. Aquela escola do Rio que tira 1º, 2º, 3º, 4º sempre... é a (nome da escola), só tem homens, só tem meninos que diz que tiram nota um pouco maior, né, neste tipo de prova, não como aluno regular. Então começam a fazer seleção. O (nome do colégio onde lecionou)
247 tinha uma coisa assim,
terrível. Tá gravando, mas... (riso). Ainda mantém uma escola para as pessoas desassistidas, basicamente de comunidade, que é lá atrás. E entrava na média do Enem. E aí falavam: “mas a média ficava mais baixa. Ah, mas é porque...‖. (AUTOR I, 22.08.2017, ênfase do entrevistado; grifo da pesquisadora).
Questionada, a Autora E disse que “pensa muita coisa sobre isso”. Ela também
aponta a gravidade da distorção.
Questão da avaliação de larga escala é o seguinte, como tudo o que se tem em educação, precisa ser feito com bom senso. Eu acredito que a avaliação de larga escala, ela possa, sim, trazer um retrato da escola para os gestores. Principalmente se você trabalha numa série histórica e se a avaliação for bem feita. A Prova Brasil, eu não acho mal feita, não, tá. Eu gosto da Prova Brasil. Eu, recentemente fui olhar, de novo, e acho que ela continua humana, boa. Agora, o Enem. O Enem era bom, ficou péssimo. O Enem virou um super vestibular. É o seguinte, tem técnica pra fazer as questões. Tem um ramo da Psicologia que trabalha com isso, chama-se Psicometria. E aí o Inep esquece disso de vez em quando, né. Que nem esqueceram agora que não tem o tema transversal na BNCC, né (risos). De vez em quando eles esquecem umas coisas assim. E aí eles dão uma raspada em todo mundo. Sabe, então o Enem virou uma prova, um vestibularzão. Porque o vestibular, ele não está preocupado com medir. Uma coisa é você medir proficiências. Medir proficiências é completamente diferente de selecionar os melhores para entrar numa faculdade X ou num concurso Y. É o contrário. Medir é uma coisa, selecionar é outra. A prova da
246
CNPJ é a sigla para Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. É um documento de identificação perante a Receita Federal, usado em aberturas de firmas, contas jurídicas, financiamentos, na elaboração de contratos e outros fins. 247
Informação suprimida para preservar a identidade do entrevistado.
374
seleção, ela tem que ser bem difícil. Não é? Pra poder passar apenas os melhores. Agora se você faz uma prova bem difícil para medir a proficiência parece que as pessoas não sabem nada, quando elas sabem, né? (AUTORA E, 17.08.2017).
Os fatos mencionados pelo Autor I levam-no a considerar que “essas provas
todas fugiram da ideia de avaliar como está o ensino”. Ele afirma que o foco é nos
resultados e no comercial. Também questiona sobre a competição e estratificação
de estudantes pelos resultados.
[...] e a escola é assim, nosso interesse, falando para os pais dos alunos novos ou dos pretendentes, ―o nosso interesse é formar o aluno‖, ―educação global‖ ou ―não só ficar se preparando para...‖. E aí o pai: ―qual é a posição da escola no Enem? Quantos alunos entraram na USP? Quantos alunos entraram num sei a onde?‖. Quer dizer, o pai tá querendo a coisa prática e no fundo, a direção da escola ou o dono da escola também. Porque o comércio tá interessado em ter alunos. Então, ele exige que os professores preparem para o vestibular. Nos objetivos, missão, valores, visão, aquela coisa toda, formação global, o aluno como um todo, preparar para a vida, uma pessoa com uma visão holística, na prática, eles querem, sabe, a média. É tudo uma hipocrisia gigantesca. Na escola pública, não sei como lidar com isso. Mas, me parece que no Estado de São Paulo, ultimamente se premia escolas e professores com melhor rendimento. Mas, de novo vem aquela história, será que isso não vai promover uma seleção de alunos melhores e os alunos mais fracos ficam prejudicados? Vai fazer como a escola Bandeirantes, que é uma grande escola, a que mais coloca na faculdade, tal, onde, acabou o 1º colegial, bom, tem dez primeiros colegiais, vamos selecionar pra uma classe de 2º colegial todos os que tiveram nota 9 e 10 e assim por diante. Quando chega no 3º tem as duas primeiras classes e entram todos na USP. E, agora, quem é da última classe, como se sente? Já imaginou? Então, se na escola estadual, na escola pública se começa a estratificar os alunos pelos resultados e premiar? O objetivo é bom, fazer os professores, os diretores se esforçarem ao máximo para o aluno ir bem. Mas, o resultado eu não sei como fica. Né. É... começar a competição desde tão cedo? É tão precoce essa competição (AUTOR I, 22.08.2017).
É interessante observar que a pesquisa da Fundação Lemann enfatizou que as
20 escolas municipais paulistas pesquisadas que utilizaram os sistemas
estruturados, em comparação com aquelas que não utilizaram, tiveram melhores
resultados na Prova Brasil 2007.
A pesquisa ―Aprova Brasil: o direito de aprender: boas práticas em escolas
públicas avaliadas pela Prova Brasil‖ [parceria entre] MEC / Inep / UNICEF, de 2006,
publicada em 2007, apontou nas 33 escolas públicas visitadas, com notas acima da
média nacional (Amazonas, Rio de Janeiro, Teresina, Mato Grosso e Rio Grande do
Sul) o êxito foi atribuído ao corpo docente das escolas. Na pesquisa, as escolas
escolhidas para o estudo foram aquelas onde o Índice de Efeito Escola (IEE) é
375
positivo. Ou seja, onde o desempenho médio de estudantes estava acima do valor
médio esperado para escolas onde estudantes tivessem perfis socioeconômicos
similares. A questão central da pesquisa: ―esta escola teve um desempenho na
Prova Brasil – Matemática e Língua Portuguesa na 4ª e/ou 8ª série – acima da
média das escolas públicas brasileiras. A que pode ser atribuído esse resultado?‖
Diversos foram os fatores: sua excelência, a professora; o envolvimento de
estudantes; práticas pedagógicas variadas; a participação da comunidade.
A pesquisa de 2012, conduzida pela ONG ―Todos pela Educação‖, apontou que
no ranking dos dez municípios com melhores resultados na Prova Brasil, sete são de
Minas Gerais - 1º São Tiago (MG); 2º Guaxupé (MG); 3º Itaú de Minas (MG); 4º
Monte Santo de Minas (MG); 5º Capelinha (MG); 6º Amambaí (MS); 7º Elói Mendes
(MG); 8º João Monlevade (MG); 9º Novo Horizonte (SP); 10º Vargem Alta (ES). A
explicação para o êxito envolveu, entre outros aspectos, o incentivo financeiro para
professoras/es com melhores resultados; o currículo único e bem organizado; a
valorização da leitura; a participação de estudantes em competições nacionais em
todas as disciplinas e a iniciativa para atrair a família à escola.
Recentemente os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) 2017 confirmaram que a mesorregião do Sul e Sudoeste de Minas é uma das
doze mesorregiões do estado de Minas Gerais com melhores resultados. Entre os
Municípios mineiros identifica-se Guaxupé, cidade de origem desta pesquisadora.
Tivemos a oportunidade de conversar com uma professora guaxupeana que
atua há mais de nove anos. Atualmente leciona no 6º ano, na rede de ensino
estadual. Ela nos permitiu publicar sua fala, mas preservamos sua identidade.
Ao refletir sobre as avaliações, a professora informou que ―o resultado do
ensino fundamental estadual vem caindo‖. De fato. Comparamos os dados do Ideb
de todas as escolas e notamos diferenças entre os resultados obtidos nos dois
níveis de ensino. Vimos que no Ensino Fundamental II, o Ideb Observado está
abaixo das Metas Projetadas248.
Para a professora, os resultados do ensino Fundamental II estão
comprometidos. ―Estão comprometidos porque dependem do ensino e
aprendizagem no Fundamental I, que é uma mentira‖. Ela questiona:
248
Cf. Planilha com resultados por escola do Ensino Fundamental I (4ª série/5º ano) em Guaxupé-MG, do Ideb 2017/ Planilha com resultados por escola do Ensino Fundamental II (8ª série/9º ano) em Guaxupé-MG, do Ideb 2017. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/ideb/resultados>. Acesso em: 07 set. 2018.
376
Se os alunos estão tão bem, como que quando chegam no 6º ano eles sequer sabem escrever o próprio nome e o da escola com letra maiúscula? Eles não sabem escrever o endereço da casa onde moram. É decepcionante. Não sabem a tabuada, que é o mínimo que teriam que saber. E toda criança tem capacidade de aprender. Os primeiros anos são a base da educação.
Ao verificar e comparar os resultados evidencia-se apenas a diferença. Não é
possível conhecer, mais amplamente, o que cada escola tem feito para melhorar o
desempenho das/os estudantes, mas a professora explicou e citou exemplos. Disse
que a escola onde atua tem projetos diversificados de ensino e aprendizagem. Um
deles é o projeto de leitura. ―No desenvolvimento desse trabalho vimos que os
estudantes não sabiam diferenciar os gêneros textuais‖.
Por exemplo, não sabem fazer leitura e interpretação de imagem das histórias em quadrinhos. No mínimo teriam que saber os substantivos. Mas os estudantes não sabem nem o gênero do substantivo. Não sabem se uma palavra é masculina ou feminina. Numa sala de 30, 32 alunos, apenas dois sabem. Então, nós temos que retomar aquilo que não foi ensinado e desenvolver as competências essenciais. E isso demanda tempo.
Em nossos estudos identificamos que o incentivo à nas escolas estaduais
mineiras. Segundo informações do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da
Educação, vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF), os
resultados de 2012 apontam que 88,9% dos estudantes da rede estadual
matriculados no 3º ano do ensino fundamental leem, escrevem, interpretam e fazem
síntese em um nível considerado recomendável. Tanto que o ―Dia Nacional da
Alfabetização‖ foi celebrado com entusiasmo naquele ano.
―Eu fui o primeiro da minha sala que aprendeu a ler e isso foi muito legal. Com
a leitura posso aprender melhor as coisas. Quando eu crescer quero ser um cientista
para poder fazer muitas experiências e sei que vou precisar estudar muito. A leitura
é muito importante pra isso‖. Esta fala é de Samuel Oliveira Ferraz Porto,
―apaixonado por livros‖. Na época estava com 08 anos e estudava no 3º ano do
ensino na Escola Estadual Dom Helvétio, em Ipatinga-MG.
A subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Raquel Elizabete de
Souza Santos explicou que ―o aluno alfabetizado é aquele que sabe ler, interpretar e
fazer as inferências dentro das competências de uma criança de oito anos‖. Por sua
377
vez, a professora do 3º ano, Maria Aparecida de Jesus Honorato, disse que é ―uma
criança alfabetizada é resultado de um trabalho em equipe‖.
Quando o estudante chega ao 3º ano ele já está lendo um pouco. Nessa fase vamos trabalhar com o aluno a fluência. No final do ano, ver ele lendo com fluência, entendendo o que está lendo e criando seus próprios textos é um prêmio para nós professores.
Ela destacou que o processo de alfabetização deve ser prazeroso, ―a leitura
deve ser agradável e tem que despertar no aluno o prazer em ler‖. Ressaltou que ―o
aluno precisa compreender a finalidade do texto e não apenas ler por ler. Isso
acontece quando o professor incentiva o estudante de forma positiva e utiliza
estratégias lúdicas e diferenciadas‖.
O compromisso do professorado mineiro é reconhecido pelo Autor U.
Eu gosto de Minas. Eu gosto de Minas porque os professores lá são bons. [...] eles têm uma concepção da escola diferente do que a gente tem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eles têm um compromisso maior com a sociedade. Eu gosto disso. Eles são muito bons (AUTOR U, 22.08.2017).
Em visita à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) em 2014, tivemos o
conhecimento de que a Secretaria Estadual de Educação (SEE/MG) firmou parceria
com o CAEd/UFJF e com o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, da Faculdade
de Educação de Minas Gerais (Ceale/UFMG) em 2005, quando foi criado o
Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa/MG) no âmbito do ―Sistema
Mineiro de Avaliação da Educação Básica‖. Implementado em 2006, o Proalfa foi
muito importante para a implementação do Programa de Intervenção Pedagógica
(PIP)249.
A ideia do Proalfa é que os resultados das avaliações possam ser utilizados por
gestoras/es e professoras/es no sentido de promover mudanças e alterações nas
práticas pedagógicas e orientar a definição de estratégias de acompanhamento e
intervenções pedagógicas para o alcance da principal meta da SEE/MG de ter todos
os estudantes habilitados na leitura e escrita até os 08 anos de idade.
Identificamos que o êxito da rede estadual de educação, segundo Ana Lúcia
Almeida Gazzola, ex-reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e ex-
secretária de Estado de Desenvolvimento Social (2010) e de Educação (2011 - 2014) de
249
Cf. Ceale. Disponível em: <http://www.ceale.fae.ufmg.br/o-que-e-o-ceale.html>. Acesso em: 18 nov. 2018.
378
Minas Gerais, foi a adoção do PIP. Em entrevista ela informou que ―no Brasil, o
investimento em educação está muito voltado para equipamento, material, instalação
física. Em Minas Gerais, o foco é a pedagogia‖250.
Vale observar que no nível fundamental II, Minas Gerais vinha em um
crescente desde 2005. Pela primeira vez caiu 0,1 ponto e obteve resultado de 4,7
pontos, enquanto a meta prevista era de 5,2. Quanto ao nível fundamental I
municipal, identificamos que o alto índice de desempenho de muitas escolas de
Minas Gerais é Positivo. Grande parte das Secretarias Municipais de Educação
(SME) adota o ―Sistema Aprende Brasil‖ da Editora Positivo. Guaxupé é uma
delas251.
Para se ter ideia da quantidade, mais de 300 pessoas entre autoridades,
gestoras/es e profissionais que representam as redes conveniadas participaram do
―Fórum de Práticas de Gestão‖ realizado pela Editora Positivo, em setembro de
2018, em Ouro Preto. Segundo informações apresentadas no seu site, o ―Aprende
Brasil‖ está presente em mais de 2 mil escolas públicas municipais. São mais de 220
municípios brasileiros cuja rede está conveniada com o referido sistema.
Não é surpreendente que pela sexta vez consecutiva, a Editora Positivo tenha
recebido o ―Prêmio Top Educação 2018‖, que indica as marcas mais lembradas
entre as empresas que atuam no campo educacional. O reconhecimento foi na
categoria ―Sistema de Ensino para a Área Pública‖, com o ―Aprende Brasil‖. O
prêmio teve o resultado divulgado na revista Educação252.
No portal do ―Aprende Brasil‖ identificamos o depoimento da secretária de
educação da SME, gestão 2008. Segundo a secretária ―o excelente desempenho
dos estudantes da rede municipal de Guaxupé é fruto das ações desenvolvidas pelo
Município nos últimos doze anos para melhorar a qualidade da educação‖. Ela
assume que os resultados no Proalfa e no Prova Brasil se devem ―principalmente a
implantação do Sistema Apostilado de Ensino (Positivo)‖.
250
Cf. Revista Época. ―Como Minas Gerais conseguiu a melhor educação básica do país‖. Disponível em:<https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2014/05/como-bminas-geraisb-conseguiu-melhor-educacao-basica-do-pais.html >. Acesso em: 18 nov. 2018. 251
As escolas do ensino fundamental I estão municipalizadas desde 1997, com base na Lei Nº 1387, de 01 de Dezembro de 1997, que dispõe sobre municipalização de escolas estaduais. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/a/mg/g/guaxupe/lei-ordinaria/1997/138/1387/lei-ordinaria-n-1387-1997-dispoe-sobre-municipalizacao-de-escolas-estaduais >. Acesso em: 18 nov. 2018. 252
―Saiba quem são os vencedores do prêmio TOP Educação 2018‖. Disponível em: <http://www.revistaeducacao.com.br/529845-2/>. Acesso em: 28 nov. 2018.
379
Nossa estratégia foi a de colocar as escolas à (sic) serviço da aprendizagem dos alunos, assegurando a confiança das famílias no sistema educativo municipal. É gratificante saber que a média de proficiência das nossas escolas é 646,90, muito acima da média do Estado que é 507,3
253 (grifo da
pesquisadora).
No portal da Prefeitura, identificamos a realização de um evento recente
voltado para a formação continuada de professoras, promovido pela atual gestão da
SME, ―para todos os profissionais efetivos da rede municipal de ensino‖. Isto
significa que profissionais contratadas/os (professoras, auxiliares em geral e
estagiárias) ficam de fora254.
A secretária informa que ―os alunos do ensino fundamental, 1º ao 5º ano,
utilizam as apostilas do Sistema Aprende Brasil e cada aluno recebe uma apostila
por bimestre‖. As professoras, por sua vez ―receberam formação específica,
relacionando as orientações metodológicas aos conteúdos de cada ano‖. Para a
secretária, ―as aulas se tornaram ainda mais produtivas, dinâmicas, interessantes e
desafiadoras, a partir desta formação‖.
O portal também informa que no evento a equipe técnica da SME trabalhou
com os seguintes temas: ―Desenvolvimento Moral‖ para os professoras/es e
auxiliares de professoras/es das creches municipais; ―O educador e a arte de
conviver‖ para os auxiliares de secretaria e de biblioteca; e ―Orientações gerais
sobre higiene no ambiente de trabalho― para auxiliares de serviços gerais e
cozinheiras.
Em nossas investigações identificamos que de maneira geral, as SME não se
pronunciam sobre os resultados das avaliações na etapa do Ensino Fundamental II.
Também não há menção ao material didático fornecido pelo governo federal sem
custo para as Prefeituras. Enquanto os livros de uma editora, no âmbito do PNLD
são adotados para disciplinas isoladas, o ―sistema estruturado‖, por força da
negociação direta, fornece o material de todas as disciplinas, o que implica maior
lucro para as empresas fornecedoras sem nenhuma concorrência. O valor
dispendido pela Prefeitura na aquisição dos ―sistemas estruturados‖ é superior
253
Cf. Portal Aprende Brasil. ―Guaxupé: melhor desempenho em alfabetização no ano de 2007‖. Disponível em: <http://www.aprendebrasil.com.br/escolas/mural/lenoticiaHome.asp?id=195420>. Acesso em: 28 nov. 2008. 254
Prefeitura Municipal de Guaxupé ―Profissionais da rede municipal de educação participam de formação continuada em Guaxupé‖. Disponível em: <http://www.guaxupe.mg.gov.br/noticias/2434/28-08-2017/profissionais-da-rede-municipal-de-educa%C3%A7ao-participam-de-forma%C3%A7ao-continuada-em-guaxupe>. Acesso em: 28 nov. 2018.
380
àquele negociado pelo MEC, já que cada estudante recebe uma apostila por
bimestre. Ademais, diferente das coleções didáticas, os sistemas apostilados não
passam por nenhum tipo de avaliação, exceto aquelas empreendidas por
pesquisadoras/es que se dedicam a investigar a implementação deles nas escolas.
Teise Garcia, Theresa Adrião e Lisete Arelaro (2012) investigaram a
implantação do Programa ―Gestão Nota 10‖ no município de São José do Rio Preto,
interior de SP. O programa foi desenvolvido entre a municipalidade e o Instituto
Ayrton Senna (IAS) durante os anos de 2005 e 2008, mas a implantação do
Programa ―Gestão Nota 10‖ ocorreu no contexto de parceria já firmada com a
instituição privada em 2001, quando foi implantado o Programa ―Escola Campeã‖,
que vigorou até 2004. No ano seguinte, a parceria foi mantida por meio do ingresso
da rede municipal na ―Rede Vencer‖, também proposta pelo IAS, quando o município
se comprometia com a implantação de dois programas, dentre eles, o ―Gestão Nota
10‖.
Segundo informações de uma das Técnicas da SME entrevistadas, o
estabelecimento da parceria com o IAS ocorreu por iniciativa do Instituto que buscou
contato com o município, pois, durante o período de implantação do ―Programa
Escola Campeã‖, o IAS selecionou municípios para o estabelecimento de parcerias.
Mas isto não ocorreu sem manifestações por parte dos profissionais do
magistério que criticaram o programa por identificarem nele uma ação ―neoliberal‖,
uma vez que incorporava propostas de instituições privadas na rede pública de
ensino. Contudo, o programa foi implantado. Em 2008, São José do Rio Preto e
outros municípios, Marília e São Vicente, foram agraciados com o prêmio ―Gestão
Nota 10‖, entregue pelo IAS àqueles que alcançaram as metas estabelecidas pelos
programas implementados (GARCIA; ADRIÃO; ARELARO, 2012).
A forte ingerência exercida pela instituição privada sobre a gestão educacional
é um dos aspectos apontados no trabalho de campo das pesquisadoras. As formas
de organização e controle do trabalho de especialistas e docentes permaneceram
após o término da parceria, como parte dos procedimentos das orientações do IAS,
em que pese o volume de registros que deveriam ser feitos e encaminhados à SME
para alimentar o Banco de Dados do Sistema de Informação do Instituto Ayrton
Senna (SIASI). Os resultados das análises permitiram concluir que o modelo de
―Gestão Nota 10‖ se pauta em concepções centralizadoras que não contribuem para
a produção de uma escola pública de qualidade.
381
As premiações e bonificações não são estratégias exclusivas do Instituto
Ayrton Senna. O Instituto Alfa e Beto (IAB), "para incentivar a equidade no ensino
brasileiro criou o Prêmio Prefeito Nota 10" que consiste em dar 200.000 reais a
prefeitos cuja rede de Ensino Fundamental obtiver a melhor avaliação na Prova
Brasil. A primeira edição do Prêmio aconteceu em 2014. A Organização Odebrecht e
a Gávea Investimentos foram parceiras do IAB nessa iniciativa, que contou com o
apoio da Fundação Lemann e da Editora Abril.
Como disse o Autor U, “são diversos interesses”. Assim como são diversas as
estratégias utilizadas para colocar mordaças nas/os professoras/es e limitar sua
atuação. Os sistemas apostilados são um exemplo disso, como assinalou a Autora
A.
Então se ignora todo um trabalho que foi feito [...]. E mais, você cerceia a sequência com que o professor está trabalhando. Como aquilo tem uma sequência de roteiros a serem seguidos, você tira a autonomia do professor. Porque uma coisa é eu chegar para a minha equipe e dizer assim, como a gente faz no (instituição de ensino onde trabalha)
255, este
semestre vamos todos trabalhar o núcleo de Alimentação na série, 1º ano. O que a gente definiu como sendo importante que todos trabalhem? Isso, isso e isso. No mais, e mesmo esse isso e isso, podem ser trabalhados do jeito que o professor achar melhor. O mais é autonomia. Então, tem colegas que fazem mais aulas experimentais porque gostam. Outros fazem mais atividades dinâmicas e debates porque gostam; se sentem bem, ué. Mesmo que você ouse, você sempre também dá um reforço naquilo que gosta mais, né. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar a Sexualidade trazendo dinâmicas, trazendo material. Outros colegas se sentem mais inibidos, trabalham de uma forma tradicional, mas trabalham. O importante é que todos cheguemos ao fim do ano com certa homogeneidade, não de ser tudo igualzinho, mas, olha, trabalhamos as questões que essa equipe de Biologia achou importante (AUTORA A, 01.06.2017, grifos da entrevistada).
Também a Autora A fez suas considerações. Ela destacou a autonomia tanto
de professoras/es quanto estudantes. Apontou as ingerências e criticou as
justificativas.
E mais, você cerceia a sequência com que o professor está trabalhando. Porque começa aquela coisa, é uma coisa que a Base Nacional acabou de reforçar ―Ah, o estudante que é transferido, né, como é que fica? Sua nota é feita de uma escola para outra, e a escola não trabalha na mesma sequência que os outros colégios trabalham‖. Gente, eu quero crer que a escola tem outro papel. E, nesse ponto, apesar de toda a origem neoliberal tecnicista do conceito de competências, tem uma coisa deste conceito que eu gosto, que é o foco na autonomia intelectual. O professor faz escolhas, a escola faz escolhas para seu currículo e foca na autonomia intelectual desses estudantes. Senão, você nunca vai dar conta de nada. Se eu saio de uma escola, vou para outra, eu tenho autonomia para ler, interpretar, investigar, eu tenho como ter acesso àquele conteúdo que a minha escola
255
Informação suprimida para preservar a identidade da entrevistada.
382
não trabalhou, sabe!? Então, se o professor trabalhar de forma diversificada, ele vai preparar o estudante também para a Prova Brasil, para o Saeb e para o Pisa (AUTORA A, 01.06.2017, ênfase da entrevistada).
―Estou exercendo minha autonomia docente e não posso ser punida por isso‖.
Esta fala é de Edileide Maria Barrozo, professora na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Letícia Soares de Santana, em Aracaju. Foi proferida na segunda
audiência de inquérito (processo administrativo), em 2014. Ela e a professora Maria
Elba da Silva foram processadas pela SME, na administração do prefeito João Alves
Filho que pediu a demissão delas por terem se recusado a adotar o material didático
do ―Programa Alfa e Beto‖. Pelo mesmo motivo, Adjane Lima de Souza e Márcia
Aparecida, professoras da Escola Municipal José Garcez Vieira, tiveram suspensos
os seus salários de dezembro e os pagamentos do 13º. No caso destas duas, uma
ação judicial em defesa da autonomia profissional do magistério, garantida pela
LDBEN/96, obrigou a Prefeitura a efetuar os seus pagamentos. As professoras
foram acusadas de ―sabotadoras do serviço público‖.
O motivo da recusa: entre outros problemas, a expressão de racismo no texto
―As bonecas de Fernanda256‖, que compõe o livro ―Para ler com fluência‖. Na
interpretação das professoras, as personagens naturalizam e legitimam situação de
racismo vivenciada cotidianamente por meninas negras. A professora Edileide Maria
Barrozo se defendeu dizendo:
Que eu saiba a sabotagem é quando você prejudica, mas só estou exercendo o meu direito como educadora. Tenho 27 anos como educadora e me recuso a adotar um material didático que tem cunho racista e preconceituoso. Isso sem contar que ele não ajuda na aprendizagem dos alunos. É só decorar os fonemas e letras.
Na ocasião da audiência, a professora Edileide Maria Barrozo recebeu apoio
da Central Única dos Trabalhadores de Sergipe (CUT/SE) que estranhou o silêncio
do Ministério Público (MP-SE) sobre a situação, uma vez que o Sindicato dos
Profissionais do Ensino do Município de Aracaju (Sindipema) já havia entrado com
uma representação junto ao órgão. Também foi apoiada com a presença de
membros da direção e dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação
Básica da Rede Oficial do Estado de Sergipe (Sintese); Sindicato dos Trabalhadores
256
Cf. ―As bonecas de Fernanda‖. Disponível em: <http://atividades-ensinofundamental.blogspot.com/2009/10/as-bonecas-de-fernanda.html>. Acesso em: 18 nov. 2018.
383
da Universidade Federal de Sergipe (Sintufs); Sindicato dos Jornalistas Profissionais
do Estado de Sergipe (Sindijor), entre outras pessoas.
Por sua vez, Gildo Alvez Bezerra, pai de dois filhos estudantes da rede pública
de Aracaju se pronunciou dizendo: ―minha esposa é pedagoga e sempre me relata
sobre os problemas do material didático, há erros grosseiros de ortografia e também
no livro de Matemática. O professor que se nega a utilizá-lo está correto‖.
O caso está registrado em várias fontes. Para citar apenas algumas: portal do
Sintese no Facebook257; portal da ―Infonet - o que é notícia em Sergipe‖258; e nos
anais do 40º Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa
em Ciências Sociais (Anpocs) de 2016, trabalho intitulado ―Movimento Negro em
Sergipe: da burocratização ao retorno às ruas‖259, apresentado por Aline Ferreira da
Silva, professora do Instituto Federal de Alagoas.
Identificamos uma pesquisa de 2008, de Lianna de Melo Torres e Sonia Meire
Santos de Azevedo Jesus, que analisou três programas de alfabetização
implantados nas escolas públicas de Sergipe: ―Alfa e Beto‖, ―Se Liga‖ e o ―Acelera
Sergipe‖. A pesquisa resultou o livro intitulado ―Política pública de educação para as
séries iniciais – estudo sobre os programas Alfa e Beto, Se liga e Acelera nas
escolas públicas da rede estadual de Sergipe‖, publicado em 2008.
Sobre a concepção de alfabetização, de ensino e aprendizagem, as
pesquisadoras apontam que os três programas não levam em conta os estudos da
linguística e da sociolinguística; a prática da escrita e da leitura não ultrapassa a
artificialidade do uso da linguagem na sala de aula; não garante o domínio efetivo da
língua padrão em suas modalidades oral e escrita; na apropriação pela criança do
sistema fonológico e ortográfico textos são ―acartilhados‖ e usados como pretexto.
O problema detectado pelas autoras no material do ―Programa Alfa e Beto‖
está relacionado ao contexto em que o método é adotado, pois enfatiza
excessivamente a forma, desvinculando a aprendizagem da leitura e da escrita da
sua função social. Ler e escrever, para quê?
257
Cf. Portal Sintese. Disponível em: <https://www.facebook.com/sintesesergipe/photos/a.376910695663084/678313652189452/?type=1&theater> Acesso em: 17 nov. 2018. 258
Cf. Infonet ―Alfa, Beto, preconceitos e perseguição‖. Disponível em: <https://infonet.com.br/blogs/alfa-beto-preconceitos-e-perseguicao/>. Acesso em: 19 nov. 2018. 259
Cf. Aline Ferreira da Silva ―Movimento Negro em Sergipe: da burocratização ao retorno às ruas‖. Disponível em: <https://www.anpocs.com/index.php/papers-40-encontro/st-10/st28-3/10553-movimento-negro-em-sergipe-da-burocratizacao-ao-retorno-as-ruas/file>. Acesso em: 19 nov. 2018.
384
Figura 31 - Alfa e Beto: avaliação da aprendizagem sobre a consciência fonêmica; princípio alfabético: “palavras amigas”, “palavras malucas”, “palavras de verdade”. Fonte: Torres e Jesus (2008).
Sobre a autonomia do trabalho pedagógico, do ponto de vista das professoras
entrevistadas que utilizavam os materiais, os três programas desqualificam e
destituem os saberes e o seu papel de organizar e construir conhecimentos,
metodologias e práticas; reforçam relações de poder hierárquico na organização do
conhecimento e do trabalho pedagógico. Torres e Jesus (2008) questionam: Por que
será que as pesquisas produzidas pelas universidades não são consideradas pelos
sistemas de ensino?
As denúncias relativas aos conteúdos preconceituosos nos materiais do
―Programa Alfa e Beto‖ não são exclusividade de Aracaju. Na Bahia, em 2013, as/os
professoras/es iniciaram campanha contra o programa educacional. Um dos trechos
da ação diz que ―foi detectado textos que pregam valores racistas, sexistas, além de
não haver nenhum respeito ou cuidado à diversidade de realidades socioculturais
das crianças brasileiras, e quando se tenta abordar, é feita de forma
estereotipada‖260.
Não identificamos pronunciamento do IAB, mas a repercussão do ocorrido em
Salvador levou o autor do texto a se pronunciar. Em sua carta, publicada na página
260
Cf. GI. ―MP-BA pede suspensão do Sistema Alfa e Beto nas escolas de Salvador‖. Disponível em: <http://g1.globo.com/bahia/noticia/2013/05/mp-ba-pede-suspensao-do-sistema-alfa-e-beto-nas-escolas-de-salvador.html>. Acesso em: 19 nov. 2018.
385
da oficina de jornalismo digital – Facom, da Universidade Federal da Bahia261 e no
blog do IAB262, Alexandre Azevedo, se apresenta como ―escritor, filósofo e professor
de literatura brasileira e portuguesa‖.
Em sua explicativa ―as bonecas retratadas em texto e imagens em nenhum
momento são caracterizadas com intenção de desprestigiar ou ressaltar qualidades
pessoais‖. Ele disse que o texto ―não faz referência em absoluto à cor ou à etnia de
ninguém‖. Afirmou que ―não é preciso ser um doutor em pedagogia ou psicologia
para compreender que uma criança, se tiver oportunidade, começa desde os
primeiros anos a exercitar também sua amabilidade e, como no caso é uma menina,
sua capacidade maternal‖. Ele impõe que ―a qualidade que deve ser observada,
quando da leitura do texto, é o carinho que a menina Fernanda decide dedicar ao
brinquedo preferido e é só isso‖.
Nada daquela verborragia virótica em torno de coisa tão simples. [...]. A questão é que, de tanto a personagem Fernanda (uma criança pequena) brincar com a bonequinha de sua preferência, deixou‐a sem cabelo e com a aparência desgastada. E de tanto abraçá‐la e acarinhá‐la deixou‐a assim, com o aspecto que se vê (ALEXANDRE AZEVEDO, [SI]).
Ele complementou dizendo que ―só mesmo educadores sem experiência
ou aptidão seriam capazes de enxergar uma outra (sic) mensagem no texto e
pior, profissionais totalmente incapacitados para levar seus alunos à conclusão
da verdadeira mensagem do texto‖ (grifo da pesquisadora). Expôs que ―é uma pena,
realmente, que ainda existam em nosso país tantos educadores tão despreparados
para a função de conscientizar nossas crianças para suas próprias vidas‖.
Não nos deteremos na interpretação da fala de Alexandre Azevedo sobre a
―capacidade maternal‖ feminina, a capacidade de educadoras/es para interpretar um
texto, tampouco nas acusações e ofensas que o autor diz terem sido direcionadas à
sua pessoa, pois a questão aqui é científica e não pessoal. Mas não custa repetir a
pergunta feita por Kabengele Munanga:
Quantas vezes ouvimos pronunciar, até por pessoas supostamente sensatas, a frase segundo a qual as atitudes preconceituosas só existem na
261
Cf. Impressão Digital.126. ―Direito de resposta do autor de ‗As bonecas de Fernanda‘‖. Disponível em: <http://impressaodigital126.ufba.br/direito-de-resposta-do-autor-de-as-bonecas-de-fernanda/>. Acesso em: 19 nov. 2018. 262
IAB " IAB ―‗As bonecas de Fernanda‘: autor exerce direito de resposta‖. Disponível em: <http://www.alfaebeto.org.br/blog/as-bonecas-de-fernanda-autor-exerce-direito-de-resposta/>. Acesso em: 19 nov. 2018.
386
cabeça das pessoas ignorantes, como se bastasse frequentar a universidade para ser completamente curado dessa doença que só afeta os ignorantes? (MUNANGA, 2005, p. 18).
Chamou nossa atenção o fato de que a obra foi originalmente publicada em
1995, pela Editora Paulus, em São Paulo, como informou o autor. Esta informação
nos remeteu aos estudos do NEGRI, particularmente da colega Célia Maria
Escanfella (2006), que analisou a produção literária (de 1976 a 2000), dirigida ao
público infantil no contexto editorial religioso católico, sendo a literatura da Editora
Paulus uma das pesquisadas.
O estudo de Escanfella (2006) confirmou uma tendência à laicização da
literatura infantil, sugerida em pesquisa anterior, e permitiu observar, no último
período da amostra (de 1995 a 2000), uma mudança no cenário editorial católico que
produz literatura infantil, com avanços nas concepções de infância e de socialização
em textos de algumas Editoras, porém com manutenção de padrões tradicionais em
outras. Os resultados permitiram afirmar que predomina principalmente nos textos
de Editoras católicas, uma visão utilitária, e, por vezes, idealizada, com o objetivo de
ensinar determinados valores como bondade, fraternidade e obediência, ou
transmitir valores cristãos, bem como uma tendência mais intensa a uma
representação assimétrica das relações de gênero e raciais.
O MP-BA recomendou à SME a rescisão do contrato com o IAB, a suspensão
do uso do material nas escolas de Salvador e a tomada de medidas para o
ressarcimento dos cerca de 12 milhões de reais investidos na compra do programa.
Segundo informações do referido órgão, o contrato contemplou a aquisição de 3.781
kits, com material de apoio pedagógico dos programas "Alfabetização", "Séries
Iniciais Ensino Estruturado" e "Prova Brasil", além de material de apoio gerencial e
logístico para a SME, projeto de capacitação para professoras e coordenadoras/es
pedagógicos e aplicação de avaliações bimestrais nas classes do 1º ao 5º ano do
ensino fundamental.
De sua parte, o secretário municipal justificou que "um sistema estruturado de
ensino, com monitoramento e avaliação inclusos, é importantíssimo para a melhoria da
qualidade da educação pública em Salvador" e disse que apresentaria um diagnóstico
do ensino municipal para reafirmar a necessidade de ―implantar um sistema estruturado
que tem êxito em todo o Brasil e está recomendado pelo Ministério da Educação".
387
De fato, o ―Programa Alfa e Beto‖ é uma das tecnologias educacionais que foram
avaliadas pelo MEC, através da SEB, consideradas pré-qualificadas, no âmbito do
―Edital de Pré-Qualificação de Tecnologias Educacionais que Promovam a
Qualidade da Educação Básica‖. Identificamos que o referido programa é
apresentado no ―Guia de Tecnologias Educacionais263‖ nas edições de 2008 a 2012
(MEC/SEB).
A finalidade dos referidos guias é disseminar técnicas, ferramentas e aparatos
de natureza pedagógica que possam auxiliar gestoras/es e professoras/es na
decisão sobre os recursos a usar para melhorar a educação básica pública.
Notamos uma observação que consta de todos os ―Guia de Tecnologias
Educacionais‖ com mínimas alterações no estilo de redação entre uma edição e
outra.
O Ministério da Educação, embora considere importante a utilização de tecnologias de qualidade com vistas à melhoria da educação, alerta que o seu uso se torna desprovido de sentido se não estiver aliado a uma perspectiva educacional comprometida com o desenvolvimento humano, com a formação de cidadãos, com a gestão democrática, com o respeito à profissão do professor e com a qualidade social da educação. O Ministério da Educação também adverte que o emprego deste ou daquele recurso tecnológico, de forma isolada e desalinhada com a proposta pedagógica da rede de ensino e da escola, não é garantia de melhoria da qualidade da educação. Somente por meio da conjunção de diversos fatores e a inserção da tecnologia no processo pedagógico da escola e do sistema é possível promover um processo de ensino-aprendizagem de qualidade (BRASIL, 2013, p.10).
Decerto que o MEC sabe que investir em um pacote de serviços não atribui
valor à formação e que é mais barato comprar um pacote pronto, genérico do que
bem formar pessoas. Ora, formar pessoas pouco ou nada tem a ver com produzir
profissionais.
Em nossa interpretação identificamos similaridades no modo como
determinados setores dos campos educacional e alimentício atuam no mercado.
Seguindo a estratégia de produção e comercialização de pacotes junk food,
263
O ―Guia de Tecnologias Educacionais do MEC‖ foi criado em 2007. É uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado em abril daquele ano. De maneira geral as edições estão organizadas em seis blocos (Gestão da educação; Ensino-aprendizagem; Formação de profissionais da educação; Educação inclusiva; Portais educacionais; Diversidade e educação de jovens e adultos). Cada bloco é composto por tecnologias que estão sendo implementadas pelo MEC – elaboradas por suas Secretarias e pelo FNDE ou por parcerias estabelecidas com instituições da área da Educação – e pelas tecnologias apresentadas por instituições e/ou empresas públicas ou privadas, que foram avaliadas pela Secretaria de Educação Básica – SEB/MEC e consideradas pré-qualificadas, no âmbito do Edital de Pré-Qualificação de Tecnologias Educacionais que Promovam a Qualidade da Educação Básica.
388
determinados setores do campo educacional investem em pacotes junk education,
recheados de atividades de alto teor memorizante, poucos nutrientes e com um
agravante: não passam por nenhum processo de qualidade.
[...] se passasse ficaria reprovado porque são umas coisas assim, umas cruzadinhas. Nada contra o lúdico, tá. Mas assim, sabe, então você bota uma árvore, com mais uns galhos, uma nuvem chorando. Mas, gente, são umas coisas que se você é Autor de livro didático, você não vai fazer, né. Então se ignora todo um trabalho que foi feito, mas para o professor, está preparando. Então, uma escola que quer preparar, eu fico pensando, a Prefeitura que quer que os estudantes estejam preparados, se saiam bem né, por que é que não investe então em formação de professores, valorização docente, melhores condições de trabalho pra que os professores possam oportunizar situações de aprendizagem diversificadas? Tem muito mais sentido do que ficar trazendo apostila. São apostilas. É uma coisa assim, e é recorte e colagem de livros, e nem cita Autor (AUTORA A, 01.06.2017, ênfase da entrevistada).
Identificamos que em nota, a promotora Rita Tourinho do MP-BA afirmou que a
gestão municipal anterior, no final de 2012, já tinha aderido ao PNAIC e ao PNLD,
válidos de 2013 a 2015. Isto significa que os materiais didáticos distribuídos pelo governo
federal, sem custo para os estados e municípios, uma vez substituídos pelos ―sistemas
estruturados‖ geralmente não são utilizados, o que representa dispêndio de milhões sem
uso, ou seja, desperdício do dinheiro público.
Ressaltamos que esses casos são exemplares e têm implicações na eficácia e
na efetividade dos gastos públicos, haja vista que os recursos investidos nos livros
sem uso poderiam ser aplicados no atendimento de outras necessidades.
Fatos como esses também ocorreram em Pernambuco, como consta do
―Relatório Auditoria Especial‖ (Processo TCE-PE Nº 1340344-8 - Tribunal de Contas do
Estado de Pernambuco-2017)264. Identificamos que a municipalidade de Caruaru não
utilizou os livros didáticos do PNLD em decorrência da implantação do ―sistema
estruturado‖ do IAB, cujo contrato entre as partes totalizou o montante de R$
2.299.842,00. A implantação de tal programa foi paga com recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
264
Cf. Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco ―Boletim Semanal para Imprensa‖. Disponível em: <http://g1.globo.com/bahia/noticia/2013/05/mp-ba-pede-suspensao-do-sistema-alfa-e-beto-nas-escolas-de-salvador.html>. Acesso em: 19 nov. 2018. O Acordão/TCEPE pode ser acessado no blog da advogada Noelia Brito. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/NoeliaBrito/acordao-wej-nutrifort-caruaru-80256178>. Acesso em: 19 nov. 2018.
389
Profissionais da Educação (Fundeb). Com isso os livros do PNLD não foram
utilizados/distribuídos. Ficaram estocados nas 16 unidades escolares do município.
Nos relatórios das ações realizadas pela CGU identificamos o apontamento de
irregularidades nos processos de compras em diversos municípios265.
Exemplarmente, por meio da avaliação de processos administrativos de dois
pregões presenciais realizados pela Prefeitura de Caruaru/PE para aquisição de
materiais didáticos destinados a estudantes da rede municipal, verificou-se que em
ambos houve direcionamento da contratação para determinados produtos e
favorecimento à empresa fornecedora. Situação semelhante ocorreu em Petrolina e
Garanhuns.
No que se refere ao Fundeb identificamos que parte dos recursos transferidos
pelo governo federal é aplicada na aquisição de material didático. Dentre as
irregularidades mais relevantes destacadas nos relatórios de fiscalização em entes
federativos identificamos os seguintes achados: aquisições de livros com
sobreposição/duplicidade em relação ao material recebido gratuitamente do governo
federal no âmbito do PNLD, por meio de licitações direcionadas, com prejuízo
estimado em milhões; fragilidades nas estimativas dos quantitativos de livros
adquiridos, resultando em sobras ou faltas, com repercussões financeiras e/ou
pedagógicas (materiais sem uso armazenados em depósitos); falhas na
fundamentação dos preços das aquisições, gerando incerteza quanto à
vantajosidade dos valores contratados, por exemplo superfaturamento por
sobrepreço, entre outras. Ademais, não se pode deixar de mencionar o
descumprimento do piso salarial nacional para as/os professoras/es com contratos
temporários.
O ―Sistema de Ensino Aprende Brasil‖, o mesmo contratado por grande parte
das SME de Minas Gerais foi identificado no relatório da CGU, Município de Tijucas
do Sul/PR. Como vimos, o referido ―sistema‖ é composto por Livros Didáticos
Integrados, Ambiente Digital com conteúdo educacional, Acompanhamento e
Assessoramento Pedagógico e Sistema de Gestão de Informações da Editora
Positivo.
265
Cf. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. Relatórios dos Municípios fiscalizados no Estado de Pernambuco. Disponível em: <http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-fiscalizacao/programa-de-fiscalizacao-em-entes-federativos/4-ciclo/relatorios/pe>. Acesso em: 20 nov. 2018.
390
No relatório, a CGU informa que a localidade era atendida pelo PNLD desde 15
de março de 2010. Para a verificação das informações apresentadas à CGU pela
Câmara de Vereadores de Tijucas do Sul/PR, por meio do Ofício 03/2018, de 09 de
janeiro de 2018, foram efetuadas diligências junto aos Gestores dos Programas
Educacionais da localidade, bem como visitas às escolas da municipalidade
beneficiadas pelos livros do PNLD e do ―Sistema Aprende Brasil‖. Como resultado
dos trabalhos foram constatadas irregularidades quanto ao Processo de Aquisição
do ―Sistema Aprende Brasil‖, com desperdício de verba pública, ausência de
remanejamento de livros do PNLD entre as escolas de Tijucas do Sul/PR, ausência
de controle de recebimento, distribuição e remanejamento de livros didáticos pela
SME e ocorrência de sobras e/ou falta no quantitativo de livros didáticos nas escolas
municipais. Observou-se que o Município é carente de recursos públicos e não
possui acesso à Internet de qualidade nas escolas visitadas, o que impossibilitaria
de antemão a aquisição de sistema estruturados de ensino que exigem o acesso à
Internet266.
Como vimos anteriormente, a maioria das/os entrevistadas/os falou sobre as
fragilidades da formação de professoras/es e do sucateamento da educação. Em
nossa pesquisa, as/os autoras/es se colocaram ao lado das/os professoras/es, de
certo modo como porta-vozes. Afinal, também são profissionais representantes
dessa categoria trabalhadora. Aliás, as precárias condições de trabalho das/os
professoras/es e a problemática da formação são partes integrantes do
sucateamento da educação.
Para o Autor I, “o professor é a chave, a sala de aula é onde se resolvem as
coisas, professores bons”. Na oportunidade ele fez uma comparação entre a
realidade escolar na Alemanha e no Brasil e apontou que aqui a “atividade é
penosa”, a remuneração é baixa e as/os professoras/es estão expostos a situações
de violência física dentro das salas de aula.
Na Alemanha, um colégio chamado Fanny Leicht, nos arredores de Stuttgart, numa cidadezinha chamada Vaihingen, essa escola Fanny Leicht tem, tinha pelo menos quando eu estava lá, mil alunos. Para o padrão alemão é muita gente. Bom, na escola, fiquei uma semana lá, tinha, na época, um diretor que estava se aposentando com 65 anos. Lá é 65, inclusive para professor. Lá não é atividade penosa, como aqui. [...]. Mas é um professor bem formado que ganha o suficiente pra viver, que tem tempo,
266
Cf. Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. Relatório Nº 201800640. Disponível em:<https://auditoria.cgu.gov.br/download/12242.pdf>. Acesso em: 27 nov. 2018.
391
que dá menos aulas por semana. Um engenheiro trabalha 36, 37 horas, por aí, ou, qualquer funcionário lá. E o professor, 23. Aqui, um profissional como médico, engenheiro, um bancário trabalha 40, 44 horas. O professor dá 60 aulas porque dá aula em três escolas. Eu cheguei a dar 72 aulas em uma semana. Quer dizer, é um negócio, que qualidade tem essa aula? Ah, que enquanto você é jovem ainda consegue força. Mas a situação é absurda! [...]. Ainda hoje, agora na rádio, eu ouvi uma professora de Santa Catarina, você vai ouvir depois aí na TV, foi espancada por um aluno. Quer dizer, o professor está tentando se defender. Então, há uma quantidade de teorias muito bonitas, mas a prática não tem nada que ver. O professor fechou a porta ali, nossa! (AUTOR I, 22.08.2017).
É oportuno apontar que em ambos os países, a erradicação do analfabetismo é
um desafio que se impõe à agenda dos governantes. Na Alemanha contam 7,5
milhões de analfabetos funcionais com idades que variam entre 18 e 64 anos. Ou
seja, têm dificuldade de entender frases maiores e textos. Para eles, por
exemplo, preencher um formulário é tarefa árdua. Mais de 300 mil alemães não
sabem escrever o próprio nome267.
No Brasil, a taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais de idade
caiu de 7,2% em 2016 para 7,0% em 2017, mas não alcançou o índice de 6,5%
estipulado, ainda para 2015, pelo Plano Nacional de Educação (PNE). Em números
absolutos, a taxa representa 11,5 milhões de pessoas que ainda não sabem ler e
escrever e 16,6% da população apesar de reconhecerem letras e números, não
conseguem interpretar e compreender textos curtos e sem complexidade. As
informações estão disponíveis no módulo ―Educação‖, da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD), divulgado pelo IBGE em 18 de maio de 2018268.
O Cristovam Buarque, quando assumiu o Ministério (2003 a 2004), no seu primeiro discurso, ele destacou três pontos. Os dois primeiros, eu gostei demais. Falei, temos que acabar com o analfabetismo. Isto é um absurdo! Poxa vida. Segundo ponto, ―a escola básica não sei o que...‖. Aí no terceiro ponto ―a universidade, precisamos de mais verbas‖. É que todo mundo precisa de mais verba, é claro! Mas, parece que não existe essa verba. O roubo existe, é grande, mas, percentualmente, ele não é insignificante, mas é insuficiente. Então, vamos dizer que se roubem dez bilhões por ano. Um bom número, não é? A dívida, se paga quanto? Quatrocentos, quinhentos bilhões por ano. Então, (riso), o roubo é horrível, tem que dar cadeia, é terrível, é... mas é pequeno em termos de número. Tirando todo o roubo não resolveria a educação, a saúde, mesmo sem o roubo. Porque dez bilhões não são suficientes, se é que roubam dez bilhões. Não sei. Eu acho que o
267
Cf. Deutsche Welle. ―Alemanha destina 180 milhões de euros contra analfabetismo‖. Disponível em:<https://www.dw.com/pt-br/alemanha-destina-180-milh%C3%B5es-de-euros-contra-analfabetismo/a-36551270>. Acesso em: 17 nov. 2018. 268
Cf. IBGE. ―Educação 2017‖. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101576_informativo.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2018.
392
número é alto, né, não deve ser isso tudo. O Haddad, naquela época, me impressionou com a palavra ―vamos cuidar do professor‖. Mas, não consegue (AUTOR I, 22.08.2017, ênfase do entrevistado; grifo da pesquisadora).
“A gente vê que quem mais tem condições de fazer a escola dar certo são os
que mais tomam na cabeça, são os professores”. Essa metáfora expressa pelo Autor
U é materializada em experiências concretas e testemunhadas.
[...] a gente vê e eu já vi porque eu faço oficinas de professores. Eu vejo professores, assim, o cara não tem tal coisa e o cara se vira na coisa pra poder ensinar, quando na verdade, o Estado deveria dar aquilo, né. Então, eu vejo a escola pública, hoje no Brasil, sucateada (AUTOR U, 22.08.2017). [...] eu ouço muita coisa e vejo muito. E as minhas conclusões sobre educação ficaram fortemente influenciadas pelo que eu vi, sei lá, em 20 Estados, talvez 21, por onde passei, capitais e interior, conversando com os professores, nas condições mais inóspitas possíveis. [...] vi o Brasil, de educação, de perto, o nível dos professores. Do jeito que eu falo já dá pra perceber, sem falar mal deles, mas a formação extremamente deficiente. Eu vi professores formados em Português dando aula de Química, no Ensino Médio. Quer dizer, uma coisa impressionante! (AUTOR I, 22.08.2018, ênfases do entrevistado).
A melhoria das condições de trabalho de professoras/es do ensino básico não
é prioridade nas políticas governamentais, ―a preocupação acaba ficando sempre
com o professor universitário”.
[...] eu assisti, quando estava na diretoria da Abrale, sempre participamos, né, em Brasília, quando o Haddad ainda era o Ministro da Educação. Ele falou uma coisa que de início eu gostei muito, mas depois eu não vi na prática. Ele começou, às 8 da manhã, uma atividade e depois foi embora e o grupo seguiu. Ele começou falando: ―o Programa Nacional do Livro Didático está ótimo, vamos tentar melhorar. Minha preocupação atual é com os professores‖. Não foi possível melhorar o PNLD, mas funciona muito bem. Eu falei: poxa vida, é isso aí que eu acho. Só que depois, a preocupação acaba ficando sempre com o professor universitário. As verbas, neste país, vão para a universidade. E o ensino básico que é obrigação constitucional, só ele. [...]. Em São Paulo, eu não sei como que é nos outros Estados, mas em São Paulo, 1/3 da verba da educação são as três universidades públicas, USP, Unicamp e Unesp. É 9,76% do ICMS. E os cinco milhões de alunos da escola básica têm cerca de 20%. E os outros quase 10%, 200 mil alunos, não sei. Não pode. E o professor da escola pública ganha três, quatro mil aí no colegial, com algum tempo de carreira. O professor da universidade da USP ganha vinte, vinte e dois mil. Aliás, eles estão com um problema porque estão passando o salário do governador, que é vinte e três mil. E não pode. Alguma coisa está errada. Ou uns ganham muito ou outros ganham pouco. Não sei, eu não... (AUTOR I, 22.08.2017).
393
Vista de maneira circunstanciada nota-se que a problemática da formação de
professoras/es não é um processo novo que coloca em pauta a questão, a qual foi
abordada pela totalidade das/os entrevistadas/os enfocando diversos aspectos
implicados na complexidade que é o campo educacional.
Lembremo-nos dos relatos do Autor I e da Autora E apontando falhas nas suas
formações na USP, o início da carreira que coincide com o primeiro período de
expansão das instituições de ensino superior privado. “Psicologia Educacional, eu
tive na TV [...]. Didática foi muito ruim também. E prática de ensino” (AUTOR I,
22.08.2018). ―Não é verdade que as pessoas estão explicando esses assuntos. É
muito falho” (AUTORA E, 17.08.2018). Observa-se que esses são problemas que
ainda persistem na qualificação do professorado brasileiro.
E tem outro problema maior, que assim, quando a gente tinha uma escola pública com certa qualidade ainda, pra você ter uma escola particular, uma escola privada, você tinha que fornecer uma qualidade bem melhor, né. Porque se você vai pagar, né. Então, a escola privada era naquele momento, uma opção. No início da década de 80, né, é mais ou menos isso. Era uma opção. Na década de 70 quem estudava em escola particular era porque não passava de ano na escola pública. Então, isso se reverteu. E o problema é o seguinte: começaram a surgir muitas escolas privadas e houve um sucateamento da escola pública. O sucateamento da escola pública acabou com a escola privada. Porque a escola privada perdeu referência. Então, hoje, qualquer escola privada tem lá uma qualidade que... Ninguém preza pela qualidade. Até o próprio brasileiro, se tem que economizar, ele tira de uma escola que ele paga mais e põe em uma escola que paga menos. Então, eu acho que a educação, tem muita gente boa pensando na educação, só que nós não temos implementação da educação por parte do governo, né. Você vê, tem assim, um negócio muito incoerente, né, você tem muita pesquisa, temos pesquisa (riso) (AUTOR U, 22.08.2017).
No campo de publicações acadêmicas identificamos uma entrevista com a
pesquisadora Bernadete Angelina Gatti, concedida a Bruno de Pierro, publicada na
Revista Fapesp, em 2018. A pesquisadora discorre sobre os estudos pioneiros
coordenados por ela, os quais atestam as deficiências na formação de professoras,
coincidentes com aquelas que foram apontadas nas entrevistas que realizamos.
Em um dos estudos, realizado em 2008 e renovado posteriormente, foram
avaliadas as propostas curriculares de 94 cursos de licenciatura em Pedagogia,
Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Biológicas. Os resultados revelaram as
fragilidades das licenciaturas na formação de competências essenciais para a
atividade docente.
394
Verificamos que não estavam formando professores nas licenciaturas. O predomínio era a formação teórica na área disciplinar do bacharelado. A legislação exigia que 10% do tempo na licenciatura fosse dedicado a disciplinas de educação, mas as instituições reservavam no máximo 7% da grade curricular. A licenciatura de biologia estava formando biólogos e não professores do ensino médio. Não havia disciplinas de psicologia nem de avaliação educacional. Depois refiz o estudo em 2011 e 2012. Foi impactante, porque revelou que era preciso repensar a estrutura curricular que forma professores em instituições públicas e privadas. Encontramos bibliografias absolutamente incompatíveis com a ementa do curso. [...]. Em geral, os professores de futuros professores não tiveram formação pedagógica ou, se tiveram, foi em condições genéricas (GATTI, 2018, p. 26-27).
Embora haja mobilizações para o aprimoramento da qualidade do ensino no
interior das universidades públicas, o setor privado é o que detém a maior fatia do
mercado. Gatti (2018) afirma que 90% do corpo docente que atua na rede de ensino
são formados em instituições particulares. Não podemos esquecer que grande parte
desse percentual é financiada com recursos públicos269.
Assim como é para as/os autoras/es entrevistadas/os, para Gatti (2018, p. 27),
―no fundo, é um problema de natureza política‖. Fato é que na falta de oportunidades
de trabalho nas áreas de formação, muitas pessoas optam por lecionar, como é o
caso de biólogas/os. ―O problema é que a formação que o licenciado não teve na
universidade precisa, posteriormente, ser compensada pela rede pública de ensino
por meio da formação continuada‖. A pesquisadora explicou:
A concepção de formação continuada é um aperfeiçoamento profissional e cultural que se tem ao longo da vida. É um aprofundamento da formação. Mas no Brasil significa dar a formação básica em educação que não foi passada pelas licenciaturas. Isso é visível pela natureza dos programas de formação continuada do MEC e das secretarias de Educação (GATTI, 2018, p. 27).
Usando uma expressão do Autor I, “este jeito rinoceronte‖ que predomina na
formação educacional brasileira, na nossa interpretação, é uma das estratégias
ideológicas que sustentam e reproduzem formas de poder e dominação, vai na
contramão de uma educação sustentável.
269
Cf. Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Contee) ―Pedido de urgência na votação do Insaes e carta da Contee ao MEC mostram preocupação com o ensino superior‖. Disponível em: <http://contee.org.br/contee/index.php/2015/03/pedido-de-urgencia-na-votacao-do-insaes-e-carta-da-contee-ao-mec-mostram-preocupacao-com-o-ensino-superior/#.VRCbv_nF8uc>. Acesso em 25 mar. 2018.
395
O Autor U defendeu que participar de conferências tais como a Rio 92, a
Rio+20, a CONAE entre outras contribuem para a qualificação profissional de
professoras/es. Ele criticou a falta de financiamento e enfatizou “[...] eu estou
discutindo Educaçãooo”
A escola deveria financiar, fazer essa parte financeira, né. A escola privada não vai fazer. Os caras, nem que eles não te paguem, mas eu vou por minha conta, eles vão pegar no seu pé porque você vai faltar uma semana (risos). Entendeu? Os caras não veem [...] que é um professor que está se qualificando. Eles não estão preocupados com isso. Estão preocupados com ―ah, o cara vai faltar‖. E o professor da escola pública que poderia faltar, isso daí tem, é muito bacana. Tem essa oportunidade, mas ele não tem condição financeira, ele não consegue ir. E a gente sabe o custo financeiro que é isso, né. Eu vejo, pra eu participar das Conferências Nacionais de Educação, eu participei em todas as etapas (riso), até fui palestrante de várias, das regionais e tudo. Meu, nas escolas, os caras pegavam no pé. ―Po, uma semana?‖. É, uma semana. ―Nossa!‖. Mas meu, eu estou discutindo Educaçãooo. Né? E é engraçado que assim, os caras chiam, reclamam que você vai, aí depois, numa reunião de professores, os caras falam: ―Não, porque o professor (nome do Autor U), ele participa das Conferências‖ (AUTOR U, 22.08.2017, ênfase do entrevistado; grifo da pesquisadora).
Como afirmou a Autora A, sustentabilidade “é um projeto de sociedade. Eu fico
pensando que tem que começar a se mobilizar e aí, lembrar que trabalhar em prol
da sustentabilidade não é só fazer os 5Rs”.
[...] pensando educação para a sustentabilidade, na formação inicial também dos professores, né. Porque se a gente não conseguiu nem resolver o imbróglio das licenciaturas no papel. Há muito tempo que elas estão propondo que o currículo seja menos fragmentado, como o meu era, né, o ciclo básico, depois matérias de licenciatura. No papel já está lá que tem que ser um projeto próprio. Então, mas mudou? Se você quer formar professores atentos a uma educação para a sustentabilidade, o currículo de formação de professores também deveria ser revisto, né. Mesmo porque acho que não só para professores, se você quer formar pessoas com esta visão, né, deveria estar no currículo do engenheiro, no currículo lá do contador, do físico, do educador físico. Então, cadê? Se está no Ministério do Meio Ambiente, não está no Ministério da Educação, então como vai impactar o currículo de formação de pessoas? Então eu só me preocupo em fazer pequenos projetos? Acho que é um projeto de sociedade. E aí você tem que envolver mídia, tem que envolver todos [...] (AUTORA A, 01.06.2017).
As proposições da Autora A vêm ao encontro de um importante aspecto do
campo educacional, mencionado pelo Autor I e a Autora E: os desafios da inclusão.
Esta é uma questão importante que perpassa toda a escolarização, da creche ao
ensino superior.
396
Pra mim é um mistério a escola inclusiva porque eu não vivi isso nem como professora nem como aluna. Eu acho a escola inclusiva muito difícil, né. Eu trabalhei um pouco aqui numa escola próxima, que trabalhava a inclusão, mas eu achava aquilo tão ruim, tão ruim que eu não aguentei. Não vi ainda um bom trabalho de inclusão, assim, de participar mesmo, sabe. Não vi. Eu vi gente trabalhando mal. Colocam o aluno na sala, bota um professor assistente, a criança que está lá pra ser incluída, ela fica enquistada. Sabe? Eu ainda não vi o trabalho de inclusão acontecer. Quer dizer... Agora sei dizer o que é inclusão, só vi texto. Pra mim não é suficiente. Porque eu sou aquela pessoa que preciso combinar teoria com a prática, senão eu não vivo aquilo, né. Só vi texto, não vi prática ainda suficiente. Já vi muita gente reclamando, isso eu vi. Bastante gente reclamando, dizendo que não tem (AUTORA E, 17.08.2018, ênfase da entrevistada).
Os dados preliminares do Censo de 2010 indicam que 23,92% do total da
população brasileira apresentam pelo menos uma das deficiências pesquisadas:
visual, auditiva, motora, mental/intelectual. Entre as pessoas de zero a 14 anos,
7,5% declararam ter algum tipo de deficiência. Na faixa entre 15 e 17 anos, o
resultado é 11,7%, e o porcentual chega a 13,1% na faixa entre 18 a 29 anos.
Seguindo as recomendações do Grupo de Washington para Estatísticas sobre
Pessoas com Deficiência, os números do Censo foram revisados posteriormente.
Segundo esses critérios passaram a ser consideradas apenas aquelas pessoas que
declararam ter ―muita dificuldade‖ ou ―não conseguir de forma alguma‖ realizar certa
atividade relacionada à sua deficiência. Assim, a porcentagem de pessoas com
deficiência passou a ser 6,7%. Entre as crianças e jovens de zero a 14 anos, a
porcentagem foi de 2%, e entre 15 a 29 anos, de 3%.
Identificamos resultados diferentes na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS),
também do IBGE. As diferenças de resultado entre a PNS e o Censo se justificam
pelas diferenças nas metodologias. Ambas são pesquisas declaratórias feitas por
entrevistas, mas o Censo utilizou critérios mais abrangentes para caracterizar as
deficiências, classificando-as apenas entre os diferentes graus avaliados pelo
próprio declarante. Já a PNS é mais específica e considerou deficiências
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
Segundo os indicadores da PNS, 6,2% dos brasileiros são portadores de pelo
menos um tipo de deficiência: auditiva (1,1%); intelectual (0,8%); física (1,3%); visual
(3,65). Segundo as estimativas de população do IBGE, isso totalizava 12,4 milhões
de pessoas em 2013, ano em que a pesquisa foi feita.
Observamos que a PNS não apresenta o percentual total da população com
pelo menos uma deficiência por faixa etária, mas informa os percentuais para cada
397
tipo de deficiência. Como uma pessoa pode ter mais de um tipo, os números não
podem ser somados. Assim, na faixa etária de zero a 9 anos, 0,1% declarou
deficiência auditiva, 0,6% deficiência intelectual, 0,4% deficiência física, e 0,4%
deficiência visual. Não é possível calcular o percentual de pessoas com deficiência
para as outras faixas etárias, pois o IBGE não informa qual era o tamanho da
população nesses intervalos em 2013, quando foi feito o levantamento. A pesquisa
constatou que, na maioria dos casos, as deficiências foram adquiridas ao longo da
vida. As deficiências intelectuais são exceção, 0,5% da população total possuía a
deficiência desde o nascimento, enquanto 0,3% a adquiriu devido a doença ou
acidente.
Vale esclarecer que até o início de 2001 o sistema educacional brasileiro
disponibilizava dois tipos de serviços diferenciados para cada público, a saber: a
escola regular e a escola especial. A partir de 2008 ocorreram mudanças na
disponibilidade desses serviços270.
A educação inclusiva compreende a educação especial dentro da escola
regular. A implantação da educação inclusiva implica a reestruturação física dos
espaços, a eliminação das barreiras arquitetônicas e de comunicação, a adequação
de mobiliários, entre outros aspectos. Pessoas capacitadas na linguagem de Libras,
formação de profissionais, a distribuição de materiais didáticos em Braille, os quais
passaram a ser distribuídos pelo PNLD em 2007 são alguns exemplos de recursos
humanos e materiais adequados ao atendimento às pessoas com necessidades
especiais271.
Segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica 2017, divulgados pelo
MEC em janeiro de 2018, entre 2010 e 2017 houve aumento de 85% das matrículas
de alunos com deficiências, transtorno global do desenvolvimento (TGD/TEA) e/ou
altas habilidades/superdotação nas classes comuns da educação básica e queda de
270
Cf. Decreto Nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Revoga o Decreto Nº 6.571, de 17 de setembro de 2008 e dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm#art11>. Acesso em: 09 nov. 2018. 271
Cf. Decreto Nº 7.611, de 17 de novembro de 2011. Revoga o Decreto Nº 6.571, de 17 de setembro de 2008 e dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7611.htm#art11>. Acesso em: 09 nov. 2018.
398
22% nas classes especiais. No entanto, apenas 42% dos alunos nas classes
comuns realizavam as atividades de atendimento educacional especializado272.
Se por um lado, a educação inclusiva é criticada pelo fato de o MEC falhar na
missão de educar estudantes que necessitam de atendimento diferenciado, por outro
o ensino especial tem sido também alvo de críticas por sua exclusividade e por não
promover a socialização e o convívio com as diferenças.
Inclusão pressupõe aprendizagem de todas/os, portanto, adaptação de quem
entra e de quem recebe. Mas isso não é tudo. As críticas da Autora E iluminam
nossas análises. Ela enfatiza que “a escola, em geral, não respeita o tempo de cada
um. Ela deveria respeitar mais. Ela deveria ser mais humana nesse sentido, né”. E
complementa,
E eu acho que aquilo que a gente fala sobre cuidados em relação à criança diferente, à criança com necessidades especiais, criança com dificuldade de aprendizagem, né, a questão do bullying, sabe... é tudo discurso. Não vi nada ainda acontecer na sala de aula. Eu vi o contrário. Vi gente se dando mal. Aí eu vi muito, né. Mas se dando bem... Vi alguns exemplos também, de ouvir falar, tá, alguns exemplos. Mas de vivência, pessoal, não. Bem... (AUTORA E, 17.08.2018, ênfase da entrevistada).
Neste contexto identificamos mais uma vez os resquícios eugenistas, como
assinala o Autor I sobre o discurso textual produzido por Luiz Henrique da Silveira.
Dentre os cargos políticos, Luiz Henrique da Silveira foi prefeito de Joinville,
governador de Santa Catarina, senador pelo mesmo Estado e ministro da Ciência e
Tecnologia no governo José Sarney273.
[...] uma vez, eu mostrei um texto que eu uso ainda, já tem mais de dez anos, do falecido governador de Santa Catarina, ele era do PMDB, Luiz Henrique, faleceu acho que há uns dois anos, era senador ultimamente. Ele fez um texto que ele pensou que fosse muito bom, sobre bioengenharia, avanços tecnológicos dentro da biologia genética, cura de doenças e ele se entusiasmou no texto e acabou falando como as inovações, o nome do texto é ―O DNA Espartano‖, porque ele fala que em Esparta se fazia eugenia a partir de ―mata os mais fracos‖, ―nasceu fraquinho, pequenininho, doente, mata, passa a faca‖. E Esparta tinha uma sociedade forte, eugênica, olha que coisa terrível. A ideia da eugenia, feita pela faca. E o Luiz Henrique começou a falar de uma eugenia feita sem a faca, mas com a manipulação gênica. E falava sobre a manipulação genética. Eu, poxa, não termos mais pessoas “feias”. Quando eu vi aquela palavra “feio”, Deus do céu, o que é que esse cara está escrevendo? E aí eu, na palestra, mostro o texto dele e passo para os professores questionarem em grupos. Gostaram? Criticaram?
272
Cf. Censo Escolar da Educação Básica 2018. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/documents/186968/484154/Censo+Escolar+da+educa%C3%A7%C3%A3o+B%C3%A1sica+2018+Caderno+de+Instru%C3%A7%C3%B5es/be4e0801-5181-4364-934d-bcaff5ce85ea?version=1.2>. Acesso em: 09 nov. 2018. 273
Cf. Verbete Biográfico. Disponível em: <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/luis-henrique-da-silveira>. Acesso em: 22 ago. 2017.
399
Não gostam dessas ideias? Alguma palavra do texto te chocou? E eu esperava a resposta “feia”. Imagina, escolher gente “feia”, o que é..., bonita ou feia, o que é isso? Que padrão é esse? E outra, vamos passar a ser uma sociedade de Brad Pitt e Xuxa? É isso que se quer? O Brad Pitt já é velho, né? Já não vale mais, enfim... (AUTOR I, 22.08.2017).
Identificamos que o texto foi publicado no domingo, em 28 de agosto de 2005,
no ―A Notícia‖, jornal de Joinville, onde o então governador assinava uma coluna
semanal274. Informações veiculadas pela imprensa na época informam a reação da
comunidade científica275. Por exemplo, nas palavras de geneticistas,
respectivamente Maria Cátira Bortolini e Marcelo Nóbrega, ―o texto dele é tão ridículo
que fica difícil articular uma resposta científica‖. ―É na ignorância científica que está a
maior tragédia do que foi dito por ele".
A eugenia -- uma lei não escrita -- era o dogma mais importante para os espartanos. Consistia em sacrificar toda e qualquer criança que nascesse doente ou com deficiências, fossem físicas ou mentais. Assim, Esparta ficou famosa, na antiguidade (sic) clássica, por ter um povo hígido e forte, notável nas batalhas de conquista que empreendeu contra seus vizinhos, aquém ou além Peloponeso. Por outro caminho, não violento, os povos do século 21 poderão construir uma sociedade sem pessoas sofredoras de males genéticos, principalmente os observados durante a vida intra-uterina (sic). [...] As pessoas poderão se valer da ciência, para evitar que seus filhos nasçam feios, deformados, deficientes ou idiotas. Ou até mesmo -- e essa vai ser a grande questão do século -- escolher para que as crianças nasçam clones de algum gênio ou adônis. Nesse mundo de notícias tão ruins, esta é a mais alvissareira de todas: a eugenia, doravante, vai ficar por conta dos prodígios da ciência, não da barbárie das adagas (SILVEIRA, 2005, grifos da pesquisadora).
―Eu não gostei da palavra escolher‖. Esta fala é de uma “professora excelente”
que participava da palestra ministrada pelo Autor I.
Falei: vou passar a adotar essa palavra agora como a palavra mais problemática desse texto. ―Dar ao ser humano a capacidade de escolher os tipos‖. Isso é eugenia. Mas eu aprendi com a professora. É uma troca mesmo. É uma troca nessas palestras, muito enriquecedor. Então, há professoras excelentes. São minoria. São minoria (AUTOR I, 22.08.2017, ênfase do entrevistado).
O Autor I também destacou uma “professora brilhante”, com quem aprendeu
outro olhar.
274
Cf. Texto na íntegra. ―O DNA Espartano‖. Disponível em: <http://brazil.indymedia.org/content/2005/09/329359.shtml>. Acesso em: 22 ago. 2017. 275
Cf. Folha de S. Paulo. Bioética. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe0309200504.htm>. Acesso em: 22 ago. 2017.
400
[...] e um dia, em Londrina, dando palestra a professoras, professores, eu falo em professoras também porque é quase só professora, né, os homens são poucos e não vão às palestras (riso). É (risos). São autossuficientes, mais orgulhosos, mais nariz em pé. Aí eu... estou generalizando, hein. Debatendo esse negócio, ah essa menina tal e coisa, o mundo..., uma professora de uma escola de deficientes auditivos falou: ―professor, o senhor percebeu como é que nessa foto essa menina está? Ela está enterrando a orelha na bola, ela está querendo ouvir‖. Eu não tinha percebido isso ainda. A professora é que me chamou a atenção e aí ela falou um pouco da experiência dela. É brilhante! Aliás, essa professora acho que é deficiente visual. É isso. Brilhante! (AUTOR I, 22.08.2018).
A princípio o propósito de se trabalhar com a imagem a qual o Autor I se refere
era no sentido de orientar as/os professoras/es na abordagem da educação
ambiental e os 5Rs (repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar). “Uma menina de
seis anos pode cuidar do mundo? Aí eu usei uma fotografia no livro, uma bola
grande e uma menina com a orelha afundada na bola, o olhar assim...”.
Não tivemos acesso ao livro, mas considerando que a maioria das Editoras
utiliza fotografias Royalty Free realizamos uma busca em bancos de imagens e
localizamos na Dreamstime.com, a imagem descrita pelo Autor I, reproduzida neste
estudo276.
Figura 32 - Imagem da menina que abraça o planeta Terra, mencionada pelo Autor I. Fonte: Dreamstime (2010).
276 Cf. Dreamstime. ―Menina que abraça o planeta Terra sobre um fundo branco‖. Disponível em: <https://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-royalty-free-abra%C3%A7ando-nosso-mundo-image20294379>. Acesso em: 09 nov. 2018.
E aí, o que é que essa menina está fazendo? Na interpretação, a professora pergunta aos alunos e depois tenta chegar ao seguinte, essa menina está ouvindo o que o mundo pede pra ela. E ela vai dizer: ―eu vou ajudar‖. Como é que uma menina de seis anos pode ajudar? Conserve as suas bonecas, elas são de plástico. Plásticos são um problema grave no ambiente. Conserve, não jogue fora o tempo todo ou se você não vai usar mais leve pra escola, pra Igreja, pra uma associação, pra não virar lixo. Conserve os seus lápis, a caneta, não jogue fora nada. E aí pusemos uma lista de coisas que uma criancinha de seis, cinco, sete anos pode fazer pra ajudar a conservar o mundo. Isso é coisa nossa, do livro, né (AUTOR I, 22.08.2017, ênfase do entrevistado).
401
Decerto que as imagens contribuem para a abordagem de inúmeros aspectos,
dependendo das interpretações que fazemos delas. Visto em seus aspectos
hermenêuticos, entendemos que no processo de elaboração, interpretação e
reinterpretação, as pessoas incorporam as formas simbólicas à compreensão que
têm de si, dos outros e o mundo a que pertencem.
Como vimos, as formas simbólicas podem ser e são usadas também para
reflexão e auto-reflexão. Podemos, assim, apreender que a apropriação das formas
simbólicas constitui um processo de conhecimento e autoconhecimento, de
formação pessoal e de autocompreensão, embora nem sempre explícitas e
reconhecidas como tais. A compreensão que uma pessoa tem das mensagens
transmitidas pelos produtos da mídia pode sofrer transformações, já que elas são
vistas de pontos de vista diferentes, são submetidas aos comentários e à crítica dos
outros, e gradualmente impressas no tecido simbólico da vida cotidiana.
Se aos olhos de uma professora inclusiva, a ―menina que abraça o planeta
Terra sobre um fundo branco‖ é mais que uma ―menina que abraça o planeta Terra
sobre um fundo branco‖, o que será aos olhos de uma Autora uma menina que
abraça uma mochila?
Em 2017 Pernambuco voltou a enfrentar o pesadelo de uma grande enchente.
Historicamente as inundações não são um fenômeno novo no estado. Documentos
históricos registram que o problema se repete ano após ano ao longo dos séculos e
atinge, sobretudo os mais pobres.
Em entrevista ao Nexo Jornal, em 2016, Álvaro Rodrigues dos Santos, geólogo
e ex-diretor do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT) afirma que
poucos são os problemas brasileiros que podem ser considerados realmente
desastres naturais. Por trás dessas situações estão a incompetência, a
irresponsabilidade, o descompromisso social e, em muitos casos, a conivência
interessada da administração pública.
Ao ser consultado pelo jornal Diário de Pernambuco, o arquiteto e urbanista
José Luiz de Menezes (2017) explica que as razões para as cheias no Recife e no
interior são distintas. ―Originalmente, o Recife era uma grande várzea, com pouca
terra seca. A natureza é equilibrada, mas as construções foram desordenadas sobre
a área molhada. Não dá para colocar a culpa apenas na chuva‖.
No interior do estado, fatores sociais são mais decisivos que os físicos para as
tragédias. Menezes (2017) explica que naturalmente os rios alargam para crescer,
402
mas as construções foram erguidas muito próximas às áreas que os mananciais
precisam para expandir, e as enchentes acabam afetando as pessoas. Isso não é
novidade e pode ser controlado com a construção de barragens, mas, infelizmente,
os reservatórios programados para essas regiões frequentemente atingidas não
ficaram prontos. Isto não significa impossibilidade de minimizar as consequências
das chuvas, pois as pessoas que vivem em áreas ribeirinhas poderiam ser
conduzidas para pontos mais altos das cidades, se houvesse vontade política. ―O
que se percebe, ao longo dos anos, é que são dadas soluções imediatas ao
problema, como entrega de donativos e reconstrução precária das cidades. Depois,
a questão é esquecida. Pelo menos até a próxima enchente‖.
É nesse contexto que as lentes da câmera de Valter Rodrigues Júnior, um
fotógrafo amador, captaram a imagem de uma menina na inundação. Na foto, a
criança aparece agarrada a uma mochila. Não tardou para que a fotografia que caiu
na Internet fosse transformada em manchete: ―Menina salva livros ao fugir de
enchente em PE e comove a web‖.
O resgate desse fato ocorreu na segunda entrevista, quando a menina foi
lembrada pela Autora E.
[...] eu não sei se você viu no Facebook ou até viu na televisão. Duvido que você assistiu o Fantástico. Eu não vi, mas saiu no Fantástico, uma menina. Você viu no Facebook? Pois é. Então fizeram a história da menina na enchente. Foi um fato que aconteceu na mesma semana, ou na semana posterior, do Rocha Loures saindo com a mala cheia, aquele filme do Loures passando com a malinha cheia de dinheiro, foi agora mesmo, né. [...] então, o vizinho que fez o filme da menina fugindo de casa nas enchentes em Pernambuco com uma mochila. Nessa mochila ela levava os livros didáticos. É, tá na Globo. Saiu. Ela tem um nome diferente, a menina. Ela tem um nome criativo que eu não guardei. Mas eu fiquei tão emocionada! (AUTORA E, 01.06.2017).
De fato, enquanto Valter Rodrigues Júnior registrava os flagrantes da cidade de
São José da Coroa Grande inundada pelas águas no mês de junho de 2017, a pauta
da grande mídia era o flagrante de Rodrigo Rocha Loures recebendo uma mala com
R$ 500 mil entregues por um executivo da J&F, em São Paulo, em maio daquele
ano. O registro foi feito pela Polícia Federal, no âmbito da investigação ―Operação
403
Patmos‖ (braço da ―Operação Lava Jato‖), conduzida pela Polícia Federal e a
Procuradoria Geral da República277.
Rocha Loures, ex-deputado e ex-assessor do presidente interino, Michel
Temer, teria sido indicado por ele ―para resolver uma disputa relativa ao preço do
gás fornecido pela Petrobrás à termelétrica do Grupo JBS‖. Ele seria, então, um
intermediário entre o presidente e o empresário Joesley Batista. O pagamento seria
parte de R$ 38 milhões que o empresário teria prometido para que o grupo político
do presidente Michel Temer atuasse em assuntos de interesse da JBS no Cade278.
Vista de perspectiva innisiana, o grupo JBS pode ser considerado um
conglomerado midiático. A companhia está presente em cinco continentes. Conta
com plataformas de produção e escritórios no Brasil, Estados Unidos, Austrália,
Canadá, Argentina, Uruguai, México, Itália, Irlanda, Reino Unido, França, Holanda,
China, Rússia e outros. Atua nos segmento de produção e comercialização de carne
bovina, suína, ovina e de frango; de couros, higiene e limpeza, fabricação de latas,
colágeno, biodiesel, transportes e vegetais. Conta com 30 centros de distribuição e
03 confinamentos espalhados pelo território nacional: 35 unidades de
processamento de bovinos; 03 confinamentos de bovinos; 16 unidades de couro e
27 centros de distribuição.
Analisada em seus aspectos hermenêuticos é esta tensão entre o
transcendental e o mundano que está no centro dos escândalos políticos que têm
sacudido o país e ao mesmo tempo renovam as especulações sobre o seu futuro.
―O meu futuro está nesses livros. O meu futuro está dentro dos livros‖. Esta fala
é de Rivânia, a menina que emocionou as/os brasileiros. À repórter, ela disse que
quer ―ser médica ou professora‖. Estava com 8 anos quando tudo aconteceu.
Segundo a reportagem, a Rivânia mora com os avós que não tiveram acesso aos
estudos. Sua família vive da pesca. Segundo a reportagem, Rivânia tremia de frio e
rezava de olhos fechados. ―[...] eu pensava que a jangada ia virar, pensava que eu ia
cair e ia morrer afogada porque ali tava muito fundo‖. ―Foi a primeira coisa que eu
botei dentro da bolsa, a primeira coisa‖, disse Rivânia à repórter.
277
Cf. ―Operação Patmos, o apocalipse político‖, matéria na qual Fausto Macedo, Fabio Fabrini e Julia Affonso, jornalistas do ―O Estado de S.Paulo‖ identificaram a correlação entre o nome dado para a operação com seus resultados. Patmos faz referência à ilha grega de Patmos, local onde supostamente o ―Apocalipse‖ foi revelado ao apóstolo João. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/operacao-patmos-o-apocalipse-politico/>. Acesso em: 09 nov. 2018. 278
Cf. ―Rodrigo Rocha Loures entrega à PF a mala com o dinheiro enviado por Joesley Batista‖. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/5888905/>. Acesso em: 09 nov. 2018.
404
Figura 33 - Imagem da menina que salvou os livros da enchente, mencionada pela Autora E. Fonte: Valter Rodrigues Júnior (2017).
De nossa perspectiva entendemos que exemplos como estes evidenciam o fato
de que o pensamento sobre questões éticas e morais não acompanhou o
desenvolvimento que transformou e continua transformando nosso mundo. Por outro
lado, eles mostram que a crescente difusão de informações e imagens através da
mídia em geral e da mídia educativa em particular pode contribuir para estimular e
aprofundar um sentido de responsabilidade ética expandida, pelo mundo não
humano da natureza e pelo universo de outros distantes que não compartilham das
mesmas condições de vida (THOMPSON, 1998).
[...] é Rivânia o nome da menina, vou conferir. Então, aí, vem a Globo e pergunta para a avó: ―mas como foi que ela escolheu o que levar na mochila?‖. Daí a avó diz: ―ah, eu disse pra ela, pegue as suas coisas mais importantes e leve. Ela levou os livros”. Até você se emocionou, né? Porque você também gosta do livro didático. E o livro era esse, é o meu. É esse livro do Campo. E na reportagem, ah, ela abre em uma página que eu fiz, entendeu? Eu vou abrir pra você ver a página que eu escrevi. É uma página recuperada lá do livro “Hora da Ciência”, reconduzida para esta obra mais atual. Entende? (AUTORA E, 01.06.2017).
405
Figura 34 - Livros da coleção que a menina salvou da enchente. Fonte: Coleção Campo Aberto - PNLD DO CAMPO/2014.
“Aí, bom! A alegria que isso dá pra gente! Isso está atingindo. A gente nunca
sabe direito se atingiu se não atingiu, né. Isso, minha querida, isso paga muitas
noites sem sono, sabe. Paga. Paga. Paga” (AUTORA E, 01.06.2017).
De fato, é difícil mensurar e prever o alcance de nossas ações. É este o mundo
do trabalho de autoras/es de livros didáticos, onde a capacidade de agir à distância,
de desencadear processos que podem ter consequências de longo alcance no
espaço e no tempo, para além da nossa capacidade de compreender e de julgar.
De acordo com Thompson (2009, p. 203), ―uma das consequências da
contextualização das formas simbólicas, [...] é a de que elas são, frequentemente,
submetidas a complexos processos de valorização, avaliação e conflito‖. O processo
de valorização simbólica é aquele através do qual é atribuído às formas simbólicas
um determinado ―valor simbólico‖ pelos indivíduos e instituições que as produzem e
recebem. O valor simbólico é então definido como ―aquele que os objetos têm em
virtude dos modos pelos quais, e na extensão em que, são estimados pelos
indivíduos que os produzem e recebem – isto é, por eles aprovados ou condenados,
apreciados ou desprezados‖.
[...] Escrever um bom livro didático é difícil. Não estou falando que os meus sejam bons, tá. Não estou fazendo nenhuma apologia, não é isso. A gente se esforça para fazer um bom livro, né. Quem vai dizer se o livro é bom é o
406
aluno, é a criança, é o professor. Às vezes é um pesquisador (AUTORA E, 17.08.2017).
Em alguns contextos a produção de formas simbólicas pode servir para
estabilizar e reforçar relações de poder, mais do que para romper ou enfraquecer. É
assim que o valor de um bem simbólico pode ser ampliado ou restringido,
dependendo dos recursos, das circunstâncias e das estratégias empregadas.
No âmbito das avaliações periódicas da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes), ―um livro consiste em produto impresso ou
eletrônico que possui ISBN, contendo um mínimo de 50 páginas, publicado por
editora pública ou privada, associação científica e/ou cultural, instituição de pesquisa
ou órgão oficial‖.
Embora as obras didáticas correspondam a essas características, ―[...] a Área
de Ensino distingue totalmente a produção de livros didáticos e paradidáticos‖ e
assume que ―a pontuação em livros pode ser maior do que em Produtos
Educacionais, especialmente para os Programas Acadêmicos‖. No ―Qualis-
Técnico/Educacional‖, as obras didáticas dirigidas à educação básica são remetidas
à avaliação de ―Produção Técnica‖, avaliadas como ―materiais educacionais‖ e não
como livros (BRASIL, 2016, p. 2).
De fato, como aponta a Autora A, essa questão deve ser observada, uma vez
que a ―Classificação‖ contribui para que o livro didático seja valorizado como ―uma
literatura menor‖.
No meu doutorado eu discordava da minha Orientadora por causa disso. Eu fiz na área de Educação. Ela achava que o livro didático era importante, mas indagava: ―por que eu não escrevia mais artigos para revistas?‖ Professora, eu respondia, porque eu trabalho. Eu fiz doutorado trabalhando. Eu uso boa parte do meu tempo escrevendo os livros. E eu prefiro escrever os livros didáticos que artigos. Eu acho que se eu sou uma pesquisadora e posso produzir um material que vai chegar na sala de aula é importante, né!? Mas eu via que sempre era considerado como uma literatura menor. Tanto que eu, como professora no Mestrado [...], eu tinha problemas com publicações porque, apesar de ter um monte de livros aprovados, publicações feitas para professores também, na Unesco e em outras instâncias, na hora de pontuar na produção valia pouco. Um artigo numa revista Qualis A tem um peso maior. Até nem é culpa do programa de mestrado. Ele é cobrado, né, pela Capes, pelo CNPq, pra isso. Então, na realidade, escrever livro didático é considerado uma coisa menor, mesmo passando pelo crivo das análises todas. Mas, tudo bem (AUTORA A, 01.06.2017).
Esse fato descrito como ―um conflito de valorização simbólica‖ é identificado na
fala da Autora E. Em suas palavras,
407
A gente precisa superar essa ideia de que o autor de livro didático é um intelectual de segunda ordem, né. Essa noção veio por conta de uma história do livro didático, acho que ela remonta aquela época em que os livros foram reeditados com mínimas modificações durante décadas, né, isso lá nos anos 1950. Em 1970 começou a mudar um pouco porque também teve muita alteração nos currículos, nova Lei de Diretrizes e Bases. Então nos anos 60 começa a mudar um pouco e nos 70 mudou mesmo. E de lá pra cá você passa a ter autor que geralmente é um professor. Esse autor, ele faz uma obra que é recauchutada por um editor, por um revisor. Então será que ele era um intelectual de segunda categoria? Não. Era alguém que estava fazendo uma transposição didática antes de qualquer recurso teórico. Era um pioneiro, né, humilde, sabe. Então, quer dizer, ele estava fazendo um papel vanguarda naquela época. No entanto, pelos acadêmicos da universidade ele era espezinhado e tal. Muito bem, passou-se o tempo. Mas, a nossa fama continua, né, a ponto, depois eu vou te passar a indicação, a ponto de ter pesquisador que acha que o fato de os autores contestarem o PNLD seria um sinal de que o PNLD está correto. Você já viu isso? ―É... o PNLD está certo porque os autores estão contestando‖. Logo, o autor é o cara errado? Mas, sem nenhuma discussão. Sabe, eu fiquei..., eu fiquei assim, muito indignada. Eu sou uma pessoa que fica indignada com as coisas até hoje, né. Como diz a queridíssima amiga Vera Novais, autora de Química, ―não vamos perder o núcleo indignação, que é a nossa veia‖ (risos). E é por isso que a gente foi para a educação, né. Então, por tudo isso eu acho que a gente precisa sim, valorizar o livro didático, que é o principal livro do brasileiro. Valorizar o autor do livro didático que é um esforçado, é um vanguardista, né. É alguém que trabalha com sequenciações antes de se discutir teoricamente o que é uma sequenciação, a gente já faz. Então, acho que é realmente por aí, né. Eu fico muito contente de você estar trazendo essa proposição (AUTORA E, 01.06.2017).
Ao focalizar os campos de interações pudemos notar uma pluralidade deles,
cada qual com suas características distintas, porém interdependentes. De nossa
perspectiva entendemos que os mercados são uma parte importante de alguns
campos. No entanto, os campos são sempre mais que mercados (THOMPSON,
2013).
Como vimos, os campos de interações se constituem de agentes e
organizações de diferentes tipos e diferentes níveis de poder e recursos, de uma
variedade de práticas e de formas específicas de concorrência, colaboração e
recompensa. É nesse sentido que nossas interpretações apontam que o
pensamento dominante tem como valor de definição o capital financeiro em vez do
capital de vida. As desigualdades sociais não decorrem somente de desigualdades
materiais e simbólicas, mas também dos entraves causados pelo déficit de capital
cultural no acesso a recursos e a bens simbólicos, sobretudo quando o acúmulo de
capital econômico e social de alguns grupos é convertido em recursos de exploração
e dominação, o que para nós, de uma perspectiva sociológica é insustentável,
408
exceto se pensado como objeto de reprodução social. Se o futuro é ―criado‖, que
construções definem o futuro?
409
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Antes de apresentar nossas considerações finais consideramos importante
ressaltar que seguindo as trilhas de Fúlvia Rosemberg, que desde 1982 já se
dedicava à pesquisa da literatura infantil, no NEGRI, desde 1987 desenvolvemos
pesquisas que analisam discursos veiculados na literatura, especialmente, na
infantojuvenil e na didática. De maneira geral buscamos apreender visões de mundo,
construídas e veiculadas por adultos e destinadas ao público escolar. Assim, esta
investigação se integra ao projeto coletivo do NEGRI, na linha de pesquisas sobre
livros didáticos e ideologia no Brasil contemporâneo sob a ótica das relações de
poder e dominação.
Entendemos o livro didático como produção midiática. Ou seja, como mídia
educativa, tendo em vista não só os conteúdos veiculados, mas também a ampla
produção e circulação desses materiais. No mundo, somente a China tem um
programa de distribuição de livros didáticos maior que o do Brasil. A diferença é que
aqui, o PNLD está baseado desde sua origem, nos princípios da livre participação
das editoras. Também das escolas públicas de educação básica das redes federal,
estaduais, municipais e distrital e das instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público.
Em virtude do falecimento de Fúlvia Rosemberg, fundadora e coordenadora do
NEGRI até setembro de 2014, a professora Ana Bock, do Programa de Estudos Pós-
Graduados em Educação: Psicologia da Educação assumiu a orientação da
pesquisa. No entanto, mantendo o vínculo acadêmico com o Programa de Estudos
Pós-Graduados em Psicologia Social, também com a perspectiva do NEGRI, em
sintonia com as orientações de Fúlvia Rosemberg, na elaboração do projeto. Foi da
escuta de suas posições e de seu fomento ao debate que resultou esta pesquisa.
Neste estudo descrevemos e interpretamos um conjunto de produções
discursivas de autoras/es de livros didáticos de Ciências Naturais, captadas a partir
de entrevistas em profundidade, semiestruturadas, concedidas a esta pesquisadora,
e complementadas por discursos veiculados nos referidos livros.
Minhas reflexões sobre a atividade de entrevista estão situadas em um
contexto institucional bem demarcado. Já explico.
Em minha trajetória profissional tive oportunidade de realizar trabalhos nos
segmentos de educação formal e corporativa. Realizei entrevistas individuais e
410
coletivas com pessoas diversas. Participei de pesquisas políticas em um dos mais
importantes institutos de pesquisa de opinião do Brasil. Também participei de
pesquisas globais sobre saúde e segurança no trabalho em uma das maiores
fabricantes de veículos automotores do mundo. Igualmente foram muitas as
entrevistas realizadas nas áreas de recrutamento, seleção e avaliação, bem como
aquelas realizadas para elaboração e aplicação de programas de desenvolvimento
humano, em instituições nacionais e transnacionais de diversos segmentos, entre
eles o editorial. No entanto, a entrevista acadêmica é um campo novo, quase
desconhecido para mim. Não por acaso foi este o desafio colocado por Fúlvia
Rosemberg na conclusão de meu mestrado, quando decidimos dar continuidade aos
estudos anteriores e ir à escuta de autoras/es de livros didáticos.
Sempre me apresentei para as entrevistas com um conjunto de tópicos e
perguntas, mas nunca considerei esse plano rígido. Isto porque, como pesquisadora
de livros didáticos, eu não queria que as/os autoras/es entrevistadas/os se
sentissem como se tivessem uma profissão sob ataque. Para mim, o mais
importante sempre foi estabelecer uma relação de confiança entre nós, baseada no
respeito pelo trabalho que desenvolvem. E também porque quis que as conversas
fluíssem; que se sentissem livres para discutir as questões abertamente,
considerando seus interesses, suas experiências e opiniões sobre o que era
realmente importante e o que não era; queria saber sobre como desenvolvem seus
trabalhos e o que os afeta para agirem como agem.
Nesse exercício fiz uma autoavaliação e pude ver quantos comentários
intrigantes deixei de investigar mais profundamente. Mas também foi possível trocar
informações e confirmar suspeitas. Certamente que a boa relação estabelecida entre
as partes foi fundamental. Todas/os as/os entrevistadas/os foram receptivas/os e
extraordinariamente generosas/os. A maioria de suas colocações foi expressa
espontaneamente. Falaram com eloquência sobre seus mundos, compartilharam
suas experiências, acrescentaram outras informações, novos tópicos e
considerações. Comentaram sobre a vida familiar e doméstica. Também
compartilharam alegrias, angústias e embates.
Tive sorte e fui feliz. Primeiramente porque autoras/es são profissionais das
palavras e as/os que entrevistei gostam de falar; falam com a lealdade e as paixões
alegres e tristes de quem se entrega àquilo que faz. Segundo porque a inexistência
de vínculo empregatício lhes confere uma distância das organizações e lhes permite
411
falar com uma sinceridade que teria sido difícil se ocupassem um cargo em Editoras
ou em instituições governamentais. E terceiro porque tive posteriormente,
oportunidades de fazer perguntas que não havia feito na primeira vez para colher
dados não contemplados, esclarecer dúvidas e trocar informações. Uma delas foi
quando do anúncio na mídia, sobre questões políticas na educação que trariam
―mudanças polêmicas‖ no processo de produção de obras didáticas. Essas
conversas, mesmo que breves, por e-mail, messenger ou whatsApp foram
extremamente reveladoras. Essas vivências tão ímpares foram para mim um grande
aprendizado. Vi o quanto é importante conhecê-los/as para acreditar no que fazem.
Identificamos uma variedade de áreas de formação, mas concentrada em
Ciências Biológicas ou História Natural. Também em Física, Matemática, Química,
Pedagogia, Filosofia. Grande parte das/os autoras/es cursou ou frequentou a pós-
graduação (mestrado em Ciências e Matemática, Educação, Zoologia, Física
aplicada à Geologia, Psicologia da Educação); (doutorado em História das Ciências,
das Técnicas de Epistemologia, Zoologia, Educação). Uma autora tem licenciatura
em Educação Indígena.
Primeira constatação: as obras didáticas de Ciências Naturais são escritas por
professoras/es. Isto porque ao analisar o histórico profissional apreendemos que
as/os autoras/es de Ciências Naturais têm grande afinidade com o trabalho em sala
de aula e proximidade com o universo estudantil. A maioria atuou ou atua como
professoras/es da educação básica, nos níveis fundamental e médio, sendo que boa
parte acumula experiências em docência no ensino superior (graduação e/ou pós-
graduação).
Vale observar que como professoras/es da educação básica, conciliam ou
conciliaram o trabalho nas redes pública e privada. Nas palavras da Autora E: “a
escola privada te paga um pouco melhor, a pública é o seu chão de trabalho, onde
você coleta e vive melhor a sua razão social de ser um professor. Um professor
idealista, né, um professor que quer atuar socialmente”.
Segunda constatação: a maioria das obras didáticas de Ciências Naturais é
escrita a muitas mãos, pensada e mobilizada por diferentes saberes, os quais
podem ser identificados no leque diversificado de formação e experiência das/os
profissionais que compõem as autorias.
Terceira constatação: a escrita de livros didáticos é uma arte, um trabalho
criativo que leva anos, implica muitos desafios e responsabilidades. A comunicação
412
científica constitui um dos maiores. Comunicar não é tarefa fácil para profissionais
das palavras. Imagina para artesãs e artesãos de livros didáticos que precisam fazer
a transposição didática.
Quarta constatação: as obras didáticas passam por processos de melhoria e
avaliação contínuas. Para corresponder aos critérios de qualidade, a cada edição do
PNLD as autorias trabalham na revisão e aprimoramento, atentam à correção e
atualização de conceitos, informações e procedimentos, sejam obras derivadas,
inéditas ou reinscritas no PNLD.
Em nossas análises apreendemos um ―conflito de valorização simbólica‖.
Apesar de todos os processos considerados na composição, produção, avaliação e
circulação das obras didáticas, elas são ainda consideradas como uma “literatura
menor”. Por sua vez, autoras/es ainda são consideradas/os como “intelectuais de
segunda ordem”, embora as coleções didáticas possam ser vistas como as
―enciclopédias da família brasileira‖. Depois da Bíblia, o livro didático ocupa o 2º
lugar entre os mais lidos no Brasil. Não é por acaso que as obras didáticas são
frequentemente submetidas a complexos processos de valorização, avaliação e
conflito.
De nossa perspectiva entendemos que essa questão deve ser observada com
cuidado. Primeiramente porque no âmbito da Classificação de livros, embora as
obras didáticas correspondam às especificidades, a Área de Ensino distingue
totalmente a produção de livros didáticos e paradidáticos. As obras didáticas
dirigidas à educação básica são remetidas à avaliação de ―Produção Técnica‖,
avaliadas e classificadas como ―materiais educacionais‖ e não como livros. Isso
acarreta prejuízos para quem atua no nível superior de ensino, pois ao pontuar a
produção vale menos. Isso contribui para reprodução da ideia do livro didático como
“literatura menor” e de autoras/es como “intelectuais de segunda ordem”.
A questão precisa ser observada com cuidado também porque livros didáticos
podem servir e servem de fonte para o exercício de diferentes formas de poder,
portanto como instrumento de manipulação da opinião pública, como por exemplo
quando a atenção é orientada em direção ao conteúdo veiculado e a ideologia é
identificada por determinados setores da sociedade como resultado de uma pretensa
―ideologia de gênero‖.
Em nossos estudos foram apontadas diversas necessidades de
desenvolvimento de pesquisas. Uma delas é sobre o uso do livro didático. São
413
poucos os estudos que versam sobre esse enfoque, seja considerando o uso do livro
por parte de estudantes ou de professoras/es. Menos ainda são os estudos que
versam sobre a adoção de livros digitais. Esse enfoque sobre livros digitais e livros
impressos, em nosso entendimento é uma das importantes questões que merecem
investigação.
Entendemos que acompanhar a evolução dos livros didáticos brasileiros é uma
das tarefas que se impõe à comunidade acadêmica. Mesmo porque as novas
coleções já vêm produzidas sob as diretrizes da BNCC. Pode ser interessante
verificar as implicações e aplicações das novas diretrizes sobre o material didático.
Lembramos que os livros didáticos contribuem para a implementação da BNCC e a
universidade participa e contribui para esse processo.
Aproveito esta oportunidade para compartilhar minha experiência. Como
pesquisadora, reconheço minha limitação. Não foi possível localizar todas as
coleções de livros didáticos aprovados nas duas últimas edições do PNLD Ciências,
mesmo porque o acesso a elas não é fácil. Poucas são as Editoras que
disponibilizam as coleções para pesquisadoras/es, possivelmente pelo custo de sua
produção. As coleções são reservadas para professoras/es. É o caso, por exemplo,
da Editora do livro do professor U. Tivemos acesso à coleção somente em pdf,
disponibilizada na Internet. Mas nem todas as Editoras disponibilizam obras
completas. Algumas disponibilizam um ou dois volumes, às vezes apenas parte
deles.
O acesso às coleções da Autora A e do Autor I foi porque ambos intercederam
junto às Editoras que nos enviaram as coleções completas, contendo os quatro
volumes dos livros do ―Professor‖ e do ―Aluno‖.
Na pesquisa anterior contamos com a ajuda da Autora E que cedeu sua
coleção completa para ser analisada. O acesso às demais foi através de professoras
que cederam alguns livros e de escolas que doaram coleções completas de
―amostra‖, principalmente porque a colega e pesquisadora do Negri, Lourdes
Secanechia, nos ajudou. Em virtude de seu trabalho como supervisora de educação,
a proximidade com profissionais da área e as relações amistosas estabelecidas
entre ambas facilitou as doações. Foram muitas as pessoas que se mobilizaram.
Também considero importante observar que a hermenêutica de profundidade
pode ser uma boa metodologia para pesquisadoras/es que se interessem pela
temática socioambiental. Ela reconhece a historicidade do próprio conhecimento e
414
permite a interpretação do mundo como exercício da humanidade, em busca de
sentido para sua trajetória na Terra. Assim, a hermenêutica também pode ser uma
metodologia empregada para a investigação da pertença étnico-racial de cientistas
brasileiras, principalmente no que tange aos seus posicionamentos, pensamentos e
afetos sobre religião e ciência. Notamos que este pode ser um campo fértil para
pesquisas futuras.
Neste estudo identificamos o que estamos chamando de rede de crença
coletiva. Coletiva, não unânime. Ela está presente no centro das discussões sobre o
mercado de publicações didáticas e a formação educativa. Embora faltem evidências
claras que fundamentem as análises dos processos de avaliação e de escolha das
obras no âmbito do PNLD, observamos que as fragilidades de formação e o
interesse mercadológico são importantes componentes que sustentam essa rede de
crença coletiva. Uma linha ―clássica, tradicional‖ e/ou uma ―autoria de confiança‖,
são características que podem conferir maior aceitação a determinadas obras
didáticas, elevar o seu potencial comercial e até mesmo de aprovação no âmbito do
PNLD.
Certamente que ―tradição‖ e ―inovação‖ são características das obras didáticas,
mas ao entrevistar autoras/es apreendemos que essas características também estão
ligadas à atitude das autorias. Romper uma rede de crença coletiva não é tarefa
fácil. Mesmo porque a ilógica dos mercados produz, reproduz e sustenta
insustentabilidades. No segmento editorial tem autoras/es que escrevem porque
estão de olho no mercado e tem autoras/es que escrevem porque querem inovar,
compartilhar suas experiências de boas práticas com um público maior.
Apreendemos que na perspectiva de uma educação sustentável, a qualidade
tem mais a ver com a ―atitude pedagógica‖ que com o uso de recursos tecnológicos.
Passa pela formação continuada de professoras/es e a valorização dessa categoria
profissional. Está ligada à abordagem interdisciplinar e transdisciplinar e constitui um
desafio prático.
A construção de sociedades sustentáveis passa necessariamente pela
educação. Dos relatos da Autora A destacamos que ―o maior desafio é viver cercado
pela diferença, mas de uma maneira que se valorize, seja considerado produtivo,
tanto do ponto de vista das ideias quanto de crescimento pessoal‖.
Nesse sentido, notamos que a preocupação com a formação integral é
unânime. Como mães, pais, professoras/os, autoras/es, cidadãs e cidadãos as/os
415
entrevistadas/os esperam que a escola seja o lugar onde se valorize as diferenças e
a diversidade em todas as suas formas.
A partir de seus relatos apreende-se uma concepção de escola como espaço
de socialização, “onde a criança começa a desenvolver o seu eu político, o seu estar
no mundo, para além das fronteiras da família, e passa a conviver com a
diversidade, necessariamente de uma forma democrática”.
As entrevistas também revelaram várias insustentabilidades. A Autora A
destacou que,
Insustentável é o preconceito. Não só contra pessoas, mas contra ideias. O desconforto é necessário para se fazer trabalho interdisciplinar, para se pensar mudanças curriculares, para se pensar em enfrentar questões que nos incomodam. Também o individualismo é insustentável. “Se você quer conviver, pensar que talvez tenha que abrir mão de alguns sonhos e desejos individuais pelo coletivo. E isso não quer dizer que vá abrir mão da singularidade”. Por exemplo, “eu posso não me beneficiar diretamente de um programa social como uma ação afirmativa, mas eu posso ser favorável, pensando num projeto de sociedade. Ainda que você queira pensar numa visão meio individualista de que isso pode ser bom para você viver num lugar melhor. Uma sociedade justa, eu quero crer, deve ser bom pra todo mundo. Espero que todo mundo ache bom”. “[..] O consumismo é insustentável. “O consumismo exacerbado. E aí o consumismo de tudo, de ideias, o consumismo acrítico, consumir coisas, pessoas, sonhos, objetos. Porque não adianta trabalhar pluralidade cultural na escola, e o estudante consumir a cultura nordestina como uma coisa exótica, como item de consumo, que ele não valoriza”. “Sustentabilidade não é pensar ambiente como estanque, mas de uma forma geral. Não é uma questão restrita só de árvore, solo e água, mas de um lugar pra viver, pra conviver, pra trabalhar”.
Para a Autora E,
Insustentável é não saber ouvir. Porque como as radicalidades estão aumentando está mais difícil ouvir. Isso é insustentável. [...] É insustentável a falta de apreço à escola. [...] Insustentável é o aquecimento global. Então, pensando desde os vários níveis contextuais, no individual, no local, no global. Há muita coisa insustentável rolando por aí ( risos). Político ruim a gente está cansado de sustentar (risos).
O Autor I enfatizou que ―o que nós fazemos atualmente é insustentável. O
descaso de certos segmentos da indústria, dos governos com o ambiente em certos
momentos. É insustentável essa gula industrial pra expansão agropecuária”.
Por sua vez, o Autor U considera que “a intolerância é insustentável em todos
os sentidos. [...] Sustentabilidade é interação com o meio, se você não tem essa
consciência de entender o outro, entender a coletividade, não funciona, não adianta”.
Suas experiências lhes permitiram apresentar inúmeros exemplos de boas
práticas, focadas no ensino e aprendizagem que podem contribuir para a formação
416
continuada de professora/es e a quem mais se interessar em aplicá-las seja na
educação formal, informal ou corporativa.
Autores/as de livros didáticos de Ciências Naturais, como atores sociais
ativos, através de seu ofício, contribuem para a construção de uma educação
sustentável, pautada no desenvolvimento de uma subjetividade crítica, tanto na
formação continuada de professoras/es quanto na formação de estudantes do
ensino básico. Seus posicionamentos partem do princípio da não-exclusão, com
vistas à justiça social e ambiental, se opondo a toda forma de exploração,
expropriação, consumismo, autoritarismo, preconceito e intolerância. Defendem uma
educação pública, laica, ética, democrática, inclusiva e com qualidade referenciada,
entendida numa direção plural, reconhecendo uma multiplicidade de posições como
pontos de vista a partir dos quais se visualizam os distintos fenômenos da realidade
(científica, política, religiosa, socioambiental), que têm em conta as implicações das
relações sociais de poder.
Diante do exposto, confirmamos a hipótese de que autoras/es através de seu
ofício buscam ampliar concepções, alargar horizontes, embora sua autonomia na
arena de disputas em torno do PNLD seja relativa. Em nossa interpretação suas
falas não são ideológicas. Diferente disso, interpretamos como falas de resistência a
tudo o que é insustentável.
Reconhecemos que a atitude é algo que dignifica. Constamos que em suas
obras autoras/es adotam uma concepção de educação não neutra. Também
notamos uma intencionalidade que visa à formação humana integral por meio de
conteúdos e habilidades de pensamento e ação. Portanto, em sintonia com a
perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar, fundamental para a abordagem da
sustentabilidade pensada de uma forma mais ampla.
De nossa parte interpretamos que este é um aporte muito importante para o
momento que estamos vivendo em nível global, particularmente no Brasil em que
vemos ressurgir partidários de uma ―escola sem partido‖, ―sem ideologia‖
defendendo uma educação neutra, desprovida de críticas e questionamentos.
Por fim queremos lembrar que ―uma sociedade que não cuida de suas crianças
também não cuida do ambiente‖. Se o foco da educação para a sustentabilidade não
considerar as gerações futuras neste presente, a luta pela preservação já está
comprometida. Sustentabilidade não é ideologia. É sobrevivência.
418
REFERÊNCIAS ABRALE. Parecer sobre a BNCC (3ª versão). Disponível em:
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ITElKf0f500J:www.abrale.com.br/wp-content/uploads/PARECER-E-ONTRIBUI%25C3%2587%25C3%2595ES-DA-ABRALE-%25C3%2580-BNCC.docx+&cd=12&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 07 set. 2018. ABRELPE. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2017. Disponível em:
<http://abrelpe.org.br/download-panorama-2017/>. Acesso em: 22 dez. 2018. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação - referências - apresentação. Rio de Janeiro, 2002. ______. NBR 6024: informação e documentação - numeração progressiva das
seções de um documento escrito - apresentação. Rio de Janeiro, 2002. ______. NBR 6027: informação e documentação - sumário - apresentação. Rio de Janeiro, 2003. ______. NBR 6028: informação e documentação - resumo - apresentação. Rio de
Janeiro, 2003. ______. NBR 10520: informação e documentação - citações em documentos - apresentação. Rio de Janeiro, 2002. ______. NBR 12225: informação e documentação - lombada - apresentação. Rio
de Janeiro, 2004. ______. NBR 14724: informação e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação. Rio de Janeiro, 2011. ACSELRAD, Henri; LEROY, Jean Pierry. Novas Premissas da Sustentabilidade Democrática. Série Cadernos de Debate Brasil Sustentável e Democrático. Fase, 1999. ______. Justiça ambiental e construção social do risco. Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 5, p. 49-60, jan.jun. 2002. Editora UFPR. ______. Ambientalização das lutas sociais – o caso do movimento por justiça ambiental. Estudos Avançados, São Paulo, v. 24, n. 68, p. 103-119, 2010.
ADRIÃO, Theresa; GARCIA, Teise. Verbete para Dicionário: apostilamento do ensino; sistema apostilado. Belo Horizonte: FE- UFMG, 2010 (Verbete IN OLIVEIRA, Dalila Andrade. et al. Dicionário Trabalho, profissão e condição docente). ALMEIDA, Filipe; NICOLAU, Marcos. A Reconfiguração do Livro Didático em Versão Digital: Uma Ideia de Sustentabilidade. In: XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO - INTERCOM – SOCIEDADE BRASILEIRA DE
419
ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA COMUNICAÇÃO. Fortaleza, CE. 3 a
7/9/2012. ANDRADE, Leandro Feitosa. Prostituição infanto-juvenil na mídia: estigmatização
e ideologia. 2001. 266f. Tese (doutorado) – Psicologia Social. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2001. BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Tradução de Luís Antero Reto e Augusto
Pinheiro. Lisboa: Capa de Edições 70, 2011. BECSKEHÁZY, Ilona; LOUZANO, Paula. Sala de aula estruturada: o impacto do uso de sistemas de ensino nos resultados da Prova Brasil – um estudo quantitativo no estado de São Paulo. Fundação Lemann, 2010. Apresentação em Power Point. Disponível em: <http://www.fundacaolemann.org.br/arquivos//uploads/arquivos/Sala%20de%20aula%20estruturada%20(Ilona%20Becskehazy%20e%20Paula%20Louzano).pdf>. Acesso em: 07 dez. 2018. BEZERRA, Rafael Gonçaves; NASCIMENTO, Lucy Mirian Campo Tavares. O uso do livro didático de Ciências por alunos do ensino fundamental de Formosa-Go. Revista Lugares de Educação [RLE], Bananeiras-PB, v. 5, n. 11, p. 133-146, Ago.-Dez., 2015. BOCK, Ana Mercês Bahia. A adolescência como construção social: estudo sobre livros destinados a pais e educadores. Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE), Campinas, v. II, n. 1,
p. 63-76, jan./jun. 2007. BOFF, Leonardo. Sustentabilidade: O que é - o que não é. Petrópolis: Vozes, 2012. BOKOVA, Irina; EK, Lena; HIRANO, Hirofumi. Depois da Rio+20. Folha de S.Paulo [online], Opinião, São Paulo, 24 jun. 2012, p. A3. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/50588-depois-da-rio20.shtml>. Acesso em: 07 set. 2016. BORGES, Roberto Carlos da Silva; BORGES, Rosane (Orgs). Mídia e racismo.
Brasília: ABPN, 2012. BOURDIEU, Pierre. DARBEL, Alain. O amor pela arte: os museus de arte na Europa e seu público. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. Porto Alegre: Zouk, 2007. ______. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2005. ______.O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. ______. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Tradução Marisa Corrêa. Campinas, SP: Papirus, 1996. BRASIL. Base Nacional Comum Curricular 3ª Versão (2018). Disponível em:
<http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 28 dez. 2018.
420
______. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Considerações sobre Classificação de Livros. 2016. Disponível em: <https://capes.gov.br/images/documentos/classifica%C3%A7%C3%A3o_de_livros_2017/46_ENSI_class_livros_jan2017.pdf>. Acesso em: 09 nov. 2018. ______. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024: Linha de Base. – Brasília, DF : Inep,
2015. 404 p. : il. ______. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab. Brasília: MCidades, 2008.
______. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – SNSA. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2016. Brasília:
SNSA/MCIDADES, 2018 ______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Guia de livros didáticos: PNLD 2011: Ciências. Brasília: MEC/SEF, 2010.
______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.
Brasília, 5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 25 out. 2016. ______. Decreto nº 7.084, de 27 de janeiro de 2010. Dispõe sobre os programas de material didático e dá outras providências. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-010/2010/Decreto/D7084.htm>. Acesso em: 15 nov. 2018. ______. Decreto nº 9.099, de 18 de julho de 2017. Dispõe sobre o Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Brasília, DF, 18 de julho de 2017. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2017/decreto-9099-18-julho-2017-785224-publicacaooriginal-153392-pe.html>. Acesso em: 15 nov. 2018. ______. Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional. Brasília, DF, 20 de dezembro de 1996. Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf>. Acesso em: 07 set. 2018. ______. Lei 10.639, de 09 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática ―História e Cultura Afro-Brasileira‖, e da outras providências. Brasília, DF, 09 de janeiro de 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm>. Acesso em: 07 set. 2018. ______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Guia de livros didáticos: PNLD 2017: Ciências. Brasília: MEC/SEF, 2016.
421
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Guia de livros didáticos: PNLD 2017: Ciências. Brasília: MEC/SEF, 2016. ______. Ministério da Educação. Guia de tecnologias educacionais da educação integral e integrada e da articulação da escola com seu território 2013/
organização Paulo Blauth Menezes. - Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2013. 55 p. ______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Guia de livros didáticos: PNLD 2014: Ciências. Brasília: MEC/SEF, 2013. ______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Guia de livros didáticos: PNLD 2011: Ciências. Brasília: MEC/SEF, 2010.
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais/Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. ______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: temas transversais: orientação sexual/Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. ______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. ______. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. CONSULTAS. Edital de Convocação para o processo de inscrição e avaliação de
obras didáticas para o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD – 2020. Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/consultas/editais-programas-livro>. Acesso em: 07 set. 2018. ______. Secretaria Especial dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Resultados Preliminares da Amostra | Censo 2010. Disponível em: <http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/indicadores/censo-2010>. Acesso em: 18 de nov 2018. ______. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. CONSULTAS. Edital de Convocação para o processo de inscrição e avaliação de
obras didáticas para o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD – 2019. Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/consultas/editais-programas-livro>. Acesso em: 07 dez. 2018. ______. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. CONSULTAS. Edital de Convocação para o processo de inscrição e avaliação de obras didáticas para o Programa Nacional do Livro Didático – PNLD – 2014. Disponível em:
422
<https://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro/consultas/editais-programas-livro>. Acesso em: 07 set. 2018. ______. Relatório de Gestão do FNDE 2016 / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Brasília: FNDE, 2017. Disponível em:
<http://www.fnde.gov.br/acessibilidade/item/2489-relat%C3%B3rios-de-gest%C3%A3o>. Acesso em: 07 jan. 2017. ______. Relatório de Gestão do FNDE 2017 / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Brasília: FNDE, 2018. Disponível em: < https://www.fnde.gov.br/relatorios/relatorios-de-gestao/category/99-legislacao?start=18>. Acesso em: 07 jan. 2017. CAREY, James W. Space, Time, and Communications: A Tribute to Harold Innis. In: ______. Communication as Culture: Essats on Media and Society. Boston: Unwin
Hyman, 1989, p. 142-172. Disponível em: <http://pages.mtu.edu/~jdslack/readings/Carey_Space_Time_Communications.pdf >. Acesso em: 22 set. 2016. CARNOY, Martin. A vantagem acadêmica de Cuba: por que seus alunos vão melhor na escola. São Paulo: Ediouro, 2009. CARSON, Rachel. Primavera Silenciosa. Tradução de Raul de Polillo. São Paulo:
Edições Melhoramentos, 1969. CIDADANIA da mulher: a conquista histórica do voto feminino no Brasil. Migalhas [online], História, [SI], 22 fev. 2018. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI274136,51045-Cidadania+da+mulher+a+conquista+historica+do+voto+feminino+no+Brasil>. Acesso em: 20 mar. 2018. CMMAD – Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso futuro Comum, 2 ed., Rio de Janeiro: FGV, 1991.
CONAE 2014. Conferência Nacional de Educação. Documento Final. Disponível em: <http://confinteabrasilmais6.mec.gov.br/images/documentos/documento_final_CONAE_2014.pdf>. Acesso em: 16 nov 2018. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Florestas plantadas:
oportunidades e desafios da indústria de base florestal no caminho da sustentabilidade / Confederação Nacional da Indústria, Indústria Brasileira de Árvores – Brasília : CNI, 2017. CORSARO, William A. Sociologia da infância. Tradução Lia Gabriele Regius Reis. Porto Alegre: Artmed, 2011. COSTA, Fábio Luciano Oliveira. Financeirização do capital no Ensino Superior privado com fins lucrativos no Brasil (2007-2012). 2016. 367f. Tese (doutorado) -
Facudade de Educação da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016.
423
DOWBOR, Ladislau. Infância, consumo e sustentabilidade. p. 1-12, 2015 (em
mimeo).
ECKLUND, Elaine Howard. Religion and spirituality among scientists. Contexts, v. 7,
n. 1, p. 12–15. ISSN 1536-5042, electronic ISSN 1537-6052. © 2008 American
Sociological Association. All rights reserved. For permission to photocopy or
reproduce see <http://www.ucpressjournals.com/reprintinfo.asp.> DOI:
10.1525/ctx.2008.7.1.12.
ESCANFELLA, Célia Maria. Literatura infanto-juvenil brasileira e religião: uma
proposta de interpretação ideológica da socialização. Tese (Doutorado) – Psicologia Social. Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2006. FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro. Efetividade ou Ideologia. São Paulo: Edições Loyola Jesuítas, 2011. FATÁ, Mamede Rondon. Da História Natural às Ciências Biológicas. 2008. Disponível em: <http://www.educacaopublica.rj.gov.br/biblioteca/biologia/0020.html>. Acesso em 08 nov. 2017. GADOTTI, Moacir. Educar para a sustentabilidade: uma contribuição à década da educação para o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2008. GARCIA, Teise de Oliveira Guaranha; ADRIÃO, Theresa Maria Freitas; ARELARO, Lisete Regina Gomes. O Programa Gestão Nota 10 do Instituto Ayrton Senna de São José do Rio Preto: decorrências para a gestão educacional. Revista da Faculdade de Educação, São Paulo, Ano X, n. 18, p. 123-142, jul./dez. 2012.
GATTI, Bernadete Angelina. Por uma política de formação de professores. [Entrevista Bernadete Angelina Gatti]. Revista Fapesp, São Paulo, 267: 25-29. 2018. GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e
Científicos Editora S.A, 1989. GRÜN, Mauro. Ética e educação ambiental: a conexão necessária. Campinas: Papirus, 1996. HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 2003. IBGE. Pesquisa nacional de saúde : 2013 : ciclos de vida : Brasil e grandes regiões / IBGE, Coordenação de Trabalho e Rendimento. - Rio de Janeiro: IBGE, 2015. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv94522.pdf>. Acesso em: 18 de nov 2018.
424
IGREJA CATÓLICA. Papa (2013 -:Francisco). Carta Encíclica Laudato Si: sobre o
cuidado da casa comum. São Paulo: Paulinas, 2015. INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ÁRVORES. Relatório 2017. Disponível em: <https://twosides.org.br/wp-content/uploads/sites/15/2018/07/IBA_RelatorioAnual2017.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2018. INNIS, Harold A.. O viés da comunicação. Tradução e notas de Luiz C. Martino.
Petrópolis: RJ: Vozes, 2011. Internacional Solid Waste Association; ABRELPE. Saúde desperdiçada. O caso dos lixões. 2015. Disponível em: <http://abrelpe.org.br/arquivos/casolixoes2017.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2018. JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Tradução do original alemão Marijane Lisboa, Luiz Barros Montez. Rio de Janeiro: Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006. LAGO, André Aranha Corrêa do. Estocolmo, Rio, Joanesburgo: O Brasil e as três Conferências Ambientais das Nações Unidas. Brasília: FUNAG, 2006. ______. Conferências de desenvolvimento sustentável. Brasília: FUNAG, 2013.
LAYRARGUES, Philippe Pomier. Do ecodesenvolvimento ao desenvolvimento sustentável: evolução de um conceito?. Proposta, Rio de Janeiro, v. 24, n. 71, p. 5-10, 1997. LELLIS, Marcelo. Sistemas de ensino versus livros didáticos: várias faces de um
enfrentamento. In: Abrale – Associação Brasileira dos Autores de Livros Educativos. 2012. Disponível em: <http://www.abrale.com.br/wp-content/uploads/sistemas-ensino-livros-didaticos.pdf>. Acesso em: 09 dez. 2018. LE PRESTRE, Phillippe. Ecopolítica internacional. Tradução de Jacob Gorender: São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2005, LINHART, Virginie. Écologie: ces catastrophes qui changèrent le monde, 67 min,
avec Alice Le Roy, raconté par Emma de Caunes, Éditions montparnasse, 2009. MAÇANEIRO, Marcial. Religiões & ecologia: cosmovisão, valores, tarefas. São Paulo: Paulinas, 2011. McLUHAN, Marshall. A galáxia de Gutenberg; a formação do homem tipográfico.
Tradução de Leônidas Gontijo de Carvalho e Anísio Teixeira. São Paulo, Editora Nacional, Editora da USP, 1972. MEGLHIORATTI, Fernanda Aparecida. História da construção do conceito de evolução biológica: possibilidades de uma percepção dinâmica da ciência pelos professores de Biologia, 2004. 272f. Dissertação (Mestrado) - Educação para a Ciência. Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquista Filho, Bauru (SP), 2004.
425
MENEZES, José Luiz. Enchentes: as lições que não foram aprendidas. [Entrevista concedida a Anamaria Nascimento]. Diário de Pernambuco [online], Especial, Recife, 04 jun. 2017. Disponível em: <http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/06/04/interna_vidaurbana,707166/enchentes-as-licoes-que-nao-foram-aprendidas.shtml>. Acesso em: 01 dez. 2018. MOTOMURA, Oscar. A Construção da Carta da Terra. 2016. 1 post (4m.44s). Postado em: 2016. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=piQhWAC6UDA>. Acesso em: 16 mar. 2016.
MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. Palestra proferida no 3º Seminário Nacional Relações
Raciais e Educação-PENESB-RJ, 05/11/03. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2014/04/Uma-abordagem-conceitual-das-nocoes-de-raca-racismo-dentidade-e-etnia.pdf>. Acesso em: 26 de Jan. de 2018. ______. Apresentação. Superando o Racismo na escola. 2ª edição revisada /
Kabengele Munanga (Org.). Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005, p. 15-20. NEGRÃO, Esmeralda Vailati; AMADO, Tina. A imagem da mulher no livro didático: estado da arte. São Paulo: DPE/FCC, 1989. OSORIO, Rafael Guerreiro. O sistema classificatório de ―cor ou raça‖ do IBGE. Brasília, DF: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, nov. 2003. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0996.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2018. PEDREIRA, Ana Júlia Lemos Alves. O uso do livro didático por professores e alunos do Ensino Médio: um estudo em escolas da rede pública de Sobradinho,
Distrito Federal. 2016. 244f. Tese (doutorado) – Educação. Universidade de Brasília. Brasília, 2016. PIZA, Edith e ROSEMBERG, Fúlvia. Cor nos censos brasileiros. In: Iray Carone (org.) Psicologia social do racismo – estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Petrópolis, RJ:Vozes, 2003. QVORTRUP, Jens. Infância e Política. Cadernos de Pesquisa, v. 40, n. 141, p. 777-
792, set./dez. 2010. RAMOS, Alberto da Silva; PIZA, José de Toledo. Sobre os trabalhos da campanha de combate à esquistossomose no Estado de São Paulo. Revista de Saúde Pública, São Paulo, n. 5, p. 268-272, 1971. REBÊLO JÚNIOR, Manoel. O Desenvolvimento Sustentável: A Crise do Capital e o Processo de Recolonização. 2002. 213 f. Tese (Doutorado em Geografia Humana) – Departamento de Geografia, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2002.
426
RIBEIRO; Maria Sílvia. Relações de gênero e de idade em discursos sobre sexualidade veiculados em livros didáticos brasileiros de Ciências Naturais. 2013. 166f. Dissertação (Mestrado) – Psicologia Social. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2013. RIBEIRO, Wagner Costa. O Brasil e a Rio+10. Revista do Departamento de Geografia, n. 15, p. 37-44, 2002.
RICOEUR, Paul. Teoria da Interpretação. Lisboa: Edições 70, 1976.
ROSEMBERG, Fúlvia. Da intimidade aos quiprocós: uma discussão em torno da análise de conteúdo. Cadernos Ceru, São Paulo, 1981. ______. Literatura infantil e ideologia. São Paulo: Global, 1984. SÁ, Nelson. EDUCAÇÃO básica atrai grupos de mídia. Folha de S.Paulo [online], Mercado, São Paulo, 03 set. 2011. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/969807-educacao-basica-atrai-grupos-de-midia.shtml>. Acesso em: 07 jun. 2012. SACHS, Ignacy. Espaços, tempos e estratégias do desenvolvimento. São Paulo:
Vértice, 1981. ______. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. ______. A terceira margem: em busca do ecodesenvolvimento. São Paulo:
Companhia das Letras, 2009. SAMPAIO, Francisco Azevedo de Arruda; CARVALHO, Aloma Fernandes de. Com a palavra o autor: um elogio à importância e uma crítica às limitações do Programa
Nacional do Livro Didático. São Paulo: Sarandi, 2010. SOUZA, Herbert de. O Pão Nosso. Reflexões para o Futuro. Edição comemorativa 25 anos de Veja. São Paulo: Grupo Abril, 1993, p. 14-21. SAWAIA, Bader Burihan. Psicologia e desigualdade social: uma reflexão sobre liberdade e transformação social. Psicologia & Sociedade; 21 (3): 364-372, 2009. SILVA, Marcos Antonio Batista da. Discursos étnico-raciais proferidos por pesquisadores/as negros/as na pósgraduação: acesso, permanência, apoios e
barreiras. 2015. 240f. Tese (doutorado) - Psicologia Social. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2015. THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia.
Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. ______. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de comunicação de massa. Tradução do Grupo de Estudos sobre Ideologia,
427
comunicação e representações sociais da pós-graduação do Instituto de Psicologia da PURCS. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. ______. Mercadores de Cultura: o mercado editorial no século XXI. Tradução Alzira Allegro. São Paulo: EditoraUnesp, 2013. TORRES, Lianna de Melo; JESUS, Sonia Meire Santos de Azevedo. Política pública de educação para as séries iniciais – estudo sobre os programas ALFA e BETO, SE LIGA e ACELERA nas escolas públicas da rede estadual de Sergipe. Aracaju, Síntese, 2008. 64 p. WHOLLEBEN, Peter. A vida secreta das árvores. Rio de Janeiro: Sextante, 2017. ZAMBERLAN, Edmara Silvana Jóia. Contribuições da história da filosofia da ciência para o ensino da evolução biológica. Dissertação (Mestrado em Ensino
de Ciências e Educação Matemática) – Universidade Estadual de Londrina. Londrina, 2008. ZANCHETTA, Maria Inês.; TELLES, Pedro; BARRETO. Ricardo. Radar Rio+20. Por
dentro da Conferência das Nações sobre Desenvolvimento Sustentável. (2011). Disponível em: <http://www.ghgprotocolbrasil.com.br/radar-rio-20-por-dentro-da-conferencia-das-nacoes-unidas-sobre-desenvolvimento-sustentavel?locale=pt-br>. Acesso em> 22 dez. 2018.
429
Apêndice - Coleções de Ciências para o Ensino Fundamental II, por Título, Editora, Tipo de Coleção e Valores de Aquisição.
AQUISIÇÃO EDITORA CÓDIGO TÍTULO REFERÊNCIATIPO DE
COLEÇÃO
Nº DE
EXEMPLARESVALOR TOTAL
* Editora Ática SA * Ciências - (CB / WP) Guia 2001 / PNLD 2002 Autoral * *
* Editora Ática SA * Ciências e Educação Ambiental Guia 2001 / PNLD 2002 Autoral * *
* Editora do Brasil SA * Ciências Guia 2001 / PNLD 2002 Autoral * *
* Editora Dimensão * Ciências Naturais no Dia-a-Dia Guia 2001 / PNLD 2002 Autoral * *
* Editora Saraiva * Ciências Natuais - Entendendo a Natureza Guia 2001 / PNLD 2002 Autoral * *
* Editora FTD SA * Vivendo Ciências Guia 2001 / PNLD 2002 Autoral * *
* *
* Editora Ática SA * Ciências - (CB / WP)Guia 2001 / PNLD 2002
Guia 2004 / PNLD 2005Autoral * *
* Editora Ática SA * Ciências e Educação AmbientalGuia 2001 / PNLD 2002
Guia 2004 / PNLD 2005Autoral * *
* Editora Ática SA * Ciências - (FG) Guia 2004 / PNLD 2005 Autoral * *
* Editora Dimensão * Ciências Naturais no Dia-a-DiaGuia 2001 / PNLD 2002
Guia 2004 / PNLD 2005Autoral * *
* Editora FTD SA * Vivendo CiênciasGuia 2001 / PNLD 2002
Guia 2004 / PNLD 2005Autoral * *
* Editora FTD SA * Ciências Novo Pensar Guia 2004 / PNLD 2005 Autoral * *
* Editora Ediouro * Ciências Guia 2004 / PNLD 2005 Autoral * *
* Editora Moderna Ltda * Série Link da Ciência Guia 2004 / PNLD 2005 Autoral * *
* *
PNLD2010 Editora FTD SA 00055C04Ciências Natureza & Cotidiano: Criatividade,
Pesquisa, Conhecimento Guia 2007 / PNLD 2008 Autoral 110.181 553.569,75
PNLD2010 Editora FTD SA 00056C04 Ciências Novo Pensar - Edição Renovada Guia 2004 / PNLD 2005
Guia 2007 / PNLD 2008Autoral 239.081 1.369.467,95
PNLD2010 Editora Moderna Ltda 00068C04 Projeto Araribá - Ciências Guia 2007 / PNLD 2008 Coletiva 996.239 4.933.962,81
PNLD2010 Editora Moderna Ltda 00069C04Ciências Naturais: Aprendendo com o
Cotidiano Guia 2007 / PNLD 2008 Autoral 249.615 1.654.565,97
PNLD2010 Editora Positivo Ltda 00086C04 Ciências e Interação Guia 2007 / PNLD 2008 Autoral 145.791 919.936,98
PNLD2010 Editora Scipione SA 00098C04 Construindo Consciências - Ciências Guia 2007 / PNLD 2008 Autoral 61.874 367.661,29
PNLD2010IBEP Instituto Brasileiro de
Edições Pedagógicas Ltda00119C04
Investigando a natureza - Ciências para o
ensino fundamental Guia 2007 / PNLD 2008 Autoral 39.331 300.363,88
PNLD2010 Saraiva SA Livreiros Editores 00148C04 Ciências Naturais Guia 2007 / PNLD 2008 Autoral 89.255 680.871,36
PNLD2010 Edições Escala Educacional 00008C0L04 Série Link da Ciência Guia 2007 / PNLD 2008 Autoral 0 0,00
PNLD2010 Editora Ática SA 00023C0L04 Ciências - (CB / WP)
Guia 2001 / PNLD 2002
Guia 2004 / PNLD 2005
Guia 2007 / PNLD 2008
Autoral 0 0,00
PNLD2010 Editora Ática SA 00025COL04 Ciências - (FG)Guia 2004 / PNLD 2005
Guia 2007 / PNLD 2008Autoral 0 0,00
PNLD2010 Editora Dimensão 00035C0L04 Ciência e Vida Guia 2007 / PNLD 2008 Autoral 0 0,00
PNLD2010 Editora do Brasil SA 000042C0L04 Ciências BJ Guia 2007 / PNLD 2008 Autoral 0 0,00
1.931.367 10.780.399,99
PNLD2011 Editora Ática SA 24835C04 Ciências - (FG)
Guia 2004 / PNLD 2005
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Autoral 2.468.226 14.657.559,62
PNLD2011 Editora Ática SA 24837CO4 Ciências - (CB / WP)
Guia 2001 / PNLD 2002
Guia 2004 / PNLD 2005
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Autoral 2.461.624 13.819.484,52
PNLD2011 Editora do Brasil SA 24840C04 Ciências BJ - Edição Revista e AmpliadaGuia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011Autoral 57.922 584.393,27
430
Apêndice - Coleções de Ciências para o Ensino Fundamental II, por Título, Editora, Tipo de Coleção e Valores de Aquisição (continuação)
PNLD2011 Editora do Brasil SA 24964C04 Perspectiva Ciências Guia 2010 / PNLD 2011 Autoral 607.240 4.694.426,73
PNLD2011 Editora FTD SA 24839C04 Ciências: Atitude e Conhecimento Guia 2010 / PNLD 2011 Autoral 346.155 2.118.445,83
PNLD2011 Editora FTD SA 24845C04Ciências Natureza & Cotidiano: Criatividade,
Pesquisa, Conhecimento - Edição Renovada
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011Autoral 779.869 4.297.733,68
PNLD2011 Editora Moderna Ltda 24844C04Ciências Naturais: Aprendendo com o
Cotidiano
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011Autoral 3.416.398 22.516.061,93
PNLD2011 Editora Positivo Ltda 24838CO4 Ciências Integradas Guia 2010 / PNLD 2011 Autoral 476.561 3.951.321,07
PNLD2011 Editora Scipione SA 24850C04 Construindo Consciências - Ciências Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011Autoral 112.682 654.218,59
PNLD2011 Editora Scipione SA 24988C04 Projeto Radix - Ciências Guia 2010 / PNLD 2011 Autoral 2.010.204 13.184.733,74
PNLD2011 Saraiva SA Livreiros Editores 24843C04 Ciências NaturaisGuia 2007 / PNLD 2008
GUIA 2010/ PNLD 2011Autoral 1.070.930 7.938.853,06
13.807.811 88.417.232,04
PNLD2012 Editora Ática SA 24837C04 Ciências - (CB / WP)
Guia 2001 / PNLD 2002
Guia 2004 / PNLD 2005
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Autoral 747.633 4.141.762,33
PNLD2012 Editora Ática SA 24835C04 Ciências - (FG)
Guia 2004 / PNLD 2005
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Autoral 729.263 4.288.674,40
PNLD2012 Editora do Brasil SA 24964C04 Perspectiva Ciências Guia 2010 / PNLD 2011 Autoral 163.473 1.725.647,26
PNLD2012 Editora do Brasil SA 24840C04 Ciências BJ - Edição Revista e AmpliadaGuia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011Autoral 16.470 161.663,20
PNLD2012 Editora FTD SA 24845C04 Ciências Natureza & Cotidiano: Criatividade,
Pesquisa, Conhecimento
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011Autoral 242.079 1.340.181,06
PNLD2012 Editora FTD SA 24839C04 Ciências: Atitude e Conhecimento Guia 2010 / PNLD 2011 Autoral 92.083 567.949,94
PNLD2012 Editora Moderna Ltda 24844C04Ciências Naturais: Aprendendo com o
Cotidiano
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011Autoral 1.139.270 7.401.087,00
PNLD2012 Editora Positivo Ltda 24838C04 Ciências Integradas Guia 2010 / PNLD 2011 Autoral 141.227 1.213.752,83
PNLD2012 Editora Scipione SA 24850C04 Construindo Consciências - Ciências Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011Autoral 30.786 179.222,09
PNLD2012 Editora Scipione SA 24988C04 Projeto Radix - Ciências Guia 2010 / PNLD 2011 Autoral 531.781 3.505.565,03
PNLD2012 Saraiva SA Livreiros Editores 24843C04 Ciências NaturaisGuia 2007 / PNLD 2008
GUIA 2010/ PNLD 2011Autoral 327.476 2.337.879,76
4.161.541 26.863.384,90
PNLD2013 Editora Ática SA 24835C04 Ciências - (FG)
Guia 2004 / PNLD 2005
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Autoral 690.579 4.264.213,01
PNLD2013 Editora Ática SA 24837C04 Ciências - (CB / WP)
Guia 2001 / PNLD 2002
Guia 2004 / PNLD 2005
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Autoral 691.364 4.026.727,55
PNLD2013 Editora Positivo Ltda 24838C04 Ciências Integradas Guia 2010 / PNLD 2011 Autoral 135.669 1.452.824,25
PNLD2013 Editora FTD SA 24839C04 Ciências: Atitude e Conhecimento Guia 2010 / PNLD 2011 Autoral 89.669 601.344,49
PNLD2013 Editora do Brasil SA 24840C04 Ciências BJ - Edição Revista e AmpliadaGuia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011Autoral 15.099 128.078,79
PNLD2013 Saraiva SA Livreiros Editores 24843C04 Ciências NaturaisGuia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010/ PNLD 2011Autoral 283.619 2.231.846,89
PNLD2013 Editora Moderna Ltda 24844C04Ciências Naturais: Aprendendo com o
Cotidiano
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011Autoral 979.759 6.862.820,28
PNLD2013 Editora FTD SA 24845C04 Ciências Natureza & Cotidiano: Criatividade,
Pesquisa, Conhecimento
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011Autoral 220.206 1.329.429,77
PNLD2013 Editora Scipione SA 24850C04 Construindo Consciências - Ciências Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011Autoral 27.765 168.787,34
PNLD2013 Editora do Brasil SA 24964C04 Perspectiva Ciências Guia 2010 / PNLD 2011 Autoral 155.476 1.422.737,38
PNLD2013 Editora Scipione SA 24988C04 Projeto Radix - Ciências Guia 2010 / PNLD 2011 Autoral 516.802 3.557.517,30
3.806.007 26.046.327,05
PNLD2014 Edições SM 27438C04 Para Viver Juntos - Ciências Guia 2013 / PNLD 2014 Coletiva 340.330 2.716.069,53
431
Apêndice - Coleções de Ciências para o Ensino Fundamental II, por Título, Editora, Tipo de Coleção e Valores de Aquisição (continuação)
PNLD2014 Editora Ática SA 27334C04 Ciências - (CB / WP)
Guia 2001 / PNLD 2002
Guia 2004 / PNLD 2005
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014
Autoral 962.807 6.456.246,30
PNLD2014 Editora Ática SA 27465C04 Projeto Teláris Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 2.613.298 20.365.381,00
PNLD2014 Editora do Brasil SA 27444C04 Perspectiva CiênciasGuia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014Autoral 329.568 3.660.586,09
PNLD2014 Editora FTD SA 27341C04 Ciências Natureza & Cotidiano: Criatividade,
Pesquisa, Conhecimento
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014
Autoral 118.348 747.578,56
PNLD2014 Editora FTD SA 27344C04 Ciências Novo Pensar - Edição Renovada
Guia 2004 / PNLD 2005
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2013 / PNLD 2014
Autoral 1.000.119 7.611.930,10
PNLD2014 Editora FTD SA 27489C04 Vontade de Saber - Ciências GUIA 2013 / PNLD 2014 Autoral 429.817 3.247.414,64
PNLD2014 Editora Moderna Ltda 27339C04Ciências Naturais: Aprendendo com o
Cotidiano
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014
Autoral 1.159.944 8.475.085,58
PNLD2014 Editora Moderna Ltda 27431C04 Observatório de Ciências Guia 2013 / PNLD 2014 Coletiva 621.053 4.321.620,32
PNLD2014 Editora Moderna Ltda 27455C04 Projeto Araribá - Ciências Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2013 / PNLD 2014Coletiva 1.952.825 11.322.485,81
PNLD2014 Editora Positivo Ltda 27345C04 Ciências Para Nosso Tempo Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 284.311 4.117.807,00
PNLD2014 Editora Scipione SA 27460C04 Projeto Radix - CiênciasGuia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014Autoral 273.567 4.451.788,85
PNLD2014 Editora Scipione SA 27470C04 Projeto Velear - Ciência Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 60.653 475.944,66
PNLD2014IBEP Instituto Brasileiro de
Edições Pedagógicas Ltda 27428C04 Ciências da Natureza Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 397.731 4.784.676,96
PNLD2014 Saraiva SA Livreiros Editores 27338C04 Ciências Naturais
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010/ PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014
Autoral 275.071 2.350.812,15
PNLD2014 Saraiva SA Livreiros Editores 27342C04 Ciências no Século XXI Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 76.445 564.441,23
PNLD2014 Saraiva SA Livreiros Editores 27347C04 Companhia das Ciências Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 801.252 5.870.125,22
PNLD2014 Saraiva SA Livreiros Editores 27395CO4 Jornadas.Cie Guia 2013 / PNLD 2014 Coletiva 0 0,00
PNLD2014 Texto Editores Ltda (Leya) 27343C04 Ciências nos dias de hoje Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 233.572 3.133.384,90
PNLD2014 Texto Editores Ltda (Leya) 27432C04 Oficina do Saber - Ciências Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 113.380 2.031.016,02
12.044.091 96.704.394,92
PNLD2015 Edições SM 27438C04 Para Viver Juntos - Ciências Guia 2013 / PNLD 2014 Coletiva 83.703 600.888,44
PNLD2015 Editora Ática SA 27334C04 Ciências - (CB / WP)
Guia 2001 / PNLD 2002
Guia 2004 / PNLD 2005
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014
Autoral 253.368 1.640.117,56
PNLD2015 Editora Ática SA 27465C04 Projeto Teláris Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 710.620 5.340.965,11
PNLD2015 Editora do Brasil SA 27444C04 Perspectiva CiênciasGuia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014Autoral 87.469 976.300,13
PNLD2015 Editora FTD SA 27341C04 Ciências Natureza & Cotidiano: Criatividade,
Pesquisa, Conhecimento
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014
Autoral 29.691 186.159,72
PNLD2015 Editora FTD SA 27344C04 Ciências Novo Pensar - Edição Renovada
Guia 2004 / PNLD 2005
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2013 / PNLD 2014
Autoral 267.033 2.024.543,48
PNLD2015 Editora FTD SA 27489C04 Vontade de Saber - Ciências Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 116.245 871.439,56
PNLD2015 Editora Moderna Ltda 27339C04Ciências Naturais: Aprendendo com o
Cotidiano
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014
Autoral 300.373 2.201.332,89
PNLD2015 Editora Moderna Ltda 27431C04 Observatório de Ciências Guia 2013 / PNLD 2014 Coletiva 157.333 1.097.744,04
PNLD2015 Editora Moderna Ltda 27455C04 Projeto Araribá - Ciências Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2013 / PNLD 2014Coletiva 497.133 2.886.048,51
PNLD2015 Editora Positivo Ltda 27345C04 Ciências Para Nosso Tempo Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 67.091 882.273,35
PNLD2015 Editora Scipione SA 27460C04 Projeto Radix - CiênciasGuia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014Autoral 70.593 591.073,29
PNLD2015 Editora Scipione SA 27470C04 Projeto Velear - Ciência Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 11.264 82.295,41
432
Apêndice - Coleções de Ciências para o Ensino Fundamental II, por Título, Editora, Tipo de Coleção e Valores de Aquisição (continuação)
PNLD2015IBEP Instituto Brasileiro de
Edições Pedagógicas Ltda 27428C04 Ciências da Natureza Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 103.846 723.599,95
PNLD2015 Saraiva SA Livreiros Editores 27338C04 Ciências Naturais
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010/ PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014
Autoral 58.693 499.747,57
PNLD2015 Saraiva SA Livreiros Editores 27342C04 Ciências no Século XXI Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 19.464 142.563,22
PNLD2015 Saraiva SA Livreiros Editores 27347C04 Companhia das Ciências Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 223.995 1.627.511,01
PNLD2015 Saraiva SA Livreiros Editores 27395CO4 Jornadas.Cie Guia 2013 / PNLD 2014 Coletiva 167.630 1.142.615,66
PNLD2015 Texto Editores Ltda (Leya) 27343C04 Ciências nos dias de hoje Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 63.645 722.377,32
PNLD2015 Texto Editores Ltda (Leya) 27432C04 Oficina do Saber - Ciências Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 31.846 481.265,20
3.321.035 24.720.861,42
PNLD2016 Edições SM 27438C04 Para Viver Juntos - Ciências Guia 2013 / PNLD 2014 Coletiva 88.286 718.760,82
PNLD2016 Editora Ática SA 27334C04 Ciências - (CB / WP)
Guia 2001 / PNLD 2002
Guia 2004 / PNLD 2005
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014
Autoral 259.334 2.005.993,58
PNLD2016 Editora Ática SA 27465C04 Projeto Teláris Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 745.588 6.726.006,32
PNLD2016 Editora do Brasil SA 27444C04 Perspectiva CiênciasGuia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014Autoral 85.618 1.355.043,99
PNLD2016 Editora FTD SA 27341C04 Ciências Natureza & Cotidiano: Criatividade,
Pesquisa, Conhecimento
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014
Autoral 29.842 209.076,90
PNLD2016 Editora FTD SA 27344C04 Ciências Novo Pensar - Edição Renovada
Guia 2004 / PNLD 2005
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2013 / PNLD 2014
Autoral 278.512 2.363.340,78
PNLD2016 Editora FTD SA 27489C04 Vontade de Saber - Ciências Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 120.850 965.640,25
PNLD2016 Editora Moderna Ltda 27339C04Ciências Naturais: Aprendendo com o
Cotidiano
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014
Autoral 304.283 2.628.681,76
PNLD2016 Editora Moderna Ltda 27431C04 Observatório de Ciências Guia 2013 / PNLD 2014 Coletiva 268.184 2.015.268,74
PNLD2016 Editora Moderna Ltda 27455C04 Projeto Araribá - Ciências Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2013 / PNLD 2014Coletiva 524.084 3.607.500,60
PNLD2016 Editora Positivo Ltda 27345C04 Ciências Para Nosso Tempo Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 73.857 1.317.397,89
PNLD2016 Editora Scipione SA 27460C04 Projeto Radix - CiênciasGuia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014Autoral 75.062 809.419,42
PNLD2016 Editora Scipione SA 27470C04 Projeto Velear - Ciência Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 13.400 126.549,40
PNLD2016IBEP Instituto Brasileiro de
Edições Pedagógicas Ltda 27428C04 Ciências da Natureza Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 106.236 855.707,74
PNLD2016 Saraiva SA Livreiros Editores 27338C04 Ciências Naturais
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010/ PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014
Autoral 67.223 687.122,92
PNLD2016 Saraiva SA Livreiros Editores 27342C04 Ciências no Século XXI Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 18.572 163.570,56
PNLD2016 Saraiva SA Livreiros Editores 27347C04 Companhia das Ciências Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 232.389 2.033.622,61
PNLD2016 Saraiva SA Livreiros Editores 27395CO4 Jornadas.Cie Guia 2013 / PNLD 2014 Coletiva 170.229 1.391.780,90
PNLD2016 Texto Editores Ltda (Leya) 27343C04 Ciências nos dias de hoje Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 57.161 897.997,84
PNLD2016 Texto Editores Ltda (Leya) 27432C04 Oficina do Saber - Ciências Guia 2013 / PNLD 2014 Autoral 35.579 654.495,47
3.554.289 31.532.978,49
PNLD2017 Edições SM 0083P17032 Para Viver Juntos - CiênciasGuia 2013 / PNLD 2014
Guia 2016 / PNLD 2017Coletiva 372.980 *
PNLD2017 Edições SM 0084P17032 Universos - Ciências da Natureza Guia 2016 / PNLD 2017 Coletiva 124.424 *
PNLD2017 Quinteto 0121P17032 Ciências Guia 2016 / PNLD 2017 Autoral 333.279 *
PNLD2017 Editora Ática SA 0108P17032 Ciências - (CB / WP)
Guia 2001 / PNLD 2002
Guia 2004 / PNLD 2005
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014
Guia 2016 / PNLD 2017
Autoral 490.838 *
433
Apêndice - Coleções de Ciências para o Ensino Fundamental II, por Título, Editora, Tipo de Coleção e Valores de Aquisição (continuação)
Fonte: Elaboração própria, com base em consulta aos Dados Estatísticos do MEC/FNDE - PNLD Ensino Fundamental II e dos ―Guia de Livros Didáticos‖. (*) Não consta dos Dados Estatísticos do FNDE. A identificação dos valores negociados entre o FNDE e a Saraiva S/A estão acessíveis no documento ―Registro da Negociação‖
279.
279
Cf. Registro da Negociação. Disponível em: <http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Attachments/522086/RESPOSTA_PEDIDO_SARAIVA_2016_09_20_15_56_17_073.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2018.
PNLD2017 Editora Ática SA 0022P17032 Projeto TelárisGuia 2013 / PNLD 2014
Guia 2016 / PNLD 2017Autoral 2.598.258 *
PNLD2017 Editora do Brasil SA 0057P17032 Projeto Apoema - Ciências Guia 2016 / PNLD 2017 Autoral 605.855 *
PNLD2017 Editora do Brasil SA 0149P17032 Tempo de Ciências Guia 2016 / PNLD 2017 Coletiva 378.266 *
PNLD2017 Editora FTD SA 0064P17032 Ciências Novo Pensar - Edição Renovada
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2013 / PNLD 2014
Guia 2016 / PNLD 2017Autoral 717.255 *
PNLD2017 Editora Moderna Ltda 0021P17032Ciências Naturais: Aprendendo com o
Cotidiano
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2010 / PNLD 2011
Guia 2013 / PNLD 2014
Guia 2016 / PNLD 2017
Autoral 971.831 *
PNLD2017 Editora Moderna Ltda 0032P17032 Projeto Araribá - Ciências
Guia 2007 / PNLD 2008
Guia 2013 / PNLD 2014
Guia 2016 / PNLD 2017
Coletiva 1.702.220 *
PNLD2017 Saraiva SA Livreiros Editores 0071P17032 Companhia das CiênciasGuia 2013 / PNLD 2014
Guia 2016 / PNLD 2017Autoral 1.120.482 8.848.505,17
PNLD2017 Saraiva SA Livreiros Editores 0011P17032 Investigar e conhecer - Ciências da Natureza Guia 2016 / PNLD 2017 Autoral 1.276.812 12.237.245,73
PNLD2017 Saraiva SA Livreiros Editores 0105P17032 Jornadas.CieGuia 2013 / PNLD 2014
Guia 2016 / PNLD 2017Coletiva 96.869 737.002,37
10.789.369 *