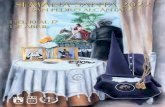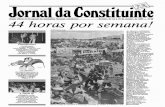SEMANA DISCENTE DO IESP-UERJ 2018 ANAIS
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
6 -
download
0
Transcript of SEMANA DISCENTE DO IESP-UERJ 2018 ANAIS
SEMANA DISCENTEDO IESP-UERJ
2018
ANAIS1ª Ed.
Rio de JaneiroInstituto de Estudos Sociais e Políticos
Universidade do Estado do Rio de Janeiro2018
O EVENTO
O Seminário Interno do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (IESP/UERJ) foi idealizado e realizado a primeira vez em 2015, enquanto
iniciativa coletiva das alunas e alunos, tendo como objetivos:
• dar visibilidade às pesquisas desenvolvidas pelas/os estudantes da instituição;
• ampliar o diálogo entre as pesquisadoras e pesquisadores;
• intercambiar ideias;
• construir mais um espaço para o fomento de nossas pesquisas e
• explorar discussões sobre temas relevantes da contemporaneidade.
A IV Semana discente do Instituto de Estudos Sociais e Políticos ocorreu na sede do
IESP/UERJ, entre os dias 12 e 14 de junho de 2018. Neste ano, o evento teve como tema
central “A democracia na encruzilhada” e a principal inovação foi a possibilidade de pós-
graduandos de outras instituições participarem da Semana Discente.
A Semana contou com múltiplas atividades, como oficinas, mesas, cinedebate e ainda 24
grupos de trabalho, cujos textos apresentados compõem esses anais.
Agradecemos a todos e todas que participaram do evento, em especial aos autores e autoras
que aceitaram ter seus trabalhos publicados.
Comissão Organizadora da IV Semana Discente do IESP-UERJ
COMISSÃO ORGANIZADORA
Ana Carolina Castro
Augusto Waga
Felipe Albuquerque
Felipe Macedo
Gabriel Melo
Hélio Cannone
Laís Müller
Marcelo Paiva
Mariani Ferri
Marília Closs
Matheus Morávia
Pedro Txai
Raul Nunes
Tadeu Henriques Jr.
Victor Pimenta
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
4
ARMAS LETAIS E LENÇOS FLORAIS: A Revolução Social Feminista
Protagonizada Pelo YPJ
Beatriz Sampaio Abreu
Resumo:
O presente trabalho tem como objeto de estudo a guerrilha curda feminina denominada YPJ,
que atua na área de Rojava (nordeste da Síria). Tendo como perspectiva analítica as premissas
desenvolvidas pelo movimento feminista, e focando-se na teoria da militarização de gênero,
abordar-se-á a inserção de tais combatentes no cenário da guerra entre os curdos e o Estado
Islâmico, indo de 2013 até os dias atuais. Objetiva-se, portanto: traçar um histórico da questão
curda; investigar o vínculo entre o YPJ e as teorias feministas; e analisar os impactos que essas
guerrilheiras têm tido na sociedade curda síria. Ademais, aplicar-se-á a metodologia
descritiva/histórica para tratar-se da questão curda e da formação do YPJ, bem como usar-se-á
o método monográfico para estudar e elaborar generalizações sobre os aspectos que
caracterizam as guerrilheiras curdas. Por fim, este trabalho se embasará em livros, artigos,
documentários sobre o tema e depoimentos de combatentes do YPJ, buscando aprofundar a
análise feita, por meio de uma pesquisa qualitativa.
Palavras-chave: YPJ; militarização de gênero; revolução social feminista; Confederalismo
Democrático; igualdade de gêneros; emancipação feminina.
INTRODUÇÃO
Criadas em 2013, as Unidades de Proteção das Mulheres, ou YPJ (Yekîneyên Parastina
Jin), vêm travando uma guerra contra o Estado Islâmico desde 2014, na região da Síria
conhecida como Rojava, o Curdistão Sírio. Representando a nação curda, que se distingue por
ser a maior sem um Estado atualmente, o YPJ não apenas tem logrado uma série de vitórias
contra tal grupo terrorista, como também tem protagonizado uma quebra de paradigmas
tradicionalmente impostos à mulher quanto ao seu papel na guerra, na política e na sociedade.
Mediante isso, o presente estudo procura investigar a atuação dessa guerrilha curda
feminina em Rojava, partindo da fundação do YPJ até 2016, explorando neste processo sua
inserção no cenário de guerra que tomou o Curdistão Sírio nos últimos anos. Especificamente,
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
5
pretende-se abordar o histórico da questão curda, focando-se na formação e organização de
Rojava. Tem-se também como objetivo compreender a maneira como o protagonismo do YPJ
vincula-se aos pressupostos do movimento feminista, especialmente às suas críticas aos
fenômenos do militarismo e da militarização de gênero. Ademais, almeja-se analisar como tais
combatentes têm influenciado a mentalidade e a organização da sociedade curda em Rojava.
Por fim, no tocante do que foi usado para nortear este trabalho, determinou-se que tal
problemática seria como podemos compreender o papel que as guerrilheiras do YPJ
desempenham no processo de desmilitarização da sociedade curda.
1. FEMINISMO, DICOTOMIAS DE SEXO E MILITARIZAÇÃO DE GÊNERO
Não se limitando necessariamente a uma das ondas do feminismo ou a determinado
autor, serão abordados os debates teóricos do movimento feminista que se mostram mais
pertinentes para o assunto aqui apresentado. De acordo com a teoria política feminista, gênero
é um dos alicerces sobre os quais a sociedade se apoia. Esta categoria sociopolítica estabelece
a forma como se interage com o mundo, distinguindo as experiências das mulheres das dos
homens (ADICHIE, 2014). Isto porque gênero encontra-se tradicionalmente vinculado à
diferença biológica entre os sexos masculino e feminino, fato esse que se acredita compor a
matriz geradora dos problemas abordados pelo feminismo.
Isso se justifica a partir de posicionamentos como o de Monique Wittig (2000), que
afirma que esta classificação perpetua uma condição de sujeição do feminino frente ao
masculino, basicamente implantando na sociedade um sistema de gênero binário. Assim, esta
categorização reproduz socialmente a opressão das mulheres, de maneira que se apropria de
suas pessoas físicas e as reduz a meros seres definidos sexualmente inferiores, que tem como
propósito garantir a reprodução da espécie humana e servir às necessidades masculinas,
mantendo-as de tal forma que se tornem invisíveis e impotentes como seres sociais.
Assim sendo, chega-se a uma das máximas da teoria feminista, que afirma que gênero
é uma construção social, que qualifica o feminino como frágil, vulnerável, maternal e
emocional e o masculino como forte, viril, racional e objetivo. Então, o movimento feminista
não apenas renega as definições padronizadas de gênero, como estabelece como sua maior
reivindicação a igualdade social, econômica e política entre mulheres e homens, englobando
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
6
tópicos como o poder de agência dos indivíduos, o controle sobre seus próprios corpos, sua
inserção no âmbito político e o acesso igual a oportunidades.
Outra questão feminista que apresenta grande relevância para o presente estudo é a
interação entre gênero, guerra e militarismo. Por militarismo, entende-se como uma ideologia
que enaltece a guerra, as instituições militares e a primazia de valores militares na sociedade,
em detrimento de instituições e preceitos civis (VAGTS, 1959). Tal doutrina seria disseminada
pela sociedade por meio de um processo gradual, no qual indivíduos e entidades tornam-se
progressivamente controlados pelo aparato militar ou desenvolvem uma relação de dependência
com os ideais militares. Por meio dessa transformação individual e social, detecta-se a
conversão paulatina da percepção do militar para algo visto como normal e relevante para a
sociedade (ENLOE, 2000).
Militarização engloba, portanto, a mutação das crenças e valores gerais da comunidade,
para assim legitimar-se o emprego da força e a organização de exércitos permanentes. Esse
fenômeno possui um vínculo estreito com o crescimento de tropas, a ressurgência de
nacionalismos e fundamentalismos militantes e a alteração da competência humana, agora
embasada em hierarquias de gênero, raça, classe e sexualidade (LUTZ, 2002). Ademais, perante
o olhar feminista sobre militarismo, pode-se apontar como seus princípios:
a) as forças armadas são a melhor forma de resolver problemas; b) a natureza
humana está suscetível a causar conflitos; c) ter inimigos é uma condição
natural humana; d) relações hierárquicas geram ações efetivas; e) um Estado
sem exército é ingênuo, pouco legítimo e dificilmente conseguirá se
modernizar; f) em tempos de crise, as mulheres necessitam de proteção
armada; e g) em tempos de crise, todo homem que se renunciar a
participar de ações armadas violentas está pondo em risco seu próprio
status de ‘homem viril’ (ENLOE, 2014, grifo do autor, tradução nossa)1.
Diante disso, nota-se a propensão de tal doutrina a pôr ênfase na dicotomia entre os
sexos, destacando a posição das mulheres na sociedade como indivíduos inferiores e mais
1 No original: “ a) that armed is the ultimate resolver of tensions; b) that human nature is prone to
conflict; c) that having enemies is a natural condition; d) that hierarchical relations produce effective
action; e) that a state without an army is naïve, scarcely modern and barely legitimate; f) that in times
of crisis those who are feminine need armed protection; g) that in times of crisis any man who refuses
to engage in armed violent action is jeopardizing his own status as a manly man”.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
7
frágeis do que os homens, que, por sua vez, devem assumir seu lugar no topo da hierarquia
social. Considerando ainda que a sociedade por si própria já possui um cunho patriarcal2, a
aplicação e a disseminação dos valores do militarismo nesse meio apenas potencializa o
privilégio dado a tudo caracterizado como masculino, desencadeando assim um processo de
militarização de gênero (ENLOE, 1938).
Sobre tal fenômeno, entende-se que ele visa criar raízes em várias esferas da vida social
e política (instâncias governamentais, grupos étnicos, agências internacionais, entre outros), de
forma que fique arraigada a preponderância dos pressupostos militaristas mencionados
anteriormente. Como posto por Sjoberg e Via (2010), a militarização está vinculada a questão
de gênero: pelo seu objetivo de conquistar poder de influência; pelo uso do complexo militar
industrial como meio de alcançar sua meta; pelo emprego de uma linguagem de força e
dominação; e pelos seus impactos, que afetam negativa e desproporcionalmente as mulheres.
Como um desdobramento desse processo, surge mais uma dicotomia, dessa vez, entre a
masculinidade e a feminilidade militarizadas, que se manifestam tanto dentro como fora das
forças armadas. Entende-se por masculinidade militarizada o procedimento no qual se certifica
que atributos e conceitos associados à masculinidade serão reproduzidos e priorizados na esfera
militar, rechaçando assim a aplicação de valores vinculados à feminilidade. A partir disso, tem-
se o soldado como o símbolo elementar da masculinidade, que dispõe de características como
coragem, controle, dominação, violência e tenacidade (EICHLER, 2014). No tocante da
feminilidade militarizada, esta se refere ao controle da condição de ser mulher e, por extensão,
do comportamento individual das mulheres, em um âmbito militarizado (SJOBERG, 2013).
Dessa forma, esse fenômeno perpetua uma correlação paradoxal entre a mulher e a
esfera militar, visto que mesmo que seja prevista a atuação feminina em tal ambiente (seja ela
2 O termo patriarcalismo mostra-se passível de interpretações diferentes. Por um lado, ele refere-se à
ampla penetração, profundidade e interconectividade das diversas formas de subordinação das
mulheres. É visto também como um termo que engloba os múltiplos aspectos da dominação
masculina, de forma a enfatizar esse fenômeno como algo predominante na sociedade. Ademais, pode
ser abordado a partir da perspectiva histórica da hegemonia masculina, sendo tratado assim como uma
forma distinta de organização não só social como política (associada ao absolutismo), que diz respeito
às relações de subordinação direta da mulher ao homem, seja no âmbito familiar ou no político
(MIGUEL; BIROLI, 2014).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
8
direta ou indiretamente3), é estabelecido que sua participação deve ser passiva e modesta, para
que se tenha o funcionamento eficaz das forças armadas e do complexo militar-industrial
(SJOBERG; VIA, 2010).
Nesse sentido, pode-se empregar as distinções feitas por Jean Bethke Elshtain (1941)
sobre as funções que homens e mulheres exercem em um âmbito de guerra. Em primeiro lugar,
os homens são vistos como o Just Warriors (guerreiros justos), caracterizados pela sua
capacidade de serem violentos ao tentarem proteger suas famílias, pátria e/ou propriedade,
engajando-se em guerras justas. Por outro lado, tem-se a representação das mulheres como
Beautiful Souls (almas belas), que são pessoas não-violentas, puras, pacíficas e virtuosas, que
necessitam de proteção por serem as provedoras de vida. Tais Beautiful Souls servem de
motivação para os homens travarem guerras, bem como são as pessoas designadas para cuidar
dos soldados que voltam dos confrontos e lamentar as perdas de guerra.
Em meio a isso, destaca-se o papel das mulheres que de fato conseguem ultrapassar esse
primeiro obstáculo posto pela militarização de gênero e tornam-se soldadas. Trespassado este
entrave, no entanto, observa-se que elas continuam enfrentando discriminação dentro da esfera
militar. De início, entende-se que seu recrutamento tem como condição primordial não ser
maior do que o número de alistamentos masculinos, assim como sua presença não deve impedir
os homens de serem escolhidos para os postos de mais prestígio. Dessa forma, espera-se
garantir que as forças armadas não tenham sua cultura essencialmente masculinizada
subvertida, certificando-se que essa instituição mantenha seu apelo para os homens e não
internalize características femininas (ENLOE, 1938).
Em virtude disso, se exige das mulheres que almejam tornarem-se soldadas a emulação
de traços masculinos em termos de capacidades físicas e sociais, de forma que não demonstrem
características associadas à feminilidade, como a fraqueza e vulnerabilidade, provando assim
seu valor (VIA, 2010). Por outro lado, espera-se também que tais mulheres mantenham sua
aparência feminina, impedindo assim a desconstrução do mundo social baseado na dicotomia
de sexos. Pode-se denominar tal condição como feminilidade militarizada ideal, que, ao abordar
o caso das mulheres soldadas, prega que elas devem, por um lado, ser tão capazes quanto os
3 Como soldadas e enfermeiras das forças armadas ou como mães e esposas de soldados, prestando
apoio à causa e tendo sua proteção como casus belli.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
9
homens, e por outro, tão vulneráveis quanto mulheres civis, sendo assim masculinas o suficiente
sem perder suas características femininas (SJOBERG; GENTRY, 2007).
O privilégio concedido aos soldados frente ao modo como soldadas são tratadas institui
inevitavelmente a marginalização feminina no meio militar. À vista disso, como Tami Jacoby
(2010) salienta, a presença feminina na vanguarda das forças armadas não se traduz
necessariamente na erradicação das estruturas de desigualdade de gênero, formal e informal,
que permeiam tanto a esfera militar quanto a sociedade como um todo. Isso representa de fato
a confrontação de estereótipos e atitudes chauvinistas masculinas quanto a sua atuação no meio
militar. A estas soldadas pode-se aplicar o título de Ferocious Few (poucas ferozes), tendo em
vista que atuam diretamente em cenários de batalha, revolucionando o mundo social ao
tomarem para si a responsabilidade de fragmentar os estereótipos tradicionais femininos quanto
ao seu engajamento em conjunturas de guerra (ELSHTAIN, 1941).
Diante deste panorama, percebe-se que o militarismo, a militarização de gênero e as
forças armadas consistem em instrumentos masculinos para assegurar a sua dominação física e
ideológica sobre a parcela feminina da população. Contudo, a militarização não é uma condição
intrínseca da sociedade, de maneira que esta é passível de ser desmilitarizada (ENLOE, 1938).
Em vista disso, será analisada em seções posteriores a possível desmilitarização protagonizada
pela guerrilha curda YPJ, em virtude de seu distanciamento dos padrões de organização
opressora das mulheres, apresentados pela teoria feminista da militarização de gênero.
2. A QUESTÃO CURDA E O CURDISTÃO SÍRIO: HISTÓRICO E ASPECTOS
POLÍTICOS
Com o status de maior nação sem Estado atualmente, estima-se que existam cerca de 30
milhões de curdos no mundo. Eles se encontram, em sua maioria, na Turquia, no Iraque, na
Síria e no Irã4, contando ainda com uma diáspora em Israel, Alemanha, França, entre outros
países. Essa nação indo-europeia tem como dialeto predominante o Kurmanji e 75% de seus
4 Mapa encontra-se no anexo A, imagem 1.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
10
nacionais seguem a corrente sunita5 do Islã, enquanto o restante divide-se entre praticantes de
outras vertentes dessa religião (xiismo, alevismo, yazidismo e Ahl-i-Haqq) e do cristianismo e
do judaísmo, destacando-se, no entanto, que o movimento curdo identifica-se como secularista6
(ROMANO, 2016).
A questão curda inicialmente carregou em seu cerne o pleito pela conquista de um
Estado próprio, o Curdistão7. Contudo, desde o final da década de 90, assumiu-se uma nova
5 Principal vertente do islamismo. Essa corrente foi formada simultaneamente a da xiita, de forma que
uma contrapõe a outra. Tendo início nos primórdios do Islã, essa divisão se deu por conta da questão
da sucessão do profeta Maomé. Passados três califados de sucessores (Abu Bakr, 632 d.C.-634 d.C.;
Omar, 634 d.C.-644 d.C.; e Utmã, 644 d.C.-656 d.C.), Ali, primo de Maomé, que pleiteava seu lugar
como califa desde a morte do profeta, conseguiu ascender ao poder e governar de 656 d.C. a 661 d.C.
Seu califado chegou ao fim por conta de uma guerra civil que foi deflagrada entre ele e Muawiya, que
alegava que Ali havia arquitetado a morte de Utmã, seu primo, para então poder se tornar o califa.
Como desdobramento desse conflito, Ali perde a guerra e renuncia o califado, que é tomado por
Muawiya. Por conta disso, e indignados com o assassinato dos filhos de Ali por Muawiya, os xiitas
(partidários de Ali, Shi’ at Ali em árabe) formam sua própria corrente do Islã, sendo essa uma minoria,
que implementou mudanças na forma tradicional como era seguida a religião (exemplo: tendem a
líderes religiosos pessoais). A maioria dos islâmicos permaneceu no tronco principal da religião, que
passou a ser chamado de sunita, que segue a tradição do Islã de fato (exemplo: não adoram a líderes
religiosos, sendo que, para eles, os únicos que devem ter seus ensinamentos seguidos são Allah e
Maomé).
6 Apesar da miríade de grupos religiosos que compõe a nação curda, sendo alguns deles
fundamentalistas, não se tem uma incidência de conflitos religiosos registrados entre essas
comunidades, de forma que a cultura religiosa curda é uma das únicas no Oriente Médio que é
amplamente reconhecida por sua tolerância religiosa (THE KURDISH PROJECT, 2015).
7 O mais próximo que os curdos chegaram de alcançar esse objetivo foi no período entre a queda do
Império Turco-Otomano e o estabelecimento da República Turca, ao final da Primeira Guerra Mundial
(1914-1918). Durante a guerra, o governo britânico havia usado da força curda para auxiliá-lo na
derrota de tal Império, prometendo a essa nação que, uma vez terminado o imbróglio, o Curdistão se
tornaria independente. De fato, houve uma tentativa de concretizar essa promessa por parte dos
britânicos, que elaboraram o Tratado de Sèvres (1920), que não só estabelecia os termos de paz entre
os ganhadores da guerra e o Império Turco-Otomano, como visava a criação do Estado Curdo
(TORELLI, 2016). Contudo, após a deposição do então governo turco, instaurou-se um novo regime,
liderado por Mustafa Kemal Atatürk, que se recusou a aceitar as medidas postas pelo Tratado de
Sèvres. Em decorrência disso, formulou-se um novo acordo, o Tratado de Lausanne (1922), que
basicamente estabeleceu o território turco como se conhece hoje e eliminou a ideia de conceder a
independência ao Curdistão (ROMANO, 2006). Ademais, em meio a tentativa turca de integrar a
população curda ao seu Estado, observou-se também a anexação por parte da Síria dos curdos que
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
11
proposta político-ideológica, o Confederalismo Democrático, por considerar-se que o modelo
de Estado-Nação não seria o melhor para a sociedade curda (MOREL, 2016)8. De acordo com
esse novo posicionamento, o Estado-Nação possui uma ligação estreita com o capitalismo, de
forma que encoraja e facilita a exploração da população, domesticando a sociedade a partir dos
moldes capitalistas. Além disso, alega-se que essa entidade política, que se fundamenta no
nacionalismo e no sexismo, perpetua o monopólio de todos os processos sociais, sejam eles
políticos, econômicos ou ideológicos. Assim, o Estado-Nação passou a ser visto pela nação
curda como um ator opressor, que inviabiliza a libertação de seu povo e impõe obstáculos para
qualquer forma de desenvolvimento social. Diante disso, assumiu-se como a nova aspiração da
questão curda o estabelecimento de uma democracia sem Estado (OCALAN, 2011).
Para tanto, guiado pela perspectiva política de Abdullah Ocalan (líder do partido curdo
mais importante da Turquia, o PKK), o movimento curdo afirma que se deve primeiro instituir
uma autonomia democrática, que, por sua vez, daria as bases para o Confederalismo
Democrático. Argumenta-se que através da autonomia democrática, as elites políticas
representativas seriam substituídas pela sociedade civil e pelas formas diretas de democracia.
Isso se daria por meio da instauração de vilas, cidades e conselhos regionais, que viabilizariam
a participação pública direta e a cooperação na sociedade curda, desencadeando assim um
estado de autogoverno.
Em um cenário como esse, os conselhos mediam disputas, proporcionam serviços à
população e criam corporações, visando a melhor organização desse sistema. Destaca-se ainda
que 40% dos representantes que integram esses conselhos devem obrigatoriamente ser
mulheres, bem como essa estrutura é governada na base de uma copresidência, com membros
de gêneros opostos. Dado isso, essa ideologia afirma que poderia ser instaurado o
Confederalismo Democrático, que prega a vinculação de todos os conselhos existentes sob a
égide de uma organização, sobrepujando assim o Estado e suas fronteiras, bem como criando
habitavam o sul da Turquia; a convergência forçada dos curdos iraquianos com árabes sunitas e xiitas;
e a permanência de uma parcela considerável dessa nação no Irã. Pode-se dizer, portanto, que este
episódio marca o começo da questão curda de fato.
8 Disponível em: < http://www.revistadiaspora.org/2016/02/22/confederalismo-democratico/ >.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
12
uma ligação entre os curdos da Turquia, Síria, Irã e Iraque, sem pôr em risco, no entanto, sua
integridade territorial (O’DRISCOLL, 2015).
Em virtude do tema a ser abordado pelo presente trabalho, focar-se-á na situação política
do Curdistão Sírio. Pode-se caracterizar a história da interação das minorias curdas com o
governo sírio como não menos que conturbada. O início dessa relação foi marcado pelo
emprego de políticas de centralização demográfica e política pelo regime Ba’ath de Hafez al-
Assad (1971-2000), que resultaram na marginalização e privação de obtenção de cidadania pela
população curda, os deixando sem representação e proteção política9 (SARY, 2016).
Por anos, o regime Ba’ath foi constantemente brutal e intolerante com os curdos sírios,
posição essa vista como paradoxal, se considerarmos o apoio que o mesmo oferecia à guerrilha
curda na Turquia10. Contudo, a situação das minorias curdas sírias passou por uma
transformação no começo da guerra civil na Síria, em 2011. Frente a esse confronto, o já
presidente Bashar al-Assad retirou suas forças armadas das regiões curdas, para consolidar seu
poder de resposta aos ataques dos rebeldes árabes; e decidiu conceder a cidadania aos curdos,
esperando que isso lhe garantisse o apoio desse povo contra sua oposição.
Vale mencionar que os efeitos dessas decisões penduraram, tendo em vista que não só
essas áreas curdas estão hoje sob o controle do Partido da União Democrática Curdo e de suas
milícias, como esses curdos se tornaram um dos atores centrais na guerra civil na Síria e na luta
direta contra o Estado Islâmico (TORELLI, 2016; CAVES, 2012). No que se refere ao Partido
9 Deve-se mencionar também a tentativa do regime sírio de interromper a continuidade do território
curdo, ao estabelecer um “cinturão árabe” da região de Jazira, no Nordeste da Síria, até a cidade curda
de Kobane (SARY, 2016).
10 A partir da década de 90, a guerrilha curda turca passou a ser usada pela Síria como arma de guerra
por procuração contra a Turquia. Esses países eram hostis um com o outro desde o fim da Primeira
Guerra Mundial (ocasião na qual brigaram sobre o controle do protetorado de Hatay. Dessa forma, o
apoio ao movimento curdo na Turquia foi visto pela Síria como uma forma de desestabilizar seu
inimigo. O suporte sírio chegou ao ponto desse Estado servir de base de ataques curdos contra a
Turquia e de Damasco (capital da Síria) ser usada como refúgio por Abdullah Ocalan, líder o
movimento curdo na Turquia e criador do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK – Partiya
Karkerên Kurdistanê), que estava sendo perseguido pelo governo turco. A situação se agravou de tal
fora que, em 1998, um conflito aramado quase foi deflagrado entre esses países, sendo evitado, no
entanto, pela expulsão de Ocalan pelo governo sírio, sendo que ele escapou, primeiro para a Rússia e
depois para a Itália, até ser preso pela Turquia em 1999 (TORELLI, 2016).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
13
da União Democrática (PYD - Yekîtiya Partiya Demokrat), entende-se que ele é um dos blocos
políticos de maior proeminência em Rojava11.
Fundado em 2003, o PYD é uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Curdistão
(PKK – Partiya Karkerên Kurdistanê)12, que atua primariamente na Turquia. Assim, o partido
curdo sírio guia-se pelo modelo de Confederalismo Democrático desenvolvido por Abdullah
Ocalan, fundador e líder do PKK, tendo então como objetivos políticos a instauração de uma
democracia pluralista e o reconhecimento constitucional dos direitos dos curdos sírios e de sua
autonomia democrática (CARNEGIE MEC, 2012)13.
Outro desdobramento da aplicação da perspectiva política de Ocalan é a internalização
de sua aspiração pela igualdade dos direitos políticos, sociais e econômicos entre os gêneros,
partindo de um pressuposto de que a liberdade social só será alcançada mediante a libertação
das mulheres e a rejeição do sexismo, do patriarcado e das estruturas de autoridade e do poder
(OCALAN, 2013). Um reflexo disso é a forma como o PYD é governado, a partir de uma
copresidência composta de um homem e uma mulher14.
11 Além do PYD, tem-se como um dos blocos mais importantes do Curdistão Sírio o Conselho
Nacional Curdo (KNC – Kurdish National Council). Fundado em 2011, o KNC é formado por 16
partidos curdos sírios fracos, ineficientes e sob a influência do Governo Regional Curdo (KRG –
Kurdish Regional Government) do Curdistão Iraquiano, bem como é uma réplica do Conselho
Nacional Sírio (SNC – Syrian National Council). Seu propósito central era congregar todos os
partidos curdos, para então organizar uma força de oposição ao regime sírio, contudo, o PYD decidiu
agir unilateralmente desde o início da guerra civil síria, se recusando a entrar no KNC (HEVIAN,
2013).
12 Fundado em 1978, por Abdullah Ocalan, o PKK é de orientação marxista-leninista, bem como visto
como uma organização terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia, por Estados-membros da
OTAN e, principalmente, pela Turquia, país onde atua e com o qual está em confronto desde sua
criação, oscilando entre períodos de conflito armado e cessar-fogo. Isso se explica pela recusa
categórica do governo turco de reconhecer a causa curda, o que chegou a fazer a Turquia declarar o
PKK como ilegal, em 1980. Contudo, pode-se dizer que o PKK é o partido que mais influencia o
movimento curdo, por meio da ampla aceitação entre a sociedade curda da orientação política
desenvolvida pelo seu líder e fundador (TORELLI, 2016).
13 Disponível em: < http://carnegie-mec.org/diwan/48526?lang=em >.
14 Atualmente, tais cargos são preenchidos por Saleh Muslim Mohammed e Asiyah Abdullah.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
14
Deve-se mencionar ainda que o PYD se aproveitou da instabilidade causada na Síria
pela Primavera Árabe e pela ascensão do Estado Islâmico para se consolidar como o partido
mais poderoso e bem-organizado do Curdistão Sírio. Em decorrência disso, em 2013, o PYD
declarou a autonomia da região curda na Síria, formando assim a entidade auto-governante de
Rojava15, que consiste de três cantões – Afrin no Oeste, Kobane no centro e Cizre (que também
conhecido como Jazira) no Leste –, sendo que cada um deles possui seus próprios
representantes regionais e assembleias locais (TOURIANSKI, 2015)16. Outrossim, a
importância do PYD vem também do fato de que é o único partido curdo sírio que possui não
só uma polícia regional, a Asayish, como um braço armado que controla a maioria das cidades
e vilas curdas na Síria, formado pelas Unidades Populares de Proteção (YPG – Yekîneyên
Parastina Gel) e pelas Unidades de Proteção das Mulheres (YPJ – Yekîneyên Parastina Jin)
(HEVIAN, 2013).
Se por um lado a relação das Unidades de Proteção encontra-se relativamente estável
com o governo sírio, desde que as forças armadas sírias foram retiradas das áreas curdas, em
2012; por outro essas guerrilhas vêm enfrentando uma batalha acentuada com o Estado Islâmico
desde 201417, tornando-se um dos atores mais ativos no combate terrestre contra esses jihadistas
(THE SYRIA INSTITUTE, 2016). Em 2014, essa organização terrorista conseguiu avançar
significativamente sobre o território sírio, invadindo e apoderando-se de diversas áreas curdas
no processo. Contudo, desde 2015 as forças curdas têm logrado sucesso em reverter esse
quadro18.
15 Mapa encontra-se no anexo A, imagem 2.
16 Ao todo, Rojava conta com 22 ministérios, um ministro e dois vice-ministros, sendo que todos os
três devem ser de etnias distintas (curda, árabe e síria) e pelo menos um deve ser uma mulher
(TOURIANSKI, 2015). Disponível em: < http://bravetheworld.com/2015/06/02/anarchy-lives-rojava/
>.
17 Mapa encontra-se no anexo A, imagem 3.
18 Ao final de janeiro de 2015, o YPG e o YPJ conseguiram expulsar os jihadistas do cantão de
Kobane e em junho desse mesmo ano, essas guerrilhas retomaram a cidade de Tel Abyad, uma área
estratégica em Kobane, por ser considerada um reduto do Estado Islâmico na Síria (THE SYRIA
INSTITUTE, 2016).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
15
Além de serem rivais por questões territoriais, o Estado Islâmico e os curdos travam
ainda um embate ideológico, considerando que a meta de tais jihadistas de estabelecer um
Estado com base na ideologia fundamentalista islâmica vai de encontro com o objetivo curdo
de transformar a Síria em um ator democrático, secular, plural e igualitário quanto a questão de
gênero (TORELLI, 2016).
No tocante específico das Unidades de Proteção, observa-se que elas só lograram um
significativo reconhecimento internacional por conta de seu protagonismo na guerra contra o
Estado Islâmico. Criado em 2004, como uma resposta a forma violenta como o regime sírio
reprimiu uma revolta em Quamishli, o YPG só foi assumido oficialmente como uma Unidade
de Proteção em 2012. Por conta de toda a ideologia de igualdade de gênero que se encontra no
baluarte do PYD e de sua ala armada, o YPG é composto por homens e mulheres (curdos – em
sua maioria – sírios, assírios e armênios) que atuam em um ambiente não hierarquizado com
base no gênero.
Quanto ao YPJ19, essa Unidade de Proteção foi fundada em 2013 e atua como uma
guerrilha autônoma composta apenas por mulheres, conduzindo treinamentos e operações
independentes do YPG. Desse modo, ela é constituída por cerca de 30 mil guerrilheiros, sendo
que desses 40% são mulheres.
3. YPJ: SUBVERTENDO PAPEIS E REVOLUCIONANDO A SOCIEDADE
Para se abordar a importância do YPJ para a subversão dos papeis tradicionais
femininos, se faz necessário primeiro traçar uma comparação entre a forma como as mulheres
curdas eram tratadas antes da criação de Rojava e como sua situação se modificou após esse
acontecimento. Como foi mencionado na seção 2, por muitos anos os curdos foram reprimidos
pelo governo sírio, de forma que não tinham seus direitos assegurados e não eram reconhecidos
como cidadãos. Quanto ao modelo de educação concedido pelo Estado sírio aos curdos, ele
19 O YPJ tem como antecedente a União de Mulheres Patriotas do Curdistão (YJWK – Yekîtiya Jinên
Welatparêzên Kurdistan), a primeira organização autônoma de mulheres dentro do PKK, formada em
1987. Esta, por sua vez, fomentou a criação da União de Mulheres Livres do Curdistão (YAJK –
Yekîtiya Azadiya Jinên Kurdistan), em 1993, que continua funcionando nos dias atuais sob o nome de
Unidade Estrela de Mulheres Livres (YJA Star – Yekîneyên Jinên Azad ên Star) (ÇIÇEK, 2016).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
16
cristalizava a condição de opressão de tal povo, pois censurava o ensino sobre a história, a
cultura e a língua curda, e disseminava uma ideologia essencialmente patriarcal, perpetrando a
subordinação das mulheres frente aos homens. Assim, no que se refere especificamente às
mulheres curdas, a posição estatal não só se mantinha autoritária, como se mostrava
tradicionalmente generificada e machista. Imperava na sociedade a mentalidade de que
mulheres devem assumir o papel de boas donas de casa, prontas para cuidar do ambiente
familiar e atender as necessidades de seus maridos.
Diante disso, desde pequenas, meninas curdas eram treinadas para seguirem essas
diretrizes, até que alcançassem a idade em que seus pais as casassem com homens de sua
escolha, a quem elas prestariam obediência a partir de então. As mulheres curdas eram vistas
como escravas de seus maridos, de forma que eles as consideravam suas propriedades e as
proibiam de saírem de casa sozinhas (RT NETWORK, 2015)20. Não obstante, desde a criação
de Rojava e da implementação do projeto político de autonomia democrática nessa região pelo
PYD, houve uma ampliação e fortalecimento da atuação feminina na sociedade curda.
Em decorrência disso e guiando-se pela ideologia do Confederalismo Democrático de
igualdade política, social e econômica entre os gêneros, instaurou-se a copresidência de Rojava
entre uma mulher e um homem, bem como foram criadas comunas, institutos de ensino e
tribunais exclusivamente para mulheres curdas21, visando disseminar o conceito de
empoderamento feminino entre elas e pela a sociedade como um todo. Foi também estabelecido
como um dos primeiros atos do governo de Rojava a criminalização de casamentos forçados,
violência doméstica, crimes de honra, casamentos infantis, poligamia e dotes de casamento.
20 Disponível em: <
https://www.youtube.com/watch?v=uqI0a4VgEs8&index=6&list=PLiP2KS7cTSozJYXhWe8gE91qg
ZuI7-e13 >.
21 Todas essas instituições ficaram sob a gerência da Yekîtiya Star, uma organização do PYD fundada
em 2005 e formada inteiramente por mulheres, que foi idealizada com objetivo estabelecer o
Confederalismo Democrático, a ecologia e a igualdade entre os sexos. Com a intensificação do
protagonismo feminino na sociedade curda, após a formação de Rojava, e como uma forma de lidar
com a resistência inicial dos homens a isso, a Yekîtiya Star também criou casas de proteção e apoio às
mulheres curdas. Perante isso, e levando em consideração o fato de que essa organização arquitetou o
YPJ, a Yekîtiya Star tornou-se um ator político central em relação aos direitos das mulheres no
Curdistão Sírio (GHOTBI, 2016).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
17
Ademais, visto a temática do presente estudo, deve-se destacar a criação das Unidades
de Proteção das Mulheres, ou YPJ22, como um importante impulsionador da revolução social
feminista que tem se alastrado pelo Curdistão Sírio (DIRIK, 2015). Com cerca de 15 mil
soldadas, a guerrilha YPJ conta com centenas de batalhões autônomos, distribuídos pelos
cantões de Rojava e constituídos integralmente por mulheres, tendo como base ideológica a
defesa da democracia direta, da ecologia e do empoderamento e liberdade femininos. Dessa
maneira, tais Unidades de Proteção têm como principais metas: lograr a união das mulheres a
um nível global; concatenar uma nova cultura militar e viabilizar o estabelecimento de uma
sociedade livre, democrática e com consciência ecológica, que assegure igualdade entre todos
os seus indivíduos.
A atuação do YPJ se pauta ainda no conceito de autodefesa legítima23, assim como
procura instituir mecanismos de base social e política para garantir que a salvaguarda da
sociedade curda não dependa somente de sua defesa física. Diante disso, o YPJ não se limita à
ação militar, de forma que também investe na educação ideológica de suas combatentes,
abordando temas como o Curdistão e a cultura e realidade das mulheres curdas, focando
principalmente nas relações com suas famílias e com os homens, bem como debatendo sobre o
que significa viver sendo uma mulher em tal sociedade (YPG, 2016)24.
Grande parte do contingente de combatentes do YPJ é de mulheres que se
voluntariaram25 para não apenas lutarem contra a brutalidade do Estado Islâmico na Síria26,
como também para contestar a violência e a discriminação de mulheres; para vingar as perdas
22 A criação dessa guerrilha vinha sendo elaborada pela Yekîtiya Star desde a fundação dessa
organização, em 2005.
23 Refere-se ao fato de que o YPJ alega que somente realiza ataques quando se sente atacado ou
quando seus ideais são ameaçados (PERSSON, 2016).
24 Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=_OWQ-
apZC78&index=21&list=PLiP2KS7cTSozJYXhWe8gE91qgZuI7-e13 >.
25 Como foi observado na seção anterior, o PYD aprovou uma lei que tornou compulsório o
alistamento militar de um indivíduo por família, entre 18-30 anos, por um período de seis meses.
26 Em relação às mulheres curdas, o Estado Islâmico tende a vitimá-las por meio do estupro, de
sequestro, de sua venda como escravas sexuais e de sua morte (DIRIK, 2015).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
18
que elas sofreram e vêm sofrendo com a guerra; e pela defesa da democracia, da liberdade
feminina e do bem-estar de seus familiares. Além disso, existem aquelas que se juntam às
Unidades de Proteção com o intuito de fugir de suas famílias e de um eventual casamento
arquitetado pelos seus pais, tendo em vista que mesmo com a instauração do projeto político de
Confederalismo Democrático, ainda encontram-se resquícios dos moldes patriarcais deixados
pelo regime sírio na sociedade curda (RT NETWORK, 2015)27.
Não obstante, observa-se que existe uma aceitação ampla do protagonismo feminino do
YPJ em Rojava, de forma que agora se reconhece que as mulheres são capazes de proteger a si
mesmas e aos demais. Salienta-se também que, geralmente, a adesão de uma mulher ao YPJ é
tida por ela e pela sociedade como algo honroso. Como um reflexo disso, pode-se citar o relato
da mãe de Janda, uma capitã do YPJ.
Duas de minhas filhas saíram de casa na mesma semana. Uma delas juntou-
se ao YPJ e a outra se casou. Graças a Deus, eu não me preocupo com a minha
filha no YPJ. Elas têm boas ideias e é realmente uma honra ter nossa filha no
seu escalão. Minha filha casada está bem também, mas eu ainda me preocupo
mais com ela (AHMAD, 2014, tradução nossa)28.
As mulheres do YPJ vivem e lutam como seus equivalentes do YPG, assim como
lutaram em todas as linhas de frente curdas na Síria. Na guerra pela retomada de Kobane, em
2015, 80% dos combatentes curdos que lá se encontravam eram mulheres, ocupando todos os
tipos de cargos disponíveis e ajudando a liberar a cidade da invasão do Estado Islâmico (YPG,
2016)29. A despeito disso, cada vez mais o YPJ consegue atrair adeptas por meio da liberdade
27 Disponível em: <
https://www.youtube.com/watch?v=uqI0a4VgEs8&index=6&list=PLiP2KS7cTSozJYXhWe8gE91qg
ZuI7-e13 >.
28 No original: “Two of my daughters left home in the same week. One of them joined YPJ and the
other married. Thank God, I do not worry about my daughter in the YPJ. They have good ideas and it
is really an honor to have our daughter in their ranks. My married daughter is good too, but I still
worry more about her”. Disponível em: <
https://www.youtube.com/watch?v=ZCCODxq8diI&index=1&list=PLiP2KS7cTSozJYXhWe8gE91q
gZuI7-e13 >.
29 Contudo, diferente dos guerrilheiros homens, as mulheres não podem estar casadas ou pretenderem
se casar, caso contrário elas são levadas a sair do YPJ, mostrando assim vestígios de critérios
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
19
e do poder de agência que elas disfrutam. Por conta do desempenho das Unidades de Proteção
das Mulheres, as curdas passaram a exercer cargos em todas as entidades de Rojava, ocupando
papeis em todos os campos existentes – como mídia, saúde, educação e economia – e mudando
as tradicionais e generificadas divisões de trabalho, que anteriormente relegavam a elas somente
atividades no âmbito familiar. Além disso, as transformações têm sido sentidas com relação à
aceitação masculina do novo protagonismo feminino, visto que os homens, que controlavam
todos os aspectos da vida das mulheres curdas, agora atuam lado a lado delas tanto na esfera
militar como fora.
Alega-se, portanto, que o YPJ tem logrado sucesso em transformar mulheres reprimidas
e passivas em agentes ativos no Curdistão Sírio. Além disso, esse modelo curdo de revolução
social feminista procura inspirar uma mudança global na forma como as mulheres são tratadas,
almejando, acima de tudo, a liberdade, proteção e representação femininas.
Diante do que foi exposto nesta seção e nas anteriores, pode-se constatar que a atuação
revolucionária do YPJ não seria possível se não houvesse um arcabouço político-ideológico
para orientar suas ações, sendo este o Confederalismo Democrático de Abdullah Ocalan. Tendo
como um de seus principais motes o pleito pela igualdade social, política e econômica entre
homens e mulheres, essa ideologia rechaça o patriarcalismo, vinculando-o com a opressão
feminina e a dominação e o poder masculinos. Além disso, tais ideias têm fundamento na noção
de que deve haver uma contínua e autônoma luta feminista, uma vez que não se pode assumir
que a emancipação das mulheres está garantida, até mesmo em uma sociedade que alegue ter
alcançado a liberdade e a igualdade gerais (OCALAN, 2013). Assim, pode-se dizer que o YPJ
vem liderando tal luta feminista em Rojava.
Outrossim, destaca-se o fato de que essa guerrilha tem quebrado os paradigmas
estabelecidos pela teoria da militarização de gênero, de forma que rejeita os estereótipos de
comportamentos e papeis femininos impostos às mulheres que se encontram em um âmbito de
guerra. Isso porque, na esfera de atuação do YPG e YPJ não se distingue entre combatentes
homens e mulheres no que se refere a poder, habilidade, bravura, capacidade e desempenho.
dicotômicos para homens e mulheres dentro do aparato militar curdo sírio (YPG, 2016). Disponível
em: < https://www.youtube.com/watch?v=_OWQ-
apZC78&index=21&list=PLiP2KS7cTSozJYXhWe8gE91qgZuI7-e13 >.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
20
Assim, descarta-se o pensamento de que, por seus atributos físicos e características
comportamentais, os homens são melhores soldados que as mulheres. Dessa forma, o YPJ mina
a retórica da masculinidade militarizada de superioridade do masculino frente ao feminino.
Outro ponto importante é que, seja intencionalmente ou não, o YPJ contesta os limites
postos pela feminilidade militarizada ao comportamento das mulheres em ambientes
militarizados. Diante disso, não se deve esperar que uma combatente de tal guerrilha participe
de forma comedida e passiva na esfera militar, por acreditar que a guerra de fato deva ser
travada por homens. Além disso, o estar em um âmbito militar não impede as soldadas de
exporem sua feminilidade, de modo que se pode encontrar diversas delas usando lenços
coloridos e florais em suas cabeças, mostrando sua individualidade e não emulando a aparência
masculina.
O YPJ não é subordinado ao YPG, sendo eles equipotentes. Perante isso, salienta-se que
as combatentes curdas podem alcançar (e alcançam) cargos mais altos do que os ocupados pelos
homens. Independente do gênero, um combatente pode atuar em posições diversas, de forma
que curdos e curdas chegam a lutar juntos nas batalhas contra o Estado Islâmico. Assim,
observa-se que o YPJ combate a preconcepção de que, na guerra, mulheres assimilam o papel
de Beautiful Souls, sendo puras, pacíficas, virtuosas e que precisam ser protegidas por homens
corajosos e racionais.
Dessa forma, têm-se as guerrilheiras do YPJ como personificações do conceito de
Ferocious Few, de Elshtain (1941), visto que elas atuam diretamente nos campos de batalha, se
mostrando ativas e eficazes. Alega-se então que essas combatentes protagonizam uma
revolução social feminista, ao passo que tem logrado mudar a retrógrada mentalidade patriarcal
e sexista que controlava a sociedade curda e oprimia e cerceava a liberdade das mulheres. Como
um reflexo disso, vê-se atualmente que tanto a luta do YPJ como as ações políticas, sociais e
econômicas em Rojava têm como uma de suas metas a emancipação feminina.
Constata-se, por fim, que uma das grandes conquistas do YPJ tem sido a
desmilitarização da sociedade curda. Por meio de sua ideologia e de suas ações, essa guerrilha
vem subvertendo os conceitos predominantemente masculinizados da militarização – que uma
vez se mostravam fortemente enraizados na sociedade curda – construindo com isso sua própria
cultura militar e transformando toda a forma como a estrutura social curda responde à mulher.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
21
REFERÊNCIAS
ADICHIE, Chimamanda Ngozi. We Should All Be Feminists. New York: Vintage Books,
2014.
AHMAD, Rozh. YPJ Kurdish Female Fighters: A Day in Syria. 2014. Disponível em: <
https://www.youtube.com/watch?v=ZCCODxq8diI&index=1&list=PLiP2KS7cTSozJYXhWe
8gE91qgZuI7-e13 >. Acessado em: 19 de abril de 2016.
CARNEGIE MIDDLE EAST CENTER (MEC). The Kurdish Democratic Union Party.
2012. Disponível em: < http://carnegie-mec.org/diwan/48526?lang=em >. Acessado em 14 de
outubro de 2016.
CAVES, John. Syrian Kurds and the Democratic Union Party (PYD). US: Institute for the
Study of War, Backgrounder, December 2012.
ÇIÇEK, Meral. Did the women of the YPJ simply fall from the sky? Kurdish Question,
2015. Disponível em: < http://kurdishquestion.com/oldsite/index.php/kurdistan/west-
kurdistan/did-the-women-of-the-ypj-simply-fall-from-the-sky/543-did-the-women-of-the-ypj-
simply-fall-from-the-sky.html>. Acessado em 31 de maio de 2016.
DIRIK, Dilar. The Women's Revolution in Rojava: Defeating Fascism by Constructing an
Alternative Society. In: STRANGERS IN A TANGLED WILDERNESS (ed.). A Small Key
Can Open A Large Door: The Rojava Revolution. Combustion Books, 2015.
EICHLER, Maya. Militarized Masculinities in International Relations. Rhode Island: The
Brown Journal of World Affairs, fall/winter 2014, vol. XXI, issue 1, p. 81 - 93.
ELSHTAIN, Jean Bethke. Women and War. Chicago: The University of Chicago Press,
1941.
ENLOE, Cynthia. Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women's Lives.
California: University of California Press, 1938.
______________. Understanding Militarism, Militarization and the Linkages with
Globalization: Using a Feminist Curiosity. In: GEUSKENS, Isabelle (ed.); GOSEWINKEL,
Merle (ed.); SCHELLENS, Sophie (ed.). Gender & Militarization: Analyzing the Links to
Strategize for Peace. Netherlands: Women Peacemakers Program (WPP), 2014, p. 9-11.
GHOTBI, Sanna. The Rojava Revolution: Kurdish Women's Reclaim of Citizenship in a
Stateless Context. Switzerland: University of Gothenburg, Institution of Global Studies, 2016.
HEVIAN, Rodi. The Resurrection of Syrian Kurdish Politics. Middle East Review of
International Affairs, vol. 17, no. 3 (Fall 2013).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
22
JACOBY, Tamy. Fighting in the Feminine: The Dilemmas of Combat Women in Israel. In:
SJOBERG, Laura (ed.); VIA, Sandra (ed.). Gender, War and Militarism: Feminist
Perspectives. California: ABC-CLIO, 2010, p. 80 - 90.
LUTZ, C. Making War at Home in the United States: Militarization and the current crisis.
Washington, D.C.: American Anthropologist, vol. 104, no. 3, p. 723-735.
MIGUEL, Luis Felipe; BIROLI, Flávia. Feminismo e Política. 1ª edição. São Paulo:
Boitempo, 2014.
MOREL, Ana Paula Massader. Confederalismo Democrático: A Proposta Libertária do
Povo Curdo. Revista Diáspora, 2016. Disponível em: <
http://www.revistadiaspora.org/2016/02/22/confederalismo-democratico/ >. Acessado em 12
de agosto de 2016.
OCALAN, Abdullah. Democratic Confederalism. 1st edition. London: International
Initiative, 2011.
_________________. Liberating Life: Woman's Revolution. 1st edition. London:
International Initiative, 2013.
O'DRISCOLL, Dylan. The YPG and the Changing Dynamics of the Fight Against IS.
Poland: The Polish Institute of International Affairs, Policy Paper, no. 24 (126), August 2015.
PEOPLE'S PROTECTION UNITS - YPG. YPJ: Women's Defense Units (Women's
Protection Units). Ragihandina YPG, 2016. Disponível em: <
https://www.youtube.com/watch?v=_OWQ-
apZC78&index=21&list=PLiP2KS7cTSozJYXhWe8gE91qgZuI7-e13 >. Acessado em: 3 de
novembro de 2016.
PERSSON, Isabelle. The Good, The Bad and The Women: A Critical Discourse Analysis
on Media Constructions of Yekîneyên Parastina Jinê and the Western Muhaajirat in Syria.
Sweden: Malmö University, Faculty of Culture and Society, Peace and Conflict Studies,
2016.
ROMANO, David. The Kurdish Nationalist Movement: Opportunity, Mobilization and
Identity. UK: Cambridge University Press, 2006, p. 1 - 25.
RUSSIA TODAY NETWORK. Her War: Women vs. ISIS. 2015. Disponível em: <
https://www.youtube.com/watch?v=uqI0a4VgEs8&index=6&list=PLiP2KS7cTSozJYXhWe8
gE91qgZuI7-e13 >. Acessado em 19 de abril de 2016.
SARY, Ghadi. Kurdish Self-governance in Syria: Survival and Ambition. UK: Chatham
House, Middle East and North Africa Programme, September 2016.
SJOBERG, Laura. Gendering Global Conflict: Toward a Feminist Theory of War. New
York: Columbia University Press, 2013.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
23
______________; GENTRY, Caron E. Mothers, Monsters, Whores: Women's Violence in
Global Politics. New York: Zed Books, 2007.
______________; VIA, Sandra. Introduction. In: SJOBERG, Laura (ed.); VIA, Sandra (ed.).
Gender, War and Militarism: Feminist Perspectives. California: ABC-CLIO, 2010, p. 1 -
13.
THE SYRIA INSTITUTE. People's Protection Units (YPG). Washington, DC: The Syria
Institute, August 2016.
TORELLI, Stefano M. Kurdistan: An Invisible Nation. Italy: Italian Institute for
International Political Studies (ISPI), 2016.
TOURIANSKI, Julia. Anarchy Lives: Rojava. 2015. Disponível em: <
http://bravetheworld.com/2015/06/02/anarchy-lives-rojava/ >. Acessado em: 14 de novembro
de 2016.
UNICEF. Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence Against Children. New
York, UNICEF, 2014.
UNITED NATIONS. The World's Women 2015: Trends and Statistics. New York: United
Nations, Department of Economics and Social Affairs, Statistics Division, 2015.
VAGTS, Alfred. A History of Militarism: Civilian and Military. United States: University of
Michigan, Meridian Books, 1959.
VIA, Sandra. Gender, Militarism, and Globalization: Soldiers for Hire and Hegemonic
Masculinity. In: SJOBERG, Laura (ed.); VIA, Sandra (ed.). Gender, War and Militarism:
Feminist Perspectives. California: ABC-CLIO, 2010, p. 42 - 53.
WITTIG, Monique. A Lesbian Is Not a Woman. In: OLIVER, Kelly (ed.). French Feminism
Reader. Maryland: Rowan & Littlefield Publishers, 2000, p. 119 - 144.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
24
ANEXO A – Mapas
Imagem 1: Mapa do Grande Curdistão, englobando territórios curdos na Síria, na Turquia, no
Irã e no Iraque. Fonte: Limes, BBC, The Washington Post e M. Izady, 2016. In: TORELLI,
Stefano. Kurdistan: An Invisible Nation. Italy: Italian Institute for International Political Studies
(ISPI), 2016.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
25
Imagem 2: Mapa de Rojava (Curdistão Sírio), composto dos cantões de Afrin, Kobane e Cizre.
Fonte: The Georgia Straight, 2016. Disponível em: <
http://www.straight.com/news/784736/chris-shaw-does-road-just-society-run-through-rojava-
northern-edge-syria >.
Imagem 3: Mapa do conflito regional entre o Estado Islâmico e os curdos na Síria. Fonte: Italian
Institute for International Political Studies (ISPI), 2016. In: TORELLI, Stefano. Kurdistan: An
Invisible Nation. Italy: Italian Institute for International Political Studies (ISPI), 2016.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
26
“A redempção dos captivos virá por que faz a glória dos livres”: emancipação e o desejo
de liberdade nos jornais pernambucanos “A República” e “A Luz” na década de 18701
Emanoel da Cunha Germano*
Resumo: Esse trabalho visa abordar questões pertinentes sobre o debate da emancipação
discutidos por dois jornais republicanos na província de Pernambuco. Na década de 1870 a
1873, a imprensa local discutiu questões relativas à problemática da instituição escravista,
assim como, atuou como protagonista dos acontecimentos que incidiram perante a
emancipação e desejo de liberdade dos escravizados. Os jornais A República e A Luz:
Periódico Republicano (PE), canais de difusão de ideias políticas e sociais, no último quartel
do século XIX, apresentam assim, questões pertinentes para o estudo do abolicionismo na
historiografia brasileira.
Palavras-chave: Escravidão; Jornais Republicanos; Pernambuco; Emancipação; Século XIX.
Introdução
O presente trabalho pretende realizar um balanço crítico sobre a historiografia da
imprensa e escravidão em relação à emancipação e ao desejo de liberdade levantado por dois
impressos do Partido Republicano, que então surgia na província de Pernambuco já a partir da
década de 1870.
Os jornais A República e A Luz: Periódico Republicano (PE), canais de difusão de
ideias políticas e sociais, no último quartel do século XIX, apresentam assim, questões
pertinentes para o estudo do abolicionismo nacional e transnacional. A região norte do país ao
discorrer a abolição da escravatura pensou em perspectiva transatlântica. Depreende-se que tal
posicionamento deve ser contextualizado e historicamente situado à luz das propostas
políticas dos impressos republicanos, diante do qual, os dois analisados, ambos optaram por
defender a ruptura da escravidão, pois esse sistema estava atrelado ao império. Era preciso
combater a sociedade de classes para que a república fosse obra de todo cidadão brasileiro.
Portanto, a pesquisa visa apresentar a atuação dos grupos políticos republicanos no Brasil
imperial em 1870.
O programa do partido republicano para além de se basear nos princípios filosóficos
positivismo, como sistema político preocupou-se em discutir, dentre suas proposta questões
* Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História Social pela Universidade Federal Fluminense. E-mail:
[email protected] 1A República. 14 de maio, 1871, n.11, p.2.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
27
relacionadas ao problema da emancipação da grande massa escravizada que compunham
ainda na região de Pernambuco por meio de seus jornais. Com esse propósito, somado as
outras demandas, seu projeto soma na luta em prol a mobilização de seus grupos para
abolicionismo brasileiro, antecedendo assim o marco historiográfico das últimas décadas da
abolição.2
Tenhamos como norte o forte debate da emancipação e das políticas antiescravistas
cobradas pela Inglaterra à nação brasileira, desde 1815 quando a família real é trazida pela
frota dos ingleses, o vice-reinado de Algarves, estabeleceu compromissos de extinção do fim
do tráfico de africanos que há séculos era grande geradora de lucros para os negociantes
escravistas de grande renome nas primeiras décadas do século XIX. O abolicionismo no
Brasil, historicamente passa a ganhar a visibilidade a partir de 1850, quando é fundada a
Sociedade Contra o Tráfico (SCT). Propostas de lei contra a extinção da mão de obra
escravizada, já são formulada nos Parlamento no Brasil desde 1831, mas apenas passa a se
tornar medida efetiva em 1850, pois no interregno dessas duas leis, a pressão da Inglaterra
aumentou mediante ao fluxo da grande massa de tráfico3 se volumosa e elas foram
denunciadas por abolicionistas políticos ingleses que condenavam tal instituição nefanda.
Na segunda década do século XIX países como - Rússia, Sul dos Estados Unidos e
Cuba - passaram por processos distintos quanto às suas experiências da servidão e escravidão.
Entretanto, o que uniam elas em comum? Essa questão é formulada pelas pesquisas
historiográficas mais recentes, devido a pecha das Instituições Nefandas4 ganharem corpo e
movimento, na medida em que o mundo se industrializava, o capitalismo fazia entrar em
colapso os antigos sistemas de relações sociais e políticos. Neste sentido, países escravistas,
que também foram ex-colônias, nesse caso, estariam com os dias contados.
Nesse trânsito, as transformações no mundo da política internacional impactam os
eventos políticos nacionais, porque se tornam espelhos para os debates anti-escravidão na
2 CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São
Paulo: Companhia das Letras, 1990. 287 p; MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. O Plano e o pânico: os
movimentos sociais na década da abolição. Rio de Janeiro: UFRJ, EDUSP, 1994; CASTRO, Hebe M. Mattos de.
Escravidão e cidadania no Brasil monárquico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. (Coleção Passo a Passo). 3 CARVALHO, Marcus J. M. de. Liberdade: rotinas e rupturas do escravismo. Recife, 1822 - 1850. Recife,
Editora Universitária da UFPE, 1998, 353 p. 4 Em termos de trabalhos recentes, temos, por exemplo: LIMA, Ivana Stolze (Org.); GRINBERG, Keila (Org.);
REIS, Daniel Aarão (Org.). Instituições Nefandas: o fim da escravidão e da servidão no Brasil, nos Estados
Unidos e na Rússia. Rio de Janeiro. Fundação Casa de Rui Barbosa, 2018. Nesta obra há questões referentes às
possibilidades de analisar as semelhanças e interpretações dos processos de desagregação de três países
escravistas em perspectiva atlântica, nela há problematização de como ideais abolicionistas e emancipacionistas
podem ser articuladas e comparadas, é um trabalho historiográfico de peso.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
28
sociedade brasileira. Todavia estes impactos por ora, chegam a se diferenciar e demarcar
particularidades próprias, tais como na província de Pernambuco que foi diferente da
particularidade da Corte, onde a mão de obra escrava era crescente devido a exportação do
tráfico interprovincial para alimentar as lavouras do café.5 A contenda da questão do
elemento servil registradas nos impressos da época enfatizam como a situação foi politizada e
vivificada pela opinião pública com pretensões que instavam o desejo de liberdade dos
escravos no mundo da imprensa.
A experiência das ideias de abolição na província de Pernambuco, em meados de
1870 passa a ganhar delineamentos dos mais variados. Seja em suas linguagens, ações ou
medidas. Assim define Angela Alonso na obra Flores, Votos e Balas quando enfatiza como o
movimento abolicionista através de uma estrutura de sentimento ligavam os abolicionista no
país, diante da qual faziam uso de retórica de mudança semelhante do repertório estrangeiro.6
Não obstante “vis-à-vis” ao instrumento de mobilização política, os brasileiros adaptaram um
repertório próprio.7 Diferentemente da experiência anglo-americana, onde por meio da
retórica da religião, criticavam as bases do escravismo nas colônias inglesas.
Em torno dela os abolicionistas criticavam o sistema da escravidão e com isso
aumentava o número de seguidores em prol ao movimento anti-escravidão. Ao explicar tal
modelo, Alonso em sua obra discorre como no Brasil o movimento abolicionista adaptou suas
críticas ao escravismo de circunstância. Na região de Pernambuco, esse movimento são
captados pelos discursos apresentados nos impressos. Ou seja, demonstra como foi possível
5 MARQUESE, D Tomich. In: O Vale do Paraíba escravista e a formação do mercado mundial do café no século
XIX. O Brasil Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009 6ALONSO, Angela. Flores, Votos e Balas. O movimento abolicionista brasileiro (1868-1888). Editora
Companhia das Letras, São Paulo, 2015. 7 Alonso chega afirmar que “Combinando exemplos domésticos e internacionais, Patrocínio e Rebouças
casaram intenção política com inserção cultural”. (Alonso, 2015. p.128). A via da linguagem política por meio
arte seriam o instrumento de propaganda dos brasileiros, ao contrário daquela que os anglo-americanos se
utilizavam, a via da religião. O abolicionismo no Brasil desabrochou tarde devido a diversos fatores, duas
principais motivos nos custa mencionar. A primeira foi do movimento dos próprios escravistas que se uniam
para barrar os projetos prol emancipação na Câmara e no Senado. Outro motivo que, de certa forma contribuiu
foi o analfabetismo, presente em grande parte população brasileira, segundo o censo de 1872, grassava no país
grande índice de pessoas que mal sabiam ler e escrever. Dos dados, é possível extrair que em torno de 15,7%
eram alfabetizadas. Machado de Assis, por exemplo, publicou matéria a respeito, logo após os dados do censo
serem disponibilizados. Atônito, arremata em crônica publicada na Ilustração Brasileira no dia 15 de julho de
1875, “Gosto dos algarismos porque não são de meias medidas nem de metáforas. [...] A nação não sabe ler”.
(apud. Alonso. p.126). Por mais que houvesse críticas à situação do sistema escravista a partir de 1869, tanto na
imprensa, como em panfletos, obras e petições, até as últimas décadas da abolição, era ainda seleto o público.
Por conseguinte, para além da imprensa, através da mobilização de conferências-concertos, criação de
associações, formação de grupos políticos, dentre outras estratégias prol escravidão, juntos mobilizaram o debate
para o fim da escravidão. Na Corte, a dupla dos abolicionistas de envergadura como José do Patrocínio e André
Rebouças, Vicente de Sousa, faria o movimento abolicionista, em São Paulo, seria Luiz Gama. Como apóstolos
da liberdade, com a militância recrutaria discípulos das mais distintas classes sociais na província para à causa.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
29
tornar uma realidade a desaprovação de sua existência, buscando assim, enfatizar seu diálogo
com o debate internacional.
Em nossa pesquisa, passamos a perceber que a circulação de debates em torno do fim
da escravidão passa a ganhar importância no início da década de 1870 em Pernambuco. Isso
denota o enorme interesse da opinião pública em relação ao tema. Lembremos que a imprensa
é grande difusora de opiniões e circulação ideias, de modo que os acontecimentos via
atlântico, traziam para os portos os fatos políticos e culturais de outros países. A conexão
entre Europa e América, por meio do oceano atlântico fazia difundir e emergir expectativas e
possibilidades de libertação da extinção da abolição na América e da derrocada de antigos
sistemas imperiais8. As informações dos países estrangeiros nos portos brasileiros,
possivelmente é fator significativo para promoção dos debates em torno de abolicionismo
numa perspectiva gradual. No Brasil Império na referida década, havia àqueles que passavam
a optar pela ruptura do sistema secular que imperava há mais de três séculos e impossibilitava
o país se tornar civilizado e garantir as liberdades individuais aos cidadãos, como diria alguns
empedernidos liberais e conservadores.
Na imprensa a emancipação, como um desejo de liberdade para o fim da abolição foi
acompanhada com as implicações internacionais contemporâneas que atravessavam o
atlântico pela via dos portos e de jornais estrangeiros. Por meio delas, foram impactados e
passaram a formular identidades para os abolicionistas, devido à mobilização política do
tema. Das repercussões, optavam por quais exemplos posicionamentos guiar-se, isto é,
miravam-se nesses debates para cautelosamente tomar orientação. A partir disso, vemos a
necessidade de, ao analisarmos o processo da abolição, conectarmos a experiência atlântica
dos debates abolicionistas que podem ser captada à luz da imprensa.
As medidas que foram mobilizadas em prol a abolição congregou a participação de
diferentes agentes históricos - desde os políticos Liberais como Conservadores - e processos.
Entretanto, através de impressos de tendência republicana vemos que o debate não escapou
dela.
Em Recife, os impressos A Luz e A República nos apresentam assim, contrapontos
interessantes para pensarmos como a liberdade da escravidão foi pensada e discutida no
contexto apresentado por esse grupo. Como será possível perceber ao longo do texto, veremos
como as medidas de ação entre ambas tomavam medidas similares a de outros países
8DRESCHER, Seymour. Abolição. Uma história da escravidão e do antiescravismo. São Paulo: Ed. Unesp,
2011.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
30
escravistas. Como processo, ambos os jornais estariam interligados na conjunção dos ideais
partidários republicanos na formação estado-nação que então eram requeridas na era da
emancipação, que foram constituídas com a perspectiva de um abolicionismo atlântico.9
Entre declínio e ascensão da imprensa: o Abolicionismo no Recife entre 1860 a
1870
Na década de 1860 o boom da imprensa na província pernambucana é nítido, pois há
um avanço significativo da produção de impressos, segundo é possível constatar na base da
Hemeroteca Digital10. Entre essa década e a 1870, ocorre uma inversão do crescimento, pois
número de jornais caiu de 56 para 36 jornais. Dessa abrupta queda entre esses períodos, os
anos de 1871 a 1873 são especiais para a presente pesquisa, pois acompanham as polêmicas
políticas empreendidas na época por dois impressos de tendência republicana, que não se
mantiveram isentos em relação a emancipação. Tomaram partido. A diminuição de 20 jornais
na opinião pública de Pernambuco é significativa, pois tal redução nesse contexto é ainda
obscura na historiografia da imprensa. Ela não será nosso objeto de pesquisa, mas cabe
registrarmos que são de vital importância pesquisas voltadas para essa questão.11
O ano de 1870 é emblemático também porquê na Câmara e no Senado, a discussão
sobre a abolição gradual da abolição tornava-se assunto do dia e o debate se amplificou, a
medida que crise do governo de D. Pedro II12 se acentuava - através da dissidência da própria
ala dos partidos conservadores, entre emperrados e tradicionais, e na ala do Partido Liberal,
em radicais e republicanos. Durante a alternância desses partidos e de seus Gabinetes, o país
sofria com as rupturas dos projetos formuladas pelos dois partidos. Os republicanos vêm a
lume contra as contradições desse regime e com isso passariam a atacar o império.13
9 ARMITAGE, David. Três conceitos de História Atlântica. História Unisinos, São Leopoldo-RS, v. 18, n. 2,
p.206- 217, mai/ago, 2014, p.207. 10 O site da Hemeroteca tem nos ajudado a perscrutar os diferentes números dos impressos aqui coligidos e
apresentados. Para mais informações, acessar a base do site: http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx 11 Os impressos em sua grande maioria podem ser consultados na plataforma da Hemeroteca Digital, para mais
informações, acessar: http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/ 12 SCHWARCZ, L. M. As barbas do Imperador. D. Pedro II: um monarca nos trópicos. São Paulo: Companhia
das Letras, 1998. 13 A socióloga Angela Alonso, discorre como se estruturou a crise dos partidos políticos do Império. Não parte
da resistência dos escravizados, mas sim dos agentes políticos que se ligavam por estruturas de sentimentos para
através de uma retórica de mudança organizarem um movimento prol-escravidão. Apresentado como tese de
livre docência sua pesquisa destaca, em pormenores, como os debates que foram travados entre a Câmara e
Senado e a sociedade sofreu empecilhos e abriu racha entre os partidos políticos. Enfatiza como os
conservadores apresentaram alguns avanços, como recuos em sua administrações. A reforma conservadora de
Rio Branco, dentro desse debate veio a desembocar na aprovação da Lei do Ventre Livre que seria aprovado em
28 de setembro de 1871.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
31
Para aprovação dos debates da Lei do Ventre Livre,14 que seria homologada em 28
de setembro de 1871 - aos moldes da lei de Porto Rico em 1865 - o partido conservador se viu
obrigado a realizar projeto de reformas de abolição gradual para barrar as ideias propostas por
abolicionistas das alas dos liberais radicais e republicanos. Este último partido surgia para
fazer Ao Povo compreender que era contra o governo do império e manifestava para que, ao
combatê-lo “possamos melhorar a sorte do Brasil sob o domínio que há tantos anos temos
vivido”,15 pois como instituição representava um anacronismo, um irracionalismo, afinal, seu
sistema representativo era considerado um mal para nação.
O debate anterior, realizada pelo Gabinete do Barão de Rio Branco (1871-1875) foi
estabelecido através dos acordos, pois o projeto foi motivo de controvérsias e discordâncias
políticas pelos mais distintos políticos da época. Dada à situação das sublevações e possíveis
reuniões de escravizados sob aparato de abolicionistas, temiam uma haitinização.
A opção pela a abolição lenta e gradual, tal como, era realizada pelas colônias
espanholas, foi o caminho que os conservadores aliados a Rio Branco viam como mais
adaptável à realidade brasileira. Em Pernambuco, o Ventre Livre, possibilitou os escravizados
pleitearem ações de liberdade desde a aprovação da lei nº 2.04016 até as vésperas da assinatura
da Lei Áurea.
Segundo Lenira Costa não devemos negligenciar a importância dessa lei porque ela
tornou legal ações baseadas no costume e questionar o direito de propriedade.17
De certo, com o Ventre Livre, os escravocratas estariam com os ânimos acirrados,
afinal, o Estado interviria nas relações entre senhores e escravos.18 Em São Paulo, por
exemplo, o abolicionista paulistano Luís Gama, filho da africana Luísa Mahin, quitandeira
que participou da Revolta do Malês, fez uso do sistema jurídico da lei de 1871, que continha
diversos dispositivos que poderiam ser acionados em prol da alforria. O Habeas corpus, por
14 Sobre a Lei do Ventre Livre e seus debates no Parlamento, ver: PENA, Eduardo Spiller. Pajens da Casa
Imperial: jurisconsultos, escravidão e a lei de 1871. Campinas: Editora da UNICAMP; Centro de Pesquisa em
História Social da Cultura, 2001. 15 A Luz, 9 abr. 1873, p. 2. 16 Lei Nº 2.040, de 28 de setembro de 1871.
Consultar a lei: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM2040.htm 17 COSTA, Lenira Lima da. A Lei do Ventre Livre e os caminhos da liberdade em Pernambuco, 1871-1888 -
Recife, 2007. 150 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Pernambuco. CFCH. História. Recife,
2007. 18 José Murilo de Carvalho ao analisar o processo da abolição, revela que ela faz parte das decisões políticas de
uma elite do Estado, que não atendia aos interesses dos proprietários. Para mais profundidade do debate ver em:
A construção da ordem: a elite política imperial. Teatro das Sombras: a política imperial. 4ª ed. - Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
32
exemplo, derivou dela - foi uma das garantias de seus artigos. Com a abrangência dessa lei,
notou Sidney Chalhoub, ela abriu espaços para ações de liberdade dos próprios escravos.19
Nessa monta, através da Lei de liberdade do rebento de mulheres escravizadas, dali
por diante, a discussão sobre a extinção da escravidão ganhava diferentes tonalidades e
manifestações nas mais diversas camadas da sociedade. A historiografia ao enfatizar a
importância dessa lei, informa que houve certo ostracismo no debate da emancipação.
Discordamos, pois com esses acontecimentos, de largo impacto social, as conjunturas
políticas emancipacionistas estrangeiras acenavam para um maior debate de desejo de
liberdade dos escravos.
Diante desses fatos, para lógica da nossa análise, partamos para as discussões
desenvolvidas por dois impressos. O primeiro enfatiza argumentos prol escravidão, antes
mesmo da promulgação da Lei do Ventre Livre tomar forma e ser instituída. Em seguida, nos
ateremos em outro impresso de mesma tendência partidária, logo após a Lei ganhar vigência.
Os debates sobre a liberdade de escravos no espaço público faziam-se altaneiros e burilavam
os jornais de tendência abolicionistas que viam a pouca eficácia das medidas estabelecidas
pela dita lei.
A República e A Luz: impressos republicanos unidos em prol ao fim da
escravidão
Os dois impressos descritos são A República: A República è Órgão do Partido
Republicano de Pernambuco e A Luz: periódico republicano.20 Recife, a capital de
Pernambuco não demorou muito para divulgar seus princípios republicanos, tal como os
originados na Corte no final da década de 1860.
Os republicanos que emergem no ano de 1870 congrega, tanto antigos liberais
radicais, como antigos republicanos do tempo das Revoluções Pernambucanas de 1817, 1824
e 1848. Incontestes com a crise dos partidos monárquicos e das reformas protelatórias, eles se
uniram à causa, para agruparem em torno desse ideário. Monarquia representava atraso, assim
como sistema escravista que sustentava o governo.
A imprensa pernambucana, além de noticiar os acontecimentos de outras províncias,
abria sessões para destacar os principais eventos políticos dos países estrangeiros. Esse meio
19 Chalhoub, Sidney. Visões da Liberdade. (1990, pp.). Sobre o habeas corpus, Gama impetrou de 1868 a 1880
mais de quinhentos processos. Sud Menucci quem computou esses dados em “O precursor do abolicionismo no
Brasil (Luiz Gama)”. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1938. 20 Dados extraídos de: Hemeroteca Digital.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
33
de comunicação oitocentista não expunha esses fatos fortuitamente, mas por meio de posições
ideológicas que acabavam por influenciar e serem influenciadas pelos eventos que
acompanhavam, desde as transformações políticas e sociais ao longo do tempo. Tal fato é
constatado pelo historiador Nelson Wenerck Sodré, que ao trabalhar com jornais da pequena e
grande imprensa brasileira - da Colônia, Império e República - destaca que a imprensa era
uma das principais instituições que dera configuração à história do país.21
A imprensa, portanto, com suas publicações, de certa forma, modelava as
experiências e expectativas22 dos leitores oitocentistas em relação às discussões culturais,
econômicas e políticas de sua época. Em Pernambuco, a imprensa republicana na década de
1870 - nos anos anteriores à Lei do Ventre Livre - tomou às palavras e posicionamento, num
momento em que se discutia as lutas em prol a emancipação. Os enfrentamentos se tornavam
combativos no momento em que apontavam os problemas presentes em torno da escravidão
local.
No Recife em 1870, a Assembleia Legislativa de Pernambuco aprovara um Fundo de
Emancipação Provincial, tal como em outras províncias vinham realizando.23 O órgão
republicano denunciavam em suas tipografias os descasos vividos pelos cidadãos
pernambucanos nesse cenário conturbado.
Para fazer frente ao regime imperial, os republicanos se agruparam em torno de seus
princípios e por suas ideologias fariam-se apóstolos da liberdade. O discurso sobre a
escravidão foi tema refletido por esse grupo, já que o debate da emancipação passava a ser de
longe discutido, desde o fim do tráfico atlântico em 1850.
É nesse contexto turbulento no cenário político nacional e internacional que opinião
pública passa a pugnar na Imprensa como grande responsável pela mudança política do país.
A guerra civil norte-americana e o impacto dos eventos posteriores a sua formulações
21 A pesquisa minuciosa é um trabalho de síntese histórica, Sodré se utilizou diversificado conjunto de
documentos para tecer a sua narrativa histórica, desde textos memorialísticos, literários a processos jurídicos, de
leis correspondência, coleções, além de fontes como os próprios opúsculos, panfletos, jornais, revistas e
pasquins. Ver: SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Mauad, 1994. 22 Sobre os “espaços de experiência” e “horizontes de expectativas” na imprensa ver: KOSELLECK, Reinhart.
Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Trad. Wilma Patrícia Maas e Carlos Almeida
Pereira. Rio de Janeiro: Contraponto/Ed. PUC Rio, 2006. Original em alemão. 23 O que está por trás desse processo político, ver: Castilho, Celso. “Abolitionism Matters: The Politics of
Antislavery in Pernambuco, Brazil, 1869-1888”. Tese de doutorado, Universidade da Califórnia, Berkeley, 2008.
Especialmente, o primeiro capítulo. pp. 1- 40. Castilho se apoiando em matéria publicada por um jornal da época
que havia notícias de que mais sete províncias destinaram recursos para projetos similares. Jornal do Recife, 6
jul. 1870, p.1,
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
34
diplomáticas eram, por conseguinte, acompanhados, e com muita apreensão, pelos jornais
brasileiros da época.
A experiência de brasileiros nos Estados Unidos de figuras de grande ativismo
político no segundo império, como Abílio César Borges e André Rebouças, ambos negros, é
importante, porque elas se tornam pontes de impactos que reformulam seus posicionamentos
frente aos tempos do pós-abolição que emergiram nesse país. A viagem de Rebouças no
período da ‘‘Reconstrution” (1865-1877) norte-americana, foi um evento de importância,
devido o mesmo empreender contato com o pós-abolição americano e, posteriormente,
estender seus laços de amizade com o redator do impresso editado em New York, Mundo
Novo.24
Depois André Rebouças se tornaria colaborador do Novo Mundo. O redator chefe era
José Carlos Rodrigues, que em suas matérias declarava estimar e ter apreço pelos sentimentos
republicanos, uma vez que, seu posicionamento era favorável à extinção da escravidão no
Brasil. O valor das publicações do Novo Mundo no Brasil se dava através de correspondentes
nacionais e oferecia aos leitores brasileiros notícias sobre países estrangeiros. Conforme
aventa Hebe Matos, “Elas servem como um bom guia para quais aspectos do contexto
internacional atraíam a atenção de intelectuais como Rebouças e Rodrigues.
Os processos de emancipação de escravos e servos estavam entre os temas de
interesse do periódico, sempre em diálogo com os destinos do Brasil”.25 Antecedendo, um ano
ao marco daquela Lei que ficou conhecida por libertar as crianças nascidas a partir de 1871, o
surgimento de dois impressos de tendências republicanas na província de Pernambuco é
indicativo de que o império enfrentava crise política, mediante a fragmentação de dois
partidos tradicionais brasileiros.26 Liberais enfileiram na organização do movimento
republicano após a queda do Gabinete Zacarias em 1868. Esse grupo, aos poucos,
24 Com circulação no Brasil entre 1870 a 1879 foi editado em Nova York e teve circulação no Brasil.. O editor
proprietário e principal redator foi José Carlos Rodrigues, nos seus artigos demonstrava aos lavradores que não
havia necessidade de temer as reformas. 25 A ênfase da pesquisa da historiadora se realiza mediante a experiência desse engenheiro negro, está conectada
com o cenário internacional durante o período em tela e do período que viajou à África, momento que foi aos
Estados Unidos e seu interesse pela política internacional. Chegou a se tornar colaborador no jornal “O Novo
Mundo, periódico illustrado do progresso da edade” que circulou no Brasil, entre os anos 1870 até 1879, era
editado nos Estados Unidos. Para mais informações ler: Instituições Nefandas. pp. 74-94. 26 Os partidos em tese era o dos Conservadores e Liberais, representantes máximos da ordem política do governo
constitucional do Império do Brasil. Foram denominados de Saquaremas Fluminense por Ilmar Mattos. Sobre
esse debate ver: SALLES, Ricardo. Joaquim Nabuco. Um pensador do Império, Rio de Janeiro: Topbooks 2002,
esp. cap. 2; ______. As águas do Niágara. 1871: crise da escravidão e o ocaso saquarema. In GRINBERG,
Keila Grinberg; SALLES, Ricardo (Org.). O Brasil Imperial, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, v. 3. 2009;
Sobre a formação e fragmentação dos partidos imperiais brasileiros é o historiador José Murilo de Carvalho. A
construção da Ordem. Op.cit.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
35
arregimentou diferentes agentes da sociedade com seus princípios de democracia, igualdade e
fraternidade entre todos.
O primeiro jornal republicano em Recife, advém da manifestação que foi levantada
pelo Manifesto Republicano de 4 de dezembro de 1870 no Rio de Janeiro. A matéria desse
órgão foi transcrita na primeira matéria da A República, órgão do Clube Republicano.27 É
possível considerar que a explicação para o aparecimento desses grupos republicanos, se deva
a insatisfação da crescente transformação econômica e política que beneficiava a poucos
grupos sociais na província. Em Pernambuco, a classe dominante eram aqueles ligados a
grandes proprietários de terras. Nesse contexto, mesmo com a instalação de usinas do final do
século XIX, o impacto dessas novas tecnologias na força do trabalho não alterava em nada
condições sociais significativas para a população urbana e em especial a rural - pois a
permanência da grande massa de trabalhadores rurais - era base de enriquecimentos dos
grandes usineiros do nordeste.
A modernização sem mudança, como chamou Peter Eisenberg28 em seu estudo sobre
a indústria açucareira entre 1840 a 1888 denota bem como as desigualdades perduraram por
muito tempo, atravessando épocas. A insatisfação desse continuísmo seria criticada por
diversos grupos, seja por bacharéis da Faculdade de Direito, profissionais liberais, assim
como também pelos próprios escravizados em sua resistência a instituição que escravizava,
dentre os demais grupos sociais que até então entendiam que eram excluídos de seus direitos
políticos.
Aderir aos preceitos republicanos era garantir tais direitos, era proposta de mudança
de regime, sem senhores e escravos. A imprensa, como objeto de análise histórica é uma
ferramenta privilegiada para captar os acontecimentos políticos daquela época. Porém é
necessário atenção para com seus discursos orientados pela percepção de seus redatores, pois
incluíam suas subjetividades políticas. Na segunda metade do século XIX, a imprensa no
Brasil era instrumento privilegiado de divulgação das ideias de políticos, fossem favoráveis
ou contrários ao governo imperial. Àqueles que seguiam princípios republicanos, já definiam
como projeto de seu programa extinguir o sistema monarquia, entendiam que tal governo era
27 A República, nº.1.p.1. Atualizamos a grafia das palavras neste e nos demais documentos manuscritos e
impressos transcritos ao longo do texto. 28 EISENBERG, Peter L., Modernização sem mudança: a indústria açucareira em Pernambuco, 1840/1910. Rio
de Janeiro/Campinas, Paz e Terra/Unicamp, 1977.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
36
um atraso e legitimavam as desigualdades do país. Outro fator importante é o da crescente
urbanização e do consumo de produtos estrangeiros nas principais províncias do império.29
Nesse aspecto, as transformações políticas e econômicas, assim como cultural muito
chama atenção dos pesquisadores da imprensa. Esses órgãos de informação se identificam
como principais difusores da opinião pública, seja para divulgar ciência, ilustrações,
literatura, revistas e política. Por esse lado vemos que na produção desses impressos como
opinião pública é forte o protagonismo(s) que a imprensa desenvolve, por isso vemos a
necessidade de relativizar a opinião formulada pelo historiador Alain El Youssef ao afirmar
em sua obra “Imprensa e Escravidão” que a categoria opinião pública no Rio de Janeiro “(...)
até mesmo os abolicionistas, que a partir da década de 1870 tomaram a imprensa como locais
privilegiados de sua campanha para dar cabo ao cativeiro, não se valerá da categoria para
qualificar sua intensa atuação política até 1888”.30
Para a província de Pernambuco essa conclusão do historiador Alain Youssef é
difícil ser enquadrada, porque é possível mapearmos nos jornais republicanos de 1870 a força
da palavra opinião pública pelos redatores de mais variadas tendências políticas, como a dos
republicanos é prova cabal desse posicionamento.
Portanto, é possível contrapor essa visão recuperando as publicações que foram
tratadas nas matérias dos jornais, pois o tema da emancipação e abolição foram objetos de
reflexão que garantiam liberdade com a república. Frente à realidade da emancipacionista, na
qual se viam como responsáveis por reivindicar os direitos políticos dos cidadãos
pernambucanos, defendiam abertamente seus posicionamentos de ruptura da escravidão.
Esses, antes mesmo da aprovação da Lei do Ventre Livre e também depois que os impactos
dessa lei não surtiram efeito, de acordo, com a proposta que política que fora encabeçada pela
Reforma Conservadora.
Entre realidades e dissolução: os republicanos conclamam o fim da escravidão em
Pernambuco 1870
A batalha travada nos periódicos republicanos sobre a questão do fim da escravidão
no Brasil, no início da década de 1870 foi objeto de como assunto de interesse pelos redatores
29 ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Vida Privada e ordem no império. In: História da Vida Privada no Brasil
(v.2) São Paulo: CIA das Letras, 1997. 30 É problemática essa sentença do historiador, tendo em vista que as provinciais concebiam as redações dos
jornais como espaços legítimos de luta e de mobilização da opinião pública. Para informação, consultar:
YOUSSEF, Alain El. Imprensa e Escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil: Rio de Janeiro,
1820-1850. São Paulo: Intermeio; FAPESP, 2016. p. 17.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
37
do jornal A República.31 O tema da emancipação foi de debate pelos redatores de A República,
este impresso publicado uma vez por semana aos domingos. Para além de discutir questões
nacionais, se voltavam a temas políticos sobre os acontecimentos de outros países. O exemplo
dos eventos antiescravistas dos Estados Unidos era tomado como medida pelos
pernambucanos, como maneira de se proceder à libertação de porção de entes humanos
escravizados.
Compreendiam que havia necessidade de restituir sérias medidas, a fim de que a
agricultura não sofresse golpes mortíferos para a nação. Entretanto, em matéria demarcavam
que “Nós que escrevemos este artigo somos frenéticos apologistas da abolição da
escravidão”.32 Demonstravam, nessa matéria suas posições enquanto abolicionistas. Tais
medidas polemizadas pelo impresso concorriam para à peleja da abolição não se “fazer-se
precipitadamente”, pois da falta de estudos para estabelecer políticas para a agricultura
desembocaria no atraso econômico do país, comparado ao caso da parte sul dos “Estados
Unidos pela falta de providências bem estudadas e calculadas”.33
Evidentemente que os eventos de fora do país influenciavam as percepções e elas
eram tomadas como modelos. Com isso, a discussão na imprensa diante de tais medidas
políticas eram vistas como positivas aos abolicionistas. Daí ser curioso A República despontar
os EUA como modelo a não ser seguido mediante a Guerra lá deflagrada.
A experiência da emancipação estadunidense esteve presente na influência do
pensamento social de abolicionista de grande timbre, como a do intelectual negro André
Rebouças. Em 1870, esteve ele nos Estados Unidos, em plena época da “Reconstruction”
(1865-1877), período em que houve garantias de direitos políticos para a maioria dos recém-
libertos com fim da guerra civil. Neste país, sofreu uma série de preconceitos e tal fato
marcaria sua identificação enquanto descendente de africano, e por esse reconhecimento de
identidade se posicionou fortemente contra a escravidão.
31 Os jornais de tendências republicanas faziam menções aos impressos contemporâneos, deles temos notícia de
que A Tribuna do Povo, da província do Ceará e o jornal da província do Rio Grande do Norte de título
“Assuense” também eram republicanos. Os mesmos estabeleceram contatos com republicanos da Corte, onde
foram bem elogiados em matéria do seu aparecimento. A República, 12 de fevereiro de 1871. p. 4. Ainda em
1872, O Seis de Março foi outro diário republicano, esse periódico surgiu na data que lhe deu o nome, tinha
quatro colunas e teve por redatores Jose Maria de Albuquerque Melo e Afonso de Albuquerque Melo. Mais
informações, consultar: DO NASCIMENTO, Luiz. História da Imprensa de Pernambuco. Vol 2. Imprensa
Universitária da Universidade Federal de Pernambuco, volumes publicados, 1966. 32 A República, 23 Abr. 1871, p.2. 33 Idem. ibidem. Os redatores informam nesse número que “por considerá-la um horrível cancro que mata todos
os sentimentos nobres da criatura, que é contra o direito natural e social, que é contra as leis de Deus; e tanto é
assim que, os que tínhamos, libertamos e temos concorrido direta e indiretamente para a liberdade de muitos”.
p.2
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
38
Como esclarece Hebe Mattos,34em perspectiva comparada, destaca como as viagens
realizadas por Rebouças o fizeram entrar em contato com o questionamento de sua própria
cor, tanto quanto da questão da emancipação escrava no mundo, ao qual daria origem ao pan-
africanismo, uma cultura política. Por esse lado, é a partir desse momento que há, conforme
Paul Giroy “uma dupla consciência”, diante do qual Rebouças ao viajar para um país de
cultura ocidental, como os Estados Unidos do Sul, teve que lidar com as contradições dos
princípios liberais em relação à escravidão, recentemente abolida da nação.35
Na província de Pernambuco para obtenção da liberdade, era necessário estudo para
suprir os braços escravos. Apesar disso defendiam a “urgente necessidade acabá-la a fim de
restituir, os direitos roubados a esta porção infeliz”.
A segunda perspectiva sobre o fim da escravidão presente no jornal A República foi
baseada naquela opção de que fosse realizada, seguindo a matéria do impresso, “a
manutenção da garantia de indenização aos proprietários”.36
Em matéria do dia 14 de maio de 1870, a coluna A escravidão no Brasil sentenciou
“A completa abolição da escravidão no Brasil, não é negócio mais de espera”, por mais que os
“bárbaros escravocratas” mareiam-se contra suas aspirações era preciso realizá-la.
Os propósitos dos redatores da imprensa são interligados como um fim a ser
levantado pela bandeira republicana - pois como eram contrários ao regime imperial - seus
princípios se baseavam nas máximas que foram formuladas pelas máximas da Revolução
Francesa, com vistas à defesa das ideias positivistas de civilização e progresso. De certo, se
espelhando nos “Estados Unidos, nesse país modelo republicano” o advento da República
como governo se ergueria em face a “essa soma de filantropia humanitária”.37
O debate travado em torno da emancipação estaria predestinado pelos republicanos.
Ao se posicionarem como livres na luta pela abolição honrariam as gerações passadas e
futuras de Pernambuco. Lutar pelo fim da instituição escravista, era se posicionar como
ethos38 pois “a redenção dos cativos virá por que faz a glória dos livres”. Esse posicionamento
34 Instituições Nefandas. In: Um livro “tosltoico” contra a “brutalidade yankee”. Á África e a abolição da
escravidão e da servidão no Brasil, nos Estados Unidos e na Rússia na escrita de si de André Rebouças (1870-
1898). pp. 74-93. In: LIMA, Ivana Stolze (Org.); GRINBERG, Keila (Org.); REIS, Daniel Aarão (Org.).
Instituições Nefandas: o fim da escravidão e da servidão no Brasil, nos Estados Unidos e na Rússia. Rio de
Janeiro. Fundação Casa de Rui Barbosa, 2018. 35 Cf. GILROY, Paul. O Atlântico Negro. Modernidade e dupla consciência. Rio de Janeiro: Editora 34/CEAA-
UCAM, 2001. 36 A República, 23 Abr. 1871, p.2. 37 A República, 14 Mai. 1871, p.2. 38 Ethos entenda-se, enquanto características de um grupo de indivíduos pertencentes à mesma comunidade. .
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
39
tomado pelo impresso tem sua devida importância por apresentar em suas folhas o largo
processo que envolveu uma série de conflitos e lutas, em torno do movimento social da
abolição. A discussão em análise possivelmente contribuiu para que a agitação em torno das
matérias jornalísticas ganhasse adeptos à causa abolicionista e republicana.
Passado dois anos do Ventre Livre, outro jornal republicano intitulado A Luz39 vem a
público com o propósito de “demonstrar clara e evidente que, ela nas formas governativas é a
– República”40. O periódico fazia coro com outros impressos republicanos da época, urgiria
contra a tirania do regime monárquico e foram favoráveis ao fim da escravidão em medidas
protelatórias.
O debate da emancipação não escaparia de suas folhas, de modo que prontificados a
defender o tema, revelam que foi à muito custo que a “liberdade do ventre” foi conquistada,
mas ainda existiam “espíritos pequenos” que eram contrários à liberdade. Com isso, a
insatisfação da referida lei e dos descasos presenciados contra os escravizados
pernambucanos, proclamavam “Não somos de meios termos e nem de meias medidas, quando
queremos a regeneração no Brasil, extinguindo-se-lhe a escravidão”.41 O posicionamento da A
Luz radicalizara nas suas ideias, uma vez que em 4 de julho de 1873, declarava a “Abolição
Total da Abolição no Brasil”. Nesta matéria dissertava os meios e os fins de como propunham
cortar de vez por todas, o nó da questão da escravidão, afinal ironicamente escreviam “Não
somos de meia medidas”.42
Concomitantemente, a emancipação e suas implicações nas propostas políticas
antiescravistas devem ser pensadas em perspectiva atlântica. Na província de Pernambuco
foram questionadas a partir desse ângulo, pois politicamente a imprensa se posicionou através
dos eventos estrangeiros, como pôde ser apreendidas nas matérias dos impressos A República
e A Luz.
O seu debate antiescravista, na década de 1870, foi apropriado como tema importante
para discurso de enfrentamento político à ordem escravista e ao sistema político que o
39 Publicava-se duas vezes por semana, às quartas e sábados. A residência da redação estava localizada na Praia
do Caldeireiro n.41. A folha avulsa era vendida por 40 réis, logo na sua primeira publicação, até o terceiro
número ser cobrado o preço módico de 80 réis. O preço de 2.000 por trimestre adiantado. Por dois anos publicou,
entre os anos de 1873 a 1874. 40 A Luz, 19, abr. 1873, p. 1. 41 A Luz, 23, abr. 1873, p. 2. 42 A Luz, 4, jun. 1873, p. 2. Na matéria, datada de 14 de julho de 1873, foi publicada a continuação do debate,
intitulada “Abolição Total da Abolição no Brasil II”, nela o redator, depositava sua esperança de que “A
liberdade há de vencer, e a abolição total da escravidão no Brasil há de abrir uma nova era para os presentes e
vindouros”. p. 3. Não consta o nome do articulista que publicou
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
40
legitimava. Afinal, para que os grupos de republicanos ganhassem terreno e adeptos à sua
causa teriam de enfrentar o governo vigente, para vencerem a implantação de suas ideias.
A imprensa foi palco que vocalizou o fim da escravidão. Por meio dela, tal
instrumento de comunicação deu força à manifestações públicas que também realizava
eventos em prol escravidão. A batalha seria longa, porque é com a lei 13 de maio de 1888 que
efetivamente conquistam o fim da escravidão uma das primeiras conquistas sociais do país.
Posteriormente, seria a vez das conquistas políticas, pois acabado a escravidão, o Império
cairia e a República como governo venceria.
Em finalidade, através do mundo da imprensa, os republicanos pernambucanos, para
além de sistematizar os propósitos de seu programa político, traziam para a esfera do discurso
jornalístico a necessidade da opinião pública se manifestar favorável à proposta de seus
concidadãos: o fim da escravidão em meados da década de 1870.
O propósito era uma das maiores realizações humanas, que beneficiaria não só a
região, mas toda a nação para a causa pública. A emancipação e a abolição seriam então um
projeto político e social atrelado a todo (a) republicano (a) que se uniria contra o regime
imperial. E o povo Pernambucano43 faria jus a tais princípios, pois através deles o impresso se
dirigia, convocando-os a serem desbravadores, tais como foram os republicanos da Revolução
de 1817, 1824 e 1848.
Os dramas da abolição se definiriam e ampliaram seu escopo de apoiadores aos seus
princípios republicanos, assim mobilizando diferentes espaços públicos, para além das arenas
legislativas e civil, de tal maneira que emancipação e o desejo de liberdade viriam com a
redempção dos captivos.44
REFERÊNCIAS
Fontes
Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional (HDBN)
A República, 1871.
43 O conceito povo é operacional, pois ao fazer uso desse termo, o periódico, talvez acompanhe os relatos da
época, em que era ‘o povo’ um termo apropriado para autorizar ou deslegitimar manifestações públicas. Para
analise do termo, ver: COMPARATO, Fábio Konder. Variações sobre o conceito de povo no regime
democrático. Estudos Avançados, n˚11, (31), 1997. p. 213. 44 MACHADO, Maria Helena; CASTILHO, Celso. Tornando-se livre: agentes históricos e lutas sociais no
processo de abolição. São Paulo, EDUSP, 2015.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
41
A Luz,1873-1874.
Bibliografia
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Vida Privada e ordem no império. In: História da Vida
Privada no Brasil (v.2) São Paulo: CIA das Letras, 1997.
ALONSO, Angela. Flores, Votos e Balas. O movimento abolicionista brasileiro (1868-1888).
Editora Companhia das Letras, São Paulo, 2015.
ARMITAGE, David. Três conceitos de História Atlântica. História Unisinos, São Leopoldo-
RS, v. 18, n. 2, p.206- 217, mai/ago, 2014, p.207.
CASTRO, Hebe M. Mattos de. Escravidão e cidadania no Brasil monárquico. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2000.
CARVALHO, Marcus J. M. de. Liberdade: rotinas e rupturas do escravismo. Recife, 1822 -
1850. Recife, Editora Universitária da UFPE, 1998, 353 p.
CARVALHO, José Murilo de.: A construção da ordem: a elite política imperial. Teatro das
Sombras: a política imperial. 4ª ed. - Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
CHALHOUB, Sidney. Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão
na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 287 p;
Castilho, Celso. “Abolitionism Matters: The Politics of Antislavery in Pernambuco, Brazil,
1869-1888”. Tese de doutorado, Universidade da Califórnia, Berkeley, 2008.
COSTA, Lenira Lima da. A Lei do Ventre Livre e os caminhos da liberdade em Pernambuco,
1871-1888 - Recife, 2007. 150 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de
Pernambuco. CFCH. História. Recife, 2007.
COMPARATO, Fábio Konder. Variações sobre o conceito de povo no regime democrático.
Estudos Avançados, n˚11, (31), 1997. p. 213.
DRESCHER, Seymour. Abolição. Uma história da escravidão e do antiescravismo. São
Paulo: Ed. Unesp, 2011.
EISENBERG, Peter L., Modernização sem mudança: a indústria açucareira em Pernambuco,
1840/1910. Rio de Janeiro/Campinas, Paz e Terra/Unicamp, 1977.
GILROY, Paul. O Atlântico Negro. Modernidade e dupla consciência. Rio de Janeiro: Editora
34/CEAA-UCAM, 2001.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
42
LIMA, Ivana Stolze (Org.); GRINBERG, Keila (Org.); REIS, Daniel Aarão (Org.).
Instituições Nefandas: o fim da escravidão e da servidão no Brasil, nos Estados Unidos e na
Rússia. Rio de Janeiro. Fundação Casa de Rui Barbosa, 2018.
MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. O Plano e o pânico: os movimentos sociais na
década da abolição. Rio de Janeiro: UFRJ, EDUSP, 1994;
__________________ e CASTILHO, Celso. Tornando-se livre: agentes históricos e lutas
sociais no processo de abolição. São Paulo, EDUSP, 2015.
MARQUESE, D Tomich. In: O Vale do Paraíba escravista e a formação do mercado mundial
do café no século XIX. O Brasil Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.
MENUCCI, Sud. “O precursor do abolicionismo no Brasil (Luiz Gama)”. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1938.
YOUSSEF, Alain El. Imprensa e Escravidão: política e tráfico negreiro no Império do Brasil:
Rio de Janeiro, 1820-1850. São Paulo: Intermeio; FAPESP, 2016. 328 p.
PENA, Eduardo Spiller. Pajens da Casa Imperial: jurisconsultos, escravidão e a lei de 1871.
Campinas: Editora da UNICAMP; Centro de Pesquisa em História Social da Cultura, 2001.
SALLES, Ricardo. Joaquim Nabuco. Um pensador do Império, Rio de Janeiro: Topbooks
2002, esp. cap. 2; ______. As águas do Niágara. 1871: crise da escravidão e o ocaso
saquarema. In GRINBERG, Keila Grinberg; SALLES, Ricardo (Org.). O Brasil Imperial, Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, v. 3. 2009
SCHWARCZ, L. M. As barbas do Imperador. D. Pedro II: um monarca nos trópicos. São
Paulo: Companhia das Letras, 1998.
SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Mauad, 1994.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos.
Trad. Wilma Patrícia Maas e Carlos Almeida Pereira. Rio de Janeiro: Contraponto/Ed. PUC
Rio, 2006.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
43
ESTADO DE BEM-ESTAR NA AMÉRICA LATINA: UMA ANÁLISE DOS EFEITOS
DAS POLÍTICAS SOCIAIS SORE A DESIGUALDADE
Pedro Mendes R. Barbosa
RESUMO
A respeito dos países da OCDE, as teorias sustentam que o avanço dos Estados de bem-estar
foi uma ferramenta crucial de redução das desigualdades durante o século XX. Quanto à
América Latina, por sua vez, teorias defendem que o Estado de bem-estar surgiu na década
1930, porém pouco se explora o seu impacto sobre as desigualdades. No presente artigo,
pretendemos investigar essa relação entre desigualdades e políticas sociais na região. Para tanto,
faremos uma análise estatística da evolução dos gastos sociais e do índice de Gini entre 13
países.
INTRODUÇÃO
O Estado de bem-estar teve papel fundamental enquanto instrumento histórico de
contensão das desigualdades sociais entre os países industrializados. No alvorecer do
capitalismo, a ausência de proteção social, enquanto característica marcante do Estado liberal
do século XIX, deflagrou um quadro extremamente crítico marcado pelo pauperismo e pela
indigência. Quadro este a que Polanyi (1980) caracterizou como um processo de ruptura do
tecido social.
Tal processo somente teria sido revertido com a crescente atuação do Estado na proteção
social, ao longo do século XX. Assim se convencionou como o surgimento do Estado de bem-
estar nos países da Europa. De fato, concomitante ao avanço do Estado de bem-estar, ocorre
uma explícita queda não apenas das desigualdades sociais, mas também dos níveis de pobreza
entre os países industrializados (Piketty, 2014). Mais do que isso, estudos comparados
demonstraram a relação entre Estados de bem-estar mais abrangentes e sociedades menos
desiguais (Esping-Andersen, 1991; Huber e Stephens, 2001).
No que diz respeito à América Latina, embora não haja consenso, há relativo acordo de
que desde a década 1930 se deu a emergência de Estados de bem-estar nesta região (Barrientos,
2008; Draibe e Riesco, 2006; Filgueira, 2005). Decerto, dispõem de especificidades, mas
também é verdade que importaram parte substantiva da institucionalidade constituída entre os
Estados europeus. Entretanto, por razões estruturais e históricas, a relação entre Estado de bem-
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
44
estar e desigualdade é menos nítida na América Latina comparativamente à Europa. É, pois,
nessa seara que pretendemos contribuir com a nossa análise. A pergunta que guiará a nossa
pesquisa, destinada ao trabalho de conclusão da disciplina Políticas Públicas, será: há uma
relação histórica entre Estado de Bem-estar e níveis de desigualdade na América Latina? Dito
de outra forma: os Estados de bem-estar latino-americanos mais abrangentes e atuantes
dispõem dos menores índices de desigualdade social da região?
Há, portanto, um caráter normativo implícito nesse trabalho que identifica a redução das
desigualdades como algo desejável e que as políticas públicas têm papel decisivo para tanto.
Tal dimensão normativa tem relevância sobretudo para o estudo da América Latina cujos níveis
de desigualdade historicamente se sobressaem no âmbito global.
Por outro lado, vale pontuar que diversos estudos demonstram a queda da desigualdade
na América Latina, de uma forma geral, na última década durante a chamada Onda Rosa –
termo utilizado para caracterizar a ascensão de governos de esquerda por toda a região. Há,
portanto, duas hipóteses a serem testadas que se relacionam e tem fundamento na literatura
internacional: 1) governos de esquerda promovem a expansão do Estado de bem-estar; 2) o
Estado de bem-estar promove a queda das desigualdades.
Para responder a nossa pergunta utilizaremos de método quantitativo, mais especificamente
especialmente de regressão linear simples e regressão múltipla. A ideia é verificar, em termos
estatísticos, em que medida há correlação entre Estado de bem-estar e desigualdade. Para tanto,
operacionalizaremos essas variáveis em indicadores, o gasto social em proporção com o PIB
(Estado de bem-estar) e Gini (desigualdade). O recorte temporal com o qual trabalharemos
refere-se ao período entre 1990 e 2015. Recorte este foi estabelecido em função da série maior
de dados que este período apresenta.
Assim, primeiro realizaremos uma discussão sobre o conceito de Estado de bem-estar e
as possíveis formas operacionalizá-lo numa abordagem empírica. Em seguida, travaremos
exercício semelhante com o conceito de desigualdade. Feito isso, será estabelecida a análise
estatística e, por sua vez, a análise dos resultados.
ESTADO DE BEM-ESTAR
1.1 Conceito
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
45
Não obstante seja um dos vocábulos políticos mais longevos e socialmente populares, o
conceito de welfare state suscita certa confusão ainda nos dias hoje. A razão patente, em
primeira instância, reside no fato de que “Política social e welfare state são noções [...] cujo
conteúdo varia não somente de nação para nação, mas, também, no decorrer do
tempo.”(Nullmeier e Kaufmann, 2010, p. 82). Sua difusão ultrapassou as fronteiras nacionais
de sua origem - a Inglaterra do pós-guerra - sendo apropriado e ressignificado em diferentes
contextos sociais e culturais. Ao mesmo tempo, à medida que os estudos a respeito desse objeto
político se intensificaram, após o fim da Segunda Guerra Mundial, tal conceito se aprofundara
ao serem incorporadas novas dimensões à sua definição básica (Amenta, 2003).
No campo acadêmico, a formulação conceitual proposta por Briggs (2006 [1961]) e
Wilensky (1974) foi recorrentemente adotada entre os cientistas sociais. De acordo com os
autores, Estado de bem-estar seria aquele que garante o mínimo necessário à sobrevivência de
seus cidadãos. Contudo, tal formulação ancora-se sobre um conceito problemático, qual seja, o
de “mínimo necessário”, acerca do qual não há uma única definição objetiva e universal, mas,
antes, seu sentido está sujeito à variação conforme o contexto histórico e cultural.
Alternativamente, os estudos histórico-comparativos1 convencionaram o conceito de
Estado de bem-estar definido em oposição a Estado liberal do século XIX (Flora, 1986; Pierson,
1998). Se a atuação do Estado liberal resignava-se à proteção dos cidadãos de invasões
estrangeiras e da criminalidade doméstica, bem como atuando na infraestrutura como estímulo
ao desenvolvimento econômico, o Estado de bem-estar, por seu turno, simboliza o surgimento
dos sistemas de proteção social a partir dos primeiros programas de seguro, pensões e das
políticas de educação e saúde públicas (Kuhnle e Sander, 2010). Com efeito, tal conceito deixa
de aludir tão somente ao aparato estatal keynesiano-beveridgiano engendrado na Inglaterra –
ou a sua versão máxima manifestada na Suécia - mas se reveste de contornos mais genéricos,
referindo-se a Estados com graus distintos de desenvolvimento e modelos de proteção social.
No que diz respeito à América Latina, há ainda certa resistência quanto à aplicação do
conceito de Estado de bem-estar para analisá-la. Em grande medida, argumenta-se em favor da
especificidade desse fenômeno aos países europeus, por razões históricas e estruturais
1 Draibe (2007) afirma que a primeira geração de estudos comparativos foi inaugurada por Titmuss (1958) seguida
por Marshall (1967), Briggs (1961), Rimlinger (1971), Heclo (1974) e Wilensky (1975). A segunda geração seria
os trabalhos de Flora (1986), Flora e Heidenheimer (1986), Alber (1986); Ferrers (1984) e Áscoli (1984). A essa
lista Amenta (2003) acrescenta os trabalhos de Collier e Messick (1975), John Stephens (1979) e Skocpol (1992).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
46
(Medeiros, 1999). De fato, diferenças entre tais regiões não podem ser desconsideradas; porém
sob o ponto de vista conceitual, a abordagem acima mencionada é perfeitamente aplicável ao
contexto latino-americano. Ainda que menos abrangentes e com características próprias,
comparativamente aos europeus, os programas de seguro e pensões foram introduzidos na
década de 1920 e 1930 na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai (Mesa-Lago, 1985). Isso motivou,
portanto, a realização de estudos comparados acerca desta região (Draibe, 2007).
1.2 Operacionalização
De forma geral, o gasto social2 é o indicador mais frequentemente utilizado como proxy
de Estado de bem-estar. No entanto, ao longo do debate na literatura, certas críticas foram
direcionadas a esse indicador; uma das mais notáveis foi alçada por Esping-Andersen (1991)
que aponta a limitação do aspecto quantitativo representado pelo gasto cujo viés nem sempre
reflete efetivamente a expansão de direitos sociais. Enquanto indicador agregado, o gasto social
encobre a alocação das despesas, de modo a não permitir avaliá-lo de um ponto de vista
qualitativo. De forma ilustrativa, Esping-Andersen (1991) cita o caso da Áustria cujo alto
montante de gasto social era distribuído de forma concentrada em funcionários públicos
privilegiados. Ora, trata-se de uma questão fundamental a se precaver na análise dos casos
latino-americanos. Não por acaso, Filgueira (1997, 2005) e outros autores classificaram os
direitos sociais na América Latina de estratificados, dada a presença de grupos com notáveis
privilégios no acesso a benefícios do Estado. O caráter qualitativo do gasto é especialmente
importante também quando se está em análise o impacto das políticas sociais sobre a
desigualdade. Afinal de contas, a depender da alocação dos recursos, o efeito do Estado de bem-
estar sobre a desigualdade pode ser o de aprofundá-la em vez de atenuá-la.
Outra crítica aponta que a ampliação nos níveis de gasto social pode indicar fenômenos
de natureza distinta em curso, tal como fatores demográficos. A essa questão estudiosos tem
chamado de problema da variável dependente (Clasen e Siegel, 2008). Isto é, muitas análises
centradas no referido indicador não expressam mudanças ocorridos no Estado de bem-estar em
si.
2 Gasto social em proporção com o PIB ou em proporção com os gastos totais do governo.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
47
Diante disso, indicadores alternativos foram testados em novos estudos, porém todos
padecem igualmente de limitações. Grande parte apresenta alta correlação com o gasto social
(Kangas e Palme, 2008) e, por isso, revelam não estarem mensurando dimensão muito distinta
daquela captada pelo indicador tradicional. Cumpre dizer, ainda, que a ausência de dados
impede a reprodução desses indicadores alternativos para uma análise da América Latina. Por
isso, os estudos atentos ao problema da variável dependente contemplam no máximo os países
da OCDE.
Para lidar com tais problemas levantados pela literatura, optamos por erigir a análise a
partir de dados desagregados dos gastos sociais. Teremos em foco aqui três grandes áreas das
políticas sociais: educação, saúde e proteção social. A análise desagregada nos permitirá
observar a alocação dos recursos, bem como verificar qual o efeito separado de cada setor das
políticas sociais sobre a desigualdade. Assim, obteremos uma perspectiva qualitativa do Estado
de bem-estar,
2 DESIGUALDADE
2.1 Conceito
Tal como Estado de Bem-estar, o conceito de desigualdade contém certa profundidade,
pois seu sentido se transformou ao longo do tempo (Sen e Foster, 1997). Nele subjaz, ainda,
outro desafio, na medida em que pressupõe uma ideia de igualdade cujos contornos semânticos
tangem diversas possibilidades. Nessa seara, portanto, incide um exercício conceitual duplo:
definir “igualdade” e “desigualdade”. Ambas inexoravelmente partem de concepções
normativas e, por isso, não raro autores evocam teorias da justiça para embasar suas abordagens
conceituais. 3 Afinal de contas, como atenta Sen (2001), não é trivial justificar o porquê de a
igualdade ser desejável.
Há também outra questão fundamental nesse exercício que, como bem pontua Cowell
(2011[1977]), deve ser respondida: “desigualdade de que?”. Antes de tudo, convém notar que
nas Ciências Sociais se desenvolveu uma percepção complexa da desigualdade a qual
contempla a esfera das relações raciais, de gênero e econômicas. Para cada uma delas existem
3 Ver Sen (2001); e Medeiros (2012).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
48
campos de estudos especializados com extensa literatura produzida. No presente trabalho, a
saber, focaremos sobre a face econômica da desigualdade.
Todavia, ainda que com tal recorte estabelecido, a questão posta acima persiste. Ora,
diversos elementos contemplam as fontes de desigualdade econômica: “renda, riqueza,
realizações, liberdades, direitos?”(Sen, 2001, p. 12). Trabalharemos aqui com o que se
convencionou chamar desigualdade de renda ou de rendimentos que é representada, em grande
medida, pelos níveis de salários (Medeiros, 2012).
Explicitados todos esses pontos, vale dizer que a saída adotada, em geral, pelos autores
é definir a desigualdade de forma comparativa, da seguinte maneira: a > b ou a < b. Isso
significa que a e b são variáveis da mesma natureza e, portanto, são comparáveis, de modo que
a tem uma quantidade maior de desigualdade do que b ou vice-versa. Mas esta relação é posta
de diferentes maneiras na literatura: em alguns casos avalia-se a diferença (subtração) a – b; em
outros, a razão a ÷ b (Cowell, 2011). Mas como destaca Medeiros (2012), não existe a maneira
certa, apenas são abordagens distintas; a primeira equação indica a desigualdade absoluta ao
passo que a segunda indica a desigualdade relativa. A seguir, ao indicarmos a forma de
mensuração com a qual trabalharemos, elucidaremos à qual destas abordagens seguiremos.
2.2 Operacionalização
O termo Gini é uma homenagem ao demógrafo e estatístico Corrado Gini, a quem se
atribui autoria deste indicado. O coeficiente de Gini, assim o como os índices de Theil,
sintetizam a desigualdade em um único valor. Este é um aspecto desejável para a análise que
buscamos erigir aqui. Além disso, o coeficiente de Gini é um dos dados sobre desigualdade
mais disponíveis e. por isso, é bastante útil para o estabelecimento de comparações. O tipo de
desigualdade mensurada pelo coeficiente de Gini é a desigualdade relativa. Além disso,
conforme Medeiros (2012, p. 126):
Aliás, assim como a forma da Curva de Lorenz, o valor do coeficiente
é independente da escala utilizada ou da média da distribuição. Logo,
comparações podem ser feitas independentemente de conversões
cambiais, deflações, crescimento econômico, etc. A medida também
independe do tamanho da população.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
49
Tal índice mensura a distribuição de renda numa sociedade a partir de uma escala entre
0 e 1, na qual 0 representa ausência de desigualdade e 1 denota máxima desigualdade – i.e que
100% dos rendimentos são apropriados por uma pessoa. O cálculo do Gini consiste na metade
da diferença absoluta média dos rendimentos em uma da sociedade (calculados de forma
ordenada), dividido pela média dos rendimentos.
O coeficiente de concentração é uma medida similar ao Gini. Na verdade, como aponta
Medeiros (2012), o Gini é um tipo específico de coeficiente de concentração. Este expressa, por
sua vez, o nível de concentração de uma determinada variável entre indivíduos ordenados
através de outra variável. Varia entre -1 e +1, de modo que, se tivermos em perspectiva a
distribuição de rendimentos em dada sociedade, -1 expressa a concentração total no indivíduo
mais pobre, ao passo que +1 indica concentração total no indivíduo mais rico. Sua diferença é
que o coeficiente de concentração capta valores negativos. Assim, é possível obter valores
acima do patamar máximo de igualdade estabelecido.
Embora constitua uma gama de medidas, estas são também conhecidas como índice de
Atkinson. Isso, pois, todas elas são calculadas a partir da mesma fórmula, porém com
parâmetros distintos. O índice foi assim cunhado em função do seu formulador, o economista
Antony Atkinson. Não obstante destine-se a captar a desigualdade relativa, o índice de Atkinson
pode apresentar distintos cenários, a depender da maneira pela qual o conceito de desigualdade
é definido. Uma de suas características é buscar explicitar a normatividade inerente a qualquer
forma de mensuração da desigualdade, grande parte das quais se tem por norte a igualdade – i.e
presume-se que a igualdade é melhor do que a desigualdade. Nesse sentido, as medidas de
Atkinson invertem o enfoque dos demais índices, buscando avaliar a “aversão à desigualdade”,
de modo a mensurar como determinada distribuição de rendimentos distancia-se de uma
distribuição perfeitamente igualitária.
Existem, ainda, outras maneiras de se mensurar desigualdade, as quais são exploradas
nos trabalhos de Sen (2001), Sen e Foster (1997), Cowell (2011) e Medeiros (2012).
Procuramos enfatizar, nessa breve revisão, as medidas mais frequentemente utilizadas na
literatura. Finalmente, cabe pontuar que optamos por utilizar o Gini em nossa análise: primeiro
porque, vale explicitar, o caráter normativo de nossa análise confere importância à igualdade,
daí o interesse em verificar em que medida o Estado de bem-Estar impacta os níveis de
desigualdade na América Latina; segundo porque, para efeito de comparação, o coeficiente de
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
50
Gini apresenta vantagens dada a ampla disponibilidade de dados, inclusive para a América
Latina.
3 ESTADO DE BEM-ESTAR E DESIGUALDADE NA AMÉRICA LATINA
3.1 Evolução histórica entre 1990 e 2015
Antes de se debruçar sobre a relação entre a desigualdade e o Estado de bem-estar na
América Latina, cabe observar como se deu o desenvolvimento de cada uma dessas variáveis
entre 1990 e 2015. Mais especificamente, verificar se tais fenômenos apresentaram uma
tendência de expansão ou de retração, ao longo do referido período.
Gráfico 1 Evolução das médias de gastos sociais na América Latina (Seguridade, educação e
Saúde), 1990 -2015
Elaboração própria.
Fonte: Cepalstat
O Gráfico 1 demonstra a evolução das médias de gastos em proporção com o PIB
respectivamente de educação, saúde e Seguridade social, na América Latina. Na seguridade,
nota-se um forte avanço nos níveis de gastos entre o início da década de 1990 do qual se seguiu
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
51
uma também forte queda em meados desta década. Queda esta que coincide com o período da
onda de reformas nos sistemas de seguridade social na região. Após isso, os gastos foram
progressivamente crescentes, com uma leve queda entre 2013 e 2015. Quanto aos gastos em
educação, sua expansão é significativa, apresentando a maior variação positiva entre as demais
políticas sociais analisadas: 3% do PIB avança (1990) até quase 5% do PIB (2015). Finalmente,
os níveis de gasto em saúde tiveram tímido avanço, ao longo da década de 1990, ao passo que
após 2004-2005 há um avanço considerável. Em suma, pode-se dizer que, de uma maneira
geral, todos os gastos apresentaram uma tendência de crescimento entre 1990 e 2015, ou seja,
disso é possível intuir a expansão do Estado de bem-estar na região.
Vejamos, agora, no Gráfico 2 a evolução da média do Gini na América Latina.
Gráfico 2 Evolução média do Gini na América Latina, 1990 – 2015
Elaboração própria.
Fonte: Cepalstat
Nota-se que, na década de 1990, ocorre um avanço do índice de Gini médio na região.
No entanto, após 2001, observa-se uma substantiva queda dessa média, o que significa, por sua
vez, redução da desigualdade na região. Em síntese, os dados revelam que, entre 1990 e 2015,
dá-se um processo de expansão do Estado de bem-estar na América Latina, ao mesmo tempo
em que o nível de desigualdade cai.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
52
Por último, no Gráfico 3, observaremos como se deu a variação do Gini para cada país
na América Latina:
Gráfico 3 – Variação Gini entre os países, 1994 – 2015.
Elaboração própria.
Fonte: Cepalstat
O Gráfico 3 demonstra que a maior variação negativa do Gini (ou seja, redução das
desigualdades) se deu em El Salvador e no Brasil. Entretanto, constatou-se também um
processo inverso, de ampliação das desigualdades, cujo caso mais latente é a Colômbia.
3.2 A relação entre Estado de bem-estar e desigualdade na América Latina
Ao observar apenas do ponto de vista longitudinal, aparentemente se sustenta a hipótese
segunda a qual a expansão do Estado de bem-estar resultou na atenuação da desigualdade de
renda na América Latina. Cabe testá-la, por sua vez, em termos estatísticos. Para tanto,
estabeleceremos regressões simples, avaliando separadamente a relação do Gini e as respectivas
variáveis de gasto social. Em seguida, a partir de uma regressão múltipla, como se comportam
as variáveis independentes em relação à variável dependente.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
53
Tabela 1 Regressão Linear Gini e gasto em Educação em proporção com o PIB
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.511913 0.014209 36.027 <2e-16 ***
Educação/PIB 0.003480 0.003272 1.063 0.289
Comecemos, então, pelo gasto social em Educação; a análise estatística apresentada na
Tabela 1 revela correlação positiva (com significância) com o Gini. Resultado tal aponta para
a direção contrária da hipótese com a qual estamos trabalhando aqui. Ora, indica que a
ampliação dos gastos em educação tem impacto de aumento no Gini, tendência que denota o
aprofundamento das desigualdades. Nesse sentido, pode-se dizer que os gastos em educação na
América Latina têm efeito regressivo.
Tabela 2 Regressão Linear Gini e gasto em Seguridade em proporção com o PIB
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.5243020 0.0066324 79.051 <2e-16 ***
Seguridade/PIB 0.0004744 0.0011885 0.399 0.69
A Tabela 2 demonstra que o gasto em seguridade social também é regressivo. Na
verdade, o grau de significância com o Gini é ainda maior do que com o gasto em educação.
Isso revela efeito sobre o aprofundamento das desigualdades de renda na América Latina.
Tabela 3 Gini e Gasto em Saúde em proporção com o PIB
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.538895 0.008794 61.28 <2e-16 ***
Saúde/PIB -0.004170 0.002656 -1.57 0.119
Quanto ao gasto em saúde, a Tabela 3 apresenta a análise estatística realizada com esta
variável. Distintamente, o gasto em saúde se correlaciona negativamente com o Gini, com maior
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
54
grau de significância do que os demais. Daí se constata o efeito progressivo deste gasto,
resultado que corrobora com a hipótese testada.
Tabela 4 Gini e gasto social em Educação, Saúde e Seguridade ( % do PIB)
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.491981 0.013829 35.575 <2e-16 ***
Educação/PIB 0.020018 0.004576 4.374 2.28e-05 ***
Saúde/PIB -0.026372 0.005166 -5.105 9.96e-07 ***
Seguridade/PIB 0.006566 0.001739 3.776 0.00023 ***
Por último, a regressão múltipla estabelecida, com as variáveis em conjunto, endossa os
resultados anteriores. Todas as variáveis mantêm significância considerável - sendo a do gasto
em saúde a maior -, porém duas delas apresentam correlação positiva com o Gini enquanto a
outra tem correlação negativa. Em suma, constatam-se os efeitos regressivos obtidos pelos
gastos em educação e seguridade social, ao passo que os gastos em saúde têm um efeito
progressivo.
Considerações finais
Como vimos, as teorias erigidas acerca dos países da OCDE indicaram impacto da
expansão do Estado de bem-estar sobre a atenuação da desigualdade de renda. À luz dessas
teorias, tomamos tal hipótese para ser testada no âmbito dos países latino-americanos.
Entretanto, se quanto aos gastos em saúde tal hipótese procede, no campo da educação e da
seguridade os efeitos averiguados a partir de nossa análise apontam sentido oposto do esperado.
Estes últimos gastos parecem aprofundar a desigualdade na América Latina.
Tal conclusão corrobora com a hipótese levantada por alguns estudos nos quais se
enfatiza a capacidade de reprodução das desigualdades perpetradas pela própria ação do Estado,
em vez de ser apenas decorrente das distorções do mercado. Para o caso do Brasil, os trabalhos
de Marcelo Medeiros (2012; 2013) têm explorado justamente esses mecanismos de reprodução
das desigualdades imanente às políticas públicas. Quanto à América Latina, estudos nesse
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
55
sentido são escassos, quase sempre enfocam o impacto sobre o fenômeno da pobreza. No
entanto, os resultados obtidos em nossa análise apontam uma tendência similar identificada ao
caso do Brasil, no que concerne à relação entre Estado e desigualdade, para a América Latina
como um tudo. Por isso, a necessidade de aprofundar a pesquisa nessa seara e explorar as razões
por trás dos referidos resultados encontrados neste trabalho.
Na verdade, as teorias sobre o Estado de bem-estar na América Latina levantam
elementos que podem explicar tais resultados. No que se refere à seguridade social, seus efeitos
regressivos decerto remetem ao seu desenho institucional cujas estruturas e trajetória se
diferenciam do padrão observado entre os países europeus. Os primeiros programas de seguro
foram concedidos a grupos de interesses com forte poder de pressão dentro do Estado, militares,
setores da burocracia estatal e políticas. Ainda que a cobertura desses programas tenha se
expandido a outras categorias, não se criou, entretanto, um sistema unificado com regras de
contribuição e acesso comuns, tal qual se constitui entre os países europeus. Na prática, por
toda a América Latina, deflagrou-se um sistema fragmentado – poderia se dizer, inclusive, a
existência de diversos sistemas de seguridade paralelos - com diferentes regimentos conforme
as categorias ocupacionais. Aquelas categorias historicamente com maior poder de pressão
foram contempladas em sistemas privilegiados em relação aos demais. Eis a razão pela qual
autores como Mesa-Lago (1985) e Filgueira (2005) sustentam que os direitos sociais na
América Latina são estratificados.
Há também outro fenômeno que se relaciona ao processo de estratificação na América
Latina. Uma vez que o acesso à previdência requer um vínculo de emprego formal, os
trabalhadores do mercado informal - os quais representam proporção significativa da força de
trabalho nas sociedades latino-americanas – padecem desprotegidos de benefícios fundamentais
como, por exemplo, aposentadoria e seguro desemprego. Fenômeno tal tem pouca relevância
na Europa, dada a menor proporção de trabalhadores informais (Barrientos, 2008; Gough,
2008). Assim sendo, na raiz do caráter regressivo dos sistemas de seguridade reside essa dupla
estratificação.
Quanto à política de educação, é sempre estranho relacioná-la com aumento da
desigualdade, haja vista toda a gama de evidências já existentes, assinaladas pelas chamadas
teorias do capital humano, que apontam seus efeitos progressivos. No caso da América Latina,
uma hipótese plausível tange à concentração dos gastos em educação superior, em detrimento
do investimento em ensino primário, sendo que é justamente este último fator determinante
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
56
para propiciar mobilidade social. Uma breve observada nos dados ratifica esta concentração de
investimento em ensino superior:
Finalmente, o efeito progressivo da política de saúde pode estar relacionado com a
redução do gasto privado em proporção com o gasto público, como destaca Farías (2013). Esse
dado significa aumento no uso dos serviços públicos, independente da capacidade pagamento
e, por isso, pode-se dizer que a política de saúde tornou-se mais acessível. Em outras palavras,
isso indica um sentido de universalização da política de saúde a qual tem efeitos significativos
sobre a redução da desigualdade.
Referências Bibliográficas
AMENTA, E. What we know about the development of the social policy: comparative and
historical research in comparative and historical perspective. In: MAHONEY, J.;
RUESCHEMEYER, D. (Eds.). . Comparative historical analysis in the social sciences.
New York: Cambridge University Press, 2003. p. 91–130.
BARRIENTOS, A. Latin America: towards a liberal-informal welfare regime. In: GOUGH,
I.; WOOD, G. (Eds.). . Insecurity and welfare regimes in Asia, Africa and Latin America:
social policy in development contexts. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
p. 121–168.
BRIGGS, A. The Welfare State in Historical Perspective. In: PIERSON, C.; CASTLES, F. G.
(Eds.). . The welfare state reader. 2. ed. Cambridge: Polity, 2006. p. 16–27.
CLASEN, J.; SIEGEL, N. A. Social rights, structural needs and social expenditure: a
comparative study of 18 OECD countries 1960–2000. In: CLASEN, J.; SIEGEL, N. A.
(Eds.). . Investigating Welfare State Change: The “Dependent Variable Problem” in
Comparative Analysis. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008. p. 106–125.
COWELL, F. Measuring inequality. [s.l.] Oxford University Press, 2011.
DRAIBE, S. Estado de Bem-Estar, desenvolvimento econômico e cidadania: algumas lições
da literatura contemporânea. In: HOCHMAN, G.; ARRETCHE, M.; MARQUES, E. (Eds.). .
Políticas Públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2007. p. 27–64.
DRAIBE, S.; RIESCO, M. Estado de bienestar, desarrolo económico y ciudadanía:
algunas lecciones de la literatura contemporánea: Estudios y perspectivas. México:
CEPAL, 2006.
ESPING-ANDERSEN, G. As três economias políticas do welfare state. Lua Nova: Revista
de Cultura e Política, n. 24, p. 85–116, 1991.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
57
FARÍAS, C. R. Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Chile:
Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe. Santiago, Chile: CEPAL, 2013.
Disponível em: <http://www.equidadparalainfancia.org/wp-
content/uploads/2016/03/Sistemas-de-protecci%C3%B3n-social-en-Chile.pdf>. Acesso em: 4
jul. 2017.
FILGUEIRA, F. Welfare and democracy in Latin America: The development, crises and
aftermath of universal, dual and exclusionary social States. Prepared for the United Nations
Research Institute for Social Development Project on Social Policy and
Democratization, New York, 2005.
FLORA, P. Introduction. In: FLORA, P. (Ed.). . Growth to limits: the western European
welfare states since World War II. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1986. v. 1p. XII–
XXXVI.
GOUGH, I. Welfare Regimes in development contexts: a global and regional analysis. In:
GOUGH, I.; WOOD, G. (Eds.). . Insecurity and welfare regimes in Asia, Africa and Latin
America: social policy in development contexts. 3. ed. Cambridge: Cambridge University
Press, 2004. p. 15–48.
HUBER, E.; STEPHENS, J. D. Development and crisis of the welfare state: parties and
policies in global markets. Chicago: University of Chicago Press, 2001.
KANGAS, O.; PALME, J. Social rights, structural needs and social expenditure: a
comparative study of 18 OECD countries 1960–2000. In: CLASEN, J.; SIEGEL, N. A.
(Eds.). . Investigating Welfare State Change: The “Dependent Variable Problem” in
Comparative Analysis. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008. p. 106–125.
KUHNLE, S.; SANDER, A. The emergence of the welfare state. In: CASTLES, F. et al.
(Eds.). . The Oxford handbook of the welfare state. Oxford: Oxford University Press, 2010.
p. 61–80.
MEDEIROS, M. Medidas de Desigualdade e Pobreza. Brasília: UNB, 2012.
MEDEIROS, M. M. A transposição de teorias sobre a institucionalização do welfare state
para o caso dos países subdesenvolvidos. Rio de Janeiro: IPEA, 1999. Disponível em:
<http://www.livrosgratis.com.br/arquivos_livros/td_0695.pdf>. Acesso em: 26 dez. 2013.
MEDEIROS, M.; SOUZA, P. Gasto público, tributos e desigualdade de renda no Brasil. 2013.
MESA-LAGO, C. Desarrollo de la seguridad social en América Latina: Estudios y
informes de la Cepal. Santiago: Chile: Naciones Unidas, 1985. Disponível em:
<http://repositorio.cepal.org/handle/11362/8315>. Acesso em: 21 out. 2014.
NULLMEIER, F.; KAUFMANN, F.-X. Post-War Welfare State Development. In:
CASTLES, F. et al. (Eds.). . The Oxford handbook of the welfare state. Oxford: Oxford
University Press, 2010. p. 81–101.
PIERSON, C. Beyond the welfare state?: the new political economy of welfare. University
Park: Penn State Press, 1998.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
58
PIKETTY, T. Capital in the Twenty First Century. Traducao Arthur Goldhammer.
Cambridge Massachusetts: Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press, 2014.
POLANYI, K. A grande transformação: as origens da nossa época. Rio de Janeiro:
Campus, 1980.
SEN, A. Inequality reexamined. Reprint ed. New York: Oxford Univ. Press, 2001.
SEN, A.; FOSTER, J. E. On economic inequality. Enl. ed ed. Oxford : New York: Clarendon
Press ; Oxford University Press, 1997.
WILENSKY, H. L. The welfare state and equality: structural and ideological roots of
public expenditures. Berkeley: University of California Press, 1974.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
59
Coletivo de mulheres universitárias: nova forma de fazer política
feminista? Uma análise utilizando process-tracing sobre a criação dos coletivos
universitários no contexto da PUC-Rio
Elaine de Azevedo Maria1
Pretende-se evidenciar a importância do coletivo de mulheres da PUC-RIO na política
universitária e no desenvolvimento das habilidades políticas de suas integrantes. Para tanto a
metodologia escolhida foi o process-tracing por ter estrutura de rastreamento causal. Deseja-se
compreender, através da sequência dos acontecimentos, os fatos, autoras e autores que
motivaram a criação dos coletivos universitários dentro desta universidade.
Este trabalho faz parte da minha da pesquisa de mestrado onde analiso a importância da
participação no coletivo de mulheres para a formação profissional da universitária da PUC-Rio.
Ao analisar os acontecimentos históricos e a influência do coletivo de mulheres (CM) na criação
dos outros coletivos universitários eu utilizo dados de entrevistas que estão em processo para a
minha dissertação. Como ainda estou na etapa de coleta de dados e por não ser o objetivo aqui,
limito a utilizar as minhas inferências e impressões sobre as entrevistas. Como exemplo cito
que o coletivo se fortaleceu após a organização da semana internacional da mulher de 2015.
Esta informação não está vinculada a nenhuma entrevista neste presente trabalho, pois aqui não
é o foco principal a análise das entrevistas, mas cito esta informação por ser relevante para a
análise política.
Inicialmente analisarei a transformação do movimento social, em especial os
universitários. Em seguida apresentarei o método process-tracing e finalmente analisarei o caso
da PUC-Rio, onde o CM foi pioneiro.
As modificações dos movimentos de mobilização política universitária
Até o início do século XXI a política estudantil dentro da PUC-Rio era composta por
Centros Acadêmicos (CA) de diversos cursos existentes na universidade e pelo Diretório
Central dos Estudantes (DCE). Os movimentos sociais no Brasil presenciaram um novo
1 Mestranda em Ciências Sociais na PUC-Rio; e-mail: [email protected]; currículo lattes:
http://lattes.cnpq.br/6303484448870115
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
60
dinamismo após o início da redemocratização brasileira, com pauta na agenda pública voltada
para questões específicas ligadas à maior justiça social e com os movimentos sociais que se
organizaram para cobrar a solução dos déficits dos mais variados tipos de Direitos Humanos
(PAIVA, 2014). Neste contexto, o ambiente universitário também teve sua estrutura
reivindicatória alterada. Os CAs e o DCE eram a única forma2 que os estudantes usavam para
realizar suas reivindicações perante a própria universidade e suas manifestações políticas. Suas
estruturas são representativa, através de eleições periódicas onde grupos de alunos se
candidatam e o mais votado assume a diretoria do CA, com cargos pré-definidos e buscam
cumprir o que foi estipulado na campanha eleitoral.
Todavia verifica-se a alteração na estrutura dos movimentos estudantis com a
proliferação dos Coletivos, onde não há hierarquia entre os membros, eleições ou mandato. O
coletivo não possui um representante, pois todos os membros atuam de forma direta nas
decisões do grupo. No site do DCE podemos ver a definição: “Os coletivos são formados por
estudantes que possuem opiniões, ideias e pautas em comum sobre a universidade e a sociedade
em geral” (PUC-Rio, 2017). É necessário ressaltar, todavia, que os Coletivos não acabaram
com os CAs, estes dois movimentos existem atualmente na PUC-Rio. Verifica-se que existem
nove Coletivos e 20 CAs (Puc-Rio, 2017), todavia os CAs são todos antigos na estrutura do
DCE e os coletivos são novos e estão aumentando cada vez mais entre os estudantes.
De acordo com Paiva (2014) convencionou-se a chamar de “novos” movimentos sociais
aqueles cujas reivindicações não estão relacionadas nem à classe nem aos sindicatos e tão pouco
a partidos políticos. Desse modo, o conceito da autora corrobora com a proposta dos Coletivos.
Além disso, percebe-se a forma e o lugar que os grupos se encontram para debater, interagir e
deliberar são convergente com a forma que a nova juventude interage.
Ressaltamos também que a educação não se resume à educação escolar, realizada na
escola propriamente dita. “Há aprendizagens e produção de saberes em outros espaços, aqui
denominados de educação não formal” Gohn (2011). Este conceito amplo do que é educação
abarca os coletivos universitários, pois percebemos nele uma contribuição única e fundamental
para a formação universitária. Gohn diz
2 As Atléticas são também organizações universitárias antigas na PUC-Rio, todavia por serem mais voltadas para a promoção de festas e campeonatos esportivos e não terem pauta política preferiu-se não abordá-las neste trabalho.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
61
“há um caráter educativo nas práticas que se desenrolam no ato de participar, tanto para os
membros da sociedade civil, como para a sociedade mais geral, e também para os órgãos
públicos envolvidos – quando há negociações, diálogos ou confrontos (GOHN 2011)”
E percebemos que os coletivos universitários pode ser enquadrado de forma precisa
neste seu conceito. Este novo movimento social contribui para a formação político-social do
estudante, além de estimular o respeito, a escuta e o diálogo..
Utilizando o process-tracing
Para entender o processo de mudança na estrutura política do cenário desta universidade
foi realizado o estudo pelo método das ciências sociais chamado process-tracing, onde
relacionamos os acontecimentos históricos. O método consiste em buscar relações causais em
uma série sequencial de eventos, mostrando, assim, qual evento gerou outro até se chegar ao
evento final desejado.
O objetivo é perceber as influências do CM na criação dos coletivos universitários e
nesta mudança de forma de política estudantil. Para tal dividimos os acontecimentos em 5
categorias: repercussão na mídia, eventos dentro da PUC-Rio, protestos, criação dos coletivos
universitários e DCE. Chamaremos cada categoria de módulo e a sequência dos acontecimentos
dentros desses módulos será cronológica.
É impar ressaltar que os fatos ocorridos na PUC-Rio historicamente repercutem de
forma intensa e veloz na mídia carioca. Alguns fatores como a proximidade geográfica com a
sede da Globo e a presença de personalidades políticas e midiáticas - e seus filhos universitários
- explicam esta presença constante na imprensa. Esta repercussão influencia diretamente na
agenda de eventos e de protestos, por isso a necessidade de inclusão deste módulo.
Os eventos ocorridos na PUC que serão analisados são: organização do dia internacional
da mulher, o debate entre Flávio Bolsonaro e Tarcísio Motta e a ocupação do pilotis da PUC-
Rio. Estes formam o módulo evento. Paralelamente analisaremos o módulo protesto, que é
ligado diretamente ao módulo evento.
A criação dos coletivos, as eleições no DCE foram os outros dois módulos utilizados na
metodologia. Assim poderemos inferir a implicação de um evento e sua repercussão na criação
dos coletivos e nas eleições do DCE. Espera-se perceber se e como o CM participou desta
mudança.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
62
Estas relações entre os acontecimentos ficarão mais claras com a apresentação do
process-tracing que demonstrará visualmente a relação entre todos os módulos. Os módulos
foram divididos em cores, cada números indicam um acontecimento e as setas a direção de
causalidade. Os atos são tendencialmente sequenciais ( 9 vem antes de 12, ou seja o debate já
citado foi anterior à criação do coletivo nuvem negra).
A luta política das mulheres na PUC-Rio
A escolha desta metodologia foi feita pois espera-se que auxilie na análise da
participação das mulheres na transformação dos movimentos sociais na PUC-Rio. Toda a
análise a seguir teve seu ponto de partida no método do process-tracing, que permitiu encadear
os acontecimentos de maneira a aumentar a capacidade explicativa.
Quando da criação do CM o Brasil atravessava um grande debate sobre a
representatividade das mulheres na política, culminando com a publicação da lei 12.034 de
2009, chamada lei dos partidos políticos. Por meio dela, os partidos passaram a ser obrigados a
preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. O DCE da
PUC-Rio era composto por integrantes da esquerda, em especial do Partido dos Trabalhadores.
Na chapa havia poucas mulheres e estas participaram da criação do CM. Neste contexto que o
CM é criado, como uma nova alternativa de luta política das mulheres na universidade.
Até o ano de 2014 o movimento articulou de forma intrínseca com o DCE, porém esta
ruptura aconteceu com a mudança de chapa em 2014, com a vitória da chapa Muda, de direita.
Esta modificação na orientação política do DCE foi decorrente da grande mobilização da
campanha eleitoral de Aécio Neves dentro da PUC-Rio contra a Dilma em sua reeleição. Os
alunos de direita se mobilizaram para o Aécio, mas ganharam o DCE.
A ruptura entre o CM e o DCE foi provocadora para o CM ter mais autonomia. A
indignação pela vitória da direita provocou o debate político e a necessidade dos membros da
antiga chapa perdedora atuarem de forma mais intensa no campus, mesmo não estando com
cargos eletivos do DCE.
Já no começo do ano letivo de 2015 o CM organizou a “semana do dia internacional da
mulher”. A divulgação deste evento provocou muitas e severas críticas da Igreja Católica e de
conservadores pois abordava temas como o aborto. Este evento causou muitos protestos dentro
e fora da universidade, todavia fortaleceu o CM.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
63
Como primeiro importante evento o novo DCE realizou um debate com Flávio
Bolsonaro e Tarcísio Motta. Este evento mobilizou intensamente o campus e no dia o ginásio,
que tem capacidade para 5.000 pessoas, estava lotado. Eu tentei comparecer e fiquei escutando
o debate e os muitos gritos de apoio e de protestos as duas partes de muito longe, pois estava
extremamente cheio.
Houve vários grupos que se reuniram para organizar protestos contra este debate,
alegando que o discurso de ódio e fascismo não poderia entrar na universidade. Estas reuniões
eram frequentadas por integrantes do CM e de outros estudantes que não tinha o pertencimento
a nenhum grupo. Estes estudantes “sem grupo” perceberam que tinham iguais demandas,
gerando a criação do coletivo Nuvem Negra (composto de alunos negros) em abril de 2015 e
um mês depois do coletivo Madame Satã, cujos integrantes são homossexuais e pobres da PUC-
Rio.
Percebe-se que o debate fortaleceu a união com base nas identidades e o reconhecimento
de lutas. Gays, negros e mulheres se fortaleceram com a união em coletivos. Estes se tornaram
muito populares e atuantes no campus. Importante ressaltar que todos os coletivos até então são
frontalmente contra os membros eleitos do DCE. Havia a união dos coletivos em busca de
representatividade junto à instituição e a identificação dos seus membros contra um único
adversário político.
Todavia esta mobilização não foi o suficiente para, no final do ano de 2015, a chapa
Muda não fosse reeleita para o DCE. A chapa contrária - Renova - era composta por
representantes dos coletivos. Apesar da grande disputa e pequena diferença entre as chapas, os
estudantes com orientação política mais à direita continuaram no poder.
O ano de 2016 foi marcado pela quantidade de novos coletivos, como o coletivo
Bastardos da PUC e o coletivo Vila, este em sua descrição já definia que era composto pela a
esquerda da PUC-Rio. A união desses novos coletivos com os já existentes mobilizaram a
ocupação dos pilotis, onde os jovens acamparam no prédio principal da PUC-Rio. Eles dormiam
em barracas e durante o dia propuseram várias atividades. Chamaram muitos políticos de
esquerda, ativistas dos Direitos Humanos, e professores de dentro e de fora da universidade
para dar aulas públicas, palestras e realizar debates3.
3 A vereadora executada Marielle Franco, ex aluna da PUC-Rio compareceu na ocupação e leu uma
moção de apoio ao coletivo Bastardos.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
64
Importante ressaltar que houve uma assembleia sobre o início da ocupação, onde o DCE
se manifestou contrário. Houve a publicação de uma nota pública que se definiam como
indignados por sua posição não ser respeitada, tendo em vista que eles era os representantes do
corpo discente. A resposta dos animadores da ocupação foi que eles não queriam mais
representantes, que estavam fazendo política de forma direta, assim como nos coletivos.
Percebe-se que a horizontalidade existente nos coletivos permitiu que os universitários se
manifestassem desta maneira.
Este evento ocupou fisicamente a universidade durante um mês. Durante a ocupação
ocorreu a eleição do DCE, com a vitória da chapa Renova, composta pelos membros dos
coletivos e de integrantes de esquerda. Percebe-se como a ocupação foi importante para a
conquista do DCE.
A ocupação não teve líderes nomeados, oficiais. Todavia percebia que os maiores
animadores eram membros de um - ou mais - coletivos. Inclusive as reuniões dos coletivos
ocorriam dentro do espaço da intervenção. Entre estes estudantes percebia-se que o CM estava
atuando de forma ativa e com protagonismo, como consequência a chapa vencedora do DCE
era composta por mais de 50% de mulheres.
Conclusão
De acordo com Kergoat (2010), “o que pode de fato questionar as relações sociais de
sexo são as práticas sociais coletivas: por exemplo, decisões como quais as mulheres que terão
as responsabilidades formais (presidência da associação) e práticas (responsabilidades
organizacionais durante as manifestações), ou a decisão de que haja um aprendizado coletivo
em situações de fala diante de um público etc”. Nessa perspectiva, as mulheres, ao buscarem
seu espaço no universo da política acadêmica, passam a ter poder de ação na construção e
desenvolvimento dessas relações sociais, o que interfere na imagem imposta de feminilidade.
Se as práticas sociais coletivas podem questionar as relações de poder (KERGOAT, 2010), o
CM pode ser um espaço de fala que as integrantes possuem para tomarem decisões e romper
com os velhos mecanismos da política. Estes são práticas que permanecem nas relações sociais
ao longo do tempo, sendo a figura masculina como referência de lugar de fala e dominação. O
CM pode ser utilizado como um meio para romper com a dinâmica da dominação masculina,
possibilitando que as relações intersubjetivas e sociais que possam modificar as práticas sociais.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
65
Percebe-se como a discussão em torno da lei do partido político modificou não apenas
o cenário político tradicional, como também o universitário. Todavia a forma que ocorreu foi
diferente do esperado, não com a implementação de cotas nas chapas do DCE, mas uma nova
forma de fazer política, os coletivos universitários. Estes novos movimentos sociais onde as
relações de poder não são verticalizadas, como na política tradicional - característica do
patriarcado - e sim são horizontais, onde se busca a representatividade e atuação política de
forma direta.
Bibliografia
GOMIDE, Raphael. O PSDB ganhou... no terceiro turno da PUC: Na tradicional
universidade carioca, alunos de orientação liberal quebram o domínio político da esquerda.
2015. <https://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/01/o-psdb-ganhou-bno-terceiro-turno-da-
pucb.html>
GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais na contemporaneidade. Rev. Bras. Educ., Rio
de Janeiro, v. 16, n. 47, p. 333-361, ago. 2011. Disponível
em<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
24782011000200005&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 28 maio 2018.
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782011000200005.
KERGOAT, Danièle. Dinâmica e consubstancialidade das relações sociais. Novos estud. -
CEBRAP, São Paulo, n. 86, p. 93-103, Mar. 2010.
PAIVA, Angela Randolpho et al (Org.). Movimentos sociais e teoria crítica: notas sobre a
redemocratização brasileira In: D'ARAUJO, Maria Celina Soares. Redemocratização e
mudança social no Brasil. Rio de Janeiro: Fgv, 2014. Cap. 22431004. p. 5-5.
PUC-RIO, Dce Raul Amaro. Centros Acadêmicos. Disponível em:
<http://dcepucrio.org/novo/>. Acesso em: 06 jun. 2017
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
67
2009 – Criação do Coletivo de mulheres da PUC-Rio
2014 – Gestão da chapa Roda Viva. Chapa de esquerda com muitos membros do PT
26/11/14 – Eleição do DCE Vitória da Chapa Muda
30/11/2014 – Ancelmo Góis publicou uma nota intitulada “Aécio venceu na PUC”. No texto, o jornalista afirma ainda que a chapa é “próxima ideologicamente dos tucanos”.
02/15 – Organização da Semana do Dia Internacional da Mulher promovido pelo CASOC e pelo Coletivo de Mulheres da PUC-Rio
24/02/2015 - Matéria do Jornal O GLOBO "Católicos criam petição contra evento da PUC-Rio que celebrará o Dia Internacional da Mulher"
02/15 – Grande protesto da ala conservadora da Igreja Católica
03/2015 – Semana do Dia Internacional da Mulher promovido pelo CASOC. Evento despertou grande protesto da ala conservadora da Igreja Católica. Evento ocorreu sob
protesto e com alteração na programação.
25/03/2015 – debate entre o deputado estadual Flávio Bolsonaro (PP) e o professor Tarcísio Motta lotou o Ginásio com cerca de mil e 700 alunos.
25/03/15 - Grande manifestação contra o Debate
26/03/15 - Matéria no Portal R7 Rio: Debate entre Tarcísio (Psol) e Bolsonaro (PP) sobre desmilitarização da PM acaba em briga de militantes
02/04/2015 – Criação do Coletivo Nuvem negra
05/2015 – Criação do Coletivo Madame Satã
11 e 12/11/2015 – Eleição do DCE: Vitória Chapa Muda
18/02/2016 – Criação do facebook do Coletivo Vila
08/09/16 Criação do Coletivo Bastardos da PUC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
00
00
11
00
00 12
00
00
13
00
00
14
00
00 15
00
00
16
00
00
0
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
68
06/10/2016 – BBC publica a matéria: ‘A professora não gostava de pobre’: bolsistas criam página contra preconceito em universidade carioca
16/11/2016 – Início das ocupações do Pilotis
17/1/2016 - Matéria do Jornal O GLOBO - Com barracas, alunos ocupam a PUC-Rio contra PEC do teto de gastos
17/11/2016 – Declaração do DCE gestão MUDA contrário a ocupação
23 e 24/11/2016 – Eleição do DCE. Vitória da Chapa Renova
18/12/2016 – Fim da ocupação do Pilotis
17
00
00
18
00
00
0 19
00
00
0
21
00
00
0
20
10
00
00
22
11
00
00
0
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
69
Paradigmas da Globalização na América Latina e no Leste Asiático: uma
reinterpretação histórica das economias políticas de Brasil e China
Rafael Shoenmann de Moura1
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo reinterpretar as trajetórias históricas dos
regimes produtivos de Brasil e China a partir das mudanças na economia internacional ao
longo das décadas de 1970, 1980 e 1990, nosso recorte temporal. Para tal empenho
analítico, será utilizada a segmentação feita pelo autor Dani Rodrik do processo de
globalização em dois distintos paradigmas: um primeiro regido pelo sistema monetário de
Bretton Woods, em resposta ao capitalismo de laissez faire prévio à 1ª Guerra Mundial e
que facultava maior controle de capitais; e um segundo assentado na crescente
financeirização e desregulamentação das economias. Cada um desses paradigmas que regia
o sistema internacional guardava diferentes implicações no que tange às possibilidades e
empecilhos colocados ao desenvolvimento dos países periféricos, afetando o policy space
dos Estados nacionais em cada região. Tendo isto em vista, a questão de pesquisa colocada
é: as mudanças engendradas pela transição desses paradigmas globalizantes foram decisivas
para reorientar as trajetórias de Brasil e China? Em caso afirmativo, de que modo e em qual
medida? Minha hipótese é de que a passagem do arcabouço de governança keynesiano e
regulado do imediato Pós-Guerra para o financeirizado na virada dos anos 1970 para 1980
trouxe consequências distintas e assimétricas para América Latina e Leste Asiático. Se na
primeira região representou um esgarçamento externo aos modelos desenvolvimentistas
prévios pautados pelo endividamento para financiar o crescimento, na segunda incentivou
uma centralização das cadeias manufatureiras de bens de consumo leves na China a partir
do influxo de capitais e do salto produtivo “forçado” dos Tigres Asiáticos. A metodologia
aqui operada será qualitativa e descritiva; tendo como eixo norteador do paper o conceito
de conjuntura crítica, a fim de conferir maior qualidade ao estudo comparativo.
Palavras-Chave: Globalização; Conjuntura Crítica; Economia Política; América Latina;
Leste Asiático.
1.1: Introdução
1 Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais
e Políticos (IESP-UERJ). Pesquisador integrante do Núcleo de Estudos do Empresariado,
Instituições e Capitalismo (NEIC) e do INCT/PPED, também é vinculado ao Laboratório de Estudos
em Economia Política da China (LabChina-UFRJ) e à Associação Latino-Americana de Ciência
Política (ALACIP), onde desempenha as funções de consultor e secretário assistente. Email:
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
70
Uma das dificuldades mais encontradas em trabalhos buscando reconstituir trajetórias
de economias políticas ou mapear mudanças e viragens institucionais diz respeito ao fato de
o processo de desenvolvimento ser complexo e fruto de múltiplas e simultâneas variáveis,
facetas e fatores (GEREFFI, 1990). Estes fatores, por sua vez, compreendem desde
mudanças no ordenamento geopolítico internacional (afetando em graus distintos os países
conforme suas estruturas produtivas e posicionamentos no sistema interestatal capitalista) até
as inclinações e projetos de país específicos das elites e atores sociais de cada realidade
nacional, buscando sempre orientar a política econômica numa direção desejada mediante
instituições, regras e incentivos (ACEMOGLU e ROBINSON, 2012). Sendo assim, é seguro
dizer que todo processo de mudança deve ser esmiuçado sob uma perspectiva histórica que
considere tanto elementos exógenos – fora da alçada dos policymakers – quanto endógenos,
referentes às preferências e escolhas políticas domésticas postas em prática, total ou
parcialmente. Portanto, é munido de tal perspectiva que tento neste artigo fazer um estudo
investigativo e comparado de Brasil e China. Ciente das colossais discrepâncias históricas,
culturais e institucionais desses dois países, considero que as mesmas, longe de serem
impeditivas para a pesquisa, enriquecem e contribuem para uma análise dos processos de
inserção na globalização, contrastando um caso de “sucesso” em seu catching-up com outro
de “fracasso”, incapaz de adentrar numa rota de crescimento econômico virtuoso e
sustentado com redução das assimetrias produtivas e sociais.2
Compreendendo um ensaio de futuro capítulo para minha Tese, debruçada esta sobre
as trajetórias de desenvolvimento e o comportamento dos atores societais dos casos
estudados em meio à globalização financeira, o presente trabalho em particular delimita meu
ponto de partida cronológico: a conjuntura crítica causada pela mudança de paradigma
globalizante em meio às profundas transformações da economia internacional nas décadas de
1970 e 1980, induzidas por fatores geopolíticos e estruturais. Conforme elucidarei, tais
transformações condicionariam decisivamente as possibilidades e os limites futuros
encontrados por Brasil e China em termos de inserção e projeção externa, sendo também
responsáveis por uma descontinuidade com relação aos seus legados prévios de economias
políticas (sendo no primeiro caso o nacional desenvolvimentismo autoritário substitutivo de
importações e, no segundo, o regime de planificação maoísta). Destarte, em função da
magnitude de tal mudança, uma análise cuidadosa dessa conjuntura crítica demandaria
destrinchar as novas clivagens e legados estabelecidos, bem como seus atributos e
2 Catching-up é um termo utilizado na literatura econômica em referência a processos de
desenvolvimento industrializantes e retardatários onde se dá uma diminuição da distância entre
países pobres/periféricos e centrais no que se refere ao nível de produtividade, renda, tecnologia e
sofisticação da estrutura produtiva. Denota, desta forma, uma ascensão na hierarquia da divisão
internacional do trabalho capitalista. Para visões históricas sobre os processos de catching-up, ver
Abramovitz (1986); Chang (2004b); Fagerberg e Srholec (2005).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
71
mecanismos de produção e reprodução (COLLIER e COLLIER, 1991). Por isso, dedico este
artigo para realizar tal radiografia com a devida meticulosidade.
Nas próximas duas seções, embasado pelo recorte conceitual apresentado na obra de
Dani Rodrik “The Globazation Paradox” (2012), irei descrever os dois referidos paradigmas
históricos globalizantes que regeram a economia mundial desde o fim da 2ª Guerra Mundial,
com distintas implicações políticas para a margem de manobra dos Estados nacionais e para
os governos dos países centrais e/ou periféricos. Em seguida, na seção 1.4, matizarei como a
transição entre esses paradigmas impactou decisivamente na reorientação dos regimes
produtivos vigentes na América Latina e no Leste Asiático, apresentando lógicas regionais
distintas para cada e afetando com grande severidade países de inclinação
desenvolvimentista. Por fim, a seção “conclusiva” (1.5) adentrará nos casos brasileiro e
chinês, discorrendo sobre como seus governos processaram e intermediaram tais mudanças e
tendências geopolíticas globais e regionais, moldando as opções disponíveis de estratégias de
desenvolvimento, compreendidas como arranjos de políticas governamentais modelando a
relação de uma nação com a economia mundial, afetando diretamente a alocação de recursos
entre indústrias e grupos sociais domésticos (GEREFFI, 1990: p.23). A seção 1.6
compreenderá as considerações finais.
1.2: O paradigma da globalização comercial: Bretton Woods e a reconstrução da
ordem econômica internacional no Pós-Guerra
Uma compreensão acurada do atual capitalismo globalizado requer, imperativamente,
uma reavaliação histórica dos regimes de governança que moldaram a ordem internacional
no Pós-Guerra, esclarecendo as correlações de forças e as mudanças sistêmicas que pautaram
a evolução da trajetória recente da economia política mundial. Compostos de princípios e
normas diversas, tais regimes internacionais são úteis por representar manifestações
concretas da internacionalização da autoridade política; trazendo ainda, mediante instituições
e estruturas econômicas, um elo de convergência entre poder e propósitos sociais específicos
dos atores (RUGGIE, 1983: p.380).
Dito isso, a globalização é aqui concebida dentro de um recorte compreendendo dois
processos de naturezas distintas: um primeiro imbuído da crescente interdependência
comercial de bens e serviços entre as nações, principalmente as desenvolvidas mas também,
em certa medida, as periféricas ou do “Terceiro Mundo”; e outro pautado pela desregulação
e intensificação dos fluxos financeiros, com um número cada vez maior de moedas, valores
mobiliários, derivativos, e ativos financeiros em geral trocados por todo o globo (RODRIK,
2012). Tais processos compreendem capítulos cronológicos distintos da história econômica
mundial: o primeiro diz respeito ao que se convenciona chamar “Era de Ouro” do
capitalismo, um período excepcional de crescimento com progresso material e social
circunscrito com particular intensidade aos países centrais, embora seus efeitos também se
fizessem sentir, direta ou indiretamente, no mundo todo (GLYN et al, 1990; HOBSBAWN,
1995). Já o segundo, traçado a partir de meados da década de 1970, deflagra mudanças
fundamentais nos padrões de funcionamento vigentes das economias nacionais: por um lado,
esta foi operada a partir da ação intencional de determinados atores políticos e sua inclinação
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
72
liberalizante após um “turning point” ideológico; e, por outro, foi consequência inexorável
do esgotamento do arcabouço institucional keynesiano prévio, tensionado por debilidades
próprias e questões geopolíticas (BOYER, 1996). Nos próximos parágrafos, descreverei um
pouco mais tais períodos históricos com o intuito de contextualizar melhor o leitor aos
paradigmas conceituais globalizantes de Rodrik que serão empregados.
O período compreendido entre 1945 e meados dos anos 1970 constituiu um onde o
capitalismo se viu deliberadamente reestruturado em suas próprias fundações. As lembranças
e o imaginário social do antigo ordenamento de laissez faire e também de vasto desemprego
e recessão após a quebra da bolsa de valores estadunidense em 1929 eram suficientes para
incutir, na visão dos formuladores de decisões governamentais, quatro imperativos básicos
(HOBSBAWN, 1995: p.266-7):
a) Deveria ser evitado ao máximo um novo colapso do sistema comercial e financeiro global,
como o que foi responsável por ocasionar a catástrofe do entre-guerras;
b) A nova hegemonia dos Estados Unidos (EUA) e do dólar americano (US$) deveria ser o eixo
condutor do novo sistema, provendo meios de estabilização econômica;
c) A memória da Grande Depressão como produto da desregulação exacerbada dos mercados
fazia com que fossem instituídas esquemáticas fortes de planejamento público diretivo; e, por
fim,
d) O desemprego em massa deveria ser remediado a todo custo, de modo a impedir
instabilidades políticas e sociais.
Em suma, tanto políticos quanto diversas autoridades e empresários, inseridos nas
mais distintas clivagens ideológicas, rejeitavam o retorno a um paradigma de “livre
mercado” auto-regulado, redesenhando seus objetivos para a contenção do comunismo e
também para a modernização de economias atrasadas ou em ruínas (HOBSBAWN, 1995).
Portanto, a estabilidade social lograda no Pós-Guerra foi produto, dentre outras coisas, de
reformas institucionais visando limitar os efeitos nocivos dos mercados e da circulação de
capitais sobre as sociedades (HELLEINER, 1994; BOYER, 1996). Nos esforços de
reconstrução da economia internacional após o conflito, tanto bens de consumo finais quanto
intermediários passavam a ser organizados conforme um novo padrão de competição
oligopolista, com formação de cartéis e regulações específicas. De maneira geral, foi operada
uma verdadeira revolução keynesiana na macroeconomia dos países centrais, com o
estabelecimento de um regime monetário global pensando a estabilidade enquanto um bem
público que deveria ser fornecido pelos recém-criados Bancos Centrais (BACENS), munidos
de dispositivos complexos que eram impostos aos bancos comerciais e demais instituições
financeiras. A formação salarial, por sua vez, passava a se assentar sob um compromisso
entre capital (K) e trabalho (L) que codificava para a população os benefícios do novo modo
de produção industrial fordista que encontrava seu ápice (BOYER, 1996).
Tal nova ordem econômica, ditada pela tônica da integração comercial, teria suas
regras governadas pelo regime de Bretton Woods, arranjo instaurado a partir de 1944 e
permeado por um multilateralismo “imbricado” facultando aos governos maior autonomia
para suas políticas intervencionistas orientadas ao mercado interno, em constante busca pelo
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
73
equilíbrio adequado entre múltiplos objetivos advindos da expansão multilateral do comércio
(RUGGIE, 1983; CARVALHO, 2004; RODRIK, 2012). Sendo fruto direto de um extenso
debate iniciado na década de 1940, as instituições propostas pelo regime tinham suas
arquiteturas voltadas para guiar a economia mundial rumo a um paradigma distintivo do
antigo modelo liberal do Pré-Guerra: um cenário de maior crescimento econômico com
baixo desemprego e geração de renda, corporificando uma engenharia institucional que
efetivamente contribuísse para a regulação e elaboração de políticas públicas coordenadas,
provendo estabilidade interna sem, concomitantemente, acirrar consequências externas
mutuamente destrutivas (RUGGIE, 1983). Em resumo, o arcabouço de governança fornecido
por Bretton Woods e pelo paradigma de globalização por este engendrado contribuiu para
estabelecer um compromisso entre a liberalização comercial vigorosa incessante e uma
margem de manobra para os Estados nacionais responderem às respectivas demandas
domésticas, como: pleno emprego, crescimento econômico, equidade, seguridade social, etc.
(RODRIK, 2012).
Refletindo sobre o fenômeno da globalização através de uma perspectiva
integracionista, exemplificada pela proporção das exportações e importações sobre o Produto
Interno Bruto (PIB), as décadas conseguintes à 2ª Guerra Mundial podem ser descritas como
representantes, acima de tudo, de um grande reflorescimento do comércio internacional,
puxado principalmente pela Europa e que perduraria pelo resto do século XX, conforme
atesta o Gráfico 1 abaixo:
Gráfico 1 – Globalização comercial ao longo do século XX e XXI (Exportações +
Importações como % do PIB)
Fonte: WORLD BANK, World Development Indicators.
Neste período, as próprias relações entre Estado e sociedade civil também foram
reconfiguradas profundamente na direção de uma rede crescente amalgamando conquistas
sociais a estratégias autóctones de desenvolvimento econômico, com os governos assumindo
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
20
12
20
14
20
16
EUA
União Europeia
Leste Asiático
América Latina & Caribe
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
74
um papel mais direto e ativo na provisão do interesse geral dos cidadãos e atores, com uma
mudança considerável na própria natureza e concepção do envolvimento da autoridade
pública que deflagrava o advento do “Estado-providência” (JUDT, 2008). Os governos dos
países centrais ampliaram, dessa maneira, a prestação de serviços e programas de
transferência de renda, se utilizando, grosso modo, de uma série de instrumentos de política
fiscal e monetária tais como gastos públicos e impostos (com confecção de sistemas
tributários mais progressivos e distributivistas), buscando gerenciar adequadamente o
desemprego e os efeitos adversos dos ciclos de negócios. Vale lembrar também que, sob a
égide do novo arcabouço internacional vigente, as economias nacionais dos países
desenvolvidos passavam a funcionar conforme o arquétipo da “Curva de Phillips”: um trade-
off entre inflação e desemprego no curto prazo, onde baixas taxas de desocupação
inexoravelmente traziam pressões inflacionárias pelos vetores dos salários e aquecimento do
consumo, enquanto que um maior desemprego contribuiria para arrefecer os preços
(FROYEN, 1997). Pelas décadas de 1950, 1960 e até o início da de 1970, tal arquétipo –
derivado da teoria macroeconômica keynesiana – serviu de referência para estruturar a
competição eleitoral e a clivagem entre as preferências políticas das forças mais social
democratas/trabalhistas e as liberais, nos EUA e na Europa (HIBBS, 1977).
Evidentemente, permaneceram enormes variações internas no âmbito dos diferentes
países, exatamente pelas distinções e especificidades culturais, institucionais e estruturais de
cada um, para além das correlações de forças sociais específicas compatibilizando com
maior ou menor destreza os arranjos domésticos com os internacionais. É o caso, por
exemplo, da Europa, onde os recursos de poder dos setores mais à esquerda ou direita no
espectro político-ideológico se mostraram fulcrais para determinar os diferentes padrões de
política social e Estados de bem-estar (Welfare States) logrados (ESPING-ANDERSEN,
1990). Já nos EUA, por seu turno, o ambiente político decisório altamente fragmentado e
descentralizado vis-à-vis outros países avançados influenciava na administração
governamental sobre o nível de desemprego, tornando-a mais gradual e mitigada (HIBBS,
1977). Isto não contradiz, entretanto, as tendências econômicas globais previamente
apontadas. Assim, em síntese, os policymakers buscaram conduzir o desenvolvimento
econômico de longo prazo através da criação de instituições de controle de ativos, com o
Estado de forma geral estando agora dotado de um papel fiscal e extrativo muito maior,
ampliando o escopo do setor público (CAMERON, 1978; GLYN et al, 1990).
Prosseguindo, de acordo com Carvalho, a melhor interpretação para a lógica política
sistêmica do arranjo de Bretton Woods seria retratá-lo como um meio-termo entre um
inegável instrumento de consolidação do poderio estadunidense e outro com
intencionalidade de organizar, coletivamente, os assuntos econômicos internacionais de
modo a viabilizar o progresso material do mundo capitalista (2004: p.53). Embora em seu
bojo, evidentemente, tenha ocorrido uma disputa estratégica entre distintos projetos de
desenvolvimento latentes no debate de ideias e propostas de John Maynard Keynes e Harry
Dexter White, é também inquestionável que os mesmos guardavam certo grau de
convergência no que tange a preocupações tais como o desemprego, de um lado, e a
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
75
organização formal de sistema de pagamentos internacionais, de outro (CARVALHO, 2004;
RODRIK, 2012). Um dos sustentáculos para tal arranjo também foi o papel do dólar,
hegemônico como ativo de reserva universal. Sua conversibilidade com relação ao ouro pôde
sustentar, durante esse período, três grandes pilares do sistema econômico: a) contínuo
déficit na conta de capitais estadunidense, visando sua própria projeção e abastecimento da
liquidez necessária para fomentar o boom do comércio global; b) a reconstrução do sistema
industrial europeu e parte do japonês; e c) a própria industrialização periférica, podendo
agora ser intensificada com influxos de capitais de fora conjugados com seus próprios
investimentos produtivos e suas estratégias desenvolvimentistas (BELLUZZO, 2013:
p.127).
Para Rodrik, a principal contribuição do regime para o sistema internacional foi,
como mencionado, o caráter multilateral posto em curso, fator que conferiu a muitos países
retardatários um protagonismo ampliado para a definição de seus próprios objetivos e
interesses econômicos de forma sem precedentes (2012: p.70-1). Tal multilateralismo operou
principalmente fixando regras e princípios de não-discriminação, através de organizações
internacionais recém-criadas como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Acordo Geral
de Tarifas e Comércio (GATT – General Agreement on Tariffs and Trade). A primeira era
uma instituição de crédito internacional desenhada para o financiamento de desequilíbrios e
déficits nos balanços de pagamentos; ao passo que a segunda era importante mantenedora da
margem de manobra e busca de objetivos sem limitações externas, no sentido de que, sempre
em que questões comerciais viessem a ameaçar as barganhas distributivas domésticas
estabelecidas, o comércio teria de ceder (RUGGIE, 1983; HELLEINER, 1994;
HOBSBAWN, 1995; EICHENGREEN, 2008; KINDLEBERGER e ALIBER, 2011;
RODRIK, 2012).3 Contudo, deve ser reiterado que tais instituições jamais lograram uma
autonomia plena com relação às grandes potências econômicas; embora, por outro lado, não
possam ser vistas como mera extensão de seus poderes (CARVALHO, 2004). Ambas foram
importantes, portanto em termos de criação de regras e aplicação das mesmas, providas com
a legitimidade da nova hegemonia americana. É válido frisar, não obstante, que largos
segmentos da economia mundial permaneceram fora do lastro de tais acordos multilaterais
nesse momento!
Portanto, uma das formas pelas quais o renovado crescimento foi possível e induziu o
processo de globalização foi a modelagem e facilitação da alocação dos impactos
distributivos do comércio. O sucesso do arranjo de Bretton Woods sugeria uma economia
nacional “saudável” requerendo, eventualmente, controles e barreiras comerciais,
contribuindo para as boas relações do mundo em um sentido mais holístico. Além disso,
outra característica do regime foi um controle rigoroso, mediante pesadas regulamentações
3 Interessante mencionar que, nas décadas imediatas do Pós-Guerra, o FMI (e também o BIRD, em
certo sentido) teve papel diminuto em função dos esforços de investimentos do Plano Marshall e do
Plano Colombo para a reconstrução econômica (KINDLEBERGER e ALIBER, 2011: p.248).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
76
(como por exemplo sobre a taxa de câmbio, variável fundamental para a competitividade
externa), sobre os fluxos de capitais, operando em um contexto de canalização extensiva de
crédito pelos governos dos mercados financeiros para setores estratégicos (HELLEINER,
1994: p.25; EICHENGREEN, 2008: p.91-2). Certamente, outros componentes também
foram relevantes – na esfera política, por exemplo, o fim da 2ª Guerra Mundial produziu
novas coalizões societais no mundo capitalista industrial avançado, com forte representação
do trabalho organizado e forças sindicais corporativistas somando-se às pressões por
ampliação dos gastos e políticas ativas relacionadas à sua agenda. Em alguns casos
nacionais, isto se deu em função da incorporação desses atores nos processos de sufrágio; já
em outros, foi facilitado por fatores estruturais como o próprio grau de concentração
industrial vivenciado por tais países, gerando condições propícias à maior sindicalização e
ampliação do escopo da barganha coletiva (CAMERON, 1978; CHANG, 2004a). Glyn et al
(1990: p.42-3) denotam que tal concentração mencionada foi movida por mudanças setoriais
na distribuição da força de trabalho, tendo finalmente maturado uma transformação
estrutural de longo prazo da empregabilidade da agricultura para a indústria e posteriormente
para o segmento de serviços, ao menos nos países da OCDE (Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico). A grande maioria dos atores políticos e sociais considerava
o alargamento e proeminência da esfera pública nos arranjos produtivos algo imprescindível.
Se foi verdade que a lógica política da Guerra Fria exerceu forte restrição sobre formas
radicais de manifestação da esquerda e do trabalhismo, também foi verdade que a pactuação
do novo regime, ainda assim, incorporava vários interesses da constituency trabalhadora em
grau nada desprezível (CHANG, 2004a: p.20).
À guisa de conclusão da seção, todo este cenário descrito se insere acuradamente,
como dito, nas noções de “liberalismo imbricado” (RUGGIE, 1983) e de paradigma da
globalização comercial ou “globalização moderada” (RODRIK, 2012: p.70), caracterizando
a nova ordem internacional como uma variedade qualitativamente distinta de liberalismo,
denotando a congruência entre grandes potências econômicas na direção de um compromisso
para assegurar o crescimento doméstico concomitantemente à seguridade social. Resumindo,
as propostas de Bretton Woods ressoaram o desejo de colaboração intergovernamental com o
objetivo de facilitar o equilíbrio nos balanços de pagamentos em um contexto de
multilateralismo no âmbito externo e pleno emprego no âmbito interno. A próxima seção vai
examinar em detalhes as razões condutoras ao esgotamento desse paradigma, com uma
conjectura acerca das velozes mudanças na própria concepção da natureza dos Estados e dos
mercados, ressoando no modus operandi da economia mundial capitalista até os dias de hoje.
1.3: O paradigma da globalização financeira: a nova arquitetura desregulamentada e a
contraofensiva neoliberal ao Estado “keynesiano”
Na década de 1970, a exuberante performance econômica tão característica dos anos
anteriores já dava claros sinais de arrefecimento. Após um período de mais de vinte anos de
estabilidade, progresso material e baixos patamares de desemprego, a situação da grande
maioria dos países industriais avançados era de deterioração de muitos de seus indicadores e
referências (HOBSBAWN, 1995). Mesmo na década de 1960, diversas fraquezas do sistema
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
77
monetário internacional vigente já eram nítidas, como por exemplo as sucessivas
instabilidades geradas pelos déficits do balanço de pagamentos estadunidense: uma
contradição inerente de Bretton Woods, visto que, a despeito de seu caráter multilateral, não
teria conseguido acomodar os desequilíbrios engendrados pelos próprios EUA.4 Por volta do
final dessa década os países europeus, cujos bancos estavam pressionados pelas autoridades
estadunidenses a não trocarem seus eurodólares por ouro, não mais aceitavam lidar com tal
cenário, demandando limites e reorientações na política macroeconômica dos Estados
Unidos. Assim, o arcabouço de governança internacional que dava suporte aos sistemas
produtivos e suas regras de coordenação e regulação foi sendo colocado sob crescente
pressão, dentre outros fatores, pelo mesmo padrão de desempenhos nacionais os quais deu
origem, levando a uma paulatina dissolução da conversibilidade do dólar, o que ocorreria
finalmente em 1971 (GLYN et al., 1990; HOBSBAWN, 1995; PEMPEL, 2015). Este
câmbio pode ser apontado como ponto de partida para as mudanças que seguiriam no
sistema internacional e acabariam por solapar, em menos de uma década e meio, todo o
regime em voga.
Olhando retrospectivamente, o ano de 1973 também marcou uma linha divisória
importante entre os anos dourados de crescimento e os de estagflação conseguintes, com o
curso do desenvolvimento da economia mundial sendo minado tanto por tensões internas dos
países centrais/desenvolvidos quanto por fatores exógenos geopolíticos (STRANGE, 1997:
p.5). É preciso enfatizar, com relação a isso, que tais economias já vinham apresentando uma
desaceleração bem antes do choque do petróleo ocorrido naquele ano com a cartelização do
setor sob a OPEP, muito embora este fator tenha contribuído, sem dúvidas, para uma
elevação abrupta dos custos e da inflação (em função da aceleração do preço de tal produto
primário) indicando diminuição efetiva nos investimentos (GLYN et al., 1980: p.80-1).
Somado a esse elemento externo, o contínuo profit squeeze (achatamento de lucros) na
década de 1970 refletia a reversão de uma tendência antes favorável, com desaceleração das
taxas de produtividade que não mais conseguiam acompanhar o ritmo dos salários e
colocavam em crescente cheque o poder de barganha dos trabalhadores e das forças políticas
geralmente associadas ao pacto social democrata, já prejudicadas pela competição
intensificada entre as fronteiras nacionais, particularmente com as manufaturas japonesas
(BOYER, 1996).
No plano político, a partir dos anos 1970 também observou-se de forma quase
generalizada nos países centrais a (re)emergência do pensamento de laissez faire,
contestando as teorias pró-Estado avançadas pelos economistas do Pós-Guerra. Os mercados
voltavam a ser vistos como os meios mais eficazes de organização das sociedades modernas,
com a intervenção pública enquadrada cada vez mais como deletéria. O “compromisso
keynesiano”, vigoroso durante as três décadas pregressas e responsável por um virtuoso ciclo
4 A Guerra do Vietnã certamente contribuiu bastante para exacerbar tal déficit, embora dificilmente
possa ser apontada como fator causal ou decisivo (HOBSBAWN, 1995: p.238).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
78
de crescimento da renda com pleno emprego e estabilidade de preços não mais entregava os
resultados prometidos ou parecia capaz de dar respostas teóricas e práticas contundentes a
uma economia onde a inflação, escalada do déficit externo e fuga de recursos se tornavam as
problemáticas mais salientes e conferiam maior apelo a retóricas apregoando políticas de
austeridade, ajuste fiscal e mobilidade de capitais (BOYER, 1996)!5 No debate intelectual
mainstream, concomitantemente a tais mudanças, se consolidou aos poucos a hegemonia
considerável de um paradigma ideológico neoliberal enquanto força a modelar o caráter e
arquitetura da nova economia internacional, incluindo a extensão na qual a globalização
deveria ser vista como fenômeno indissociável do próprio “ocaso” do Estado e da autoridade
do poder público (HELLEINER, 1994: caps. 6 e 7; CABLE, 1995: p.26-7; EVANS, 1997:
p.64). Em termos teóricos, o neoliberalismo traduzia, num projeto político plutocrático, uma
soma de distintas correntes de filiação econômica neoclássica: a teoria monetarista de Milton
Friedman; a perspectiva libertária de Robert Nozick; a teoria do rent-seeking de Anne
Krueger; a teoria das escolhas racionais de Robert Lucas; a perspectiva da escolha pública de
Gordon Tullock; etc. Todas tinham como denominador comum a premissa de que os
mercados auto-regulados (e não os Estados) eram as entidades alocativas máximas e
equacionariam as mazelas sociais mediante sua liberalização em todos os aspectos, não tendo
sua eficiência tolhida por restrições institucionais discricionárias dos governos (HARVEY,
2004; MOURA, 2015). Em termos concretos, galvanizavam uma retórica de culpabilização
das próprias virtudes e ganhos do Estado-providência interventor no plano distributivo para
reorientar a economia política internacional capitalista rumo a uma variedade mais liberal,
lançando uma ofensiva contra o tecido de proteção social construído ao longo dos anos
anteriores (BRUNHOFF, 1991; BOYER, 1996).
Portanto, ia sendo inaugurado aos poucos, na esteira de tais mudanças assinaladas,
um novo paradigma de globalização profundamente marcado pela abertura das contas de
capitais e pelo maior fluxo financeiro e de portfólios, criando pressões adicionais sobre a
autonomia decisória dos Estados nacionais em termos de política macroeconômica e também
sobre as dinâmicas laborais e de seguridade (RODRIK, 2012). Tal fenômeno, em certo
sentido, e conforme se argumenta na reconstrução histórica deste artigo, revelar-se-ia mais
um grande constrangimento exógeno e estrutural o qual os atores domésticos tinham de
responder do que resultado de escolhas políticas deliberadas propriamente; engendrando
5 Por tabela, também erodia a aplicabilidade tanto da Curva de Phillips quanto do modelo IS-LM
(pertinente a como as políticas fiscal, monetária e cambial se articulavam na macroeconomia
keynesiana) para interpretar a gestão governamental das sociedades industriais avançadas. Em seu
“lugar”, os economistas e as forças políticas de filiação liberal tentaram propalar o arquétipo da
Curva de Laffer: uma representação gráfica do nexo imposto-arrecadação que serviria de
justificativa para arranjos tributários mais regressivos e menos onerosos aos detentores de capitais e
estratos de renda mais altos da sociedade (HARVEY, 2004: p.54).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
79
novas constelações de preferências dentro das tradicionais clivagens capital-trabalho
(GARRETT, 1996: p.83-4).6 Talvez o maior vetor pelo qual tal internacionalização
financeira tenha contribuído para erodir os anos dourados tenha sido pelo enfraquecimento
das capacidades estatais dos países de, individualmente, regularem a economia via políticas
voltadas à demanda e gerenciamento da taxa de câmbio; visto que agora, ante pressões
externas, os regimes produtivos domésticos pareciam estimulados unicamente por políticas
pelo lado da oferta: a chamada “Supply-Side Economics” (GLYN et al., 1990; HELLEINER,
1994; EICHENGREEN, 2008; RODRIK, 2012)! É importante ressaltar que, logo após o
primeiro choque do petróleo, em 1973, alguns países centrais continuaram apostando em
políticas keynesianas de recuperação através do financiamento do déficit. No curto prazo, tal
estratégia até teve alguns aspectos positivos, com a importância conferida à rede de
seguridade dos estados de bem-estar social prevenindo uma espiral depressiva ainda maior
na metade da década, com a criação de linhas de crédito e financiamentos bancários
ajudando a aliviar parte das dificuldades das firmas com lucratividades cadentes, em meio à
deterioração do comércio mundial. Não obstante, as principais problemáticas estruturais
persistiam, com o regime institucional pregresso em seu limite. Assim, a escalada da
inflação, a crescente dificuldade de equacionamento dos déficits e gastos públicos, somando-
se ao aumento do desemprego, fizeram ruir toda a concertação societal predominante
(CHANG, 2004a: p.24).
O desmoronamento do ordenamento sistêmico de Bretton Woods, cada vez mais
iminente a partir do novo regime de câmbio flutuante, ia trazendo uma série de novas
implicações conforme redesenhava o capitalismo mundial, afetando grande parte dos países
da OCDE principalmente através das flutuações dos fluxos financeiros, com instabilidades e
uma total falta de coerência sistêmica (GLYN et al., 1990; STRANGE, 1997). O segundo
choque do petróleo em 1979 traria, por fim, a pá de cal definitiva sobre o regime de
governança dos anos dourados, com a economia internacional mais interligada em seus
movimentos de capitais, resultando numa deflação competitiva e em prolongada recessão na
década de 1980 (EICHENGREEN, 2008). A resposta encontrada pelos Estados Unidos para
lidar com os impactos recessivos e inflacionários desse segundo choque foi, ainda naquele
ano, a elevação drástica da taxa de juros pelo Banco Central americano (FED – Federal
Reserve Bank) conduzida por Paul Volcker, promovendo profundas alterações na estrutura e
dinâmica geopolítica da economia mundial, com impactos bastante graves e distintos para a
periferia (BELLUZZO, 2013). Mas sobre estas em especial tratarei apenas na próxima
seção!
Prosseguindo, os efeitos do processo globalizante com crescente mobilidade
transnacional de capitais e o adensamento de cadeiras produtivas, bem como um sistema
6 Boix (1998) fornece uma análise muito rica de como tal mudança de clivagem K-L face à
transformação da economia global impactou na reorientação das estratégias dos partidos políticos de
esquerda e de direita em sentido geral.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
80
financeiro radicalmente amalgamado, dessa forma, passam a impor desafios fundamentais à
autoridade pública, já com sua legitimidade contestada nos âmbitos político e econômico
(CABLE, 1995; EVANS, 1997; STIGLITZ, 2007; EICHENGREEN, 2008; EPSTEIN,
2010). A criação futura da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 1995, por
exemplo, na esteira do Consenso de Washington e da mais forte onda de integração
financeira sobre o sistema internacional até então com uma nova ordem unipolar, apenas
corroboraria o ápice da ofensiva neoliberal citada, representando a consolidação institucional
da busca por prioridades antípodas às de Bretton Woods (STIGLITZ, 2007; RODRIK,
2012). Seria esse o novo arcabouço de governança internacional alcunhando por Rodrik de
paradigma da globalização financeira ou “hyperglobalização”, donde o gerenciamento
doméstico torna-se subserviente às finanças internacionais e à desregulação (numa clara
inversão de objetivos), com a integração de mercados tanto de bens quanto de recursos
financeiros tornando-se praticamente um fim em si próprio, obstaculizando agendas internas
e estratégias de desenvolvimento induzidas (KEOHANE e MILNER, 1996: p.256; RODRIK,
2012: p.76-7).
De forma muito distinta do liberalismo “imbricado” do regime internacional
monetário anterior, concebido primariamente para o Ocidente industrializado, o regime
normativo atual seria retoricamente propalado aos pobres e ricos de igual maneira. Nesse
contexto, a questão se o envolvimento estatal ativo ainda seria ou não capaz de ampliar os
eventuais benefícios que os cidadãos de um determinado país poderiam colher da economia
global, torna-se um ponto extremamente sensível dentro de um clima ideológico que
proscreveria quase totalmente a defesa da soberania doméstica para limitar a discrição de
atores econômicos privados (EVANS, 1997). A Tabela 2 a seguir traz um esforço de síntese
quanto às principais discrepâncias entre os desenhos institucionais vigentes no bojo dos dois
paradigmas históricos elucidados de integração econômica:
Tabela 2 – Exercício Comparativo entre Dois Arranjos da Economia Internacional
Formas Institucionais Anos Dourados: 1945-
1973
Reestruturação incerta
nos anos 1970 e 1980
Relações Industriais Institucionalizado e com
forte barganha coletiva.
Descentralização da
barganha e declínio do
poder sindical.
Formação salarial Mais administrada do que
determinada pelo mercado.
Pressões competitivas e
determinação via mercado.
Mercados de produtos Competição fraca; se dando
pela qualidade percebida.
Competição muito forte em
função da competição
internacional e câmbio
tecnológico.
Mercados financeiros Concentração a nível
nacional; preços
oligopolistas.
Alta reestruturação a nível
global; retorno da guerra de
preços.
Regime monetário Institucionalização de Globalização da
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
81
sistemas de crédito puro;
pouca especulação.
especulação financeira.
Regulações financeiras Alta regulação; com bancos
protegidos.
Desregulamentação
financeira significativa.
Estatais Significativas em alguns
países europeus.
Privatizações importantes
em muitos países...
Welfare e políticas
públicas
Institucionalizado em
vários graus. Progresso nas
áreas de educação, saúde e
transporte.
Austeridade e políticas de
racionalização, com
redução da cobertura
protetiva social.
Regime Internacional Liberalização progressiva
do comércio; limites aos
fluxos financeiros.
Internacionalização em
todas as esferas; explosão
dos fluxos de capitais (K).
Fonte: BOYER, 1996.
Sumarizando o que foi visto nesta segunda parte do trabalho, o novo regime de
governança foi responsável por redefinir dramaticamente as responsabilidades nacionais e
internacionais dos Estados. Contudo, é mister frisar que o grau e extensão das políticas
liberalizantes também variou profundamente de país para país, dependendo dos conflitos e
disputas políticas entre setores domésticos, com estes determinando ao menos em parte a
margem de endosso aos preceitos do neoliberalismo (WEISS, 2003; RODRIK, 2012). Não
obstante, as nações do mundo desenvolvido ou em desenvolvimento passaram a atuar, no
geral, dentro de um arcabouço sistêmico mais desregulado, instável e alavancado: um novo
modo de acumulação dirigido pelas finanças (GUTTMANN, 2008; PINTO, 2011). Este,
originado nos países constitutivos do epicentro da economia mundial, teve desdobramentos
estruturais imprescindíveis para o restante do globo, ainda que com suas próprias
peculiaridades e idiossincrasias dependendo de cada caso.
A próxima seção, munida da radiografia tecida até agora acerca dos paradigmas
regentes da economia política internacional desde a segunda metade do século XX, adentrará
num exercício analítico sobre os impactos dessa reconfiguração para duas regiões distintas
fora do eixo Atlântico-Norte: América Latina e o Leste da Ásia. Ciente das discrepâncias e
heterogeneidades internas nada triviais dentro das mesmas, acredito que os também
abundantes e diversos traços em comum em suas trajetórias e regimes produtivos forneçam
um fio condutor válido para o estudo. Assim, mediante reconstituição das lógicas e
dinâmicas geopolíticas e geoeconômicas regionais, espero lançar luz sobre as mudanças
engendradas nessas regiões periféricas e preparar o terreno para a última seção que ficará a
cargo dos casos nacionais brasileiro e chinês.
1.4: A América Latina e o Leste Asiático: odisseias periféricas e percursos históricos de
Estados Desenvolvimentistas no século XX
Dando prosseguimento à construção iniciada nas seções anteriores, irei aqui discorrer
sobre como essas mudanças estruturais e sistêmicas na economia internacional, com um
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
82
novo “policy regime” forjado a partir dos países centrais, representou uma conjuntura crítica
condicionando, direta e indiretamente, transições nas lógicas e estratégias de
desenvolvimento regionais existentes da América Latina e no Leste Asiático. Mas, para isto,
cumprirá a esta seção também descrever exatamente os pontos mais salientes presentes nas
trajetórias e padrões das economias políticas dessas duas regiões no Pós-Guerra, no esforço
de fornecer ao leitor uma contextualização geral para o entendimento dos encadeamentos
causais aqui propostos.
Como dito na seção 1.1, a industrialização guiada pelo Estado ocupou o eixo central
das mudanças estruturais nas trajetórias de desenvolvimento do século XX, particularmente
após a 2ª Guerra Mundial. Na nova divisão internacional do trabalho alimentada pela
reconstrução econômica da Europa e da Ásia, se destacaram os alcunhados NICs (“New
Industrializing Countries”), proeminentes na América Latina e no Leste Asiático (GEREFFI,
1990; AMSDEN, 2009). Os processos, estratégias e consequências do crescimento industrial
desses países retardatários, contudo, foram muito díspares; e será com a matização destas
disparidades que esta seção se encarregará; para somente depois problematizar os impactos
do câmbio do paradigma globalizante! Este exercício comparativo dos contrastes é
imprescindível para que possamos mapear algumas das origens de suas “autonomias
relativas” frente aos constrangimentos globais (KOHLI, 2009).
Os países da América Latina e da Ásia apresentaram variações tanto no tempo
histórico de seus esforços industrializantes tardios quanto nas formas como se vincularam ao
processo globalizante: alianças geopolíticas, discrepâncias na natureza do auxílio externo,
volumes de IED, endividamento e o papel do comércio exterior foram diversos fatores que
desempenharam papéis distintos nas experiências desenvolvimentistas dessas nações
(GEREFFI, 1990: p.6). Mesmo com suas distinções inter-regionais e intra-regionais, suas
elites políticas, grosso modo, conduziram projetos objetivando a transmutação de suas
vantagens comparativas iniciais em fontes dinâmicas de vantagens competitivas, se
aproveitando da própria condição de atraso que lhes permitiram importar tecnologias mais
modernas do globo e produzir de forma eficiente bens de consumo de massa com mercado
certo seja nos países avançados ou em desenvolvimento (PEMPEL, 2015). Tais “milagres
manufatureiros” e modernizações econômicas dos NICs, em ambas as regiões, junto com o
ativo planejamento estatal e as numerosas iniciativas empresariais, vieram geralmente
acompanhados de regimes políticos autoritários enquanto garantidores e fiadores do processo
de acumulação capitalista de longo prazo (GEREFFI, 1990; PEMPEL, 2015).
Em comum, esses países periféricos também apresentaram altas taxas de crescimento,
relativa diversificação das indústrias domésticas, urbanização e proeminência na exportação
de bens manufaturados (mais na Ásia vis-à-vis América Latina, embora nesta última também
ainda que grau bastante inferior), tendo sido inclusive as regiões que mais cresceram no
mundo em termos relativos aos países centrais entre os anos 1960 e meados dos anos 1980
(MADDISON, 2001). O gráfico 2 abaixo permite atestar esse desempenho notável. Já em
termos de contrastes, uma das alusões mais convencionais é sobre a dicotomia “inward-
oriented” versus “outward-oriented”, pelo fato de os países latino-americanos terem adotado
estratégias industrialistas ancoradas em seus mercados internos enquanto na Ásia a
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
83
predileção dos policymakers foi pela inserção competitiva nos mercados globais. Esta
escolha guardou relação tanto com restrições demográficas e inerentes de seus mercados
domésticos (Coreia, Taiwan e Singapura sendo os exemplos mais claros) quanto com a
própria opção estratégica das elites políticas desses países que objetivavam mitigar a
dependência externa via aquisição de tecnologias das potências ocidentais e de aprendizados
produtivos para potencializar economias de escala (GEREFFI, 1990; CHANG, 2006).
Gráfico 2 – Crescimento econômico ao longo do século XX (% PIB)
Fonte: WORLD BANK, World Development Indicators.
Tendo em vista que essas experiências de modernização econômica foram
complexas, a reconstrução dessa parte do trabalho também fará uso de alguns fatos históricos
estilizados enfáticos quanto aos padrões de desenvolvimento dos Estados nacionais,
historicamente e estruturalmente situados. Isto será feito, agora, com foco em quatro
aspectos: a) quais os setores industriais mais proeminentes em cada fase de desenvolvimento
dessas regiões; b) qual o grau em que as respectivas indústrias “líderes” de cada país eram
orientadas “para dentro” ou “para fora” (i.e., se a produção era voltada majoritariamente ao
mercado interno ou para exportações); c) quais os agentes políticos na vanguarda da
implementação e sustentação de tais projetos; e, finalmente, d) como tais regiões
vincularam-se à geopolítica e ao capital estrangeiro.
Na América Latina, embora o primeiro surto industrializante e coordenado tenha se
dado com o processo substitutivo de importações (PSI) inaugurado nas décadas de
1930/1940 em resposta ao choque exógeno da crise financeira de 1929 e a Grande
Depressão, é somente no pós-guerra que seus países aprofundam a industrialização de forma
intimamente imbricada à economia mundial e globalização comercial (GEREFFI, 1990).
Nesse sentido, abriram-se ao investimento externo direto (IED) dos países avançados,
particularmente dos Estados Unidos e da Europa, e também para a primeira rodada de
industrialização fordista induzida na periferia (BELLUZZO, 2013: p.126). Embora
tradicionalmente os investidores externos na região tenham focado em setores agrícolas
vinculados à exportação de recursos naturais, no Pós-Guerra suas inversões adquiriram outra
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1961-1964 1964-1974 1975-1984 1985-1994 1995-2004
EUA
Leste Asiático
Europa
América Latina
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
84
natureza qualitativa e passaram a se dirigir para indústrias mais avançadas como automóveis,
produtos químicos, maquinários e fármacos, todas com grande mercado doméstico em
potencial.
Nos anos 1950, esse mesmo PSI primário latino-americano, ancorado
primordialmente no capital doméstico, dava claros sinais de exaustão; de modo que, dada a
distribuição (ainda) altamente regressiva em voga de riqueza e renda, a produção de bens de
consumo básicos do próprio setor privado nacional não mais podia contar com o rápido
crescimento dos mercados internos e das classes trabalhadoras nele recém-incorporadas
(GEREFFI, 1990; STALLINGS, 1990). Assim, mudanças importantes foram operadas a
partir de governos como os de Juscelino Kubitschek (Brasil), Adolfo Ruiz Cortines (México)
e Arturo Frondizi (Argentina), buscando aproveitar a janela de oportunidades do ciclo de
expansão internacional do comércio e de liquidez para adentrarem numa nova matriz de
industrialização acelerando a produção de bens intermediários pautada pela entrada do
capital estrangeiro e das multinacionais, principalmente as que permitissem importação de
maquinários.7 Era a transição do chamado ciclo nacional-desenvolvimentista para um padrão
dotado de um caráter mais “dependente-associado”, onde o capital de fora e os atores
políticos que lhe detinham ganhavam maior protagonismo (KOHLI, 2009; FONSECA,
2014).
Já no que tange à Ásia em particular, é importante salientar que parte considerável da
notoriedade lograda pela região enquanto objeto de investigação para muitos estudiosos das
mais diversas disciplinas se deu graças à projeção obtida a partir de um detalhado estudo
publicado pelo Banco Mundial em 1993, com uma análise em profundidade dos processos de
modernização dos países da região. As nações em questão recortadas no trabalho eram:
Japão (vanguardista do crescimento econômico asiático e paradigma-mor de sua ascensão);
Coréia do Sul, Hong Kong (futura região administrativa especial da China a partir de 1997),
Singapura, Taiwan (sendo estes quatro os “Quatro Tigres Asiáticos”); e ao fim Indonésia,
Malásia e Tailândia. Embora a instituição tenha apontado a impossibilidade de se determinar
um padrão/modelo de desenvolvimento rígido e único para todo o grupo, destacaria
comonalidades assombrosas em diversas de suas engenharias políticas, experiências
manufatureiras, medidas e intervencionismos discricionários, etc. Não foi um sucesso
pautado, portanto, na manutenção de meros “bons fundamentos macroeconômicos”
(WORLD BANK, 1993).
No bojo do recorte do Banco Mundial, há ainda uma tipologia enquadrando dois
subgrupos: “Nordeste Asiático” (Japão e a primeira geração de NICS) e o “Sudeste Asiático”
(economias menores como Malásia; Indonésia; Tailândia). Acrescido da República Popular
7 JK, por exemplo, desmontou as restrições erigidas por Vargas sobre o capital de fora e buscou
atrair investimentos via concessão de benefícios como a Instrução 113 ou a Lei Tarifária de 1957.
Algo parecido ocorreu no México, com Cortines fazendo uso de incentivos e desonerações
tributárias para ampliar o IED ao setor industrial (STALLINGS, 1990).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
85
da China, este primeiro grupo será o “alvo” mais referido nesta seção, justamente por
apresentar um grau superior de ativismo governamental em termos de fomento a estratégias
nacionais de desenvolvimento e políticas industriais seletivas altamente discricionárias sobre
os mercados e a iniciativa privada (WORLD BANK, 1993). Este mesmo ativismo, inclusive,
fez valer com que tais casos nacionais fossem alvos de toda uma literatura debruçada acerca
do conceito de Estado Desenvolvimentista (CHANG, 2006; PERKINS, 2013; FONSECA,
2014).8 Ou seja, em síntese, o denominador comum dessas perspectivas foi o papel
governamental condutor de uma série de políticas correlacionadas em oposição ao
receituário neoclássico de modo a elevar o status da nação na hierarquia econômica global,
através de protecionismos e fomentos a setores industriais chaves (PEMPEL, 2015).
Sobre tal papel, algumas dessas políticas industriais estratégicas de fortalecimento
dos conglomerados domésticos exportadores foram: a) programa amplo de fusões e
aquisições, com negociação conjunta entre tecnoburocracia estatal e empresários para
otimizar os mercados onde pudessem ser logrados ganhos de escala; b) Subsídios e auxílio
ao salto material e tecnológico via programas de racionalização e modernização voltados a
segmentos específicos, para além de engenharia reversa e violação de patentes do Ocidente;
c) Subsídios fiscais e incentivos para pesquisa e desenvolvimento (P&D); e, d) Reduzir, via
política de joint ventures ou agências públicas específicas de informação, a defasagem
tecnológica das indústrias domésticas para as estrangeiras. A concatenação de tais arranjos
de políticas deu origem a mercados oligopolistas racionalizando e se apropriando dos
rendimentos permitidos e potencializados pelas intervenções dos Estados e governos
(CHANG, 2006).9
Há ainda um elemento histórico profundo a ser assinalado, que diz respeito a como as
transmutações dos Estados nessas duas regiões após a 2ª Guerra Mundial também diferiram
8 Para uma análise do caso japonês do Pós-Guerra e a importância da política industrial
governamental alavancada pelo MITI (Ministério da Indústria e Comércio Exterior), ver Johnson
(1982). Para os casos de Taiwan sob o governo do Guomindang (KMT) e a Coreia do Sul sob o
regime militar de Park Chung-Hee, ver Amsden (1989) e Wade (1992), respectivamente. Para a
tentativa de enquadramento do caso chinês, ver Jabbour (2012; 2017) e Moura (2017).
9 Neste sentido, podem ser dados exemplos para os três países: o Estado japonês fomentou e
coordenou a organização de cartéis e conluios que beneficiassem seu desempenho exportador, com
upgrade tecnológico para as pequenas firmas; o Estado coreano mostrou-se conivente com a
existência de trustes e também conluios, desde que auxiliassem suas indústrias “promissoras” ou
otimizassem a eficiência de sua escala produtiva, estritamente orientada para as metas e prioridades
estabelecidas pelos Planos Quinquenais (PQs); e, por fim, o Estado taiwanês também não hesitou
em promover fusões e formação de grandes conglomerados estatais para alavancar a produtividade
de setores específicos (CHANG, 2006: p.42).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
86
substancialmente: na Ásia, os processos de descolonização engendraram descontinuidades
políticas significativas, conduzindo a modificações drásticas nas relações de classe existentes
e alterando os elos externos destes países com os avançados, favorecendo forças e coalizões
políticas nacionalistas, autônomas e com margens de manobra para promoverem políticas
desenvolvimentistas.10 Na América Latina, ao contrário, tal descontinuidade não ocorreu,
com as modificações nas relações entre Estado e classes sendo bem mais incrementais e
contribuindo para a inexistência de qualquer vislumbre de ruptura com o desenvolvimento
dependente (KOHLI, 2009: p.402-3).
Reconstituindo as trajetórias industrializantes dos NICs, Gereffi (1990: p.17) mapeia
cinco (5) padrões de desenvolvimento que vigoraram na região no século XX, dos quais os
três últimos são particularmente relevantes para esta análise por se darem a partir do Pós-
Guerra e guardarem elo, por conseguinte, com os paradigmas globalizantes referidos de
Rodrik. São eles:
1) Modelo agrário-exportador (centrado em commodities para abastecimento do mercado
externo) ► Aqui os produtos eram tipicamente matérias primas não refinadas ou
semiprocessadas, como bens agrícolas e/ou minérios. Este modelo constituiu a realidade da
maior parte dos países latino-americanos até os anos 1930, quando o choque da quebra da
bolsa impôs um estrangulamento externo e o imperativo de reorientação econômica. Na Ásia,
perdurou até a década de 1950 com o fim da Guerra, excetuando os casos da China (lidando
com uma guerra civil interna entre o PCCh e o governo vigente do Guomindang; para além da
luta contra a ocupação nipônica) e do Império Japonês.
2) Industrialização Substitutiva de Importações (ISI) primária ►Aqui foi operada uma
transição de importações para a produção doméstica de bens de consumo básicos como
têxteis, vestuário, calçados, alimentos e até mesmo manufaturas leves (principalmente no caso
asiático). Este referencial modernizante perdurou em ambas as regiões até mais ou menos a
segunda metade dos anos 1950 e início dos anos 1960.
3) ISI secundária ► Compreenderia a produção doméstica de manufaturas mais intensivas em
capital e em tecnologias, como bens duráveis (automóveis), bens intermediários (aço;
petroquímicos) e bens de capital (maquinários pesados). Na América Latina, este modelo foi
adotado entre a segunda metade dos anos 1950 e meados da década de 1970, particularmente
por Brasil, México e Argentina.
4) Industrialização orientada para Exportações (IOE) primária ► Voltada para inserção nos
mercados e cadeias de valor globais. Sendo consensual de que este paradigma foi o eixo
10 Os maiores exemplos dessas descontinuidades políticas destacadas talvez sejam as reformas
agrárias que vários países da Ásia passaram nesse período, conduzidas seja por governos
revolucionários como o da República Popular da China ou por governos autoritários conservadores
como o do Guomindang em Taiwan e pelas juntas coreana e estadunidense na Coreia do Sul
(CHANG, 2006).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
87
norteador e diferencial do desenvolvimento do Leste Asiático, esta primeira fase era voltada
mais para bens intensivos em trabalho (L), aproveitando um de seus diferenciais competitivos
que era a abundante, qualificada e disciplinada mão de obra da região. Taiwan, Coreia do Sul,
Hong Kong e Singapura ocupam destaque aqui, seguindo o pioneirismo japonês e adotando
tal orientação na década de 1960 e em parte da de 1970. A China, após sua abertura em 1978,
começaria gradualmente a adotar tal paradigma também...
5) Industrialização orientada para Exportações (IOE) secundária ► Corresponderia a um salto
produtivo para bens de maior valor agregado, denotando bases industriais mais sofisticadas
conforme o estado da arte tecnológico e corroborando concomitantemente o próprio êxito dos
processos de catching-up. Foi adotada pelos países asiáticos na esteira das mudanças na
economia internacional nos anos 1970 (excetuando China, que se aproveitaria disso para
efetuar sua abertura e industrialização de bens de consumo leves, como veremos na seção
1.4).
A América Latina e o Leste Asiático também partilharam de clivagem fundamental
no que tange ao capital estrangeiro. Tecendo um rigoroso estudo, com um recorte temporal
compreendido entre 1957 e 1987 e centrado no peso dos fluxos financeiros externos sobre os
balanços de pagamentos e o PIB de países selecionados, Barbara Stallings (1990) mostra que
as duas zonas periféricas (com altas similaridades intra-regionais) partilham de trajetórias
diametralmente opostas. Países como Japão, Coreia do Sul e Taiwan, por exemplo, iniciam
seus processos de catching-up com uma proporção considerável de capital proveniente de
fora, que por sua vez vai decaindo em termos relativos ao longo do tempo. Já as duas
maiores economias latino-americanas, Brasil e México, iniciam o surto desenvolvimentista
com baixas proporções mas que vão se ampliando até meados da década de 1970, em termos
da cifra dos investimentos externos brutos (STALLINGS, 1990). No que se refere à
composição do capital, as regiões novamente destoam: os países latino-americanos, outra vez
com destaque especial para Brasil, México e Argentina, se regozijaram enfaticamente em
fundos privados, seja via IED ou empréstimos provenientes de bancos particulares. Tais
fundos bilaterais para esses países, em seu turno, eram empréstimos não-concessionais,
principalmente linhas de crédito advindas do EximBank estadunidense ou instituições
análogas da Europa e do Japão.
O padrão de desenvolvimento asiático, distintivamente, por fatores tanto deliberados
quanto por razões geopolíticas, contou mais com fundos do setor público (PEMPEL, 2015).
Os empréstimos bilaterais e multilaterais para a região, combinados, tiveram peso bem
maior, perfazendo mais de um terço dos influxos totais de capitais entre as décadas de 1960 e
1990 (STALLINGS, 1990). Nos empréstimos bilaterais – que constituíram a fonte
preponderante desses fundos públicos no início – boa parte do valor nas primeiras décadas
era categorizada como “ajuda”; aludindo, evidentemente, ao alto montante de auxílio
financeiro por parte dos EUA principalmente ao Japão, muito embora Coreia, Taiwan e
Singapura também tenham sido contemplados. Políticas de diversificação dos fornecedores e
credores do capital estrangeiro também ajudaram Taiwan e Coreia, com a importância deste
caindo ao longo do tempo no Leste Asiático de forma geral, ampliando a autonomia
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
88
governamental ante a dominação econômica de fora; com o oposto se dando na América
Latina. A diversificação dos credores facilitou o pagamento da dívida por parte dos países
asiáticos, tomando verba emprestada majoritariamente, conforme destacado, de instituições
públicas com maior prazo de carência e juros menores. O envolvimento tanto dos EUA
quanto posteriormente do Japão, geograficamente mais próximo, proveu também uma
margem de manobra maior vis-à-vis a América Latina, especialmente para o México: ou
seja, com essas duas potências interessadas na região, houve a possibilidade de negociação e
flerte com ambas para extrair ganhos políticos e econômicos (STALLINGS, 1990).
Finalizando sobre este quesito acerca da relação com o capital estrangeiro, um
detalhe institucional característico de todas as economias políticas dos Estados do Leste
Asiático (com exceção de Hong Kong) foi o da existência de mecanismos regulatórios sobre
os fluxos de capitais, tanto de entrada quanto de saída (CHANG, 2006). A questão da fuga
de capitais, pelo próprio contexto geopolítico precário e instável da região e as animosidades
da Guerra Fria, acabou compelindo tais regimes políticos a cercearem e condicionarem a
forma de ingresso dos fluxos financeiros por várias décadas, com boa parte das transações
econômicas envolvendo moedas estrangeiras sendo realizadas exclusivamente através de
bancos públicos sob o controle do governo, com punição a infratores contribuintes para a
saída de recursos (WADE, 1992; CHANG, 2006). Por fim, embora seja verdade que a
relação com o capital internacional tenha diferido em cada caso em específico, ainda assim
os países do Leste Asiático jamais chegaram a um nível de dependência estrutural dos
investimentos externos diretos (STALLINGS, 1990; CHANG, 2006).11
As divergências entre os NICs latino-americanos e os da Ásia tiveram início a partir
das distintas respostas dadas pelos países de cada região, mediante suas estratégias e padrões
de desenvolvimento seguidos após a 1ª fase da ISI, às problemáticas estruturais emergentes
com o fim do paradigma da globalização comercial e o advento da “revolução” financeira
nos anos 1970 e 1980. O novo arcabouço global financeirizado foi responsável, no plano
sistêmico pertinente ao mundo periférico, pelas seguintes e importantes reestruturações: a)
uma diminuição significativa da liquidez e do crédito barato aos países em desenvolvimento
11 Cumpre aqui denotar as pesadas regulações sobre os investimentos externos provenientes
das grandes empresas multinacionais e transnacionais, com estes sendo canalizados através de joint
ventures com participação local majoritária e obrigatória, em um intento de facilitar a transferência
tecnológica e de know-how. No caso da Coreia do Sul, a propriedade do capital estrangeiro jamais
excederia 50%, exceto onde tais fluxos detivessem conotação estratégica em sintonia com o plano
quinquenal governamental. Ou seja, tal teto só era relaxado em casos excepcionais, como: quando
tais investimentos fossem realizados em zonas de livre comércio; quando fossem realizados por
coreanos residindo fora; ou, finalmente, quando ajudassem a diversificar o IED em termos de país
de origem, tornando sua composição heterogênea (ECONOMIC PLANNING BOARD OF KOREA
apud CHANG, 2006).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
89
abundante nas décadas pregressas, que contribuiu em parte para financiar seus crescimentos;
b) a elevação colossal dos custos inflacionários em função dos choques do petróleo de 1973
e 1979; c) o estrangulamento externo gerado pelo aumento abrupto de boa parte das dívidas
externas com o aumento dos juros internacionais pelo FED, visto que o capital estrangeiro
contraído ao longo dos anos anteriores era lastreado em tal taxa; d) menores margens de
manobra governamental em um cenário de instabilidades cambiais e descompressão dos
sistemas financeiros domésticos no mundo todo; e, por fim, e) uma
migração/descentralização de parte das bases industriais manufatureiras dos países centrais
desenvolvidos – que passavam a ter economias mais assentadas no setor de serviços – para a
região com condições mais propícias de lucratividade em termos de câmbio e salários: no
caso, a Ásia (BELLUZZO, 2013: p.127-8).
Na América Latina, tais mudanças foram fulcrais para jogar a região em crescentes
dificuldades de manter o ritmo prévio de expansão econômica e numa escalada da dívida
externa, hiperinflação, escassez de investimentos e crescente marginalização social de vastos
segmentos da população, contribuindo inclusive para o início do esgotamento de muitos dos
regimes militares vigentes (GEREFFI, 1990). Boa parte dos governos latino-americanos, que
haviam contraído altos montantes de capital estrangeiro privado para aprofundarem seus
modelos substitutivos de importações (ISI secundária) com endividamento, ao invés de
buscarem estratégias de inserção externa objetivando competitividade, novas tecnologias e
aquisição de divisas, agora enfrentava um cenário internacional severamente adverso onde as
possibilidades internas e externas de crescimento eram baixíssimas. Sumarizando, então, as
turbulências da virada de tal década (1970) para a de 1980 – instabilidades cambiais,
choques do petróleo, aumento da taxa de juros pelo FED e financeirização – condutoras à
crise da dívida, fariam com que a maioria dos países latino-americanos se tornasse
“exportadora” involuntária de capitais. Passavam a testemunhar, assim uma erosão completa
de seus ciclos históricos desenvolvimentistas e modernizadores característicos na maior parte
do século XX, adentrando num período de reestruturações profundas de seus modelos de
economia política, reestruturações essas tuteladas por dificuldades crescentes e dependência
externa bem maior (GEREFFI, 1990; STALLINGS, 1990).
Enquanto isso, em boa parte dos países do Leste Asiático, a natureza de tais
mudanças teve um caráter completamente distinto: graças aos excedentes mercantis e aos
superávits comerciais e de conta corrente facultados por suas estratégias desenvolvimentistas
orientadas para exportações, estes países passaram a superar as remissões de lucros ao
exterior e adquirirem recursos, ampliando suas reservas e obtendo, dessa maneira, maior
autonomia governamental em meio às turbulências da economia global (STALLINGS,
1990). Friso aqui que as mudanças na economia internacional, assim como nas próprias
economias domésticas desses países, não passaram incólumes: o impacto na elevação de
custos e instabilidades monetárias, financeiras e cambiais, de um lado, e o aumento dos
salários e da renda por outro, compeliram os mesmos a remodelarem seus modelos
exportadores (da IOE primária à secundária) e darem um salto produtivo para uma matriz
centrada na venda de bens de capital e de maior valor agregado e tecnológico (GEREFFI,
1990; STALLINGS, 1990). Com isto, somado ao influxo de capitais e de firmas
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
90
manufatureiras dos países centrais para a região com o novo paradigma globalizante, essas
próprias nações asiáticas puderam também descentralizar parte de suas bases produtoras de
bens de consumo leves; que virão compor o cenário geopolítico perfeito para a abertura
chinesa e o novo papel que aquela nação vislumbraria ocupar na nova divisão internacional
do trabalho enquanto “pólo industrial do mundo”.
Na próxima e penúltima seção do artigo, tentarei amalgamar e dialogar de forma
bastante sintética os pontos trazidos até aqui nas três seções anteriores com as realidades
específicas de Brasil e China, elucidando como essas mudanças ditaram as transformações
que esses países passariam a partir da década de 1980 e suas próprias lógicas de inserção na
globalização financeira.
1.5: Brasil e China em transição: estrangulamentos e oportunidades propiciados pelo
novo ordenamento normativo global
Nesta última seção do artigo, o debate ficará finalmente centrado em Brasil e China,
com uma tentativa de matizar como suas forças políticas e regimes produtivos processaram,
nacionalmente, as profundas mudanças ocorridas no plano global e regional. Para isto, por
questões de escopo, tentarei reconstituir os principais fatos estilizados das trajetórias desses
países ao longo da segunda metade do século XX, sempre coadunados ao eixo explicativo de
que a mudança no paradigma de globalização foi elemento pivotal para os rumos que essas
nações tomariam com relação às suas inserções na nova arquitetura neoliberal.
Começando pelo caso brasileiro, a crise estrutural que marcaria o país na década de
1980, sendo não somente um fenômeno circunscrito ao nosso caso nacional e sim
pertencente a praticamente toda a América Latina, é impressionante ao se levar em conta a
performance econômica observada décadas antes. O Brasil, entre a modernização varguista e
o ocaso do regime militar nos anos 1980, testemunhou uma trajetória exuberante de
desenvolvimento econômico e industrialização, ainda que com fases muito heterogêneas
entre si e contradições agudas no que tange à manutenção de uma elevada exclusão social e
concentração de renda (BIELSCHOWSKY e MUSSI, 2013; BRESSER-PEREIRA, 2014;
PINHO, 2016). Entre a chegada de Vargas e meados dos anos 1950, a economia brasileira
apresentou uma base de acumulação endógena, com o início de um processo substitutivo
suplantando o antigo modelo agrário-exportador oligárquico e buscando racionalizar uma
industrialização pautada em bens de consumo básicos para o mercado interno. A partir
principalmente do governo JK (1956-1961) em diante, muito embora o planejamento
governamental diretivo e sinérgico junto aos atores do setor privado doméstico
permanecesse, a base de acumulação e industrialização mudou, tendo um novo enfoque no
setor de bens intermediários e de capitais e a admissão do capital estrangeiro com a intenção
de potencializar o desenvolvimento (PINHO, 2016). Para além das empresas multinacionais
passarem a ser admitidas com maior facilidade e ocuparem parte relevante do mercado
interno brasileiro, foram promulgadas medidas específicas discriminando as próprias firmas
nacionais em favor dos investimentos diretos de fora, sendo o exemplo mais notório a
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
91
Instrução 113 da SUMOC (BRESSER-PEREIRA, 2014: p.147).12 Assim, corroborando o
ponto de Fonseca (2014) na seção anterior, as opções políticas feitas pelas elites políticas
governantes a partir de JK em diante, em consonância com possibilidades fornecidas pelo
novo cenário internacional do Pós-Guerra de maiores investimentos e capitais, foi de
imprimir gradualmente ao ciclo desenvolvimentista brasileiro um caráter mais pautado na
poupança externa (ou seja, dependente-associado).13
Com a ditadura instaurada em 1964 (também convencionada como Nacional
Desenvolvimentismo Autoritário), foram aprofundadas grandes mudanças no país, como: a
modernização da estrutura produtiva brasileira; a dinamização econômica; uma nova onda de
urbanização (ainda que mais circunscrita à região sudeste); a geração de empregos e o
aprimoramento da industrialização substitutiva de importações em alguns setores específicos
produtores de bens de capital e de bens de consumo duráveis destinados à classe média
(BIELSCHOWSKY e MUSSI, 2013; PINHO, 2016).
A legitimidade do regime militar brasileiro derivava, acima de tudo, da mobilização
construída em torno do slogan positivista “Brasil Potência”, vinculado às taxas estrondosas
de crescimento econômico obtidas na virada dos anos 1960 para os anos 1970 (PRADO e SÁ
EARP, 2012). Contudo, o desenvolvimento econômico logrado pelos militares requer aqui
uma devida contextualização e precisão de sua natureza. Em primeiro lugar, encontrou um
forte condicionante externo em três fatores particulares: a) o cenário abundante de crédito
internacional a juros baratos, principalmente de países centrais tais como os Estados Unidos,
a Alemanha e o Japão; b) a expansão dos investimentos externos diretos das empresas
transnacionais; e, por fim, c) a expansão desenfreada do mercado de operações cambiais e de
eurodólares facilitando bastante a captação de empréstimos junto ao exterior (PRADO e SÁ
EARP, 2012: p.217-8; BRESSER-PEREIRA, 2014: p.226). Todos esses três fatores foram
frutos diretos do novo paradigma de globalização comercial que, na década de 1960, estava
em seu apogeu. Evidentemente, tais mudanças e condições favoráveis encontraram respaldo
em reformas realizadas pelos governos domésticos, que promoveram mudanças
institucionais e regulatórias para favorecer e incentivar ainda mais a entrada de recursos:
destaco aqui principalmente a Lei de Remessa de Lucros (Número 4.390/64) e a Resolução
No. 63 do Banco Central (21/9/67), promulgadas durante os governos de Castelo Branco e
Costa Silva, respectivamente. A primeira passava a também considerar investimento as
reinversões dos lucros aqui obtidos (antes, para o cálculo da remessa de dividendos, era
considerado apenas o capital originalmente investido), enquanto que a segunda autorizava os
12 SUMOC (Superintendência da Moeda e do Crédito) era o órgão responsável por gerir a
política monetária governamental naquela época, antes da ditadura militar mudar seu desenho
institucional e convertê-la num Banco Central.
13 Para uma radiografia completa das acepções do desenvolvimento dependente-associado, ver
Bresser-Pereira (2010).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
92
bancos comerciais a intermediarem a contratação direta de empréstimos externos para
financiamento do capital de giro das empresas aqui instaladas. O governo de Emílio
Garrastazu Médici, na virada dos anos 60 para os 70, também se somaria a tais esforços ao
criar novos dispositivos para a liberalização das contas de capitais objetivando que as firmas
brasileiras pudessem se integrar mais rapidamente ao crescimento da oferta de crédito
internacional (PRADO e SÁ EARP, 2012).
Ou seja, concatenavam-se dois fatores históricos e estruturais favoráveis: o maior
financiamento externo disponível e o bom momento do comércio mundial dando um alento
às exportações brasileiras. Mas, como já aludimos previamente, tal cenário começaria a se
modificar ainda na década de 1970 com o abandono unilateral da conversibilidade do dólar
em ouro pelo governo de Richard Nixon e a cartelização do petróleo e primeiro aumento do
preço da commodity em 1973, impondo um esgarçamento ao boom econômico e
estabelecendo um cenário bem mais hostil aos países em desenvolvimento, grosso modo
(PRADO e SÁ EARP, 2012).
Nesse sentido, em um momento onde a estratégia industrializante substitutiva de
importações começava a ensaiar os primeiros sinais de esgotamento, e a inflação regressava
na esteira do novo cenário internacional adverso que se apresentava, o presidente seguinte da
junta militar, Ernesto Geisel (assumindo em 1974), se defrontava com um dilema: promover
um ajuste recessivo para se adequar ao novo cenário econômico adverso, ou aproveitar o
ainda existente crédito externo para continuar financiando o crescimento, na expectativa de
eventuais mudanças no quadro geopolítico. A opção escolhida foi a segunda, e assim o
governo brasileiro lançou o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). Sua engenharia
institucional visava promover o setor de infraestrutura com grandes projetos financiados pelo
Estado e seus investimentos públicos; o setor industrial de insumos básicos por conta
novamente do Estado e grandes empresas estrangeiras do setor petroquímico; e, por fim, a
indústria de bens de capitais fomentada pelo setor privado nacional (BRESSER-PEREIRA,
2014: p.228). O vetor de financiamento desse plano foi a poupança externa, e os atores
utilizados para tal canalização de recursos foram as empresas estatais, que se endividavam
em dólares ao mesmo tempo em que o governo adotava uma política de represamento de
preços para mitigar (sem sucesso) os impactos inflacionários.14 Em 1979, com o segundo
choque do petróleo e a resposta de Volker/Tesouro Americano à estagflação dos Estados
Unidos com o aumento dos juros, o país quebrou em meio ao fim definitivo da liquidez
internacional e escalada da dívida externa, com sufocamento das empresas estatais e um
quadro de recessão e hiperinflação agudos que se avizinhavam (BIELSCHOWSKY e
MUSSI, 2013). Era o prelúdio definitivo da crise terminal do regime militar; e, nas palavras
de Bresser, também “o fim prematuro do grande arranque da economia brasileira iniciado em
1930 que se anunciava;...” (2014: p.229).
14 Somente entre 1973 e 1978, um ano antes do segundo choque do petróleo, a dívida externa
brasileira aumentou de 13,962 para aproximadamente 50,143 bilhões de dólares (BRESSER-
PEREIRA, 2014: p.227).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
93
Na década seguinte, as pressões dos atores da sociedade civil (especialmente do novo
sindicalismo) pela redemocratização se somariam a um novo contexto de instabilidades
macroeconômicas, baixo crescimento, problemas crônicos no balanço de pagamentos e
desindustrialização, prévios à nova ordem constituinte de 1988 e aos ajustes estruturais que o
país passaria com a abertura comercial e financeira neoliberal dos anos 1990
(BIELSCHOWSKY e MUSSI, 2013). Mas sobre estes tópicos me debruçarei em pesquisa
futura.
Tratando agora da China, um primeiro detalhe a ser destacado de sua trajetória diz
respeito ao fato do ponto de partida temporal em termos de sua (re)inserção na economia
capitalista global e no sistema internacional ter diferido bastante dos demais vizinhos do
Leste Asiático. Desde a revolução e fundação da República Popular por Mao Zedong em
1949, o país vivenciou um regime de planificação econômica guardando semelhanças e
inspirações no modelo soviético (PERKINS, 2013). A lógica organizacional de tal modelo
econômico, onde o Estado alocava – via Planos Quinquenais – toda a produção e excedente
agrícola e industrial em clusters segmentados ao largo do território do país, era intimamente
induzida pelo cenário de Guerra Fria e pelo entorno geopolítico bastante hostil com o qual o
país tinha de lidar, principalmente após a ruptura sino-soviética nos final dos anos 1950
(SPENCE, 1995; MEDEIROS, 2012). O eixo alinhado aos EUA do sistema internacional,
por sua vez, também havia imposto à China um pesado embargo comercial, compelindo
ainda mais ao fechamento do sistema (MEDEIROS, 2012). Assim, fez relativo sentido a
ênfase colocada sobre a indústria pesada e a de bens de capital (aço e maquinários), visto que
a planificação central da economia seria a forma mais rápida e eficiente de potencializar tal
segmento, uma vez que a experiência prévia do país era apenas com a produção de bens de
consumo em larga maioria têxteis (PERKINS, 2013). Cumpre notar também que, nos anos
1950, a União Soviética (URSS) não estava estagnada e parecia um modelo promissor,
alcançando status de potência militar e tecnológica em um curto intervalo de tempo.
Politicamente, a China conseguiu erigir uma estrutura burocrática e descentralizada de
governo extremamente eficiente, com o PCCh intimamente imbricado tanto ao Estado
quanto à sociedade, com este desenho institucional sobrevivendo mesmo após a morte de
Mao.
Quando do processo de abertura definido a partir da Terceira Seção Plenária do 11º
Comitê Central do PCCh em 1978, um dos gargalos estruturais mais notórios era que se
encontravam ausentes na China recursos e divisas para importação de tecnologias. Este fator
acabou contribuindo também para que as manufaturas e produtos industriais leves,
notavelmente têxteis, fossem escolhidos como as fontes mais competitivas e privilegiadas de
exportação à priori: assim, a China começava a adotar uma estratégia de desenvolvimento
gradualmente voltada para a inserção externa e com base manufatureira situada na região
costeira com “corredores industriais” produzindo bens de consumo intensivos em trabalho e
absorção de mão de obra. Esta estratégia, inclusive, ainda que medida com as
particularidades da trajetória histórica e instituições chinesas, se assemelhava bastante aos
modelos de IOE primária seguidos pelos vizinhos da região. O aumento das exportações foi,
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
94
portanto, o meio de obtenção de divisas para comprar tecnologias e bens intermediários, as
chamadas “importações críticas” ao catching-up (PERKINS, 2013: p.125-6).
Antes das reformas institucionais em 1978, a China não admitia qualquer influxo de
capital estrangeiro ou mesmo IED, fato que evidentemente mudou com a abertura ao
exterior, embora de forma gradual e não automática. A maior parte dos investimentos iniciais
vinha de Hong Kong e Macao, sendo canalizados dos demais países do Ocidente e do
próprio Leste Asiático para a província de Guangdong ao sul. A razão para tal nível baixo de
investimentos e predomínio das firmas de Hong Kong se explica pela China não fornecer, ao
menos na primeira década de reformas, regras e instituições claras de suporte para as grandes
multinacionais do Japão ou dos demais países centrais, com cada investidor tendo de
negociar as regras governando suas operações, geralmente com oficiais burocráticos locais.
Dessa forma, o reforço das regras e contratos dependia de forma imprescindível dos laços
políticos pessoais entre os investidores e os governos das províncias ou unidades
subnacionais do país asiático (MEDEIROS, 2012; PERKINS, 2013).
Olhando em retrospectiva, pode parecer demasiadamente simplista apontar o êxito do
processo de abertura chinês como derivado da nova dinâmica de acumulação do capitalismo
global instaurada a partir da virada da década de 1970 para a de 1980 (uma narrativa
parecida com as que aludem ao “desenvolvimento a convite”). Não é esta a linha proposta na
presente seção: longe de explicar o sucesso da complexa trajetória da economia política
chinesa por uma chave unicamente externalista, o ponto aqui pretendido é apenas mostrar a
janela de oportunidades e os “ingredientes favoráveis” fornecidos por tais mudanças a uma
orientação particular de desenvolvimento e inserção externa seguida pelas autoridades do
país logo após as reformas de Deng.
Como analisa o professor Eduardo Costa Pinto (2011: p.22-3), a recondução da China
ao sistema mundial, tutelada por sua reaproximação com os Estados Unidos (que seguiam
uma estratégia de repactuação de sua própria influência e diluição do alcance soviético na
região), remonta indissociavelmente ao novo equilíbrio de poder introduzido pelas mudanças
na radiografia política e econômica das décadas de 1970/1980:
a) O desmoronamento do sistema monetário de Bretton Woods, articulado à desvalorização da
moeda americana e o fim da conversibilidade dólar-ouro;
b) A necessidade dos estadunidenses de recuperar a competitividade de suas empresas para
recompor o próprio poder do dólar e reforçar sua posição no topo hierárquico da geopolítica
capitalista, o que foi em parte logrado com a migração de parte das cadeias produtivas de suas
firmas para a Ásia;
c) A “restauração” liberal conservadora de gestão da política macroeconômica nos países
centrais, apoiada no monetarismo friedmaniano;
d) O reenquadramento americano da periferia através da política do dólar forte (com o choque
dos juros de Paul Volcker); e, finalmente,
e) O estabelecimento de uma série de acordos econômicos e comerciais bilaterais entre os países
centrais e a China, logo após esta passar pelo processo de abertura.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
95
Prosseguindo, a nova “parceria estratégica” firmada entre Deng Xiaoping e os países
desenvolvidos capitalistas, principalmente os Estados Unidos, criou uma das condições mais
imprescindíveis ao “milagre econômico chinês” que foi a inclusão do país asiático nos
mercados de bens de consumo e de capitais do Ocidente, garantindo uma demanda colossal
para sua arrancada exportadora conseguinte e seu acesso ao financiamento internacional,
embora este último não tenha sido o protagonista da estratégia de catching-up da China
(PINTO, 2011; MEDEIROS, 2012). Assim, como bem sumariza Pinto, “o acesso da China
ao mercado americano foi um dos importantes elementos do processo de expansão da
globalização financeira conduzida pelos Estados Unidos” (2011: p.24).
Os demais países do Leste Asiático, que permaneciam apresentando fortes taxas de
crescimento e inserção nas cadeias produtivas mundiais, vislumbraram nas mudanças
estruturais que ocorriam na economia global uma oportunidade para adentrarem em uma
nova etapa dinâmica de integração regional – um crescimento intimamente sincronizado de
países em estágios distintos de produção industrial e desenvolvimento (PINTO, 2011: p.27).
Explicando: ao passo em que a maior parte desses países (Japão, Coreia, Taiwan, Singapura)
ia sofisticando suas bases tecnológicas e passando da produção de bens de consumo de
menor valor agregado à produção de bens intensivos em capital (uma vez mais, no bojo das
novas estratégias de IOE secundárias), vislumbraram na abertura chinesa uma possibilidade
de baratearem seus custos através da importação de manufaturas leves baratas da nação
asiática que passaria a concentrar tal base industrial (MEDEIROS, 1997; 2012; PINTO,
2011; PERKINS, 2013).
À guisa de conclusão, tentei nesta seção 1.5 discorrer sobre os rearranjos domésticos
que as economias políticas de Brasil e China passaram em sintonia aos câmbios no sistema
internacional. Evidentemente, por questões de escopo, não pude pormenorizar os detalhes
dos processos políticos internos que resultaram nas respostas a tais mudanças, algo que será
mais esmiuçado alhures. Ainda assim, na Tabela 3, apresento um esforço de síntese das
principais reestruturações engendradas pelos distintos paradigmas globalizantes e quais as
condições produtivas prévias ao advento da financeirização neoliberal de cada região e país:
Tabela 3 – Síntese esquemática dos Padrões de Desenvolvimento à luz dos Paradigmas
de Globalização
Contexto
econômico
América Latina Leste Asiático China
Crise de 1929 –
Fim da 2ª
Guerra Mundial
(1945)
Industrialização
Substitutiva de
Importações (ISI)
primária. Apogeu do
modelo nacional
desenvolvimentista
substitutivo de
importações. (Brasil
incluso)
Envolvidos/mobilizados
na 2ª Guerra e/ou em
guerras civis internas.
Idem.
Paradigma da Industrialização Industrialização Regime maoísta de
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
96
Globalização
Comercial
(1945-1973 +-)
Substitutiva de
Importações (ISI)
secundária.
Desenvolvimentismo
dependente-associado.
(Brasil incluso)
orientada para
exportações (IOE)
primária, centrada em
bens de consumo leves.
economia
planificada (desde
1949)
Paradigma da
Globalização
Financeira (1973
- ?)
Crise gradual da ISI
secundária e
esgotamento do modelo
desenvolvimentista
latino-americano, crise
da dívida e
estrangulamento
externo. (Brasil incluso)
Industrialização
orientada para
exportações (IOE)
secundária, centrada em
bens de capital ou bens
intensivos em
tecnologias de alto valor
agregado.
(A partir de 1978)
Início da adoção de
uma
industrialização
orientada para
exportações (IOE)
primária “com
características
chinesas”, centrada
em bens de
consumo leves.
Fonte: Elaboração própria.
1.6: Considerações finais
A intenção deste trabalho, como destacado na primeira seção, foi tecer um quadro
geral das mudanças no ordenamento político e econômico internacional no Pós-Guerra.
Segundo a linha de raciocínio que tentei aqui operacionalizar, derivada de diversos autores,
mas principalmente de Dani Rodrik (2012), o processo de globalização engendrado a partir
de então funcionou dentro de dois recortes históricos e institucionais distintos: um primeiro
compreendido entre o final da 2ª Guerra Mundial e meados da década de 1970, assentado na
industrialização fordista e numa relativa conciliação entre capital e trabalho capaz de gerar
décadas de crescimento com ganhos sociais; e um segundo onde a financeirização e a
desregulação dos mercados e capitais passaram a ser vanguardistas, para além da
fragmentação das atividades produtivas.
O primeiro recorte operou sob a ordem monetária de Bretton Woods e suas
instituições; provendo, ainda que às custas dos déficits de balanço de pagamentos dos EUA e
de uma precária paridade dólar-ouro, a expansão multilateral do comércio e uma integração
maior da periferia à DIT capitalista, em um cenário onde o crédito para financiar projetos
industrialistas era abundante e aos Estados estava resguardada relativa autonomia (traduzida
no controle das variáveis macroeconômicas: fiscal, monetária e cambial) para perseguirem
estratégias nacionais de desenvolvimento. O segundo recorte, fruto das próprias
instabilidades e desequilíbrios gerados pelo anterior somados a uma viragem ideológica e
institucional nos países centrais (principalmente nos EUA), deflagrou o início de um
processo de integração financeira em escala global vigente até os dias de hoje. O intuito
deste escrito foi, por conseguinte, tentar debater e delinear um pouco mais como essa
significativa mudança representou distintos impactos, oportunidades e limitações para dois
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
97
países de duas regiões periféricas discrepantes, que a processaram (tal transição de
paradigma) à luz de seus padrões e modelos existentes de desenvolvimento e inserção
internacional.
Em delineamentos futuros desta agenda de pesquisa, espero destacar em detalhes e
com maior rigor analítico o modus operandi de ambos os países em suas inserções na
globalização financeira após os anos 1980, mapeando adequações, mediações e/ou
enfrentamentos feitos por suas coalizões políticas incumbentes ante um capitalismo
neoliberal já consolidado e ditado pela tônica da desregulação e da primazia do mercado,
com dificuldades sistêmicas e estruturais crescentes sobre a margem dos Estados nacionais
de perseguirem estratégias de desenvolvimento econômico.
1.7: Referências Bibliográficas
ABRAMOVITZ, Moses. “Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind”. The Journal of
Economic History, Vol.46, No.2, 1986. pp.385-406.
ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por que as Nações fracassam: As origens do
poder, da prosperidade e da pobreza. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
AMSDEN, Alice. Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization. New York:
Oxford University Press, 1989.
___________. A Ascensão do “Resto”: Os desafios ao Ocidente de economias com
industrialização tardia. São Paulo: UNESP, 2009.
BELLUZZO, Luiz Gonzaga. O Capital e suas Metamorfoses. São Paulo: UNESP, 2013.
BIELSCHOWSKY, Ricardo; MUSSI, Carlos. “Padrões de desenvolvimento na economia
brasileira: a era desenvolvimentista (1950-1980) e depois”. In.: CGEE. Padrões de
Desenvolvimento Econômico (1950-2008) – Volume 1: América Latina, Ásia e Rússia.
Brasília: DF, 2013. pp.137-210.
BOIX, Charles. Political Parties, Growth and Equality: Conservative and Social Democratic
Economic Strategies in the World Economy. New York: Cambridge University Press, 1998.
BOYER, Robert. “State and Market: a new engagement for the XXI Century?”. In.:
BOYER, Robert; DRACHE, Daniel (Eds.). States against Markets: the limits of
globalization. London: Routledge, 1996. pp.62-84.
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. “As Três Interpretações da Dependência”. Revista
Perspectivas, Vol.38, 2010. pp.17-48,
___________. A construção política do Brasil: Sociedade, economia e Estado desde a
Independência. São Paulo: Editora 34, 2014.
BRUNHOFF, Suzanne de. A Hora do Mercado: Crítica do liberalismo. São Paulo: UNESP,
1991.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
98
CABLE, Vincent. “The Diminished Nation-State: A Study in the Loss of Economic Power”.
Daedalus, Vol.124, No.2, 1995. pp.23-53.
CAMERON, David. “The Expansion of the Public Economy: A Comparative Analysis”. The
American Political Science Review, Vol.72, No.4, 1978.pp.1243-1261.
CARVALHO, Fernando Cardim de. “Bretton Woods aos 60 anos”. Novos Estudos, n.70,
2004. pp.51-63.
CHANG, Ha-Joon. Globalization, Development, and the Role of the State. London: Zed
Books, 2004a.
___________. Chutando a Escada: A estratégia de desenvolvimento em perspectiva
histórica. São Paulo: Editora UNESP, 2004b.
___________. The East Asian Development Experience. London: TWN/Zed Books, 2006.
COLLIER, Ruth Berins; COLLIER, David. Shaping the Political Arena: Critical Junctures,
the Labor Movement, and Regime Dynamics in Latin America. New Jersey: Princeton
University Press, 1991.
EICHENGREEN, Barry. Globalizing Capital: A History of the International Monetary
System. 2.ed. Princeton University Press, 2008.
EPSTEIN, Gerald. “A Crise Financeira Global: evitar uma Grande Depressão e conter o
ciclo destrutivo”. In.: EPSTEIN, Gerald et al. Financeirização da Economia: a última fase
do neoliberalismo. Lisboa: Editora Livre, 2010. pp.94-124.
ESPING-ANDERSEN, Gosta. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity
Press, 1990.
EVANS, Peter. “The Eclipse of the State? Reflections on the Stateness in an Era of
Globalization”. World Politics, Vol.50, N.1, Special Issue, 1997. pp.62-87.
FAGERBERG, Jan; SRHOLEC, Martin. “Catching-up: What are the critical factors for
success?”. UNIDO World Industrial Development Report, 2005. pp.1-88.Disponível em: <
http://folk.uio.no/janf/downloadable_papers/05Fagerberg-Srholec_CatchingUp.pdf >.
FONSECA, Pedro Cézar Dutra. “Desenvolvimentismo: a construção do conceito”. In.:
CALIXTRE, André et al (Orgs.). Presente e Futuro do Desenvolvimento Brasileiro. Brasília:
IPEA, 2014. pp.29-78
FROYEN, Richard. Macroeconomia. São Paulo: Saraiva, 1997.
GARRETT, Geoffrey. “Global Markets and National Politics: Collision Course or Virtuous
Circle?”. International Organization, Vol.52, Issue 4, 1998. pp.787-824.
___________. “Capital Mobility, Exchange Rates and Fiscal Policy in the Global
Economy”. Review of International Political Economy, Vol.7, No.1, 2000. pp.153-170.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
99
GEREFFI, Gary. “Paths of Industrialization: An overview”. In.: GEREFFY, Gary;
WYMAN, Donald (Eds.). Manufacturing Miracles: Paths of Industrialization in Latin
America and East Asia. New Jersey: Princeton University Press, 1990. pp.3-31.
GLYN, Andrew et al. “The Rise and Fall of the Golden Age”. In.: MARGLIN, Stephen;
SCHOR, Juliet (Eds.). The Golden Age of Capitalism: Reinterpreting the Postwar
Experience. Oxford: Clarendon Press, 1990. pp.39-125.
GUTTMANN, Robert. “Uma introdução ao capitalismo dirigido pelas finanças”. Novos
Estudos, Vol.82, 2008. pp.11-33.
HARVEY, David. A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press, 2004.
HELLEINER, Eric. States and the Reemergence of Global Finance: From Bretton Woods to
the 1990s. Ithaca: Cornell University Press, 1994.
HIBBS, Douglas. “Political Parties and Macroeconomic Policy”. American Political Science
Review, Vol.71, N.4, 1977. pp.1467-1487.
HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX, 1914-1990. São Paulo: Cia das
Letras, 1995.
JABBOUR, Elias. China Hoje: Projeto Nacional, Desenvolvimento e Socialismo de
Mercado. 1.ed. São Paulo: Anita Garibaldi: Fundação Maurício Grabois, 2012.
___________. “The Political Economy of Reforms and the present Chinese transition”.
Brazilian Journal of Political Economy, Vol.37, No.4 (149), 2017. pp.789-807.
JOHNSON, Chalmers. MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy,
1925-1975. Stanford University Press, 1982.
JUDT, Tony. Pós-Guerra: Uma História da Europa desde 1945. Rio de Janeiro: Objetiva,
2008.
KEOHANE, Robert; MILNER, Helen (Eds.). Internationalization and Domestic Politics.
Cambridge University Press, 1996.
KINDLEBERGER, Charles; ALIBER, Robert. Manias, Panics and Crashes: A History of
Financial Crises. 6.ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.
KOHLI, Atul. “Nationalist Versus Dependent Capitalist Development: Alternate Pathways
of Asia and Latin America in a Globalized World”. Studies in Comparative International
Development, n.44, 2009. pp.386-410.
MADDISON, Angus. The World Economy – Volume 1: A Millennial Perspective. Paris:
OCDE, 2001.
MEDEIROS, Carlos Aguiar de. “Globalização e a Inserção Internacional diferenciada da
Ásia e América Latina”. Texto para discussão. Instituto de Economia – UFRJ, 1997.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
100
Disponível em: < http://www.ie.ufrj.br/ecopol/pdfs/42/g19.pdf >. Acesso em 18 de maio de
2018.
___________. “China: entre os Séculos XX e XXI”. In.: FIORI, José Luís (Org.). Estados e
moedas no desenvolvimento das nações. 4.ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2012. pp.379-
409.
MOURA, Rafael. “Estado, mercado e desenvolvimento – uma releitura do paradigma
neoliberal pela perspectiva institucionalista”. Ponto de Vista, N.3, setembro de 2015. pp.1-
20.
___________. “A China no espelho do Leste Asiático – retomando reflexões sobre o Estado
Desenvolvimentista”. Oikos, Volume 16, N.3, 2017. pp.71-85.
PEMPEL, T.J. “Two Crises, Two Outcomes”. In.: PEMPEL, T.J.; TSUNEKAWA, Keiichi
(Eds.). Two Crises, Different Outcomes: East Asia and Global Finance. Cornell University
Press, 2015. pp.17-38.
PERKINS, Dwight. East Asian Development: Foundations and Strategies. London: Harvard
University Press, 2013.
PINHO, Carlos. Planejamento governamental no Brasil: trajetória institucional,
autoritarismo e democracia em perspectiva comparada (1930-2016). Tese (Doutorado em
Ciência Política) – Rio de Janeiro: Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 2016.
PINTO, Eduardo Costa. “O Eixo Sino-Americano e as Transformações do Sistema Mundial:
tensões e complementaridades comerciais, produtivas e financeiras”. In.: PINTO, Eduardo
Costa et al (Orgs.). A China na Nova Configuração Global: impactos politicos e
econômicos. Brasília: IPEA, 2011. pp.19-79.
PRADO, Luiz Carlos Delorme; SÁ EARP, Fábio. “O ‘milagre’ brasileiro: crescimento
acelerado, integração internacional e concentração de renda (1967-1973)”. In.: FERREIRA,
Jorge; DELGADO, Lucilia (Orgs.). O Brasil Republicano, Vol 4 – O tempo da ditadura:
regime military e movimentos sociais em fins do século XX. 5.ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2012. pp.209-241.
RODRIK, Dani. The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World
Economy. New York: W.W. Norton & Company, 2012.
RUGGIE, John. “International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in
the Postwar Economic Order”. International Organization, Vol.36, Issue 2, 1983. pp.379-
415.
SPENCE, Jonathan. Em busca da China moderna: quatro séculos de história. São Paulo:
Cia das Letras, 1995.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
101
STALLINGS, Barbara. “The Role of Foreign Capital in Economic Development”. In.:
GEREFFI, Gary; WYMAN, Donald (Eds.). Manufacturing Miracles: Paths of
Industrialization in Latin America and East Asia. New Jersey: Princeton University Press,
1990. pp.55-89.
STIGLITZ, Joseph. Globalização: como dar certo?. São Paulo: Cia das Letras, 2007.
STRANGE, Susan. Casino Capitalism. Manchester University Press, 1997.
WADE, Robert. Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in
East Asian Industrialization. Princeton University Press, 1992.
WEISS, Linda (Ed.). States in the Global Economy: Bringing the Domestic Institutions Back
In. Cambridge University Press, 2003.
WORLD BANK. World Development Indicators - Database. Disponível em: <
https://data.worldbank.org/?locations=Z4-US-ZJ-EU >. Acesso em 18 de maio de 2018.
___________. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. New York:
Oxford University Press, 1993.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
102
Dimensões de um conflito ficcional: a relação entre estado e mercado a partir do setor
elétrico e da consolidação da Espirito Santo Centrais Elétricas.
Jayme K. R. Lopes1
Resumo
As instituições estaduais estatais de eletricidade, principalmente a partir da década de 1950,
ocuparam um papel importante na historia do estado Brasileiro moderno e contemporâneo, se
colocando como um dos eixos centrais na dinâmicas dos conflitos pelo acesso ao monopólio
politico da administração publica e pela dimensão econômica do mercado de energia e de seus
produtos. Este artigo se propõem a debater o caso da consolidação da Espirito Santo Centrais
Elétricas como importante representante destes conflitos, que se encontraram na criação de
um estado-empresário fortemente engajado na construção de um setor elétrico nacional e em
um projeto de econômico nacional desenvolvimentista, com raízes em um novo ciclo
econômico mundial.
Palavras-chave: Escelsa, Energia, Estado, Capitalismo
Abstract
The state state electricity institutions, especially since the 1950s, played an important role in
the history of the modern and contemporary Brazilian state, becoming one of the central axes
in the dynamics of conflicts for access to the political monopoly of public administration and
the dimension the energy market and its products. This paper proposes to discuss the case of
the consolidation of Espirito Santo Centrais Elétricas as an important representative of these
conflicts, which were found in the creation of a state-entrepreneur strongly engaged in the
construction of a national electricity sector and in a national developmentalist economic
project with roots in a new global economic cycle.
Keywords: Escelsa, Energy, State, Capitalism
Introdução É comum no Brasil, mesmo em tempos de ojeriza a administração pública,
associarmos historicamente as empresas publicas com a vida moderna do país, principalmente
a partir da ideia de um progresso econômico e de conquista de um certo bem estar social.
Contudo, perdemos de vista que sua ascensão e consolidação ultrapassara os limites do
exercício de suas atividades adquirindo, a condição de um significado politico, econômico e
social projetado em termos de disputas em varias dimensões, com reflexos na estrutura do
estado e da sociedade. Entretanto, estas disputas, por vezes mencionadas nas bibliografias
1 Doutorando em Ciências Sociais pelo PPGCIS/PUC-Rio e Mestre em Antropologia Social pela Faculdade
Latino-Americana de Ciências Sociais – FLACSO/Argentina
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
103
gerais sobre o tema como conflitos entre capitais, modelos econômicos, linhas politicas,
parece assumir outras dimensões quando falamos das primeiras empresas publicas estaduais
de energia.
A expansão da infraestrutura do setor elétricos Brasileiro dos primeiros anos de 1930
ao final da década de 1970, foi traduzida por grandes investimentos estatais direcionados na
área de geração, transmissão e distribuição de energia. A assunção do estado como
protagonista previa a estatização de empresas privadas que até então, atuavam desde a
produção até distribuição de energia elétrica e a criação de grandes empresas estatais, tendo
como referencia máxima a criação da Eletrobrás em 1962.
Esta dinâmica de crescimento rápido do mercado de energia elétrica pela capacidade
instalada e a partir de grandes investimentos, se traduziu em esforços significativos para
desenvolvimento técnico, administrativo e financeiro no período. Por outro lado, a amplitude
dos serviços de energia elétrica e seus tentáculos em diversos campos da realidade social
foram condicionantes na formação destas novas empresas publicas, uma vez que os grandes
investimentos públicos estabelecem cadeias de dependência financeira entre o estado e
grandes instituições de credito, bem como, abrigaram os conflitos políticos locais e regionais
em busca de domínio sobre estes novos espaços.
Na década de 60, o governador capixaba Carlos Lindemberg, enfatizava a necessidade
de novos recursos para a instalação do sistema elétrico estadual, principalmente por ser
essencial para a consolidação do planejamento econômico do Estado do Espirito Santo da
época, em mensagem ele diz: “O progresso da Escelsa está ligado ao progresso do Espirito
Santo de modo constante e indissolúvel: são dois organismos em simbiose”. A Escelsa –
Espirito Santo Centrais Elétricas, empresa estatal de produção, transmissão e distribuição de
energia, nasceria com plena capacidade de funcionamento e investimento em 19682, com a
fusão com a CCBFE (Companhia Central Brasileira de Força Elétrica) e sob apoio
administrativo, técnico e financeiros da Eletrobrás, mas também do suporte financeiro e
politico do BNDE (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico), Gerca (Grupo
Executivo para Recuperação da Cafeicultura), CVRD (Companhia Vale do Rio Doce) e CSN
(Conpanhia Siderurgica Nacional), em um contexto de incapacidade de atendimento ao
consumo por parte da CCBFE e um plano de industrialização estadual para Grande Vitória,
2 A Escelsa como empresa foi fundada em 1956.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
104
baseado no Plano de Metas nacional (1956 a 1961).
Além disso, a nova empresa suplantava a disputa politica entre os setores nacionalista,
do desenvolvimento econômico a partir do estado de um lado, e os setores que defendiam a
abertura da economia nacional para o investimento de capital estrangeiro nos serviços
públicos. A escolha do governo capixaba pelo ideário desenvolvimentista se baseava na
importância estratégica do Espirito Santo em sua posição geográfica dentro de um contexto
nacional e internacional, mas também, se relacionam com a incorporação sistemática em seu
núcleo da participação de entidades coorporativas, no caso do Espirito Santo, o Conselho
técnico da FINDES (Federação das Industrias do Espirito Santo). Que passou a elaborar
projetos de industrialização voltados a “siderurgia, geografia industrial e no levantamento da
realidade econômico-social do Espirito Santo3. Processo que deu origem ao Codec –
Conselho de Desenvolvimento Econômico, uma ligação direta dos interesses coorporativos
patronais que contava com a participação do governador e todos os seus secretários, além de
representantes de Bancos, Comercio, Associações Rurais e do CREA.
O rápido movimento de construção do aparelho econômico do estado, de forma
centralizada e nacionalmente articulada, teve como movimento crucial a criação deste um
capitalismo industrial e de um estado capitalista, simultaneamente. Processo que condensa
múltiplas faces da dinâmica de organização das estruturas de um estado-nação que incorporou
aparelhos regulatórios e peculiaridades intervencionistas que estabeleceram um suporte ao
avanço da acumulação industrial, e para a produção de um ideário desenvolvimentista,
contribuindo (1) a sedimentação das cidades como lugares de conflito e transformação social,
(2) firmaram a ascensão das massas – sobretudo urbanas - em algum tipo de participação
politica e acesso a direitos, e (3) incorporaram nas estruturas estatais Brasileiras as logicas da
acumulação capitalista, principalmente, a partir das corporações patronais.
Sendo assim, este trabalho, como parte integrante das minhas pesquisas para o
doutoramento no PPGCIS/PUC-Rio, busca iniciar um debate afim de iniciar o debate sobre a
indagação: Quais as influencias do interesse privado na construção e consolidação das
primeiras empresas publicas estaduais de energia elétrica?
O que torna o panorama que se apresenta neste cenário importante é a aparente
3 Presente em RIBEIRO, Luiz Claudio M. Excelsos destinos: a historia da energia eletrica no Espirito Santo,
1898-1968. Edufes. Vitória, 2013. Pg. 116.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
105
impossibilidade de dimensionar limites e fronteiras das esferas do interesse publico e privado,
nem do estado e do mercado como uma narrativa de conflito permanente, no momento de
formação e consolidação das instituições estatais publicas e sim de relações de fricção
fundamentadas na necessidade de sobrevivência de um status quo politico e social em um
momento histórico de rupturas, ao mesmo tempo, que uma adaptação um novo ciclo
econômico de caráter internacional e nacional de forte dependência dos estados nacionais.
Rupturas, politica e produção de um estado
Quando considerado como forma social, o conflito pode possibilitar momentos de
construção e destruição, quer sob as instituições, estruturas, arranjos, processos, relações e
interações sociais. É algo temporal, especializado e produtor de indeterminadas formas
sociais. Nas perspectiva de Georg Simmel4, se admite que o conflito produza ou modifique
grupos de interesse, uniões e organizações. Para Simmel, o conflito cria um espaço onde as
partes em disputa podem encontrar-se em um mesmo plano situacional para efetuar a trama
que ele arruma. Sob a perspectiva econômica, Albert Hischman5 em seu artigo Os conflitos
como pilares da sociedade de mercado democrática, ao mostrar as situações conflitivas que
surgiram nas sociedades contemporâneas na década de 70, afirma que o conflito é uma
contrapartida natural do progresso tecnológico e da criação de riqueza. Hischman, entende
que os conflitos surgem de desigualdades emergentes e de declínios regionais e setoriais em
compensação de vários desenvolvimentos dinâmicos ocorridos em outras áreas da economia.
O processo de modernização protagonizado pela energia elétrica é por si um
importante processo conflitivo, marcado pela percepção social das mudanças e das
permanências, um embate entre o “novo” e o “venho”. Para Ignacy Sachs6, a historia da
modernidade pode-se resumir como a historia da produção e distribuição do excedente
econômico, no ritmo de revoluções energéticas sucessivas. É assim que em especial, em todo
século XX, um dos processos chave tanto de mobilização de capital, quanto de
reconfigurações e aliança entre monopólios políticos e econômicos, foi a energia.
No mesmo caminho, para Timothy Mitchell em seu trabalho Carbon Democracy:
Political Power in the Age of Oil, o fornecimento constantemente acelerado de energia alterou
as relações humanas no espaço e no tempo de forma a permitir novas formas de política de
4 SIMMEL, 1983 5 HIRSCHMAN, 1994 6 SACH, 2009
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
106
massa. Mitchell diz que a exploração do carvão deu força termodinâmica suficiente para que
no século XIX, o crescimento da vida industrial – e urbana – iniciasse a destruição formas
antigas de autoridade e poder em todo mundo. Sendo a democracia explorada ou relatada
como uma consequência dessas mudanças.
É importante dizer que a construção destas instituições estaduais de energia elétrica
surgidas no período da década de 1940 e 1960, começam as ser desenhadas por
transformações articuladas em um pano de fundo de novo ciclo do capitalismo mundial, que
apontam ao final dos anos 1920, o fim da hegemonia da economia cafeeira no Brasil. Seja
pelo peso que causava ao estado, que financiava plantio e a regulação dos estoques, seja
porque outros setores da economia haviam ocupado um espaço de destaque cada vez maior -
de produção e/ou de circulação - muito próximos ou maiores que a cultura do Café.
Paradoxalmente, o caminho galgado pela indústria começa ainda quando os preços do
café estavam em alta entre 1907 – 1913, quando um nascente parque industrial absorveu parte
dos lucros, das necessidades – por maquinaria - e do investimento da elite agraria,
acompanhado sobretudo pela valorização da moeda nacional, que facilitou a importação de
novas tecnologias de produção7. Este crescimento de excedentes e dos lucros, por parte do
setor industrial presentou uma trajetória crescente até 1929, principalmente em São Paulo,
ampliando a capacidade de diversificação da economia e tomando por fim a liderança dos
bens produzidos no país. Além disso, se expande o mercado interno para vários tipos de
produtos industriais e manufaturados, como também para a agricultura mercantil produtora de
alimentos e matérias-primas, ajudando a propagação da urbanização e consequentemente, dos
principais segmentos de serviços.
A derrocada definitiva do café veio em 1928, quando os preços das ações nos EUA
aumentaram e se da a interrupção das compras Estadunidenses por títulos estrangeiros. Com
este cenário, Alemanha, países da América Latina e a Austrália fariam empréstimos de curto
prazo, a Alemanha por sua vez, respondeu a este fluxo reduzido de entrada de dinheiro,
deflacionando sua economia para fazer os pagamentos das reparações da 1o Guerra, contudo,
as posições de pagamento de Brasil, Argentina, Austrália e Uruguai tornaram-se complicadas
e foram incapazes de financiar seus acúmulos de dívidas de curto prazo, limitando a
capacidade de obtenção de mais empréstimos.
O que logo levou a desvalorização de suas moedas. Depois da quebra do mercado de
ações de outubro de 1929, quando os preços do trigo, borracha, açúcar, seda e algodão caíram
7 MARSON, 2015
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
107
rapidamente (ALIBER e KINDLEBERGER, 1978) no Brasil especialmente, se deu inicio a
crise do café de 1929. Estas transformações apresentadas na economia e na produção
acentuaram também de uma vez, a tendência no contexto social e politico brasileiro,
contribuindo para a eclosão de deslocamentos de poder, tendo em vista as mudanças
produzidas do eixo de centralidade do mundo rural para o protagonismo do mundo urbano.
O populismo como exemplo deste processo, fenômeno das regiões atingidas pela
urbanização em um Brasil das décadas iniciais do século XX, estaria como analisa Francisco
Weffort (1978), particularmente enraizado em cidades com maior crescimento, migração e a
partir do desenvolvimento industrial e seu tentáculo no mundo politico.
A presença de lideranças carismáticas marginais as elites politicas tradicionais frente a
um estado com crescente poder principalmente nas cidades, passou a interferir negativamente
no interesse dessas elites a partir dos anos de 1940, criando condições politicas para a
ascensão de grupos políticos específicos que culminaram por exemplo, com o movimento
armado que depôs o presidente Washington Luís e impediu a posse do presidente eleito Júlio
Prestes em 1930, instaurando a ditadura Vargas e posteriormente construindo o estado novo.
Tais circunstancias do mundo politico e social, possibilitaram a emergência de
aparelhos regulatórios específicos para a sustentação dos setores agroexportadores e
industrial, assim como de outros setores econômicos também afetados pelos contextos
econômicos de 1929. Estes aparelhos organizados nas estruturas centrais do estado,
implementados a partir da nova constituição 1937, redigida pelo ministro da Justiça de
Getúlio Vargas, Francisco Campos, de forte inspiração autoritária, passaram a levar em
consideração a criação de novas entidades na esfera da administração direta ou indireta,
associadas aos projetos de avanço da acumulação capitalista industrial.
É um fato constantemente debatido, que o estado novo criou bases jurídicas para o
funcionamento do mercado de trabalho e sob sua tutela e criou o próprio sistema de
representação classista, levando a extremos econômicos e sociais sua principal ação
regulatória e intervencionista.
O Avanço da era Vargas foi o avanço do estado. Como estado nacional e capitalista,
com um poder autoritário conectado a uma estrutura social unificada ao âmbito econômico,
como nação. Podemos dizer que é então que, a efetivação da autoridade publica central, na
dimensão de um território nacional, adquire mecanismos típicos de um Estado-nação.
Este contexto não definiu apenas um quadro legal de legitimação do intervencionismo
estatal, abriu caminho para a propriedade por parte da união federal de recursos estratégicos –
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
108
entre eles a energia – passiveis a exploração industrial, ponto chave para a categorização do
que muitos autores chamam de Estado- empresário8.
Movimento que se encaixa também nas analises de Luiz Werneck Vianna (2004)
quando observa a ascensão uma ordem burguesa, que para ele, é deslanchada sob a égide do
estado corporativo na velocidade da expansão dos aparelhos burocráticos, da racionalização
administrativa, da inclusão de atores emergentes como o proletariado no impulso á
industrialização, e também a partir da conversão de parte do particularismo oligárquico em
fonte de apoio aos novos interesses.
É bom que se diga também, que é neste momento que eixo espacial da sociedade
Brasileira deixa de ser exclusividade de um setor econômico agrário- exportador, ligado ao
interior do território e passa a ser ocupado por um setor urbano- industrial que privilegia de
sobre maneira a cidade. No campo do poder politico, esta mudança tem como resultado direto
a falta de correspondência entre estruturas informais de poder predominantes até então,
alicerçadas no interior pelo coronelismo, e um sistema formal de ordenação jurídica presente
nas cidades, produzindo uma discrepância entre modelos de organização e administração
publica.
Sob este teatro, o estado passa a ser o espaço mais decisivo na sociedade Brasileira,
sendo a busca do seu poder político, á posse de um patrimônio de grande valor, com o
controle direto de uma fonte substancial de riqueza. Contudo como afirma Vitor Nunes Leal
(1975), o fortalecimento do estado no Brasil não foi acompanhado pelo enfraquecimento do
poder rural, principalmente nas cidades e estados que não faziam parte do eixo econômico
central. Já que os próprios instrumentos de poder constituídos pelo coronelismo é que são
utilizados para repaginar o poder privado dos 'coronéis' neste momento, na medida em que se
fragmenta a influência dos proprietários de terras e se torna mais necessário o apoio do
oficialismo para garantir o predomínio estável dos grupos políticos locais.
Nesta caminho, a falta de autonomia racional-legal é recompensada com uma
autonomia extralegal alicerçada dentro dos governos estaduais com a ajuda fundamental dos
partidos locais. É assim que o estado passa a se confundir com o empresário, empresário que
especula, manobra os coronéis o credito e o dinheiro. Um estado e sociedade solidariamente
articulados por meio das corporações, que não se comportam como esferas contrapostas, mas
como uma unidade sob o imperativo nacional.
8 DRAIBE, 1989 e MAZZUCATO, 2015
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
109
Aqui é possível nos apropriar da ideia de Nicos Poulantzas9, apresentado por Phillip
Abrams10 em importante artigo, Notes on the Difficulty of Studying the State onde os dois
autores concordam com a interpretação de que o estado tem a função particular de constituir o
fator de coesão entre os níveis da formação social. As problemáticas comuns veem o estado
como uma entidade distinta e a tarefa é, determinar as formas e modos reais de dependência
ou independência que a relacionam com o nível sócio econômico.
A institucionalização da Energia, modernização capixaba e a Espirito Santo Centrais
Elétricas
A energia elétrica começou a ser produzida no Brasil nos anos finais do século XIX,
de forma quase simultânea ao seu início na Europa e Estados Unidos, instalando-se em 1879
na estação D. Pedro II, da Estrada de Ferro Central do Brasil, seis lâmpadas incandescentes de
energia. O inicio de seu uso em escala se deu no seguinte década de 1880, a partir da
construção de dínamos acionados por maquinas a vapor, no município de Campos, Rio de
Janeiro em 1883 e em 1887 é criada a usina hidrelétrica em Ribeirão dos Macacos, Nova
Lima, Minas Gerais para utilização na mineração. Só em 1889, as vésperas da proclamação da
republica era inaugurada e primeira usina hidrelétrica para fornecimento de energia como
utilidade pública, construída em Juiz de Fora.
Participaram da organização inicial do setor pequenas empresas privadas nacionais,
sempre em localidades do interior ou em lugares próximos as cidades. Um fator importante
para a consolidação do setor elétrico brasileiro neste momento será o desenvolvimento da
economia cafeeira e a consequente formação de uma indústria no estado de São Paulo
apoiados pelos seus excedentes financeiros. Processo que promove a formação de uma
burguesia, fundamental para a caracterização inicial do setor, principalmente por suas novas
necessidades de consumo espelhados nos grandes centros do capital mundial11.
Nos primeiros anos do século XX, chegam as concessionárias estrangeiras e a
produção de energia elétrica aumenta, possibilitando o consumo urbano e industrial mais
intenso. Alexandre Macchione Saes em sua tese, Conflitos do capital: Light versus CBEE na
formação do capitalismo brasileiro (1898 – 1927) e posteriormente em artigo de Luz, leis e
livre-concorrência: conflitos em torno das concessões de energia elétrica na cidade de São
9 POPULANTZAS, Nicos. Political Power and Social Classes, New Left Books, London, 1973.
10 ABRAMS, Phillip. Notes on the difficult of Studying the State. Journal of Historical Sociology Vol. 1 No. 1
March, 1988. 11
SILVA, 1976; CANO, 1988 e LEME, 2014
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
110
Paulo no início do século XX analisa os embates presentes no contexto do inicio da produção
de energia e pela manutenção de monopólios para o setor em São Paulo do inicio do século:
“A prefeitura paulista reafirmava o discurso da livre- concorrência. Para
tanto, já no ano de 1908, foi iniciada a construção da linha que levaria
energia de Santos para São Paulo. Deste momento em diante, uma grande
luta comercial e política foi travada pelas duas empresas para a tentativa
de consolidação de um novo mercado, por parte da Docas, enquanto a
Light buscava manter o monopólio sobre a distribuição e geração de
energia para a capital paulista. O conflito entre as empresas, entre o
capital nacional e o capital estrangeiro, entre o polvo canadense e o
minotauro de Santos, invadiu a Câmara e extravasou pelos meios de
comunicação, levando a população às ruas!” (2009 Pg. 190)
Os principais grupos neste momento foram a holding Brazilian Traction, Light and
Power C. Ltda. que controlava a produção e distribuição no Rio e em São Paulo capital e a
American Share Foreign Power Company (Amforp), filial da americana Bond and Share, que
controlava a geração e a distribuição de energia elétrica no interior do Estado de São Paulo,
Porto Alegre, Pelotas, Salvador, Recife, Natal, Vitória e interior do Estado do Rio de Janeiro.
No eixo Rio - São Paulo, onde houve o mais dinâmico desenvolvimento industrial
brasileiro até 1950, existia um grande problema no abastecimento de energia elétrica. A Light
no Rio de Janeiro já na década de 1940 havia esgotado os potenciais hidrelétricos, contando
apenas com a ampliação da capacidade instalada. A indústria de energia elétrica registrou na
década de 1950 um importante redução nos investimentos na capacidade geradora, a
justificativa por parte das empresas estrangeiras era a baixa remuneração das tarifas, face a
inflação e o regime cambial, além da dificuldade na importação de equipamentos elétricos e
obtenção de credito, agravada pela segunda guerra mundial. Havia uma recorrente falta de
energia elétrica, além da demora no atendimento para novas instalações. Eram frequentes as
interrupções no fornecimento e quedas abruptas na voltagem.
É a partir dai, derivado da evolução industrial, o alto custo de implantação dos
empreendimentos do setor e o longo tempo de retorno do investimento, que acontece a
entrada do estado como protagonista na geração, transmissão e distribuição de eletricidade.
Mas é apenas em 1945, que é criada a primeira estatal nacional para o setor, a Companhia
Elétrica de São Francisco (Chesf) com o objetivo de aproveitar o potencial energético da
cachoeira de Paulo Afonso, no Estado da Bahia. Esta empresa teve um papel importante na
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
111
construção de grandes usinas de geração neste estado, e em todo o Nordeste.
O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado brasileiro a criar, em 1946, a sua Comissão
Estadual de Energia Elétrica (CEEE) para estruturar e planejar a utilização do potencial
hidrelétrico. Dessa comissão nasceu o primeiro plano de Eletrificação, que observava a
necessidade da reorganização do esquema de produção e distribuição de energia elétrica e
uma estrutura de financiamento via imposto único sobre tarifas, sendo implementada pelo
estado. Em 1952, a CEEE se torna autarquia do governo do Rio Grande do Sul, em 1959
encampa a Companhia de Energia Elétrica Rio- Grandense (CEERG) propriedade da
companhia Estadunidense Amforp e em 1961, se transforma em Companhia Estadual de
Energia Elétrica atuando na geração, transmissão e distribuição de energia.
Pelo pais, em 1957 vieram as Centrais Elétricas Furnas, Centrais Elétricas do
Maranhão em 1959 (Cemat), Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) e
Companhia de Eletricidade de Alagoas (Ceal) em 1960. O modelo institucional do setor
começa efetivamente a mudar em 1962, com a criação das Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobrás), que comandaria automaticamente Furnas e a Chesf. É significativo ressaltar que
o projeto da Eletrobrás enfrentou dificuldades principalmente pela oposição das
concessionarias estrangeiras, do empresariado nacional e de dirigentes de algumas empresas
estaduais temendo a perca do poder com a centralização na esfera federal. Inclusive, processo
acompanhado movimentações politicas contra, de advogados e numerosos engenheiros que
inclusive formavam a elite técnica do setor elétrico e lobistas, sob o comando das empresas
Light e a Amforp12.
Assim, começa a nacionalização do setor, que em 1964 com a aquisição pela
Eletrobrás de todas as empresas do grupo Amforp, tem um dos teus pontos altos. Processo
concluído em 1979, com a compra da Light, encerrando a participação dessas duas empresas
estrangeiras no setor elétrico nacional. As empresas que pertenciam à Amforp e atuavam no
âmbito estadual passam para o controle de seus respectivos governos estaduais, reforçando
sua importância como atores de mudança locais.
Em 1952, o governador capixaba Jones dos Santos Neves, quando analisa os
propósitos das politica elétrica e sua relação com os eixos de modernização capixaba, “(...) a
eletrificação do estado obedece ao proposito estabelecido nas diretrizes do atual governo de
preferencia as centrais que mais se aproximem dos eixos de gravidade econômica.” E
complementa no mesmo discurso:
12 Dicionário Historico-Biografico Brasileiro online, DPDOC/FGV.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
112
“(...) situação estratégica de seu porto de mar (...) tendo como tributarias
as regiões de todo o ‘hinterland’ mineiro, o crescente caudal de minério de
ferro que desce das vertentes do Itabira em busca do oceano para se
encontrar com o carvão importado, tudo isso faz deste litoral um centro
monopolizador de futuras industrias13”.
Período em que os debates sobre o acesso a energia elétrica se intensificavam já que,
energia oferecida pela CCBFE às principais regiões urbanas, domiciliares e fabris de Vitória e
Cachoeiro de Itapemirim – principais centros urbanos do estado na época - eram insuficientes
para sustentar o crescimento da demanda.
Contudo segundo Marta Zorzal e Silva (1986)14 é a partir da eleição pós- Vargistas de
1947 que estes caminhos começam a ser abertos. Foi a primeira oportunidade de participação
politica de novas forças sociais, como pequenos e médios agricultores e uma pequena classe
urbana - já que anteriormente a administração estava sobre intervenção sob comando de Jones
dos Santos Neves (1943 a 1945) -, que emergiram no momento após 1930, mesmo que, o
modelo de relação e articulação dos candidatos e partidos em disputa continuasse coronelista.
Até então, a luta se travava entre apenas dois conjuntos de forças politicas: classes agro-
fundiárias e classes mercantis-exportadoras.
A vitória dada ao candidato Carlos Lindenberg nesta primeira eleição, que nutria forte
relação inter-coroneis, mostrava este panorama. Ainda segundo Silva, em termos
comparativos com a região sudeste, onde a pratica populista passava a ser o norteador da vida
politica neste momento, no Espirito Santo, as praticas coronelistas são requentadas e
constituem o domínio politico da época.
A disputa politica das eleições de 1950 que elegeu Jones dos Santos Neves, para além
de questões estaduais, haviam aquelas de ordem do relacionamento inter- elites no plano
regional, como em termos da solidariedade política com as demais elites no plano nacional. O
resultado do pleito, apesar das características eminentemente rurais do eleitorado capixaba,
refletiu o atendimento aos interesses das classes trabalhadoras dos grandes centros do país,
com forte presença da retorica desenvolvimentista. Importante observar que os dados
populacionais do período entre 1920 e 1950 reforçam a analise de um crescimento
populacional da capital e da região metropolitana da Grande Vitória em torno de 117% e
13
Espirito Santo (Estado). Governador 1952, 1953, 1954. Vitória: Impressa Oficial apud. Silvia, op. cit, p.261,
262, nota 29. 14
SILVA, Marta Z. Espirito Santo: Estado, Interesses e Poder. Dissertação. FGV, Rio de Janeiro, 1986.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
113
apenas entre 1950 e 1960, de 82%, enquanto a população rural, mesmo que ainda
predominantemente rural, passou de 71,8% em 1960, para 54% em 197015.
No governo de Jones dos Santos Neves se produziu na idealização de um projeto de
modernização para o Espírito Santo produzindo as condições para a sua implementação, partir
da ideia de necessidade de uma infraestrutura adequada.
Todavia, como problemática fundamental, se colocava dissociação entre a instância do
agente politico (estado) e as demais instancias (econômico e sociais) em um contexto local de
população predominante rural e uma economia agro-fundiária. O que leva em muitos
momentos a Jones, mesmo tendo como plataforma politica a época de sua eleição, uma
aliança com a oligarquia agro fundiária, a atender apenas as necessidades básicas deste grupo
em detrimento a continuidade seu projeto.16
O setor elétrico neste momento, passou a ser dotado de instrumentos de planejamento
e financiamento de sua infraestrutura como o BNDES, Fundo Estadual de Eletrificação,
Fundo Federal de Eletrificação e a Eletrobrás, que vinha sendo discutido desde 1944, com o
Plano Nacional de Eletrificação. Aqui, Neves inaugura o planejamento estatal para o setor
com o Plano Estadual de Eletrificação (1951) que tinha como pilares, a construção da
Hidroelétrica de Rio Bonito e a criação de uma empresa estadual de energia.
Investimentos em energia elétrica, rodovias e portos foram considerados
fundamentais, bem como o aparelhamento do estado enquanto ente capaz de planejar e
prover o sistema de suporte institucional, fiscal e financeiro. Neste sentido, é possível
caracterizarmos inicialmente um estado-empresário como categoria de dominação racional-
legal, onde Max Weber17 observa com forma de dominação típica do estado moderno.
Entendendo ele como lugar da existência de normas legais formais, abstratas e universais e do
ponto de vista da estrutura, pela existência de um conjunto administrativo burocrático. Weber
inclusive, não considera este tipo de contexto um modelo de dominação estático e sim
historicamente dinâmico – como os pressupostos analisados no contexto capixaba - , onde se
colocam pressupostos importantes para os potenciais conflitos que possam existir entre a
atividade politica e a administração publica.
A conjuntura desenvolvimentista vigente nos governos Getúlio Vargas deu a Jones do
Santos Neves, o argumento básico para propor a ação intervencionista no estado. O modelo
15 BITTENCOURT, 1984. 16
Ver mais em SILVA, 1996 pg. 436. 17 WEBER, 1992
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
114
econômico que se colocava para o Espirito Santo e de sobre maneira para Vitória, capital, se
baseava no uso maciço de eletrodomésticos e produtos eletrotécnicos, além do automóvel. O
reforço dessa tendência vem com o aterro de mangues, enseadas, desmonte de morros e
consequente construção de novas avenidas e o porto de Vitória. Também se constitui o
aeroporto de Vitória, prédios comerciais a beira-mar, loteamentos, neste contexto, o Plano de
Valorização Econômica do Estado em 1950, concentrava 39% da capacidade de investimento
em cinco anos.
Contudo, a concepção autoritária de Estado presente nos grupos de poder oligárquicos
capixabas converteu-se em o que Marta Silva chama Estado Social18, tendo como diretriz a
uma proposição industrializante. É onde, o espaço das relações politicas não foram pautados
pela ruptura, mas pela materialização de um planejamento econômico intervencionista
articulado com os diversos grupos de poder regionais e nacionais, como única saída para o
provimento de um desenvolvimento socioeconômico e atendimento das respectivas agendas
de interesse.
O planejamento enquanto instrumento de poder em uma sociedade sob a ordem da
demanda agro-fundiária, se tornaria a composição principal do jogo para ocupação da
administração publica. A formação da ideia de politica econômica do estado neste caso, é um
campo de luta onde se decide a centralidade dos interesses de classe tendo como resultado, a
relação de forças e conflitos entre grupos dominantes.19
Por fim, expansão do parque industrial capixaba e dos investimentos no setor elétrico
vão acompanhar o cenário nacional e dura até a década de 1970 com o II Plano Nacional de
Desenvolvimento (PDN II), onde foram concebidos os projetos de Itaipu, Tucuruí e o
Programa Nuclear. Todavia, o financiamento externo para estes e outros projetos, em uma
conjuntura externa de plena crise do petróleo, de default Mexicano de 1982 e uma conjuntura
interna de declínio do regime militar, vão levar a raiz de uma das mais profunda crises no
setor de energia, se arrastando até os anos 1990, quando em 1995 a Escelsa é a primeira
empresa estadual do setor de energia a ser privatizada através do Programa Nacional de
Desestatizações.
18
O Estado-Social, observado por Marta Silva diz respeito a planificação do desenvolvimento não só a partir da
administração publica, mas também a partir dela, através de novas praticas na gestão da educação, assistência
social, cultura entre outros aspectos da vida social.
19 POPULANTZAS, 1997 e SAES, 2008.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
115
Bibliografia
ABRAMS, Phillip. Notes on the difficult of Studying the State. Journal Of Historical
Sociology. Vol. 1 No. 1 March 1988.
CALIMAN, Orlando. Formação Econômica do Espírito Santo: de Fragmentos do Período
Colonial à Busca de um Projeto de Desenvolvimento. Revista interdisciplinar de gestão
social, v.1 n.2 p.37-63, mai./ago. 2012.
CANO, Wilson. Crise e industrialização no Brasil entre 1929 e 1954: a reconstrução do
estado Nacional e a política nacional de desenvolvimento. Revista de Economia Política, vol
35, no 3, pp 444-460, julho-setembro, 2015.
Centro da Memória da Eletricidade no Brasil. Panorama do setor de energia elétrica no Brasil.
Rio de Janeiro: Memória da Eletricidade, 1988.
Centro da Memória da Eletricidade no Brasil. A vida cotidiana no Brasil Nacional: A Energia
Elétrica e a Sociedade Brasileira (1930 – 1970) / Coordenação Marilza Elizarda Brito. Rio de
Janeiro, 2003.
CORRÊA, Maria Letícia. O setor de energia e a constituição do estado no Brasil: o conselho
nacional de aguas e energia eletrica (1939-1954). Tese. Programa de Pós- Graduação em
Historia. UFF, Rio de Janeiro, 2003.
D'ARAUJO, Maria Celina. As Instituições brasileiras da Era Vargas. Rio de Janeiro: Ed.
UERJ: Ed. Fundação Getulio Vargas, 1999. 212p. FREIRE, Ana Lucy Oliveira. Projetos de
urbanização em Vitória-es: Aspectos do processo de produção de uma metrópole moderna
espaço e tempo, São Paulo, n° 15, pp. 105 117, 2004.
DRAIBE, Sônia. Rumos e metamorphoses: um estudo sobre a constituição do estado e as
alternativas da industrialização no Brasil, 1930-1960. Paz e terra, 1985.
Espirito Santo (Estado). Governador 1952, 1953, 1954. Vitória: Impressa Oficial. apud. Silva,
op. cit, p. 261, 262, nota 29.
EVANS, Peter. Construting the 21th Century Developmental State: potentialities and pitfalls.
In: EDIGHEJI, O. Construting a Democratic Developmental State in South Africa: potentials
and challenges. HSRC, Cape Town: 2010.
HIRSCHMAN, Albert O. Os conflitos sociais como pilares da sociedade de mercado
democrática. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, v.3, 1994.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
116
FELICIANO, R. (Coord.) Panorama da memória da eletricidade no Brasil. Rio de Janeiro:
Centro da Memória da Eletricidade no Brasil, 1988.
LAMOUNIER, Bolivar. Do modelo institucional dos anos 30 ao fim da era Vargas. In:
D'ARAUJO, Maria Celina. As Instituições brasileiras da Era Vargas. Rio de Janeiro: Ed.
UERJ: Ed. Fundação Getulio Vargas, 1999. 212p.
LANDI, Monica. Energia elétrica e políticas públicas: a experiência do setor elétrico
brasileiro no período de 1934 a 2005. Tese apresentada ao Programa Interunidades de Pós-
Graduação em Energia da USP. São Paulo: 2006.
LEME, Alessandro André. O setor elétrico entre a questão histórica e os problemas
sociológicos. Ciências Sociais, Unisinos, 166-176, São Leopoldo, 2014.
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no
Brasil. São Paulo, Alfa - Omega, 1975.
LESSA, Carlos. 15 anos de política econômica. São Paulo: Brasiliense, 1982.
MAZZUCATO, Mariana. O estado empreendedor: desmascarando o mito do setor public vs.
setor privado. 1o Ed. Portfolio-Penguin, 2014.
MKANDAWIRE, T. From Maladjusted States to Democratic Developmental States in Africa.
In: EDIGHEJI, O. Construting a Democratic Developmental State in South Africa: potentials
and challenges. HSRC, Cape Town, 2010.
POPULANTZAS, Nicos. Political Power and Social Classes, New Left Books, London: 1973.
RAPOSO, Eduardo. Banco Central do Brasil: O Leviatã Iberico. Hucitec Editora, PUC-Rio.
Rio de Janeiro: 2011.
RIBEIRO, Luiz Cláudio M. Excelsos destinos: história da energia elétrica no Espirito Santo
1896-1968 EDUFES, 2013.
RIBEIRO, Diones Augusto. Planejamento e industrialização no espírito santo: o conselho de
desenvolvimento econômico do espírito santo (CODEC). Anais do VI Congresso
Internacional UFES/Paris-Est, 2016.
SAES, Alexandre Macchione. Conflitos do capital: Light versus CBEE na formação do
capitalismo brasileiro (1898-1927). Tese. Instituto de Economia da UNICAMP, Campinas,
2008.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
117
______________________ Luz, leis e livre-concorrência: conflitos em torno das concessões
de energia elétrica na cidade de São Paulo no início do século XX. Scielo, História vol.28
no.2. Franca, 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/his/v28n2/08.pdf
SCHWARTZMAN, Simon. Bases do autoritarismo brasileiro. Rio de Janeiro: Campus, 1988.
SILVA, Martha Zorzal e. Espírito Santo: Estado, Interesse e Poder. Dissertação. Escola
Brasileira de Administração Pública, FGV. Rio de Janeiro, 1986.
SIMMEL, Georg. Sociologia. Organização Evaristo de Moraes Filho. São Paulo: Ática, 1983.
VIANNA, Luiz Werneck. A revolução passiva: Iberismo e americanismo no Brasil. Rio de
Janeiro: Revan, 2004.
WEFFORT, Francisco. O populismo na política brasileira. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1980.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
118
As Grandes Cidades e suas Contradições Internas: A Sociologia Urbana de
Friedrich Engels
Wallace Cabral Ribeiro1
Resumo: Friedrich Engels, em sua obra A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra
(1844/45), verificou uma série de mazelas que constituem a vida das grandes cidades, como o
adensamento populacional, desigualdades sociais, segregação espacial, déficit habitacional,
miséria, violência, individualismo, epidemias, poluição, desemprego etc. Ao analisar todos
esses fenômenos, sua obra se orientou por múltiplos campos de conhecimento, como história,
antropologia, ecologia, política, economia, epidemiologia, entre outras. Este artigo tem como
objetivo identificar e analisar as contribuições de Engels para o campo da sociologia urbana,
na clássica obra acima mencionado.
Palavras-chave: Sociologia Urbana; as grandes cidades; contradições sociais; urbanização.
The Great Cities and their internal contradictions: The Urban Sociology of
Friedrich Engels
Abstract: Friedrich Engels, in his work The Situation of the Working Class in England
(1844/45), verified a series of problems that constitute the life of big cities, such as population
density, social inequalities, spatial segregation, housing deficit, poverty, violence,
individualism, epidemics, pollution, unemployment, etc. In analyzing all these phenomena,
his work was guided by multiple fields of knowledge, such as history, anthropology, ecology,
politics, economics, epidemiology and others. This article aims to identify and analyze
Engels' contributions to the field of urban sociology in the classic work above mentioned.
Keywords: Urban Sociology; the big cities; social contradictions; urbanization.
Introdução: algumas observações preliminares
Engels, ao longo de toda sua vida, dedicou-se à luta política em favor da classe
operária. Em sua trajetória político-intelectual, estudou os diversos processos interligados à
formação histórica do capitalismo. Ao debruçar-se sobre esta tarefa, se dedicou aos mais
variados temas. Em sua vasta obra, é possível encontrar conhecimentos relacionados às áreas
de sociologia da religião, história, antropologia, etnografia, ciência política, economia,
ciências naturais, biologia evolutiva, física, química, educação, relações de gênero, ciências
jurídicas, epidemiologia, filosofia, astronomia, ciências militares, entre outros campos do
1 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense (PPGS-UFF),
bacharel em Sociologia pela mesma instituição, editor da Revista Ensaios, membro do Núcleo de Estudo
Friedrich Engels (NEFE) e do Núcleo de Estudos Cidadania, Trabalho e Arte (Nectar-UFF). Email:
119
saber. A algumas dessas áreas, Engels se dedicou com mais afinco e, por isso, contribuiu mais
significativamente, desenvolvendo ideias mais originais e iconoclastas, este é o caso da
sociologia urbana.
No final da década de 1830, Engels teve uma rica experiência quando investigou e
analisou as condições de vida dos operários na cidade de Wuppertal, na Alemanha. Em 1839,
com apenas 18 anos, publica no periódico Telagraph für Deutschland, as Cartas de
Wuppertal, assinando com o pseudônimo de Friedrich Oswald. Segundo Hunt, esses textos
“eram de uma autenticidade ímpar, uma experiência de testemunha ocular naquela região
deprimida, embriagada e desmoralizada” (2010: 49), “as ‘Letters’ são uma crítica magnífica e
brutal dos custos humanos do capitalismo” (Op. cit.: 50).
Nesses textos, Engels já relatava com vivacidade as circunstâncias em que se
encontravam os trabalhadores de Wuppertal, apontando para as péssimas condições de
trabalho, alcoolismo, degradação moral, precariedade da educação, contraste entre miséria e
opulência, as doenças e também uma densa crítica à religião, entre outros aspectos, como
pode ser verificado nesta passagem:
Entre as classes inferiores prevalece uma miséria terrível, particularmente
entre os trabalhadores das fábricas de Wuppertal; a sífilis e as doenças
pulmonares são tão generalizadas que é difícil de acreditar; somente em
Elberfeld, das 2.500 crianças em idade escolar, 1.200 são privadas da
educação e crescem nas fábricas, apenas para que o fabricante não precise
pagar a um adulto, que custa, o dobro do salário que ele paga a uma criança.
(ENGELS, 1975: 10, tradução livre).
Nesse momento, Engels ainda não era comunista nem materialista, mas já demonstrava uma
forte inclinação aos problemas sociais existentes na sociedade. “O mais importante nas Cartas
de Wuppertal é a crítica das relações sociais” (Instituto de Marxismo-Leninismo CC-PCUS.
Friedrich Engels Biografia, 1986: 22).
Outra experiência importante para a sociologia urbana é de um Engels amadurecido,
comunista e materialista, em seu texto Contribuição ao Problema da Habitação, de
1872/73. Nesse texto, Engels discute a crise da habitação como um problema crônico do
capitalismo:
O que hoje se entende por escassez de habitação é o particular agravamento
das más condições de moradia dos operários em consequência da afluência
repentina de população para as grandes cidades; é um formidável aumento
dos aluguéis, uma maior aglomeração de inquilinos em cada casa e, para
alguns, a impossibilidade total de encontrar abrigo. (ENGELS, 1976: 50)
120
Apesar de este autor ter contribuído enormemente para este segmento da sociologia,
do ponto de vista qualitativo e quantitativo, este trabalho se limitará a abordar a sociologia
urbana em sua clássica obra A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de 1844/45.
Uma das características de fundamental importância nessa obra é a variabilidade das
fontes de informação, que vão desde relatórios de inspetores fabris até a imprensa socialista,
como o periódico Northen Star. Além disso, “Engels fez uso de depoimentos orais e da
observação direta das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores, obtendo, com tais
procedimentos, um conhecimento mais profundo e minucioso da condição operária”
(CASTELLUCCI, 2007: 22).
Engels, ao desembarcar na Inglaterra, rapidamente desenvolve uma militância junto
aos movimentos operários, e isso lhe permite conhecer a realidade dos trabalhadores, mas
outro fator de suma importância, para que Engels conheça de uma forma mais intensa a dura
realidade dos proletários, foi seu relacionamento com Mary Burns, que lhe proporcionou
conhecer empiricamente os bairros operários, e verificar na observação direta as reais
condições de vida do operário inglês. Segundo Hunt, “Mary Burns representou para ele o
papel de Perséfone, enriquecendo profundamente a visão de Engels sobre a sociedade
capitalista” (2010: 115). De acordo com José Paulo Netto, a inserção de Engels nos meios
proletários se deu por conta de “sua relação com Mary Burns, emigrante irlandesa e operária.
Aquela que seria sua primeira mulher abre-lhe as portas do meio proletário e os seus contatos
se multiplicam” (2004: 36).
Metodologicamente, Engels adota uma abordagem dialética sobre uma série de
expressividades das grandes cidades industriais, na qual procura destrinchar, analiticamente,
cada uma delas no sentido de tentar elucidar suas dinâmicas internas, interconectado-as
organicamente. Existe, em A Situação, uma combinação, um entrelaçamento entre diversas
técnicas de investigação, a destacar: a bibliográfica (livros e artigos), levantamento e análise
documental (relatórios parlamentares, relatórios médicos, inquéritos policias, a grande
imprensa, periódicos socialistas) e a etnográfica, com visitações a bairros operários, e
observações diretas da dinâmica das cidades, do comportamento coletivo e das mazelas
sociais. A combinação entre essas técnicas de investigação fez d’A Situação uma obra
original, única e destacada, que favoreceu um rápido amadurecimento ao jovem Engels, tanto
do ponto de vista intelectual quanto do prático-político. Lênin, em um escrito de 1913, em que
121
comenta sobre a publicação das correspondências entre Marx e Engels, afirma que A
Situação “é uma das melhores obras na literatura socialista mundial” (2016, s.p.).
Engels enxergava na cidade um laboratório de investigação do desenvolvimento do
capitalismo, das condições de vida do proletariado, e da transformação revolucionária da
sociedade. N’A Situação, é apontada a base social para o avanço da urbanização em diversas
cidades, compreendendo o fenômeno urbano não como algo natural que possui uma essência
em si, mas uma construção artificial humana. Robert Ezra Park, um dos maiores expoentes da
sociologia urbana e pertencente à escola Chicago, muitas décadas depois, conceberá em seu
sistema de pensamento, ideias similares às do jovem Engels. Isso pode ser verificado nas
seguintes passagens de seu clássico texto A Cidade: “a cidade não é meramente um
mecanismo físico é uma construção artificial. Está envolvida nos processos vitais das pessoas
que a compõem; é um produto da natureza, e particularmente da natureza humana” (PARK,
1967: 25). Neste outro trecho, a semelhança de ideias é ainda maior:
A cidade, e especialmente a grande cidade, onde mais do que em qualquer
outro lugar as relações humanas tendem a ser impessoais e racionais,
definidas em termos de interesse e em termos de dinheiro, é num sentido
bem real um laboratório para a investigação do comportamento coletivo. As
greves e movimentos revolucionários menores são endêmicos no meio
urbano. As cidades, e especialmente as cidades grandes, estão em equilíbrio
instável. O resultado é que os enormes agregados casuais e móveis, que
constituem nossas populações urbanas, estão em estado de perpétua agitação,
varridos por todo novo vento de doutrina, sujeitos a alarmas constantes e, em
consequência, a comunidade está numa condição de crise crônica (PARK,
1967: 44).
É importante ressaltar que, apesar dessa obra ter um grande valor científico, Engels a
desenvolve em um contexto de militância política, ou seja, a dimensão científica da obra está
submetida à dimensão política, uma vez que, o que mais interessa ao “General” 2, não é
compreender a sociedade por si só, mas compreendê-la para apontar saídas revolucionárias
das formas de organização societária.
Para Hobsbawm, A Situação é uma obra que, pela primeira vez, trata “da classe
operária como um todo e não somente de determinados segmentos e setores industriais”
(2011: 52) e “não se tratava de um mero levantamento das condições da classe operária, mas
de uma análise geral da evolução do capitalismo industrial, do impacto social da
2 Apelido dado a Engels devido aos seus inúmeros textos militares, ao fato de ter sido militar voluntariamente
quando jovem, por ser organizado, disciplinado e de porte militar.
122
industrialização e de suas consequências políticas e sociais – inclusive do crescimento do
movimento operário” (Ibidem). As ideias embrionárias contidas nessa obra foram
fundamentais para formulações de concepções políticas, filosóficas, científicas, econômicas e
metodológicas que serviram de base para o desenvolvimento do materialismo histórico. É “a
primeira tentativa em grande escala de aplicar o método marxista ao estudo concreto da
sociedade e, provavelmente, a primeira obra de Marx ou Engels que os fundadores do
marxismo julgavam ter valor suficiente para merecer preservação permanente”
(HOBSBAWM, 2011: 52).
Um conjunto de concepções encontradas em A Situação já se encontrava no Esboço
de uma crítica da economia política, publicado nos Anais Franco Alemães em 1844. Esse
texto foi fundamental para a criação da parceria Marx/Engels (RIBEIRO, 2016). Wanderson
Fabio de Melo observa que nesse artigo
o jovem autor evidenciou a diferenciação crescente das classes sociais, as
crises cada vez mais graves e a vinculação de todas as contradições
econômicas à propriedade privada. Sendo assim, após realizar a crítica das
categorias econômicas da economia política, Engels, por meio d’A situação
da classe trabalhadora na Inglaterra, revelou as contradições e
antagonismos da sociedade burguesa. (2015: 140)
As grandes cidades e suas contradições internas
Na introdução de A Situação, Engels esboça brevemente como eram as condições de
vida dos trabalhadores antes de sua proletarização com a Revolução Industrial. De acordo
com o fundador da “filosofia da práxis”,
os trabalhadores sobreviviam suportavelmente e levavam uma vida honesta e
tranquila, piedosa e honrada; sua situação material era bem superior à de
seus sucessores: não precisavam matar-se de trabalhar, não faziam mais do
que desejavam e, no entanto, ganhavam para cobrir suas necessidades e
dispunham de tempo para um trabalho sadio em seu jardim ou em seu
campo, trabalho que para eles era uma forma de descanso; e podiam, ainda,
participar com seus vizinhos de passatempos e distrações − jogos que
contribuíam para a manutenção de sua saúde e para o revigoramento de seu
corpo. (ENGELS, 2010: 46)
Apesar desses trabalhadores (tecelões camponeses) serem pobres, suas condições de vida
eram mais saudáveis do que as do “moderno operário”, pois tinham um pouco mais de
autonomia sobre sua produção, “seus filhos cresciam respirando o ar puro do campo e, se
tinham de ajudar os pais, faziam-no ocasionalmente, jamais numa jornada de trabalho de oito
ou doze horas” (Ibidem). A grande diferença assinalada entre o proletariado e o camponês não
123
é a pobreza em si, pois ambos eram pobres, mas a classe trabalhadora por conta da
concorrência capitalista desenfreada possui “uma vida de profunda insegurança, na qual o
futuro é absolutamente desconhecido e incerto” (HOBSBAWM, 2011: 75-6), enquanto que o
camponês gozava de uma relativa “segurança” em relação a sua existência material.
Esses pobres camponeses, “sentiam-se à vontade em sua quieta existência vegetativa
e, sem a revolução industrial, jamais teriam abandonado essa existência, decerto cômoda e
romântica, mas indigna de um ser humano” (ENGELS, 2010: 47). A Revolução Industrial3
arrancou das mãos dos camponeses seus “últimos restos de atividade autônoma” e,
precisamente por isso, na posição de proletários, se viram obrigados “a pensar e a exigir uma
condição humana” (Ibidem).
Para o socialista alemão, “a revolução industrial teve para a Inglaterra a mesma
importância que a revolução política teve para a França e a filosofia para a Alemanha” (Op.
cit.: 58-9). Afirma veementemente que “o fruto mais importante dessa revolução industrial,
porém, é o proletariado inglês” (2010: 59) Aqui, Engels já enxerga o proletário como um
agente transformador. A “existência vegetativa” é substituída por uma existência pensante e
atuante sobre a realidade, que “deverá explodir numa revolução diante da qual a primeira
Revolução Francesa e 17944 serão uma brincadeira de crianças” (Op. cit.: 62). Sua estadia na
Inglaterra, entre 1842 a 1844, foi determinante para suas posições políticas, pois foi lá “que o
jovem Engels tornou-se comunista” (LÊNIN, s.d. apud NETTO, 2004: 32).
Em uma interessante reflexão sobre o jovem Engels na Inglaterra, José Paulo Netto
afirma que este toma a “urbanização moderna como variável da industrialização capitalista e,
sobretudo, a cidade como topus do capitalismo constituído” (2004: 40). Engels identifica um
processo de “urbanização acelerado”:
o crescimento demográfico e a urbanização conectam-se diretamente à
industrialização – evidencia-o a hipertrofia das cidades industriais que, em
apenas quarenta anos (1801-1841), sofrem o seguinte acréscimo no seu
número de habitantes: Manchester – 35 mil/353 mil; Leeds – 53 mil/152 mil;
Birmingham – 23 mil/181 mil; Sheffield – 46 mil/111 mil" (Op. cit.: 34)5.
Essas variações populacionais são provocadas diretamente pela dinamicidade
industrial. De acordo com Raquel Rolnik, as cidades são como imãs, “um campo magnético,
3 Revolução industrial - “esta expressão, que será amplamente utilizada muito mais tarde, aparece então, pela
primeira vez, sob a pena de Engels” (Lefebvre, 2001:10). 4 “Engels se refere à ditadura jacobina” (nota dos editores). 5 Em A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, Engels apresenta uma tabela com variações na
densidade demográficas em algumas cidades inglesas, ver 2010, pág. 53.
124
que atrai, reúne e concentra os homens” (1995: 12). Para Engels, a atividade industrial é o
núcleo de atração das grandes cidades inglesas, pois “onde surge uma fábrica de médio porte,
logo se ergue uma vila” (ENGELS, 2010: 64). A indústria possui tal importância na vida da
cidade que Engels afirma que “toda fábrica nova construída no campo traz em si o embrião de
uma cidade industrial” (Op. cit.: 65). De acordo com Henri Lefebvre, o nascimento das
grandes cidades industriais e comerciais do império britânico, “Engels atribui a causas
tecnológicas” (2001: 11). Acompanhando esse raciocínio Eric Hobsbawm, afirma que:
A indústria mecanizada em larga escala exige investimentos de capitais cada
vez mais consideráveis, e a divisão do trabalho pressupõe a concentração de
um grande numero de proletários. Centros de produção com, tal amplitude,
mesmo situados no campo, levam a formação de importantes comunidades;
Daí um excedente de mão-de-obra: os salários baixam, o que atrai outros
industriais para a região. Por isso, as aldeias transformam-se em cidades que,
por sua vez, se desenvolvem em virtude das vantagens econômicas que
apresentam aos olhos dos industriais (...). Como a indústria tende a deslocar-
se dos centros urbanos para as regiões rurais, onde os salários são mais
baixos, este deslocamento e a própria causa da transformação dos campos.
(1975: 10)
Na sua obra a Era do Capital, Hobsbawm afirma que “a cidade era sem dúvida o mais
impressionante símbolo exterior do mundo industrial, exceção feita à estrada de ferro” (1977:
222).
No capítulo “As Grandes Cidades”, Engels percebe uma contradição, uma
singularidade na vida citadina de Londres. Temos uma “aglomeração de 2,5 milhões de seres
humanos num só local” (2010: 67, os grifos são do autor), mas, apesar dessa concentração,
existe uma total indiferença entre os indivíduos que se cruzam diariamente: “essa indiferença
brutal, esse insensível isolamento de cada um no terreno de seu interesse pessoal é tanto mais
repugnante e chocante quanto maior é o número desses indivíduos confinados nesse espaço
limitado” (Op. cit.: 68). Para Lefebvre, Engels logo introduz “o tema da ‘multidão solitária’ e
o da atomização, a problemática da rua” (2001: 15). Nas grandes cidades, temos a formação
de uma cultura citadina, “a guerra de todos contra todos” (Ibidem). Indiferença,
individualismo, falta de empatia são elementos constitutivos das grandes cidades. Outro
aspecto salientado por Engels é a miséria dos trabalhadores. Segundo Lefebvre, Engels aponta
em sua obra uma miséria indescritível, que se encontra em todas as partes, e é “ao mesmo
tempo ocasional (para os indivíduos) e perpétua (para a classe)” (Op. cit.: 23).
125
A “indiferença bárbara” e a miséria dos trabalhadores deixam o autor perplexo, a
ponto de afirmar que “ficamos assombrados diante das consequências das nossas condições
sociais, aqui apresentadas sem véus, e permanecemos espantados com o fato de este mundo
enlouquecido ainda continuar funcionando” (ENGELS, 2010: 69). Para Lefebvre, nesse
capítulo, “Engels põe a nu todo o horror da realidade urbana” (2001: 14).
De acordo com Edmund Wilson, Engels, nutrindo o forte desejo de compreender
melhor a dinâmica espacial da cidade de Manchester, resolveu examinar
o mapa da cidade e viu que o centro comercial era cercado por um cinturão
de bairros operários; depois vinham as belas casas e jardins dos
proprietários, que se fundiam gradualmente com o campo; viu também de
que modo os proprietários podiam ir de suas casas até a Bolsa sem jamais
ter que observar as condições de vida dos operários, porque as ruas pelas
quais atravessavam os bairros pobres estavam cheias de lojas que escondiam
a miséria e a sujeira que havia por trás delas. (1986: 131)
Para o fundador do materialismo histórico, a cidade de Manchester foi “construída de
um modo tão peculiar que podemos residir nela durante anos, ou entrar e sair diariamente
dela, sem jamais ver um bairro operário ou até mesmo encontrar um operário – isso se nos
limitarmos a cuidar de nossos negócios ou a passear” (ENGELS, 2010: 88). Os “aristocratas
do dinheiro” sempre apresentam formas de ocultar aos seus olhos a pobreza extrema dos
trabalhadores, pois a miséria e a sujeira “são o complemento de seu luxo e de sua riqueza”
(ENGELS, 2010: 89). As condições de habitação da burguesia encontram-se numa dimensão
diametralmente oposta às condições de habitação dos operários. Engels observa que a alta
burguesia “habita vivendas de luxo, ajardinadas (...) por onde corre o sadio ar puro do campo,
em grandes confortáveis casas, servidas, a cada quinze ou trinta minutos, por ônibus que se
dirigem ao centro da cidade” (Ibidem).
Segundo o “General”, em “todas as grandes cidades têm um ou vários ‘bairros de má
fama’ onde se concentra a classe operária” (Op. cit.: 70). O autor faz uma descrição geral de
como são esses bairros:
As piores casas na parte mais feia da cidade; quase sempre, uma longa fila
de construções de tijolos, de um ou dois andares, eventualmente com porões
habitados e em geral dispostas de maneira irregular (...). Habitualmente, as
ruas não são planas nem calçadas, são sujas, tomadas por detritos vegetais e
animais, sem esgotos ou canais de escoamento, cheias de charcos estagnados
e fétidos. A ventilação na área é precária, dada a estrutura irregular do bairro
(...) quando faz bom tempo, as ruas servem aos varais que, estendidos de
uma casa a outra, são usados para secar roupa. (Ibidem)
126
Enfatizando as contradições entre escassez e abundância, Engels constata que “muitas vezes
esses miseráveis refúgios do pior pauperismo se encontram próximos dos suntuosos palácios
dos ricos” (Op. cit.: 71). “Em sua narrativa viva e cheia de cores, Engels entra em mais
detalhes, mostrando como na maior parte dos casebres, pertencentes aos operários mais mal-
pagos, faltam, também, móveis, camas, lençóis e instalações sanitárias” (CASTELLUCCI,
2007: 25).
Um grave problema social abordado por Engels é o déficit de habitação: “os que
dispõem de todo modo de um teto são mais felizes que aquele que não o tem: todas as
manhãs, em Londres, 50 mil pessoas acordam sem a menor ideia de onde repousarão a cabeça
na noite seguinte” (2010: 75). Uma parte dos trabalhadores, que, por sorte, consegue um
pouco de dinheiro para custear uma estadia em abrigos, é obrigada a repousar sua cabeça em
ambientes precários. Os alojamentos são superlotados, os quartos empilhados de camas, onde
dormem homens, mulheres, adultos, crianças, doentes, sadios, sóbrios e bêbados, “todos
misturados”. “E quanto àqueles que nem esse tipo de alojamento podem pagar?” O “General”
dá a resposta:
Pois bem: dormem em qualquer lugar, nas esquinas, sob uma arcada, num
canto qualquer onde a polícia ou os proprietários os deixem descansar
tranquilos; alguns se acomodam em asilos construídos aqui e acolá pela
beneficência privada, outros nos bancos dos jardins (...) (Op. cit.: 75).
Mais uma vez, evidencia-se o contraste social ao observar que esses desabrigados dormem
“quase sob as janelas da rainha Vitória” (Ibidem).
Verifica-se também as variações nas péssimas condições de habitação, como os
porões, e a superlotação, que contribuem para o surgimento de moléstias entre os operários.
Na cidade portuária de Liverpool, “um bom quinto da população − isto é, mais de 45 mil
pessoas – mora em pequenos porões, escuros e mal arejados, porões que, na cidade, totalizam
7.862” (Op. cit.: 79). Já na cidade de Bristol, “foram visitadas 2.800 famílias operárias e
comprovou-se que 46% delas viviam em um único cômodo” (Op. cit.: 80). Em um bairro
chamado Little Ireland (Pequena Irlanda), em sua maioria composta por imigrantes irlandeses,
destaca Engels: “as casas são velhas, sujas e do tipo mais exíguo; as ruas, irregulares e nem
todas pavimentadas, não são niveladas nem há rede de esgoto; imundície e lama, em meio a
poças nauseabundas, estão por toda parte; daí a atmosfera, já enegrecida pela fumaça de uma
dúzia de chaminés de fábricas, ser empestada” (Op. cit.: 102). Além disso, “em todo bairro,
para cada 120 pessoas há apenas um instalação sanitária (quase sempre ocupada, é claro)”
127
(Op. cit.: 103). Os operários desses bairros vivem em condições subumanas: “quem aí vive
deve realmente situar-se no mais baixo escalão da humanidade” (Op. cit.: 102).
Em seu texto Contribuição ao Problema da Habitação, de 1872/73, Engels afirma
“que não poderia existir sem crise da habitação uma sociedade na qual a grande massa
trabalhadora não pode contar senão com um salário” (1976: 71). Manuel Castells, em suas
pesquisas sobre o fenômeno urbano, irá corroborar com Engels no tocante à dimensão
estrutural da crise da habitação: “trata-se de uma defasagem necessária entre as necessidades,
socialmente definidas, da habitação e a produção de moradias e de equipamentos residenciais”
(1983: 183 e 185).
Além das péssimas condições de habitação, que em nada favorecem a saúde e o bem
estar dos trabalhadores, Engels chama a atenção para as fraudes, quantitativas e qualitativas,
nas mercadorias encontradas no comércio voltado aos operários. “Os varejistas e os
fabricantes adulteram todos os gêneros alimentícios do modo mais irresponsável, com inteiro
desprezo pela saúde dos que devem consumi-los” (2010: 111). Por conta da pobreza
acentuada em que se encontra o operário, “para quem uns poucos centavos representam
muito” (Op. cit.: 112), estes se veem obrigados a procurar os pequenos estabelecimentos:
onde muitas vezes pode comprar a crédito, lojas que, em função de seu
pequeno capital e de suas desvantagens diante dos atacadistas, estão
impossibilitadas de vender mercadorias da mesma qualidade ao mesmo
preço dos grandes estabelecimentos e que, por causa dos preços baixos que
lhes pedem seus fregueses e da concorrência, são constrangidas a fornecer,
intencionalmente ou não, produtos adulterados. (ENGELS, 2010: 112)
Todavia, não é apenas no que diz respeito à qualidade que o operário é ludibriado, “também o
é no que tange à quantidade. Em sua grande maioria, os pequenos comerciantes têm medidas
e pesos adulterados e os relatórios policiais registram diariamente um número incrível de
delitos desse gênero” (Op. cit.: 113). Engels conclui seu raciocínio alegando que “as mesmas
razões pelas quais os operários são vítimas principais das fraudes na qualidade explicam que
também o sejam no que toca às fraudes relativas à quantidade” (Op. cit.: 114).
O alcoolismo é outro fator de profunda relevância, um problema social, que vitimiza
boa parte dos trabalhadores. Engels apresenta alguns elementos que favoreceriam o
alcoolismo:
O trabalhador retorna à casa fatigado e exausto; encontra uma habitação sem
nenhuma comodidade, úmida, desagradável e suja; tem a urgente
necessidade de distrair-se; precisa de qualquer coisa que faça seu trabalho
128
valer a pena, que torne suportável a perspectiva do amargo dia seguinte. (Op.
cit.: 142, os grifos são do autor).
Em A Situação, refuta-se a ideia de que o alcoolismo seja “um vício de responsabilidade
individual” (Ibidem), pois “a necessidade física e moral leva uma grande parte dos
trabalhadores a sucumbir ao álcool” (Ibidem) e, por conta de uma educação deficitária, torna-
se impossível “proteger os mais jovens contra essa tentação” (Ibidem). “É inevitável que o
alcoolismo provoque efeitos destrutivos sobre os corpos e os espíritos de suas vítimas” (Op.
cit.: 143).
O quadro observado por Engels em nada contribui para a qualidade de vida dos
operários. As fábricas poluem o ar e os rios da cidade, as longas jornadas de trabalho
inviabilizam a realização de atividades físicas e o acesso aos melhores alimentos vendidos no
comércio, uma vez que o trabalhador não dispõe de tempo para ir às feiras, restando-lhe
apenas o final do dia, quando só se tem acesso aos piores alimentos. Além disso, os baixos
salários levam-nos a consumir produtos adulterados, vendidos pelos pequenos varejistas; e os
impendem de ter acesso à moradia de qualidade, tendo, frequentemente, que habitar porões
úmidos, em bairros sem serviços de coleta de lixo, sem acesso à água encanada, meios de
transporte e com uma estrutura arquitetônica que não favorece a circulação e renovação do ar.
O desemprego acentua a vulnerabilidade do trabalhador, já que este não tem dinheiro para ter
acesso a nada, mesmo que seja de forma precária.
Os desempregados, vistos por Engels como um elemento estrutural da dinâmica do
capitalismo industrial e que ele nomeia como “exército de trabalhadores desempregados” 6,
são os mais vulneráveis, os que estão mais sujeito à morte por fome e frio, uma vez que não
possuem recursos para se alimentar ou pagar a diária de um alojamento. Também estão mais
sujeitos a cometer crimes, como roubos, furtos e assassinatos, além de ficarem mais expostos
à violência policial.
À guisa de uma conclusão
Engels, em A Situação, apresenta um quadro caótico, de desigualdade social,
miséria, violência e epidemias. As descrições e análises de alguns elementos que constituem a
dinamicidade das grandes cidades, como o processo de urbanização pela densidade
demográfica, a concorrência, o individualismo, os impactos ecológicos, as condições de vida
6 Posteriormente, Marx, em O Capital, irá chamá-los de exército industrial de reserva, uma clara demonstração
da influência de Engels sobre seu espírito.
129
dos trabalhadores no que diz respeito ao acesso à cidade, à saúde e educação, nos permitiram
alcançar a proposta inicial desta pesquisa, que era identificar as principais contribuições de
Friedrich Engels para o campo da Sociologia Urbana. O estudo dessa obra também nos
permitiu verificar o quanto ela ainda é atual, como bem chama a atenção Yvonne Maggie: “a
descrição de Engels tem alguma semelhança com o que vivemos nas grandes cidades
brasileiras” (2011, s.p.).
Não foi possível explorar de modo pleno outras dimensões de suma importância,
contidas nesta obra, como as péssimas condições de trabalho nas fábricas, as diversas práticas
adotadas pelos industriais que contribuíam para a miséria do trabalhador, como, por exemplo,
as multas por atraso, o machismo, as organizações operárias, o sistema judiciário, o
desenvolvimento tecnológico, a educação pública, a “hipocrisia ideológica” da burguesia, a
filantropia de instituições burguesas e religiosas, as crise econômicas etc.
O contexto vivenciado pela classe trabalhadora inglesa é descritas por Engels com
riqueza de detalhes. Angelo Silva afirma que o “General” “consegue articular a frieza de
dados estatísticos com o dia-a-dia das pessoas” (2009, p, 34). Engels não apenas relata, mas
assume de forma honesta uma posição política decididamente comunista frente a seu objeto
de estudo, ou seja, enxerga o jogo das interações sociais pela ótica do proletariado,
produzindo, dessa forma, uma obra política, que provoca inquietações no seu leitor, e, ao
mesmo tempo, é rigorosamente científica. A relação sujeito objeto nessa obra se diferencia
radicalmente das conclusões epistemológicas das correntes positivistas que defendem um
modelo de objetividade cientifica que passa pela neutralidade e imparcialidade, na qual o
cientista não deve se posiciona frente ao seu objeto, mas desenvolver "uma sábia resignação,
procurando apenas analisá-los e identificá-los" (LÖWY, 2006, p. 43). Michael Löwy salienta
que "o ponto de vista de classe e o conhecimento científico não são contraditórios" (Op. Cit.,
p. 106), pois "o ponto de vista de uma classe determinada não significa necessariamente que
essa teoria não tenha valor científico" (Ibidem).
O otimismo “ingênuo” de Engels está em evidência, mas, como bem estabelece José
Paulo Netto (2004), o contexto propiciava esse otimismo, que é assumido pelo próprio
“General” no prefácio à edição inglesa de 1892: “não me passou pela cabeça retirar do texto
as várias profecias – especialmente aquela sobre uma iminente revolução social na Inglaterra
− devido ao meu entusiasmo revolucionário daqueles anos” (ENGELS, 2010: 351).
Um dos argumentos centrais na obra de Engels, que está intimamente conectado ao
seu otimismo revolucionário, é o fato de que o pior que o capitalismo pode produzir é reduzir
130
os indivíduos a uma condição de animalidade. Lutar contra a opressão é um elemento
essencial, fundamental e irredutível para retirá-los dessa condição. Engels apresenta duas
alternativas para os operários: “resignar-se à sua sorte, torna-se um ‘bom’ trabalhador, servir
‘fielmente’ aos interesses da burguesia – e, nesse caso, torna-se realmente um animal – ou
resistir, combater tanto quanto possas por sua dignidade humana – o que só lhe é possível
lutando contra a burguesia” (Op. cit.: 158).
Para Engels, a classe trabalhadora não era apena uma “massa sofredora” que se
encontrava sob o “jugo do capital”, como acreditavam os owenistas, mas eram pessoas que
lutavam “corajosamente por uma existência humana digna” (INSTITUTO de Marxismo-
Leninismo do CC-PCUS. Friedrich Engels: Biografia, 1886: 64). É na dinâmica das lutas de
classes que Engels sublinhará “particularmente o papel dos grandes centros industriais no
desenvolvimento do movimento operário”; o surgimento dos primeiros operários que
começaram a refletir sobre sua condição, pois foi nas grandes cidades, com suas contradições
internas, que tiveram origem as “associações operárias, o cartismo e o socialismo” (Op. cit.:
67).
Referências
CASTELLS, Manuel. A Questão Urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
CASTELLUCCI, Aldrin. A. S. Engels e a história social do trabalho. In. MOURA, Mauro
Castelo Branco de; FERREIRA, Muniz; MORENO, Ricardo (orgs.). Friedrich Engels e a
ciência contemporânea. Salvador: EDUFBA, 2007, pp. 21-8.
ENGELS, Friedrich. A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. São Paulo:
Boitempo, 2010.
_________. Contribuição ao Problema da Habitação. In. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich.
Textos: volume II. São Paulo: Edições Sociais, 1976, pp. 39-116.
_________. Letters From Wuppertal. Collected Works (MECW). Vol. 02. 1838-1842.
Londres: Ed. Lawrence & Wishart, 1975, pp. 07- 25.
HOBSBAWM, Eric. A Era do Capital: 1848/1875. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
_________. Como Mudar o Mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
_________. Prologo. In: ENGELS, Friedrich. A Situação da Classe Trabalhadora em
Inglaterra. Porto: Afrontamento, 1975.
HUNT, Tristran. Comunista de Casaca: a vida Revolucionaria de Friedrich Engels. São
Paulo: Record, 2010.
131
INSTITUTO de Marxismo-Leninismo do CC-PCUS. Friedrich Engels: Biografia. Lisboa,
Edições Avante!, 1986.
LEFEBVRE, Henri. A Cidade do Capital. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.
LENIN, Vladimir Ilych. A Correspondência Entre Marx e Engels, s.d. Disponível em:
<https://www.marxists.org/portugues/lenin/1913/mes/correspondencia.htm>. Acessado em:
06 de Janeiro de 2017, às 21h08min.
LÖWY, Michel. Ideologias e ciência social: elementos para uma análise marxista. São Paulo:
Cortez, 2006.
MAGGIE, Yvonne. A Grande Cidade. G1, 2011. Disponível em:
<http://g1.globo.com/platb/yvonnemaggie/2011/10/21/a-grande-cidade/>. Acessado em: 07
de janeiro de 2017, às 23h06min.
MELO, Wanderson Fabio de. Friedrich Engels e a questão habitacional: o pauperismo
socialmente produzido no sistema capitalista e as condições de moradia. In: Verinotio, Belo
Horizonte, nº 20, ano X, pp. 134-149, 2015. Disponível em:
<http://www.verinotio.org/conteudo/0.8126378458111.pdf>. Acessado em: 06 de Janeiro de
2017.
NETTO, José Paulo. Marxismo impenitente: contribuição à história das ideias marxistas.
São Paulo: Cortez, 2004.
PARK, Robert Ezra. A Cidade: Sugestões para a investigação do comportamento humano no
meio urbano. In: VELHO, Otávio Guilherme. O Fenômeno Urbano. Rio de Janeiro: Zahar,
1967, pp. 25-66.
RIBEIRO, Wallace Cabral. Friedrich Engels: as Influências do “General” na Parceria com o
“Mouro” e no Socialismo Internacional. In: Revista Três Pontos, Belo Horizonte, vol. 11, nº
2, pp. 164-174, 2014. Disponível em:
<https://seer.ufmg.br/index.php/revistatrespontos/article/view/3544/2688>. Acessado em: 09
de dezembro de 2016.
ROLNIK, Raquel. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 1995.
SILVA, Angelo. As Grandes cidades industriais inglesas do século XIX e a crítica de
Friedrich Engels. In: Sociologia Urbana. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2009. pp. 31-43.
WILSON, Edmund. Rumo à Estação Finlândia: escritores e atores da história. São Paulo:
Companhia da Letras, 1986.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
132
Novos Tempos, Novas Agendas: a visão internacional dos militares no século XXI
Luã Braga de Oliveira1
RESUMO
O presente trabalho tem como ponto de partida o estudo de Eugênio Vargas Garcia (1997),
cujo objetivo foi analisar o pensamento dos militares em política internacional entre os anos
de 1961 e 1989, através do estudo de publicações acadêmicas militares. Nesse sentido, o
objetivo deste artigo é identificar a visão internacional dos militares nos tempos atuais,
através do mapeamento e da análise das edições das publicações dos últimos dez anos da
Revista das Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME).
Quando vistos em comparação com os resultados obtidos por Garcia (1997), os resultados
desta pesquisa permitiram identificar mudanças nas ênfases temáticas das publicações
militares, bem como nos constructos teóricos que figuram entre as principais influências na
constituição da visão internacional dos militares nos dias de hoje.2
INTRODUÇÃO
As políticas compreendidas enquanto políticas de Estado, como a política de defesa e
a política externa, embora possuam o Estado como ator responsável privativo por sua
implementação, configuram-se enquanto política pública, refletindo os interesses dos diversos
setores e frações da sociedade civil e tendo seus rumos direcionados pela resultante das
pressões exercidas por esses atores. Essas pressões, por sua vez, são exercidas verticalmente,
pela sociedade civil organizada em grupos como sindicatos, ONGs e entidades estudantis. São
também exercidas horizontalmente, entre os grupos de interesse que participam do processo
de elaboração e implementação dessa política pública e encontram-se em constante disputa
por representação político-institucional: as elites nacionais. Diferentemente da sociedade civil
organizada, as elites nacionais dispõe em maior abundância de recursos materiais e simbólicos
capazes de influenciar no processo decisório institucional, o que faz do estudo de sua
composição e de seus padrões e interação uma parte fundamental para a compreensão da ação
política do Estado brasileiro, a nível doméstico e a nível internacional.
1 Mestrando em Ciência Política pelo IESP/UERJ, pesquisador do Núcleo de Estudos Atores
e Agendas de Política Externa (NEAAPE/IESP) e do Laboratório de Estudos de Segurança e
Defesa (LESD/UFRJ). 2 Agradecimentos às professoras Letícia Pinheiro e Maria Regina Soares de Lima, e ao
professor Rubens Duarte pelos comentários e contribuições.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
133
Dentre os variados atores que compõem esse grupo, os militares são um dos mais
tradicionais e relevantes, sobretudo quando o objeto de análise são as políticas públicas
pertencentes ao patamar da “Alta Política”, como as políticas externa e de defesa. Desse
modo, estudar e compreender a visão internacional desses atores é tarefa central para pensar
não só os rumos da política de defesa nacional, da qual são protagonistas, mas também os
rumos da política externa e das relações internacionais do Brasil, uma vez que tais campos
possuem intrínseca relação.
O objetivo e o caminho metodológico do presente estudo foram desenhados a partir da
leitura do artigo de Eugênio Vargas Garcia (1997). O objetivo do estudo de Garcia (1997) foi
abordar a evolução do pensamento dos militares em política internacional ao longo do período
entre 1961 e 1989. Para tal, o diplomata analisou publicações de militares em periódicos
acadêmicos da área de Relações Internacionais com o intuito de identificar os traços
característicos de sua compreensão das Relações Internacionais. Garcia (1997), no início de
seu trabalho, destaca uma diferenciação importante quanto ao significado da expressão
“pensamento dos militares”, que segundo ele
se refere às opiniões e concepções elaboradas pelos militares em assuntos
específicos. Neste caso, pode haver um pensamento dos militares em matéria
de economia, política, saúde e educação, ou sobre temas como a integração
nacional, os meios de comunicação, a cultura, e assim por diante. (GARCIA,
1997, p. 20).
Será precisamente essa compreensão de pensamento dos militares em política
internacional, doravante tratada simplesmente como visão internacional dos militares, a ser
utilizada para efeitos desta pesquisa. Seu objetivo é, portanto, refazer a pergunta de Garcia
(1997) nos tempos atuais, buscando compreender a visão internacional dos militares em um
marco temporal mais recente. Espera-se que ao fim do estudo seja possível contrastar os
resultados aqui obtidos com aqueles obtidos por Garcia (1997) e observar se e em que grau
pode ser afirmado que houve mudança na visão internacional desses atores.
METODOLOGIA
Passadas duas décadas desde a publicação do estudo de Garcia (1997), o campo de
estudos internacionais e suas subáreas apresentou vigorosa expansão. Com a multiplicação
dos programas de pós-graduação da área e a criação de associações como a Associação
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
134
Brasileira de Relações Internacionais (ABRI) e a Associação Brasileira de Estudos de Defesa
(ABED), criou-se um ambiente acadêmico-institucional fértil para a proliferação dos
periódicos da área. Dessa forma, hoje há maior abundância de fontes a serem analisadas para
que seja respondida a questão de pesquisa colocada. Entretanto, por motivos de concisão
optou-se pela seleção dos artigos publicados nos últimos dez anos por um desses periódicos: a
“Coleção Meira Mattos” – Revista das Ciências Militares, da Escola de Comando e Estado-
Maior do Exército (ECEME), por tratar-se do periódico acadêmico militar mais antigo depois
das revistas da Escola Superior de Guerra (ESG), além de tratar-se da principal publicação
acadêmica do Exército Brasileiro.
O periódico lançou seu primeiro volume no ano de 1999 e desde 2003 publica
quadrimestralmente suas edições, com exceção dos anos de 2011 e 2016 nos quais foi
publicada apenas uma edição em cada ano. Para não tornar o estudo demasiadamente longo, o
corte temporal feito corresponde aos últimos dez anos (2006-2016). Os autores que publicam
na revista são, com frequência, oficiais de carreira do Exército Brasileiro com formação
acadêmica stricto senso nas áreas de Ciências Militares, Ciência Política, Relações
Internacionais, Estudos Estratégicos ou áreas correlatas. Há também a participação de civis do
campo de estudos de defesa e segurança. Serão analisados artigos de militares e de civis
indistintamente, devido ao entendimento de que mesmo artigos de autoria de civis, para serem
aceitos e publicados em um periódico militar de tamanha relevância, cujo corpo editorial é
composto de militares de carreira, possui chancela da instituição e pode servir como evidência
da visão internacional que a permeia.
A análise será conduzida com o intuito de: (1) mapear os temas internacionais que
foram mais abordados pelo periódico, (2) identificar os autores e teorias mais frequentemente
citados e discutidos e (3) refletir acerca da visão internacional embutida nessas teorias. Para o
mapeamento dos temas abordados, serão criadas categorias a partir da leitura dos respectivos
resumos. Alguns artigos poderão ser classificados em mais de um tema, como é o caso do
artigo “Quando a Terra não Basta: a China na Corrida ao Espaço”, publicado na 37ª edição da
revista, que pode ser classificado tanto na categoria China quanto na categoria Questão
Espacial. Nesses casos, será feita uma ponderação quanto ao enfoque prioritário dado pelo
autor por um tema ou outro. Desse modo, embora essa etapa seja majoritariamente objetiva,
há ainda um grau de subjetividade na alocação dos artigos nas categorias elaboradas.
Sabe-se de antemão das limitações presentes na tentativa de extrair a visão
internacional dos militares a partir de um apanhado restrito de evidências. Ciente destas
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
135
limitações, entretanto, espera-se que o material levantado e estruturado ao fim da pesquisa
auxilie na reflexão sobre a visão internacional dos militares no momento histórico atual e
sirva de ponto de partida para o aprofundamento do tema em investigações futuras.
APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Ao longo dos últimos dez anos, a Revista das Ciências Militares da ECEME publicou
26 edições sobre variados temas de interesse dos estudos de defesa e das ciências militares.
No tocante à atividade fim das forças armadas, os assuntos tratados referem-se em sua maioria
à doutrina e educação militar; à administração no âmbito das forças armadas; ao emprego
estratégico, tático, operacional e técnico do poder militar e de seus recursos; às áreas
estratégicas para a defesa nacional e às agendas de segurança, além de trabalhos teóricos no
campo da Segurança e da Defesa, do Direito Internacional, da Política Externa e da Economia
Política. Parte dos artigos apresentaram estudos de casos com enfoque em determinadas
regiões ou países, analisados de independentemente ou sob a ótica de suas relações bilaterais
com o Brasil. Ainda, uma parcela dos trabalhos discutiu temas referentes à relação entre as
forças de defesa, a sociedade civil e outras instituições de natureza doméstica. O quadro a
seguir apresenta de sinteticamente os temas tratados pelas publicações analisadas, divididos
em categorias e agrupados em conjuntos:
Quadro 1 - Temas abordados pelas edições da Revista das Ciências Militares (2006-2016)
Regiões e Países
● África ● América do Sul ● Antártida e Ártico ● Oriente Médio ● Chile ● Argentina ● Estados Unidos ● China ● Irã ● Kosovo ● Cachemira
Política Internacional
● Direito Internacional ● Política Externa ● Economia Política ● Teorias de Segurança e
Defesa ● Relações Bilaterais
Agendas de Segurança e Áreas
Estratégicas
● Meio Ambiente ● Operações de Paz ● Terrorismo e
Contrainsurgência ● Amazônia ● Questão Espacial ● Segurança da Informação
e Ciberdefesa
Aspectos Institucionais
● Ética Militar ● Doutrina e Educação
Militar ● Administração Militar ● História Militar
Emprego da Força e Recursos
● Emprego
Tático/Operacional ● Planejamento Estratégico ● Tecnologia Militar ● Logística e Mobilização
Política Doméstica e Sociedade
● Cooperação Intersetorial ● Defesa Nacional e
Sociedade Civil ● Segurança Pública e
Operações de GLO
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
136
● Documentos Normativos
● Inteligência
Fonte: elaborado pelo autor
Dentre os temas abordados pelos artigos, os mais frequentes foram enquadrados nas
categorias de Administração Militar, Doutrina e Educação Militar, Logística e Mobilização,
Terrorismo e Contrainsurgência, Emprego Tático e Operacional e Operações de Paz. Juntas,
estas categorias abrigaram aproximadamente 43% dos artigos publicados pela revista nos
últimos dez anos. Quanto à Administração Militar, ganharam destaque questões relativas à
cultura organizacional do Exército Brasileiro, à formação e o papel das lideranças, à gestão do
conhecimento e da inovação e às transformações gerenciais vivenciadas pela instituição. No
que se refere à Doutrina e Educação Militar, também muito foi discutido a respeito dos meios
para desenvolvimento de lideranças, além dos cursos conduzidos pelas escolas de altos
estudos, como a ECEME e o Instituto Militar de Engenharia (IME). Quanto ao Emprego
Tático e Operacional da força e à Logística e Mobilização, foram discutidas questões
predominantemente técnicas acerca da utilização dos meios e recursos do poder terrestre, tais
como sistemas de armas e sistemas logísticos. No tema do Terrorismo e da Contrainsurgência,
discutiram-se aspectos jurídicos ligados ao combate ao terrorismo, à capacitação das Forças
Armadas para lidar com esse tipo de ameaça e a atuação de grupos como o Estado Islâmico do
Iraque e do Levante (ISIS) e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC). Por
fim, quanto às Operações de Paz, aspectos como a preparação dos militares empregados nesse
tipo de operação ganharam especial atenção, sobretudo no que se refere aos efeitos
psicológicos e às implicações de fatores étnicos e culturais nessas missões. A Missão das
Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH) também foi objeto de discussão.
O gráfico a seguir apresenta os temas mais abordados pela revista, cujos números exatos
encontram-se na tabela disponibilizada no Apêndice 1, ao fim deste artigo.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
137
Gráfico 1 - Temas mais abordados pela Revista das Ciências Militares (2006-2016)
Fonte: elaborado pelo autor
De um modo geral, a revista possui um perfil específico, majoritariamente técnico,
sendo a maioria dos artigos referentes a aspectos bastante práticos da atividade fim do
Exército. Não foi possível encontrar artigos teóricos do campo das Relações Internacionais
que explicitassem nitidamente a visão internacional dos militares. Contudo, há um conjunto
de publicações que abordam aspectos teóricos referentes à política internacional e à teoria da
guerra, cuja análise permite nos aproximar da visão internacional adotada e exposta pelos
autores colaboradores da revista. Alguns dos trabalhos em Doutrina e Educação Militar
também trazem consigo análises do sistema internacional, com enfoque em seus impactos na
formação e estruturação das forças armadas dos países ocidentais. Discutiremos alguns deles
na seção seguinte.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
138
VISÃO DO INTERNACIONAL: AS GUERRAS DE QUARTA GERAÇÃO E O PÓS-
MODERNISMO MILITAR
Muitos dos trabalhos cujos objetos de discussão são as teorias de segurança e defesa
aplicadas ao atual cenário internacional discutem linhas de pensamento e referenciais teóricos
bastante próximos. Um destes trabalhos é o artigo do General Álvaro de Souza Pinheiro,
publicado na 16º edição da Revista das Ciências Militares3, acerca da Teoria das Guerras de
Quarta Geração, constructo teórico formulado por William S. Lind na segunda metade do
século XX e que ganhou especial atenção no período posterior ao fim da Guerra Fria. Em
essência, a teoria de Lind (2005) aponta que as guerras travadas por Estados nacionais podem
ser dividas em gerações. A Primeira Geração teria como marco de início a Paz de Westphalia
em 1648, perdurando até 1840 e tendo como seu ápice o período das guerras napoleônicas. A
Segunda Geração teria seu início em 1840, estendendo-se até o começo da I Guerra Mundial.
A II Guerra Mundial, por sua vez, teria dado início à Terceira Geração, que viria a ser
superada a partir da Guerra Fria com o surgimento das Guerras de Quarta Geração. Os fatores
influenciadores das mudanças geracionais das guerras seriam principalmente a evolução das
armas e táticas empregadas em combate. A Quarta Geração, que segundo Lind (2005) e seus
sucessores perdura até os dias atuais, seria marcada pela emergência de novas ameaças de
natureza não-estatal e transnacional, cujo combate requereria o emprego de meios e métodos
irregulares, tais como operações psicológicas, combate de guerrilha e ações de aproximação
da população civil, esta última tomada como variável de extrema importância nessa nova era
de conflitos, visto que forças irregulares como grupos terroristas e insurrecionais usariam com
frequência da tática de conquista da confiança dos civis como forma de se fortalecerem. A
guerra de Estados contra Estados cada vez mais perderia espaço na Quarta Geração, ao passo
que os meios convencionais de combate como baterias antiaéreas, caças e navios seriam
substituídos por tropas irregulares atuando em ambientes urbanos, frequentemente disfarçados
entre civis. A perfídia, a sabotagem, os assassinatos seletivos e as táticas terroristas seriam
práticas comuns nesse período, criando a necessidade das tropas regulares de se adaptarem
aos novos tempos.
Luiz Paulo Gomes Pimentel, oficial de carreira do Exército Brasileiro, e Tomaz
Espósito Neto, professor da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), também
discutem o instrumental teórico de Lind (2005). O estudo de Pimentel e Neto (2014)
3 Ver PINHEIRO (2007)
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
139
objetivou avaliar a aplicabilidade da teoria das quatro eras na análise da Segunda Guerra do
Golfo, ocorrida em 2003, concluindo sua validade e aplicabilidade. Outro referencial teórico
bastante citado por Pimentel e Neto (2014) são os trabalhos de Alessandro Visacro (2011),
que aprofundou os estudos conduzidos por Lind (2005) e ampliou seu conceito de Guerra de
Quarta Geração. Em tempo, cabe pontuar que Alessandro Visacro também foi colaborador da
Revista das Ciências Militares, em sua edição de número 254.
Os trabalhos de Marcelo Oliveira Lopes Serrano, também oficial de carreira do
Exército Brasileiro, dialogam com os artigos de Pimentel e Neto (2014) e Pinheiro (2007) na
medida em que igualmente discutem as tentativas de classificação das guerras em eras, feitas
por Lind (2005) e seus sucessores. No entanto, Serrano possui uma visão nitidamente crítica a
essa lente teórica. Em artigo publicado na 28º edição da Revista das Ciências Militares,
intitulado de “A Guerra é Filha Única”, Serrano (2013) critica as tentativas de categorizar as
guerras em paradigmas, afirmando que
a guerra continua a apresentar diferentes feições, mas não há gerações. O
que há é a manifestação de sua natureza subjetiva, moldada pelos
inumeráveis e variáveis contextos políticos, econômicos, militares, sociais e
tecnológicos nos quais ela é travada. (SERRANO, 2013, p. 76).
Posteriormente, em novo estudo, Serrano (2014) torna a criticar as tentativas de dividir
as guerras em gerações, dessa vez discutindo o conceito de “Guerra no Meio do Povo”,
cunhado pelo General Rupert Smith (2008). A Guerra no Meio do Povo corresponderia ao
novo paradigma de guerra contemporânea, que teria substituído a chamada Guerra Industrial
Entre Estados (GIE), de forma bastante similar àquela descrita por Lind (2005). Serrano
(2014) ainda aponta para a incongruência produzida pela absorção de teorias constituídas nos
países centrais e destaca a necessidade do Brasil desenvolver seus próprios referenciais
teóricos para lidar com os desafios concretos que enfrenta.
Outro constructo teórico amplamente citado e discutido no âmbito dos debates
acadêmicos entre os militares trata-se do Pós-Modernismo Militar (PMM). Essa corrente de
pensamento parte de um diagnóstico do ambiente internacional fundamentalmente similar ao
diagnóstico elaborado pelas teorias que alegam o surgimento de um novo paradigma de
segurança e defesa no pós-Guerra Fria. Entretanto, o foco de sua análise recai sobre os
impactos desse novo ambiente internacional sobre a estruturação das forças armadas
4 Ver VISACRO (2012)
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
140
ocidentais, sua doutrina, seus modelos de recrutamento, de ensino e de gestão de recursos
humanos, além das relações entre militares e civis.
Os trabalhos de Moskos (1977 e 1986); Moskos, Williams e Segal (2000) e Caforio
(2007) são os principais representantes dessa corrente. Esses pesquisadores afirmam que as
Forças Armadas dos países ocidentais estariam migrando de um modelo institucional, baseado
tipicamente em normas e valores, para um modelo ocupacional, associado a características
mais próximas as do mercado de trabalho. Esta transição seria um dos marcadores para a
transformação de uma forma moderna de Forças Armadas para o que chamam de uma forma
pós-moderna. O marco temporal dessa mudança coincide com o marco temporal das teorias
das guerras anteriormente discutidas: o fim da Guerra Fria e a dissolução do bloco soviético.
Dentre os fatores causais dessa transformação destacam-se a intensificação da globalização,
que teria diminuído a expressão da soberania nacional, juntamente com a intensificação dos
fluxos comerciais, financeiros e de pessoas, que teria aproximado as forças armadas de países
aliados e facilitado o intercâmbio de práticas. Para Moskos, Williams e Segal (200), dentre
algumas das principais características dessa nova forma pós-moderna de instituição militar
podemos destacar: o incremento da interpenetrabilidade entre o meio civil e o meio militar, a
aproximação das forças armadas com os sistemas educacionais civis, implicando no aumento
da quantidade de militares possuidores de titulação acadêmica em instituições civis de ensino
e no surgimento da figura do “militar acadêmico”, na abertura para a aceitação de mulheres
nas forças armadas, entre outras.
Como dito, esse constructo teórico tem aparecido com frequência como ponto de pauta
do debate acadêmico militar ao longo dos últimos anos. A Major Rejane Pinto Costa (2012)
discute as mudanças de natureza tecnológica e socioculturais provocadas por esse novo
momento e os caminhos para a capacitação dos militares nessa era pós-moderna. O Coronel
Richard Fernandez Nunes (2012) e o Major George Alberto Garcia de Oliveira (2016)
argumentam que a doutrina do Pós-Modernismo Militar influenciou em larga medida o
processo de transformação do ensino no Exército Brasileiro, iniciado em meados da década de
1990 com a formação de um grupo de trabalho para propor ajustes na estrutura educacional do
Exército de modo a adequá-la aos desafios dos novos tempos. Este esforço, segundo os
militares, influenciou posteriormente iniciativas de profundo impacto na instituição, como a
criação do Centro de Estudos Estratégicos (CEE) da ECEME e do Instituto Meira Mattos
(IMM), além da inauguração do Programa de Pós-Graduação em Ciências Militares
(PPGCM), que desde meados dos anos 2000 conseguiu chancela da Coordenação de
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
141
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para oferecer cursos de mestrado e
doutorado stricto sensu para civis e militares. Parte considerável dos artigos publicados nos
periódicos acadêmicos do campo de estudos de defesa nos últimos anos, em especial nos aqui
estudados, é de autoria de pesquisadores civis e militares egressos desse programa. Oliveira
(2016) ainda destaca a influência do Pós-Modernismo Militar no processo de transformação
dos sistemas educacionais de outras nações pelo mundo, ao discutir em maior detalhe o caso
argentino e citar os diversos programas militares de pós-graduação stricto sensu criados em
países como Portugal, Alemanha, Bélgica, Finlândia, França e Itália.
CONCLUSÕES
Após proceder com o mapeamento dos artigos publicados nas edições dos últimos dez
anos da Revista das Ciências Militares, tendo posteriormente os categorizado e os
quantificado, pudemos identificar as ênfases temáticas priorizadas pelos autores dos trabalhos
publicados e as principais influências teóricas que constituem o que podemos classificar como
sua visão internacional. Procedemos, portanto, à reflexão a respeito das implicações dessa
visão internacional em comparação as conclusões obtidas pelo estudo de Garcia (1997).
Podemos identificar pelo menos duas diferenças fundamentais na visão internacional
percebida entre os militares a partir da pesquisa conduzida neste trabalho quando em
comparação ao estudo de Garcia (1997). A primeira delas refere-se à diferença nas ênfases
temáticas dos trabalhos produzidos por militares e por civis envolvidos com os estudos de
defesa. Enquanto Garcia (1997) nos mostra que entre 1961 e 1989 “a ênfase dos estudos dos
militares recai sobre o entorno geográfico do país e seus pontos críticos de contato-atrito com
o mundo exterior” (GARCIA, 1997, p. 28), as publicações da ECEME dos últimos dez anos
dão maior ênfase a aspectos organizacionais do Exército no emprego estratégico, tático,
operacional e técnico do poder militar, além de questões típicas da nova agenda de segurança
do pós-Guerra Fria, como o terrorismo e as operações de paz.
A segunda diferença fundamental relaciona-se com os aportes teóricos e autores mais
referenciados e discutidos no meio acadêmico militar. Enquanto Garcia (1997) identificou que
durante o período de 1961 a 1969 a visão internacional dos militares guardava afinidades com
a perspectiva teórica do Realismo Clássico (GARCIA, 1997, p.28), cujo traço fundamental é a
compreensão do Estado como ator de maior relevância no sistema internacional, os aportes
teóricos que figuram como principais tópicos de debate na produção acadêmica militar aqui
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
142
estudada têm em comum a percepção de um enfraquecimento do Estado nacional enquanto
ator de relevância principal para as análises do sistema internacional após a Guerra Fria,
enquanto dão maior ênfase a fatores de natureza transnacional. Do mesmo modo, enquanto as
pesquisas de Garcia (1997) apontaram clássicos do pensamento realista como Raymond Aron
e Hans Morgenthau entre os autores mais referenciados pelos militares, atualmente figuram
entre os mais citados e discutidos autores como William S. Lind, Alessandro Visacro e
Charles C. Moskos. Embora tenhamos visto nas críticas de Serrano (2012, 2013 e 2014) que
essa visão quanto à transformação das forças armadas e da natureza dos conflitos em direção a
um novo paradigma contemporâneo (ou pós-moderno) esteja longe de ser consensual entre os
militares, não há duvidas de que essas correntes teóricas têm assumido posição central na
pauta de discussões, direcionando os debates e marcando em grande medida a visão
internacional dos militares nos tempos atuais.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
143
APÊNDICE 1 – TEMAS MAIS FREQUENTES NOS ARTIGOS DA REVISTA DAS
CIÊNCIAS MILITARES (2006-2016)
Tema Frequência % do
total
África 1 0.53
Argentina 1 0.53
Cachemira 1 0.53
Energia 1 0.53
Ética Militar 1 0.53
Iran 1 0.53
Multiculturalismo 1 0.53
Questão Espacial 1 0.53
Antártida e Ártico 2 1.06
Chile 2 1.06
China 2 1.06
Cooperação Inter setorial 2 1.06
Estados Unidos 2 1.06
Kosovo 2 1.06
Oriente Médio 2 1.06
Relações Bilaterais Brasileiras 2 1.06
América do Sul 3 1.60
Documentos Normativos (END, PDN, Livro Branco) 3 1.60
Inteligência 3 1.60
Politica de Defesa 3 1.60
Segurança da Informação e Ciberdefesa 3 1.60
Politica Externa 4 2.13
Segurança Pública e Operações de GLO 4 2.13
Amazônia 5 2.66
Direito Internacional 5 2.66
Economia Politica 5 2.66
Meio Ambiente 5 2.66
Tecnologia Militar 6 3.19
Defesa Nacional e Sociedade Civil 7 3.72
Historia Militar 9 4.79
Planejamento Estratégico 9 4.79
Teorias de Segurança e Defesa 9 4.79
Operações de Paz 12 6.38
Emprego Tático/Operacional 13 6.91
Terrorismo e Contrainsurgência 13 6.91
Doutrina e Educação Militar 14 7.45
Logística e Mobilização 14 7.45
Administração Militar 15 7.98 Fonte: elaborado pelo autor
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
144
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CAFORIO, Giuseppe (2007). Social Sciences and the Military: an interdisciplinary overview.
New York: Routledge.
COSTA, Rejane Pinto (2012). “Capacitação militar para o emprego na nova guerra”. In
Revista das Ciências Militares, nº 26, 2012.
GARCIA, Eugênio Vargas (1997). “O pensamento dos militares em política internacional
(1961-1989)”. In Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 40, nº 1, pp. 18-40, 1997.
LIND, William S. (2005). “Compreendendo a guerra de quarta geração”. In Military Review
(edição brasileira), jan-fev 2005.
MOSKOS, Charles C. (1986). “From institution to occupation: trends in military
organization”. In Armed Forces & Society, vol. 4, nº 1, 1986.
MOSKOS, Charles C. (1977). “Institutional/Occupational Trends in Armed Forces: An
Update”. In Armed Forces & Society, vol. 12, nº 3, 1977.
MOSKOS, Charles C. (2000). “Toward a postmodern military: the United States as a
paradigm”. In: MOSKOS, Charles; WILLIAMS, John Allen; SEGAL David R. The
Postmodern Military: Armed Forces after the Cold War. Oxford: Oxford University Press,
2000.
NUNES, Richard Fernandez (2012). “O Instituto Meira Mattos da ECEME e o processo de
transformação do Exército Brasileiro”. In Revista das Ciências Militares, nº 26, 2012.
OLIVEIRA, George Alberto Garcia de (2016) O processo de criação do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército.
Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: Escola de Comando e Estado-Maior do Exército,
Exército Brasileiro.
PIMENTEL, Luiz Paulo Gomes; NETO, Tomaz Espósito (2014). “O estudo da teoria da
guerra de quarta geração na Segunda Guerra do Golfo (2003)”. In Revista das Ciências
Militares, nº 33, 2014.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
145
PINHEIRO, Álvaro de Souza (2007). “O conflito de 4ª geração e a evolução da guerra
irregular”. In Revista das Ciências Militares, nº 16, 2007.
SERRANO, Marcelo Oliveira Lopes (2012). “Conflitos futuros e a organização do exército”.
In Revista das Ciências Militares, nº 25, 2012.
SERRANO, Marcelo Oliveira Lopes (2013). “A guerra é filha única”. In Revista das Ciências
Militares, nº 28, 2013.
SERRANO, Marcelo Oliveira Lopes (2014). “Guerra: no meio do povo ou simplesmente
irregular?”. In Revista das Ciências Militares, nº 31, 2014.
SMITH, Rupert (2008). The Utility of Force: the art of war in the modern world. Vintage:
2008.
VISACRO, Alessandro (2012). “Inteligência cultural - assunto impositivo na formação do
militar moderno e fundamental no estudo de situação: uma abordagem da temática indígena
na Amazônia”. In Revista das Ciências Militares, nº 25, 2012.
VISACRO, Alessandro (2011). “Desafio da transformação”. In Military Review (edição
brasileira), mar-abr 2011.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
146
A Guerra em cores: O colorido da Pintura de Marinha de Edoardo de Martino em
destaque nos jornais brasileiros (1868-1876)
Raphael Braga de Oliveira
Introdução
Esse artigo surgiu com o início do desenvolvimento da pesquisa de mestrado que faço
na Universidade Federal Fluminense, sobre as pinturas de Edoardo De Martino1, pintor
italiano que radicou no Brasil entre 1868 e 1876. Na primeira etapa da pesquisa, em um
primeiro contato com as fontes, os jornais do final da década de 1860 e início da década de
1870, foi percebido o impacto que as suas telas causavam ao público, principalmente pelo uso
de suas cores e das telas que representavam ambientes noturnos.
Em outros momentos vista com desprezo, a pintura referente a episódios militares foi
por muito tempo menosprezada pela historiografia. Como afirma Jorge Coli:
Um setor particularmente pouco desvendado pela história da arte internacional é
justamente o da pintura militar, pela causa muito provável do peso ideológico que
traz consigo. O antimilitarismo do nosso tempo fez com que o revival dos quadros
oficiais do século XIX se concentre em temas anedóticos ou eróticos, em retratos ou
cenas de gênero, as pinturas de batalhas emergem apenas de modo episódico ou
acidental na inovação desse interesse. Por enquanto, neste domínio, as interrogações
ou hipóteses são muito mais frequentes que as certezas.2
Tal desdém impossibilitou novas reflexões sobre a temática, porém nas últimas
décadas, a pintura no Brasil do Oitocentos tem sido cada vez mais estudada pela historiografia
e se afirma contemporaneamente, mas ainda com lacunas a serem preenchidas, motivo pelo
qual despertou o meu interesse em formular esta pesquisa. A temática escolhida foi pouco
pesquisada, os trabalhos que tratam das pinturas noturnas as colocam em segundo plano,
abordam primeiramente a vida dos pintores e reduzem as suas telas noturnas à preferência
artística do pintor. A pesquisa terá uma abordagem distinta, com enfoque para a produção e a
circulação dessas telas, a fim de contribuir com a historiografia com novos questionamentos
sobre a produção artística no século XIX e evitar reducionismos ou preconceitos em relação a
artistas e obras.
1 Edoardo De Martino (1838 - 1912). Pintor de marinhas foi Membro Correspondente da Academia Imperial de
Belas Artes nomeado em 1870. 2 COLI, Jorge. Como estudar a arte brasileira do século XIX?. 1. ed. São Paulo: Editora Senac. v. 1. 120p , 2006
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
147
Baseado na História Social Cultural nas últimas décadas, que se aproximou da
abordagem proposta pela antropologia, com ênfase nos estudos das práticas e representações3,
a pesquisa também é viável, na medida em que, se estrutura metodologicamente para se
inserir no campo da história de exposições, que permite caracterizar as relações entre imagem
e cultura visual4. As práticas de olhar e modos de ver do público evidenciam marcas da ordem
social e processos de produção de sentidos. A análise do circuito de criação, produção,
exposição, crítica e consumo da arte possibilita identificar as disputas simbólicas definidas
como disputas sociais que caracterizam a construção da sociedade.
Os estudos sobre a cultura visual que surgiram à partir década de 1990 nos Estados
Unidos5 servem de base teórica para a formulação e construção da pesquisa. Tais estudos
conceituam a arte como algo não naturalizado e sim como construído social e historicamente.
Interesses políticos e econômicos, locais de produção, formas de circulação da informação,
exposições e apropriações pelas práticas das sociedades são exemplos de como se atribui
determinados valores a uma obra de acordo com o momento histórico que se vive.
A historiografia da arte no Brasil nas décadas de 1980 e 1990 aumentou a quantidade
de trabalhos sobre as artes no Oitocentos no Brasil, pois anteriormente privilegiavam-se os
estudos sobre o Barroco e o Modernismo6. Modificou-se então, a visão da historiografia
tradicional, que colocava o estilo neoclássico europeu como sinônimo do termo acadêmico no
Brasil, a ponto de o conceito de pintura acadêmica ser disfarçado d1e categoria analítica e
classificatória e ter o intuito de diminuir e até insultar7. Sônia Regina Gomes8 define que
acadêmico não é um estilo, mas um modo mais específico de ensino e produção artística
caracterizado pelo respeito a um sistema determinado de normas e os artistas do século XIX
teriam outros estilos, como romantismo, realismo, impressionismo, simbolismo, entre outros.
3 CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados, vol. 5, n.º 11, jan./abr, p. 173-191,
1991. 4 KNAUSS, Paulo. Aproximações disciplinares: história, arte e imagem. Anos 90 (UFRGS), v. 15, p. 151-168,
2008. 5 Paulo Knauss escreveu um trabalho onde destacou o processo de institucionalização dos estudos visuais, a
partir da afirmação do conceito de cultura visual, no universo acadêmico dos Estados Unidos. Apresentou
diferentes definições do conceito de cultura visual e como o conceito foi sendo valorizado no campo da história
da arte ao sublinhar o caráter histórico do estatuto artístico, o que permite aproximar a história da imagem da
história da arte. KNAUSS, Paulo. O desafio de fazer história com imagens: arte e cultura visual. ArtCultura
(UFU), v. 8, p. 97-119, 2006. 6 PEREIRA, Sonia Gomes. Arte Brasileira no Século XIX. 2. ed. Belo Horizonte: C/Arte, 127p . 2011. 7 COLI, Jorge. Como estudar a arte brasileira do século XIX?. 1. ed. São Paulo: Editora Senac. v. 1. 120p , 2006 8 PEREIRA, Sonia Gomes. Revisão historiográfica da arte brasileira do século XIX. Revista IEB, v. 54, p. 87-
106, 2012.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
148
Essa visão da nova historiografia sobre as artes do século XIX contribuiu para a
formulação da pesquisa na medida em que essas telas noturnas, que são o objeto dessa
pesquisa, não podem ser reduzidas à esquemas totalizantes de pinturas neoclássicas que
apenas foram reconhecidas pela Academia Imperial de Belas Artes. Tadeu Chiarelli destacou
a necessidade de se complexificar os estudos sobre a arte brasileira no século XIX, com a
conexão entre o projeto de arte da Academia Imperial de Belas Artes - que tinha como
objetivo enaltecer o Estado Imperial com códigos de representação consagrados pela tradição
- e os projetos naturalistas e o realistas - que em maior ou menor grau se opunham a
idealização dos acadêmicos, mas conseguiam encontrar espaços para inserção nos debates de
arte propostos pela Academia.9
Os trabalhos de Sônia Gomes Pereira10, Walter Luiz Pereira11 e Afonso Carlos Santos
sobre a Academia Imperial de Belas Artes no Brasil contribuem para os novos estudos sobre
exposições do século XIX no Brasil e para a formulação teórica dessa pesquisa. Afonso
Carlos Santos destaca em seu trabalho a missão civilizatória da Academia Imperial,
estabelecida por Félix Émile Taunay12, que assume a direção da Academia Imperial de Belas
Artes entre 1834 e 1851 e que tinha um projeto conservador para a arte brasileira, de
alinhamento da cultura brasileira a cultura tradicional europeia, com a missão de manter da
ordem vigente e exaltar as virtudes de homens do Império, com as pinturas de temática
histórica em destaque nos prêmios e viagens a vencedores de concursos e nas encomendas de
telas, que contribuem para a consolidação das artes no Brasil..13
A pesquisa de Sonia Gomes Pereira, se debruça sobre os estudos dos modelos de
História da Arte implícitos na atuação da academia, com foco no período em que ocorreu a
Reforma Pedreira, estabelecida por Manuel Araújo-Porto Alegre14 quando assumiu a direção
da Academia entre 1854 e 1857. A contribuição de Sônia Gomes Pereira para a historiografia
está em estabelecer as bases teóricas que fizeram Araújo-Porto Alegre modificar a concepção
9 CHIARELLI, Domingos Tadeu . História da Arte/História da fotografia no Brasil - século XIX: algumas
considerações. ARS (USP) , São Paulo, SP, v. 6, p. 78, 2005. 10 PEREIRA, Sonia Gomes. Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro comemora 200 anos. Jornal da
Associação Brasileira de Críticos de Arte, v. 38, p. 1-10, 2016. 11 PEREIRA, Walter Luiz . Óleo Sobre Tela, Olhos Para a História. 1. ed. Rio de Janeiro: 7 Letras/ FAPERJ, v.
01. 180p. 2013. 12 Félix Émile Taunay (1795 - 1881) foi um pintor francês, também professor de desenho, pintura, língua grega e
literatura na Academia Imperial de Belas Artes do Brasil. 13 SANTOS, Afonso Carlos Marques. A Academia Imperial de Belas Artes e o Projeto Civilizatório do Império.
Anais do Seminário Eba 180, Rio de Janeiro, p. 127-146, 1997. 14 Manuel José de Araújo Porto-Alegre (1806 - 1879), Barão de Santo Ângelo político, jornalista, pintor, crítico e
historiador de arte, diretor da Academia Imperial de Belas Artes, professor e diplomata brasileiro.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
149
de arte criada pela academia. Pertencente a geração de 1830, de intelectuais ligados ao
romantismo, ele procura estabelecer uma ruptura com a cultura europeia mais antiga e uma
integração com a cultura europeia mais moderna.15 O objetivo principal era modificar o
imaginário social e formular uma identidade nacional que não exorcizasse a ligação com a
Europa, mas que procurasse um lugar onde uma cultura tão diferente como a brasileira
pudesse se alinhar sem perder a sua especificidade.16
O Estado Nação em concordância com as telas de De Martino
Para Benedict Anderson17 é inviável um controle absoluto dos governos na
organização dos Estados-Nação. É necessário formar “uma comunidade política imaginada”
com a criação de valores simbólicos que sejam legitimados por seus compatriotas. O século
XIX no Brasil foi um período de grandes transformações, com a vinda da corte para o Brasil
em 1808 foi criado um projeto de nação que se baseava na formação de uma história onde
existisse um passado, um presente comum e um futuro compartilhado. Estabelecer episódios
da História da nação e convertê-los em símbolos nacionais criando uma imagem patriótica
para consumo interno além de projetar-se no exterior como um país que dominava a técnica
de representação pictória são objetivos do Império brasileiro naquele contexto.18
As pinturas históricas foram criadas com muitas cores e muita luzes, com os
personagens que compunham as telas sendo facilmente identificados pelo público e utilizados
pelo Estado Imperial para forjar heróis nacionais que participaram da Guerra da Tríplice
Aliança. Mas algumas batalhas da Guerra da Tríplice Aliança ocorreram a noite, o que
mobilizou por parte dos artistas a utilização de técnicas diferentes para representar as
batalhas. O local de fala dessas telas no cenário das artes do Oitocentos é algo importante se
ser compreendido: Como os artistas criam os cenários noturnos estando eles inseridos na
proposta narrativa da Academia Imperial de Belas Artes de exaltação do Estado Imperial ?
15 PEREIRA, Sonia Gomes. A Academia de Belas Artes e a historiografia da arte no Brasil. In: PEREIRA,
Sonia Gomes (Org.) ; Cavalcanti, Ana (Org.) ; Malta, Marize (Org.). (Org.). Coleções de Arte: formação,
exibição, ensino.. 1ed.Rio de janeiro: Rio Book´s, 2015, v. 1, p. 33-46. 16 PEREIRA, Sonia Gomes. A Academia de Belas Artes e a historiografia da arte no Brasil. In: PEREIRA,
Sonia Gomes (Org.) ; Cavalcanti, Ana (Org.) ; Malta, Marize (Org.). (Org.). Coleções de Arte: formação,
exibição, ensino.. 1ed.Rio de janeiro: Rio Book´s, 2015, v. 1, p. 33-46. 17 ANDERSON, Benedict R. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo.
São Paulo: Companhia das letras, 2008. 18 TORAL, André Amaral. Imagens em desordem: a iconografia da guerra do Paraguai (1864-1870). 1a. ed.
São Paulo: Humanitas FFLCH USP, v. 1, 2001. p: 118.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
150
Edoardo De Martino, em 1868, durante a mostra inaugurada da Exposição Geral da
Academia de Belas Artes por Dom Pedro II, expôs duas telas, Passagem do Humaitá e a
Abordagem de Encouraçados Barroso e Monitor Rio Grande que representavam a batalha
noturna da Guerra da Tríplice Aliança ao Imperador Dom Pedro II. Na exposição de 1870,
mais duas telas de De Martino foram apresentadas, Passagem do Humaitá e Uma noite de
luar no Cabo de Horn19, sendo essa última agraciada com a medalha de ouro pela
Academia20, premiação esta que oferece indícios da valorização do recurso artístico de
valorização da noite.
Algumas problemáticas abarcam a investigação dessa pesquisa. A primeira questão
seria a respeito das características presentes em uma tela na época para classificá-la como
noturna. As pinturas históricas tinham os personagens bem definidos, prontamente
reconhecidos, devido a composição de telas com cores claras e com conflitos criados pelos
artistas a luz do dia, a menor luminosidade das telas noturnas modificava a composição da
tela, oferecendo questionamentos sobre a estrutura narrativa presente nessas telas. Essas telas
noturnas sendo classificadas como pinturas históricas, como seria lida pelo público a
composição da sua paisagem? A hipótese da investigação que proponho é de que as telas
noturnas estavam alinhadas ao discurso da Academia Imperial de Belas Artes, na medida em
que, a não identificação dos personagens na pintura histórica abafava os conflitos internos que
causavam certa instabilidade ao governo imperial, a pintura transformava o político em
natureza para a manutenção de uma ordem social.
Como foi levantado, as exposições eram capazes de atrair grande público, as artes
cumpriram uma função pedagógica importante no processo de manutenção da ordem por
parte do Estado nacional, pois estabeleceram hábitos que contribuíram para a prática do olhar
na medida em que o conduziram para certa leitura das obras, além da produção de folhetos de
descrição do circuito, catálogos e a forma expositiva com que os autores escolheram para que
os visitantes contemplassem as obras e pudessem refletir ou despertar interesse pelo tema ou
até se emocionar. Esse caráter pedagógico, de ensinar e publicizar a história do Brasil
compunha o projeto político da nação coesa e ordeira era transmitido aos brasileiros e aos
estrangeiros em exposições nacionais ou no exterior a fim de suavizar as críticas à
19 Jornal do Commercio Edição 00261(1) 7/8 - 19 de setembro de 1868 20 LEVY, Carlos Roberto Maciel. Exposições Gerais da Academia Imperial e da Escola Nacional de Belas
Artes, Período Monárquico. Catálogo de artistas e obras entre 1840 e 1884, Rio de Janeiro, Edições
Pinakotheke, 1990.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
151
escravização de africanos e afrodescendentes, às revoltas presentes em território brasileiro e à
questionamentos da permanência do Brasil na Guerra da Tríplice Aliança.
O caráter romântico das telas noturnas, que é expresso na ênfase da atmosfera do ar
das cenas, contribui para uma futura analise da pesquisa a respeito dos recursos dos pintores
do Oitocentos nas diferentes formas de composição dos quadros, de acordo com as suas
preferências e problematizações a respeito do impacto dessas telas sobre o olhar do público e
da Academia. A variedade de técnicas que os artistas da época dominavam, por vezes a
escolha por uma composição que investindo na exploração da luz e da cor para a composição
de luares, como na tela A Abordagem dos Encouraçados (1868) de De Martino e em outras
telas, os pintores evitavam a luminosidade e utilizavam nuvens, névoa e fumaça para
representar a noite, como na Passagem do Humaitá (1872) de Victor Meirelles.
Mas essas mudanças também propiciaram críticas, para Sonia Gomes Pereira, esse
cenário com transformações repentinas, onde o tradicional foi preterido pelo moderno, fez
com que a arte também fosse modificada.21 As telas noturnas valorizavam a natureza em meio
a um período de industrialização da nação, ao analisar as pinturas, a pesquisa pretende
aprofundar a pesquisa no que tange a construção narrativa presente nas telas, destacando as
disputas políticas e artísticas presentes no contexto da sua produção.
Jornais e De Martino na Arte no Século XIX
A construção metodológica da pesquisa parte do uso da imprensa como fonte
histórica, segundo Tânia Regina de Luca, os jornais eram pouco utilizados como fontes pela
historiografia da década de 1970 com a justificativa de que continham fragmentos do presente
sob o influxo de interesses, compromissos e paixões, sendo assim, imagens distorcidas,
parciais e subjetivas.22 A partir da renovação dos temas, das problemáticas, e dos
procedimentos metodológicos sugeridos pela Escola dos Annales, novas contribuições foram
criadas, expandindo as fronteiras do historiador.
Os periódicos são escritos de forma intencional, a escolha dos periódicos Jornal do
Commercio e Diário do Rio de Janeiro foi feita levando-se em conta que são dois dos jornais
21 PEREIRA, Sonia Gomes. Arte Brasileira no Século XIX. 2. ed. Belo Horizonte: C/Arte, 2011, p. 17/18. 22 LUCA, Tânia Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. p. 111-154. In: PINSKY, Carla
Bassenzi (organizadora). São Paulo: Contexto, 2014.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
152
considerados por Nelson Werneck Sodré23 como jornais informativos, de "tendência
conservadora"24, com uma grande circulação que tem a capacidade de se comunicar com um
público extenso. Nesses dois jornais existem colunas sobre as Belas Artes, com informativos
e artigos de críticos de arte, onde a pesquisa tomará como base para compreender o conceito
da pintura noturna, a recepção do público e os rituais de apresentação e venda dos quadros. O
Jornal do Commercio também oferece dados informativos de assuntos econômicos, como o
preço para a visitação de determinadas exposições e o quantitativo de público presente, a
venda e o leilão de quadros, para dimensionar a sua aceitação e o prestígio das telas noturnas
no mercado da arte.
O recorte temporal da pesquisa foi feito tendo em vista a Guerra da Tríplice Aliança,
quando a saída dos pintores dos ateliês para a produção das telas foi destacada nos jornais.
Anteriormente, os pintores históricos - que pertenciam ao gênero da pintura mais valorizado
pela academia: a pintura histórica - se valiam de recursos como fontes históricas e outras telas
de outros pintores para comporem as suas próprias. A guerra, no entanto, exigiu que os
artistas fossem ao campo de batalha para representá-la. Enfrentavam outras dificuldades na
confecção dos quadros, como a questão da luminosidade em batalhas que ocorreram à noite,
foi necessário que os artistas se valessem dos seus diversos recursos técnicos ou mesmo
criassem novos recursos para a elaboração das obras.
O estudo das telas noturnas está inserido nesse contexto de formação da Academia, na
medida em que, para Porto Alegre, uma das principais tarefas do Império era a representação
da paisagem brasileira que iria se destacar perante outras obras europeias no cenário
internacional das artes.25 As exposições de belas artes são trabalhadas com profundidade na
pesquisa do Walter Luiz Pereira sobre memória e pintura histórica nas Exposições Gerais das
Belas Artes entre 1872-1879, onde Estado brasileiro era o principal fomentador de artistas
brasileiros e estrangeiros e oferecia liberdade criativa, não mais atrelada exclusivamente a
23 SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil, 4ª ed., Rio de Janeiro, Mauad, 1999. 24 A tendência conservadora não é apenas estética, na recusa em adotar inovações gráficas e editoriais como as
caricaturas e fotografias. A preferência pelo texto informativo em oposição a um texto mais influente perante a
opinião pública era uma marca desse conservadorismo, assim como o alinhamento político do jornal aos grupos
que estavam no poder. 25 PEREIRA, Sonia Gomes. A Academia de Belas Artes e a historiografia da arte no Brasil. In: PEREIRA,
Sonia Gomes (Org.) ; Cavalcanti, Ana (Org.) ; Malta, Marize (Org.). (Org.). Coleções de Arte: formação,
exibição, ensino.. 1ed.Rio de janeiro: Rio Book´s, 2015, v. 1, p. 33-46.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
153
uma arte do mundo religioso, possibilitando maior visibilidade artística no Brasil, debates
políticos e artísticos, e a consagração de artistas e obras26.
Walter Luiz Pereira revela a preocupação da Academia Imperial de Belas Artes em
incorporar novos hábitos a sociedade brasileira, de estabelecer uma ritualização nas
organizações das exposições.27 Pierre Bourdieu, que denuncia a função da arte de distinguir
socialmente a elite e afirmar um recorte de classe.28 Sendo assim, esses dois trabalhos
auxiliam na composição teórica do projeto, pois a arte é apropriada como representação
simbólica do poder29 e também ação política da classe senhorial letrada, que tem o desejo de
representar o império como civilizado, moderno e poderoso junto aos países europeus.
Seguindo essa perspectiva, André Toral foi pioneiro no trabalho sobre iconografia da Guerra
da Tríplice Aliança, realizou uma pesquisa importante para compreender do papel do Estado
nas artes nesse contexto.
André Toral destacou o Estado como principal comprador e expositor das telas dos
artistas do Oitocentos, suas encomendas cumpriam objetivos políticos como a manutenção da
ordem com símbolos confeccionados da elite ao povo30. Ao negar as revoltas do período
regencial nos quadros, têm-se indícios do significado político dos discursos. Estivessem eles
presentes em forma de escrita ou de imagem, a preocupação com a instabilidade política que
pudesse acarretar em fragmentação política e territorial é notória. Essa preocupação do
governo monárquico em construir uma história nacional única, com base em representações
de símbolos nacionais que apontavam para a construção de uma nacionalidade com virtudes
capazes de assegurar a legitimidade da monarquia é uma das questões que veem sendo
abordadas nesse artigo e serão aprofundadas na pesquisa.
26 PEREIRA, Walter Luiz . Óleo Sobre Tela, Olhos Para a História. 1. ed. Rio de Janeiro: 7 Letras/ FAPERJ, v.
01. 180p. 2013. 27 PEREIRA, Walter Luiz Carneiro de Mattos. Imagem, Nação e Consciência Nacional: os rituais da pintura
histórica no século XIX. Cultura Visual (Impresso), v. 17, p. 93-105, 2012. 28 BOURDIEU, P; DARBEL, A. O amor pela arte: os museus de arte na Europa e seu público. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo: Zouk, 2003. 29 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. O poder simbólico é um
conceito definido por Bourdieu que o situa “com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a
cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem." Desse forma, os
símbolos são utilizados como instrumentos com a função política de instrumento de dominação de uma classe
sobre a outra. Também indica as diversas apropriações sociais de símbolos que foram necessárias para a
composição do imaginário humano de cada época. 30 TORAL, André Amaral. Imagens em desordem: a iconografia da guerra do Paraguai (1864-1870). 1a. ed.
São Paulo: Humanitas FFLCH USP, v. 1. p. 216, 2001.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
154
Como destacou Walter Luiz Pereira, o pintor de marinhas Edoardo De Martino tem a
tendência em pintar ambientes noturnos onde a luminosidade da representação do luar na tela
se confundia com a luminosidade de lampiões e lamparinas a gás presente nas salas de
exposição31. Os trabalhos de Walter Luiz Pereira sobre esse pintor ajudam a aprofundar a
discussão sobre o romantismo nas telas noturnas, assim como os jornais do período são uma
fonte valiosa para compreender a recepção que o público também tinha a respeito das telas. O
artigo crítico de J. J. Teixeira no Jornal do Commercio, em 1871, sobre o quadro A Passagem
do Humaitá, elucida a valoração que o público conferia à grande luminosidade das telas
noturnas de marinha de De Martino, que abordavam de forma romântica as batalhas na guerra
da Tríplice Aliança:
É um pincel de quatro metros sobre três, representando o memorável feito que ficou
registrado com o título de Passagem de Humaitá. A verdade histórica está nele
associada à verdade artística. Figuram neles todos os encouraçados com as suas
formas e em suas posições, estes buscando romper a passagem, aqueles protegendo-
os por meio do bombardeio. O nobre Alagoas já abandonado por seu companheiro,
esforça-se para cumprir o dever que tão briosamente cumpriu. Riquíssimo nos
efeitos de luz, o artista esmerou-se no contraste da plácida claridade da lua com o
horrendo clarão da artilharia. O céu, a água, as bombas que nos ares rebentão, tudo
produz um efeito surpreendente. Não é por certo um quadro para se lhe por o nariz
em cima, mas colocando-se na distância pela grandeza do assunto, já pelo colorido
que o representa. Esta produção é para mim superior à outra que a figura o combate
do Riachuelo. Devemos todos desejar que tão bela obra nos fique. J.J.Teixeira.32
Considerações finais
Com o objetivo de estudar a relação entre o projeto político do Estado Imperial
brasileiro e as artes no contexto da Guerra do Tríplice Aliança. O artigo teve como proposta
investigar os modos de ver e as práticas do olhar das telas de Edoardo De Martino, sem a
pretensão de esgotar as discussões sobre o tema, foram levantados alguns questionamentos a
respeito dos discursos que envolvem as suas telas. A falta de trabalhos na historiografia sobre
a temática das pinturas noturnas e das cores nas telas de Edoardo De Martino é um
complicador, mas as questões levantadas no desenrolar desse artigo ainda serão refletidas e
desenvolvidas com maior profundidade durante na pesquisa de Mestrado.
Bibliografia:
31 PEREIRA, Walter Luiz. E fez-se a memória naval. A coleção de Edoardo Martino no Museu Histórico
Nacional. Anais do Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, vol. 31, 1999. p. 155. 32 Jornal do Commercio: Edição 00125(1) 1/4 - 7 de maio de 1871.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
155
ANDERSON, Benedict R. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do
nacionalismo. São Paulo: Companhia das letras, 2008.
BOURDIEU, Pierre; DARBEL, A. O amor pela arte: os museus de arte na Europa e seu
público. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Zouk, 2003.
BURKE, Peter. A Escola dos Annales – a revolução francesa da historiografia. São Paulo,
UNESP, p. 156, 1990.
CARDOSO, Rafael. Ressuscitando um Velho Cavalo de Batalha: Novas Dimensões da
Pintura Histórica do Segundo Reinado. 19&20, Rio de Janeiro, v. II, n. 3, jul. 2007.
CARVALHO, José Murilo de. A Construção da Ordem/Teatro de Sombras. 2. ed. RIO DE
JANEIRO: RELUME DUMARA, v. 1. p. 435, 1996.
CHARTIER, Roger. O mundo como representação. Estudos Avançados, vol. 5, n.º 11,
jan./abr, p. 173-191, 1991.
COLI, Jorge. Como estudar a arte brasileira do século XIX?. 1. ed. São Paulo: Editora Senac.
v. 1. 120p , 2006.
DORATIOTO, Francisco. Maldita Guerra: Nova História da Guerra do Paraguai. São
Paulo: Companhia das Letras, 2002.
DUQUE-ESTRADA, Luis Gonzaga. A arte brasileira. Mercado de Letras,
Campinas, 1995.
_____________. Graves & Frívolos. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1910, p. 63.
HOBSBAWM, Eric J. Nações e nacionalismo desde 1780. Rio de Janeiro. Paz e Terra, P.
230, 1990.
KNAUSS, Paulo. O desafio de fazer história com imagens: arte e cultura visual. ArtCultura
(UFU), v. 8, p. 97-119, 2006.
________. Aproximações disciplinares: história, arte e imagem. Anos 90 (UFRGS), v. 15, p.
151-168, 2008.
LEVY, Carlos Roberto Maciel. 150 anos de pintura de marinha na história da arte brasileira.
Rio de Janeiro: MNBA, 1982.
_________. Exposições Gerais da Academia Imperial e da Escola Nacional de Belas Artes,
Período Monárquico. Catálogo de artistas e obras entre 1840 e 1884, Rio de Janeiro, Edições
Pinakotheke, 1990.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
156
LUCA, Tânia Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. p. 111-154. In:
PINSKY, Carla Bassenzi (organizadora). São Paulo: Contexto, 2014.
PEREIRA, Sonia Gomes. Arte Brasileira no Século XIX. 2. ed. Belo Horizonte: C/Arte, 127p
. 2011.
_________. Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro: revisão historiográfica e
estado da questão. Arte & Ensaio (UFRJ), Rio de Janeiro, v. 1, p. 72-83, 2001.
_________. Revisão historiográfica da arte brasileira do século XIX. Revista IEB, v. 54, p.
87-106, 2012.
_________. A sincronia entre valores tradicionais e modernos na academia Imperial de Belas
Artes: os envios de Rodolfo Amoedo. ArtCultura, v. 12, p. 50-65, 2010.
PEREIRA, Walter Luiz. “E fez-se a memória naval. A coleção de Edoardo Martino no
Museu Histórico Nacional”. Anais do Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, vol. 31,
1999.
_________. Óleo Sobre Tela, Olhos Para a História. 1. ed. Rio de Janeiro: 7 Letras/
FAPERJ, v. 01. 180p. 2013
__________. Guerra do Paraguai: o discurso e a memória nas telas de Eduardo de Martino.
Monografia de Bacharelado – UFF, Niterói, 1999.
SANTOS, Afonso Carlos Marques. A Academia Imperial de Belas Artes e o Projeto
Civilizatório do Império. Anais do Seminário Eba 180, Rio de Janeiro, p. 127-146, 1997.
TORAL, A. A.. Imagens em desordem: a iconografia da guerra do Paraguai (1864-1870).
1a. ed. São Paulo: Humanitas FFLCH USP, v. 1. p. 216, 2001.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
157
“Uma estação no círculo do inferno”: o olhar de gênero sobre o encarceramento de
presas políticas no Instituto Penal Talavera Bruce (1970-1979)
Ayssa Yamaguti Norek
Introdução
Em 1973, Caetano Veloso escreveu em seu livro intitulado “Alegria, Alegria” que “de
qualquer forma, o único medo que tenho é que esta venha a ser a década do silêncio”.
Quando se discute a década de 1970, os fenômenos vão muito além daqueles do início da
ditadura militar e dos denominadores genéricos – subversão, comunismo, corrupção e
populismo – que, então, fortaleceram os discursos em torno do golpe (Reis Filho, 2000). A
ideia de um futuro naquele momento era ainda superficial e visava colocar em ordem o país,
combater a inflação e assegurar o desenvolvimento (D’Araújo; Castro, 1997), em oposição
àqueles denominadores que, em conjunto, poderiam levar o Brasil à desordem e ao caos.
Trata-se aqui de dois mundos distintos, um oficial (legítimo/legal) e um subversivo
(clandestino/ilegal) (Ferreira, 1996) que se apartaram, cada vez mais, após a publicação do
Ato Institucional nº 5, em 1968. A implementação do AI-5 significava o recrudescimento do
regime, visto que, a princípio, o mesmo não possuía um prazo de vigência e, depois,
centralizava e isolava o Estado de Segurança Nacional, corporificando-o na figura do
Executivo (Alves, 1984).
Com o fim dos espaços nos quais se podia manifestar de forma legítima a contestação
política, através do fechamento do Congresso e da suspensão do habeas corpus para crimes
políticos, observou-se um aumento dos movimentos clandestinos de contestação, voltados
majoritariamente à luta armada. Formou-se, portanto, um “ciclo vicioso” em que, para os
militares da linha dura, a adesão dos setores de esquerda à luta armada influenciou o
endurecimento do aparato de segurança e repressão e, para os setores de esquerda, o AI-5
minou a possibilidade de ação dentro de uma via legal (Fico, 2003; Arquidiocese, 1985; Silva,
2011).
Em relação à estrutura repressiva, Fico (2003) demonstra que a mesma foi criada a
partir de diretrizes secretas, tendo sido responsável pelas inúmeras prisões, torturas e
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
158
assassinatos políticos que se viram desenrolar no Brasil pós-68. A tese que sustentava tal
aparato vinha da ineficácia das instituições até então operantes em de fato combater a
“subversão”, não devendo as ações consideradas “subversivo-terroristas” serem julgadas
como crimes comuns, mas sim a partir da coordenação e integração dos diversos órgãos:
criou-se então o sistema CODI-DOI (Centro de Operações de Defesa Interna – Destacamento
de Operações de Informações) inspirado na estrutura da OBAN (Operação Bandeirantes)
como um sistema de planejamento comandado pelo Chefe do Estado-Maior do Exército,
responsável justamente pela prisão, tortura e assassinato dos opositores do regime. A criação
desse aparato repressivo vinculava-se a outras bases do regime, como a censura, a propaganda
e a espionagem dentro da lógica da “Doutrina de Segurança Nacional”.
Logo, após a criação desses novos órgãos de segurança e repressão, os interrogatórios
dos indivíduos apreendidos eram feitos primeiro nos DOI-CODI ou nos centros das Forças
Armadas, sem comunicação das prisões à Justiça Militar e mantendo-os incomunicáveis.
Órgãos como os DOI-CODI faziam sua própria lei, alheios aos dispositivos da legislação de
Segurança Nacional vigente. O preso era posteriormente enviado ao Departamento de Ordem
Política e Social (DOPS) ou para a Polícia Federal para ser feito o Inquérito Policial Militar
(IPM) com as informações obtidas de forma ilegal e clandestina nos DOI-CODI e nos outros
centros das Forças Armadas. A última fase desse longo e arbitrário processo era o
cumprimento da pena em prisões e penitenciárias. No caso do Rio de Janeiro, as presas
políticas em geral eram encaminhadas para o Instituto Penal Talavera Bruce, localizado em
Bangu e abrigadas no Pavilhão II do presídio (Lemgruber, 1999; Ferreira, 1996; Santos,
2007).
Nesse sentido, a frase de Caetano remete a muito do que representa a década de 1970:
o desenvolvimento e endurecimento do aparato repressivo, modus operandi vital da ditadura
militar, ajudou a compor os muitos silenciamentos que se perpetuaram e ainda se perpetuam
no presente. A história oficial fundada na Lei de Anistia acabou por silenciar as múltiplas
vozes dos agentes que viveram e foram impactados pelas políticas desse período. Através da
memória, hoje, é possível reconstruir essa história silenciada. Propõe-se levar a efeito o que
Benjamin (1994) concebeu como ruptura do continuum da história, a fim de alterar a versão
descritiva dos fatos que perpetua a ótica dos vencedores, nadando contra a corrente da história
oficial.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
159
Objeto de Pesquisa
Pretende-se estudar, sob o olhar de gênero, o encarceramento de presas políticas no
Instituto Penal Talavera Bruce entre 1970 e 1979, buscando entender de que maneira o gênero
diferenciava, de um lado, os processos de aprisionamento, tratamento e circulação de presas
políticas e, de outro, o âmbito da experiência pessoal e inalienável das mulheres no contexto
prisional e repressivo daquela década.
Como a literatura aponta, as mulheres eram paralelamente acusadas de(i) “terroristas”
e (ii) “mulheres” deslocadas do papel socialmente construído que deveriam exercer, o que
Rosa (2013) considera como uma combinação infame para a repressão. Deste modo, a figura
feminina enquanto construção social era constantemente utilizada como um recurso
discursivo na sala de tortura e dentro das instituições como os presídios, ao contrário da época
de militância, em que era mantida uma figura universal de militante, que até na linguagem
subsume a questão de gênero por ser um substantivo diferenciado apenas pelo artigo que o
precede. O mencionado paralelismo acontecia porque, para a repressão e seus expoentes, as
mulheres militantes1 exerciam um papel duplamente transgressor: investiam-se de agentes
políticos que se insurgiam contra o regime, rompendo com o padrão de gênero esperado.
Saíam, portanto, da sua posição de gênero dentro do sistema cultural (Ferreira, 1996),
transgredindo o seu papel de “rainhas do lar” (MELLO; NOVAIS, 1998) – de donas de casa,
provedoras do bem estar do marido e dos filhos passavam a agentes políticos contrários ao
sistema.
Da mesma forma, observa-se que nem todas as mulheres encarceradas foram
devidamente sentenciadas como infratoras da Lei de Segurança Nacional. Algumas ainda
aguardavam seu julgamento encarceradas no Talavera Bruce. Era comum que estivessem
envolvidas em mais de um processo, garantindo um percurso longo pelos meandros da Justiça
Militar e a estadia em instituições como o objeto deste estudo (Ferreira, 1996).
Objetivos e Justificativa
O objetivo do estudo é, portanto, identificar as questões que envolvem gênero e
aprisionamento num regime de exceção, de forma que possam ser compreendidas as
diferenças de tratamento das mulheres encarceradas em relação a um universo masculino que
1Segundo Ridenti (1993), 75% das militantes de grupos armados pertenciam às camadas médias
intelectualizadas.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
160
engloba, numa configuração mais imediata, o próprio espaço prisional e, depois, as relações
simbólicas estabelecidas dentro da prisão. Insere-se aqui a adaptação da mulher a um espaço
prisional elaborado para o sexo masculino, que à época, por exemplo, não possuía nem
maternidade (GÓIS; QUADRAT, 2008). Intenciona-se investigar, da mesma forma, as
diferenças de experiência e vivências – físicas e psicológicas – relativas ao aprisionamento
feminino, que divergem daquelas experimentadas pelos homens na condição de presos
políticos.
Segundo Ferreira (1996), a especificidade da experiência feminina influencia até a
percepção do tempo dentro da prisão. Ter filhos tornou-se uma impossibilidade concreta e
objetiva para uma presa política: precisava sair do confinamento antes dos 35 anos. O
Talavera Bruce teve apenas um caso de gravidez após visita íntima; Jessie Jane Vieira de
Souza teve sua filha Leta enquanto ainda cumpria a sentença de 18 anos2 a qual foi
condenada.
A periodicidade escolhida corresponde ao lapso temporal em que o Instituto Penal
Talavera Bruce recebeu presas políticas. As primeiras mulheres foram confinadas em maio de
1970 e as últimas saíram em fevereiro de 1979, já no período de distensão política que
resultou na Lei de Anistia promulgada em agosto do mesmo ano. Não se vinculou, portanto, o
presente estudo a um governo específico, visto que a percepção do enclausuramento variava
de acordo com a época como um todo e com a administração da penitenciária – dependia de
quem estava no comando direto. Como observa Ferreira (1996), não havia lógica
sistêmica(atrelada ou não a governos específicos) ou consistência nas práticas repressivas e
punitivas do regime. Visa-se, portanto, estudar a influência do gênero no encarceramento
destas mulheres, buscando englobar todo o período no qual elas foram encarceradas na
condição de presas políticas no Talavera Bruce, a fim de entender se houve ou não alguma
mudança significativa no tratamento e nas suas experiências de acordo com a passagem do
tempo.
Quadro Teórico
No presente estudo, parte-se do pressuposto de Scott (1986) que entende gênero como
papéis sociais atribuídos aos sexos, uma categoria analítica de ideias e ideais de
masculinidade e feminilidade que se altera de acordo com a época e a sociedade estudada. O
2Jornal do Brasil, 13 de março de 1971, p. 12. Hemeroteca Digital Brasileira.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
161
gênero é, para a autora, socialmente construído sobre interações fundadas nas diferenças
percebidas entre os sexos e como uma primeira forma de dar significado às relações de poder.
Nesse sentido, no presente trabalho não é utilizado o termo “mulheres” como uma
categoria analítica a fim de não apartar a história das mulheres de uma outra, geral, pois
propõe-se a primeira em conjunto com toda a última, que a engloba em seu campo de tensões
e inter-relações, procurando mudar o centro de perspectiva masculino das narrativas que –
ainda hoje – concebem-se como oficiais. Dessa forma, seguindo a linha de Scott (1986),
procura-se compreender a natureza vinculada do gênero e da sociedade, de forma que as
significações de gênero e de poder se construam reciprocamente.
Ferreira (1996) demonstra que os papeis femininos e masculinos são socialmente
construídos e culturalmente definidos, decorrendo desse processo uma desigualdade de status
entre os sexos, na qual a mulher ocupa uma posição diferente e inferior. Do mesmo modo, a
autora demonstra como a mulher é o elemento de coesão e ordenação social que investe
poder, embora não o detenha. A posição da mulher é marcada dentro do espaço social pelo
binômio público/privado: enquanto está na esfera do doméstico e do particular como mãe,
esposa e irmã, o homem ocupa o domínio público, sendo definido em termos de categoria de
status, como, por exemplo, governante. Logo, observa-se que existem espaços masculinos e
espaços femininos.
Como demonstram Mello e Novais (1998), no Brasil do século XX, mesmo havendo
declinado a distância social entre homens e mulheres, ainda persistia, de certa forma, a divisão
de funções: o homem continuava a ser o chefe da casa e provedor do sustento da família,
enquanto a mulher deveria ser a dona de casa, a mãe e a esposa. Da classe média para cima,
conviviam o desejo de trabalhar e de ter independência financeira por parte das mulheres e o
ideal da “rainha do lar”. Moraes (2003) mostra como, na década de 1960, a “revolução dos
jovens” (minissaia, pílula anticoncepcional e comunismo) assustou os conservadores que se
insurgiram a fim de desestabilizar o governo de João Goulart. Havia, inclusive, organizações
femininas conservadoras que defendiam a religião e a família. Logo, Ferreira (1996) aponta
que as militantes saíram da sua posição de gênero dentro do sistema cultural, reconstituindo
seus papeis enquanto agentes políticos, se opondo ao status quo vigente na ditadura.
No escopo desse trabalho, será utilizada a concepção de memória, partindo do
conceito de “memórias subterrâneas” de Pollak (1989), que são aquelas “não oficiais”,
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
162
marginalizadas e das minorias nas quais se enquadram a das presas políticas. Considera-se
memória, também, um fenômeno coletivo e social, sujeito a constantes mudanças, que se
desenvolve num quadro espacial e que realiza uma reinvenção do passado em comum a fim
de interpretar o presente e modificar o futuro (Halbwachs 1990). Para complementar, entende-
se a partir de Le Goff (1992) que a memória coletiva nada mais é que um instrumento de
disputa das classes, dos grupos e dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades
históricas e procura-se, aqui, buscar a força subversiva desse tipo de memória, que desafia a
narrativa oficial ao resgatar memórias concorrentes (Ferreira, 1996).
Aguirre (2009) aponta que as prisões são muitas coisas ao mesmo tempo: representam
o poder e a autoridade do Estado, são arenas de conflito, negociação e resistência, lugares
onde é possível criar formas subalternas de socialização e cultura, e espaços onde indivíduos
formam suas visões de mundo e entram em interação com outros indivíduos e autoridades do
Estado. Isso demonstra que, no caso deste estudo, as presas políticas interagem entre si,
formando os chamados coletivos que garantiram sua sobrevivência dentro do Talavera Bruce,
e com as autoridades do Estado que incluíam, também, guardas do sexo masculino
(Lemgruber, 1999). Tem-se, portanto, o fenômeno da prisionização (Sussekind, 2014), em
que se aprende a ser um preso e a adaptar-se à cultura do cárcere. O que se observa no caso
das presas políticas, contudo, é a criação de uma rotina própria e dura dentro da ideia de
coletivo (Ferreira, 1996).
Metodologia
Deste modo, pretende-se analisar o objeto através do cruzamento entre gênero e
política, utilizando documentos de arquivo físico e online, e entrevistas com ex-presas
políticas já colhidas e a serem realizadas no âmbito do presente trabalho. Os documentos
confeccionados dentro do contexto prisional de exceção implicam um obstáculo; para tanto já
foram empreendidas tentativas de mapeá-los. Em todos os acervos, a pesquisa se concentrará
em buscar documentos produzidos no âmbito do Talavera Bruce, e outros que digam respeito
às presas políticas que lá passaram na década de 1970.
No Arquivo Nacional, a documentação produzida pelos órgãos do governo, como o
SNI, ajudará a compreender de que modo o aparato estatal lidava diretamente com as presas
políticas e como a informação sobre elas circulava dentro do regime. No caso do acervo
online Brasil: Nunca Mais, os processos de civis incursos em crimes contra a segurança
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
163
nacional ajudarão a compreender como o aparato jurídico-legal lidava com a categoria de
presas políticas e a sua permanência no Talavera Bruce. E o APERJ3, com o acervo do DOPS
do Estado Rio de Janeiro, ajudará a compreender não só a circulação de documentação
referente às presas entre o presídio e a polícia política, mas também como o braço mais
voltado à repressão do regime estruturava a condição de presas políticas após a passagem
dessas mulheres em seus centros clandestinos.
Essa análise levará em conta que raramente os documentos demonstrarão de forma
explícita o que se busca, principalmente ações que são hoje classificadas como violações de
direitos humanos; portanto, a análise se voltará às sutilezas e ao subentendido, além de
compreender como e por que o documento foi escrito, como circulou e foi guardado. As
informações contidas na documentação são fruto de ações legais e ilegais que incluem
violência física e psicológica e de uma estrutura burocrático-repressiva vigente num regime
autoritário.
Serão utilizadas também notícias de periódicos que circularam no período, disponíveis
na Hemeroteca Digital Brasileira. Sabendo que a imprensa seleciona, ordena, estrutura e narra
de uma forma específica o que o público lê, será feita uma análise do discurso, através da
linguagem, da natureza do conteúdo, do público (LUCA, 2005) que os jornais atingiam, e sua
vinculação com o regime, para compreender como os impressos de grande circulação lidavam
com as questões centrais a esta pesquisa.
Serão realizadas entrevistas e também serão utilizados os depoimentos já colhidos no
âmbito das Comissões da Verdade. Esse é o campo de trabalho mais fértil e será utilizado
como um meio de transformar o conteúdo e a finalidade da história, o que configura a
ampliação do enfoque – até aqui baseado nos “documentos oficiais” – e a revelação de novos
campos de investigação (THOMPSON, 1992), isto é, a materialização da memória das ex-
presas políticas. Assim, obtém-se uma multiplicidade de pontos de vista a fim desconstruir
uma narrativa mais realista do passado.
As entrevistas se darão a partir da relação entre múltiplos tempos, ou seja, o tempo
passado pesquisado (trajetória de vida das entrevistadas), os tempos intermediários e suas
reelaborações narrativas, e o tempo presente, que orienta tanto as perguntas que serão feitas
3No fundo do DOPS já foram encontrados documentos produzidos no âmbito do Talavera Bruce, embora não
seja da guarda do APERJ a documentação do presídio, que mencionam nomes de presas políticas e informações
sobre as mesmas, a rotina e as políticas impressas pela administração a essas mulheres. Compreender como
circulou esse documento é fundamental para elucidar as estruturas burocráticas, estatais e autoritárias do regime.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
164
quanto as respostas; tem-se em perspectiva que nos depoimentos orais estão presentes as
lembranças (explícitas ou veladas), os esquecimentos e os ocultamentos que protegem as
entrevistadas de dores, traumas e emoções (DELGADO, 2006). Dessa forma, busca-se aqui
compreender o mesmo que nos documentos. Cumpre ressaltar que o caráter político de suas
prisões também tem efeito em seus relacionamentos interpessoais e no espaço que ocupavam
ou visavam ocupar dentro do presídio. O roteiro das entrevistas envolverá todas essas
questões.
Conclusão
Lidar com o encarceramento de indivíduos no sistema prisional brasileiro perpassa não
só as questões próprias do crime pelo qual determinado indivíduo responde, mas também o
recorte de classe, raça e gênero, que é crucial na hora de lidar com o tema. Durante a ditadura
militar brasileira, as ações políticas contrárias ao regime vigente eram punidas de forma
sistemática, como política de Estado além dos limiares da legalidade, nos “porões da
ditadura”. Considerando que, neste contexto, ser mulher e presa política condicionava a
permanência em presídios femininos em todo o Brasil e, em face da pequena quantidade de
trabalhos que se debruçam sobre o tema proposto (Ferreira, 1996; Lemgruber, 1999; Santos,
2007), falar sobre o olhar de gênero no encarceramento de presas políticas, tendo como
referência central de estudo o Instituto Penal Talavera Bruce, é relevante para o
desenvolvimento dos estudos da ditadura militar brasileira e, de forma mais ampla, das
próprias interações numa sociedade ainda marcada pelas distorções nas relações de gênero. O
presente trabalho insere-se, então, nessa tentativa de compreender as estruturas que
precederam as interações sociais no Brasil atual e que permitem lançar luz sobre as
continuadas violações dos direitos humanos nas prisões do país, além de iluminar também as
memórias dessas ex-presas políticas que foram silenciadas décadas afora.
Referências Bibliográficas
AGUIRRE, Carlos. Cárcere e Sociedade na América Latina (1880-1940). In:
MAIA, Clarissa Nunes et al (Org.). História das Prisões no Brasil. Rio de Janeiro: Rocco,
2009.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
165
ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e Oposição no Brasil (1964-1984).
Petrópolis: Vozes, 1984.
ARQUIDIOCESE de São Paulo. Brasil: Nunca Mais. 2ª ed., Petrópolis: Vozes, 1985.
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e
história da cultura. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.
D’ARAÚJO, Maria Celina; CASTRO, Celso (orgs.). Ernesto Geisel. Rio de Janeiro:
Editora Fundação Getulio Vargas, 1997.
DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. Introdução e História e Memória:
Metodologia da História Oral. In: História Oral: memória, tempo, identidades. Belo
Horizonte: Autêntica Editora, 2006.
FERREIRA, Elizabeth F. Xavier. Mulheres, Militância e Memória. Rio de Janeiro:
Fundação Getulio Vargas Editora, 1996.
FICO, Carlos. Espionagem, polícia política, censura e propaganda: os pilares
básicos da repressão. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves. O
tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. O Brasil
Republicano, v. 4. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2013, pp. 167-205.
GÓIS, João Bôsco Hora; QUADRAT, Samantha Viz. Militância Política e Gênero
na Ditadura Brasileira: entrevista com Jessie Jane Vieira de Souza. Gênero, Niterói, v. 8,
nº 2, pp. 23-41, 1. sem. 2008. Disponível em:
<http://www.revistagenero.uff.br/index.php/revistagenero/article/view/174>. Acesso em: 15
de out. 2017.
HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais
Ltda, 1990.
LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Ed. Unicamp, 1992.
LEMGRUBER, Julita. Cemitério dos Vivos: análise sociológica de uma prisão de
mulheres. Rio de Janeiro: Forense, 1999.
LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY,
C. Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2005.
MORAES, Maria Lygia Quartim de. Cidadania no Feminino. In: PINSKY, Jaime;
PINSKY, Carla Bassanezi (Orgs.). História da Cidadania. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2003.
POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento e Silêncio. Rio de Janeiro: Editora
Vértice, 1989.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
166
MELLO, João Manuel Cardoso de; NOVAIS, Fernando A. Capitalismo Tardio e
Sociabilidade Moderna. In: NOVAIS, Fernando A (Coord.); SCHWARCZ, Lilia Moritz
(Org.). História da Vida Privada no Brasil: contrastes da intimidade contemporânea. São
Paulo: Companhia das Letras, 1998.
REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura Militar: esquerdas e sociedade. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2000.
ROSA, Susel Oliveira da. Mulheres, Ditaduras e Memória: "não imagine que
precise ser triste para ser militante". São Paulo: Intermeios; Fapesp, 2013.
RIDENTI, M. O fantasma da revolução brasileira. São Paulo: Ed. da UNESP, 1993.
SANTOS, Rodrigo da Fonseca Vieira Justen dos. Memória e Espaço Prisional: a
experiência de ex-prisioneiras políticas do Instituto Penal Talavera Bruce (1970-1979).
63 páginas. Monografia - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Rio de
Janeiro, 2007.
SCOTT, Joan W. Gender: A Useful Category of Historical Analysis. The American
HistoricalReview, vol. 91, nº 5, dez. 1986, pp. 1053-1075. Disponível em:
http://www.jstor.org/stable/1864376
SUSSEKIND, Elizabeth. Estratégias de Sobrevivência e de Convivência nas
Prisões do Rio de Janeiro. Tese de Doutorado - Centro de Pesquisa e Documentação de
História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getulio Vargas, 2014, 380 páginas.
THOMPSON, Paul. História e Comunidade. In: A voz do passado. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1992.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
167
O renascer da democracia e o despertar do Partido dos Trabalhadores (PT)1
Wagner Hartje2
Resumo
O presente artigo visa introduzir uma discussão acerca do papel que os trabalhadores, o “novo
sindicalismo” e o Partido dos Trabalhadores tiveram na reconfiguração da democracia
brasileira, além de apontar aspectos da complexa reabertura política a partir dos anos setenta e
a participação dos demais agentes de esquerda, sobretudo o PCB, na conjuntura em questão,
bem como na consolidação do PT como protagonista neste campo político-social. Serão
apresentadas, de igual maneira, algumas tendências internas de destaque na configuração
petista, além de problemáticas no que concerne à estrutura organizativa do PT e as contradições
teóricas-práticas da legenda.
Palavras-chave: “Nova República”, redemocratização, PT, democracia interna, socialismo.
O RENASCER DA DEMOCRACIA E A CONFIGURAÇÃO POLÍTICA BRASILEIRA
Na metade final da década de 1970 a ditadura civil-militar deu mostras de esgotamento.
Com apelo popular, à Lei da Anistia de 1979 que, apesar de suas limitações no tangente à
abrangência dos beneficiados, garantiu a volta de muitos exilados e a soltura de presos políticos,
a imposição do regime bipartidário foi abolida e substituída pela livre organização partidária a
partir de 1980, num cenário de imensas disputas de hegemonia e a busca pelo resgate de
algumas tradições políticas. O reordenamento das siglas partidárias apresentava uma dinâmica
bastante diferente daquela deixada em 1964, uma vez que a correlação de forças mudara e novos
atores políticos destacavam-se no momento da abertura. A participação dos tradicionais
partidos comunistas, por exemplo, ainda que relevante, sofrera sérios desmontes na conjuntura
da abertura, tendo em vista que a crise do leste europeu espirrou em todos os comunistas do
mundo e a perda de boa parte de seus quadros para a repressão da ditadura ainda mostrava a
fragilidade daqueles partidos nos anos 1980. Outra disputa importante no cenário nacional
nesses tempos, é a busca pela herança do trabalhismo. Voltando do exílio ao qual ficou por
1 Artigo apresentado na Semana Discente do IESP-UERJ 2018. 2 Mestrando em História Contemporânea III na Universidade Federal Fluminense (UFF).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
168
mais de quinze anos, Leonel Brizola buscou resgatar a histórica legenda do Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), mas acabou perdendo o registro no TSE para o grupo de Ivete Vargas e, como
alternativa, fundou o PDT (Partido Democrático Trabalhista) o qual reivindicava as reais
tradições trabalhistas.
Neste contexto, o Partido Democrático Trabalhista propunha uma nova forma de
trabalhismo, que além de defender os direitos dos trabalhadores, incluiria a luta de minorias
como as mulheres, os negros e os LGBT’s. O PDT, entretanto, não consolidou-se como o
expoente máximo de representação da classe trabalhadora, uma vez que as bases montadas pela
ditadura modificaram a estrutura a qual os trabalhistas influenciavam no período pré-643, além
de ter surgido, em fins dos anos 1970, uma nova concepção de luta e de partido. Apesar disso,
o PDT tornou-se o único partido que quebrou a hegemonia eleitoral da dupla PDS/PMDB
(herdeiros dos bipartidários ARENA/MDB) nas primeiras eleições diretas desde os anos 1960,
o pleito a governador de 19824. Mesmo tratando-se de um resultado inexpressivo do ponto de
vista nacional em relação aos principais concorrentes, o PDT aparecia como principal voz da
esquerda em âmbito eleitoral no período. Contudo, com o passar dos anos, o fenômeno do
recém-criado Partido dos Trabalhadores ocupa o espaço de supremacia no seio da esquerda.
As frações da direita também reorganizavam-se e disputavam o controle da conturbada
vida política brasileira dos anos 1980. Com uma imagem bastante desgastada por ter sido, de
um modo geral, o braço direito dos governos militares, a ARENA perdeu força, desmantelou-
se e se rearticulou numa nova legenda: o Partido Democrático Social. O PDS teve bastante
influência no jogo político brasileiro no cenário da redemocratização indicando uma de suas
lideranças, Paulo Maluf, à sucessão presidencial indireta nas eleições de 1985, tendo sido este
derrotado pela chapa Tancredo-Sarney por uma diferença de quase trezentos votos. Além disso,
o partido elegeu dezenas de governadores na eleição de 1982 ainda fortemente marcada pela
polarização PDS/PMDB, como citado.
Além da presença e da reorganização do PDS, diversos outros elementos podem ser
encarados como uma tática de disputa política da direita e do governo para manter o controle
político brasileiro. A reforma partidária e o pluripartidarismo, por exemplo, foram estratégias
3 Refere-se à reforma sindical imposta nos anos de 1960, diminuindo o caráter político dos sindicatos,
fragmentando-os e fortalecendo a essência assistencialista dos mesmos. 4 Leonel de Moura Brizola ganhou as eleições no estado do Rio de Janeiro, tornando-se o único governador, em
1982, que fugia à dicotomia PDS/PMDB.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
169
do governo para solucionar problemas de dissensões no interior da própria ARENA, garantindo
um melhor reordenamento regional visando as eleições de 1982, e também uma forma de dividir
o MDB em várias siglas e assegurar o controle federal no jogo eleitoral e no processo.5
ENFRAQUECIMENTO COMUNISTA E O PT COMO ALTERNATIVA
A reabertura política e a fundação do PT como partido político eleitoral, datada de 1980,
mas moldada desde 1978, é contemporânea, naturalmente, ao remodelamento dos tradicionais
partidos de esquerda brasileiros do pré-64, em especial do PCB. Além das perdas oriundas da
repressão estatal no período de exceção, o PCB conviveu com diversas acusações e rachas nos
vinte e um anos de ditadura. Acusado por alguns de haver mantido uma linha política
reformista, de permanente diálogo com a burguesia nacional e superestimação da via eleitoral,
o partido, de forma contraditória, também fora sentenciado por supostos desvios esquerdistas,
já que havia abandonado a luta pela manutenção democrática e apostado em reformas
excessivamente radicais para a correlação de forças dada no pré-646.
Por esses aspectos, a estratificação do PCB chegou à redemocratização bastante
consolidada, representada, dentre outros exemplos, à perda de unanimidade em torno de Luís
Carlos Prestes e o surgimento de novos atores políticos, como o PT, que cumpriram o papel de
ocupação de espaço no vácuo político da esquerda. A conjuntura internacional, de mesmo
modo, com a fragmentação política gradual do bloco comunista, afetou a reorganização
pecebista e serviu de imenso campo político para a um grupo interior à legenda iniciar uma
importante guinada à moderação, presente ao longo da década de 1980.
Já em 1975, portanto na fase inicial de retorno à democracia, a Resolução Política do
PCB indicava a defesa pela transição lenta e segura para evitar retrocessos7 e um novo
endurecimento do regime. No decorrer do processo transitório, os comunistas mostraram-se
influenciados pela ótica do eurocomunismo e da democracia como valor universal. Mesmo nas
condições de esfacelamento interno e sob uma linha política recuada, o registro eleitoral do
PCB só foi garantido no ano de 1985, assim os comunistas não puderam participar das primeiras
5 GRINBERG, Lúcia. Partido político ou bode expiatório: um estudo sobre a Aliança Renovadora Nacional
(ARENA) 1965-1979. Rio de Janeiro: Mauad X, 2009. p. 218/219. 6 PANDOLFI, Dulce Chaves. A trajetória de Luiz Carlos Prestes. In: FERREIRA, Jorge; REIS, Aarão Daniel
(orgs). Revolução e Democracia (1964-...) – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 235. 7 Resolução Política do PCB, 1975. In: SECCO, Lincoln. História do PT (1978-2010). Cotia, SP. Ateliê Editorial,
2011. p. 71.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
170
eleições gerais no país após a ditadura, situação que desacelerou a inserção da legenda no jogo
político, contrapondo sua própria posição tática de enfrentamento à ditadura e, por
consequência, a retomada da normalidade democrática e eleitoral com sua natural participação.
Na famosa Carta aos comunistas8, documento que praticamente sela sua saída do
partido e distribuído em 1980, Prestes sinaliza algumas de suas preocupações com as
orientações políticas do PCB, além de apresentar um quadro bastante complexo sobre as
posições partidárias nos anos de maior força da ditadura civil–militar. As deliberações gerais
de parte do Comitê Central dos anos 1970 não estavam de acordo com as aspirações da
emergente classe trabalhadora do período, identificando um extremo recuo dos dirigentes da
sigla, movimentação contrária aos anseios dos trabalhadores que reorganizavam-se. Há,
também, preocupação do líder histórico de estender a democracia para além das formalidades
institucionais, intensificando a luta dos trabalhadores e a consequente conquista de direitos
sociais básicos, propostas que, segundo Prestes, estariam fora das ambições da direção do PCB.
A posição de conformidade do PCB na conjuntura da abertura, como expressada por Prestes,
aliada à radicalidade do programa e das intervenções que eram postas pelo movimento operário
do período, dificultaram a inserção dos comunistas no seio dos trabalhadores, abrindo espaço
para o ingresso de ideias supostamente mais modernas e conectadas com uma nova realidade,
como a criação e participação em um novo partido político, um real partido dos trabalhadores.
Ao contrário do que defendeu Prestes, as propostas conciliacionistas do PCB não foram
revistas, desdobrando-se em perda de hegemonia gradual na esquerda. O grupo identificado
com a socialdemocracia ganhou força no eixo central da legenda ao longo da década de 80 e
gradativamente a afastou das lutas populares, como por exemplo a não participação na CUT, o
que o distanciou da mais emergente central sindical do país e, por consequência, dos
trabalhadores do “novo sindicalismo”. A rearticulação da linha política do PCB só seria revista
em 1992, quando o grupo dirigente das décadas de 1970/1980 interrompe a trajetória do partido,
cria um novo partido, o PPS, e os remanescentes comunistas resgatam o emblema da sigla,
numa conjuntura em que a hegemonia petista já havia se consolidado na esquerda.
MOVIMENTO SINDICAL REORGANIZADO
8 PRESTES, Luís Carlos. Carta aos Comunistas, 1980.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
171
Toda a controversa conjuntura de abertura política ganhou uma dinâmica ainda maior
com a reorganização de um fenômeno que desde 1968, por conta da enorme perseguição da
ditadura especialmente após o AI-5, se fragmentou: o movimento sindical. Tendo destaque a
partir das greves metalúrgicas do ABC paulista entre 1978 e 1980, o movimento sindical
ressurgiu como um dos protagonistas da vida política brasileira e tornou-se um dos elementos
de destaque no nascimento daquela que seria uma das principais legendas partidárias da Nova
República, o Partido dos Trabalhadores (PT).
É em fins dos anos 1970, mais precisamente em 1978, que o boom de greves começa a
ganhar corpo e repercussão na mídia e na realidade brasileira. Um dos fatores determinantes
para o descontentamento dos trabalhadores do setor industrial foi a revelação do jornal Folha
de S. Paulo quanto à variação dos preços internos e por atacado9.
Além da política de arrocho implantada ao longo da ditadura, outras motivações
desencadearam o estopim que levou ao reestabelecimento do movimento sindical e operário. O
próprio crescimento da produção industrial ao longo da década de 1970, responsável por
ampliar quantitativamente a classe trabalhadora, somado ao agravamento das condições de vida
dos trabalhadores, são algumas características que indicam os principais motivos para o start
no movimento grevista10. Ao longo do regime autoritário, a região que viria a ser a principal
representação do “novo sindicalismo”, o ABC paulista, passou por um profundo processo de
industrialização e, aliado às frágeis políticas de distribuição de terra em nível nacional e a
consequente onda urbanizadora, recebeu uma gama de imigrantes de outras regiões do país, em
especial do nordeste. Em São Paulo e em sua região metropolitana, como o ABC, os
trabalhadores que chegavam em busca de emprego encontravam na indústria automobilística
uma oportunidade.
O sindicalismo surgido na década de 1970 concentrou-se imediatamente em diferenciar-
se do chamado “sindicalismo pré-64”, pois o entendia como uma herança do corporativismo
populista e, por consequência, sem referência nas bases e autonomia política. Ainda nas suas
fases embrionárias, por volta de 1973, uma das preocupações do “novo sindicalismo” foi
justamente a crítica explícita ao outro sindicalismo, questão que ganhou atenção dos “novos”
9 SECCO, Lincoln, op.cit, p. 38. 10MENEGUELLO, Raquel. PT: Inovação no sistema partidário brasileiro. Campinas, SP. Tese de doutorado.
UNICAMP, 1987. p. 36.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
172
por recorrentemente associarem o golpe de Estado de 1964 à atuação dos sindicalistas do pré-
1964, acusando-os de terem atuação recuada e conciliacionista com o patronato.
As greves iniciadas no setor industrial tornaram-se fundamentais para o estopim de
levantes em outras categorias profissionais e em regiões do país. Impulsionados pelos operários,
especialmente do ABC, assalariados de classe média e trabalhadores da construção civil e de
serviços, marcaram posição política do início dos anos 1980 que culminaria não somente na
conquista de direitos, mas também na abertura política rumo à democracia.
Mesmo proporcionalmente não sendo a principal categoria no que diz respeito às
paralisações no início dos anos 1980, o exemplo prático de se alcançar vitórias e ganhos para a
categoria, em meio à conjuntura de repressão, serviu para os trabalhadores industriais tornarem-
se o objeto de referência para as demais camadas da classe trabalhadora. A possibilidade de se
obter resultados expressivos através de greves e, posteriormente, o protagonismo em um partido
político que se pretendia defensor das pautas históricas da classe trabalhadora, ainda que
composto significativamente e desde o seu início por uma estratificação ampla de segmentos,
marcara um momento fundamental na realidade nacional, isto é, a classe trabalhadora buscava
retomar seu protagonismo na vida política brasileira.
As paralisações do ABC paulista resultaram numa nova realidade na conjuntura de
abertura, a polarização ante o patronato tornou-se mais aguda e a posterior adesão à disputa
eleitoral expôs um novo cenário no jogo político brasileiro. A presença deste personagem
garantiu um maior equilíbrio de forças no caminho à democracia, no sentido de permitir aos
trabalhadores ter mais voz nas decisões políticas, ainda que esta conquista não fosse obra
somente do movimento operário. Os desdobramentos subsequentes às greves dos anos
1970/1980 modificaram sua essência por conta da atuação militante daqueles movimentos, ou
seja, a presença da reorganização trabalhadora transformou os alicerces da política na
conjuntura da abertura, no sentido de ampliar a participação popular na formação da Nova
República que surgia. O processo de abertura dos anos 1970/1980 é bastante controverso e
determinado por fatos e agentes para além das greves do período, assim é impreciso avaliar a
democracia como fruto somente da movimentação dos trabalhadores, contudo a presença deste
elemento tornou bastante particular o processo da transição política.
O “NOVO SINDICALISMO” EM UM PARTIDO
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
173
Compreendido que, embora importante e com bastante destaque no cenário político-
social, o espaço sindical ainda repreendido pela ditadura limitava a atuação dos trabalhadores,
tornou-se viável pensar em um outro modelo legítimo e possível de luta, isto é, o campo
político-partidário11. É em fins do decênio de 1970, num processo paralelo à avalanche de
mobilizações que estouram no país, que materializa-se a ideia de fundação de um partido dos
trabalhadores. Diversas lideranças do movimento operário, antes questionadoras quanto às
necessidades e intenções dos partidos em geral, passaram a vislumbrar a importância de se
articular pela via eleitoral, ampliando e capacitando a resolução das complexas e abrangentes
pautas dos trabalhadores.
O papel das lideranças sindicais serviria para aprofundar as discussões em torno do
projeto e do programa do embrionário partido, uma vez que pretendia-se criar um instrumento
inovador e desprendido das tradições da esquerda ao longo do século XX. Neste contexto, a
democracia partidária e a aproximação entre a direção e base, deveriam ser intensas e
permanentes, objetivando a maior participação possível da classe nas resoluções e deliberações
do partido.
A gradual guinada à via partidária de setores do “novo sindicalismo”, entretanto, gerou
um enfraquecimento das mobilizações do setor industrial no início dos anos 1980. Se em 1978
o setor industrial fora responsável por 75,9% das greves no território nacional, esse número
baixou a 29,7%12 em 1981, abrindo espaço para outras categorias de trabalhadores que,
referenciados no setor industrial, mobilizaram-se contra as condições de trabalho e o regime
em si, como assalariados de classe média que configuraram 44,6% das greves no mesmo ano.
A dedicação e o empenho em mobilizar os trabalhadores para a plena execução de seu partido,
o PT, a necessidade de liberação de pessoal para o funcionamento da máquina partidária e as
preparações visando as disputas eleitorais de nível estadual em 1982, diminuíram a quantidade
e intensidade do das paralisações no setor industrial, situação diferente do final da década
anterior.
ORGANIZAÇÃO INTERNA E A NECESSIDADE DE CENTRALIDADE EM UMA
CORRENTE
11 MENEGUELLO, Raquel, op. cit, p. 44. 12 Dados de gráfico retirados de TAVARES DE ALMEIDA (1983) apud MENEGUELLO, op.cit, p. 40.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
174
A permissão à formação de tendências internas no PT foi oficializada no dia 20 de maio
de 199013, apesar desta condição estar desde os primórdios do partido presente em seu interior,
de modo que podemos considerar esta regulamentação tardia em relação às práticas que
desenvolvera-se ao longo dos primeiros dez anos do partido. Esta característica é, sem dúvida,
o elemento chave para a confirmação do PT enquanto partido de esquerda diferente das demais
experiências que vivera a política brasileira até àquele momento.
Em um contexto de tentativa de reestabelecimento da democracia no Brasil, aliado ao
fortalecimento de movimentos críticos às conduções políticas nos próprios países comunistas,
a consolidação da democracia interna solucionou a questão da autonomia em relação ao
histórico recente do movimento comunista internacional sem perder, aparentemente, seu caráter
classista. Permitir a diversidade no interior da legenda, garantiu ao PT declarar-se novo e
moderno em sua concepção, além de potencializar e provocar na sociedade a discussão sobre
democracia partindo de um elemento fundamental, isto é, o próprio partido.
A possibilidade de organizar-se em tendências, fez com que o PT se tornasse um grande
leque que abrangia desde militantes recém-saídos da luta armada até os críticos do
comportamento dos comunistas diante da resistência à ditadura e ao caos no leste europeu que
começava a enforcar o movimento comunista internacional. Neste quadro, a permissiva política
de tendências foi fundamental para alavancar a legenda a uma condição de partido de massas
mesmo que, num primeiro momento, essa adesão não tenha significado conquistas eleitorais.
De início, as principais tendências internas do PT representavam com relativa clareza
os campos políticos que disputavam a hegemonia do partido, sem esquecer, naturalmente, da
influência que setores da sociedade desenvolviam no interior da estrutura sem estar,
necessariamente, vinculado a alguma destas tendências ou de personagens que não atrelaram-
se organicamente a nenhuma delas, mas que executavam cargos e discussões de suma
importância. As tendências que conformaram-se no partido em seu início advinham de diversos
componentes sociais e com táticas e práticas políticas bastante plurais, isto é, desde a crença na
tomada do poder pela via bélica versus o crescimento eleitoral, até os adeptos de um partido
mais “obreirista” versus intelectualização.
13 SECCO, Lincoln, op.cit, p. 92.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
175
Da luta armada, juntaram-se ao novo partido, com maior destaque, o PCBR (Partido
Comunista Brasileiro Revolucionário) e o PRC (Partido Revolucionário Comunista). A
primeira agremiação, ficou conhecida por ter-se originado de um rompimento de setores do
PCB que, inconformados com a tática de frente ampla proposta pelo partido quando do golpe
de 1964 defenderam a entrada do PC brasileiro na luta armada e acabaram expulsos do partido
dando origem ao PCBR. Posteriormente à luta armada, realidade que praticamente o
desmantelou, culminando na morte de Mário Alves, uma de suas lideranças, o PCBR
gradativamente alocou-se no PT como tendência de mesmo nome. Já o PRC originou-se como
racha do PCdoB quando da avaliação dos resultados da Guerrilha do Araguaia, e abrigou-se no
PT compreendendo o novo partido como um importante instrumento de disputa e com potencial
de radicalização democrática. O PRC teve como um de seus principais quadros José Genoíno,
o qual tornou-se deputado federal constituinte em 1986, destacando-se por sua postura bastante
combativa no Congresso Nacional.
Para além de herdeiros da luta armada, agruparam-se no PT outros grupos que iniciaram
sua militância anos antes da fundação oficial do partido, em 1980. Um desses grupos passou a
atuar no interior da legenda sob a tendência Convergência Socialista que, opostamente ao
PCBR e ao PRC, tinha em suas teorias heranças trotskistas, mais precisamente inspiração do
teórico argentino Nahuel Moreno. Os embriões da Convergência Socialista datam do ano de
1974 quando um grupo de militantes trotskistas fundaram a Liga Operária, que no Brasil
apresentou-se pelo nome de PST (Partido Socialista dos Trabalhadores). A Convergência,
propriamente dita, organiza-se no ano de 1978, participando ativamente das greves do ABC
paulista e tendo papel de destaque naquele movimento, especialmente através da figura de José
Maria de Almeida, uma de suas principais lideranças, além de criticar constantemente os
métodos e a organização do “socialismo real” e sua “stalinização”, bem como o reformismo
socialdemocrata.
A Convergência Socialista foi uma das principais integrantes do movimento pela
organização de um partido dos trabalhadores, e desde os primórdios do PT colocou-se como
uma das porta-vozes do operariado organizado em São Paulo. A fundação da CUT contou com
ampla participação da Convergência, tendência que ocupou com diversos nomes a direção
executiva da Central como Zé Maria, Cyro Garcia e Paulo César Funghi. No decorrer da década
de 1980, a relação entre a tendência e a direção majoritária do PT foi desgastando-se aos poucos,
tendo seu ápice no V Encontro Nacional do partido, quando fora aprovada uma resolução que
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
176
impedia a existência de “partidos dentro do partido”, isto é, a direção petista afirmava ser
incompatível haver partidos complexos dentro do PT disputando espaço com o próprio PT, mas
na prática radicalizava-se um processo de centralização política na direção nacional. No início
dos anos 1990, com uma relação insustentável entre a tendência e a direção majoritária do
partido, a Convergência acabou expulsa do PT e em 1994 fundou um partido próprio, o PSTU.
As divergências quase inconciliáveis entre as diversas propostas agrupadas no interior
do Partido dos Trabalhadores, tornava quase indispensável a centralidade em torno de algum
grupo com capacidade de unificação. Tratando-se de uma agremiação protagonizada no seio da
classe trabalhadora, caberia a ela garantir o papel principal das discussões e decisões políticas
mais gerais e norteadoras do programa petista. Neste quadro, surge uma tendência interna com
características inquestionáveis quanto à sua legitimidade de conduzir o partido: a Articulação
dos 113. Referenciada em Lula, o mais popular das lideranças operárias das greves do ABC, a
Articulação apegou-se a um discurso anti-intelectual e anti-vanguardista para garantir a
hegemonia interna e conduzir os rumos do PT. Considerada por muitas tendências como sendo
de centro-direita no que diz respeito às pautas políticas no interior do partido, a Articulação
contava com quadros sindicalistas como Djalma Bom, Devanir Ribeiro, Luiz Gushiken, além
de personalidades como José Dirceu, que apesar de seu histórico na luta armada não alinhou-se
às correntes provenientes diretamente da mesma14.
A primeira mostra de força da Articulação deu-se no Encontro Estadual de São Paulo,
em 1983, quando angariou 73% dos votos e portanto o controle direcional do mais importante
estado petista até ali15. O peso político daquela tendência significou um aumentou da burocracia
interna com a justificativa de unificar o conjunto do partido, assim, no decorrer da década de
1980, e especialmente após o fracasso eleitoral de 1982, o PT buscou mais constantemente o
consenso, ainda que continuasse sendo majoritariamente um partido extraparlamentar e
multifacetado. A Articulação dos 113 concentrou a hegemonia do partido ao longo dos anos
1980, com uma linha teórica pouco clara e apegando-se às personalidades individuais que nela
estavam, como Lula, e foi perder o controle somente ao cindir-se no início dos anos 1990,
quando originou as correntes Unidade na Luta e Manifesto Última Hora.
14IDEM, p.283. 15 IDEM, p. 95.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
177
O destaque que o PT alcançou como principal partido aglutinador da esquerda brasileira
ao longo da Nova República, fora possível pela transformação do partido num grande leque de
correntes e tendências das mais variadas vertentes. Entretanto, a imprecisa definição petista de
como dar-se-ia sua organização interna, esboçada muita mais no voluntarismo e na
espontaneidade de suas bases do que na elaboração teórica fundamentada, gerou certa
incompatibilidade das mais diversas correntes que ali abrigavam-se. Além disso, conforme a
burocratização de seus quadros e de sua direção tornavam-se mais frequentes devido aos cargos
sindicais e públicos que surgiam, o diálogo permanente e horizontal entre a base e a direção foi
sumindo, dando lugar a uma verticalização que pouco representava os interesses iniciais do
partido.
PODER POPULAR OU ELEIÇÃO: QUAL SOCIALISMO?
Apesar de conter grupos radicais e assumir uma perspectiva “socialista”, o PT nunca
teve clareza quanto ao que se entendia por este termo. Englobado numa conjuntura internacional
de ascensão intensa do neoliberalismo, representado pelos casos de Thatcher no Reino Unido e
de Reagan nos EUA, e de uma decadência paulatina do campo comunista internacional, com o
surgimento de diversos movimentos de oposição aos situacionistas partidos comunistas no leste
europeu e em demais países sob influência da União Soviética, o PT precisou colocar-se numa
posição intermediária entre estes dois extremos.
A definição petista de “socialismo” sustentava-se na discussão elaborada pelo partido
sobre poder popular, isto é, aumento da participação do povo, sobretudo a classe trabalhadora,
nas decisões políticas. Surgido num ambiente de recorrentes greves e assembleias gerais, o
sentimento de decisão coletiva emoldurou as estruturas iniciais do PT, mesmo sendo essa
característica insuficiente para o partido autodeclarar-se “socialista”. A preocupação constante
em ampliar a participação popular nas decisões do sindicato e do jogo político brasileiro, através
de conselhos e assembleias de base por locais de moradia e trabalho, garantiu efetivamente o
amadurecimento dos trabalhadores enquanto agentes participativos numa perspectiva em que
estes tomariam para si a responsabilidade de conduzir os rumos políticos dos ambientes de seu
cotidiano. Contudo, o grande apelo petista à participação eleitoral impôs um enorme
antagonismo entre o fortalecimento dos germes de poder popular e a ida para um sistema
eleitoral viciado e hegemonizado por forças conservadoras. Neste sentido, tornou-se incoerente
para o PT apostar na tática do poder popular e ao mesmo tempo exceder o vínculo com a
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
178
democracia formal, uma vez que a segunda opõe-se unilateralmente à primeira, excluindo a
possibilidade de participação dos trabalhadores em grande escala e permanentemente.
Definir o que de fato significou o pretendido “socialismo petista”, é, necessariamente,
desconsiderar a inconsistência teórica e prática desta expressão no ambiente petista e até mesmo
a relação que cada tendência interna tinha com essa ideia. O PT e sua estrutura permitiram
concepções de “socialismo” diferentes como fator a fim de legitimar uma democracia que
deveria ser exportada para o conjunto da sociedade brasileira. As inconsistências quanto às
formas de radicalização e ampliação da participação popular diante de instrumentos
institucionalizados já estabelecidos16, a indefinição quanto às políticas econômicas propostas
ao conjunto dos trabalhadores e mesmo os incoerentes posicionamentos no campo político
internacional, em uma conjuntura de acirrada polaridade, indicam que imprecisões teóricas
eram propositalmente externalizadas. Neste sentido, analisa-se as bases de fundamentação
teórica do PT, desde sua origem, como propositalmente confusas, na perspectiva de abranger
concepções diversas que abarcassem a grande diversidade interna existente e ao mesmo tempo
dando respostas imediatas e táticas ao conjunto dos trabalhadores e da sociedade, mas negando
um horizonte estratégico a estes mesmo agentes no que concerne, sobretudo, ao socialismo
como objetivo. O PT propunha-se a ser um partido revolucionário ou reformista? Conformar-
se-ia com as lutas somente no campo social? Aliaria esta tática ao jogo institucional ou
privilegiaria a institucionalidade como eixo de ação? A ausência dessas respostas e a não
definição nos espaços internos do partido no seu nascer, foram fundamentais para encaminhar
o partido gradativamente para o campo político-institucional, tornando esta tática central na
política petista.
BIBLIOGRAFIA
COELHO, Eurelino. Uma esquerda para o capital: Crise no marxismo e mudanças nos projetos políticos
dos grupos dirigentes do PT (1979-1998). Niterói, RJ. Tese de doutorado. UFF, 2005
DA COSTA, Izabel Cristina Gomes. O caleidoscópio político do “Novo trabalhismo”: os socialistas do
centro de mobilização trabalhista. In: Revista Contemporânea – Dossiê Contemporaneidade. Ano 1, nº1,
2011
16 MENEGUELLO, op. cit, p. 94.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
179
FERREIRA, Jorge e REIS, Daniel Aarão orgs. Revolução e Democracia (1964...). Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2007.
GRINBERG, Lúcia. Partido político ou bode expiatório: um estudo sobre a Aliança Renovadora
Nacional (ARENA) 1965-1979. Rio de Janeiro: Mauad X, 2009
KECK, Margaret E. PT – a lógica da diferença: O Partido dos Trabalhadores na construção da
democracia brasileira. São Paulo. Ática, 1991.
LOPES, Rosalba. Sob o signo da metamorfose: as esquerdas comunistas brasileiras e a democracia
(1974-1982). Tese de Doutorado, UFF, Niterói, 2010
MENEGUELLO, Raquel. PT: Inovação no sistema partidário brasileiro. Campinas, SP. Dissertação de
mestrado. UNICAMP, 1987
PANDOLFI, Dulce Chaves. A trajetória de Luiz Carlos Prestes. In: FERREIRA; Jorge; REIS, Aarão
Daniel (orgs). Revolução e Democracia (1964-...) – Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, v.,p.
SANTANA, Marco Aurélio. O “novo” e o “velho” sindicalismo: análise de um debate. In: Revista de
sociologia e política n° 10-11, Curitiba, 1998
SECCO, Lincoln. História do PT (1978-2010). Ateliê Editorial. Cotia, SP, 2011
PRESTES, Luís Carlos. Carta aos Comunistas, 1980. In: https://pcb.org.br/fdr acesso em 04/01/2017
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
180
O MOVIMENTO BRASIL LIVRE E O ATIVISMO ONLINE DE INSPIRAÇÃO
LIBERAL/CONSERVADORA
Renan Alfenas de Mattos (PPGS – UFF)1
Resumo
O Movimento Brasil Livre teve grande importância recente no país ao ajudar a convocar, junto
ao “Vem Pra Rua” e ao “Revoltados Online”, os protestos a favor do impeachment de Dilma
Rousseff. As mídias sociais da Internet foram os principais meios utilizados para tais
convocações pelos três grupos. Ao investigarmos as origens do MBL, notamos conexões com
uma rede global de think tanks, que são, geralmente, centros de reflexão e capacitação em
defesa do liberalismo econômico. Já quando analisamos brevemente as pautas do Movimento,
notamos um discurso anti-corrupção tendo como foco o ex-presidente Lula e o PT, aliado a
influências de um discurso liberal na economia e conservador nos costumes. Sendo assim, o
objetivo do estudo é refletir sobre ativismos online de inspiração liberal/conservadora no Brasil
a partir do MBL. Pretende-se analisar o surgimento do Movimento assim como sua forma de
atuação, tanto por meio de bibliografias que tratem sobre os protestos pró-impeachment e sobre
a nova direita brasileira quanto pela análise de postagens em mídias sociais.
Palavras-chave: Movimento Brasil Livre; ativismo online; think tanks
Introdução
Em vídeo publicado no dia 15 de abril de 2018 na página do MBL no Facebook, lê-se:
“Flávio Rocha diz que Brasil precisa de um Ronald Reagan ou uma Thatcher”, além da legenda:
“Nós não precisamos de um fenômeno Macron!”. Flávio, o presidente das Lojas Riachuelo, é
pré-candidato à Presidência da República pelo PRB. No mesmo vídeo, explica que se coloca
com uma opção de candidatura de direita na economia e nos costumes, inspirado no ex-
presidente norte-americano Ronald Reagan (1981-1989) e na ex-primeira-ministra britânica
Margareth Thatcher (1979 – 1990); ao mesmo tempo, se diferencia de Emmanuel Macron, atual
1 Mestrando em Sociologia pela Universidade Federal Fluminense (UFF).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
181
presidente da França, que seria um político de direita na economia e esquerda nos costumes.
Em artigo de opinião publicado na Folha de SP, Kim Kataguiri, uns dos coordenadores do MBL,
declarou que Flávio Rocha é o candidato do Movimento nas eleições presidenciais de 20182.
Busca-se com o exemplo do vídeo elucidar algumas das influências políticas do
Movimento que serão melhor explicadas ao longo do artigo, e, ao mesmo tempo, apresentar um
dos nossos principais focos de análise empírica, os vídeos postados nas mídias sociais.
O Movimento Brasil Livre, tendo como seus membros mais conhecidos Kim Kataguiri,
Fernando Holiday, Artur do Val, Renan Santos e Alexandre Santos, ficou conhecido pela
participação nas manifestações a favor do Impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff,
fazendo uso maciço das mídias sociais. Isso nos faz levantar algumas questões:
Primeiramente, na história do Brasil, é raro um grupo que se auto identifica com a
Direita política conseguir mobilizar protestos nas ruas com um grande número de pessoas, como
ocorreu em 2015 e 2016. Esses repertórios de confronto político são historicamente ligados à
grupos identificados com a Esquerda política (entendendo que Esquerda e Direita só podem ser
pensadas em sentido relacional).
Em segundo lugar, o Movimento Brasil Livre tem como sua principal forma de
mobilização o ativismo via mídia sociais. É postada uma quantidade diária gigantesca de
informações em sua página oficial no Facebook, em seu canal do Youtube e em sua conta no
Twitter. Tal fato é interessante, pois uma parte da literatura sobre Internet e mobilização política
pensa a Internet como veículo importante de luta contra as opressões, dando voz a movimentos
de gênero, raça e anticapitalistas, assim como a grupos marginalizados em todo o mundo
(CASTELLS, 2013; CASTAÑEDA, 2014). Os autores dessas literaturas presenciaram, antes
de escreverem suas obras, os protestos de Seattle, os Indignados na Espanha, o Occupy Wall
Street, entre vários outros movimentos progressistas, para chegarem às conclusões citadas
acima.
Porém, recentemente, presenciamos uma influência gigantesca da Internet, em
manifestações com um discurso conservador. Por exemplo, uma petição online, no site
CitizenGo, chegou a reunir mais de 360 mil assinaturas pelo cancelamento da palestra da
2 Disponível em https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/03/kim-kataguiri-o-candidato-do-
mbl.shtml? . Acesso em 21-05-2018.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
182
filósofa Judith Butler em São Paulo nas últimas semanas. Além disso, ocorreram protestos em
frente ao SESC de SP, onde ela daria uma palestra, e as pessoas reclamavam contra a “ideologia
de gênero”3.
Notamos a grande influência da Cambridge Analytica na eleição de Donald Trump e no
Brexit. A empresa é acusada de roubar dados pessoais do Facebook de 50 milhões de pessoas
e, a partir daí, direcionar propagandas políticas e fake news para grupos de eleitores
extremamente setorizados (CARDOSO, 2018). No Brasil ainda tivemos as manifestações
contra as exposições do QueerMuseu4 e do MAM5.
Dessa forma, entendemos que a Internet não é utilizada somente por ativistas
identificados com a Esquerda, mas se mostra disponível a pessoas, grupos políticos, empresas
e governos de todos os espectros político-ideológicos. Assim, também pode ser uma ferramenta
utilizada por manifestações com pautas conservadoras nos costumes e liberais na economia.
Para cumprir seus objetivos, o MBL se utiliza de diversos repertórios de ação coletiva
que perpassam as dimensões online e offline, tais como o ativismo online via mídias sociais,
tanto para disputar a interpretação de eventos diários, quanto para a mobilização de apoiadores;
e os próprios atos nas ruas, em diversas câmaras municipais, etc.
O objetivo do presente trabalho é analisar o surgimento do Movimento assim como sua
forma de atuação. Começaremos por investigar sua origem, que nos leva a sua relação com o
“meta think tank” Atlas Network; depois refletiremos sobre seu ativismo online de acordo com
resultados parciais da análise de uma amostra de vídeos do Youtube, além dos processos de
3 Disponível em <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/11/07/manifestantes-
protestam-contra-filosofa-americana-judith-butler-em-sao-paulo.htm?cmpid=copiaecola >
4 “Os protestos acusam a exposição de blasfêmia a símbolos religiosos e de, em alguns casos,
pedofilia e zoofilia. O MBL (Movimento Brasil Livre) é um dos grupos que engrossaram as críticas à
mostra.” Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/09/1917269-apos-protesto-
mostra-com-tematica-lgbt-em-porto-alegre-e-cancelada.shtml>
5 “ A performance de um artista nu no Museu de Arte Moderna (MAM), no Ibirapuera, Zona Sul de São
Paulo, gerou polêmica nas redes sociais. Um vídeo que viralizou no Facebook mostra quando uma
criança de aproximadamente quatro anos toca no pé do homem. O Movimento Brasil Livre (MBL) e
outros movimentos de direita falam em crime; desembargador vê "histeria".Disponível em: <
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/interacao-de-crianca-com-artista-nu-em-museu-de-sp-gera-
polemica.ghtml>
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
183
enquadramento. Frisamos que a pesquisa que deu origem a este trabalho ainda está em estágio
inicial.
Origem e conexões com think tanks
Se pesquisarmos por “Kim Kataguiri” no site da Atlas Network, como nos atenta Baggio
(2016) acharemos dois textos de 2015 que colocam o principal rosto do MBL como membro
do Estudantes Pela Liberdade, think tank vinculado a Atlas Network.
Juliano Torres, um dos fundadores do Estudantes Pela Liberdade, por meio de entrevista
concedida à Marina Amaral (2015), da Agência Pública, ajuda a elucidar alguns pontos que
relacionam o Movimento a Atlas Network, ao EPL e a versão original, o Students For Liberty:
“Quando teve os protestos em 2013 pelo Passe Livre, vários membros do Estudantes
pela Liberdade queriam participar, só que, como a gente recebe recursos de
organizações como a Atlas e a Students for Liberty, por uma questão de imposto de
renda lá, eles não podem desenvolver atividades políticas. Então a gente falou: ‘Os
membros do EPL podem participar como pessoas físicas, mas não como organização
para evitar problemas. Aí a gente resolveu criar uma marca, não era uma organização,
era só uma marca para a gente se vender nas manifestações como Movimento Brasil
Livre. Então juntou eu, Fábio [Ostermann], juntou o Felipe França, que é de Recife e
São Paulo, mais umas quatro, cinco pessoas, criamos o logo, a campanha de Facebook.
E aí acabaram as manifestações, acabou o projeto. E a gente estava procurando alguém
para assumir, já tinha mais de 10 mil likes na página, panfletos. E aí a gente encontrou
o Kim [Kataguiri] e o Renan [Haas], que afinal deram uma guinada incrível no
movimento com as passeatas contra a Dilma e coisas do tipo. Inclusive, o Kim é
membro da EPL, então ele foi treinado pela EPL também. E boa parte dos
organizadores locais são membros do EPL. Eles atuam como integrantes do
Movimento Brasil Livre, mas foram treinados pela gente, em cursos de liderança. O
Kim, inclusive, vai participar agora de um torneio de pôquer filantrópico que o
Students For Liberty organiza em Nova York para arrecadar recursos. Ele vai ser um
palestrante. E também na conferência internacional em fevereiro, ele vai ser
palestrante” (AMARAL, 2015)
Notamos que na página do Facebook do MBL, a fundação do Movimento é indicada
como ocorrida em 1 de novembro de 2014. O que nos leva a crer que, baseado na entrevista,
esse foi o momento em que Kim e Renan assumem a página, que já existia desde 2013.
Mas o que a Atlas, o Students for Liberty e o Estudantes pela Liberdade têm em comum?
Os três são organizações conhecidas como think tanks.
Denise Gros (2008, p.3) conceitua os think tanks como institutos privados de pesquisa
presentes no processo de formulação de políticas públicas orientadas pela doutrina do
liberalismo, por meio da produção de conhecimento sobre temas sujeitos à regulamentação
pública.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
184
Friedrich August Von Hayek teve grande importância para o desenvolvimento do
movimento de expansão do liberalismo, tanto no que diz respeito a dar base intelectual e
ideológica quanto para a organização política das Instituições que conhecemos como think
tanks. (MITCHEL, 2015) Sua obra seminal “O caminho da servidão” foi uma das principais do
movimento de expansão neoliberal no campo das idéias. Nela, o autor critica o keynesianismo,
destacando que as medidas econômicas advindas do modelo, um middle way entre um sistema
democrático que privilegiasse a defesa da propriedade privada individual e um sistema
autoritário no qual as propriedades seriam coletivas, levaria à longo prazo a esse segundo
modelo (GROS, 2008). Logo, o Estado de Bem-Estar Social era propenso a falhar para Hayek.
Segundo Camila Rocha:
Nesta obra, Hayek, fundador da Sociedade de Mont Pelerin, amigo de longa data de
John Maynard Keynes, e ex-aluno de Ludwig von Mises, o mais importante nome da
escola austríaca de economia, argumenta que o aprofundamento da lógica
“coletivista” e “estatista” que ampararia o Estado de Bem Estar Social conduziria ao
totalitarismo e, portanto, ao fim das liberdades individuais. (ROCHA, 2017, p.99).
Para Mitchell (2015, p.387), os think tanks utilizavam as doutrinas neoliberais
traduzidas em documentos políticos, materiais didáticos, notícias e agendas legislativas, ou seja,
em formas que “second-hand dealers in ideas”, nas palavras de Hayek, pudessem transmitir
para o público em geral. Era importante que houvesse um líder, um “empreendedor intelectual”
que “energizaria a equipe de vendas e seria seu porta voz”. Isso ocorria pois se esperava que os
think tanks cumprissem o objetivo de influenciar a opinião pública da época acerca das idéias
liberais defendidas.
Em 1947, em Mont Pèlerin, na Suíça foi realizada uma conferência internacional de 10
dias onde o liberalismo foi debatido com vários nomes importantes6 para o movimento (GROS,
2008). Ao final da conferência, foi criada a Sociedade Mont Pelèrin, importante para a
organização do movimento neoliberal já que entre seus integrantes estão vários criadores de
6 Os participantes da reunião em Mont Pelerin eram economistas europeus e norte-americanos conhecidos e que
desempenhariam papel importante na divulgação do liberalismo em seus países. A Escola Austríaca de Economia estava
representada por Friederich Hayek e Ludwig Von Mises. Da Inglaterra, vieram Lionel Robbins e Stanley Deninson, da London
School of Economics; John Jewkes, da Universidade de Oxford; Michael Polanyi, da Universidade de Manchester; e o
Jornalista e Historiador C. V. Wedgewood. A Alemanha estava representada por Willian Röpke e Walter Eucken, da Escola
de Freiburg. Dos EUA, vieram o Jornalista Henry Hazlitt, do New York Times e da Newsweek; os Economistas Leonard Read,
F. A. Harper e V. O. Watts, da Foundation for Economic Education; e os professores da Universidade de Chicago Frank
Knight, Aaron Director, George Stigler e o jovem Milton Friedman. Os liberais franceses enviaram Jacques Rueff, titular do
Tesouro francês no entre-guerras, o Professor de Economia Maurice Allais e o Jornalista Bertrand de Jouvenel. Outros presentes
eram o Professor Willian Rappart, do Institut Universitaire des Hautes Études Internationales de Genéve, além de representantes
da Itália e da Noruega (COCKETT, 1995 apud GROS, 2008).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
185
think tanks7 pelo mundo (MITCHELL, 2008). Outras organizações importantes dessa época
para o movimento foram a Fundation for Economic Education, criada em 1946 e a Escola de
Economia de Chicago.
O Institute of Economic Affairs (IEA), criado em 1955 por Anthony Fisher, teve grande
importância para os governos de Margareth Thatcher como primeira-ministra (1979-1990) e
Ronald Reagan como presidente (1981-89). Segundo o economista Milton Friedman (que teve
sua doutrina monetarista importada pelo IEA nos seus materiais) citado pelo jornalista Lee
Fang:
O IEA, fundado por Antony Fisher, fez toda a diferença”, disse Milton Friedman
uma vez. “Ele possibilitou o governo de Margaret Thatcher – não a sua eleição
como primeira-ministra, e sim as políticas postas em prática por ela. Da mesma
forma, o desenvolvimento desse tipo de pensamento nos EUA possibilitou o a
implementação das políticas de Ronald Reagan”, afirmou. (FANG, 2016)
No caso de Thatcher, o IEA, localizado na Inglaterra, fomentou os debates a favor do
livre-mercado desde a década de 1950, com o objetivo de “transformar o clima intelectual
através da educação”, ajudando a tornar o liberalismo a ideologia dominante com a ajuda
dos meios de comunicação, por meio da formação de uma geração de intelectuais liberais.
Tudo isso com a inspiração da proposta de Hayek. A própria Thatcher utilizou-se do IEA
para aprofundar seus conhecimentos sobre teoria monetarista, encontrando-se com Hayek
em 1975 e Milton Friedman em 1978 através do think tank (GROS, 2008). Dessa forma,
muitas políticas da primeira-ministra de cunho liberalizante foram embasadas
ideologicamente nos estudos da IEA, que inclusive ofereceu quadros e assessores técnicos
para o governo (ROCHA, 2017, p.100).
O mesmo Anthony Fisher da IEA, criou em 1981 a Atlas Economic Research
Foundation, que depois mudou de nome para Atlas Network, com a idéia de que fosse uma
“organização-mãe” que coordenasse os think tanks já criados e apoiasse novas “filiais” em
outros países (ROCHA, 2017, p. 101). No mesmo ano de 1981, iniciava nos EUA o governo
de Ronald Reagan, com pautas liberal-conservadoras, “caracterizado pela defesa do livre
mercado, desregulamentação da economia, cortes de impostos e redução do orçamento de
7 Outras instituições importantes dessa época para o movimento neoliberal foram a Fundation for Economic Education, criada
em 1946 e a Escola de Economia de Chicago.(Mitchell, 2008)
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
186
programas sociais”, além da retomada da corrida armamentista e do discurso anticomunista.
(BAGGIO, 2016, p.2)
Em 1981, Anthony Fisher criou a Atlas Economic Research Foundation por sugestão e
ajuda8 de Hayek. A Fundação tinha o objetivo de defender e propagar as concepções da direita
liberal, funcionando como um “meta think tank” ou organização-mãe que, por meio da
capacitação ideológica e financeira de ativistas, fomentasse a criação de outros think tanks pelo
mundo. Em 2013, o nome da organização foi alterado para Atlas Network. Atualmente,
Alejandro Chafuen, nascido em Buenos Aires, comanda o think tank, posto que ocupa desde
1991, três anos após a morte de Fisher. (BAGGIO, 2016; FANG, 2016; MELO, 2017; ROCHA,
2017)
Consultando o site da Atlas Network, na aba "Partners" dentro de "Global Directory",
depara-se com a frase "Explore nosso extenso diretório de 482 parceiros em 92 países em
todo o mundo. As forças de nossos dedicados parceiros criaram algumas das maiores
melhorias do mundo em liberdade.", além de um mapa interativo onde é possível ver o
número de organizações em cada continente. Na América Latina, por exemplo, existem 84.
Ainda é possível filtrar por país. Sendo assim, por meio da filtragem, localizamos 12
parceiros da Atlas no Brasil9. São eles: Estudantes Pela Liberdade (Belo Horizonte, Brasil),
Instituto De Estudos Empresariais (Porto Alegre, Brasil), Instituto De Formação De Líderes
(Belo Horizonte, Brasil), Instituto Liberal (Rio De Janeiro, Brasil), Instituto Liberal De São
Paulo (São Paulo, Brasil), Instituto Liberdade (Porto Alegre, Brasil), Instituto Ludwig Von
Mises Brasil (Sao Paulo, Brasil), Instituto Millenium (Rio De Janeiro, Brasil), Líderes Do
Amanhã Institute (Vitoria, Brasil), Mackenzie Center For Economic Freedom (Sao Paulo,
Brasil) e Students For Liberty Brasil (São Paulo, Brasil).
Notamos o Estudantes pela Liberdade como parceira da Atlas. O think tank foi fundado
por Fábio Ostermann, Juliano Torres e Anthony Ling (que é filho de Willian Ling, do Instituto
de Estudos Empresariais), baseado no Students for Liberty, um grande think tank norte-
americano.
8 “Fisher começou a levantar fundos junto a empresas com a ajuda de cartas de recomendação de Hayek, Thatcher e
Friedman, instando os potenciais doadores a ajudarem a reproduzir o sucesso do IEA através da Atlas.” (FANG, 2016)
9 Disponível em < https://www.atlasnetwork.org/partners/global-directory/latin-america-and-caribbean/brazil> . Consulta
realizada em 25/01/2018.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
187
Porque as conexões de membros do MBL com o EPL e a Atlas Network são importantes
para este trabalho? Como vimos, a defesa do liberalismo econômico está presente em todas as
organizações citadas, incluindo o MBL. Inclusive Reagan e Thatcher, governantes lembrados
por promoverem políticas públicas ultra liberais na economia, são grandes influências para o
Movimento, como podemos perceber no discurso de Flávio Rocha, citado na Introdução deste
artigo. Dessa forma, no próximo bloco, buscaremos refletir sobre o ativismo online do MBL
através de vídeos do Youtube.
Resultados parciais – Youtube
Possuímos o objetivo de refletir sobre o ativismo online do MBL a partir dos vídeos
postados em seu canal do Youtube ao longo do tempo. Pretende-se analisar os vídeos no que
diz respeito a forma e no que diz respeito aos processos de enquadramento.
Apresentaremos alguns resultados impressionistas de uma análise de amostra de 30
vídeos. O intervalo selecionado corresponde ao dia em que o primeiro vídeo foi postado no
canal do MBL, 17 de outubro de 2014 até o dia 2 de abril de 2018.
Em relação à forma, os vídeos foram agrupados em três principais categorias, tendo em
vista suas características: as montagens, os vídeos com cenas de protestos e as transmissões ao
vivo.
O primeiro vídeo postado no canal do Youtube do MBL, no dia 17/10/2014, de título
“Chico Buarque apoia Dilma 45”10, é do tipo “montagem”. O vídeo originalmente apresentado
na campanha de Dilma Rousseff nas eleições, em que o cantor Chico Buarque demonstra seu
apoio, é dublado com uma voz desconhecida, que diz:
Eu voto na Dilma porque dá dinheiro para os amigos, confio nela. Um robô sobretudo
que não sabe completar uma frase, e que desmaia quando apanha no debate. Eu voto
nela porque com ela eu tenho certeza que minhas verbas da lei Rouanet serão
mantidas, aprimoradas, aprofundadas. Dilma, você compra o que a gente pensa, você
rouba e a gente defende. Em 2010, eu voltei na Dilma porque eu sou uma putinha do
Lula. Este ano voto na Dilma porque ela fode tua roda viva.
Após a fala de Chico Buarque, aparece o “Dilma presidente, vice Michel Temer”,
relativo ao vídeo original de campanha e logo depois, aparece o 45 bem grande na tela junto a
#raioprivatizador abaixo. O locutor da campanha original fala “Dilma, presidenta”, e então é
10 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=mVsYDQmDDyg >
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
188
cortado por uma outra voz, que diz “45”. O número 45 é o do PSDB, logo o de Aécio Neves na
eleição à presidência da República de 2014.
Os vídeos que chamamos de “montagens” são caracterizados por vídeos oficiais de
campanhas, em sua maioria do PT, editados com o fim de buscar a sátira, o “cômico”, ou mesmo
rebater um argumento. No caso acima, notamos ainda um linguajar chulo nos comentários sobre
Chico, Lula e Dilma.
Já em sete vídeos, encontramos cenas de protestos políticos que o Movimento Brasil
Livre participou. O vídeo postado no dia 09/12/201411 inicia com a frase “6 de dezembro São
Paulo” e com o grito dos manifestantes: “a nossa bandeira jamais será vermelha”; além das
imagens do protesto na rua ao fundo. E logo há o foco numa camiseta, onde se pode ler
“organização”: “Movimento Brasil Livre” e “Vem Pra Rua”. Depois começam a serem
mostradas imagens do ato, com foco em vários cartazes. Notamos muitos manifestantes
vestidos com a camiseta da seleção brasileira de futebol e portando a bandeira nacional
brasileira. E então começam a serem mostrados membros do MBL discursando.
Renan Santos, alternando com os outros membros do MBL, diz:
O governo da Dilma já não está acontecendo. Nunca antes nossos parlamentares de
Brasília agiram da forma que eles estão agindo. Eles estão agindo com o coração,
porque nós, no dia 1, no dia 15, o pessoal da Vem Pra Rua antes, nós obrigamos os
nossos parlamentares a agirem como homens. Agora eles vão agir como homens.
Haddad, em 2016 tua casa caiu filhão, caiu mesmo. Não vai rolar.
A questão é, os políticos sempre pautaram a gente, de agora em diante, nós pautamos
eles.
Logo, Kim Kataguiri diz: “nós nunca vamos deixar que este país seja uma ditadura
totalitária, que é o objetivo do PT. Depois disso, ouvimos os manifestantes gritando: “Ei
Haddad, tomamos a cidade”. E então, Paulo Batista diz: “Fora PT, Fora PT! Vamos buzinar
você que é contra o PT! Buzinaço, buzina aí!”, e depois, Alexandre Santos, discursa: “Nós ainda
estamos aqui, e vamos continuar contra esses bandidos, salafrários, inimigos da liberdade.”. Por
último, Paulo Martins diz:
Que isso dona Dilma, nós não aceitamos ver a Petrobrás estuprada na verdade, que é
isso que acontece, temos uma quadrilha patrocinada pelo PT e seus aliados alugados,
que usam toda a estrutura da empresa para financiar o seu maldito projeto de poder,
para se beneficiar, e também para servir aos planos nefastos do foro de SP. “O Brasil
11 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=q0fpiIhZZec&t=8s >
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
189
consegue furar a barreira na informação graças a liberdade na Internet que a tecnologia
e o capitalismo nos proporcionou. ”
Notamos que, nos discursos, destacam-se as idéias de pautar o congresso por meio das
ruas, de tirar o PT do poder e de defender a Internet como meio alternativo para a busca de
informação.
O foco nas imagens dos cartazes é um recurso bastante utilizado nesse e em outros
vídeos com cenas de protestos políticos. Nesse, podemos ler em cartazes: “Atlas revoltou-se
contra o PLN36”12, “Fora Dilma, Pede pra Sair, Leve o PT”, “Menos Marx Mais Mises”,
“Menos Duvivier Mais Gentili13”, “Menos Keynes, Mais Hayek14”, “Olavo tem razão15”,
“liberdade política” e “Dilma 171”. Aqui percebemos a grande quantidade de referências que o
estudo dos cartazes dos protestos podem nos fornecer. Nesse caso, notamos referências ao
liberalismo econômico.
No dia 18 de março de 2015, é postado um vídeo16 com o título “15 DE MARÇO – A
maior manifestação da história do Brasil”. Ele começa com imagens do protesto a favor do
impeachment de Dilma Rousseff, com o áudio do canto: “ôôô, o PT roubou”. São mostradas
várias imagens do ato na Avenida Paulista, onde podemos observar grande concentração de
pessoas, que estão vestindo em sua maioria camisetas verde e amarelo da seleção brasileira de
futebol. Logo após, aparece a frase “A maior manifestação da história do Brasil”. E começa o
discurso de Fernando Holiday, que está em cima de um palanque:
“O PT há anos vem dividindo a sociedade: nos dividiu entre ricos e pobres, nos dividiu
entre negros e brancos. Mas a partir de hoje, suas divisões inúteis não vão mais separar
o povo brasileiro. Porque estamos demonstrando, que somos um só povo, de uma só
nação. Temos uma hoje uma presidente claramente envolvida em um lamaçal de
corrupção. ”.
”Nós queremos, pedimos, imploramos, Impeachment já!”
12 Referências ao livro “A revolta de Atlas”, que alguns dizem ser a referência para o nome da Atlas Foundation,
think tank que coordena uma rede com outros think tanks menos na América Latina, e que Kim Kataguiri é
membro. Já o PL36/14 refere-se a um projeto de lei que altera o cálculo do superávit primário.
13 Uma referência aos humoristas Gregório Duvivier, que possui posicionamentos políticos ligados ao espectro
ideológico de esquerda, e a Danilo Gentili, com posicionamentos à Direita.
14 Referência a John Maynard Keynes, que defendia a intervenção estatal na Economia, e a Friedrich Hayek, que
defendia a ultra liberalização da Economia.
15 Conhecido conservador brasileiro, escritor do Best Seller: “O mínimo que você precisa saber para não ser um
idiota”.
16 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=qem_0OGZEjk >
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
190
E então, Renan Santos:
“Para os parlamentares de oposição, o dinheiro deles está aqui ‘ó’, no bolso, durante
4 anos. Eles pediram para a Dilma sangrar e a gente sangrar junto. Vocês querem
esperar? Vocês querem sangrar com a Dilma? Vocês querem mais três anos de
mentiras? Vocês querem perder seus empregos? Então é impeachment já!”
São mostradas imagens da manifestação, onde são focados alguns cartazes durante
alguns segundos, com os letreiros “O PT É UM CANCER TOTALITÁRIO” e “MENOS
ESTADO, MENOS IMPOSTO”. Notamos mais pessoas com bandeiras do Brasil e com
camisetas da seleção brasileira de futebol.
Renan Santos faz a leitura da do que chama de “carta aos congressistas”, que é repetida
pelas pessoas na manifestação:
“Nós os brasileiros, exigimos nessa tarde que abandonem seu discurso fácil e sintam
as vozes das ruas. Não aceitamos um governo golpista, que rouba nosso dinheiro, que
rouba nossa esperança, e acima de tudo, que rouba nossa liberdade. Não faremos
sacrifícios, nem pagaremos a conta, daqueles que insistem em nos oprimir. Caros
congressistas. O povo brasileiro exige apenas uma coisa. Deixem seus interesses de
lado e sejam oposição. Impeachment Já!”
Depois disso, ocorre o discurso de Kim:
O PT diz que a gente é fascista, o PT diz que a gente é golpista. Mas os fascistas são
eles, os golpistas são eles. Se impeachment é golpe, porque o PT pediu impeachment
do Collor, porque pediu impeachment do FHC? Os golpistas são eles. Eles são a elite.
O que Lula e Dilma fizeram não é só motivo para cassação não, é motivo pra cadeia.
Eles só não foram presos até agora, porque a oposição de verdade não estava na rua,
porque o povo não estava na rua. O PT pode mandar o MST, o PT pode mandar a
CUT, mas ele nunca vai acabar com a maior oposição do Brasil, que é o povo
brasileiro!
Após Kim, aparecem as seguintes frases em verde em amarelo:
“A moderação na defesa da liberdade não é uma virtude.”
”Seja oposição!”
“12abr será ainda maior!”
Um dos conceitos muito utilizados nos estudos sobre mobilização política é o de frame,
desenvolvido por Benford e Snow (1986;2000), baseado na obra de Erving Goffman (1974).
Para Goffman, (1974, pág.21 apud Benford e Snow, 2000, pág.614) os frames denotam
“esquemas de interpretação” que permitem aos indivíduos “localizar, perceber, identificar e
rotular” ocorrências dentro de seu espaço vital e do mundo em geral.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
191
Frames de ação coletiva, derivados da idéia goffmaniana, são conjuntos de crenças e
significados orientados para a ação que inspiram e legitimam as atividades e campanhas de uma
organização do movimento social. Além disso, “desempenham uma função interpretativa
simplificando e condensando aspectos do que está acontecendo, visando mobilizar apoiadores,
angariar apoio de espectadores e desmobilizar antagonistas.” . (BENFORD e SNOW, 2000,
pág.614)
Os frames ou quadros de ação coletiva são gerados pelo trabalho de significação e
construção de significado que visa simplificar aspectos da realidade para conseguir apoio e
mobilizar pessoas, chamado de framing ou enquadramento. Recuperando o conceito de tarefas
principais de enquadramento (BENFORD e SNOW, 2000), podemos pensar primeiramente no
enquadramento diagnóstico, que diz respeito a identificação das fontes de causalidade, culpa e
/ou agentes culpáveis. Nos dois primeiros vídeos com cenas de protestos, um ocorrido no dia
06/12/14 e o outro em 15/03/15, vemos o PT, incluindo Dilma e Lula, que “roubou”, que é
corrupto, que dividiu a sociedade, como a principal causa de culpa do problema. Já no
enquadramento prognóstico, que diz respeito a articulação de uma solução proposta para o
problema, assim como as estratégias para executar o plano, vemos a defesa do Impeachment,
que seria conseguida através do eco das “vozes das ruas” do “povo brasileiro”, isto é, dos
protestos de rua. No enquadramento motivacional, entendido como uma justificativa para o
envolvimento na ação coletiva, incluindo a construção de vocabulários apropriados de
motivação, podemos pensar no discurso de Renan Santos do dia 15/03:
Eles pediram para a Dilma sangrar e a gente sangrar junto. Vocês querem esperar?
Vocês querem sangrar com a Dilma? Vocês querem mais três anos de mentiras? Vocês
querem perder seus empregos? Então é impeachment já!”
Claramente vemos vocabulários motivacionais, que se unem no discurso ao
enquadramento prognóstico, a defesa do impeachment.
As cenas dos protestos, dos cartazes erguidos pelos manifestantes, dos discursos dos
membros do MBL, com a música ao fundo, mostram o desejo de transmitir as emoções de quem
presenciou o fato. E, somadas a edição das imagens, direcionam a atenção do espectador do
vídeo para uma compreensão enviesada do fenômeno.
Dessa forma, o espectador sente-se convidado a apoiar o movimento tanto com um
clique para dar “like” no vídeo, quanto para comparecer a novos atos nas ruas. E ainda podemos
pensar no apoio financeiro realizado por meio de doação ao MBL, assim como o apoio a causa
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
192
que eles defendem no protesto sem necessariamente o apoio ao movimento, tal como o
Impeachment de Dilma Rousseff ou o apoio a prisão de Lula.
TATAGIBA, TRINDADE E TEIXEIRA (2015) podem nos ajudar a refletir sobre as
cenas de protesto presentes nos vídeos acima. Em seu ensaio, “CorruPTos”, buscam refletir
sobre os “eventos de protestos à direita” de forma cronológica, que ocorreram em São Paulo
desde o ano de 2007 até 2015. O texto situa o MBL como um integrante desses protestos, que
se intensificaram no Brasil a partir de 2013, com as Jornadas de Junho; em 2014, com os
períodos pré e pós-Eleições presidenciais; e atingiram o auge em 2015, com a manifestação do
dia 15 de março.
Para os autores, três organizações vão se destacar, nos atos pré e pós eleições em 2014:
O Vem Pra Rua, o Movimento Brasil Livre e Revoltados Online. Os grupos "têm no antipetismo
o grande traço em comum, ou seja, seu grande objetivo é tirar o PT do poder", porém "o discurso
de livre mercado e da concorrência capitalista como projeto político parece ser defendido de
forma mais explícita pelo MBL"(TATAGIBA; TRINDADE; TEIXEIRA, 2015, pág. 16)
Segundo os autores, tanto o MBL quanto o Vem pra Rua mostravam seu “apego à ordem
democrática”, rechaçando uma possível intervenção militar. Porém, o “Revoltados On-line17
parece ter um discurso um tanto ambíguo nesse aspecto, pendendo mais para o lado do
autoritarismo”.(TATAGIBA;TRINDADE;TEIXEIRA, 2015, pág. 16).
As mesmas organizações se destacaram na manifestação do dia 15 de março de 2015:
No dia 15 de março, após meses de articulação e de convocação pelas redes sociais,
realiza-se em várias cidades do país uma manifestação de grandes proporções contra
a Presidente Dilma e o governo do PT. Os organizadores principais continuam sendo
o MBL, Vem Pra Rua e Revoltados On-line. Na época, estas três organizações
concordavam com o alvo, o PT, mas o Vem pra Rua discordava da bandeira pelo
impeachment. A cidade de São Paulo foi, sem dúvida, o grande epicentro da
manifestação, com 1 milhão de pessoas ocupando a Avenida Paulista segundo os
organizadores - o Instituto Datafolha estimou o público total em 210 mil. A despeito
da divergência numérica, o Datafolha destacou que era a maior manifestação na
Avenida Paulista desde as "Diretas Já" em 1984 (TATAGIBA; TRINDADE;
TEIXEIRA, págs. 18-19)
17 No dia 28 de agosto de 2016, a página do Facebook “Revoltados Online”, com mais de 2 milhões de
seguidores e mais de 100 mil postagens foi excluída por desrespeito às normas da plaforma. Em
reportagem da Revista Piauí com Marcello Reis, criador da página, lemos: “A tréplica do Facebook foi
direta: “Nossas regras proíbem conteúdos como discurso de ódio e homofobia.””. Disponível em <
http://piaui.folha.uol.com.br/o-ostracismo-do-maior-revoltado-online/ >
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
193
Os autores também utilizam o conceito de frame. Para eles, as justificativas dos
protestos estão ancoradas em dois frames principais: o combate à corrupção e o antipetismo
(TATAGIBA;TRINDADE;TEIXEIRA, 2015, pág. 4). Notamos os dois nos discursos presentes
nos vídeos.
A idéia de “tempo intemporal”, de Manuel Castells, também pode nos ajudar a pensar
os vídeos com cenas de protestos. Segundo o autor:
Proponho a idéia de que o tempo intemporal, como chamo a temporalidade dominante
de nossa sociedade, ocorre quando as características de um dado contexto, ou seja, o
paradigma informacional e a sociedade em rede, causam confusão sistêmica na ordem
sequencial dos fenômenos sucedidos naquele contexto. Essa confusão pode tomar a
forma de compressão da ocorrência dos fenômenos, visando à instantaneidade, ou
então de introdução de descontinuidade aleatória na sequência. A eliminação da
sequência cria tempo não-diferenciado, o que equivale à eternidade. (CASTELLS,
2011, pág. 556)
Dessa forma temos duas características principais do tempo intemporal: a “eliminação
da sequência” e a instantaneidade. Elas são entendidas dentro do que o autor chama de “tempo
virtual” e não podem ser compreendidas sem as mídias.
[...] a mistura de tempos na mídia dentro do mesmo canal de comunicação, à escolha
do espectador/interagente, cria uma colagem temporal em que não apenas se misturam
gêneros, mas seus tempos tomam-se síncronos em um horizonte aberto sem começo,
nem fim, nem sequência. A intemporalidade do hipertexto de multimídia é uma
característica decisiva de nossa cultura, modelando as mentes e memórias das crianças
educadas no novo contexto cultural. Primeiro, a história é organizada de acordo com
a disponibilidade de material visual, depois submetida à possibilidade
computadorizada de seleção de segundos de quadros a serem unidos ou separados de
acordo com discursos específicos. Educação escolar, entretenimento na mídia,
noticiários especiais ou publicidade organizam a temporalidade do melhor modo, para
que o efeito geral seja um tempo não-sequencial dos produtos culturais disponíveis
em todo o domínio da experiência humana. Se as enciclopédias organizaram o
conhecimento humano por ordem alfabética, a mídia eletrônica fornece acesso à
informação, expressão e percepção de acordo com os impulsos do consumidor ou
decisões do produtor. Com isso, toda a ordenação dos eventos significativos perde seu
ritmo cronológico interno e fica organizada em sequências temporais condicionadas
ao contexto social de sua utilização.
A partir do momento em que uma pessoa pode ver o vídeo da manifestação de 15 de
março de 2015 em qualquer momento posterior a partir da data de postagem no Youtube,
podemos dizer que existe uma “eliminação da sequência”, que “cria tempo não-diferenciado, o
que equivale a eternidade”.
Podemos pensar também na outra característica do tempo intemporal, a instantaneidade
que independe de distancias espaciais, em alguns vídeos do MBL, que são transmitidos ao vivo
através do Youtube, e após o fim da transmissão, ficam disponíveis para acesso em qualquer
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
194
momento posterior. O “MBL NEWS”, programa em que os membros do movimento comentam
notícias, é um desses exemplos.
No dia 13/12/2017 é transmitido, ao vivo, o vídeo18 (com a maior duração de nossa
amostra, 1 hora e 33 minutos) de título “MBL NEWS | 13/12/17 | PREVIDÊNCIA ADIADA,
DESARMAMENTO SEGUE NO SENADO, E VD. MARISA LETÍCIA? WTF?”. Os
apresentadores Salsicha (Alexandre Santos) e Eric Balbinus leem as notícias selecionadas de
seus smartphones, assim como as comentam e fazem piadas entre as duas coisas. Salsicha
explica que o vídeo está sendo transmitido para ser melhor assistido pelo Youtube, e convoca
as pessoas que estiverem vendo pelo Facebook a migrarem para a outra plataforma.
O programa busca a interação com seus espectadores e, ao mesmo tempo, a captação de
recursos, por meio dos “pimbas”. Os pimbas são comentários enviados através do recurso
superchat 19 do Youtube, que devem ser lidos pelos apresentadores ao fim do programa. Esse
tipo de comentário só possível através da “doação” de um valor. Se o valor for menor que 5
reais, serão apenas lidos; se forem iguais ou maiores que 5 reais, serão lidos e respondidos.
O superchat, representado pelo comentário destacado através do pagamento, é uma
funcionalidade do Youtube disponível para qualquer transmissão ao vivo. O “pimba” é o nome
que o MBL dá para essa funcionalidade, com o incremento da resposta ao comentário. Uma das
outras funções do pimba é a quebra do roteiro do programa, possibilitando o apoio dos
espectadores também para escolher a pauta a ser discutida mediante o pagamento.
O locutor do MBL NEWS diz durante o vídeo:
“Tem gente perguntando como faz pimba, como doa para o programa. Os pimbas são
os superchats, você faz uma doação e você faz uma pergunta também, ou se quiser
fazer uma piada, ou se quiser mandar a gente tomar no...é só doar pelo superchat.”
18 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=i2LLjP9fE0U&t=4297s >
19 “O Super Chat é uma nova maneira para fãs e criadores de conteúdo interagirem durante transmissões ao vivo.
Os fãs podem comprar Super Chats para destacarem mensagens dentro do stream de bate-papo ao vivo. Os Super
Chats se destacam entre as outras mensagens de duas formas: Seu Super Chat é destacado com uma cor diferente;
seu Super Chat é fixado no painel de mensagens por um período determinado, dependendo do valor selecionado. A
cor do seu Super Chat, o período em que ele fica fixado no painel e o comprimento máximo da mensagem são
determinados pelo valor da sua compra.” Disponível em <
https://support.google.com/youtube/answer/7277005?hl=pt-BR >
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
195
No início deste vídeo, foi anunciado que a pessoa por trás da maior “doação”, ou do
maior “pimba”, ganharia dois livros: ““quem é esse moleque para estar na folha?”, de Kim
Kataguiri, e “Por que o Brasil é um país atrasado?”, de Luiz Philippe Órleans e Bragança,
descendente da família imperial brasileira, que Salsicha chama de “príncipe”.
Como explicamos, o vídeo acima foi transmitido ao vivo pelo Youtube. Temos três
vídeos do tipo em nossa amostra. Eles apresentam algumas características em comum, tais
como as interações com os espectadores através dos pimbas; a duração grande dos vídeos em
relação ao resto da amostra, com média de uma hora; o formato e cenário dos programas, que
lembram programas jornalísticos televisivos.
Considerações Finais
O objetivo do presente trabalho era analisar o surgimento do Movimento Brasil Livre
assim como sua forma de atuação. Por ter sido gerado de uma pesquisa ainda em estágio inicial,
acreditamos que sua contribuição mais importante foi tentar refletir sobre como o MBL utilizou
o Youtube no contato com potenciais apoiadores de suas pautas e para arrecadação de recursos.
Acreditamos que a mídia social é fundamental para o Movimento difundir seus frames ou
quadros e, assim, disputar os significados de diversos eventos com fins de mobilizar apoiadores
e recursos.
Referências Bibliográficas
AMARAL, Marina. A nova roupa da direita. Agência Pública, 2015.
BAGGIO, Kátia Gerab. Conexões ultraliberais nas Américas: o think tank norte-americano
Atlas Network e suas vinculações com organizações latino-americanas. ENCONTRO
INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO DE PESQUISADORES E PROFESSORES DE
HISTÓRIA DAS AMÉRICAS, v. 12, 2016.
BENFORD, Robert D.; SNOW, David A. Framing processes and social movements: An
overview and assessment. Annual review of sociology, v. 26, n. 1, p. 611-639, 2000.
CARDOSO, Bruno. Por que fazer uma sociologia da internet? Sobre o caso Cambridge
Analytica e Facebook. Blog do Laboratório de Estudos Digitais – IFCS/UFRJ. Disponível em
< https://ledufrj.wixsite.com/ledufrj/single-post/2018/03/25/Por-que-fazer-uma-sociologia-da-
internet-Sobre-o-caso-Cambridge-Analytica-e-Facebook >. Acesso em 01/05/2018
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
196
CASTAÑEDA, Marcelo. Ação coletiva com a internet: reflexões a partir da Avaaz. 2014. Tese
de Doutorado. Tese (Doutorado em Ciências sociais em Desenvolvimento, Agricultura e
Sociedade). UFRRJ, Rio de Janeiro.
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. São Paulo: Paz e Terra, v. 1, 2011.
CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet.
Zahar, 2013.
FANG, Lee. Esferas de influência: como os libertários americanos estão reinventando a política
latino-americana. The Intercept Brasil, 2017.
GROS, Denise Barbosa. Considerações sobre o neoliberalismo como movimento ideológico
internacional. Ensaios FEE, v. 29, n. 2, p. 565-590, 2008.
MITCHELL, T. (2008). Rethinking economy. Geoforum, 39(3), 1116–1121.
MITCHELL, T. How Neoliberalism makes its world. In: Mirowski, P., & Plehwe, D.
(2015).The Road from Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective. (Vol.
16).
ROCHA, Camila. O papel dos think tanks pró-mercado na difusão do neoliberalismo no
Brasil. Millcayac-Revista Digital de Ciencias Sociales, v. 4, n. 7, p. 95-120, 2017.
TATAGIBA, Luciana; TRINDADE, Thiago; TEIXEIRA, ACC. CorruPTos: um ensaio sobre
protestos à direita no brasil (2007-2015), 2015.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
197
GILBERTO FREYRE E FERNANDO ORTIZ: DUAS PERSPECTIVAS DE
CONFLITO SOCIAL
Weslley Luiz de Azevedo Dias
INTRODUÇÃO
A nacionalidade vista como configuração histórica é marcada por processos de
desenvolvimento de forças sociais, atividades econômicas, arranjos políticos, produções
culturais e assim por diante (IANNI, 1987). Nesse sentido, países constituem idiossincrasias
determinantes, mesmo desfrutando de algumas características compartilhadas em sua
formação. No âmbito do conflito, Cuba e Brasil desenvolveram particularidades muito
específicas dentro do quadro latino-americano. A maior influência na determinação da
singularidade de cada uma das duas realidades nacionais foi o uníssono da produção
açucareira, na pátria de Gilberto Freyre, e o paralelismo entre o Tabaco e o Açúcar, na ilha
caribenha onde Fernando Ortiz nasceu.
As duas principais obras desses autores apresentaram abordagens do conflito que
destoaram ou acompanharam as narrativas mais tradicionais sobre o choque entre culturas
antagônicas. Casa Grande & Senzala é uma obra que sofreu com as mais diversas revisões
quanto ao seu teor supostamente romantizado, sobretudo pelo paradigma inaugurado por
Florestan Fernandes na Universidade de São Paulo. Essa ideia de ausência de conflito pode
ser entendida a partir da preocupação Freyreana com a integração harmônica entre as culturas
progenitoras da sociedade brasileira. No entanto, tal visão, tão combatida por autores como
Ricardo Benzaquen de Araújo e Maria Lucia Garcia Pallares-Burke, apresenta certas
fragilidades relacionadas ao caráter extremamente ambíguo e paradoxal desse sistema de
conexão conciliatória.
Na obra de Fernando Ortiz, o conflito, assim como todos os elementos presentes na
realidade cubana, são dados por elementos vinculados e subsidiários à economia. Seja devido
à rigidez da Coroa espanhola ou aos confrontos entre os senhores de terra (hacendados), o
Estado Cubano e os pequenos produtores de tabaco (vegueros). O conflito era, de certo modo,
sempre perpassado por causalidades de natureza econômica. O país de Ortiz sempre se
constrói a partir das dinâmicas criadas entre o “Don Tabaco” e a “Dona Azucar” em
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
198
Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azucar. Essa abordagem do conflito permanece sendo
uma das principais lacunas nas análises sobre a relação entre esses dois autores.
O trabalho de Emerson Divino de Oliveira (2012) manifesta a principal peça de
comparação entre as obras dos dois autores. Porém, suas preocupações com o traçado das
trajetórias intelectuais dos dois pensadores acaba tirando-lhe o fôlego para um
aprofundamento maior na dimensão do conflito, sobretudo pensando nas duas obras tratadas
na presente análise. Dessa forma, iremos explorar as conexões, especificidades e
possibilidades presentes no paralelo entre os dois textos no que tange a essa dimensão.
Certas considerações chegam a ser feitas a respeito da harmonização em Cuba. Para tal
intento, o autor introduz noções trabalhadas por figuras preocupadas com a formação nacional
da ilha. Um deles, Nicolás Guillén (1902-1989), poeta cubano, apresenta uma forte crítica ao
preconceito e marca posição sobre uma pauta integrativa que seja oposta ao segregacionismo
americano. Logo, ficava clara a preocupação com a integração do negro e mulato na
sociedade cubana (OLIVEIRA, 2012, p. 52-53). A tendência ao desalinhamento com o
conflito americano também seria um fator presente em diversos estudos realizados no Brasil.
De fato, a reconstituição do intervencionismo dos Estados Unidos como uma presença
constante na história republicana de Cuba acabaria resultando na sua responsabilização pelo
preconceito existente no país. Nesse sentido, a influência deletéria do paradigma anglo-
saxônico sobre a sociedade cubana, além de introduzir o mesmo segregacionismo, tende a
reprimir manifestações em defesa dos direitos das “razas de color”, inibindo organizações
baseadas na cor. Esse influxo normativo sobre a ilha caribenha acabaria gerando um racismo
que tem mais influência externa do que de sua própria formação histórica. Desse modo,
desenha-se um racismo muito mais “exógeno” do que genuíno (OLIVEIRA, 83-84). Isso se
coaduna bastante com o juízo feito pelo próprio Fernando Ortiz. Nessa chave de valorização,
a nação não produziria nenhuma de suas mazelas autonomamente e, com isso, todos os
problemas acabariam sendo manifestações do pé estrangeiro. Essa descaracterização do perfil
cubano pela influência exterior formaria um tópos frequente nas análises de valorização
nacional na ilha e, para Ortiz, demonstraria os contornos de uma constante ideia de
“descubanização” (ORTIZ, 1978, p. 76)
Apesar da tentativa de escape por via da exteriorização do preconceito, noções de
racismo em Cuba tornaram-se dissimuladas e tênues, tanto no período republicano, quanto no
revolucionário. As percepções do negro como inferior passaram do campo econômico para
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
199
um campo de percepção e estigma, onde o negro tem menos valor que o branco. Mesmo
havendo uma tentativa de criação de cenário igualitário por parte do governo subsistiram
dinâmicas de discriminação. Assim se percebe que a sociedade cubana criou, à sua maneira,
um "mito" próprio de igualdade e acabou convivendo com os dilemas do preconceito velado
(ROBAINA, 2007).
Além da atenção dada por Emerson de Oliveira às relações problemáticas entre os
grupos raciais cubanos, certa ênfase é dada no papel dos tabaqueros na luta pela
independência. A agitação política e a capacidade de profusão de ideias típicas desse universo
permitiram que certos impulsos autonomistas fossem formados (OLIVEIRA, 2012, p. 104).
Exploraremos esse papel e as tensões existentes quanto ao cultivo latifundiário mais adiante,
além de sua convivência com a sufocante hipertrofia do latifúndio cubano.
O autor toca mais levemente na dimensão do conflito em Gilberto Freyre. Para ele,
Casa Grande & Senzala representaria o rompimento com o paradigma das gerações
intelectuais de 1870, se afastando de uma abordagem mais pormenorizada do teor do conflito
em sua obra. No entanto, cabe chamar atenção para mesma aversão ao racismo estadunidense
presente no trabalho de Fernando Ortiz. Essa brevidade na análise pode ser fruto da maior
reflexão direcionada a essa dimensão na obra do autor brasileiro.
A pouca preocupação do autor de Casa Grande & Senzala em criar linhas conceituais
claras também é um dos fatores que tornam a tarefa de compreender a sua noção de conflito
mais complexa. No presente capítulo, a análise tentará dar conta de quatro temas que se
sobressaem nas análises das tensões existentes nas respectivas nações. Primeiramente, o
paralelo entre os “hacendados” e “vegueros”, com a disputa por terras e suas relações com o
estado. Em segundo lugar, tentaremos entender a família, como lócus de relações ambíguas.
Em terceiro, tentaremos compreender a influência estrangeira em Cuba. Por último,
observaremos a potência do senhorio no território brasileiro.
A existência de uma organização agrária exclusivista no Brasil e compartilhada em
Cuba acabou alinhando as discussões de cada um dos autores. Se Freyre se preocupou em
penetrar cada vez mais na esfera familiar, no controle senhorial sobre as vidas dos moradores
da grande propriedade rural e no câmbio cultural entre os grupos formadores da nacionalidade
brasileira, Fernando Ortiz primou pela crítica ao estrangeirismo, assim como à uma
contemplação da disputa entre o latifúndio e a pequena propriedade produtora de tabaco.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
200
1 HACENDADOS E VEGUEROS
Como abordado no primeiro capítulo, Fernando Ortiz promove uma perspectiva de
aproximação entre os grupos presentes na formação de seu país. Seu conceito de
transculturação, além de ser a principal chave de análise do processo histórico de
transformações no universo compartilhado entre o Açúcar e o Tabaco, também concedeu a
possibilidade de síntese entre agrupamentos opostos de acordo com paradigmas anteriores da
antropologia física. Essa sucessão do encontro cultural acabaria levando à constituição de uma
ordem que emerge como uma nova realidade composta e complexa. Extremamente genuína e
fruto das influências mútuas trocadas ao longo dessa formulação das sociedades recentes
(ORTIZ, 1978, p. 5).
Devido a essa resolução curiosa das questões envolvidas na interpenetração cultural,
primando pela delimitação do conceito, Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azucar partiu
para exploração da relação estabelecida entre os dois produtos básicos da economia cubana.
Sua ideia de “paralelismo contrastante” auxilia na abordagem das trajetórias concomitantes do
Tabaco e do Açúcar. As derivações impostas pelos dois fenômenos que traduzem mais
adequadamente a criação de uma tensão entre seus mundos é a liberdade típica das vegas e a
escravidão do latifúndio monocultor açucareiro (ORTIZ, 1978, p. 12-14).
O Tabaco surge como fenômeno revolucionário inibidor da opressão e sinônimo de
liberalização. Seu caráter tende à autonomia de seu cultivo, assim como à emancipação de
seus cultivadores, o que geraria as mais diversas respostas da Coroa Espanhola e da Igreja.
Sua produção e consumo foram combatidos e perseguidos. O inverso do acontecido com o
Açúcar, cujo negócio nunca fora sequer alvo de menção desonrosa ou alguma coibição de seu
fabrico. (ORTIZ, 1978, p. 24)
Se somarmos as assertivas sobre as vantagens conferidas ao cultivo da cana-de-açúcar
e a exaltação do paralelismo pacífico existente entre os produtos capitais da economia cubana,
identificamos um paradoxo de extrema relevância na análise feita pelo autor. De fato, sua
narrativa tendeu à descrição de uma profunda cisão entre o senhor territorial e o produtor
autônomo de tabaco. O conflito existente em seu trabalho tem uma forte semelhança com o
mesmo paradoxo apontado pela crítica de Ricardo Benzaquen de Araújo sobre algumas das
imprecisões presentes em Casa Grande & Senzala (ARAÚJO, 1994). Esse fator nos leva a
uma das perguntas mais importantes quanto a esse tópico. Se entre Dona Azucar e Don
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
201
Tabaco nunca houve guerra1, por que a disputa entre o território não pôde ser omitida? Talvez
seja justamente a determinação dos ciclos econômicos cubanos que não permite o apagamento
da inexorável incompatibilidade entre o latifúndio e a pequena propriedade rural.
Antes de entrarmos na discussão das disputas, cabe um retorno às definições dadas
pelo autor à pequena propriedade rural em Cuba. Destinada à produção de tabaco, a vega
constituiu-se como um núcleo agrário autônomo, em relação à produção de sua commodity. O
processo posterior à saída do tabaco do domínio dessas unidades agrárias representava uma
desqualificação das características cultivadas pelo vegueros. A independência da produção da
vega, ao contrário da autossuficiência latifundiária semi-feudal brasileira, tem relação com o
fato de que o pequeno produtor não estava submetido à estrutura industrial ou ao comércio
mercantil vindos na esteira do Açúcar. O sistema de produção dos vegueros se aplicava a uma
lógica imensamente oposta à do mundo da cana-de-açúcar. Isso quer dizer que a estrutura
aracnídea do engenho cubano dependia de uma centralidade industrial que era inexistente no
contexto do veguerio (ORTIZ, 1978, p. 35-36).
Sobre o latifúndio, Ortiz nos deixou a ideia de seu apetite pelo monopólio, elemento
que se tornaria fundamental para existência da grande propriedade rural no país. Além da
dependência do hacendado em relação ao processamento ou refinamento do açúcar o
latifúndio dependia de extensas porções de terra para realizar suas atividades plenamente. É
exatamente no momento em que a voracidade e expansionismo do cultivo açucareiro
penetraram na sociedade, economia e política cubana que a incompatibilidade entre os dois
cultivos ganharia força. O latifúndio era, para Ortiz, um epíteto do maquinismo,
industrialismo estrangeiro e invasão do capital internacional. Como trabalhado no capítulo
anterior, pouca reflexão foi destinada para compreensão do mundo interno do engenho em seu
contrapunteo (ORTIZ, 1978, p. 53). Desse modo, o latifúndio foi sempre pensado por Ortiz
como antítese da vega. Sua determinação era dada por essa relação negativa com a unidade de
produção tabacalera e o próprio mundo do Tabaco.
1 Argumento defendido por Fernando Ortiz nos finais da seção destinada exclusivamente ao ensaio. É
curioso pensar que apesar do momento analítico terminar com a proposição dessa fórmula de
conciliação, o trabalho do autor cubano tenha sido tão exaustivo no sentido de cobrir as disputas pelas
terras em Cuba
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
202
Poucos antecedentes da descrição orticiana de conflito não tem sua causa na influência
deletéria do latifúndio cubano. Em uma chave bem parecida com a crítica à nutrição do
brasileiro, feita por Gilberto Freyre em Casa Grande & Senzala, o autor de Contrapunteo
menciona o caráter prejudicial do monopólio fundiário para produção de cultivos
alimentícios, assim como o fato de que diversas terras não aproveitadas pelos donos de
engenho acabavam abandonadas quando poderiam estar produzindo uma profusão de diversas
variedades. Isso denuncia o forte controle dos senhores de engenho sobre a vida social na
antiga colônia espanhola. A grande propriedade rural cubana sustentou uma classe que tendia
à centralização imposta pelo hacendado ao mesmo tempo em que introduziu as maiores
dificuldades para manutenção de um forte campesinato no país (ORTIZ, 1978, p. 54)
Dentro del sistema territorial del ingenio, la libertad económica experimenta
graves restricciones. No hay fincas pequeñas, ni viviendas, que no
pertenezcan al dueño del ingenio; ni arboleda de frutales, ni huertas caseras,
ni tiendas, ni talleres, que no sean del señorío. El pequeño propietario
cubano, independiente y próspero, constitutivo de una fuerte burguesía rural,
va desapareciendo; el campesino se ha proletarizado,es un obrero más, sin
arraigo en el suelo y movedizo de una zona a otra. Toda la vida del
latifundio está ya transida de esa objetividad y dependencia, que son las
características de las sociedades coloniales con poblaciones desvinculadas.
(FREYRE, 1978, p. 54)
Essa asfixia do camponês foi o gatilho inserido na disputa entre o hacendado e o
veguero. Com isso, a distensão entre os interesses de um e do outro tornou-se mais profunda e
irreversível na visão de Ortiz. A limitação territorial Cubana pode ser considerada como um
dos elementos mais importantes no agravamento dessas disputas em torno da posse de terras.
Se o confronto entre a iniciativa camponesa e o interesse do latifundiário de outrora gerou
problemas, pode-se tentar imaginar a proporção do abafamento gerado pela monocultura em
uma nação de dimensões territoriais tão reduzidas em comparação às colônias da América do
Sul e do Norte. Todavia, o autor insiste em concluir a etapa inicial de sua reflexão em
Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azucar apontando para inexistência de guerra entre os
dois cultivos capitais de Cuba.
Segundo o próprio autor, para o açúcar tudo foi favor e privilégio. A partir dessa
mentalidade, o hacendado conquistou a posição privilegiada e prejudicial sobre a qual a
crítica ao capitalismo estrangeiro é feita. Esses privilégios dos grandes produtores de Açúcar
remetem ao ano de 1517, quando após cinco anos da conquista da ilha, os senhores obtiveram
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
203
a primeira moratória de suas dívidas. Com isso, Fernando Ortiz quis demonstrar que mesmo
havendo um forte conteúdo negativo para o povo cubano, a produção sacarífera recebeu
privilégio e concessões frequentes por parte dos governos coloniais. Na mesma medida em
que o Açúcar foi privilegiado, o Tabaco teve sua produção e consumo coibidos desde os
início da história de Cuba (ORTIZ, 1978, p. 66).
O que torna essa preocupação de Ortiz mais relevante ainda é a importância colossal
que essa monocultura tinha para a economia de seu país. Se o ciclo de café encontrou seu
declínio no Brasil, já no século XIX, em Cuba, sua permanência seria central na economia
durante grande parte do século XX. Desse modo, o açúcar representou um elemento
nevrálgico na construção dos conflitos nacionais durante grande parte do histórico colonial e
pseudo-independente do país. Tal fator se agravou na medida em que observa-se o caráter
totalmente estrangeiro do engenho cubano. Tal aspecto será trabalhado na seção sobre a
crítica à crescente influência estrangeira.
O fato de que o açúcar parece gerar o conflito sem submeter os cultivos à uma luta
aberta entre os hacendados e vegueros é justificado por Ortiz ao abordar as rusgas internas de
cada um dos integrantes do binômio nacional cubano, ou seja, seus fenômenos econômicos.
Para o autor, o argumento da paz entre a produção de Açúcar e a de Tabaco é sustentada pelo
relato das disputas que esses ciclos vivenciam entre os diferentes modos de elaboração. O
tabaco, por exemplo, tem na disputa entre os vegueros e os tabaqueros um de seus principais
elementos conflituosos. A luta entre os dois cultivos tem em seu centro o debate sobre a
qualidade da produção. Cabe notar que enquanto o veguerio foi dominado pela mão-de-obra
branca, a comunidade tabaqueira tendia a ser constituída por “gente de cor”. O autor se
posiciona ao longo de todo texto em favor do trabalho típico da veja (ORTIZ, 1978, p. 78).
Esse paradoxo entre uma exaltação da integração do negro e a desqualificação de suas
habilidades continuaria sendo marcante.
No que tange ao universo do Açúcar o principal embate foi o constituído pela disputa
entre o refino a partir da cana-de-açúcar e a beterraba (ORTIZ, 1978, p.88). Quanto a esse, a
guerra era bem mais relevante no âmbito externo do que dentro da sociedade cubana. No
entanto, as rápidas tentativas de transportar o eixo de um conflito entre os hacendados e
vegueros, determinado pela voracidade do latifúndio, tendeu a falhar na medida em que
trouxe ambiguidade à dimensão explorada no conflito. Em outras palavras, apesar de retirar o
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
204
holofote da asfixia da vega, Ortiz não conseguiu eliminar a ressonância da influência perversa
do açúcar sobre a sociedade cubana, determinando as vicissitudes de seus confrontos.
2 POTÊNCIA DO SENHORIO
A classe senhorial gozou de amplos privilégios ao longo do período colonial. Sua
autonomia permanecia como o principal resquício de seu poder sobre as dinâmicas internas do
latifúndio brasileiro. Além disso, a incapacidade e indiferença apresentadas pela metrópole
também representaram importantes elementos na equação que resultou no caudilhismo de
nossa estrutura de produção colonial2. Com isso, poucas foram as iniciativas de frenagem do
crescente controle senhorial sobre a população do país. Sergio Buarque de Hollanda indica
que apenas o descobrimento de metais e rochas valorizados em Minas Gerais atuou de modo a
tirar a Coroa Portuguesa de seu perene desleixo em relação ao controle de seus domínios3.
Um dos principais desafios na análise da obra de Gilberto Freyre é extrair elementos
típicos da dimensão do conflito. Para autores, como Ricardo Benzaquen de Araújo, Casa
Grande e Senzala apresenta uma estrutura que tende a certas conclusões duais. O universo
descrito por esse trabalho tende a constituir-se simultaneamente como tártaro e elísios, sendo
que a companhia mais frequente aos atributos cruéis tendeu a ser a suavidade e integração.
Desse modo, além da bipolaridade intencional da narrativa, o estudo ganha uma forte
indefinição (ARAÚJO, 1994, p. 38).
É nesse sentido de prevalecimento do caráter pacífico e brutal que a força do grande
senhorio ganhou importância no relato sobre a vida social no mundo latifundiário. Esses
senhores atuaram no sentido de inserir os elementos de rigidez e vulgaridade, ao mesmo
tempo em que introduziam os componentes que trouxeram aspereza à docilidade do quadro
idílico imputado à produção de Freyre. Sendo assim, tal qual na obra de Fernando Ortiz, o
senhor de engenho brasileiro atuou como o principal instigador da dimensão conflituosa
(ORTIZ, 1978). No entanto, em seu trabalho, particularmente nos traços dessa concepção,
Freyre partiu de uma perspectiva muito mais ligada aos comportamentos cotidianos dessa
2 Autores como Oliveira Viana e Martins de Almeida sinalizam esse tipo de sentido na formação do
sistema agrário brasileiro
3 Um dos principais argumentos presentes em Raízes do Brasil de 1936
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
205
elite agrária do que de uma crítica ao ethos açucareiro da época. Esse talvez seja um dos
elementos mais distintivos na abordagem do senhorio monocultor.
O senhor de engenho no Brasil sempre foi brasileiro, pelo menos no relato de Freyre.
Isso quer dizer que apesar do caráter prejudicial de sua atuação sobre a formação social, ele
nunca representou uma manifestação da aversão à influência externa. Ao contrário, pode-se
perceber que mesmo apresentando um grau elevado de nocividade à integração entre os
grupos fundadores da nacionalidade brasileira, o senhor foi representante de algo que era
fundamentalmente típico do país. Mesmo sua crueldade veio a ser componente genuíno do
encontro que viria a formar seu padrão cultural.
No caso de Casa Grande & Senzala, as raízes do senhorio são conectadas diretamente
com uma herança lusitana. O que seria a “plasticidade” do português se não uma parte do
plano de práticas tão perpetrado pelos senhores sob a quartela da Casa Grande. Essa
plasticidade somada ao seu total controle sobre as vidas de seus familiares, empregados e
cativos serve de motor para bárbaras repressões e crueldades impostas aos “índios” e negros.
Na análise de Freyre, o vínculo do poder do senhorio esteve fortemente ligado com suas
ideias sobre o desencadear de uma cultura moral4. Além da capacidade de amálgama dada
pela miscibilidade portuguesa, um segundo componente menos nobre acompanhou o contato
amplo realizado pelos senhores. Esse foi a sua total disposição das vidas sob sua autoridade.
O uso do negro como catalisador da vulgaridade senhorial, a tirania imposta na
dimensão familiar, a libertinagem escravocrata, a crueldade das senhoras contra as negras e a
violência sexual marcaram a determinação das predisposições para “equilíbrio de
antagonismos” Freyreano (FREYRE, 1987). Desse modo, grande parte dos valores negativos
envolvidos na equação integrativa tem relação com o senhorio e seu poder. Os maus hábitos
dessa camada da população colonial é que desencadearam o conflito na colônia portuguesa.
O poder senhorial no Brasil era de tal modo garantido que lhes permitia uma
existência disposta à constante prostração e inércia. Sendo assim, toda sua energia era lançada
aos abusos sobre os quais tinham prerrogativa na maior parte do tempo. Esse costume da
aristocracia rural era tão profundo que transformaria os corpos dos senhores em formas
4 Cultura e moral são inclusive termos usados de modo ambíguo na obra de Freyre. Em vários
momentos, junto com a ideia de raça, tais concepções adquirem polissemias que levam a um grau de
imprecisão ou mistura que geralmente culminam nos três se tornando sinônimos.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
206
resumidas à sua virilidade. Apenas o sexo se mantinha arrogante e viril enquanto seus hábitos
se resumiam a uma “vida de rede” (ORTIZ, 1978, p. 445-446)
Nesse sentido, percebemos um acentuado deslocamento das análises das duas obras
tratadas. Enquanto Fernando Ortiz apresentou uma dimensão direcionada à crítica política da
crescente intervenção, Gilberto Freyre atendeu mais prontamente aos grupos específicos, ou
seja, teve uma crítica direcionada aos hábitos sociais e morais. A crítica ao poderio dos
senhores se concentrou na esfera da moralidade assim como o encontro se focou nas
dimensões mais grupais. Dessa maneira, a preocupação de Freyre atendeu às necessidades de
uma leitura consonante com a realidade e o contexto brasileiros determinados pelo mundo do
açúcar.
3 A FAMÍLIA BRASILEIRA
O que seria de Casa Grande & Senzala se não um tratado robusto e detalhado sobre a
dinâmica de retroalimentação entre dois institutos “de fundo” presentes no mundo da
produção de cana-de-açúcar. A casa grande do engenho de cana e a senzala foram
protagonistas num processo intenso de interpenetração, acomodação, aproximação, adaptação
e assimilação que culminaram na formação de uma dinâmica interna da família que não só
suprimiu o Estado, como também a própria Igreja. Esse universo domiciliar englobou as
dimensões de nosso conflito nacional ao permanecer no centro das análises feitas por Gilberto
Freyre em relação às dinâmicas do latifúndio monocultor.
O vínculo entre a família brasileira e o processo de produção tornou-se um dos
principais elementos formadores das atividades econômicas e das relações sociais de nossa
sociedade. Em suas primeiras fases de formação, o Brasil se viu submetido à influência
preponderante desses pequenos lócus de formação social e suas relações pautadas nas ligações
pessoais. Nesse sentido, a organização nacional tem a casa como um de seus principais pontos
de apoio. Junto à importância preponderante do ambiente domiciliar, o latifúndio torna-se a
verdadeira unidade social presente na sociedade brasileira5.
O engenho, em sua junção sincronizada entre casa grande e senzala, é o provedor de
um primeiro esboço de Brasil, um país mais autêntico e relacionado com as suas noções mais
5 Ideia trabalhada anteriormente por autores preocupados com os rumos políticos do Brasil frente a
um sistema latifundiário de organização, como Sergio Buarque de Hollanda, em Raízes do Brasil, e
Martins de Almeida em Brasil Errado
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
207
genuínas. Além disso, a hipertrofia da casa e da família atingiu uma dimensão tão extensa que
influenciou o próprio perfil miscigenado da população do país. Sendo evidente que, todo
intercurso sexual aconteceu sob a tutela das estruturas típicas do modo de produção açucareiro
e, sob elas, suas vicissitudes foram construídas.
As dinâmicas inseridas no universo familiar se confundiam com as características
típicas do regime hierárquico escravocrata. Com o pai, feito senhor, no topo, seguido de sua
esposa e filhos, submetidos ao império de sua vontade. Aos escravos, Freyre conferiu um
status analítico que o introduzia nesse convívio íntimo. De fato, a ética religiosa portuguesa
retorceu-se de modo a dar cabo da realização da figura do escravo sob a alcunha de protegido
ou infante ignaro e dependente. Essa relação ambígua constituída entre negros e branco gerou
comentários de mesma ordem, indo do choro do cativo em face da inexorável incerteza gerada
pela morte dos senhores ou a crueldade das sinhás em relação às “pretas” que disputavam as
graças do marido (FREYRE, 1987, p. 452-453).
Essa cumplicidade das sinhás, na dominação patriarcal, apesar de não aprofundada,
demonstra o quanto a visão de Freyre abria espaço para existência de leniência em relação à
tirania desencadeada pelo sistema senhorial masculino (ARAÚJO, 1994, p. 178-179).
Enquanto isso, a constante exaltação da síntese demonstra a tendência à aproximação típica da
cultura brasileira. Grupos opostos desenvolvem opções alternativas ao conflito e segregação
por meio do contato sexual e íntimo, gerando uma realidade onde o amortecimento de
choques possibilita a harmonia e mobilidade social peculiares ao Brasil (FREYRE, 1987, p.
89).
Nesse ponto de vista, o autor brasileiro demonstra seu anti-americanismo. Um
sentimento muito mais voltado à crítica de um plano de relações raciais cuja matriz de
diferenciação se baseia em critérios tão duros quanto os dos Estados Unidos. Foram inúmeros
os relatos que deram conta da experiência de Gilberto Freyre no Deep South americano6. Sem
dúvidas, essa experiência trouxe ao autor uma perspectiva de constante comparação entre as
duas realidades. Essas duas sociedades constituem um universo de semelhanças e distinções
proporcionais e servem em vários momentos como o fio condutor da noção Freyreana de
“amortecimento de choques”.
6 Pallares-Burke é uma das autoras que descrevem o testemunho do assassinato de um negro em sua
viagem pelo interior dos Estados Unidos
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
208
O puritanismo protestante típico da colonização da América do Norte, o sistema
escravocrata do Sul dos Estados Unidos, a inferioridade dos contingentes negros africanos
trazidos à empresa monocultora local7 e a incapacidade por parte do colonizador em
confraternizar com os grupos dominados foram elementos que somados levaram as colônias
inglesas à um propósito de insulamento e antipatia entre grupos muito diverso do exemplo
brasileiro. A influência de técnicas de produção, como a monocultura, assim como a ética do
trabalho, baseada na escravidão aproximavam, no entanto, algo tipicamente constituído no
encontro brasileiro possibilitou a leveza de nossos confrontos em comparação com os dos
vizinhos ao norte.
Por outro lado, os excessos sexuais personificados na mentalidade predatória do
senhor geraram um conflito que se deslocou em um contínuo processo de contato sexual,
sobretudo do negro escravo e do branco colonizador. A predileção senhorial pela “preta”
tornou-se o resultado final de um longo regime de condicionamento que buscava posicionar o
negro, sobretudo a mulher, sob a sombra de uma existência de objetificação. Em Casa Grande
& Senzala, esses contingentes acabam seguindo em um círculo vicioso de “libidinagem”,
onde o escravo torna-se o catalisador da vulgaridade e dos impulsos do mestre. É com essa
dinâmica truncada, confusa e, em certos momentos, paradoxal que o conflito se reveste
(FREYRE, 1987, p. 370).
O caráter recíproco da influência também foi uma das características mais marcantes
no trabalho do autor brasileiro. De certo modo, os dois grupos estavam imbricados em uma
performance dotada de diversos vetores de formação. Com isso, o escravo vulgarizado pela
conduta opressora do senhorio atuava sobre a formação dos meninos indiretamente
transformando-os em figuras típicas do universo escravocrata e antiético. A violência sexual
dirigida à negra era amaciada pelo contato íntimo (Idem, 1987, p. 443). A tentativa Freyreana
de dar conta dessas ambiguidades acabou gerando uma extrema sensação de imprecisão em
sua análise (ARAÚJO, 1994, p. 38). De fato, sua busca pela essência de nossa formação o
leva a retratar um mundo que apresenta características dúbias. Um mundo que apresenta-se
como paraíso e inferno simultaneamente, mas que tende como nenhum outro à uma conclusão
7 Freyre se detém à exaltação dos contingentes africanos trazidos ao Brasil. Para ele, O Brasil contou
com os indivíduos mais elevados de seu continente. Os Fula Fulos, grupo predominante no nordeste
do país, são exemplo de estirpe elevada entre os diversos contingentes escravizados trazidos ao
continente americano.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
209
harmônica e coadunada através da aproximação constante observada nas dinâmicas internas
do latifúndio.
Quando falamos em miscigenação na obra de Freyre, acabamos por fazer referência,
justamente, ao elemento corretor da distância social existente entre a casa grande e a senzala.
A formação da população caminha com o processo de amaciamento das fronteiras “culturais”
ou “raciais”. Tal amaciamento é engendrado através dessa vida sexual da família brasileira,
vista como encontro harmônico entre partes que, mesmo compondo um sistema escravocrata,
dão origem à um mestiço valorado positivamente.
Sendo assim, Casa Grande & Senzala apresenta o caráter plástico e pouco vinculado
ao insulamento a partir de uma consciência de raça, isolamento típico da Europa além
Pirineus. A volatilidade sexual, assim como, a condescendência cultural do colonizador
português abriram as portas para algo que seria uma das principais condicionantes criadoras
das idiossincrasias da nossa colonização. Somadas às cargas e repertórios culturais do índio e
do negro, além da precaução moral jesuítica, a sociedade colonial brasileira é formada.
Cabe ressaltar que, esse conceito de família carrega com ele prerrogativas que não
tem, necessariamente, relação com os padrões conjugais e de núcleo de convivência baseado
nos afetos. Entende-se família como um processo de relacionamentos envolvidos em uma
lógica ou dinâmica aquartelada pela estrutura do engenho ou latifúndio e, de certo modo,
parasitária desse modelo patriarcal de uso fruto das mulheres disponíveis.
Junto à essa relevância central do componente português, a influência da moral
católica, já tornada menos dura e conflituosa pelo contato anterior com o árabe, traz um tipo
de justificação religiosa que se opõe em muito ao puritanismo protestante de alguns dos povos
europeus não-ibéricos. Para além disso, o nosso padrão religioso, tornou-se, bem cedo, um
instrumento auxiliar da estrutura de domínio da casa grande na história de formação da
sociedade brasileira e, dessa forma, transformou a própria religião em uma extensão dos
traços da família. Assim, a família brasileira do latifúndio açucareiro submeteu inclusive o
divino ao seu arcabouço de elementos, o celeste passou a ser parte do doméstico e afetivo.
Todos esses processos indicam a existência de uma realidade de rivalidades extremas e
tensões irreconciliáveis, no entanto, todos esses conflitos acabam sendo acompanhados de
antinomias sociais que culminam na formação de um equilíbrio tipicamente brasileiro. Ao
domínio do homem português, se contrapõe a penetração da cultura africana e indígena no
viver da sociedade brasileira. Às brutalidades do escravismo, se confronta a amabilidade dos
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
210
afetos familiares e a proximidade no convívio. À evidente separação entre casa grande e
senzala, contrapõe-se um mundo borrado de relações, fenótipos e hierarquias. O Brasil
constitui-se como um domínio de “equilíbrio de antagonismos”, tendo na relação entre senhor
e escravo o seu tipo mais profundo de apaziguamento.
Para além desse equilíbrio, quando se refere tanto à influência do negro, quanto à do
índio, Gilberto Freyre acaba classificando hierarquicamente esses dois grupos. Essa
classificação acontece em relação à sua influência e ao seu potencial construtivo dentro do
ambiente familiar. Desse modo, o índio está sempre conectado à absorção de medidas de
higiene mais regulares, conhecimento profundo sobre as características tropicais,
domesticação sofisticada de animais companheiros, toda mítica e magia plantada mais
subjetivamente na imaginação das crianças, dentre outros tantos elementos. (FREYRE, 1933)
Fica evidente na obra que os três grupos atuam na formação do Brasil tal qual
conhecemos, no entanto a hierarquia no que tange a ascendência da família acaba impondo-se
a essa triangulação mais grossa. Isso se deve à centralidade do português, que age como a
espinha dorsal desse processo. As influências de negros e índios são adjacentes e, mesmo
entre si, não apresentam status iguais. Haja visto que o negro adentra na estrutura,
mentalidade e costumes do povo brasileiro de um modo muito mais intenso e generalizado do
que os povos autóctones.
4 A INFLUÊNCIA ESTRANGEIRA
O ponto central da predileção pelo Tabaco, expresso claramente nas páginas do livro,
tem relação com a forte conexão que o produto mantém com uma ideia de autonomia cubana.
Toda narrativa foi estruturada de modo a dar visibilidade ao potencial emancipatório do
cultivo dessa planta gramínea. No entanto, esse enfoque positivo sobre o negócio tabaqueiro
tem uma sólida firmação na dimensão concreta da indústria local. Isso deveu-se ao fato de que
Cuba dominou totalmente o processo de produção dessa mercadoria específica. Sendo assim,
houve uma exclusividade evidente que foi desde o cultivo até a finalização de cigarros e
charutos. O Açúcar, diferentemente, muitas vezes tinha seu refino completamente realizado
no exterior, denúncia mais evidente do vínculo forasteiro de seu negócio (ORTIZ, 1978, p.
32).
A especificidade da produção de tabaco requer atenção redobrada durante todo o
processo, pois sua qualidade tem relação estreita com o tipo de cuidado e a intensidade do
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
211
zelo conferido à sua execução. Essas característica seriam alcançadas única e exclusivamente
pelo veguerio do país, que passou a produzir os melhores charutos do Mundo. A partir de
então, a nacionalidade dessa mercadoria passou a ser sinônimo de excelência e apuração. Ao
redor do globo, o habano original tornou-se símbolo de qualidade, vinculando-se também ao
prestígio de seu consumo. As dificuldades para chegar ao resultado desejado foi fruto da
relação de constante alerta que transformou o cultivo do tabaco cubano em um dos mais
complexos de todos.
Com o tabaco, o país caribenho deixa de ser apenas o cultivador e acaba se tornando a
unidade capitânia de um ramo industrial inteiro. O solo cubano também deixa de ser o recurso
central e dá lugar à grandeza e habilidade de seu povo, assim como a excepcionalidade de seu
gênio produtivo. Assim, como símbolo da autonomia de um povo, o tabaco representaria a
resistência cubana ao investimento intervencionista tanto dos colonizadores espanhóis quanto
do imperialismo moderno dos Estados Unidos. De qualquer dos elementos econômicos
envolvidos na independência do país do domínio externo, o tabaco, devido ao seu grau de
capilaridade no território, foi a maior esperança no enfrentamento do poderio estrangeiro em
no país caribenho.
No entanto, uma resistência poderosa acaba se formando contra a influência benéfica
desse produto para afirmação nacional. Fernando Ortiz manifestou o mesmo sentimento anti-
capitalista que vinha sendo comum em meio ao pensamento da geração do final do século
XIX, insatisfeita com os rumos republicanos e a dependência em relação aos Estados Unidos.
De certo modo, todo arranjo da produção cubana, a partir da concentração de terras e de mão-
de-obra, foi fruto da concentração capitalista e interesse econômico voraz. Sua crítica ao
estrangeirismo se coadunou, dessa forma, com a condenação da crescente influência do
capital internacional no país (ORTIZ, 1978, p. 54).
O embate gerado por esse constante incentivo à concentração, monopolização e
privilégio criou uma das mais profundas cisões no meio social cubano, como tratado
anteriormente na querela entre hacendados e vegueros. Sendo assim, o estrangeirismo atua de
modo à construir um cenário de favorecimento do latifúndio em detrimento da pequena
propriedade familiar típica do negócio tabaqueiro. A máxima de que “o açúcar foi a
escravidão, o tabaco a liberdade” adquire contornos extremamente amplos se pensarmos nos
vínculos traçados a partir da fobia externa desenvolvida no pensamento cubano da primeira
parte do século XX. Na medida em que o Açúcar representa filosoficamente uma noção de
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
212
escravidão, introduzindo uma subserviência ao julgo externo, o Tabaco caracteriza um arauto
de liberação muito vinculado à reafirmação da independência nacional (ORTIZ, 1978, p. 60).
Segundo a análise de Ortiz, o Tabaco sempre foi mais cubano que o Açúcar. O tabaco
surge como fruto legítimo do Novo Mundo enquanto o refino do açúcar é trazido do Velho
Mundo. Sendo assim, o primeiro é mais cubano por nascimento, espírito e economia.
Desprivilegiado pelo interesse capitalista unicamente por ser um ramo de atividade que não
apresenta um potencial de enriquecimento semelhante ao da cana-de-açúcar (ORTIZ, 1978, p.
60). A questão que agravou ainda mais a tensão existente entre o latifúndio e a pequena
propriedade é justamente esse vínculo do avanço da concentração de terra e o capital
internacional.
O Açúcar, realmente, representa uma rede de dependência com o centro no exterior.
Isso quer dizer que mais do que um produto exógeno, o cultivo monocultor açucareiro
significou a desnacionalização das próprias oligarquias cubanas, cujo processo de
descaracterização do engenho gerou consequências sociais e econômicas. Nesse sentido, há a
emergência de uma plutocracia estrangeira que acaba governando a vida econômica da ilha.
Esse estrangeirismo da indústria açucareira atinge os níveis mais altos na medida em que a
influência dos Estados Unidos cresce sobre a Cuba Republicana. Essa transformação da
economia do país pareceu tão intensa aos olhos de Fernando Ortiz que ele não pôde deixar de
chamar atenção ao fato de que mesmo Porto Rico, território submetido formalmente ao
controle americano, não superava o estrangeirismo da indústria açucareira de seu país
(ORTIZ, 1978, p. 61).
Um dos fatores que podem ter atuado de modo preponderante para a inexistência de
um modelo de convívio social agrário como o brasileiro, pode ter sido a relação de crescente
desaparecimento do senhorio do meio rural. De fato, antes mesmo da internacionalização da
propriedade do engenho, o desaparecimento do hacendado havia deixado o meio rural aos
cuidados de terceiros. Previamente ao domínio estrangeiro, fora constatada a presença de uma
elite agrária cubana que há muito não se encontrava habitando os latifúndios. O ethos típico
dos senhores territoriais cubanos vinculava-se à um forte deslocamento em relação aos seus
domínios. Esses grandes proprietários foram os primeiros forasteiros a controlar a produção
de açúcar (ORTIZ, 1978, p. 62).
Sendo assim, temos uma reordenação no que compete à transmissão de riquezas no
país caribenho. Ortiz demonstrou essa fuga através do fim da devolução dos excedentes
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
213
gerados pela produção do açúcar. Isso quis dizer que a oligarquia agrária ausente, passou de
um desaparecimento progressivo para um em que tais indivíduos já nascem estrangeiros e
distanciados. Essa ausência dos indivíduos que detinham o controle da produção da cana-de-
açúcar tornou-se cada vez maior ao longo do tempo. Seus traços ficaram mais permanentes,
assim como sua administração se tornou mais distante e estrangeira. Disso, resultou um dos
efeitos mais nocivos na superação social do país. Seu vínculo fixo com os interesses de forças
exteriores (ORTIZ, 1978, p. 63).
Cabe ressaltar que o deslocamento da aristocracia rural do território agrário para a
cidade, foi tratado anteriormente por alguns estudos brasileiros. Na primeira edição de Raízes
do Brasil, a análise de Sergio Buarque de Hollanda contempla a crescente saída do senhorio
das casas grandes para a vida urbana (HOLLANDA, 1936). Parte dessa lógica também esteve
inserida em Sobrados e Mucambos, onde a nação do senhorio passa às mãos dos bacharéis
(FREYRE, 1936). Podemos notar o curioso fato de que ambos escritos são datados do mesmo
ano
O retrato do conflito acabou sendo ditado através da aversão sistêmica em relação ao
intervencionismo externo, demonstrada em Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar.
Esses elementos vinham sendo maturados no seio da sociedade cubana em grande medida
devido à exploração estranguladora do país por parte das nações que exerceram controle sobre
a ilha. O patriotismo cubano de Fernando Ortiz veio na forma de denúncia do caráter sugador
estrangeiro e, dessa forma, culminou na crítica aberta à voracidade capitalista moderna. Sua
influência prejudicial sobre a independência nacional tornou-se o fio condutor de sua reflexão,
trazendo o tom político do “paralelismo contrastante” do Tabaco liberador e o do Açúcar
escravizador.
Desse modo, a cana-de-açúcar foi responsável pela vassalagem a qual Cuba foi
acorrentada. Sua produção seguiu sempre o sentido externo, sendo, eminentemente, feita para
o estrangeiro (ORTIZ, 1978, p. 77). Enquanto o cultivo do tabaco desenvolveu-se no sentido
de enaltecimento da capacidade nacional, a produção açucareira representou a satisfação do
apetite desse mercado internacional por mãos e terras cubanas. Tal relação acabou por refletir
a visão de contraste marcante na sociedade cubana e assim as delimitações de uma tensão
mais sutil que a rusga entre os hacendados e vegueros.
No entanto, é importante que compreendamos que nessa esfera tratada na presente
seção, a ausência de um confronto direto é um outro elemento preponderante. Como em Casa
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
214
Grande e Senzala, a obra de Ortiz tenta identificar sutilezas típicas do conflito em sua
realidade. A presença de todos os contrastes entre os produtos capitais da economia cubana
não foi traduzida em conflitos. Mesmo a crítica ao estrangeirismo torna-se secundária frente à
tendência à conciliação fruto dessa distinção. Sendo assim, o contraponto entre o Açúcar e o
Tabaco, que nunca fora transformado em luta, tende a gerar um casamento. Dessas bodas o
fruto seria o álcool, filho do espírito satânico da planta gramínea e da doçura açucareira.
Assim, se formaria a trindade cubana e o fim desse contrapunteo.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, Martins de. Brasil Errado: Ensaio político sobre os erros do Brasil como país.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira Editora, 1932.
ARAÚJO, Ricardo Benzaquen. Guerra e Paz: Casa Grande e Senzala e a obra de Gilberto
Freyre nos anos 30. Rio de Janeiro: 34 Editora, 1994.
FERNANDES, Florestan. O Negro no Mundo dos Brancos. São Paulo: Global, 2007.
FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. São Paulo: Círculo do Livro, 1980
HOLLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1936
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.
IANNI, Octavio. A questão nacional na América Latina. São Paulo: Estudos Avançados,
1987.
OLIVEIRA, Emerson Ribeiro Divino. Gilberto Freyre e Fernando Ortiz: Cultura, Identidade
Nacional e História (1906-1948). Banco de dados de tese – UFG, 2012 .
ORTIZ, Fernando. Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Havana: ed. Ciências
Sociales, 1978.
PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. Gilberto Freyre e a Inglaterra: Uma história de
amor. Tempo Social, 1997.
ROBAINA, T.F. A luta contra a discriminação racial em Cuba e as ações afirmativas:
convite à reflexão e ao debate. Ações Afirmativas e Combate ao Racismo nas Américas.
Brasília, 2007.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
215
OPOSIÇÃO DEMOLIDORA: A FORMAÇÃO DO LACERDISMO
Guilherme Pires de Mello1
Resumo
Nas páginas de seu jornal e por meio das ondas do rádio, o então jornalista Carlos Lacerda
seria responsável, a partir da primeira metade dos anos cinquenta, por articular em torno de si
significativa parcela da classe média conservadora do Rio de Janeiro, em um movimento
político antagônico ao trabalhismo getulista: o lacerdismo. Figura carismática e explosiva
ligada à UDN, Lacerda encarnaria a mais ferrenha oposição ao segundo governo Getúlio
Vargas, tornando-se, em seguida, pivô na crise de agosto de 1954 que culminara com suicídio
do presidente da República. O presente trabalho pretende identificar o que foi o lacerdismo
em seu primeiro estágio enquanto oposição, esquadrinhando suas principais características
originárias, sua relação com imprensa da época, suas eventuais contradições, assim como sua
importância moralizadora para classe média. O artigo também busca identificar se é possível
considerá-lo como um fenômeno ideológico independente do personalismo de Carlos
Lacerda, além de apontar seus eventuais legados.
Palavras-chave: Carlos Lacerda. Lacerdismo. Imprensa. Classe Média.
Introdução
A partir da primeira metade dos anos cinquenta, o jornalista carioca Carlos Lacerda, por
meio das páginas do seu jornal, a Tribuna da Imprensa, das ondas da Rádio Globo e da
recém-inaugurada TV Tupi, seria responsável por uma campanha moralizante de grande
influência na classe média conservadora e liberal do Rio de Janeiro contra o segundo governo
do presidente Getúlio Vargas.
Seu carisma, alinhado ao seu texto afiado e sua oratória lancinante, promoveu a
articulação de um movimento político em torno de seu nome, capaz de o eleger como o mais
bem votado deputado federal pela União Democrática Nacional (UDN) apenas dois meses
após o suicídio de Getúlio, e, mais tarde, ao cargo do primeiro governador do Estado da
1 O autor é aluno do curso de Especialização em Política & Sociedade no Instituto de Estudos Sociais e Políticos
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (IESP-UERJ) e bacharel em Comunicação Social e Jornalismo pelas
Faculdades Integradas Hélio Alonso (FACHA).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
216
Guanabara. O lacerdismo encarnaria a vertente mais radical do anti-trabalhismo,
antigetulismo, antipopulismo e anticomunismo no Brasil.
O presente trabalho pretende identificar os elementos constitutivos do que foi o
lacerdismo como fenômeno de oposição, esquadrinhando suas principais características
fundantes, sua relação com os meios de comunicação da época, suas eventuais contradições,
assim como sua importância moralizadora para classe média. O artigo também busca
identificar se é possível considerá-lo como um fenômeno ideológico independente do
personalismo de Carlos Lacerda.
A proposta se desenvolverá ao longo de três tópicos. No primeiro, identificaremos as
circunstâncias políticas da época a partir de uma breve análise das características da UDN e
do udenismo, de modo a apartá-lo entre duas definições, o udenismo conflitivo, cujo maior
representante se tornaria Carlos Lacerda com o lacerdismo, e o udenismo pedagógico, de
Afonso Arinos de Mello Franco (CHALOUB, 2013). A seguir, versaremos, também de forma
breve, sobre o populismo e o contexto do antipopulismo no Brasil durante o segundo governo
de Getúlio Vargas (1950-1954), de modo a concatena-lo na dicotomia getulismo e lacerdismo.
No segundo tópico, será discutida a importância dos meios de comunicação na
formação do lacerdismo e na construção das crises políticas que desestabilizaram a Quarta
República (1946-1964). A partir dessas verificações, discutiremos os elementos constitutivos
na formação do movimento, no seio da capital federal e nos braços da classe média carioca.
Distinguiremos o lacerdismo entre dois modelos possíveis, um positivo e o outro negativo
(DELGADO, 2006), de modo a oferecer chave interpretativa das ações de Lacerda durante
sua atuação política.
No terceiro e último tópico, a partir das constatações feitas pelo brasilianista McCann
(2003), assumiremos que, em razão de sua mobilização, Carlos Lacerda se tornaria o
populista da classe média; identificaremos os impactos do lacerdismo na ascensão do
eleitorado feminino no País; constataremos que, justamente pelo caráter personalista e
centralizador do movimento, o lacerdismo não conseguiria promover quadros secundários;
identificaremos a importância do liberalismo nas ações de Lacerda (CHALOUB, 2013) e a
função moralizadora do movimento perante à classe média (JAGUARIBE, 1954). Por fim,
levando em consideração os estudos elaborados sobre o tema (SOARES, 1961; DEBERT,
1979; MOTTA, 1997), buscaremos oferecer uma análise sociologia do fenômeno lacerdista.
As circunstâncias de formação do lacerdismo
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
217
Embora o termo “populismo” só tenha aparecido nas ciências sociais pela primeira vez
no Brasil nos meandros da década de 1950, por meio do pesquisador Hélio Jaguaribe, para
descrever o movimento do adhemarismo em São Paulo, a União Democrática Nacional
(UDN) se estabeleceria, na década anterior, como um partido catalisador de movimentos
antipopulistas no país (DELGADO, 2006: 42). Ainda que o partido viesse a apoiar, em 1960,
a campanha de Jânio Quadros à presidência da República.
Dentro da UDN, mas não se limitando a esta, movimentos se constituiriam,
principalmente, pela defesa do liberalismo clássico, o afeiçoamento pelo bacharelismo, pelo
moralismo e a aversão pelos diversos modelos populistas (BENEVIDES, 1981). O partido
desenvolveria o caráter anticomunista apenas com a consolidação do lacerdismo como
corrente dominante, no governo Juscelino Kubitscheck, tendo seu ápice no governo João
Goulart. Contudo, a UDN não deve ser confundida com o udenismo. O movimento deve ser
compreendido para além dos limites formais do partido, estando presente, inclusive, em
outros partidos2. Portanto, não se tratando de uma doutrina partidária, mas de um certo
conjunto de crenças e práticas (CHALOUB, 2016: 295).
Dentro do partido, diversas correntes coabitavam em certa harmonia udenista. Para
efeitos do presente trabalho, utilizaremos duas vertentes interpretativas: o chamado udenismo
pedagógico, delega às elites o dever de mediar os conflitos, com seu maior expoente sendo o
político mineiro Afonso Arinos de Melo Franco, e o udenismo conflitivo, que toma o
enfrentamento político como essencial e unge às elites função de confronto na arena política.
Seu maior expoente era Carlos Lacerda (CHALOUB, 2013: 296).
Uma primeira distinção se impõe. A política é, para Lacerda, concebida
apenas como prática, sempre vinculada com sua atuação como ator político.
Ele não procura, em nenhum momento, atuar como teórico político,
pensando a política para além da sua inserção na dinâmica estatal-partidária.
Afonso Arinos, por sua vez, foi um dos mais relevantes pensadores políticos
brasileiros, possuindo uma sólida obra de história política, teoria política e
direito constitucional. Tal diferença nunca pode ser olvidada na análise da
literatura política de cada autor, sendo fundamental para a definição das duas
perspectivas. De outro modo, porém, não se deve utilizá-la como causa
última de todas as distinções, já que as diferenças suplantam a mera distância
de origens. (...) Arinos e Lacerda condensam, de certo modo, dois tipos
2 Leonel Brizola trataria o Partido dos Trabalhadores (PT) como “UDN de macacão”, por sua fixação em sua
superioridade moral em relação à classe política de 1980-90, ponto em comum com a postura udenista
(CHALOUB, 2016: 243-244).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
218
clássicos da UDN. Arinos é talvez o maior representante dos liberais
históricos da legenda, agregando os requisitos retóricos, genéticos e
intelectuais da ala ilustre da UDN, daqueles homens que justificavam o título
de partido dos notáveis. Lacerda, por sua vez, se afasta do bacharelismo de
tais figuras. (...) A performance política imergia na agressividade, sem meias
palavras ou tergiversações, como resultado da gestação de um modo de
expressão político próprio. O lacerdismo emerge como corrente autônoma
no seio da UDN, sempre amparado em sua base social no Distrito Federal e
vinculado ao carisma pessoal do seu líder (CHALOUB, 2013: 301)
Sobre o conceito de populismo, segundo Francisco Weffort (1980), conforme citado por
Ana Maria de Abreu Laurenza (1992), este pode ser entendido como a exaltação ao poder
público, na medida em que o Estado se coloca, por meio de um líder político, “em contato
direto com os indivíduos reunidos na massa”. No período específico da República de 1946,
esse fenômeno político teve como resultado dar vozes às reivindicações da classe trabalhadora
urbana (apud WEFFORT, 1980).
Embora o autor ofereça uma interpretação válida do fenômeno, é preciso ressaltar que o
populismo é considerado um dos vocábulos mais imprecisos das ciências sociais, cuja origem,
no Império Russo e nos Estados Unidos durante o século XIX, torna difícil qualquer
comparação com o populismo latino-americano, justamente por este “populismo de terceiro
mundo” possuir fisionomias distintas (DULCI, 1986:19).
Na América Latina, como ressalta Otávio Dulci (1986), de um modo geral, o populismo
possui “caráter eminentemente urbano, relativo ao momento da transição (...) para o
desenvolvimento”, no momento em que uma significativa massa, anteriormente limitada ao
campo, concentra-se em regiões periféricas aos centros urbanos, tornando-se apta a participar
de mobilizações políticas nesse novo cenário. Diferentemente dos termos “fascismo” ou
“socialismo”, o populismo é assim taxado “para fins de classificação e interpretação, sem que
os grupos neles envolvidos os entendam como tais, sem que isso signifique algo para eles”
(DULCI, 1986: 19-20).
No Brasil, o populismo resultaria na sinergia dos interesses econômicos da classe
trabalhadora, média e burguesia industrial, e tornar-se-ia elemento constitutivo do getulismo.3
O movimento político de caráter populista em torno do carismático presidente tem sua origem
na ideologia propagada pela ditadura estadonovista, o trabalhismo, e é entendido por Ângela
Maria de Castro Gomes e Maria Celina Soares D’Araújo (1987: 3-4) como “um movimento
de opinião pública favorável, até mítico, à figura de Getúlio Vargas”. Ambos os termos são
3 Para uma melhor explanação dessa relação, ver Laurenza, 1992.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
219
complementares, “à medida que a defesa e as conquistas do trabalho são diretamente
associadas à imagem do chefe do governo” (GOMES; D’ARAÚJO, 1987: 3-4).
É relevante ressaltar que os “ismos” nesse sentido adotam uma função mais avaliativa
do que denotativa, isto é, “julgamentos pejorativos e leituras consagradoras mesclam-se em
um universo de personificação do capital político como forma de capital simbólico”
(BOURDIEU, 1989, apud GRILL, 2012: 193). Dessa forma, os termos getulismo e
lacerdismo passam a adotar uma concepção de unidade e de continuidade, “a partir da
associação reivindicada ou denunciada entre agentes atuantes no espaço político”.
Estes “ismos” sintetizam, assim, posicionamentos que, de certa maneira, só adquirem
sentido se colocados em perspectiva com outras classificações. Portanto, estes se impõem
como “instrumentos de localização de agentes em ‘linhagens’ e “de agentes de associação
com ‘patrimônios coletivos’”. Seu reconhecimento passa, invariavelmente, pela posse de
certos recursos específicos (vínculos políticos ou posições nas tramas políticas) (GRILL,
2012: 193-194).
Os adeptos ao getulismo percebem a figura de Getúlio Vargas através de uma ótica
bidimensional: “quer como grande estadista e moderno administrador, que soube apreender as
reais necessidades do país, quer como ‘o pai dos pobres’ e criador da legislação social”.
Segundo Gomes e D’Araújo (1987: 4-5), o personalismo político da figura de Getúlio pode
ser entendido como princípio fundante da nova ordem democrática. “Se o getulismo tem a
marca indelével da personalização”, o trabalhismo, por sua vez, disporia de novas lideranças,
com perfis mais diversos em relação à sua origem no Estado Novo, sendo apropriado de
diversas maneiras, justamente por também não possuir “um corpo doutrinário suficientemente
estruturado”.
A imprensa e o fenômeno lacerdista
O proporcionalmente elevado grau de alfabetização e de urbanização da população do
Rio de Janeiro dos anos 1950 contribuiu para o conflito de ideias por meio da imprensa da
época, em amplo processo de modernização, se tornando principal campo de disputas de
capital político na arena carioca. Isto posto, debruçando-se sobre o plano personalista do
debate, a polarização estabelecida na República de 1946 entre a UDN e o PTB se distinguiria
entre o getulismo trabalhista e a sua antítese, a oposição anti-getulista, incorporada na imagem
do jornalista Carlos Lacerda e do lacerdismo (MOTTA, 1999).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
220
Por meio das páginas da Tribuna da Imprensa, Carlos Lacerda propagaria a sua própria
vertente reconhecidamente radical, o lacerdismo, que assumiria, em momentos de
instabilidade política, discursos golpistas a fim de assegurar uma suposta “verdadeira
democracia”, mais pura, acessível somente após expurgado qualquer vestígio ou herança do
ditador Getúlio Vargas e o Estado construído por ele.
Ataques virulentos viriam, quotidianamente, do jornalista Carlos Lacerda;
este se torna – dentro da UDN e fora dela – a encarnação militante do anti-
getulismo, nada poupando a figura de Getúlio Vargas, a quem se referia em
termos bem distantes da tradicional elegância dos bacharéis udenistas: “Esse
traidor profissional aí está (...) morrerá algum dia de morte convulsa e
tenebrosa. Pois ninguém como ele para morrer de morte indigna, da morte de
mãos aduncas em busca do Poder, ó pobre milionário do Poder, ó insigne
tratante, ó embusteiro renitente! Ele louva e lisonjeia um povo que, de todo o
seu ser, ele despreza. Ele não tem com o povo senão a mesma relação que
teve com esse mesmo povo a tuberculose, a febre amarela, a sífilis. É uma
doença social, o getulismo”. (Tribuna da Imprensa, 12/8/1950).4
Seu vespertino, portanto, seria responsável por realizar uma ponte “entre a atuação
parlamentar da UDN radical e a opinião pública”, nos principais momentos de crise no país.5
O poder comunicativo de Carlos Lacerda não se limitaria às páginas de seu jornal, o jornalista
se transformaria num grande fenômeno de mídia graças ao rádio e à televisão, que já
começava a surgir (MOTTA, 1997:7).
Segundo Delgado (2006:7), as inúmeras crises que se espalharam pela República
Populista de 1946, especialmente no período de 1954 e 1964, só seriam identificadas como
“crise” perante a opinião pública graças à atuação da imprensa, “caso contrário, seriam apenas
rumores internos nos corredores do congresso nacional e nos quartéis”. A grande mídia seria,
portanto, a grande responsável por levar instabilidade à esfera pública daquele período
(DELGADO, 2006:7).
A origem do lacerdismo se dá nos meandros dos anos 1950, na cidade do Rio de
Janeiro, então Distrito Federal, durante a crise que levaria Getúlio Vargas ao suicídio e de
forma concomitante à atuação da ala “Banda de Música” dentro da UDN (DULCI, 1986:38).
No entanto, só alcançaria predominância dentro das diversas correntes presentes na UDN
durante a campanha presidencial de Jânio Quadros6 e com a eleição de Carlos Lacerda ao
recém instituído Estado da Guanabara, também em 1960. Para Delgado (2006:9), o
4 BENEVIDES, Maria Vitória. A UDN e Udenismo: ambiguidades do liberalismo brasileiro, 1981: 81. 5 DELGADO, Márcio de Paiva. O “Golpismo Democrático”: Carlos Lacerda e o Jornal Tribuna da Imprensa
na Quebra da Legalidade (1949 1964), 2006: 5. 6 Idem, Ibidem: 9.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
221
lacerdismo se apresentaria, perante à opinião pública, como uma solução radical aos
problemas considerados crônicos da sociedade, em especial, as heranças “nefastas” de
Getúlio, como a corrupção, o populismo, o getulismo proveniente do trabalhismo, a
demagogia e, evidentemente, o comunismo (DELGADO, 2006:9).
Embora os anos 1950 não figurarem entre períodos de surtos de anticomunismo no
Brasil (1935-37 e 1961-64), o alinhamento de Lacerda aos Estados Unidos, levando em
consideração o contexto de Guerra Fria, faria o comunismo alvo de ataques violentos do
jornalista (MOTTA, 2005). De acordo com Chaloub (2016: 84), o comunismo, assim como
fascismo caudilhista, era compreendido, através da retórica de Lacerda, sob o signo da
patologia, ou seja, doenças que acometiam o país, retardando seu desenvolvimento. As
diferenças entre as duas ideologias seriam apenas periféricas perante o caráter ditatorial de
ambas.
O lacerdismo, no entanto, não se caracterizaria apenas pelo que combatia. Há, também,
o caráter personalista do movimento, semelhante ao getulismo, muito comum em países onde
a cultura política ainda se encontra carente de capital social, em que o carisma7 exerce grande
influência na esfera pública (DELGADO, 2006: 23). Assim, Delgado identifica a participação
da imprensa nesse processo, ao atuar como um canal entre o cidadão não-intelectual “atalhos
para a compreensão”, através de um processo de adaptação de discurso, de modo a “ampliá-lo
para obter um universo eleitoral maior” (DELGADO, 2006:23-24). Da mesma forma,
Alessandra Aldé, citada por Delgado (2006), “destaca a importância do carisma e da
credibilidade que o jornalista transfere ao “passar a ‘essência dos fatos’ junto ao público”.8
O fato de um jornalista, que ao entrar na política de maneira formal (foi
vereador, deputado e governador), conseguir dar seu nome a uma vertente
política (o lacerdismo) é sinal de que a sua figura pessoal oferecia um
fascínio junto ao seu eleitorado e aliados além do corriqueiro. (...). Também
é digno de nota constatar que um dos principais adversários de Lacerda, o
getulismo, isto é, a vertente política-eleitoral criada em torno da figura
pessoal de Getúlio Vargas, também tem como um dos fatores de sua
formação o seu carisma. (...) Lacerda apareceria, portanto, como uma
alternativa carismática ao projeto getulista, agregando apoio de setores da
classe média, do empresariado não ligado ao nacionalismo, de grupos
anticomunistas e religiosos, e de setores conservadores das Forças Armadas.
(DELGADO, 2006: 26-27)
7 Segundo Max Weber (1978: 1112), o carisma baseia-se no reconhecimento de características específicas,
consideradas “sobrenaturais”, no sentido de serem inacessíveis a maioria das pessoas. 8 ALDÉ, Alessandra. A Construção da Política. Democracia, cidadania e meios de comunicação de massa. Rio
de Janeiro: FGV, 2004: 179-181 apud DELGADO, Márcio de Paiva., op. cit., 2006: 26.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
222
O lacerdismo não tem em seu cerne uma discussão profunda sobre os rumos da
economia do país, embora professe uma orientação liberal aparentemente contraditória,
especialmente se levarmos em consideração o período em que Carlos Lacerda governou o
Estado da Guanabara. Seu discurso concentrava-se no “moralismo ascético” e cristão, numa
idealizada visão da boa gestão da coisa pública, no anticomunismo, e como solução contrária
ao projeto trabalhista, aproximando, assim, os lacerdistas de grupos liberais-conservadores,
representados pela UDN e pela Escola Superior de Guerra (ESG), que defendiam a não
intervenção Estatal na economia ao mesmo tempo que apregoavam um governo centralizador
forte e presente (DELGADO, 2006: 31-34). O que não o impediria de aderir propostas
nacionalistas e protecionistas se estas representassem exercer o contraponto a Getúlio Vargas.
Não só isso, para atacar seus desafetos, Lacerda lançaria mão das mesmas táticas que
ele tanto criticara, adotando, sempre quando necessário, uma retórica evidentemente
populista, tornando-se seu representante na classe média na cidade do Rio de Janeiro
(MCCANN, 2003: 662-663). Contudo, como ressalta Jorge Chaloub (2016: 35), enquadrar o
jornalista carioca no “campo do liberalismo não importa (...) tomar por insignificante seu
flerte com gramáticas antiliberais, mas reconhecer no ideário elemento explicativo relevante
para grande parte das suas ideias e ações”. Em Depoimento (1977), Lacerda comentaria:
Quanto ao chamado lacerdismo, foi realmente um fenômeno que existiu e
que teve várias conotações, umas muito nobilitantes, no sentido de que o
lacerdismo seria um Estado de espírito, digamos, reformador e honesto;
outras mais pejorativas, como “as mal-amadas”, termo inventado pelo
Antônio Maria, exatamente depois daquela história da greve da PANAIR,
um certo fanatismo... As “mal amadas”, segundo Antônio Maria, seriam
criaturas que não eram suficientemente amadas pelos respectivos maridos ou
namorados e que se fixavam em mim, como um mito, assim, machista. Era
essa a intenção dos que usavam o termo pejorativamente. Era como se você
dissesse, “as solteironas”. (LACERDA, 1977: 222-223).
Ainda de acordo com Carlos Lacerda (1977), o lacerdismo se propagaria antes mesmo
dele assumir a gestão do Estado da Guanabara, se constituindo em um fenômeno encampado
por um jornalista que, pelo poder de sua escrita, abala as instituições do poder.
O que a campanha de Lacerda de 1953 a 1954 revela, no entanto, é que a
gramática populista não era meramente persuasiva, mas irresistivelmente
sedutora - até mesmo para pretendentes antipopulistas. Os brasileiros da
classe média urbana - que desdenhavam os trabalhadores de colarinho-azul
por serem excessivamente privilegiados pelo Estado - não eram apenas
suscetíveis ao mesmo tipo de retórica nacionalista e protecionista, mas
também era capaz de experimentar a mesma sensação de crescente coesão e
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
223
poder no meio da mobilização pública através do lacerdismo. (MCCANN,
2003: 666, tradução nossa)
Diferentemente das outras correntes ideológicas da UDN, o lacerdismo se constrói,
primeiramente, na sociedade civil, com o contato direto de Lacerda com a opinião pública,
por meio de seu jornal Tribuna da Imprensa. Para Delgado (2006: 66), dois modelos de
discursos seriam comporiam o lacerdismo: um positivo, sendo as posições defendidas pelo
movimento, predominantemente estático, e outro negativo, representando as ideias contrárias
ao lacerdismo e resultante da conjuntura. O primeiro, mais ligado às gramáticas do
liberalismo, tal como a liberdade, individual e econômica, e a democracia, acompanhada de
boas doses de moralismo. Estes elementos não se alterariam, permanecendo constitutivos
fixos do lacerdismo. O segundo possui um caráter mais fluído, formulado a partir das
circunstâncias do momento, sendo responsável por projetar o seu líder sob as demais figuras
da UDN. Encarnaria a versão mais radical do antipopulismo, anticomunismo, do golpismo
explícito, e, evidentemente, do anti-getulismo (DELGADO, 2006: 66).
O apelo às mulheres, o moralismo político e o personalismo do Lacerdismo
Com o passar dos anos, o lacerdismo vai se radicalizando e ganhando contornos
golpistas, especialmente nos governos Juscelino Kubitschek, com a defesa explícita a um
“Regime de Exceção”, capaz de “desintoxicar” a democracia do getulismo, e João Goulart,
com a defesa de uma intervenção militar de inspiração “redentora”9. O lacerdismo, portanto,
passa por dois momentos chaves em sua gênese: um primeiro, de caráter reformador, e até
“revolucionário”, contrário ao governo de Getúlio Vargas e, em um segundo momento,
golpista e subversivo, defensor de uma fórmula “verdadeira” de democracia (DELGADO.
2006: 135).
Dessa forma,
Lacerda tornou-se o populista da classe média. Através do processo de
mobilização lacerdista, a classe média viria a reconhecer-se como a "classe
detentora da moralidade brasileira", uma auto concepção que permitira uma
militância atuante, ao mesmo tempo em que propunha ao movimento um
propósito superior, separando as demandas de seus adeptos das demandas da
classe trabalhadora (...) Ele também entendeu que a mobilização da opinião
pública era a única maneira de alcançar esse resultado ao mesmo tempo que
9 O lacerdismo se radicalizaria, adquirindo até mesmo tons reacionários, ao se aproximar de setores militares
conservadores, tal como a Cruzada Democrática e de grupos católicos de direita (DELGADO, 2006: 67).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
224
assegurava o aumento de sua própria influência (MCCANN, 2003: 681-682,
tradução nossa)
Suas eventuais contradições, como o apoio ao candidato Jânio Quadros, ícone do
populismo paulista, seriam fruto de “cálculos e estratégias políticas pragmáticas”. Sobre a
retórica lacerdista, sempre radical e abusiva nas adjetivações, o autor ressalta que esta não
pode ser interpretada como uma simples ferramenta “forjadora de metáforas lancinantes”,
mas, sim, como “instrumento de persuasão”, ou seja, de “ressonância através da busca de
adesão”.10
Outra faceta característica do lacerdismo foi a aderência e o apelo do público feminino
ao movimento. Lacerda, durante sua campanha contra o Última Hora e Getúlio Vargas nos
anos 1950, incumbiu as mulheres como as responsáveis morais pela sociedade brasileira,
através de calorosos discursos direcionados diretamente às donas de casa. Através de seus
textos e sua oratória, seja na rádio como na televisão, Lacerda seria o primeiro político
responsável pela inserção de centenas de mulheres de classe média na arena política
(MCCANN, 2003: 682-683).
Através dos “comícios em casa”, mulheres organizavam pequenos atos políticos que
reuniam, em suas casas, apoiadores da UDN e de Lacerda, que também costumava
comparecer nos eventos (MCCANN, 2003:684). Esses “comícios” representaram uma versão
adaptada para a classe média das grandes manifestações em massa da classe trabalhadora.
Os "comícios em casa" estabeleceram um útil elo entre o espaço público e o
privado, facilitando a entrada das mulheres donas de casa na esfera política
ao mesmo tempo em que apelava ao seu papel doméstico. Lacerda, então,
estimularia esses comícios nomeando mulheres para ocuparem posições-
chave no 'Clube da Lanterna' e nos comitês das vizinhanças associados ao
projeto, superando o fosso entre casa e praça pública. Em meados de 1953,
ele havia cultivado o entusiasmado apoio de um influente grupo de mulheres
da classe média. De acordo com uma de suas militantes, "nos chamavam de
'as mal-amadas de Lacerda’. Nós o seguiríamos a onde quer que ele fosse ".
(MCCANN, 2003: 684, tradução nossa)
Portanto, o político Carlos Lacerda não só soube adotar uma roupagem “moderna” e
“multimídia”11, como também foi capaz de perceber corretamente, até certo ponto, os anseios
de uma classe social negligenciada pelo Estado getulista. A imagem do líder forte e viril,
10 AZEVEDO, Luiz Vitor Tavares. Carlos Lacerda e o discurso de oposição na Tribuna da Imprensa (1953-
1955). Dissertação de Mestrado defendida no ICHF/UFF em 1988: 114, apud DELGADO, Márcio de Paiva.,
op. cit., 2006: 76. 11 DELGADO, Márcio de Paiva. op. cit., 2006, 53.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
225
dotado de uma oratória romântica e inflamada, seria o principal atrativo para o emergente
eleitorado feminino dos anos 1950 (MOTTA, 1999:30).
De acordo com Chaloub (2016: 33), o movimento político possuiu forte ênfase na ação
política, forjada através da crítica ao mundo jurídico e visando a formação de uma nova
postura, que renega valores anteriores, e funda essa nova legitimidade nos resultados efetivos
construídos pelo seu líder, Carlos Lacerda. Exatamente por essa dependência no carisma de
Lacerda, o lacerdismo não seria capaz de produzir suficientes personagens secundários.
Políticos como Amaral Neto e Raul Brunini nunca flertaram com postos nacionais de maior
destaque.12
De maneira geral, a trajetória política de Carlos Lacerda é construída apesar de suas
constantes mudanças de rumo, que lhe permitiam passear por diversos campos políticos
distintos, conciliando, em seus discursos, ideias aparentemente contraditórias. Assim, como
escreve Chaloub, “examiná-lo como teórico da política cioso produzir uma filosofia política
sistemática e coerente, destoa do estilo que marca a sua atuação política”. Seu pensamento
político só ganha sentido, como sugerido anteriormente, quando assume posição de confronto
contra seus adversários políticos. Suas ideias, portanto, eram intrinsicamente ligadas ao
embate na arena política (CHALOUB, 2016:80).
Entretanto, as ideias não ocupam lugar de pouco destaque na construção de uma
personalidade política, pois sua relevância é fundamental para diferenciar a imagem de Carlos
Lacerda, como homem público e de ideias, dos males do caudilhismo. Para Lacerda, é dever
do homem público mudar conforme mudam as posições objetivas (CHALOUB, 2016:81).
Nesse sentido,
O liberalismo (...) representa algo mais que um mero verniz sobre intenções
outras, já que possui papel decisivo na trajetória política de Lacerda. (...) o
ideário liberal, por sua enorme penetração nos eventos políticos dos últimos
séculos e ampla diversidade de expressões, não comporta uma definição
unívoca, mesmo que possa ser remetido a algumas características comuns. O
liberalismo de Lacerda surgia, sobretudo, como uma crítica liberal da
política brasileira. O ideário era o ponto de partida a partir do qual o político
carioca se legitimava como radical opositor não apenas da cena pública do
interregno 1945-1964, da qual foi um dos maiores protagonistas, como da
própria tradição política brasileira. (CHALOUB, 2016: 81-82)
O moralismo católico também é um dos fatores fundantes do lacerdismo. O sociólogo
Hélio Jaguaribe (1954), em um dos primeiros esforços para se entender a campanha de
12 CHALOUB, Jorge Gomes de Souza. op. cit., 2016: 34.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
226
Lacerda contra o Última Hora, escreveu que, na ótima dos moralistas, todos os problemas
nacionais foram transferidos para o plano moral. “E nesse plano, polarizados em termos de
mal e bem absolutos. Tudo o que estava ligado a Última Hora se transformou em mal
absoluto. Tudo o que lhe era adverso, em bem absoluto” (JAGUARIBE, 1954). Esse
comportamento se diferencia do “moralismo filosófico”, focado em discussões abstratas, e
passa a assumir facetas do “moralismo político”, que é interpretado em condições concretas.
Assim como os posicionamentos políticos de Lacerda, seu moralismo também não assume
princípios imutáveis, se permitindo certa mobilidade na dinâmica das conjunturas
(CHALOUB, 2016: 116).
Segundo Jaguaribe (1954), as campanhas moralizadoras podem ser identificadas como
um fenômeno tipicamente pequeno-burguês, cujo ponto de partida, na crise dos anos 1950, se
deu a partir das relações escusas do Banco do Brasil o jornal Última Hora, de Samuel Wainer.
Para o sociólogo, o governo de Getúlio teria subestimado a importância da classe média e de
suas crescentes necessidades frente ao aumento do custo de vida e da valorização dos salários
do proletariado urbano, ao passo que seus ordenados permaneciam estacionários. O
moralismo político, portanto, seria uma “superestrutura ideológica da classe média” que
serviria de ferramenta para a burguesia mercantil, se utilizando do idealismo da classe média
por meio das campanhas de moralização, fazendo-a pensar estar numa cruzada revolucionária,
de modo a atingir seus objetivos próprios e consolidar um cenário de dominação das demais
classes sociais, com o inevitável prejuízo da inautenticidade do Estado e do governo
(JAGUARIBE, 1954).
Classificar Carlos Lacerda ideologicamente de maneira definitiva, como mencionado
anteriormente, torna-se, então, uma tarefa dificultosa, cujo resultado seria algo distante da
realidade, devido à dinâmica de sua volatilidade política. Chaloub (2013: 302) identifica ser
possível notar certo autoritarismo em suas ideias, como sua oposição em relação ao pleito
previsto para 1955, cujo resultado seria a eleição de Juscelino Kubitschek.
Como aponta Gláucio Ary Dillon Soares (1965: 51), embora certo nível de
sistematização seja necessário para se caracterizar uma ideologia, amparado por uma certa
lógica, é inconcebível “exigir uma coerência total e uma sistematização completa para
caracterizar uma ideologia como tal”, uma vez que, “ao nível do homem, as crenças
ideológicas são frequentemente contraditórias”.
Em contrapartida, no plano social, a existência de ideologia toma forma em termos de
uma “tendência significativa” por parte dos adeptos de uma personalidade política como
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
227
Carlos Lacerda. Por exemplo, dentre os adeptos do lacerdismo, é possível que se encontre
indivíduos que sejam contra ou favor a entrada de capital estrangeiro no país, embora, como
revela Soares, haja uma correlação positiva entre os lacerdistas e a favorabilidade ao capital
estrangeiro. Dessa maneira, a contradição está sujeita a qualquer movimento partidário ou de
caráter personalista (SOARES, 1965: 51).
Outro fator que vale ser ressaltado é a “superestima” a respeito de movimentos políticos
personalistas, como no caso do lacerdismo. É possível aferir uma preferibilidade dos eleitores
pelos partidos e pelas “máquinas informativas” que exercem função adjunta na propagação de
certos ideais políticos. Dessa forma, um candidato amparado por determinados grupos,
teoricamente, já contará com uma penetração maior em determinadas aéreas eleitorais devido
à função exercida por esse maquinário. (SOARES, 1965).
No caso da UDN do Rio de Janeiro, a penetração de seus candidatos sempre foi superior
em áreas da Zona Sul da cidade, enquanto a Zona Norte exerce apoio preferencial aos
candidatos do PTB. Este fenômeno costumeiramente repete-se a cada eleição. A explicação
para esse fenômeno, para Soares (1965: 52-54), encontra-se numa complexa interação entre
os partidos políticos e suas bases sociais, tanto no geral como no particular, assim como no
apoio das máquinas de mobilização social, como a imprensa e cabos eleitorais, para atingir
seus fins políticos, fazendo que certas candidaturas contem com “um núcleo substancial de
votantes cativos”, relativamente influenciados pelos mecanismos de formação da opinião
pública.
O personalismo, segundo o autor, não deve ser analisado como um fenômeno político
individual, uma vez que este requer ao menos dois partícipes: o líder carismático em si e a
população, isto é, aqueles que serão liderados. “Assim sendo, o personalismo é, antes de mais
nada, uma relação”, cujas características do carisma de seu líder devem ser examinadas em
função das características da população (SOARES, 1965:55, grifo do autor). Dessa forma, o
personalismo é compreendido como uma relação positiva entre “características individuais do
líder carismático e as características sociais, econômicas e culturais de setores da população”
(SOARES, 1965: 55).
Seguindo essa lógica, Soares conclui que, sobretudo, o lacerdismo é um fenômeno de
classe, com forte penetração nas classes mais privilegiadas em detrimento das menos
abastadas. Em contrapartida, os movimentos personalistas de figuras como Jânio Quadros e
Juscelino Kubitschek rompem com esse cordão socioeconômico e atingem com relativo
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
228
sucesso todas as camadas sociais (SOARES, 1965: 61), tornando-se, assim, movimentos mais
eficientes do que o lacerdismo.
Portanto, o lacerdismo deve, sim, ser compreendido como um fenômeno ideológico,
apesar de sua volatilidade. Sendo assim, Soares faz as seguintes conclusões: “O lacerdismo é
predominantemente liberal, não intervencionista, e favorável ao capital estrangeiro, rejeitando
(...) a posição nacionalista”, embora seja reconhecido em seu artigo que uma minoritária
parcela de lacerdistas compactuem com ideais socializantes e até mesmo esquerdistas.
Portanto, tanto a ideia de um liberalismo laissez-faire quanto seu oposto poderiam ser
constitutivos dos apoiadores de Lacerda (DEBERT, 1979:141).
Para o artigo de Soares, escrito no auge do lacerdismo, se o político e jornalista Carlos
Lacerda opta por adotar ou não esta posição é “do ponto de vista sociológico, pouco
relevante: o fato de que Carlos Lacerda ter maior penetração entre pessoas que adotam essas
posições é (...) mais significativo do que suas opiniões pessoais”, que costumeiramente se
alteram ao calor de seus confrontos na arena política (SOARES, 1965: 69).
Em 1960, Carlos Lacerda eleger-se-ia governador do recém-formado Estado da
Guanabara, com uma vitória apertada sobre Sergio Magalhães (da aliança PTB-PSB), dando
início a terceira fase do lacerdismo, àquela cuja marca indelével seria gestão urgente e das
grandes obras, sustentada na identificação pessoal e carismática de seu líder.
(...)amante das decisões técnicas, que colocava a razão acima das emoções,
capaz de unir as duas tradições dicotômicas que marcam o pensamento
político brasileiro. Longe de se definirem em termos antagônicos, essas duas
imagens se completam para marcar o lugar do mito Carlos Lacerda no
imaginário político nacional. Encarnando uma e outra, assumindo
simultaneamente os dois papéis, Lacerda desfrutaria do duplo e raro
prestígio de ser capaz de provocar emoções e inspirar confiança (MOTTA,
1997:10).
Objetivamente, conforme o resumo de Motta (1999: 29-30), o movimento político que
leva o nome do jornalista carioca reside nas emoções despertadas nos admiradores e
seguidores apaixonados de Carlos Lacerda. Nesse sentido, ser lacerdista ou anti-lacerdista
significaria partilhar “sentimentos de pertencimentos a grupos que se definam pela comunhão
de valores, representações e atitudes com relação à figura carismática de Carlos Lacerda”.
Portanto, o lacerdismo, para além das suas características ideológicas, está fortemente
atrelado às interpretações acerca de seu carisma pessoal.
Considerações Finais
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
229
O presente artigo buscou elucidar elementos constitutivos do fenômeno lacerdista,
iniciado nos primeiros anos da década de 1950, durante a campanha do jornalista Carlos
Lacerda contra o governo de Getúlio Vargas e o jornal Última Hora, de Samuel Wainer, e que
assumiria contornos diversos nos anos seguintes, como o caráter explicitamente golpista,
antes mesmo do início do governo Juscelino Kubitschek, e, mais adiante, uma feição mais
administrativa, a partir da gestão de Lacerda no Estado da Guanabara.
Dessa forma, dentre as diversas formulações apresentadas no artigo acerca do
lacerdismo, podemos interpretar o fenômeno a partir de uma escala regional, mais ligada à
modernizante gestão do governador, e nacional, atrelada à permanente imagem de demolidor
de presidentes. Contudo, a distinção nem sempre é tão clara, como Lacerda deixa bem claro
em seu discurso de posse:
Se não me derem os recursos de que careço (...) restar-me-á sempre um
serviço do qual ninguém me pode privar senão Deus – e não hesitarei em
lançar mão dele: concentrar-me por inteiro numa só tarefa, transformar o
governo numa labareda para atear fogo aos castelos de papelão dos políticos
desonestos... (LACERDA apud MOTTA, 1999:43)
Objetivamente, podemos nos referir a alguns tipos de lacerdismo, que se desenham a
partir de uma realidade concreta e objetiva. Concepção que se demonstra particularmente
coerente com a visão de Carlos Lacerda acerca da política, entendida apenas em seus aspectos
práticos, devido a certa ojeriza do jornalista carioca às negociatas e à monotonia das
conversas políticas, próprias de uma rotina democrática.
Carlos Lacerda demonstra-se extremamente dependente dos meios de comunicação para
consolidar a sua imagem de liderança perante à opinião pública. Apesar de se afastar da
direção da Tribuna da Imprensa após assumir o governo da Guanabara, o jornalista
continuaria presente tanto nas rádios como na recém-inaugurada televisão, consolidando-se
como o primeiro fenômeno da espécie transmídia do Brasil.
Como político, consagrou-se como antipopulista, a antítese do getulismo, mesmo
fazendo uso de táticas populista quando julgasse necessário. Seu legado histórico ainda
permanece um tanto negligenciado quando confrontando com o de outras figuras históricas da
Quarta República como Getúlio Vargas, João Goulart, Jânio Quadros e Juscelino Kubitschek.
Referências
BENEVIDES, Maria Victoria. A UDN e o udenismo: ambiguidades do liberalismo
brasileiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
230
CHALOUB, Jorge Gomes de Souza. Dois liberalismos na UDN: Afonso Arinos e Lacerda
entre o consenso e o conflito. Revista Estudos Políticos: a publicação semestral do
Laboratório de Estudos Hum (e) anos (UFF) e do Núcleo de Estudos em Teoria Política
(UFRJ). Rio de Janeiro, n.6, pp. 294-311, julho, 2013.
______________________________. O liberalismo entre o espírito e a espada: a UDN e a
República de 1946. 2016. Tese de Doutorado (em Ciência Política). Instituto de Estudos
Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
DEBERT, Guita Grin. Ideologia e populismo: A. de Barros, M. Arraes, C. Lacerda, L.
Brizola. TA Queiroz, 1979.
DELGADO, Márcio de Paiva. Lacerdismo: a mídia como veículo e oposição na experiência
democrática (1946-1964). Locus-revista de história. Juiz de Fora, v.12, n.2, pp. 137-153,
2006b
__________________________. O “golpismo democrático”: Carlos Lacerda e o jornal
Tribuna da Imprensa na quebra da legalidade (1949-1964). 2006. Dissertação de
Mestrado (em História, Cultura e Poder). Departamento de História, Universidade Federal de
Juiz de Fora, Juiz de Fora.
DULCI, Otávio Soares. A UDN e o anti-populismo no Brasil. Editora UFMG/PROED,
1986.
GOMES, Ângela Maria de Castro; D'ARAUJO, Maria Celina. Getulismo e trabalhismo:
tensões e dimensões do Partido Trabalhista Brasileiro. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisa
e Documentação de História Contemporânea do Brasil, 1987.
GRILL, Igor Gastal. “Ismos”,“ícones” e intérpretes: as lógicas das “etiquetagens” na política
de dois Estados brasileiros (MA e RS). Revista de Sociologia e Política, Curitiba, v. 20, n.
43, 193-220, outubro, 2012.
JAGUARIBE, Hélio. O moralismo e a alienação das classes médias. Cadernos do Nosso
Tempo, n. 2, 1954.
LACERDA, Carlos. Depoimento. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977.
LAURENZA, Ana Maria de Abreu. Lacerda x Wainer: o corvo e o bessarabiano. São
Paulo: Ed. Senac, 1998.
MCCANN, Bryan. Carlos Lacerda: The Rise and Fall of a Middle-Class Populist in 1950s
Brazil. Hispanic American Historical Review, v. 83, n. 4, p. 661-696, 2003.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
231
MOTTA, Marly Silva da. As bases mitológicas do lacerdismo. In: SIMSON, Olga R. de
Moraes von (org.). Os desafios contemporâneos da história oral. Campinas, Unicamp,
1997.
____________________. Carlos Lacerda: de demolidor de presidentes a construtor de Estado.
Nossa História. Rio de Janeiro, nº19, pp.72-25, maio, 2005.
____________________. Frente e verso da política carioca: o Lacerdismo e o Chaguismo.
Estudos Históricos - Cultura Política, Rio de Janeiro, v.13, nº 24, p.351-376, 1999.
SOARES, Gláucio Ary Dillon. As bases ideológicas do lacerdismo. Rio de Janeiro: Revista
Civilização Brasileira n.1, v.4, p. 49-70, 1965.
WEBER, Max. Economy and society. Berkeley: University of California Press, 1978.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
232
The American Way: excepcionalismo estadunidense e direitos humanos
Juliana Pinto Lemos da Silva1
Resumo
A relação entre os EUA e o regime de direitos humanos sempre foi complexa, envolvendo
questões importantes para as relações internacionais. O chamado excepcionalismo
estadunidense desempenha um papel fundamental no que tange o comportamento dos EUA
em relação aos direitos humanos, seja em sua vertente política ou cultural. O excepcionalismo
se refere à crença de que “os EUA se diferenciam qualitativamente das outras nações
desenvolvidas” (KOH 2005 apud THIMM 2007:3), e vem sendo usado para descrever ações
do país e da sua política externa que mostram uma tendência a agir à margem dos regimes
multilaterais e uma certa falta de vontade de seguir algumas normas internacionais.
Este trabalho busca fazer uma introdução à relação entre excepcionalismo estadunidense e o
regime de direitos humanos. A hipótese é a de que os EUA desenvolveram uma prática de
double standard, usando o excepcionalismo como justificativa para violações próprias de
direitos humanos, e também em relação a violações cometidas pelos seus aliados, para
avançar seus interesses nacionais no sistema internacional.
Palavras-chave: política externa dos EUA; direitos humanos; excepcionalismo
Abstract
The relationship between the US and the human rights regime has always been complex,
involving important issues for international relations. The so-called US exceptionalism plays
a fundamental role in the country’s behavior concerning human rights, be it in its political or
cultural aspect. Exceptionalism refers to the belief that "the US differs qualitatively from
other developed nations" (KOH 2005 apud THIMM 2007: 3), and has been used to describe
the country’s foreign policy actions that show a tendency to act on the fringes of multilateral
regimes and an unwillingness to follow certain international standards.
This paper seeks to make an introduction to the relationship between American
exceptionalism and the multilateral human rights regime. The hypothesis is that the US has
developed a double standard practice, using exceptionalism as a justification for its own
human rights violations, and also for violations committed by its allies, to advance its national
interests in the international system.
1 Doutoranda do IESP-UERJ, bolsista FAPERJ e pesquisadora no Latitude Sul.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
233
Keywords: US foreign policy; human rights; exceptionalism
Introdução
A relação entre os Estados Unidos e o sistema de direitos humanos sempre foi complexa,
envolvendo questões importantes para as relações internacionais. O chamado
excepcionalismo estadunidense desempenha um papel fundamental no que tange o
comportamento dos EUA em relação aos direitos humanos, seja em sua vertente política ou
cultural.
Chomsky (2015), em seu texto American Excepcionalism: Some Current Case Studies, retrata
uma pesquisa feita pelo WIN/Gallup que descobriu que os EUA estão no primeiro lugar do
ranking das ameaças à paz, segundo a opinião global, e exercendo uma liderança isolada.
Uma das explicações para que a opinião pública internacional veja o país como uma ameaça
encontra base na ideia de que os EUA, desde que assumiram a liderança econômica, política e
militar do mundo Ocidental, se veem como “a nação excepcional”, porque acreditam que
“levam liberdade, segurança e paz” a várias nações ao redor do globo (CHOMSKY 2015).
MacMillan (2001 apud Koh 2003) afirma que a crença no seu excepcionalismo muitas vezes
levaram os EUA a um comportamento que mostrou uma preferência por “ensinar” e “pregar”
às outras nações como deveriam agir, em detrimento de ouvi-las, muitas vezes sob a ilusão de
que seus motivos eram mais “puros” do que os dos outros países. Destarte, a crença na
exceção se baseia na noção de que os EUA são uma nação que promove princípios universais,
e não apenas os seus interesses nacionais. Segundo Chomsky (2015:5), os EUA acreditam que
podem dar aos outros países “algo que precisam, e que terão de aceitar, gostem ou não”. Mais
do que isso, Chomsky (2015:8) também afirma que “existe um acordo quase universal de que
os EUA são (...) livres para recorrer à força em casos de violações radicais das leis
internacionais”. Portanto, não surpreende que o resto do mundo sinta-se ameaçado pela
imponência estadunidense, Koh (2003:1481) afirma que “os americanos tendem a ser
percebidos pelo mundo como agressivos, insensíveis, egoístas”.
Esta percepção, no entanto, não é compartilhada pela mídia e pela classe política
estadunidense, que acredita na primazia internacional do seu país e na ideia de que a
identidade nacional dos EUA é definida por um conjunto de valores universais políticos e
econômicos, que deveriam ser promovidos a nível internacional, tais como liberdade,
democracia e propriedade privada. Isto é, valores tradicionalmente relacionados ao modo de
vida Ocidental e ao sistema liberal (CHOMSKY 2015).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
234
Este trabalho analisará o excepcionalismo estadunidense em relação ao regime internacional
de direitos humanos. Na primeira seção, a identidade nacional dos EUA será problematizada,
para entender o discurso do excepcionalismo defendido pela classe política estadunidense. A
segunda parte relacionará o excepcionalismo estadunidense e o regime internacional de
direitos humanos, partindo da ideia da existência de um conflito cultural que coloca em lados
opostos nações e grupos de diferentes civilizações. Na última seção, será feita uma breve
análise do comportamento internacional dos EUA em relação aos direitos humanos na era
pós-11 de Setembro. Por fim, a conclusão busca confirmar se os EUA desenvolveram uma
prática de double standard, utilizando o excepcionalismo como justificativa para violações
próprias de direitos humanos, e também em relação a violações cometidas pelos seus aliados,
para avançar seus interesses nacionais no sistema internacional. Segundo Koh (2003), o
double standard seria a forma mais perigosa e destrutiva do excepcionalismo estadunidense.
Excepcionalismo estadunidense: questões culturais
Since the founding of the republic, Americans—both elites and the public—have
believed in the exceptional freedom and goodness of the American people, and the
intimate relationship that exists between this sense of goodness and the unique
“freedoms” that only Americans enjoy (WHELAN 2003, 40).
O excepcionalismo estadunidense se refere à crença de que os EUA se diferenciam
qualitativamente das outras nações desenvolvidas (KOH 2005 apud THIMM 2007:3), e vem
sendo usado para descrever ações dos EUA, no que diz respeito à sua política externa, que
mostram uma tendência a agir à margem dos regimes multilaterais, ou ainda, a sua falta de
vontade em seguir certas normas internacionais. Segundo Thimm (2007), o termo foi usado
pela primeira vez por Tocqueville, que notou que os EUA ocupavam um lugar especial em
relação às outras nações, e desde então tornou-se um elemento em diversos argumentos sobre
a identidade do país.
Robert Kagan (2003), em Of Paradise and Power, compara os EUA e a Europa para defender
a tese de que europeus e estadunidenses não compartilham da mesma visão de mundo. O
autor defende que a Europa viverua num mundo pós-histórico de paz e cooperação, a
realização da paz perpétua de Kant. Já os EUA viveriam num mundo que prioriza a segurança
e o poder militar, e ondem podem reafirmar o seu poder hegemônico promovendo a ordem
liberal, vivem no mundo anárquico de Hobbes.
Kagan (2003) defende que, ao contrário da Europa, os EUA recorrem aos meios militares
mais rapidamente, e tem pouca paciência para resoluções diplomáticas. Isso se deve, segundo
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
235
o autor, pelo ponto de vista limitado dos estadunidenses, que tendem a não considerar uma
visão mais ampla e complexa do plano internacional. Kagan (2003) também afirma que os
EUA geralmente favorecem políticas de coerção em detrimento das de persuasão, e procuram
resolver problemas eliminando ameaças, recorrendo constantemente ao unilateralismo. Para
além dessa questão, os estadunidenses também estariam menos inclinados a agir por meio das
instituições internacionais, menos passíveis de trabalhar cooperativamente com outras nações
em busca de objetivos comuns, mais céticos em relação ao direito internacional e mais
propensos a operar fora das estruturas formais caso considerem necessário.
É possível, portanto, identificar as bases do excepcionalismo estadunidense nos seguintes
termos: 1) na noção de que os EUA seriam hegemônicos em termos econômicos, políticos e
militares, e que tais características, unidas à ideia de que o país promove valores universais,
seriam benéficas para o mundo, e 2) na noção de que esta primazia autorizaria os EUAs a
agirem unilateralmente. Ignatieff (2002 apud Koh 2003) descreve como excepcionalismo os
meios pelos quais os EUA se isentam de certas leis e acordos internacionais.
Kagan (2003), no entanto, afirma que nem sempre foi assim. O autor entende que nos
primeiros anos da república, os EUA preferiam seguir as leis internacionais e valorizar a
opinião pública internacional, promovendo políticas de persuasão e diálogo no lugar do uso
da força. Isso se dava porque o país se percebia como fraco em relação as grandes potências
europeias. A questão é que a equação do poder mudou drasticamente. Mais do que isso,
Kagan (2003) entende que, com o fim da Guerra Fria e a queda da União Soviética, os EUA
experimentaram um momento de unipolaridade sem precedentes. Esse momento causou um
aumento do uso da força por parte do país, que se considerou livre para intervir onde e quando
quisesse, ou como o autor aponta “os EUA atuam como um xerife internacional” (KAGAN,
2003:35). Chomsky (2015) reforça essa visão, ao afirmar que:
As an exceptional state, the United States claims the right of aggression in
violation of international law. And it often exercises this right with impunity,
given its power and the willingness of the political class and the intellectual
community to provide apologetics when needed (CHOMSKY 2015, 6).
Huntington (1999) entende que no mundo pós-Guerra Fria as bandeiras têm importância,
assim como outros símbolos de identidade cultural. Portanto, se faz importante também
reforçar que, apesar da questão da hegemonia militar e econômica estadunidense ser um ponto
central, não se pode desprezar o papel da cultura na equação do excepcionalismo. Kagan
(2003) também trata desse aspecto do papel dos EUA no sistema internacional, afirmando que
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
236
o país é uma sociedade liberal, e que os estadunidenses acreditam não apenas em políticas de
poder, mas que estas deve ser um meio de avançar os princípios da ordem liberal como um
todo. Ou ainda, como afirma Thimm (2007:3), “a crença na superioridade do modelo
americano é refletida na percepção dos americanos sobre o papel dos EUA no mundo”.
Hart (apud Chomsky 2015) reforça a importância dos aspectos culturais e ideológicos ao
afirmar que além do poder econômico, político e militar dos EUA, existiria um quarto poder:
o dos princípios. O país não apenas exerceria seu poder por meio da promoção de valores e
princípios, mas tais valores seriam uma fonte de tal poder. Para além disso, o povo
estadunidense acreditaria que tem o dever de manter a sua primazia internacional, e que tal
hegemonia, baseada em princípios, beneficiaria o mundo inteiro (CHOMSKY, 2015).
No entanto, é preciso problematizar esta questão. Segundo Huntington (1999), existe uma
visão onde os EUA aparecem como o líder da civilização Ocidental, que atuariam como peça
fundamental para a tomada de decisões econômicas, políticas, e de segurança. Nessa visão, a
civilização Ocidental seria “a única que tem interesses importantes” e “as sociedades de
outras civilizações necessitam da ajuda Ocidental para alcançarem os seus objetivos e
protegerem os seus interesses”. Contudo, Huntington também apresenta uma visão
contrastante, de que esta civilização está “em declínio, com a sua cota de poder político,
econômico e militar decaindo em relação à de outras civilizações”. O autor conclui: “A
vontade das outras sociedades em aceitarem os ditames ou tolerarem os sermões do Ocidente
está desaparecendo rapidamente, assim como o está a autoconfiança e a capacidade de
domínio do Ocidente” (HUNTINGTON, 1999:93-94))
Nesse sentido, Wallerstein (2004) reforça a ideia de uma crise na hegemonia dos EUA, ao
afirmar que o momento pelo qual o sistema-mundo passa atualmente é o da fase pós-
hegemônica do terceiro ciclo logístico da economia-mundo capitalista. Esta fase se
caracterizaria pela perda da vantagem produtiva dos EUA, apesar de o país seguir
hegemônico nas áreas comercial e financeira. É importante destacar, inclusive, que nesta
visão os poderes militares e políticos estadunidenses não seriam mais os mesmos, e por isso,
sua capacidade de se impor aos aliados e intimidar os inimigos teria decaído.
Ruvalcaba (2013:157) reverbera esta noção ao afirmar que apesar do fato de que “a
geocultura dominante se caracteriza pela difusão dos ideais liberais como valores universais e
pela promoção do mercado com alcances planetários”, tal geocultura se encontra “questionada,
debilitada e atualmente em crise”. E não se pode descartar o impacto desta crise sobre o
excepcionalismo estadunidense. No entanto, é preciso considerar que a crise do sistema-
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
237
mundo capitalista deve interferir no papel dos EUA como líder da civilização Ocidental,
porém a identidade cultural estadunidense pode ser o último elemento a sofrer tal impacto.
Finalmente, Whelan (2003:40) afirma: “as elites americanas, os formuladores de políticas e os
cidadãos geralmente consideram os EUA como a exceção no que diz respeito ao significado e
ao escopo dos direitos humanos”. O maior exemplo disso estaria na defesa, feita por membros
da elite política e acadêmica estadunidense, de que “os EUA permanecem sendo a única
superpotência capaz de, e algumas vezes disposta a, comprometer recursos reais e a fazer
sacrifícios reais para construir, sustentar e dirigir um sistema internacional comprometido
com a lei internacional, a democracia e a promoção dos direitos humanos”. Tal percepção
defende abertamente a ideia de que quando os EUA não lidera, quase sempre nada acontece,
ou pior, desastres poderiam acontecer porque o país não se envolveu (KOH 2003:1487-1488).
Assim, mais uma vez é reforçada a ideia de que o excepcionalismo estadunidense não apenas
seria benéfico para o mundo, ele seria necessário. Ou ainda, como reforça Koh:
If critics of American exceptionalism too often repeat, “America is the
problem, America is the problem” they will overlook the occasions
where America is not the problem, it is the solution, and if America is
not the solution, there will simply be no solution (KOH 2003:1489).
Com as bases do excepcionalismo estadunidense expostas, e suas variáveis culturais
explicitadas, pode-se passar para uma análise da relação dos EUA no regime internacional de
direitos humanos, e como o excepcionalismo poderia afetar a percepção estadunidense sobre o
seu papel no sistema internacional em relação à defesa dos direitos humanos.
Excepcionalismo estadunidense e direitos humanos
Em seu artigo The Clash of Cvilizations? (1993), Samuel Huntington afirma que a fonte
predominante dos conflitos no mundo pós-Guerra Fria será cultural. O autor entende que
apesar dos Estados continuarem a ser os principais atores nas relações internacionais, as
disputas e desentendimentos políticos dessa nova era do sistema internacional ocorrerão entre
nações e grupos de diferentes civilizações. “Civilização é uma entidade cultural”, afirma
Huntington (1993:23), formada por aspectos que unem diversos grupos que possuem
elementos identitários em comum, tais como língua, história, religião, costumes e instituições.
Mais do que isso, o sistema internacional moderno se dividiria em civilizações que possuem
diferentes visões sobre o mundo que os cerca e as relações entre os indivíduos, diferenças que,
segundo o autor, seriam mais fortes do que divergências ideológicas ou políticas.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
238
Destarte, a divisão dominante neste mundo de diferentes civilizações é entre o Ocidente e o
resto do mundo. A questão é que “quando aumenta o poder relativo das outras civilizações,
diminui a atração da cultura Ocidental e tende a aumentar a confiança dos povos não
ocidentais” (HUNTINGTON 1999:213). Nesse sentido, o Ocidente lutaria para garantir a sua
proeminência. Os esforços focariam em três frentes: 1) preservar a sua superioridade militar, 2)
promover os valores e as instituições políticas de natureza Ocidental e 3) proteger a
integridade cultural, social e étnica das sociedades Ocidentais.
Wallerstein (apud MILANI 2011) indica que existem duas premissas básicas que servem de
apelo para o universalismo da civilização ocidental: a primeira seria a política dos países
Ocidentais, que defende os direitos humanos e promove a democracia liberal ao mesmo
tempo em que legitima intervenções culturais e militares em países não-Ocidentais, enquanto
a segunda seria o pressuposto de que a civilização Ocidental estaria fundamentada em valores
e verdades universais.
Nesse sentido, nesta análise seria importante reforçar a seguinte variável: a de promoção dos
valores e das instituições políticas do Ocidente, que incluem o respeito aos direitos humanos e
à democracia liberal, conforme foram idealizados pelos povos Ocidentais. Huntington (1999)
salientou, ao tratar da percepção Ocidental do seu papel no sistema internacional e da resposta
não-Ocidental a tal noção:
O Ocidente, especialmente os EUA, que têm sido sempre uma nação
missionária, crê que os povos não Ocidentais devem adotar os valores
Ocidentais da democracia, da economia de mercado, da separação de
poderes, dos direitos humanos, do individualismo e do Estado de direito e
organizar as suas instituições em conformidade com estes valores (…) Mas
as atitudes dominantes nas culturas não-Ocidentais vão de um ceticismo
generalizado a uma oposição aberta a estes valores. O que é universalismo
para o Ocidente é imperialismo para o resto (HUNTINGTON 1999:214).
Nesse contexto, portanto, é preciso iniciar uma discussão sobre o regime internacional de
direitos humanos e o relacionamento entre Ocidente, mais especificadamente, os EUA, e as
civilizações não-Ocidentais. Segundo Huntington (1999), a intensa promoção dos direitos
humanos e da democracia liberal teve início com a transição de vários países de sistemas
autoritários para democráticos, e com o fim da União Soviética. Até 1995, os esforços dos
EUA e de grande parte da Europa para desenvolver o modelo Ocidental de democracia, a
democracia liberal, em outros territórios, tiveram sucesso limitado, com resistência por parte
de quase todas as civilizações não-Ocidentais.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
239
No entanto, a maior resistência veio da civilização islâmica e da asiática, especialmente da
China. Para as sociedades da civilização asiática, a capacidade de resistir às pressões
Ocidentais sobre direitos humanos foi reforçada pelo aumento da riqueza econômica e da
autoconfiança dos seus governos, além da ideia de que tais pressões seriam uma intromissão
Ocidental na sua soberania. Como resumiu Huntington (1999:227): “De um modo geral, o
crescente poder econômico dos países asiáticos os torna imunes à pressão Ocidental sobre os
direitos humanos e a democracia (…) Se a democracia chegar aos países asiáticos, tal dever-
se-á ao facto de as burguesias e as cada vez mais fortes classes médias o terem querido”.
Huntington (1999), portanto, entende que uma eventual submissão dos países asiáticos aos
valores impostos pelo Ocidente aconteceria apenas nos termos colocados por tais países, e não
por uma pressão dos EUA.
Para a sociedade islâmica, a resistência se baseia na ideia de que a política externa do
Ocidente, especialmente a dos EUA, seria imperialista ao acreditar que a democracia liberal
poderia ser simplesmente transplantada para o Oriente Médio. Mais do que isso, esta também
é vista por muitos como agressão cultural, que não aceita o estilo de vida proposto pelo islã
(WHELAN 2003).
A nível multilateral, Huntington (1999:227-228) afirma que “os esforços Ocidentais para
promover os direitos humanos e a democracia nas agências das Nações Unidas não deram, em
geral, qualquer resultado”, uma vez que “grande parte dos governos, salvo os de alguns da
América Latina, foram relutantes em se alinhar no que consideraram ser o ‘imperialismo dos
direitos humanos”. Esta crítica difundida pelos países não-Ocidentais dialoga diretamente
com a questão do imperialismo cultural. A questão é: o universalismo promovido pelos
defensores do regime multilateral de direitos humanos pode ser visto como uma tentativa de
forçar valores Ocidentais em sociedades que não os querem, e as campanhas que giram em
torno de denúncias sobre violações de direitos eventualmente podem ser esforços para que um
grupo imponha seus interesses a outros, disfarçados de luta pelos direitos humanos (KECK;
SIKKINK 1998).
Koh (2003) salienta que na Conferência de Viena (1993), muitos países não-Ocidentais
formaram um bloco que entrou num embate com as forças estadunidenses e europeias em
relação a diversos assuntos, como por exemplo, as questões sobre o relativismo cultural nos
direitos humanos ou dos direitos econômicos e sociais (incluindo o direito ao
desenvolvimento). Tal embate poderia ser interpretado como um esforço para que se
priorizasse também os valores não-Ocidentais sobre direitos humanos. Nesse sentido, os
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
240
países asiáticos “aprovaram uma declaração que salientava que os direitos humanos devem
ser considerados no contexto das especificidades nacionais e regionais e de diferentes bases
históricas, religiosas e culturais” (HUNTINGTON, 1999:229).
A questão central, portanto, é que é preciso problematizar os padrões Ocidentais de direitos
humanos, questionando o envolvimento do Ocidente com regimes considerados violadores
sistemáticos, e mais do que isso, seus os seus próprios históricos de violações. Nesse sentido,
os EUA aparecem como protagonistas em ambos os casos.
Koh (2003) define quatro formas de definir o excepcionalismo estadunidense em relação aos
direitos humanos. Em primeiro lugar, existe o que o autor chama de “cultura dos direitos
distintos”, que trata da especificidade social, econômica e política dos EUA, permitindo que
alguns tipos de direitos, como os civis e políticos, fossem mais amplamente defendidos no
país. Em segundo lugar, existiria uma tendência estadunidense de usar rótulos diferentes para
conceitos já difundidos a nível multilateral, preferindo o uso de termos jurídicos
“americanizados”. Em terceiro lugar, existiria o que o autor chama de “compliance without
ratification”, o cumprimento de acordos internacionais mesmo sem a ratificação concreta dos
tratados específicos, uma forma de os EUA se colocarem como um apoiador do regime
multilateral de direitos humanos sem se sujeitar às suas regras, dando-lhe maior liberdade. Por
fim, existe o double standard, que é quando os EUA efetivamente usam o seu poder e riqueza
para promover uma política de “dois pesos, duas medidas” no sistema internacional.
Portanto, Koh (2003) trabalha com variáveis importantes no que tange o modo como os
direitos humanos são vistos pelos EUA. A cultura dos direitos distintos nada mais é do que o
que o autor também chama de “narcisismo americano em direitos humanos”, que descreve
como sendo a recusa, por parte do governo estadunidense, em priorizar certos direitos a nível
internacional, como os econômicos, sociais e culturais. Dentro desse contexto, como foi
mencionado, os EUA estariam mais propensos a promover internacionalmente direitos
humanos civis e políticos, chamados de direitos de primeira geração, historicamente
associados a uma visão Ocidental e liberal dos direitos humanos.
Para além disso, existe o excepcionalismo estadunidense na forma de “maneiras pelas quais
os EUA se isentam de certas regras do direito internacional e acordos (...) através de técnicas
como não cumprimento; não ratificação; ratificação com reservas” (KOH 2003:1482). Nesse
sentido, entraria a categoria de “compliance without ratification”. Segundo o Escritório do
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR), os EUA são
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
241
signatários de 9 dos 18 acordos internacionais principais relacionados aos direitos humanos,
tendo ratificado apenas 5.
Foram assinados e ratificados pelos Estados Unidos apenas a Convenção contra a Tortura e
Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, o Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos, e a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Racial, junto com os protocolos facultativos da Convenção sobre os
Direitos da Criança relativo ao envolvimento de crianças em conflitos armados e o relativo à
venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil. Para além dessa questão, de
todos os tratados assinados pelos EUA, nenhum deles foi ratificado incondicionalmente
(HASNAIN et al 2012).
Em relação a assinatura, mesmo que sem ratificação, os EUA 2 aparecem com a mesma
quantidade de tratados assinados que a China, o Sudão e o Zimbábue, países que enfrentam
constantemente denúncias sobre violações dos direitos humanos civis e políticos a nível
internacional3. A Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Preconceito Contra as
Mulheres e a Convenção dos Direitos da Criança são os dois tratados mais problemáticos.
Dois dos principais argumentos a favor da não ratificação desses tratados seriam: 1) o de que
as leis federais e estaduais dos EUA já protegem os direitos explicitados por tais tratados, e 2)
o de que os EUA não deveriam ceder soberania se submetendo ao monitoramento de
instrumentos internacionais de direitos humanos (WHELAN 2003).
Kagan (2003) afirma que os interesses geopolíticos e estratégicos seriam as variáveis que
determinam que os estadunidenses dariam menos importância para a defesa do
multilateralismo como um princípio que governa o comportamento das nações. A não
ratificação de tratados parece indicar uma atitude dos EUA em relação aos direitos humanos
em geral “que revela uma tensão entre a autoimagem da América como defensora dos direitos
humanos e sua relutância em reconhecer, até retoricamente, a legitimidade de direitos
humanos internacionalmente reconhecidos e codificados” (WHELAN, 2003:42).
Por mais que os EUA busquem se colocar como um país que cumpre as normas internacionais,
mesmo que não tenham oficialmente ratificado-as, não se pode desprezar a importância de se
submeter às leis. Esse tipo de comportamento implica que os estadunidenses acreditam que as
regras que se aplicam ao resto do mundo não necessariamente devem ser aplicadas da mesma
2 Fonte: OHCHR <http://indicators.ohchr.org/>. Acesso em maio de 2018.
3 Mais em Anistia Internacional <https://www.amnesty.org/en/countries/africa/zimbabwe/>,
<https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/china/> e
<https://www.amnesty.org/en/countries/africa/sudan/>. Acesso em maio de 2018.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
242
forma (ou sequer serem aplicadas) a eles. Tal postura seria prejudicial para o regime
multilateral de direitos humanos como um todo, já que segundo Ignatieff (2005:6), “permitir
que um Estado escolha como adere a um princípio central ameaça esvaziar convenções
internacionais de seu status universal”.
Uma outra questão é que os EUA também apoiaram regimes repressivos, como Pinochet no
Chile, Suharto na Indonésia, e em outros países como Arábia Saudita, Egito e Marrocos.
Além disso, o país foi acusado de violações (como o uso da pena de morte e de tortura), de
passar por cima da Carta das Nações Unidas para levar a cabo intervenções militares
unilaterais, de ter um histórico de problemas com o Tribunal Penal Internacional, de não ter
ratificado tratados importantes e de ignorar muitas críticas feitas por mecanismos multilaterais
em relação ao seu comportamento para com os direitos humanos domesticamente (WHELAN,
2003; IGNATIEF, 2005).
Nesse sentido, existe o caso do double standard, que pode se manifestar tanto em relação aos
aliados dos EUA, quanto às violações cometidas pelo próprio país. Huntington (1999) afirma
que durante a Guerra Fria, o Ocidente, particularmente os EUA, foi confrontado com o
problema dos “tiranos amigos”. Tais tiranos nada mais eram do que ditadores repressivos, que
também cometiam violações de direitos humanos, mas que eram vistos pelo Ocidente como
parceiros úteis por serem anticomunistas, e por estarem mais suscetíveis às influências
externas ocidentais. Assim, surge o padrão de “dois pesos, duas medidas”, ou double standard,
no que tange o relacionamento dos EUA com seus aliados e com seus inimigos.
Kagan (2003:4) afirma: “Americanos geralmente veem o mundo dividido entre bom e mau,
entre amigos e inimigos”. Assim, os EUA se mostram bastante tolerantes em relação às
violações de direitos humanos cometidas por seus aliados políticos, enquanto condenam
aquelas perpetradas pelos seus inimigos, que são quase sempre Estados que não fazem parte
da civilização Ocidental e que são tratados como párias no sistema internacional. Assim foi o
caso dos países do chamado “Eixo do Mal” - que incluía Iraque, Irã e Coreia do Norte -
apontados por George W. Bush quando presidente, e vistos como inimigos não apenas dos
EUA, mas de toda a civilização Ocidental (KOH 2003, 1492).
Em relação as próprias violações estadunidenses, Koh (2003) cita a era pós-11 de Setembro
como uma época propícia para o uso do double standard. Sob o argumento de que a “Guerra
contra o Terror” liderada pelos EUA garantiria ao país o direito de utilizar métodos não
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
243
aceitos pelos padrões internacionais de direitos humanos, inúmeras denúncias de violações
foram ignoradas pelas autoridades estadunidenses4.
Como entendeu Whelan (2003:37): “A ideia de que os EUA são diferentes, únicos ou
especiais quando se trata da promoção de ideais políticos (...) está no cerne das muitas
contradições entre os padrões internacionais de direitos humanos e a própria visão dos EUA
sobre o significado desses ideais e como eles são melhor implementados”. E, principalmente,
“o excepcionalismo americano contribui para o forte contraste entre a retórica americana, e
sua política e prática sobre o avanço dos direitos humanos e da democracia no exterior”
(WHELAN 2003, 38).
A prática do double standard propaga a ideia de que os EUA seriam um país hipócrita em
relação ao regime internacional de direitos humanos, o que poderia acarretar diversos
problemas, não apenas para o país, como para o regime multilateral de direitos humanos como
um todo, ou como Koh (2003) coloca:
This appearance of hypocrisy undercuts America's ability to pursue an
affirmative human rights agenda (…) the perception that the United States
applies one standard to the world and another to itself sharply weakens
America's claim to lead globally through moral authority. This diminishes
U.S. power to persuade through principle (...) By opposing the global rules,
the United States can end up undermining the legitimacy of the rules
themselves, not just modifying them to suit America's purposes (KOH 2003,
1487).
Conclusão
Os EUA sempre estiveram diretamente ligados a promoção dos direitos humanos a nível
internacional, seja pela sua posição de liderança na criação da Organização das Nações
Unidas (1945) e no rascunho da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), no apoio
(inclusive financeiro) a diversas organizações não-governamentais de direitos humanos ao
redor do mundo, ou na oposição política a “tiranos” como Hussein e Milosevic (IGNATIEFF
2005).
Apesar dessa imagem, os estadunidenses são constantemente acusados de carregar um
comportamento de double standard no sistema internacional no que tange os direitos
humanos. Existem duas variáveis nessas acusações, e a primeira diz respeito ao uso, por parte
4 Mais em Anistia Internacional <https://www.amnesty.org/en/countries/americas/united-states-of-
america/report-united-states-of-america/> Acesso em maio de 2018.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
244
dos EUA, da retórica dos direitos humanos para avançar com interesses estratégicos e
políticos em diversas regiões do mundo.
Whelan (2003) afirma que o 11 de Setembro causou uma mudança brusca na política externa
estadunidense, que foi de uma veia isolacionista para uma vertente unilateral, com uma
retórica agressiva e altamente baseada no hard power, deixando de lado temas como os
direitos humanos. Quando os direitos humanos de fato apareceram, foram para apoiar a causa
do governo e dar respaldo para as suas ações militares, atuando como retórica instrumental
para avançar os interesses hard da Doutrina Bush. Um exemplo claro do uso da retórica dos
direitos humanos para avançar interesses estratégicos e políticos dos EUA foi o uso de
denúncias de violações como argumento para respaldar ações militares do país tanto contra o
Talibã, como contra Saddam Hussein (WHELAN 2003).
Para além do uso da retórica dos direitos humanos para avançar com interesses políticos
contra seus inimigos, existe a segunda variável das acusações de double standard que pesam
sobre os EUA, e essa diz respeito às violações de direitos humanos praticadas pelo próprio
país, e se encontram diretamente ligadas à noção de excepcionalismo estadunidense
introduzida neste trabalho.
Ignatieff (2005) reforça que “desde o ataque de 11 de Setembro, [os EUA] foram acusados de
violar as Convenções de Genebra, bem como a Convenção contra a Tortura no seu tratamento
de prisioneiros em Guantánamo, Abu Ghraib e outros centros de detenção”. O caso é um
exemplo do que o autor chama de “exemptionalism” estadunidense: as autoridades afirmavam
que as condições de detenção nas prisões estavam de acordo com os padrões do direito
internacional, mas que os métodos de interrogatório e outras questões procedimentais seriam
definidas por ordens do presidente.
Para além disso, existe a questão do Tribunal Penal Internacional. Pelo menos 121 países são
signatários no Estatuto de Roma que implementa o TPI, e enquanto os EUA não têm
problemas em atacar o Irã, a Coreia do Norte, o Sudão, e a Síria, o governo do país insiste que
seus cidadãos não podem ser levados a julgamento no Tribunal (HASNAIN et al 2012).
Portanto, é possível concluir que os EUA promoveram padrões de normas e práticas de
direitos humanos em outros lugares, ignorando-os em casa, ou segundo Ignatieff (2012 apud
Hasnain et al, 2012) “nenhum país trabalhou mais para garantir que a lei que procura para os
outros não se aplica a si mesmo”.
A questão é que, como Hasnain et al (2012) afirmam:
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
245
We have shown that America is an extreme negative outlier on a broad range
of indicators, including expressions of civil and political rights, as well as
social and economic rights, and adherence to global human rights standards.
It lags behind on indicators of environmental security. While it huffs and
puffs, depicting other countries as ornery, derelict, and delinquent, the U.S.
itself has no reason to be smug, or as it is often said, exceptional (HASNAIN
et al 2012:336)5.
O ponto central é que os EUA, portanto, não podem ser um exemplo para o resto do mundo
quando o assunto é direitos humanos, e que por conta disso, devem deixar a comunidade
internacional tratar dessas questões, especialmente no que diz respeito à avaliação de
violações. Isso inclui confiar mais nos organismos multilaterais e também em atores não
estatais, como por exemplo, organizações não-governamentais focadas em direitos humanos
(HASNAIN 2012).
Nesse sentido, Schmitz (2010) acredita que as ONGs são peças fundamentais para as redes
transnacionais de direitos humanos, aquelas que representam “uma forma de ação coletiva
transfronteiriça criada para promover o cumprimento de normas universalmente aceitas” e que
responsabilizam os governos, expondo as lacunas entre seus compromissos internacionais, e
sua conduta doméstica.
Mais do que isso, o trabalho de naming and shaming que tais organizações fazem torna-se
uma variável fundamental também para que os EUA sejam responsabilizados pelas suas
próprias violações, e para que o excepcionalismo não continue a ser uma justificativa para tal
comportamento. É através dessa estratégia que os crimes cometidos no programa de detenção
secreta operado pela CIA continuam sendo denunciados, as pessoas em detenção militar
indefinida na Baía de Guantánamo têm suas histórias contadas, o uso da força pela polícia
ganha visibilidade internacional e cobranças sobre a ratificação da Convenção sobre os
Direitos da Criança e da CEDAW podem ser feitas (AMNESTY INTERNATIONAL, 2017).
Finalmente, o trabalho das organizações não-governamentais como atores não estatais que
colaboram para a accountability no regime multilateral de direitos humanos, em conjunto com
organismos internacionais, como as Nações Unidas, que contribuem para o monitoramento
dos países em relação aos padrões estabelecidos pelo direito internacional, pode ser um
primeiro passo em direção a uma política externa dos EUA mais responsável e menos
“excepcional”.
5 Mais sobre o método usado pelos autores no artigo HASNAIN, Assem; KING, Josh; BLAU, Judith. 2012.
“American Exceptionalism—On What End of the Continuum?” Societies Without Borders, Volume 7, issue
3:326-340.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
246
Bibliografia
AMNESTY INTERNATIONAL. Country profile: United States. Disponível em <
https://www.amnesty.org/en/countries/americas/united-states-of-america/report-united-states-
of-america/> Acesso em maio de 2018.
AMNESTY INTERNATIONAL. Country profile: Zimbabwe. Disponível em
<https://www.amnesty.org/en/countries/africa/zimbabwe/> Acesso em maio de 2018.
AMNESTY INTERNATIONAL. Country profile: China. Disponível em <
<https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/china/> Acesso em maio de 2018.
AMNESTY INTERNATIONAL. Country profile: Sudan. Disponível em <
<https://www.amnesty.org/en/countries/africa/sudan/>. Acesso em maio de 2018.
CHOMSKY, Noam. 2015. “American Exceptionalism: Some Current Case Studies”.
RARITAN – A Quarterly Review, volume 35, number 4:1-10.
HASNAIN, Assem; KING, Josh; BLAU, Judith. 2012. “American Exceptionalism”—On
What End of the Continuum?” Societies Without Borders, Volume 7, issue 3:326-340.
HUNTINGTON, Samuel P. 1993. “The Clash of Civilizations?” Foreign Affairs, Volume 72,
number 3:22-49.
HUNTINGTON, Samuel P. 1999. O Choque das Civilizações e a Mudança na Ordem
Mundial. Lisboa: Gradiva.
KAGAN, Robert. 2003. Of Paradise and Power: America and Europe in the New World
Order. Alfred A. Knopf: New York.
KECK, Margaret E; SIKKINK, Kathryn. 1998. Activists Beyond Borders – Advocacy
Networks in International Politics. Cornell University Press.
KOH, Harold Hongju. 2003. “On American Exceptionalism”. Yale Law School Legal
Scholarship Repository – Faculty Scholarship Series, paper 1773.
MILANI, C.R.S. 2011. “Atores e Agendas no Campo da Política Externa Brasileira de
Direitos Humanos”. In: PINHEIRO, Leticia; MILANI, Carlos R.S. 2011. Política Externa
Brasileira: a Política das Práticas e as Práticas da Política. Editora FGV:33-70.
OHCHR. Disponível em <http://indicators.ohchr.org/>. Acesso em maio de 2018.
RUVALCABA, Daniel Efrén Morales. 2013. “En las entrañas de los BRIC: análisis de la
naturaleza semiperiférica de Brasil, Rusia, India y China”. Austral: Revista Brasileira de
Estratégia e Relações Internacionais, v.2, n.4:147-181.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
247
SCHMITZ, Hans Peter. 2010. “Transnational Human Rights Networks: Significance and
Challenges”. In: DENEMARK, Robert A. 2010. The International Studies Encyclopedia,
Wiley-Blackwell.
WALLERSTEIN, Immanuel. 2004. Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos: un
análisis de sistemas-mundo. Madrid: Akal.
WHELAN, Daniel J. 2003. “Beyond the Black Heart: The United States and Human Rights”.
Human Rights & Human Welfare:35-56.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
248
Refúgio enquanto ideologia: estudo marxiano do abstrato concreto
Paulo César Limongi
INTRODUÇÃO
O refúgio enquanto categoria contemporânea se formaliza a partir de 1951, com a
Convenção das Nações Unidas Relativa aos Estatuto dos Refugiados, feita em Genebra. Desde tal
momento, o refúgio passa a permear a imaginação política dos diversos atores internacionais e
nacionais, sendo internalizada nos mais diversos ordenamentos jurídicos. Em um primeiro
momento, pensado para atender as demandas das vítimas dos eventos ocorridos na Europa durante
a primeira e a segunda guerra; passando à formas mais complexas com o protocolo de 1967,
declaração de cartagena e aplicações mais específicas da categoria como as dadas pela União
Africana.
Para além da complexificação do texto legal, o refúgio teve uma multiplicação de suas
formas no pós-guerra e maior distanciamento dos ditos imigrantes econômico numa tentativa de
captar a realidade concreta do próprio fenômeno (MOULIN, 2012). Contudo, o formato de forte
generalização e abstração sempre estiveram presente desde sua concepção. Por isso, o objetivo
deste trabalho é compreender o refúgio enquanto ideologia, ou seja, compreender como experiência
do autor ao tentar retratar uma dada interação social que ocorre num dado ambiente (em um dado
momento da divisão social do trabalho). Com segundo objetivo, auxiliar, ao primeiro, veremos
com tal conceito está separado de sua base real, separado desse ambiente e dessas relações,
funcionando a partir de si próprio (chamado de cabeça para baixo).
Faremos isso a partir de relatos feitos por refugiado sobre sua vida social; veremos que o
trabalho aparece com maior proeminência que as demais necessidades. Também é possível notar
que os próprios refugiados pedem políticas públicas de maior qualidade no que tange a proteção
do migrante no trabalho. Porém, antes desse momento, faremos uma discussão mais aprofundada
sobre o significado de ideologia e sobre como essa ideologia é incorporada pelo aparelho estatal
permitindo a replicação desse modo para o próprio refugiado.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
249
Ideologia em Karl Marx e Dorothy Smith
Karl Marx (2001) nos informa que cada sociedade possui uma divisão do trabalho própria
que simboliza o desenvolvimento de suas forças de produção. Cada divisão maior leva,
necessariamente, a subdivisões acompanhadas por interesses diversos dentro da esfera social.
Portanto, a esfera intelectual acompanha essa divisão. Para Marx (2001:19), a primeira coisa feita
pelo homem é a alteração de seu ambiente, a partir de relações sociais das mais diversas, por isso
todo conhecimento de tais relações sociais estão associadas, insuperavelmente, a capacidade
humana de alterar ou manter tal ambiente. O estudo social, a sociologia, é uma prática que nasce a
partir da experiência do ator social, de sua perspectiva (SMITH, 1990, 31).
Desse modo, não é exagero dizer que as ideias humanas aparecem diretamente ligadas ao
seu comportamento material, ao passo que esse é o ambiente em que estão presentes. Com a
formação de novas necessidades, devido a novas forças produtivas, são experimentados outros
meios sociais em que o indivíduo é capaz de novas formas de interação. A história é um contínuo
de modificações e aprimoramentos nas forças de produção deixadas pelas gerações antecessoras,
tal modificação é sempre acompanhada de uma modificação das ideias. Para compreender um
conceito, nesses termos, é necessário olhar o meio no qual está inscrito e não apenas ele em si, pois,
caso contrário, pode-se cair no erro de examinar algo sem sua base de suporte, sua base material
(MARX, 2001, p. 55).
O conceito está sempre ligado a uma experiência vivida que vai de encontro ao ambiente
em que foi produzido. A sociologia, ao contrário, investiga a ideia apenas, eliminando
progressivamente a forma subjetiva, deixando apenas um conjunto de palavras que funcionam
independente das formas humanas que a produziram (SMITH, 1990: 52). Por outro lado, essa
forma de produção de conhecimento dentro da sociologia gera reflexos complexos dentro da
própria sociedade. Para um maior esclarecimento, pode-se fazer uma metáfora com a própria
mercadoria. Nesse sentido, o trabalhador produz algo que é estranho a si que não lhe pertence, mas
que se perde no processo de produção (MARX, 1848) (MARX, 2015). O conceito, então, é
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
250
produzido por um indivíduo e quase que imediatamente após é desligado de seu criador, tornando-
se funcional por si próprio.
A ideologia, posta desse modo, está de cabeça para baixo, ou seja, entende-se que os
conceitos mudam a realidade social fazendo com que nasça um proletário, por exemplo, a partir do
momento em que se conceitua sobre esse. Todavia, em nosso entendimento, o contrário acontece.
É a realidade social que dita as cores para se formar os conceitos que são obtidos a partir da
observação das relações sociais inscritas em um meio específico. Portanto nosso objetivo de
compreender que o conceito de refúgio foi cunhado ao se observar um fenômeno específico parece
mais contundente.
Partiremos, dessa forma de conceituação para um estudo mais aprofundado do próprio
refúgio. Porém, alçamos, a priori, um segundo objetivo, auxiliar ao primeiro. Tal seria que o refúgio
é um conceito que está de cabeça para baixo e, ao ser universalizado, perde sua base social que está
em acordo com as sociedades das quais são aplicadas. Veremos ao final do texto, quatro relatos de
refugiados, nos quais podemos ver como funciona a lógica do trabalho (a base real do conceito,
seu meio) que é desconsiderado totalmente pela Convenção de 1951.
Liisa Malkki (1995) é responsável por localizar o conceito do refúgio dentro de em um
ambiente específico numa forma dada da divisão social do trabalho que é a europeia do século XX,
mais precisamente no pós-guerra. Para autora, empreender uma tentativa de compreensão do
refúgio sem considerar o contexto de criação do próprio conceito é constituir um falso estudo sobre
o tema. Vale dizer também que o refúgio nasce, também, a partir de técnicas de controle de massa
de deslocados que se padronizaram e tornaram-se uma forma globalizada. O campo de refugiados
foi uma inovação tecnológica do período que permitiu administrar esses deslocados, dando forma
de disciplina e tratamento dessas pessoas. É nesse contexto que nasce o refugiado.
Instead of constructing such false continuities (41:146), we might do better to
locate historical moments of reconfiguration at which whole new objects can
appear. In the genealogy of "the refugee," one such moment can be located in post-
World War Europe. There is a danger of Eurocentrism in looking for the global
figure of the refugee in postwar Europe; yet, there are also justifications for this
specific localization. As far as has been possible to determine, it is in the Europe
emerging from World War, that certain key techniques for managing mass
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
251
displacements of people first became standardized and then globalized (MALKKI,
1995: 498).
Todavia, o campo também possui suas características próprias (MALKKI, 1995). A
primeira, primordial, é a de que esse campo nasce a partir dos campos militares do exército os quais
possuem uma logística específica que permite manter isoladas, em quarentena, um número muito
alto de pessoas e mobilizar recursos como comida e medicamentos de maneira mais rápida. Por
outro lado, torna-se de primeira um campo militar significa também ter uma disciplina e impor tal
aos presentes em tal campo. Essa maneira improvisada se levou desde da questão militar até sua
transição para um mandato da ONU, sob a Convenção de 1951 que versa sobre as conceituações
do refúgio e sobre quem é responsável por tal.
Outra característica a ser levantada sob esse nascimento é sobre o isolamento. Tal forma de
quarentena permitiu tanto o nascimento do especialista, uma vez que o agrupamento dessas pessoas
facilitou o estudo sobre as mesmas; e, também, permitiu a forma padrão para documentação para
que se pudesse identificar tais pessoas na condição de refugiadas. Desde sua concepção até os dias
atuais, a categoria refúgio sobre sensíveis modificações, todavia a universalização, a ausência da
divisão do trabalho, e a constituição do refugiado como problema a ser resolvido ainda continuam
sendo suas principais características.
Caroline Moulin, em seu texto “A Construção Social do Refugiado”, esboça quais
caracterizações são atribuídas a um refugiado. De acordo com a autora, o refugiado é visto como
um problema que deveria ser rapidamente resolvido, um possível desestabilizador, um sinal de
urgência (2012, p. 24). Tal conjunto de atribuições ganha sua concretização no momento pós-
guerra, uma vez que a responsabilidade do refugiado é transferida do âmbito da comunidade
internacional para o âmbito exclusivo do Estado-nação (Ibidem, p. 28). Somando-se a essa
transferência, O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), nesta
mesma chave de entendimento da urgência-problema, desenvolveu uma forma de ação singular
pouco explorada até então.
Os fluxos migratórios e os deslocados internos transformaram-se em objetos de tratamento
de forma a mitigar eventuais crises — novamente a um distanciamento entre o imigrante e o
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
252
refugiado. Formas de solução práticas são as ditas intervenções humanitárias nos países em
conflito, o próprio deslocamento interno, seguidos sempre de uma repatriação imposta (Ibidem, p.
28). Tais medidas tornam se mais comuns ao passo que ocorre a proliferação de novas categorias
ad hoc.
O principal objetivo é evitar qualquer possibilidade de que se surja algum foco de criação
de refugiados, assim sempre mantendo os territórios e suas fronteiras. Dessa maneira, os campos
de refúgio dentro dos países ganharam um forte apoio, ao evitarem que o refugiado exerça sua
função desestabilizadora dentro de seus host countries. Conclui-se que a imagem do refugiado foi
securitizada, tornou-se uma ameaça às fronteiras e estabilidade territorial de forma generalizada
(Ibidem, 29).
O refugiado é uma categoria à parte da sociedade civil, uma vez que apesar de sua tutela
ser garantida pelo Estado-nação (ou assim deveria), o refugiado não pode impor sua própria
vontade, acessar as funções básicas do cidadão (educação, saúde, emprego e os direitos básicos de
voto). O exemplo da situação do refugiados no Cairo é uma das mais emblemáticas, nesse sentido.
Em tal local, os refugiados oriundos da Somália sofreram um abandono generalizado tanto
da ACNUR como do próprio governo egípcio (Al-SHARMANI, 2004, p.72). Devido ao grande
fluxo de imigrações para o país devido a guerra civil, o pequeno escritório da ACNUR na cidade
sofreu com aumento de demanda, causando arbitrariedade no julgamento do processo de vários
potenciais refugiados; ademais, a ACNUR, por esse mesmo motivo, revogou o título de refugiado
concebido a várias pessoas, s endo delegadas funções de trabalho precárias e sem qualquer proteção
de leis trabalhistas.
Até aqui analisamos como funciona a ideologia enquanto prática da experiência de produzir
conceitos a partir de uma captura de um dado conjunto de relações sociais inscritas em um meio
específico. Compreendemos esse método e aplicamos ao conceito do próprio refúgio, buscamos
sua primeira conceituação e sua evolução. Vimos, por último, brevemente como esse conceito
operou no caso do Cairo e como esse caso demonstrou ser emblemático por sinalizar possíveis
problemas dentro do próprio conceito como ausência de sua conceituação sobre a divisão do
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
253
trabalho. Nesse momento, veremos como tal ideologia é cristalizada na categoria e como essa
categoria é levada a cabo pelas instituições dentro do Brasil
A ideologia e sua incorporação na esfera da burocracia
Iniciaremos essa seção demonstrando como ocorre que a ideologia localizada no contexto
europeu, torna-se cristalizada no caso brasileiro. É o sociólogo Pierre Bourdieu o qual promove um
debate interessante sobre a auto-bibliografia para concepção do indivíduo na escrita moderna. A
história, nessa forma de escrever, é organizada seguindo um telos, um objetivo final que é pensado
e orquestrado pela narrador. Tal forma de romance faz surgir uma filosofia da existência que se
orienta no sentido coerente e totalizante da vida (BOURDIEU, 2006, p. 2).
Essas instituições totalizantes do eu são como unificações de sua identidade por meio de
um nome que vem a compor suas experiências e no qual a reprodução desse nome (principalmente
sobre a forma de uma assinatura) invoca tal história. No caso do refúgio, ao assinar o formulário,
ele reúne vários momentos de sua vida de modo a se encaixar tanto num grupo social que sofre
grave e generalizada violação dos direitos humanos ou fundado temor individualizado de
perseguição — nosso telos é a abstração refugiado.
Caso possamos considerar apenas o segundo desses termos pelo qual consideramos alguém
como Refugiado, mais famoso e abertamente aceito pela maioria dos países, fica claro uma
aparente ausência da sociedade, dos acidentes. O que vale, nesse caso, é a individualidade da
perseguição e, caso não se encontre aos olhos do leitor, mesmo que seja provado uma possibilidade
de perseguição generalizada, não poderia ser considerada refúgio. Visto que a assinatura (no
sentido de totalização do eu) e a organização dos fatos ocorridos representam fatos mais
importantes para concessão/reconhecimento do status de refúgio, vamos nos aprofundar sobre a
forma que ambas assumem — o formulário. Ademais, iremos considerar as entrevistas
(credibilidade interna e externa) em nossa análise.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
254
O formulário e o restante do processo foram instituídos na Lei nº 9.474/1997, cerca de
quarenta e seis anos após a adesão do Brasil na Convenção de 1951. Inicialmente disponível apenas
em português, o formulário adquiriu cerca de 5 traduções e, em momento atual, possui um total de
26 páginas. Dessas 26 páginas, as três primeiras contêm instruções gerais de como preencher o
formulário, a partir da quarta é possível o preenchimento de uma série de informações como nome,
religião, país de origem e, até mesmo, um campo para revelar quais familiares viviam com o
solicitante (parte fundamental para concessão de vistos de reunião familiar, caso seja concedido o
status de refugiado).
As próximas páginas focam na educação e na formação profissional, com campos muito
curtos e sem possibilidades para formas mais detalhadas. Colado a esse campo, são perguntas
breves sobre o serviço militar que possuem um espaço considerável para descrever a experiência,
caso possível.
Logo após, uma outra série de perguntas sobre a viagem — apenas para se compreender as
condições de chegada ao país e o uso ou não de documentos falsos, esse detalhe será importante
no decorrer do texto. Outra série de perguntas sobre maternidade e parentesco no Brasil vão até a
página 14. Após essa, da 15 a 20, são as perguntas que realmente podem ou não conceder a esse
indivíduo o status de refugiado. Nesse sentido, o item 10 é o mais importante no qual são reveladas
as motivações pelas quais o indivíduo é forçado a deixar seu país. Logo após esse item, perguntas
menores tentam encaixar a experiência do indivíduo em algum dos critérios elencados pela
Declaração de 1951 (raça, religião, grupo social, opinião política e nacionalidade) ou da Declaração
de Cartagena (grave e generalizada violação dos direitos humanos).
Anexado ao formulário, encontram-se informações no que se refere o que é o refúgio.
Depois do preenchimento do extenso formulário e sua entrega na polícia federal1, o agora
solicitante de refúgio recebe um breve documento sinalizando que está em processo de
1 Não se pretende negar as categorias do refúgio e de sua importância como meio de organizar a realidade
social. Todavia: “most importantly, we need to explicitly engage with the politics of bouding, that is to say, the process
by which categories are constructed, the purpose that they serve and their consequences (CRAWLEY E SKLEPARIS,
2017, p.60)
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
255
reconhecimento do status e, a partir desse, pode obter todos os documentos para fins desde abertura
de uma conta bancária, até obtenção da carteira de trabalho. Nesse texto, não entraremos nas
críticas feitas a esse documento, no qual permite desconfianças das instituições sociais devido ao
fato de ser apenas uma folha de papel A4, que não pode ser plastificada, contendo informações
básicas sobre a pessoa, logo é de extrema vulnerabilidade. Todavia, compreender como a pessoa
que, em momento anterior, possuía uma identificação básica (como Registro Geral, no caso Brasil)
passa a contar com uma outra forma de assinatura e totalização do eu (o documento sobre a
solicitação do refúgio).
Esse último, torna-se a carta de apresentação a qualquer instituição brasileira, identificando
o ser como refugiado e apenas isso 2. Para a sociedade, o indivíduo agora é reconhecido,
necessariamente, pela condição que está atribuída ao documento. Após esse momento, o solicitante
é convidado a realizar uma entrevista prévia nos órgãos de acolhida humanitária para que possam
elaborar um relatório favorável ou não a concessão da condição de refúgio e enviar ao Comitê
Nacional para os Refugiados (CONARE). Seguido, teoricamente, é uma entrevista realizada pelo
CONARE, de modo individualizado para que possam buscar uma possível cronologia dos fatos
narrados, nexos causais entre a estória contada pelo solicitante e a História do país de origem
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2018, p. 5).
Para essas duas histórias, de acordo como o Manual de Procedimentos e Critérios para a
Determinação da Condição de Refugiado do ACNUR (documento chave nos pareceres do
CONARE)3, a noção de credibilidade torna-se vital. Para essa última, que se forma a partir de
fatores subjetivos e objetivos — o primeiro representa a estória do próprio ser, enquanto a segunda
representa a história do país de facto.
“Dada a importância que a definição atribui ao elemento subjetivo, uma avaliação
da credibilidade das declarações é indispensável quando o caso não for
suficientemente claro a partir dos fatos já registrados. Deve-se considerar os
2 Para conferir o formulário na íntegra, acesse: http://www.justica.gov.br/central-de-
atendimento/estrangeiros/anexos/formulario-de-solicitacao-de-refugio-portugues.pdf. último acesso 13/05/2018
3 Pode ser encontrado no seguinte endereço eletrônico:
http://www.acnur.org/fileadmin/scripts/doc.php?file=fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2013/Manual_de
_procedimentos_e_criterios_para_a_determinacao_da_condicao_de_refugiado. Último acesso 25/06/2018.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
256
antecedentes pessoais e familiares do solicitante, a sua relação com certo grupo
racial, religioso, nacional, social ou político, a sua própria interpretação da
situação e a sua experiência pessoal – por outras palavras, tudo o que possa indicar
que o motivo determinante para o seu pedido é o temor, que deve ser razoável [...]
No entanto, as declarações do solicitante não podem ser consideradas em abstrato,
devendo ser analisadas no contexto da situação concreta e dos antecedentes
relevantes. Um conhecimento das condições objetivas do país de origem do
solicitante – ainda que não seja um objetivo em si mesmo – é um elemento
importante para a verificação da credibilidade das declarações prestadas”
(MANUAL DE PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA A
DETERMINAÇÃO DA CONDIÇÃO DE REFUGIADO, 2013, p. 21).
Essa narração da história sobre uma cronologia dos fatos simplificada de modo a favorecer
um telos (o efetivo e fundado temor individualizado de perseguição dividido necessariamente entre
fatos objetivos e subjetivos) dá um novo significado ao eu, reorganiza sua história efetiva de modo
que ignora, ou assim tenta fazer, qualquer transposição de fronteiras com as demais categorias
(imigrante econômico, imigrante ambiental). É, nesse sentindo, que com uma análise sobre os
critérios do CONARE para sua decisão, que é gerado o ser estranho, inventado e confeccionado
artificialmente sob a divisão e classificação de sua história pessoal. A participação desse novo
refugiado sempre se dará por essa condição (o Registro Nacional de Estrangeiro será incumbido da
função).
Essas demarcações demonstram uma funcionalidade especial do Estado que captura o
conceito e forma com ele as chamadas políticas públicas para o refugiado, ocorre uma reprodução
desse próprio sem ao menos considerar as divisões e formações internas, contribuindo para uma
distância entre como o refugiado se coloca na sociedade contemporânea e local para uma visão do
refugiado a partir da lei nº 9.4744. Portanto, as instituições funcionam e reproduzem essa ideologia
para além de suas vicissitudes locais, contribuindo para uma invisibilidade social do próprio
refúgio.
Como veremos na próxima seção, essa forma de se conceber refúgio operacionalizada para
o Estado, mas deixa de conceber a própria divisão do trabalho na qual o imigrante forçado--visto
4 Como informa Polzer (2008, p.477): The process of categorizing people into groups, by emphasizing certain
characteristics over others and by drawing boundaries, inevitably makes particular people ‘invisible’. This applies to
a wide range of contexts in which categorization takes place, from bureaucratic labelling, to the operationalization of
academic concepts through the categorization of research subjects, to the construction of social groups within a
community.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
257
como parte fora dessa divisão-- faz parte integral. Assim, a hipótese central de Polzer (2008) de
que a regulamentação invisibiliza a real situação do refugiado torna-se central para nosso
entendimento. A seguir continuaremos a compreender como regularização leva a consequência,
principalmente, para o campo do trabalho.
In the first and last case studies, the static categorization was not interested in
capturing the changing legal, social and identity conditions of the targeted group
as a whole, preferring to apply the category only to those individuals who retained
the stereotypical (vulnerable and needy) characteristics of the category (POLZER,
2008, p. 478).
A primeira consequência, principalmente, em um plano que envolve a maioria dos países
são as imposições de separação entre os imigrantes econômicos e os refugiados. Pode-se
argumentar que rígidas fronteiras foram erguidas entre essas categorias que confinam o refugiado
a necessidade de cuidado somado a impossibilidade de conseguir um posto trabalho, ao passo que
imigrante econômico seria confinado apenas à esfera da exploração (MEZZANDRA E NEILSON,
2013, p.19). Essas fronteiras são responsáveis por ajustar e controlar as necessidades sobre o
trabalho das economias a partir de artifícios como campos. Entende-se que tais fronteiras são
flexíveis à medida que o capitalismo se produz numa forma de multiplicação dessas, permitindo
diferentes graus de assimilação e contato. Portanto, a volatilidade entre tais fronteiras depende do
sistema econômico dos quais estão inseridas.
The labor market, for instance, remains nationally bounded and migration answers to its
established modes of differentiation rather than unsettling them by introducing new
temporal, internal and transnational borders that cut between and across limits
(MEZZANDRA E NEILSON, 2013, p. 172).
Hawley e Skleparis, numa análise mais aprofundada com recém-chegados antes que “they
came to realise the need to narrate their stories in a particular way to fit the existing policy and
legal categories” (2017, p.50). É denunciado que, na realidade social, as diferenças entre os
refugiados e imigrantes econômicos são apenas formas super simplificadas da realidade social—
que teria como solução a proliferação de categorias explicativas pelos diversos órgãos
internacionais como aponta Moulin (2012). Por isso, conclui-se que “the categories refugee and
migrant do not simply exist they are made” (Ibidem, p. 52).
Relatos dos refugiados
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
258
Os relatos que tivemos acesso foram feitos pela Pastoral do Migrante e pelo Coletivo Rede
Migração Rio que está disponível em cartilhas distribuídas pelos centros de acolhida humanitária
(tal como a Cáritas do Rio). O primeiro relato que iniciamos com é o de Charly Kongo, um
refugiado que vem da República Democrática do Congo (RDC). A primeira frase de seu texto é
reveladora para o objetivo central deste texto (entender o refúgio enquanto ideologia e compreender
como essa ideologia estaria de “cabeça para baixo”): “o trabalho é o seu pai e a sua mãe (um ditado
da RDC). Essa primeira frase torna-se uma importante fundamentação para iniciarmos o relato,
demonstrando que, a despeito da definição corrente de refúgio, o trabalho tem um ponto central na
vida de um refugiado.
Ao começar o texto, Charly revela os motivos que levaram a deixar o RDC como a guerra,
o medo da morte violenta, e a miséria de país. Ademais, o RDC, em sua visão, não representa uma
democracia, uma vez que o governo central de Kabila se recusa a abandonar o mandato. Depois
dessa introdução, o autor se aprofunda mais na categoria trabalho para o refugiado e revela: “o
trabalho é aquilo que dá condição para cada pessoa se desenvolver. É assim no país onde nasci e é
assim no Brasil [...] Mas o trabalho que queremos é o trabalho digno” (PRESENÇA DOS
REFUGIADOS NO RIO DE JANEIRO, 2017: 12). Isso demonstra duas coisas: (a) a necessidade
que os indivíduos dentro de um sistema capitalista tem de ter emprego, inclusive o refugiado; (b)
que o trabalho para um refugiado não é digno ou carece de maiores discussões acerca do trabalho.
Qual seria então a diferença do trabalho para refugiado e o trabalho para um nacional?
Pode-se obter a seguinte respostas:
“À primeira vista, ninguém é capaz de distinguir um refugiado de um brasileiro. É isso
que faz do Brasil uma grande nação. Ninguém tem como fazer essa distinção pelo olhar.
Mas basta que nos ouçam, que vejam nossos documentos, que descubram de onde viemos,
e então as coisas mudam [...] Pelo fato de que somos estrangeiros, pelo fato de que somos
refugiados e porque somos africanos, porque somos haitianos ou árabes ou colombianos,
ficamos com os trabalhos mais duros, os mais pesados. Nos dão as piores funções e as
piores condições de trabalho. Acham que não temos inteligência ou formação. Mesmo
quando temos currículos melhores que os demais” (PRESENÇA DOS REFUGIADOS
NO RIO DE JANEIRO, 2017: 13).
Ainda essa diferença se apresenta também sob forma de um recorte de gênero. “Para as
mulheres refugiadas, a situação é ainda pior. Se o campo de trabalho para nós refugiados já é tão
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
259
restrito, as refugiadas ficam duplamente discriminadas e percebemos que a maioria delas estão
desempregadas (Ibidem, p. 13). Portanto, percebemos até aqui que, para um refugiado, o trabalho
torna-se de vital importância, veremos a seguir como essas formas de exploração atinge não apenas
refugiados do RDC, porém a uma gama muito maior de refugiados sejam eles da Venezuela
(migrantes econômicos), Haiti ou até mesmo da Síria, sob diferentes raças e idade. Porém, antes
de passarmos ao próximo relato, Charly nos presenteia com uma última reflexão sobre a real
necessidade de um refugiado no que tange ao trabalho que seriam melhores condições de trabalho
e melhores leis trabalhistas para esse grupo social em específico.
“Precisamos de ajuda para que possamos ter trabalhos dignos. Para que as leis nos
permitam trabalhar. Para que não sejamos tratados como escravos. Para que não nos
explore. Apelamos às autoridades brasileiras para que nos permitam exercer nossas
profissões, de acordo com nossa formação. Que nos ajudem na revalidação dos diplomas.
Que nos proporcionem chances de melhor qualificação para o trabalho em cursos de
capacitação” (PRESENÇA DOS REFUGIADOS NO RIO DE JANEIRO, 2017: 13).
O segundo relato, retirado da mesma cartilha, é o de Adel Bakkour que veio da Síria. Não
seria necessário elencar os motivos que levaram o jovem a sair de seu país, uma vez que a Síria é
um país em guerra; todavia, Adel afirma que resolveu sair devido ao serviço militar obrigatório
que se tornou impossível de contornar. Fora esse problema, o próprio conflito em Aleppo foi crucial
para saída do jovem de seu país natal. O autor revela que: “Eu não tinha problemas, nem precisava
trabalhar, só estudava e trabalhava nas férias” (PRESENÇA DOS REFUGIADOS NO RIO DE
JANEIRO, 2017: 6). Essa situação demonstra que antes de vir para o Brasil ou até mesmo antes de
virar um refugiado, Adel não havia adentrado ao mercado de trabalho ainda. Porém, resta nos
questionar como deu essa transição.
“Eu vim com meu irmão para casa da minha irmã, aqui, e eu comecei a trabalhar num
restaurante árabe em Copacabana; eu trabalhei por um ano e três meses, talvez. Na mesma
semana que eu comecei a trabalhar, comecei a aprender português e foi muito difícil. Eu
quis desistir do trabalho porque era muito difícil. Na segunda semana eu tava muito
cansado, não aguentava mais e a minha irmã conversava comigo “não, vai, a vida é assim,
você agora vai ter que segurar” [...] O meu irmão não conseguiu um trabalho, por cinco,
seis meses, e aí ele começou a querer voltar, não se adaptou bem” (PRESENÇA DOS
REFUGIADOS NO RIO DE JANEIRO, 2017: 6).
Vimos como nos informou Charly, exemplificado na fala de Adel, que o destino dos
refugiados parece estar correlacionado com empregos de baixa qualificação e de cargas horárias
extensas de trabalho, chegando ainda a exaustão em pouco tempo. Para o jovem, a necessidade de
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
260
trabalho é um ponto chave para sua estadia no lugar: “Eu quero trabalhar, quero estudar, não quero
ficar dependente de outras condições”.
O terceiro relato, um pouco mais extenso, esclarece as diversas ocupações feitas por um
imigrante da Venezuela. O relato de José Rafael Bolivar começa em Caracas no qual o advogado
exercia sua profissão, depois devido à crise econômica e a re-eleição de Nicolás Maduro resolveu
deixar o país. O primeiro local onde conseguiu seu primeiro emprego foi Altamira onde trabalhou
informalmente de artesãos de trechos, conta que ganhava de “5 a 20 reais por dia” (PRESENÇA
DOS REFUGIADOS NO RIO DE JANEIRO, 2017: 16). O então imigrante revela que “a vida se
transforma numa verdadeira universidade para nós, os migrantes e refugiados” quando comenta
sobre a realidade brasileira e a necessidade de se aprender com essa.
O então imigrante trabalhou de jornaleiro, vendendo água e outras bebidas (nesse último,
deixou por ter medo da fiscalização da prefeitura) até chegar a ser um recepcionista de um Hotel,
no qual:
“Passei também como recepcionista de um hotel onde exploravam todos os imigrantes
que lá trabalhavam pelo simples fato de serem migrantes. Não respeitavam as leis e não
pagavam nenhum tipo de benefício. Ganhava apenas o salário mínimo, sem nenhum
direito garantido pela CLT (PRESENÇA DOS REFUGIADOS NO RIO DE JANEIRO,
2017: 17).
Essa situação mostra como a exploração capitalista acompanha o fato de serem ou não
migrantes. Ademais, demonstra que a categoria do refúgio manteve-se silenciosa sobre a
necessidade de fiscalização e garantia legais de empregos mais dignos para os migrantes que
exercem qualquer espécie de profissão dentro do nosso país. A mobilidade, em nosso país, está
correlacionada diretamente ao trabalho não importa qual sua categoria: “as circunstâncias me
levaram para dentro do Brasil. Depois de uma ano no Amazonas, decidi partir para Região Sudeste
em busca da oportunidade de um emprego formal” (PRESENÇA DOS REFUGIADOS NO RIO
DE JANEIRO, 2017: 18). A título de reafirmação da necessidade de melhores leis como nos
informou Charly no início desses relatos, José completa, ao associar cidadania e emprego. O
imigrante adiciona que o Estado deve se responsabilizar ainda mais pelo imigrante e garantir a
efetividade da lei.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
261
“Acredito que a Cáritas faz um trabalho fundamental há muito tempo com os refugiados
no Brasil e no mundo, porém, eles precisam muito de mais leis e de políticas de migrações
dos governos que garantam cidadania. A gente sente que, tanto nas fronteiras como nas
capitais, não existem infraestruturas de acolhida e apoio para os imigrantes e refugiados
no primeiro momento em que se chega ao país [...] Apesar de todo esforço do governo,
com a aprovação de uma nova Lei de Migração, ainda existe um abismo entre a lei e a
realidade nossa de imigrantes e refugiados, especialmente na acolhida, e não é suficiente
o apoio da Igreja e do ACNUR” (PRESENÇA DOS REFUGIADOS NO RIO DE
JANEIRO, 2017: 18 e 19).
Outro relato um pouco mais breve os três últimos, é do haitiano Jajá que informa sobre a
necessidade de deixar o Haiti, pois é um país de diáspora em que as pessoas saem do país para
viver uma vida digna. O interessante no relato de Jajá é o motivo que ele escolheu vir para o Brasil
o qual já possuía haitianos que conseguiram emprego e que já enviaram remessas a suas famílias.
Isso demonstra a importância de ter emprego para imigrantes saírem de seus países de origem com
esperança de ajudarem suas famílias.
Por que escolhi o Brasil? Gosto muito do país, do seu povo, da sua cultura, do seu esporte,
da sua alegria. Os brasileiros se parecem conosco. Além disso, fiquei sabendo que em
São Paulo havia muitos amigos meus que já estavam trabalhando e enviando remessas a
suas famílias. (PRESENÇA DOS REFUGIADOS NO RIO DE JANEIRO, 2017: 14)
Outra importância no relato dado por Jajá é sua narrativa sobre a trajetória, a efetividade da
rede de contatos, e a importância da igreja para consolidação de sua permanência no Brasil (a
formalização do emprego e da documentação).
Depois de uma viagem longa, sofrida e difícil, cheguei a São Paulo. Gastei tudo o que
tinha para poder chegar e tentei contato com os meus amigos. Sem sucesso. Os números
dos telefones deles haviam mudado e ninguém me dava retorno. Fiquei sozinho, sem saber
o que fazer ou para onde ir. Num primeiro momento, busquei me documentar. Fui
informado sobre uma igreja grande, onde muitos haitianos iam fazer seus documentos e
buscar trabalho (PRESENÇA DOS REFUGIADOS NO RIO DE JANEIRO, 2017: 15).
Conclusão
Após esses breves relatos que foram apresentados, pode-se concluir que o refúgio, enquanto
concebido pela lei 9.474 e pela Convenção de 1951, é uma espécie de ideologia. Isso porque são
experiências de captura de fenômeno baseado tanto em interações sociais com que do meio no qual
essas relações estiveram inseridas. Isso não é, necessariamente, algo de ruim, apenas situamos a
categoria refúgio dentro de seu real significado, mostramos qual a base a qual está atrelada. No
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
262
texto, podemos perceber que a categoria refúgio é incorporada pela burocracia estatal e, dessa
maneira, tem fortes implicações para realidade social a partir de uma reorganização do ser social
pela categoria, garantindo sua reprodução.
Essas implicações vão desde a documentação e identificação desses indivíduos até o acesso
as leis que são permitidas a esses. Viu-se que ao se aplicar a categoria, para além da proteção dada
ao refugiado, pode-se adquirir o preconceito herdada e a visão de problema de urgência que precisa
ser rapidamente tratado ou que, como no caso Cairo, são colocadas em posições degradantes nas
quais são impossibilitadas de se obter emprego formal.
Por último, vimos porque essa categoria está de cabeça para baixo e quais são as
implicações desse comentário. Está de cabeça para baixo, pois, primeiro lugar, não apresenta sua
base na divisão do trabalho, a própria Convenção categoria silencia sobre a possibilidade de
emprego e da proteção do migrante, nesse sentido; vimos, a partir dos relatos, a necessidade de se
obter leis que protejam o trabalho e que possa equiparar o refugiado ao nacional. Em segundo lugar,
pois a categoria que perde de seus autores localizados na Europa e datados do século XX, sob
mandato militar no momento inicial.
Referências
A PRESENÇA DO MIGRANTE NO RIO DE JANEIRO. Rio de Janeiro: Associação Scalabrini, 2017.
Al-Sharmani, Mulki The Somali Refugees in Cairo: Issues of Survival, Culture and Identity. MA Thesis, The
American University in Cairo. Cairo, Egypt, 1998.
CRAWLEY, Heaven; SKLEPARIS, Dimitris. Refugees, migrants, neither, both: categorical fetishism and the
politics of bounding in Europe’s ‘migration crisis’. Journal Of Ethnic And Migration Studies, [s.l.], v. 44, n. 1, p.48-
64, 6 jul. 2017. Informa UK Limited. http://dx.doi.org/10.1080/1369183x.2017.1348224.
SMITH, Dorothy. The conceptual of power: a feminist sociology of knowledge. Toronto: University Of Toronto
Press, 1990
MALKKI, Liisa H.. Refugees and Exile: From "Refugee Studies" to the National Order of
Things. Annual Review Of Anthropology, California, v. 24, n. 1, p.495-519, jan. 1995.
_____________ Purity and Exile: Violence, Memory, and National Cosmology among Hutu Refugees in Tanzania.
Chicago: University of Chicago Press, 1995.
MEHTA, Lyla; GUPTE, Jaideep. Whose Needs are Right? Refugees, Oustees and the Challenges of Rights-Based
Approaches in Forced Migration. Sussex: Development
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
263
Research Centre On Migration, Globalisation And Poverty, 2003
POLZER, T.. Invisible Integration: How Bureaucratic, Academic and Social Categories Obscure Integrated
Refugees. Journal Of Refugee Studies, [s.l.], v. 21, n. 4, p.476-497, 23 nov. 2008. Oxford University Press (OUP).
http://dx.doi.org/10.1093/jrs/fen038.
.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
264
“Por un nuevo órden de las cosas”: a imprensa e o sistema unitário na presidência de
Bernardino Rivadavia (1826).
Juliana da Silva Sabatinelli.1
Resumo: A primeira presidência que procurou organizar o Estado entre as Províncias do Rio
da Prata foi conturbada. Devido a Guerra com Brasil, a necessidade de um exército para
enfrentar as forças do Império, levou o homem que modernizou a cidade de Buenos Aires à
presidência e deu como opção política o sistema unitário de poder. A consolidação desse
sistema ocorreu através da Constituição e da imprensa, principal disseminadora de informações
e ideias desse contexto. Entender o Unitarismo entre as Províncias Unidas do Rio da Prata é
compreender os silêncios historiográficos no Brasil e na Argentina sobre essa facção tão
original de meados do século XIX.
Palavras-chave: Rivadavia, Unitarismo, Guerra com Brasil, Constituição.
A História argentina é um campo pouco conhecido na historiografia brasileira. Nosso
contato com os historiadores e historiadoras portenhos se resume a alguns temas, como a Guerra
da Cisplatina, a Guerra do Paraguai e, em menor escala, o contexto das Ditaduras latino-
americanas. Esse pequeno contato demonstra o quanto precisamos absorver com a
historiografia dos países vizinhos e a importância de um olhar descolado dos grandes centros
de pensamento histórico.
Esse trabalho propõe comentar como as ideias unitárias de poder se consolidaram entre
as províncias que hoje formam a Argentina através da figura política de Bernardino Rivadavia,
o primeiro presidente “argentino”. Embasando esses comentários, entender como a imprensa
foi o principal disseminador das ideias e veículo formador de opinião durante essa presidência
fará com que os reclames do contexto se tornem visíveis.
O governo de Bernardino Rivadavia, que durou cerca de sete meses, marcou os anos de
1826 e 1827 como um período em que as províncias puderam apostar na organização da nação
política, dez anos após a independência definitiva frente à Espanha e dezesseis anos após a
Revolução de Maio. O contexto era a Guerra com Brasil, ou Guerra da Cisplatina na
historiografia brasileira, e a necessidade de um exército para enfrentar as forças do Império, fez
com que o Congresso de 1824 elegesse Rivadavia para tal cargo.
1 Mestranda pelo programa de História Social da Cultura da PUC-Rio.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
265
Bernardino Rivadavia nasceu em Buenos Aires em 20 de maio de 1780. Participou das
questões que envolveram o primeiro levante contra a metrópole espanhola (a Revolução de 25
de Maio de 1810) e votou contra a continuidade do vice-rei. Quando o Triunvirato se organizou
em 1811, foi nomeado Secretário de Governo e Guerra e, a partir desse momento, a figura
política de Rivadavia prevaleceu e se tornou protagonista, tanto que os três homens que
constituíam o Triunvirato o viam como um quarto pilar político. Alguns problemas fizeram
com que o Triunvirato se diluísse e tal situação fez com que Rivadavia se afastasse do cenário
portenho, vivendo e estudando em Londres até 1820.
Sua ascensão na política como Ministro se deu durante a década de 1820, nomeada pela
historiografia argentina como “Anarquía de los años 20”, quando recebeu o cargo de Ministro
de Governo e promoveu algumas reformas importantes na política, na economia e no centro
urbano de Buenos Aires.2
É importante pontuar que o posto de ministro de Governo ocorreu um pouco depois do
retorno de Rivadavia à Buenos Aires, após algum tempo vivendo em Londres. No tempo em
que viveu na Europa, bebeu das ideias do Utilitarismo de Jeremy Bentham e James Mill, que
defendiam que o princípio da utilidade determinava que as ações humanas deveriam ser
julgadas segundo graus de dano ou prazer que tais ações proporcionam à comunidade e a
necessidade de ampliar os níveis de liberdade de expressão, ingrediente especial para a
consolidação de um governo democrático, seria o melhor caminho para a fundamentação do
ideal de “republica ilustrada”.
Esses princípios ficam claros de ser percebidos nas ações políticas rivadavianas, tendo
em vista a Lei de Imprensa de 1821, em que os números de jornais que circulavam entre as
províncias e dentro delas chegou à 441 em dez anos.
O conjunto de ideias absorvidas na Europa foram colocadas em prática dentro do
Congresso Nacional, na tentativa de organização política do país. Esse Congresso, que
aconteceu de 1824 até 1827, é considerado pela historiografia argentina a terceira tentativa de
organização nacional e um espaço de inúmeras discussões conceituais sobre nação, Estado,
2 TERNAVÁSIO, Marcela. História de la Argentina. 1806-1852. Buenos Aires: Editores Siglo
Veintiuno, 2013.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
266
República, povo, ordem e soberania. O historiador Mariano Aramburo comenta que esses
debates dão ao Congresso a ideia de um foro de lenguajes, espaço de formação de conceitos.3
Essa terceira tentativa significou um outro caminho para a organização nacional diante
de um contexto sem liderança nem modelo político em vigor. São dos debates e discursos dos
deputados que boa parte dos conceitos e ideários políticos foram originados nesse contexto,
principalmente os argumentos acerca do conceito de soberania, sentimento tão caro às
províncias.
Noemí Goldman, historiadora argentina, comenta que
Na América Espanhola a voz da soberania se constituiu como uma “arma de
guerra”, que condicionou a extensão e delimitação dos novos estados. Duas
concepções de soberania estiveram em constante disputa: uma indivisível e
uma plural; essa última podia integrar os diferentes corpos políticos em uma
associação maior sem perder a soberania frente à figura da União.4
No Rio da Prata a soberania estava diretamente ligada à construção do projeto nacional.
A posição da soberania construiu esses debates: a união não questionava a soberania dos
pueblos, preocupação maior das províncias desde o processo de autogoverno colocado em
1810; por outro lado, a unidade estava associada à soberania do centro e traduzia a necessidade
de que os pueblos e províncias obedecessem a governos instalados na capital.
A historiadora argentina Nora Souto comenta que essa relação de obediência ao centro
não diminuiu a soberania dos pueblos, tanto que nas outras tentativas de organização política
nacional, os representantes eram eleitos por voto. Entretanto, união remetia à ideia de pacto
entre as províncias, colocando em funcionamento o princípio da soberania dos pueblos. Para
sanar esse problema, a Lei Fundamental de 1825, pacto entre as províncias, reconhecia a
soberania das províncias ao oficializar que a organização nacional teria um papel secundário na
política provincial até que as unidades de poder se organizassem internamente.
O que os representantes não contavam era com a Guerra com o Brasil, declarada em
1825 por Dom Pedro I diante do desejo brasileiro pela manutenção da posse da Cisplatina e da
defesa de Buenos Aires em trazer a Banda Oriental para as províncias unidas. Esse conflito,
3 ARAMBURO, Mariano José. Estado, Soberanía, Nación y otros conceptos conexos en el Río de la
Plata, 1824-1827. Buenos Aires: Ariadna histórica. Lenguajes, conceptos, metáforas. 2012.
4 GOLDMAN, Noemí. Soberanía en Iberoamerica. Dimensiones y dilemas de un concepto político
fundamental, 1780-1870. In SEBASTIÁN, Javier Fernández (dir.). Diccionario político y social del
mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, vol. II, p. 40. (pdf). Tradução livre.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
267
que deu origem ao país Uruguai, trouxe problemas para os países envolvidos. Para as províncias
do Rio da Prata, fez com que os representantes precisassem investir em exército para a guerra;
na prática, deputados de outras províncias alegaram que o conflito era responsabilidade de
Buenos Aires e preferiram não se envolver.
Daí a ascensão de Rivadavia à presidência. Tendo maioria no Congresso e com a
proposta da unidade de poder sem afetar a soberania provincial, em 6 de fevereiro de 1826 o
primeiro presidente é eleito, ferindo a Lei Fundamental de 1825 e o pacto entre as províncias.
A partir desse panorama é possível entender que a chegada de Rivadavia à presidência
não foi bem quista pela maioria das províncias. Além de ter violado a Lei Fundamental,
Rivadavia usou o empréstimo com o banco inglês para financiar a Guerra, fazendo com que o
plano de investir para gerar o pagamento à Inglaterra não ocorresse; sancionou a Constituição
de 1826 com caráter unitário, indo de encontro à questão da soberania das províncias e
apresentou ao Congresso o projeto da Lei de Capitalização, em que Buenos Aires seria a capital
do poder nacional da República Argentina.
Rivadavia presidente também acirrou as disputas internas no Congresso. Tendo em vista
a ascensão do grupo unitário, os federais fizeram forte oposição diante, principalmente, da
violação da Lei Fundamental e de Buenos Aires como capital nacional, além da questão da
soberania das províncias.
As diferenças entre unitários e federais ficaram ainda mais exaltadas com a Constituição
de 1826. Documento elaborado sob as ideias Utilitárias e fundamentando o sistema unitário de
poder, a soberania emanaria dos três poderes, porém suas liberdades eram restritas, já que o
Executivo teria o poder maior. O documento também secularizava o Estado, estabelecia os
parâmetros de votação e organizava as câmeras de deputados e senadores. Porém, a soberania
estava no poder central, juntamente com a capital Buenos Aires.
O historiador argentino Ignacio Zubizarreta chama a atenção para os argumentos que
respaldaram o uso desse documento base, tendo em vista as antigas propostas fracassadas de
organização nacional.
No entanto, eram a falta de riqueza e desenvolvimento, a ausência de pessoal
capacitado, a escassa população, o envolvimento político quase ausente dos
governadores, o que fazia das províncias unidades soberanas. Desse modo, afastadas
de seu pai – a Coroa Espanhola – o filho mais velho deveria ocupar-se de cuidar de
seus irmãos órfãos mais novos, incapacitados de fazer algo por si mesmos. Desse
modo, o que Buenos Aires tentava era unir uma soberania que, segundo a perspectiva
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
268
do Unitarismo, existia previamente, e que de forma provisória havia se debilitado
por “dimensões puramente domésticas”.5
As províncias, ainda que desejosas de um governo nacional, rechaçaram fortemente esse
documento centralista, mas a imprensa que apoiava Rivadavia desempenhou um importante
papel de disseminar bons argumentos e um outro olhar sobre os feitos do governo nesse
contexto. A aproximação do presidente com a imprensa se deu enquanto ministro de Governo
em 1821 e, ao longo de sua jornada política, inúmeros jornais expunham suas ideias, dentre eles
El Argos de Buenos Aires (1822-1825), El Correo Nacional (1825-1826) e El Mensagero
Argentino (1825-1827).
Tal aproximação se deve muito pelas ideias utilitárias, porém é possível classificar
Rivadavia como um letrado patriota, conceito de Jorge Myers sobre homens que, no século
XIX, foram responsáveis pela construção de um ideário político em meio às consolidações
Estatais na América. Ainda que suas ideias circulassem por meio dos textos jornalísticos, suas
ideias encabeçaram importantes acontecimentos nesse contexto.6
O periódico Mensagero Argentino circulou de novembro de 1825 até julho de 1827,
sendo a coluna “Interior” responsável por disseminar a ordem do dia, alguns debates do
Congresso e responder provocações de jornais opositores sobre o contexto da época. Além
disso, procurou comentar a Guerra contra o Brasil, apontar problemas de algumas províncias e
divulgar temas econômicos importantes para o comércio entre as partes.
De maneira geral, o jornal desempenhou seu papel de construção de opinião pública, em
um contexto de forte circulação jornalística. Sendo um “pedagogo” do povo, as páginas do
Mensagero e de tantos outros procuraram, de acordo com Pilar González, cumprir a função de
suporte de propaganda revolucionária e figura de legitimação de poder, pela identificação dessa
opinião com a vontade do povo soberano.7
5 ZUBIZARRETA, Ignacio. Unitarios. Historia de la facción política que diseñó la Argentina Moderna.
Buenos Aires: Editora Sudamericana, 2014, p. 66. Tradução livre.
6 MYERS, Jorge. El Letrado patriota: los hombres de letras hispano-americanos en la encrucijada del
colapso del imperio español en América. In: ALTAMIRANO, Carlos (dir). Historia de los intelectuales
en América Latina. Buenos Aires: Katz Editores, tomo I, 2009.
7 GONZÁLEZ, Pilar. Civilidad y Política en los orígenes de la nación argentina: las sociabilidades en
Buenos Aires, 1829-1862. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2008, 2. ed, p. 180.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
269
Assim, a construção do projeto unitário pelas palavras do jornal teve relação direta com
a presidência de Rivadavia: estabelecer a nova ordem das coisas diante da ausência de um
Estado nacional. Para dar força a esse projeto, os editores comentaram a necessidade de um
líder, uma cabeça, capaz de organizar as províncias num sistema político que, de alguma
maneira, beneficiasse a todas. Essa cabeça concentraria a ordem e organizaria as províncias sob
um sistema unitário, ou seja, a partir de Buenos Aires se emanaria o poder.
Esta base é dar a todos os povos uma cabeça, um ponto capital que a todos regule e
apoie: em ela não há organização nas coisas nem subordinação nas pessoas, e como
será funesto se os interessem ficarem como estão no presente, sem um centro que
seja garantia de seu cumprimento para que cresçam circulando e multipliquem
fecundizando tudo; é preciso que tudo o que forme a capital seja exclusivamente
nacional. (14 de fevereiro de 1826, n. 26)8
A construção da opinião pública foi versada na ideia de que o governo rivadaviano
inauguraria uma nova ordem das coisas políticas entre as províncias há tanto desejosas da
organização nacional por meio da Constituição. O sistema unitário, nas palavras dos editores,
traria essa nova ordem das coisas no cenário do Rio da Prata.
Na prática, quando os deputados levaram a Constituição de 1826 para suas províncias,
o rechaço foi notório. As realidades provinciais eram desconformes ao que Rivadavia tinha
contato e os unitários não conseguiram se introduzir nessas realidades diversas em 1826. A
aceitação do documento que acirrou o centralismo também não foi favorável à presidência de
Rivadavia já que a maioria das províncias com organização política havia estabelecido governos
com autonomia provincial. É possível pensar que o presidente, por essa perspectiva,
desconhecia a realidade das províncias do interior.
A esperança da organização nacional começou a se desfazer após o rechaço provincial
da Constituição, que não vigorou.
Os conflitos com o Brasil ganhavam contornos de desgaste, fazendo com que o ministro
das relações exteriores de Rivadavia tentasse dois acordos fracassados com D. Pedro I. Somado
a isso, o empréstimo do banco inglês, destinado aos gastos da guerra, fazia falta na
administração pública, deixando em aberto as inúmeras dívidas contraídas desde o processo de
independência. Os estancieiros do interior, protegidos pela Lei de enfiteusis, que ampliou o
acesso às terras públicas a fim de ocupar as regiões mais ao sul, começaram a perceber que as
8 “Recibimiento del Sr. Presidente de la Republica de las Provincias Unidas del Río de la Plata.” In El
Mensajero Argentino, 14 de febrero de 1826, n. 26, p. 2. Tradução Livre.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
270
terras dadas pelo Estado não davam o lucro desejado e a aproximação desses senhores com a
autonomia das províncias se tornou nítida.
A guerra que uniu as províncias com o primeiro presidente das Províncias Unidas foi a
mesma que tirou Rivadavia de seu sillón, colocando as partes mais uma vez em um cenário
instável politicamente, marcado por disputas entre unitários e federais consolidado. Renunciar
ao poder foi a escolha política de Rivadavia em julho de 1827, deixando para os deputados e
para a facção unitária os ônus do processo. A terceira tentativa de organização Estatal havia
fracassado e no protagonismo unitário.
O que se seguiu foi uma quarta tentativa de formação do Estado por meio de Manuel
Dorrego, principal opositor do projeto unitário e inimigo de El Mensagero Argentino. Em 1827,
Dorrego assumiu o governo de Buenos Aires e resolveu o conflito com o Império do Brasil. Os
federais haviam chegado ao poder e permaneceriam nesse status até a queda definitiva de Juan
Manuel de Rosas em 1852, quando as querelas políticas entre federais e unitários ganham novas
roupagens.
Em dezembro de 1826, talvez percebendo a crise que 1827 traria para as Províncias
Unidas, os editores do Mensagero procuraram defender o jornal enquanto disseminador de
informações e formador de opinião, demonstrando aos leitores todo empenho desse veículo de
notícias:
não ficou um só pensamento que não se tenha analisado com clareza possível. [o
jornal] El Mensagero quase deve abandonar estes caminhos que já estão trilhados e
deixar ao julgamento das mesmas províncias o fardo sobre a existência ou a ruída,
sobre a vida ou a morte da República. (24 de dezembro de 1826)9
O Mensagero Argentino se manteve até a renúncia de Rivadavia em julho de 1827,
defendendo suas investidas políticas e tentativas de se manter no poder. O desfecho desse
veículo denota que o projeto unitário encontrou força e forma na figura política de Rivadavia,
já que a história desse grupo político apresenta baixas significativas de 1826 até 1852, quando
o partido foi totalmente ressignificado.
Assim, ligar Rivadavia à nova ordem das coisas por meio do projeto unitário de poder
é perceber, por meio da imprensa, como que essas ideias se tornaram públicas, ouvidas e aceitas
9 El Mensagero Argentino, 24 de dezembro de 1826. Tradução livre.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
271
por parte das províncias. Ao mesmo tempo, sendo o novo algo a ser experenciado, essa ordem
centralista desagradou a outra parte das províncias que, buscando suas próprias ordem das
coisas, se afastaram das demandas de Buenos Aires.
Esse estudo, por fim, demonstra, para além do afastamento da historiografia brasileira
da argentina, certos silêncios historiográficos bastante significativos. Boa parte dos trabalhos
referências ao governo rivadaviano na própria historiografia argentina se refere aos problemas
na Guerra, à ascensão de Rosas e ao governo federal instalado após 1827.
O surgimento de alguns trabalhos sobre o Unitarismo entre as províncias do Rio da Prata
aconteceu devido à historiografia argentina revisionista, que desde os anos 1990, procuraram
trazer de volta ao passado histórico para outro enfoque ou o estudo de temas pouco estudados.
Logo, a historiografia sobre os Unitários é recente, fazendo com que alguns historiadores
realmente comentem sobre esse grupo político, como Marcela Ternavásio, César A. Garcia
Besunce e Carlos Alberto Floria, Túlio Halperín Donghi e Sergio Bagú.
Donghi e Bagú, juntamente com Ignacio Zubizarreta, buscaram entender a oposição ao
federalismo entre as províncias do Rio da Prata. Sergio Bagú comenta sobre os unitários
dizendo que a origem da facção se encontraria em um grupo político desprendido do
rivadaviano, constituindo assim uma facção heterogênea. Bagú também aponta que a facção
não foi exclusivamente porteña e o que caracterizou os unitários não foi o centralismo político
materializado por eles junto a Rivadavia, mas sim suas intenções reformistas e o desejo de
modernizar o Estado e a organização social. Túlio Halperín Dongi, ao contrário de Bagú, aponta
que os unitários estariam próximos aos fazendeiros e não voltados à questão do nacional na
economia, mas que de maneira geral se constituíram em um grupo político importante para a
história das províncias.10
Na historiografia brasileira, o silêncio sobre os Unitários é mais profundo devido aos
quase inexistentes estudos sobre a presidência de Rivadavia. A Guerra da Cisplatina, que faz
ponte com a chegada de Rivadavia ao poder, é, em grande maioria, estudada sob a perspectiva
10 HALPERÍN DONGHI, T. Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina
criolla. Buenos Aires: Siglo XXI, 1972. BAGÚ, Sergio. Los unitarios. El partido de la unidad nacional,
en: Unitarios y Federales, A.A. V.V. Buenos Aires: Gránica, 1974. Obras utilizadas em
ZUBIZARRETA, Ignacio. Por los senderos de una relación displicente: La renovación historiográfica
argentina y el unitarismo. Serie Documentos de Trabajo. Buenos Aires: Universidad del CEMA, 2013,
n. 518. Disponível em: < https://www.econstor.eu/bitstream/10419/84470/1/767435877.pdf> Acesso
em 17 de junho de 2017.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
272
militar e as ações nas fronteiras do Rio Grande do Sul e na relação do conflito com a crise do
Primeiro Reinado.11
O silêncio na historiografia brasileira se refere também à vida de Rivadavia que, após
renunciar à presidência em 1827, escolheu o Rio de Janeiro para viver com sua família.
Rivadavia viveu em Botafogo no final do século XIX, onde recebeu alguns compatriotas
em sua residência e trocou cartas com outros homens que, nos tempos áureos de sua política,
foram-lhe favoráveis. Alguns intelectuais como Juan B. Alberdi e Tomás de Iriarte fizeram-lhe
visitas e, por meio das memórias que escreveram, é possível saber sobre sua estadia aqui, já que
se tornou um homem pouco sociável e as notícias sobre sua vida na cidade brasileira são
escassas. Após a morte da esposa, ele foi para Espanha, onde ali faleceu em 2 de setembro de
1845, ressentido com Buenos Aires e toda situação política que se passava na região.
A importância desse trabalho é, portanto, fazer da presidência de Rivadavia um
exemplo de opção de organização Estatal, comparando as inúmeras possibilidades que D. Pedro
tinha quando viabilizou o processo de independência do Brasil. Somado a isso, é também
despertar na historiografia brasileira, que pouco estuda os processos de independência e
constituição do Estado nacional nos países de colonização espanhola, o interesse historiográfico
por esses países e suas particularidades e contribuir para que se entendam melhor as tensões
que levaram à Guerra da Cisplatina, gerando trabalhos e pesquisas referentes a outro olhar sobre
os conflitos pela Banda Oriental.
Sem dúvidas, esse trabalho permitirá o conhecimento sobre a história das províncias que
constituem a atual Argentina, país tão próximo ao Brasil, mas pouco conhecido pelo senso
comum.
Bibliografia.
BELSUNCE, César A. García; FLORIA, Carlos Alberto. Historia de los Argentinos. Buenos
Aires: Editorial Kapeluz, 2a ed., 1975, tomo I e II.
11 Para entender a relação da Guerra com a crise do Primeiro Reinado, ver mais em: PEREIRA, Aline
Pinto. A monarquia constitucional representativa e o locus da soberania no Primeiro Reinado:
Executivo versus Legislativo no contexto da Guerra da Cisplatina e da formação do Estado no Brasil.
UFF: Tese de Doutorado em História Social. 2012.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
273
CHIARAMONTE, José Carlos. El Federalismo Argentino en la primera mitad del siglo XIX.
In CARMAGNANI, Marcello (coord.). Federalismos latinoamericanos:
México/Brasil/Argentina. México: El Colegio de México. Fondo de Cultura Económica.
________________, Las formas de identidade política a fines del Virrenato. In Ciudades,
províncias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846). Argentina: Ariel História,
1997.
DE MARCO, Miguel Ángel. Historia del Periodismo Argentino. Desde los orígenes hasta el
Centenario de Mayo. 1ª ed. Buenos Aires: Educa, 2006
DONGHI, Tulio Halperin. De la Revolución de Independencia a la Confederación Rosista.
Editoral Paidós.
GALLO, Klaus. Bernardino Rivadavia. El primer presidente argentino. Buenos Aires: Edhasa,
2012.
GOLDGEL, Víctor. Cuando lo nuevo conquistó América. Prensa, moda y literatura en el siglo
XIX. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2014.
GOLDMAN, Noemí, SALVATORE, Ricardo. Caudillismos Rioplatenses. Nuevas miradas a
un viejo problema. 2ª. ed. Buenos Aires: Eudeba, 2005.
_________, Nueva História Argentina. Tomo 3. Buenos Aires. (pdf).
HERRERO, Fabián. Federalistas de Buenos Aires 1810-1820. Sobre los orígenes de la política
revolucionaria. 1º ed. Remedios de Escalada: De la Universidad Nacional de Lanús, 2009.
SEBASTIÁN, Javier Fernández (dir). Diccionario político y social del mundo iberoamericano.
La era de las revoluciones, 1750-1850. Madrid: Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, vol. I. (pdf).
TERNAVÁSIO, Marcela. História de la Argentina. 1806-1852. Buenos Aires: Editores Siglo
Veintiuno, 2013.
ZUBIZARRETA, Ignacio. Los unitarios. Faccionalismo, prácticas, construcción identitaria y
vínculos de una agrupación decimonónica, 1820-1852. Berlin: Tese de Doutorado, 2011.
_______________. Unitarios. Historia de la facción política que diseñó la Argentina Moderna.
Buenos Aires: Editora Sudamericana, 2014.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
274
Problemáticas em torno da produção teórica feminista ocidental: propostas para uma
pesquisa feminista descolonizadora
Luiza Freire Nasciutti
O artigo pretende discutir perspectivas feministas descolonizadoras1 para se pensar o
fazer das pesquisas nas ciências sociais. Orienta-se a partir das produções de autoras mulheres
de diferentes autodeterminações identitárias que se aproximam na crítica à teoria feminista
mainstream, produzida fundamentalmente nos Estados Unidos e Europa. Para fundamentar
esta análise, este trabalho se apoia em produções de feministas negras norteamericanas,
mulheres latinoamericanas e caribenhas, indígenas, mestiças, africanas, dentre outras2.
Não se pode negar que a teoria feminista avançou na desconstrução do mito da
‘objetividade’ da produção de conhecimento (Abu‐Lughod, 1990) e situou o conhecimento a
partir da perspectiva das mulheres (Haraway, 1988). Não se trata de categorizar o feminismo
mainstream como pouco relevante no sentido de rejeitar sua força em provocar rupturas no
interior da produção intelectual dominante, que historicamente sempre foi normatizada por
uma teoria masculina e branca. Todavia, se observa o limite da crítica feminista no que
concernem os efeitos coloniais, racistas e elitistas presentes nas relações saber-poder
imbricada na produção de conhecimento dominante, especialmente nas formas em que as
pesquisas empíricas qualitativas são orientadas nas ciências sociais.
Investiga-se, portanto, de que forma a apropriação pelas ciências sociais do discurso
político feminista, predominante europeu e norte-americano, não foi eficiente para desfazer as
relações de poder as quais esse pretenderia superar, ao inaugurar um pensamento alternativo
ao paradigma moderno, racionalista e objetivista. Pretende-se aqui desanuviar em que medida
1 Aqui se prefere o uso do adjetivo ‘descolonizador’, como empregado por Ochy Curiel em Descolonizando o feminismo: uma perspectiva
desde América Latina e Caribe, ao ‘descolonial’, compreendendo este como enquadrado a um referencial teórico mais restrito do campo dos
estudos descoloniais, ao qual este trabalho não pretende se limitar.
2 É importante enunciar que nem todas essas autoras podem ser capturadas pela categoria ‘feminista’, o que nos faz abrir pra um campo de
discussão mais amplo e complexo.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
275
a teoria feminista ocidental3 reproduz certos padrões de dominação sob mulheres em posições
marginalizadas4.
el feminismo, como propuesta de emancipación, que haya revisado epistemológicamente los
presupuestos de la Razón Universal, marcando sexualmente la noción del sujeto, no lo ha
librado totalmente de sus mismas lógicas masculinas y euronorcéntricas (Curiel, 2009, p. 7).
O argumento que aqui é tecido é de que o feminismo enquanto pensamento político
implicado nas pesquisas acadêmicas fez pouco em direção a um deslocamento mais radical
dos paradigmas dominantes na produção de pensamento no que envolve especialmente as
pesquisas sobre mulheres consideradas ‘subalternas’5. Nesse sentido, caminhou-se pouco para
uma ruptura das relações desiguais que se reproduzem nessas pesquisas, não propiciando
avanços políticos em direção à autonomia de mulheres marginalizadas.
O recorte que este artigo busca analisar são as pesquisas realizadas por mulheres
situadas em uma posição dominante6 que desenvolvem seus trabalhos com mulheres
3 Euro-norte-centrada, branca, heterossexual e economicamente dominante que, por convenção, será categorizada, no presente artigo, como
‘feminismo ocidental’, em referência a Mohanty: “Mi referencia al ‘feminismo de Occidente’ no pretende de ninguna forma sugerir que se
trata de un conjunto monolítico. Más bien busco hacer notar los efectos similares de varias estrategias textuales utilizadas por escritoras que
codifican al Otro como no occidental y, por tanto, (implícitamente) a si mismas como “occidentales”. Es en este sentido que utilizo el
término feminismo occidental.” (Mohanty, 2008, p. 1).
4 Marginalizadas e não marginais, de forma que não reafirme uma condição de não-agência e não-protagonismo dessas mulheres enquanto
pesquisadoras ou pesquisadas. Com ‘mulheres marginalizadas’ refiro-me majoritariamente a mulheres não-brancas e não-ocidentais.
5 Ainda que o uso do termo ‘subalternas’ não me contemple completamente por eu não concordar em parte com a ideia de Spivak em seu
conhecido ‘Pode o subalterno falar?’, que no limite acaba por defender a impossibilidade dos sujeitos considerados ‘subalternos’ falarem por
eles mesmos; não encontrei, para fins deste estudo, conceitos que melhor definissem as relações as quais pretendo analisar, evidenciando
inclusive as limitações do conhecimento científico acadêmico na apreensão e tradução das relações concretas da realidade social.
6 Refiro-me a majoritariamente mulheres brancas, ocidentais, economicamente e socialmente bem situadas.
7 Entendendo os limites deste estudo, não busco pensar as relações entre homens pesquisadores e mulheres pesquisadas, bem como não
pretendo abarcar as experiências de pesquisas orientadas por mulheres consideradas ‘sulbalternas', pois estes esforços poderiam apresentar-se
como tema de outro estudo. Essa escolha metodológica também faz parte de um posicionamento político de explicitar quem fala e de onde se
fala, minha posição de enunciado como uma mulher branca, de classe média e pesquisadora feminista. Nesse sentido, as críticas que me
refiro servem também a um exercício auto-crítico.
6
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
276
consideradas ‘subalternas’ a partir de uma orientação feminista. Essas pesquisas tendem a se
apoiar no argumento da ‘visibilização’, que subentende que ‘dar voz’7 a outras narrativas
femininas tidas como subalternas seria em si uma contribuição ao grupo social estudado, sem
discutir as assimetrias presentes entre pesquisadora e pesquisada(s). No entanto, argumenta-se
que a perspectiva da ‘visibilização’, além de insuficiente em resolver dinâmicas coloniais
intrínsecas a própria produção de conhecimento, pode vir a ser problemática, na medida em
que, quando não atravessada por um compromisso ético e político que considere os recortes
de raça, classe e colonialidade, reenquadra relações assimétricas, reproduzindo, a partir de
outras chaves, formas de dominação no processo de produção de conhecimento.
A partir desse suporte teórico crítico, traça-se o desafio de pensar perspectivas, em
processo de construção, que possam orientar a pesquisa que se pretende feminista enquanto
prática descolonizadora, ainda que não elabore fronteiras fixas que limitem a criatividade e
flexibilidade das pesquisas nas ciências sociais.
1. A universalidade na construção da categoria “mulher”
A principal crítica apresentada ao feminismo dominante se evidencia nas
problemáticas em torno da categoria ‘mulher’ como sujeito político mobilizado pelo
feminismo. Segundo algumas autoras, este termo é questionável, na medida em que supõe
uma unidade e homogeneidade em torno do sujeito feminino produzido “como un grupo ya
constituido y coherente, con intereses y deseos idénticos sin importar la clase social, la
ubicación o las contradicciones raciales o étnicas, implica una noción [...] que puede aplicarse
de forma universal y a todas las culturas” (Mohanty, 2008, p. 5).
O questionamento do sujeito universal, próprio da gramática moderna, não pode vir
separado de uma crítica ao feminismo ilustrado, branco, heterossexual, institucional e estatal
(Curiel, 2009). Este feminismo estaria ainda imbricado a uma lógica de reprodução do
racionalismo moderno colonial ao forjar uma categoria que supõe uma falsa unidade universal
do sujeito-mulher, ignorando suas contradições e diferenças internas que são constitutivas de
relações assimétricas entre mulheres.
7 De antemão considero o conceito de ‘dar voz’ em si problemático, por negar implicitamente o lugar de agência aos sujeitos a quem ‘se dá a
voz’, preferindo o termo de Portelli que sugere a ideia de ampliar vozes.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
277
A modernidade organiza o mundo ontologicamente em termos de categorias homogêneas,
atômicas, separáveis. A crítica contemporânea ao universalismo feminista feita por mulheres
de cor e do terceiro mundo centra-se na reivindicação de que a intersecção entre raça, classe,
sexualidade e gênero vai além das categorias da modernidade. [...] Assim, ver mulheres não
brancas é ir além da lógica ‘categorial’ (Lugones, 2014, p. 1).
Segundo Lugones, a “consequência semântica da colonialidade do gênero é que
‘mulher colonizada’ é uma categoria vazia”, isso porque “nenhuma ‘mulher’ é colonizada”
(Lugones, 2014). Com este argumento, ela está defendendo que a construção semântica da
categoria ‘mulher’ não faz referencia às mulheres colonizadas, não-brancas e não-ocidentais.
Nesse sentido, estas não estariam sendo levadas em conta nas transformações políticas as
quais o feminismo pretende impulsionar quando mobiliza o sujeito coletivo ‘mulheres’.
Diferentemente da colonização, a colonialidade do gênero ainda está conosco; é o que
permanece na intersecção de gênero/classe/raça como construtos centrais do sistema de poder
capitalista mundial. [...] Como não há mulheres colonizadas enquanto ser, sugiro que
enfoquemos nos seres que resistem à colonialidade do gênero a partir da ‘diferença colonial’
(Lugones, 2014, p. 5).
Assim como Lugones, Chandra Mohanty elabora uma análise que traz a questão
colonial como dimensão fundamental para uma reflexão crítica ao feminismo ocidental. De
forma semelhante, a autora destaca o universalismo presente no uso do conceito ‘mulher’
como um aspecto constitutivo dos problemas que se perpetuam nas produções feministas
dominantes.
Lo que resulta problemático en este uso de “mujeres” como grupo, como categoría de análisis
estable, es que se asume una unidad antihistórica y universal entre las mujeres, fundada en la
noción generalizada de su subordinación. En vez de demostrar analíticamente la producción de
las mujeres como grupos socioeconómicos y políticos dentro de contextos locales particulares,
esta jugada analítica limita la definición del sujeto femenino a la identidad de género,
ignorando por completo identidades de clase o étnicas [...] lo cual indica una noción monolítica
de la diferencia sexual (Mohanty, 2008, p. 12).
A autora reflete sobre o modo como os feminismos ocidentais articularam a categoria
‘mulheres do terceiro mundo’ em oposição à ‘mulheres do primeiro mundo’. Tais categorias
se repousam em hierarquias geopolíticas entre ‘primeiro e terceiro mundos’ (Padovani, 2017)
em que ‘mulheres do terceiro mundo’ são capturadas como “un compuesto cultural e
ideológico del Otro construido a través de diversos discursos de representación” (Mohanty,
2008, p. 2).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
278
‘Primeiro mundo’ aparecia como mais desenvolvido por nele as mulheres estarem,
supostamente, mais livres das relações de opressão e serem, portanto, sujeitos ativos das
relações de trabalho, políticas e familiares: relações emancipatórias. Paralelamente, a categoria
“mulheres do terceiro mundo” aparecia como a nomenclatura de um grupo amorfo, pré-
histórico e pré-relacional. Ao compósito amorfo, nomeado como “mulheres do terceiro
mundo”, foram atribuídas categorizações de pobreza, subdesenvolvimento, incivilidade e
subordinação (Padovani, 2017, p. 25).
Em oposição ao feminismo ocidental, que, para Mohanty, “coloniza de forma
discursiva las heterogeneidades materiales e históricas de las vidas de las mujeres en el tercer
mundo” (Mohanty, 2008, p. 3), propõe-se um ‘feminismo do terceiro mundo’. Este se pauta
na análise de experiências concretas de mulheres, enquanto sujeitas reais e materiais de sua
própria história. Pretende-se, assim, superar a categoria ‘mulher do terceiro mundo’ como
representação produzida pelos discursos normativos do Ocidente, para pensar em mulheres
como sujeitos históricos.
Cualquier discusión sobre la construcción intelectual y política de las ‘feminismos del tercer
mundo’ debe tratar dos proyectos simultáneos: la critica interna de los feminismos
hegemónicos de ‘Occidente’, y la formulación de intereses y estrategias feministas basados en
la autonomía, geografía, historia y cultura. El primero es un proyecto de deconstrucción y
desmantelamiento; el segundo, de construcción y creación (Mohanty, 2008, p.1).
Reconhece-se, assim, a necessidade de se discutir e propor um pensamento feminista
que inclua e implique a complexidade do termo ‘mulheres’, recusando-o como uma categoria
abstrata e universal. Defende-se a ideia de que sujeitas históricas concretas possam se
constituir e se autodeclararem como grupo político em torno da categoria ‘mulheres’,
estrategicamente e circunstancialmente, “a través de una complicada interacción entre clase,
cultura, religión y otras instituciones y marcos de referencia” (Mohanty,2008, p. 11).
Estos razonamientos no están en contra de la generalización, sino más bien a favor de
generalizaciones cuidadosas e históricamente específicas que respondan a realidades
complejas. Mis razonamientos tampoco niegan la necesidad de formar identidades y afinidades
políticas y estratégicas. Así pues, mientras que las mujeres de diferentes religiones, clases y
castas en la India pueden formar una unidad política basada en la organización en contra de la
brutalidad policía hacia las mujeres [...], el análisis de la brutalidad policíaca debe ser
contextual. Las coaliciones estratégicas que construyen identidades políticas de oposición para
sí mismas están basadas en uniones provisionales, pero el análisis de estas identidades de grupo
no puede basarse en categorías universalistas y antihistóricas (Mohanty, 2008, p. 16).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
279
2. A relação assimétrica entre sujeito e objeto de conhecimento
O clássico binômio ‘sujeito-objeto’ da noção moderna de conhecimento, sobre o qual
as ciências sociais ainda se apoiam, pressupõe, a priori, a passivilização dos sujeitos
estudados, na medida em que os denomina de ‘objetos’ da investigação. O que está em jogo
na positivação da objetividade moderna é uma relação dual em que o ‘sujeito conhecedor’ se
afirma enquanto agente do conhecimento, enquanto ao ‘sujeito que se pretende conhecer’,
através da investigação empírica, é atribuído o caráter de ‘objeto do conhecimento’, portanto,
não-agente nesse processo. “Al intentar hacerse ‘objetiva’, la cultura occidental há convertido
en ‘objetos’ a las cosas y las personas [...]. En esta dicotomia se halla la raiz de toda
violencia” (Anzaldúa, 1987, p. 83).
A ideia de ‘sujeito do conhecimento’ criado pela modernidade, forjou-se a partir de
seu referencial de sujeito europeu em oposição direta ao ‘Outro’, não ocidental: “un Yo-
Occidental constituido por su diferencia, en este caso, la diferencia colonial, que diluye ese
otro, esa otra, que incorpora ese yo en el otro/otra y desdestabiliza el yo por el otro/otro”
(Curiel, 2009, p. 2-3). Esta lógica se refere, portanto, a “cualquier discurso que coloca sus
propios sujetos autorales como el referente implícito, es decir, como la unidad de medida
mediante la cual se codifica y representa al Otro cultural. Es en este movimiento donde se
ejerce poder en el discurso” (Mohanty, 2008, p. 5).
A construção do ‘Outro’ como ‘objeto’ de investigação implica o aniquilamento da
possibilidade deste “autodefirnirse; es decir, no puede ser considerado como um sujeto de la
historia, alguien capaz de narrarla y, por ende, ‘hacerla’” (Gargallo, 2014, p. 25). As
consequências imediatas dessa construção de um “Eu” e um “Outro”, constitutiva da relação
‘sujeito-objeto’, é tornar este ‘Outro’ uma fonte de apropriação a favor do ‘Eu- conhecedor’
(Haraway, 1988).
an object of knowledge is finally itself only matter for the seminal power, the act, of the
knower. Here, the object both guarantees and refreshes the power of the knower, but any status
as agent in the productions of knowledge must be denied the object. It […] must, in short, be
objectified as a thing, not as an agent; it must be matter for the selfformation of the only social
being in the productions of knowledge, the human knower (Haraway, 1988, p. 592).
Cabe aqui retomar as contribuições de Mohanty, já supracitada, em ‘Bajo los ojos de
lo occidente’. De cara, a crítica da autora se constrói a partir da constituição de um ‘Eu’
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
280
dominante, ‘sujeito do conhecimento’, a partir de um ‘Outro’, ‘objeto do conhecimento’,
levando em conta as relações de dominação que essa construção envolve. A análise toma
como princípio a categoria de ‘mulheres do terceiro mundo’ como referencial marcante da
construção discursiva desta ‘Outra’, presente nos discursos feministas científicos,
econômicos, legais e sociológicos (Mohanty, 2008).
Esta mujer promedio del tercer mundo lleva una vida esencialmente truncada debido a su
género femenino (léase sexualmente constreñida) y su pertenencia al tercer mundo (léase
ignorante, pobre, sin educación, limitada por las tradiciones, doméstica, restringida a la familia,
víctima, etc.). Esto, sugiero, contrasta con la autorepresentación (implícita) de la mujer
occidental como educada, moderna, en control de su cuerpo y su sexualidad y con la libertad de
tomar sus propias decisiones. [...] las feministas occidentales que a veces representan a las
mujeres del tercer mundo como un “nosotras desnudas” (término de Michelle Rosaldo [1980])
se construyen a sí mismos como el referente normativo en este análisis binario (Mohanty,
2008, p. 5).
Torna-se importante destacar a dicotomia implícita nessa relação entre ‘feministas
ocidentais’, auto-representáveis e narradoras da própria história, e ‘mulheres do terceiro
mundo’, ‘objetos’ de pesquisa das primeiras. Enquanto ‘as mulheres do terceiro mundo’ são
vistas e representadas como “un grupo apolítico sin estatus como sujetos” (Mohanty, 2008, p.
7), as feministas ocidentais são vistas e auto-representadas “como personas seculares,
liberadas y en control de sus propias vidas” (Mohanty, 2008, p. 20). Nas análises de
feministas acadêmicas que sinalizam uma submissão histórica das mulheres atrelada ao modo
de reprodução de uma cultura de alteridade, as feministas ocidentais aparecem como as
possíveis agentes transformadoras desta história de opressão, enquanto as ‘mulheres do
terceiro mundo’ permanecem na posição de vitimização e passivilização:
Es aquí donde ubico la jugada colonialista. Al contrastar la representación de las mujeres del
tercer mundo con lo que anteriormente llamé la auto-representación de los feminismos
occidentales en el mismo contexto, podemos ver cómo lós feminismos occidentales por sí solos
se convierten en los verdaderos “sujetos” de esta contra-historia. Las mujeres del tercer mundo,
en cambio, nunca se colocan más allá de la generalidad debilitante de su estatus e “objeto.” [...]
la aplicación de la noción de mujeres como categoría homogénea a las mujeres en el tercer
mundo coloniza y apropia las pluralidades de la ubicación simultánea de diferentes grupos de
mujeres en marcos de referencia de clase y étnicos, y al hacerlo finalmente les roba su agencia
histórica y política (Mohanty, 2008, p. 17 -18).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
281
Na oposição que se estabelece entre figuras ‘feministas auto-representáveis e
politicamente ativas’ e ‘mulheres vítimas de opressão e carentes de agência política’ emerge o
que Abu-Lughod (2012) chama de ‘a retórica de salvar mulheres’. Nessa relação, as
feministas ocidentais incorporariam o papel salvacionista em que Spivak cinicamente atribui
ao homem branco em “os homens brancos salvando as mulheres de pele escura dos homens
de pele escura” (Spivak, 2010, p. 94). “Quando se salva alguém, assume-se que a pessoa está
sendo salva de alguma coisa. Você também a está salvando para alguma coisa. Que
violências estão associadas a essa transformação e quais presunções estão sendo feitas sobre a
superioridade daquilo para o qual você a está salvando?” (Abu-Lughod, 2012, p. 465).
Saba Mahmood (2001), ao refletir sobre as mulheres no Egito que estão buscando
tornarem-se muçulmanas devotas, responde a esta problematização ao desnaturalizar os
pressupostos do feminismo (ocidental) como efeito desejável a todas as mulheres. Argumenta
que a liberação feminina, como é forjada pelo discurso feminista, não aciona objetivos pelos
quais necessariamente todas as mulheres desejam se esforçar. ‘Emancipação’, ‘igualdade’,
‘direitos para as mulheres’ e, mais recentemente, ‘empoderamento’ são parte de uma
gramática especifica, política e historicamente localizada, não compartilhada por todas as
mulheres em posições distantes e diferenciadas entre si.
O desejo pela liberdade e liberação é um desejo historicamente situado, cuja força motivacional
não pode ser assumida a priori, mas precisa ser reconsiderada à luz de outros desejos,
aspirações e capacidades inerentes a um sujeito culturalmente e historicamente localizado
(Mahmood, 2001, p. 223).
Por fim, é importante refletir sobre certos efeitos políticos concretos os quais os
trabalhos feministas que reforçam essas dicotomias e assimetrias podem incutir. Como lembra
Angela Davis (2011) certa literatura feminista norte-americana interessada em investigar o
aumento dos estupros contra mulheres brancas levou a acentuar o ‘mito do estuprador negro’,
propiciando ao aumento de virulências racistas e no recrudescimento de tecnologias de
criminalização e encarceramento de corpos negros. Ou como recordam Abu-Lughod (2012) e
Mahmood (2001) sobre como discursos feministas humanitários legitimaram práticas neo-
imperialistas substanciando penetrações militares nos países do Oriente Médio. Ou como
argumenta Padovani sobre como os esforços feministas em torno dos direitos das ‘mulheres
encarceradas’ pode “incorrer no recrudescimento do ‘desfazer direitos’ dos sujeitos
diagramados como ‘culpados’, bem como não necessariamente promover direitos às
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
282
‘mulheres’, categorizadas como ‘vítimas’ por meio de atributos que as despolitizam”
(Padovani, 2017, p.28).
3. A relação entre pesquisadora e pesquisada nas pesquisas sobre mulheres
Identificando-se as problemáticas apresentadas anteriormente, pretende-se aqui
reconhecer em que medida as ciências sociais, em seu fazer de pesquisas e teorias,
reproduzem ainda hoje certas lógicas bastante assimétricas. Propõe-se, por meio deste
trabalho, voltar o olhar para a responsabilidade dos pesquisadores em reproduzir certos
atributos colonizadores, racistas, machistas e elitistas que atravessam as práticas e métodos de
pesquisa e a forma como se produz, se distribui e se apropria do conhecimento. Reconhece-se,
assim, a urgência de uma mobilização crítica e especialmente auto-crítica por parte dos
cientistas sociais que buscam provocar rupturas mais radicais nas relações saber-poder que
têm se perpetuado nas pesquisas acadêmicas.
Para tanto, uma reflexão direcionada ao próprio fazer das pesquisas deve ser
mobilizada em concomitância a uma discussão teórico-epistemológica. Sem um exercício
crítico que objetive alterar as formas práticas e metodológicas que se estabelecem na relação
entre ‘sujeito-pesquisador’ e ‘sujeito-pesquisado’ torna-se difícil escapar da reprodução de
assimetrias na produção do conhecimento. Dessa forma, defende-se a necessidade de um
compromisso ético e político que construa como desafio possibilidades de produção de
pesquisa descolonizadoras, assumindo, reconhecendo e favorecendo a agência do ‘sujeito-
pesquisado’ nesse processo.
A partir desta perspectiva, desloco minha discussão para as pesquisas que se auto-
denominam feministas, produzidas por mulheres sobre mulheres consideradas ‘subalternas’.
Sustento que para que se tenha como norte uma formulação possível de pesquisa feminista
descolonizadora deve-se atentar, primeiramente, a uma sensibilidade especial à relação entre
pesquisadora e pesquisada(s). Sobre essa relação Daphne Patai, argumenta:
Minha preocupação que surgiu no cotexto das entrevistas com mulheres pobres no Brasil, é
com o desenvolvimento de estratégias possíveis para se lidar com as verdadeiras desigualdades
materiais que separam pesquisadora e pesquisada. A meu ver, estas questões sobre
desigualdade são cruciais para feministas ou para quaisquer pessoas comprometidas com a
redistribuição de privilégios que, entre suas muitas outras implicações, faz com que os ‘outros’
sempre sirvam como objetos dos ‘nossos’ projetos de pesquisa. [...] é importante reconhecer as
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
283
divisões reais existentes entre pesquisadores e pesquisados, especialmente em situações
transculturais, e não tentar escamotea-las, por exemplo, sucumbindo ou recorrendo ao apelo da
‘irmandade entre mulheres’, uma suposta comunhão mística de mulheres como mulheres
(Patai, 2010, p. 88- 93).
Muitas pesquisadoras feministas caem na armadilha de mobilizar justamente o sujeito
universal, discutido anteriormente, encoberto pela categoria ‘mulheres’ como grupo
unificado. Assim, acabam por ignorar as assimetrias colocadas entre pesquisadoras e
pesquisadas, comumente situadas em posições socialmente distanciadas. A aproximação dada
a partir do pressuposto de unidade e identificação ofusca as relações de poder e, quando não
assumidas, acabam por reatualizar tais relações no processo de pesquisa.
Uma distância enorme existe comumente entre nossas posições enquanto pesquisadoras e
aquelas das pessoas sobre quem pesquisamos. Ao lado de classe, raça e divisões étnicas, a
homogeinidade do ‘mulheres-escrevendo-sobre-mulheres’ não parece suficiente. Pela minha
experiência, diferenças perceptíveis de situação material, estado de saúde,status social e legal, e
oportunidades de vida em geral, criam mais facilmente a sensação de desconforto e mesmo
culpa da pesquisadora. [...] [O que] indica que nossos dilemas éticos subitamente se
transformam em dilemas políticos (Patai, 2010, p. 83-84).
A seguir, objetiva-se discutir propostas preliminares que investiguem soluções ainda
incompletas das problemáticas apresentadas. Faz-se o esforço de incorporar um debate
orientado para o processo de pesquisa empírico qualitativo, não se delimitando a dimensão
teórica, justamente no ponto em que a teorização desse campo não introduziu fortes mudanças
no que diz respeito à produção desigual e colonial do conhecimento. Argumenta-se que um
debate metodológico-prático apresenta-se como fundamental norteador de um exercício
constante de reflexão e autocrítica para impulsionar transformações concretas nas formas que
se orientam as pesquisas acadêmicas, caminhando, nesse sentido, em direção a formas
possíveis de pesquisa feminista descolonizadora.
4. Propostas metodológicas possíveis
Pretendo por aqui destacar alguns pontos que elegi como norteadores metodológicos,
éticos e políticos que possa vir a servir como contribuições de apoio - e não como um
programa fixo que impõe limites e fronteiras - a pesquisadores, especialmente a pesquisadoras
feministas, que desejem rupturas mais radicais nas formas práticas que organizamos e
realizamos nossas pesquisas. Estes norteadores podem servir como ferramentas que
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
284
poderemos recorrer como forma de um exercício constante reflexivo e trabalho auto-crítico-
político, na organização de nossas pesquisas.
1. Assumir as assimetrias materiais e sociais entre pesquisador(a) e pesquisados(as)
É de extrema relevância não omitir a posicionalidade do sujeito pesquisador, explicitar
quem e de onde se fala. No meu caso, reconhecer e assumir, nas pesquisas, o lugar de onde
falo como mulher branca, ocidental de classe média, se dá como essencial para uma pesquisa
feminista que se pretenda descolonizadora. É preciso não cair em armadilhas como o apelo da
‘irmandade entre mulheres’ como organizador de uma identificação acrítica ofuscante de
relações de poder concretas. Ao assumi essas contradições, torna-se possível que os
incômodos mobilizem um trabalho de auto-crítica necessário, o qual permite desnaturalizar
certas acomodações normativas que norteiam a rotinização do fazer da pesquisa. Posicionar
explicitamente o lugar de fala do pesquisador, com seus privilégios, sem escamotea-los,
torna-se muito relevante.
2. A não utilização acrítica de categorias abstratas e universais
Deve-se ter cuidado em não utilizar acriticamente a categoria ‘mulheres’ como grupo
unificado, coerente e universal. Nem por isso deve se abandonar o uso da categoria nas
pesquisas feministas. Assim, pode-se pensar em ‘mulheres’ como “generalizaciones
cuidadosas e históricamente específicas que respondan a realidades complejas” (Mohanty,
2008). Não se nega, portanto, a necessidade circunstancial, localizada e provisória de formas
identitárias e afinidades políticas em torno de um grupo, heterogêneo em si mesmo, que possa
ser capturado pela categoria ‘mulheres’.
3. Ser transparente sobre os objetivos, interesses e metodologias da pesquisa
Recomenda-se ser transparente ao se aproximar dos ‘sujeitos de pesquisa’ em respeito
às orientações e objetivos da pesquisa. Muito cuidado deve ser recorrido para não se omitir
objetivos finais da pesquisa, bem como as intenções das formas de veiculação do produto
final. Nesse sentido, evitam-se estratégias de indução de comportamento dos ‘sujeitos
pesquisados’ via omissão ou pequenas distorções ao apresentar o foco da pesquisa,
normalmente acionadas para o fim acrítico de obter maior aproximação e confiança. Para
tanto, torna-se fundamental desapegar das propostas originárias da pesquisa, permitindo que
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
285
os sujeitos pesquisados tornem-se também manipuladores da pesquisa, podendo vir a
transformar o caminho que esta se orienta.
4. A autoria coletiva horizontal como norte metodológico
Enquanto um projeto de práticas radicais de produção coletiva e horizontal parece
ainda inviável e utópico, podemos nos contentar com experimentações desnaturalizadoras
com intenção à co-autoria, assumindo que essa não é proporcional8. Alguns exemplos
possíveis são o de recorrer a sistemáticas avaliações (feedback) e constante aprovação dos
‘sujeitos pesquisados’ do material produzido sobre eles; definir coletivamente sobre os usos
dos resultados finais da pesquisa (publicação de artigos em revistas, congressos,
transformação em livro, etc); incorporar com seriedade as criticas e comentários dos ‘sujeitos
pesquisados’, explicitando-os, se possível, no produto final. Busca-se, assim, compartilhar o
lugar de agentes da pesquisa com os ‘sujeitos pesquisados’, assumindo os limites colocados e
entendendo que nem todas as assimetrias serão dissolvidas completamente.
5. Buscar outras formas de linguagem, transmissão e distribuição do conhecimento
Uma das propostas talvez mais desafiadoras, levando em conta a grande dificuldade de
escapar das limitações dos padrões institucionais e culturais dominantes da pesquisa
acadêmica seria o de buscar outras formas de transmissão e distribuição do conhecimento
produzido pelas pesquisas. De que forma podemos organizar nossa escrita assumindo outras
linguagens e outras chaves analíticas, que incluam, por exemplo, a dimensão do afeto e da
subjetividade? Como não reproduzir o elitismo nos produtos finais da pesquisa? Cabe-nos
esse desafio de nos interrogar constantemente, pensando nos limites da circulação e
transmissão do conhecimento que produzimos no formato que estamos condicionados a
reproduzir. Talvez uma solução possível seja pensar na produção de materiais que extrapolem
nossas teses, livros e artigos, sendo criativos nas formas que podemos ampliar as apropriações
possíveis do que foi produzido com as pesquisas.
6. Assumir as limitações da pesquisa
8 Ainda que vislumbremos uma dupla agência na pesquisa, deve-se reconhecer que, nos moldes que a produção acadêmica se organiza e se
reproduz atualmente, esse projeto é ainda inviável de forma proporcional, favorecendo sempre a posição do(a) pesquisador(a).
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
286
Acho que um grande passo de avanço no sentido que aqui buscamos é o de abandonar
a superestima acadêmica que reconhece a pesquisa como grande potencial transformador da
realidade social. Carece uma certa humildade de assumir uma capacidade um tanto quanto
limitada de nosso trabalho. Assumir que as soluções que encontramos são limitadas e
insuficientes não é um problema, desde que venha comprometida com a tentativa de
deslocamento dos paradigmas dominadores. Os limites estarão sempre presentes e isto não
deve nos fazer parar de produzir, mas usar do incomodo e reconhecimento das contradições
uma fonte de potência crítica que busque transformações e não acomodações a práticas já
existentes. Manter essa questão como norte de autoavaliação do trabalho, fazer sempre
autocrítica, assumir nossas escolhas de pesquisa reconhecendo suas reais implicações e
contradições, pensar nas apropriações possíveis de nosso trabalho, etc, me parecem um
caminho. Assumir, portanto, as incapacidades implícitas da pesquisa comprometida,
entendendo as questões éticas como não encerradas e as ineficiências em superá-las.
7. A questão da ‘devolução’ para além de compartilhar os resultados de pesquisa
Recomenda-se pensar em formas de ‘retorno’ para os ‘sujeitos pesquisados’ dos
resultados da pesquisa que ultrapassem a ideia comum de se apresentar o produto final como
fim em si mesmo de retribuição. Perceber e ser sensível as suas demandas concretas e mais
imediatas, que partem de sua vida e de suas lutas cotidianas. Sugiro um trabalho de nos
colocarmos, sempre que possível, disponíveis aos nossos interlocutores, pensando em formas
de apoio prático e material, que transbordem os limites da pesquisa. Pensando, assim, em
como contribuir a partir de uma lógica mais processual da pesquisa e não apenas focando em
seus resultados, como ajudar na formação de redes, na divulgação, produção textual de suas
causas, como apoiar suas lutas, e outras demandas que podem surgir na relação com os
‘sujeitos pesquisados’.
A contribuição de Silvia Rivera Cusicanqui pode nos trazer uma síntese de todos estes
esforços apresentados como norteadores da pesquisa feminista de base descolonizadora,
apontando a centralidade do processo interacional que se estabelece na relação pesquisador e
pesquisado, quando estes se encontram em posições distintas e desiguais da ‘cadeia colonial’:
Si en este proceso se conjugan esfuerzos de interacción consciente entre distintos sectores: y si
la base del ejercicio es el mutuo reconocimiento y la honestidad en cuanto al lugar que se
ocupa en la cadena colonial, los resultados serán tanto más ricos en este sentido. [...] el proceso
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
287
de sistematización asume la forma de una síntesis dialéctica entre dos (o más) polos activos de
reflexión y conceptualización, ya no entró un ego cognoscente y un otro pasivo, sino entre dos
sujetos que reflexionan juntos sobre su experiencia y sobre la visión que cada uno tiene del
otro. Con ello se generan las condiciones para un pacto de confianza (cf. Ferrarotti), de
innegable valor metodológico, que permite la generación de narrativas autobiográficas en cuyo
proceso la conciencia se va transformando: superando lo meramente acontecido para descubrir
lo significativo, aquello que marca al sujeto como un ser activo y moralmente comprometido
con su entorno social. [...] Esta experiencia compartida podría lograrse también en la
interacción de sectores heterogéneos (indios y mestizos; trabajadores manuales e intelectuales)
siempre y cuando el investigador sepa superar los bloqueos de comunicación (lingüísticos,
culturales) y las brechas de comportamiento, hábito y gesto inconsciente que marcan más que
ningún elemento discursivo o consciente las relaciones de asimetría social y cultural en el
contexto de situaciones coloniales. Elemento crucial de este postulado de simetría será también
la disponibilidad del investigador a sujetarse al control social de la colectividad investigada:
este control se refiere no sólo al destino que tendrá el producto final de la investigación, sino al
compartir los avalares de todo el proceso, desde la selección de temas, el diseño de las
entrevistas, el sistema de trabajo, la devolución sistemática de transcripciones y las finalidades
o usos de los materiales resultantes (Cusicanqui, 2008, p. 171-172).
Conclusão
O feminismo aqui defendido enquanto metodologia e prática de pesquisa
descolonizadora se distancia de uma ideal analítico que compreende as desigualdades de
gênero a partir do enquandramento de categorias universais, em torno de uma opressão
identicamente experienciada por todas as mulheres, omitindo-se o esforço de situá-la sócio e
historicamente a partir de posições concretas distintas. Tentou-se, por meio deste artigo,
construir caminhos possíveis de uma prática de pesquisa feminista descolonizadora. Essa
proposta tida como desafio, talvez utópico em sua essência, mas necessário enquanto
horizonte autoavaliador de nossos trabalhos nas ciências sociais, pretende, mais do que trazer
soluções prontas e acabadas, estimular o refazimento constante e deslocando contínuo de
certos padrões normativos dominantes imbricados a nossas posições privilegiadas que fazem
da produção de conhecimento ainda assimétrica e colonizadora.
Referências
ABU-LUGHOD, Lila. Can There Be A Feminist Ethnography?. Women and Performance: a
journal of feminist theory, 5:1, 7-27, DOI: 10.1080/07407709008571138. 1990.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
288
__________________. As mulheres muçulmanas precisam realmente de salvação? reflexões
antropológicas sobre o relativismo cultural e seus outros. Revista Estudos Feministas, vol. 20,
núm. 2, pp. 451-470. Universidade Federal de Santa Catarina Santa Catarina, Brasil. 2012.
ANZALDÚA, Gloria. Borderlands: la frontera. San Francisco: Aunt Lute, 1987.
CABNAL, Lorena. Documento en Construcción para aportar a las reflexiones continentales
desde el feminismo comunitario, al paradigma ancestral originario del “Sumak Kawsay”–
Buen Vivir. Sumak Kawsay”–Buen Vivir” http://amismaxaj. files. wordpress.
com/2012/09/buen-vivir-desde-el-feminismo-comunitario. pdf (02/02/2014), 2012.
COLLINS, Patricia Hill. Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics
of empowerment. Routledge, 2002.
CURIEL, Rosa Ynés Ochy Pichardo. Descolonizando el feminismo: una perspectiva desde
América Latina y el Caribe. 2009.
CUSICANQUI, Silvia Rivera. Capitulo 6. Teoria crítica dos direitos humanos no século XXI
/ Alejandro Rosillo Martínez... [et al.]. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008.
DAVIS, Angela Y. Women, race, & class. Vintage, 2011.
GARGALLO, Francesca. Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres
de 607 pueblos en nuestra América. Editorial Corte y Confección, Ciudad de México,
Primeira edição digital, 2014.
GONZALEZ, Lélia. Por um feminismo Afro-latino-americano. Caderno de formação política
do circulo palmarino n 1. Batalha de ideias. Brasil, 2011.
GOULART, Fransérgio. CALVET, Rodrigo. Para Que e Para Quem Servem as Pesquisas
Acadêmicas sobre as Favelas? Uma Nova Epistemologia é Possível. Publicado em:
http://www.canalibase.org.br/para-que-e-para-quem-servem-pesquisas-academicas-sobre-
favelas-uma-nova-epistemologia-e-possivel/. 21 de março de 2017.
HARAWAY, Donna. Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the
Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies, Vol. 14, No. 3. (Autumn, 1988), pp. 575-
599. 1988.
LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial. Revista Estudos Feministas.
University of New York. 2014.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
289
MAHMOOD, Saba. Teoria feminista, agência e sujeito liberatório: algumas reflexões sobre o
revivalismo islâmico no Egipto. Etnográfica, v. 10, n. 1, p. 121-158, 2001.
MIGNOLO, Walter. Histórias Locais/Projetos Globais. Belo Horizonte: UFMG. 2003.
MOHANTY, Chandra Talpade. Bajo los ojos de occidente. Academia Feminista y discurso
colonial. Trad. de María Vinós. Artículo publicado en: Liliana Suárez Navaz y Aída
Hernández (editoras): Descolonizando el Feminismo: Teorías y Prácticas desde los Márgenes,
ed. Cátedra, Madrid, 2008.
OYÈWÚMI, Oyèronké. Family bonds/Conceptual Binds: African notes on Feminist
Epistemologies. Signs, Vol. 25, No. 4, Feminisms at a Millennium (Summer, 2000), pp. 1093-
1098. Tradução para uso didático por Aline Matos da Rocha. 2000.
PADOVANI, Natália. Tráfico de mulheres nas portarias das prisões ou dispositivos de
segurança e gênero nos processos de produção das “classes perigosas”. In: DOSSIÊ GÊNERO
E ESTADO: FORMAS DE GESTÃO, PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES. cadernos pagu
(51), 2017.
PAREDES, Julieta. Hilando fino desde el feminismo comunitario, Comunidad Mujeres
Creando. Deustscher Entwicklungdienst. La Paz, 2010.
PATAI, Daphne. História oral, feminismo e política. Letra e voz, 2010.
PORTELLI, Alessandro. História Oral como arte da escuta. Tradução Ricardo Santhiago. São
Paulo: Letra e Voz, 2016.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In: LANDER,
Edgardo (org.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas
latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO/UNESCO. 2000.
SMITH, Linda Tuhiwai. Decolonizing methodologies: Research and indigenous peoples. Zed
Books Ltd., 2013.Version of record first published: 09 Jun 2011.
SPIVAK, Gayatri. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte, Editora UFMG, 2010.
WALSH, Catherine. Interculturalidad, reformas constitucionales y pluralismo jurídico. em
Boletin ICCI-RIMAI (Quito) Ano 4, Nº 36, março. Publicação mensal do Instituto Científico
de Culturas Indígenas. 2002.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
290
O gigante acorda quando está faminto: aspectos sobre a condução da vida política Brasil
na gestão de crises político-econômicas
Robert George Otoni de Melo1 e Iani Panait2
Resumo: O presente artigo objetiva compreender a correlação de forças entre os poderes
Executivo e Legislativo em momentos históricos de engessamento da vida política no país.
Em períodos caracterizados por crise econômica e/ou política, a instabilidade da agenda
pública leva à prevalência do Executivo Federal, em detrimento das discussões no seio do
parlamento brasileiro, gerando certa instabilidade e agravando períodos de abalo institucional.
Através do método qualitativo, o artigo revisará bibliografia para analisar a hipótese de
hegemonia da agenda da Presidência da República em relação aos outros poderes, inclusive,
através de seus mecanismos de veto, visando pautar o jogo político.
Palavras-chave: poder de agenda, predominância do Executivo, medida provisória, decreto-
lei, gestão de crises
1. Introdução
Neste artigo, propõe-se discutir as formas pelas quais o poder executivo federal, na
figura do Presidente da República, gerenciou as crises político-econômicas em diferentes
momentos da história do país. Através dos instrumentos formais estabelecidos, sugere-se que
o Executivo utilizou-lhes para garantir a predominância de uma agenda própria - e de
interesse do Executivo - em momentos conhecidos como os de “crises político-econômica”.
Por crise, entende-se aqui o conceito de Pearson (1998) segundo o qual é possível observar
uma crise sob três eixos: uma perspectiva técnica e meramente estrutural, uma perspectiva
psicológica e uma perspectiva sócio-política. Evidentemente, interessa a este artigo
compreender uma crise sob o enfoque sócio-político, sobretudo, por se considerar uma quebra
do sentido partilhado de vida coletiva e social verificando-se uma mudança marginal nas
condições vida material e política (Mendes, 2005, pg. 1).
Os estudos sobre a predominância do poder Executivo não são particularmente novos
(Pereira, Muller, 2000), sendo que o interesse aqui está em compreender como a reação de um
poder em um cenário de ruptura ou disrupção pode nos ajudar a observar melhor um aspecto
importante de um campo de estudos pertinente: o locus de atuação do próprio poder.
Desse modo, em um primeiro momento, o artigo discutirá quais são formas
instrumentais utilizadas pelo poder executivo federal para lidar com as crises políticas
discriminadas. Em um segundo momento, sugere-se em quais momentos e em quais
momentos tais instrumentos foram utilizados para gerir essas crises, sobretudo, como e em
1 Mestrando em Direito e Desenvolvimento pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas 2 Mestrando em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
291
quais condições isso ocorreu no plano do mundo fenomênico. Em um terceiro momento, o
artigo traz as conclusões sobre os achados submetendo-o e a si próprio ao debate acadêmico.
2. Caixa de ferramentas: decretos-lei, medidas provisórias e os vetos
presidenciais
Em comum às várias crises, há um aspecto gerencial em todas elas. A hipótese de uma
gestão dessas crises pode ser lida como uma tentativa do Executivo em controlar a ordem
política e econômica através dos instrumentos arbitrados na Constituição. Os mecanismos
políticos são variados, mas para este artigo destacam-se aqueles previstos nos textos
constitucionais:: os decretos-lei, as medidas provisórias e os vetos presidenciais.. Alguns
previstos em Constituições, caso dos decretos-lei, previstos nos textos outorgados em
períodos de exceção (1937, 1967, 1969), outros previstos somente no texto promulgado
(1988). Em todas, há a previsão expressa do veto presidencial.
A natureza desses instrumentos será explorados no bojo deste artigo. A princípio,
convém destacar um conceito-chave na hipótese central do texto: o poder de agenda. A
possibilidade do poder executivo utilizar desses mecanismos para impor uma agenda pode ser
uma forma possível de identificação e localização dos poderes do Executivo.
Uma visão possível para a origem de um poder de agenda no âmbito do poder
executivo pode estar em Giddens (1974) ao apontar a intensa relação entre o poder decisório e
elites impondo um binômio entre a 'relevância institucional' do aparelho e 'hierarquia' política
entre os grupos políticos:
Ao determinar o predomínio relativo dos grupos de elite em termos da sua posse do
poder, há dois fatores centrais que devem ser levados em consideração: vou me
referir a eles como a natureza da hierarquia que existe entre grupos de elite e a
relevância institucional das formas de organização social ou da instituição [política
ou burocrática] que eles comandam. O primeiro fator está intimamente relacionado a
um aspecto do poder indicado anteriormente: o grau de importância dos problemas
chave controlados pelos grupos de elite. Existe uma hierarquia entre grupos de elite
quando um grupo (por exemplo, a elite política) possui poder sobre questões mais
decisivas do que aquelas determinadas por outros e, por isso, é capaz de exercer em
grau maior ou menor um controle sobre esses últimos. A "relevância institucional"
refere-se à dimensão vertical do poder: a idéia pode ser definida pelo grau em que
uma dada instituição afeta as oportunidades de vida do conjunto de indivíduos que
pertencem a ela (Guandali Jr, Condato, 2016 apud Giddens, 1974: 8).
Neste contexto, o poder de agenda significaria a predominância dos interesses de um
dado grupo político sobre outro, menos influente e mais escasso de recursos políticos,
burocráticos, etc. No limite, o grupo político inserido dentro do aparelho institucional tende a
impor seu conjunto de interesses em detrimento dos outros grupos políticos. Parte dessa noção
nos ajuda a compreender o papel funcional do poder Executivo enquanto ator inserido numa
dada correlação de forças com os demais poderes da República considerando-se sua dimensão
institucional como paradigma para a imposição de pautas próprias.
Discute-se, então, se esse poder de agenda teria inclinação motivada, particularmente,
ao interesse geral do poder executivo ou não. Os debates em torno desse tema são numerosos
impondo até mesmo uma divisão entre aqueles que acreditam na baixa implementação em
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
292
decorrência do conflito permanente entre os poderes legislativo e executivo e aqueles que
acreditam na figura centralizadora do Executivo como predominante de seus interesses.
(Diniz, 2005, pg. 5)
De qualquer modo, interessa a esse artigo discutir em que aspecto a atuação do poder
executivo buscou implementar uma agenda própria aproveitando-se de um dado quadro de
crise político-econômica. Considerando os estudos de Mainwaring e Shugart (1997) pelo qual
sistematizam a predominância dos poderes do Presidente da República em três eixos: (i)
poderes pró-ativos (caracterizado pela adoção de medidas provisórias) (ii) poderes reativos
(caracterizado pelo veto presidencial) e poderes exclusivos (em que o Presidente pode pautar
a agenda). A título de exemplo, de 805 propostas que tramitaram no Congresso Nacional do
Brasil durante os períodos compreendidos em 1995 a 1998, “648 (80,49%) foram iniciadas
pelo Executivo, 141 (17,51%) foram iniciadas pelo Legislativo e apenas 16 (1,98%) pelo
Judiciário” (Pereira, Muller, 2000, pg. 47). (Pereira, Muller, 2000)
Veremos no artigo o exercício dessa predominância sustando sua projeção em
momentos cruciais da vida política brasileira.
2.1 Decretos-lei:
Um dos primeiros instrumentos de centralização da atuação de poder foram os
decretos-lei. Com a vigência a partir da Constituição de 1937, os decretos-lei têm sua
existência repetida em outras duas Constituições, a de 1967 e 1969, as três outorgadas por
Presidentes durante regimes de exceção. O interesse por esse instrumento justifica-se não
somente pelo seu uso largamente realizado (os decretos-lei totalizam, entre 1965 e 1988, mais
de 2.481 (Pessanha, 2008, pg. 32)), mas também pelo seu papel funcional, afinal, é a partir
dele que o Presidente da República passa a ter atribuições legislativas próprias.
A primeira fonte formal atribuindo o decretos-lei ao Presidente da República veio com
a Constituição de 1937. Apesar do Congresso Nacional não ter sido aberto durante o período
de vigência do texto constitucional de 1937, interessante analisar o aspecto formal garantido
pelo ao Presidente através da figura do decreto-lei.
Em um aspecto formal, o texto garantia ao Presidente ampla margem legislativa ao
permitir que, por decreto-lei, sobretudo, por que os limites decorrentes do uso do instrumento
estavam amordaçados pelo fato de que a atividade parlamentar havia sido suspensa.
Art 180 - Enquanto não se reunir o Parlamento nacional, o Presidente da República
terá o poder de expedir decretos-leis sobre todas as matérias da competência
legislativa da União.
Com advento da Constituição de 1946, a figura do decreto-lei deixou de existir,
inclusive, não havendo outra igual em uma possível reação à centralização de poder.
Provisoriamente. A figura do decreto-lei voltou a surgir com a Constituição de 1967, três anos
após o golpe militar, em uma faceta ainda mais expansionista. Logo após, a figura do decreto-
lei é repetida na Constituição de 1969 com a mesma estrutura de 1967, simbolizando um
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
293
relativo enraizamento desse instrumento como parte de uma forma de atuação direta do poder
central em seara legislativa.
Para esse artigo, tenta-se compreender em que medida o papel dos decretos-lei
permitiu uma forma de ‘centralização’ - ainda mais aguda - temática do poder executivo
expondo isto em vários momentos-chave do contexto brasileiro.
2.2 Medidas provisórias
As medidas provisórias mantém parte do espírito dos decretos-lei ao permitir que o
gabinete da Presidência da República possua formas para induzir seus interesses dentro da
arena pública, apesar de possuírem um escopo de atuação muito menor. Tal como no caso
dos decretos-lei, as medidas provisórias também tem sua natureza vinculada ao Presidente da
República que as expede sob o binômio da “relevância” e da “urgência”. Entretanto, as MP’s
precisam, necessariamente, ter sua análise submetida à apreciação do Congresso Nacional sob
pena de não conversão em lei, isto é, perder o seu efeito no mundo fenomênico. Inclusive, é
de se citar que o efeito de sua não discussão quando do término do prazo para a conversão ou
não em lei é bastante significativo: a paralisia de toda a pauta legislativa do próprio Congresso
Nacional.
Não obstante as novas limitações, o poder executivo federal, na figura do gabinete a
Presidência da República, costuma utilizar com frequência as MP’s independentemente dos
períodos de crise política, mas para efeitos deste artigo, far-se-á um recorte para melhor
contemplar os propósitos metodológicos aqui inseridos. Por crises políticas sob a vigência do
período democrático, o artigo considerará: a crise no México de 1994, crise asiática de 1997,
a crise russa de 1998, a crise cambial de 1999 e a crise argentina entre os períodos de 1999 e
2000, todas ocorridas durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1994-2002).
2.3 Vetos presidenciais.
Os vetos presidenciais são uma figura típica de controle político exercido pelo
Presidente da República desde a Constituição de 1891 pelo menos (Massi, 2015, pg. 27) No
decorrer da história constitucional do Brasil, no entanto, pode-se observar uma certa
modulação na escopo de revisão do veto do Presidente pelo poder Executivo. Na Constituição
de 1946, por exemplo, para rejeitar um veto expedido pelo Presidente necessário seria reunir o
apoio de 2/3 do Congresso (Senado + Câmara dos Deputados), já na Constituição de 1988,
por exemplo, é necessário a maioria absoluta dos deputados e senadores3.
De todo modo, a figura do veto presidencial continua sendo fundamental para o jogo
político entre Legislativo e Executivo. Ao garantir ao Presidente a possibilidade de controlar,
ainda que indiretamente, a própria atividade produtiva parlamentar, o veto tem sua função
como poder de agenda. Por ser ferramenta política importante na correlação de forças entre os
poderes, o veto presidencial deve ser analisado com atenção.
3 Brasil. República Federativa do Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. “Art. § 4º O veto será
apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores.”
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
294
Neste artigo, procuraremos compreender a dinâmica dos vetos presidenciais dados
pela Presidenta Dilma quando do seu governo (2010-2016) especialmente em contraste a um
momento de crise política em particular deste governo.
3 Crises político-econômicas e a gestão das crises pelo Executivo: a fome do
gigante.
Imaginar um instrumento político como uma forma de gerir uma crise pode ser uma
maneira interessante de se observar o campo de atuação do Executivo. Sejam em crises
ambientais, crises de segurança pública ou mesmos crises propriamente econômicas, em todos
os momentos a reação oficial é de preservação das instituições mais básicas do aparelho
estatal lançando mão de novas estratégias políticas para perceber como uma agenda política é
controlada.
Para executar a gestão dessas crises todas, o Poder executivo, seja federal, estadual ou
municipal, tem a disposição um ferramental, formal ou informal, à sua disposição. Isso pode
não significar o mero uso da ferramenta puramente para o cumprimento da finalidade a ela
incubida, mas também para conduzir uma agenda de interesses próprias, ainda que à revelia
dos outros poderes. A fome do gigante nada mais é que a vontade de comer boa parte do bolo,
sem se importar com o apetite dos outros.
3.2 - O governo Jango e o decreto da reforma agrária
O período democrático posterior ao Estado Novo durou 18 anos. Compreendido entre
1946 até 1964, o Brasil esteve sob à égide da Constituição de 1946, que não retirou dos
poderes do Presidente da República a possibilidade de decreto-lei. De todo modo, no tocante
ao período de governo de João Goulart (1961-1964), o país sofreu elevada instabilização
político-econômica em decorrência de grande desconfiança fruto da conexão histórica entre o
presidente e Getúlio Vargas.
Uma das medidas visando contingenciar parte dessa crise político-econômica e,
visando atingir parte do problema de desigualdade na distribuição de terras, o Presidente João
Goulart expede o decreto nº 55.700, em 13 de março de 1964 (“Desapropriação para a
reforma agrária”). A justificativa para o decreto seria “resolver o problema rural,
restabelecendo a paz em áreas marcadas por uma crescente mobilização social, uma reforma
agrária, na visão que se afirmou, seria capaz de colocar o país nos trilhos da industrialização e
do desenvolvimento econômico”4.
O objeto do decreto “declarava de interesse social para fins de desapropriação, as
áreas rurais compreendidas em um raio de 10 km dos eixos de rodovias e ferrovias federais,
bem como as terras beneficiadas ou recuperadas por investimentos exclusivos da União em
obras de irrigação, drenagem e açudagem” (Cunha Filho, 2007, pg. 11). À época, diversos
4 Brasil. Grynszpan, Mario “A questão agrária no governo Jango” CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação
de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas. Disponível em <http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublica/A_questao_agraria_no_governo_Jango> Acessado em 30.05.2018
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
295
setores da sociedade civil reagiram ao decreto pela insinuação de que seria uma reforma
agrária socialista.
De fato, em meio a um Congresso reativo às pretensões a figura de João Goulart,
sobretudo, pelas acenos diplomáticos dados à China e à Cuba, o Presidente lança mão do
decreto de desapropriação em uma tentativa de governo sofrendo, dias depois, um golpe de
Estado.
3.3 - O governo FHC e a piracema das medidas provisórias:
Outro governo em meio às várias crises político-econômicas foi o governo Fernando
Henrique (1994-2002). Em todas elas, o volume de medidas provisórias foi significativamente
alto. Em média, o governo FHC editou cerca de uma nova medida provisória a cada dez dias5.
Comparado ao atual governo Michel Temer (2016-), a administração FHC foi a segunda mais
ativa na condução da política através de medidas provisórias 6
Do ponto de vista temático, as medidas provisórias expedidas pelo governo FH
tentaram, em larga medida, controlar parte dos danos causados pelas crises econômicas
ocorridas durante seu governo. Se observamos os dados coletados por Arias (2001), podemos
uma forte predominância na agenda parlamentar advinda da agenda do presidente:
Os dados analisados por eles confirmam que a área de atuação do Congresso, ao
longo da legislatura 1995-98, foi restringida pela agenda presidente: foram 648
propostas iniciadas pelo Executivo, aproximadamente 75% delas foram sobre temas
ligados diretamente à economia, quase 17% propostas administrativas, e apenas 8%
estavam relacionadas a temas políticos ou sociais. (p. 36)
Se por um lado as medidas provisórias serviram como instrumento às mãos do
presidente para impor sua agenda, por outro lado, seu largo uso pelo Executivo significou um
verdadeiro backlash do poder Legislativo. A partir da promulgação da emenda constitucional
nº 32, em 2001, as Casas legislativas impuseram um verdadeiro limitação material aos
poderes do Presidente em expedir medidas provisórias. Abrucio e Couto (2003) explicam um
dos possíveis motivos pelos quais a emenda constitucional nº 32 foi pautada e posteriormente
promulgada:
Tornara-se praxe desde 1988 o uso descomedido da prerrogativa de editar e,
sobretudo, reeditar MPs por parte do Executivo. A interpretação dos imperativos
constitucionais de "relevância e urgência" para a utilização desse instrumento
normativo tornara-se demasiadamente flexível, fazendo-se sinônimo de "pressa", por
um lado, e de "conveniência legislativa", por outro. A pressa dizia respeito à pouca
disposição presidencial de aguardar os trâmites legislativos ordinários – ou mesmo
em regime de urgência. A conveniência legislativa concernia ao acordo tácito
estabelecido entre o Executivo e a maioria parlamentar que lhe desse sustentação,
permitindo a reedição continuada de MPs em vez de sua apreciação, enquanto se
5 Brasil. Folha de São Paulo. “FHC edita uma nova MP a cada 10 dias de governo”. Disponível em
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc280206.htm> Acessado em 24.05.2018 6 Brasil. Portal de Notícias G1. “Desde FHC, Temer é o presidente que, em média, mais edita medidas
provisórias” Disponível em <https://g1.globo.com/politica/noticia/desde-fhc-temer-e-o-presidente-que-em-media-mais-edita-medidas-provisorias.ghtml>. Acessado em 30.05.2018
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
296
ocupava de assuntos mais trabalhosos, como a tramitação de emendas
constitucionais.
A predominância do poder de agenda do Presidente, ao menos durante o governo
FHC, parece ter sido tanta que gerou até mesmo um efeito de limitação reconhecido pelo
Legislativo.
3.4 Um olhar sobre os vetos da presidenta Dilma Rousseff
O primeiro biênio do primeiro mandato do governo Dilma Rousseff (2010-2014) pode
ser caracterizado por relativa paz social. Considerando a popularidade alta em decorrência dos
bons índices de emprego formal e crescimento da renda, é possível supor que, durante esse
período, em específico, a presidenta não enfrentou grandes crises políticas, apesar do rescaldo
da crise econômica de 2008 ainda gerar impactos. A chave muda a partir de 2013,
especificamente, a partir de junho de 2013. Neste mês em questão, com advento dos grandes
atos públicos conhecidos como “jornadas de junho de 2013”, a presidenta vê sua popularidade
derreter em meio a manifestações com pautas coletivas difusas.
Em uma espiral de aumento de impopularidade7, a presidenta passa a imprimir um
ritmo acelerado em atividade legislativa. Só em 25\6\2013, dias após o maior ato público da
história recente, a presidente apresentou 5 pactos e uma proposta de reforma na Constituinte8
visando cumprir parte dos anseios populares. Do mesmo modo, o ritmo de vetos presidenciais
às medidas aprovadas no parlamento brasileiro se intensificou, tal como as sucessivas derrotas
da presidenta.
Entre tantos vetos presidenciais em 6 anos de mandato, citam-se três importantes para
destacar o impacto deste instrumento na condução da agenda política: (i) o veto ao reajuste
dos servidores públicos ligados ao poder judiciário; (ii) veto a “lei de royalties’ do petróleo,
posteriormente derrubado pelo Congresso Nacional.
No primeiro caso, a justificativa da presidenta era de que o reajuste a ser incorporado
seria incompatível dados os “ esforços necessários para o equilíbrio fiscal na gestão de
recursos públicos”9. O contexto não poderia ser outro: a crise econômica de 2005. A retórica
oficial do governo, naquela época, era de ajuste fiscal dado o aumento expressivo da dívida
pública. O veto foi mantido pelo Congresso Nacional.
No segundo caso, um contraste é feito para realçar os limites dos vetos presidenciais
quanto a possibilidade de um poder reativo do Congresso. No tocante a lei dos royalties do
petróleo, a presidenta sofreu um revés importante, e talvez um dos sinais do descontrole
político de seu governo que viria desembocar em seu posterior afastamento definitivo do
cargo de Presidenta. Neste projeto de lei, a presidenta procurou vetar os dispositivos que
permitiam a divisão dos royalties do petróleo para os Estados produtores, a chamada “partilha
7 BRASIL. Folha de São Paulo. “Popularidade de Dilma cai 27 pontos após protestos “ Disponível em
<http://www1.folha.uol.com.br/poder/2013/06/1303541-popularidade-de-dilma-cai-27-pontos-apos-protestos.shtml > Acessado em 30.05.2018 8 BRASIL. Portal de notícias G1. “Dilma propõe 5 pactos e plebiscito para constituinte da reforma política “
Disponível em http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/06/dilma-propoe-5-pactos-e-plebiscito-para-constituinte-da-reforma-politica.html> Acessado em 31.5.2018 9 BRASIL. Senado Federal da República Federativa do Brasil. Veto nº 26/2015.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
297
dos royalties”. Não obteve êxito e teve seus vetos derrubados pelo Congresso Nacional10 em
uma das derrotas mais significativas do governo sinalizando para um enfraquecimento na
condução da agenda da Presidência.
Tal como a medida provisória, o veto presidencial é um instrumento com suas
particularidades e sua função na correlação de forças com o poder Legislativo. Seu uso pelo
presidente pode significar uma maneira formal de controle da pauta legislativa aprovada,
sobretudo, quando a pauta discorda da agenda da Presidência.
4.Conclusão
Em suma, o artigo sugeriu uma maneira de compreender a reação do poder executivo
frente às várias crises político-econômicas. Conforme observado em diferentes momentos
históricos, o Presidente da República lançou mão do ferramental jurídico a sua disposição
para lidar com as tais crises. Do mesmo modo, sugeriu-se a hipótese de que poder executivo
utiliza desses instrumentos para impor sua agenda de interesses em um movimento de ‘poder
de agenda’. As movimentações podem ser observadas desde o momento da expedição dos
decretos-lei do período de exceção até os vetos presidenciais do período democrático em uma
tentativa de aproveitar uma janela de oportunidade política para garantir uma predominância
temática.
De todo modo, interessa testar a validade dessa hipótese em um estudo mais
aprofundado envolvendo a ciência política mais apurada. Não à toa o artigo está sendo
submetido à crítica mais qualificada. Compreender os efeitos do comportamentos oficiais do
Poder executivo, sobretudo, em momentos de tensão política pode ser importante para
verificar não somente como este poder atua, mas como ele pode atuar em outros momentos
semelhantes.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARIAS, Carmen “Revista Mediações, Londrina. v. 6. 11.2. p.29·S3.jul./dez. 2001”
ABREU JUNIOR, Diogo Alves de. “Medidas provisórias : o poder quase absoluto” Brasília:
Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2002. 74 p. - (Temas de interesse do
Legislativo; n. 1)
BEDRITICHUK, Rodrigo Riberito, "Da Popularidade ao Impeachment: Medidas provisórias,
mudanças institucionais e a crise política no governo Dilma". Dissertação de Mestrado.
Instituto de Ciência Política. Universidade de Brasília. 2016.
10Brasil. Portal de Notícias UOL. “Congresso derruba vetos da presidente Dilma à lei dos royalties” Disponível em
< https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/03/07/congresso-derruba-vetos-da-presidente-dilma-a-lei-dos-royalties.htm>
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
298
CUNHA FILHO, Sergio de Britto A Constituição de 1988 e a diminuição do poder estatal de
desapropriar os imóveis rurais para fins de reforma agrária / Sergio de Britto Cunha Filho;
orientador: Ana Lucia de Lyra Tavares; co-orientador: Adrian Sgarbi – Rio de Janeiro: PUC,
Departamento de Direito, 2007.
DINIZ, Simone - “Interações entre os Poderes Executivo e Legislativo no Processo Decisório:
Avaliando Sucesso e Fracasso Presidencial* - Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro,
Vol. 48, no 1, 2005, pp. 333 a 369.
GUANDALINI JR., Walter; CODATO, Adriano. O CÓDIGO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO NOVO: A DISTRIBUIÇÃO JURÍDICA DO PODER POLÍTICO NA
DITADURA. Estud. hist. (Rio J.), Rio de Janeiro , v. 29, n. 58, p. 481-504, Aug. 2016 .
Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
21862016000200481&lng=en&nrm=iso>. access on 23 May 2018.
Jacobsen, Helen Letícia Grala Jac Interação estratégica entre os poderes executivo e
legislativo : as medidas provisórias editadas nos mandatos de Lula e Dilma (2003-2014) /
Helen Letícia Grala Jacobsen ; Alvaro Augusto de Borba Barreto, orientador. — Pelotas,
2016.
MAINWARING, Scott e SHUGART, Matthew S., Presidentialism and democracy in Latin
America. Cambridge, Cambridge University Press. 1997
MENDES, Antonio Mira Marques "Subsídios para uma teoria das crises políticas" In Anais
do IV Congresso Spocom. Universidade de Aveiro. 2005
PEREIRA, Carlos and MUELLER, Bernardo. Uma teoria da preponderância do Poder
Executivo: o sistema de comissões no Legislativo brasileiro. Rev. bras. Ci. Soc.. 2000, vol.15,
n.43, pp.45-67.
PERSON, C. M. “Reframing Crisis Management, Academy of Management Review”, 1998
RICCI, Paolo; TOMIO, Fabricio. O poder da caneta: a Medida Provisória no processo
legislativo estadual. Opin. Publica, Campinas , v. 18, n. 2, p. 255-277, Nov. 2012 . Available
from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
62762012000200001&lng=en&nrm=iso>. access on 23 May 2018.
SANTOS, Fabiano “SANTOS, Fabiano. Patronagem e Poder de Agenda na Política
Brasileira. Dados, Rio de Janeiro”,v.40, n.3,, 1997 Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52581997000300007&lng=en&nrm=iso>. access on 23 May 2018.
Comparecimento eleitoral na Federação Russa:Análise da eleição presidencial de 2018
Matheus Cavalcanti Pestana∗
2018
Resumo
Com 76,69% dos votos, Vladimir Putin é reeleito na Rússia, iniciando seu quartomandado como presidente do país até 2024. Com voto facultativo, o índice de com-parecimento às urnas está acima de 60% desde os anos 2000, o que acompanha amédia dos outros países da Europa. Em 2018, a média do comparecimento nacio-nal foi de 67,5%. Entretanto, ao olharmos os dados de comparecimento por seçãoeleitoral, temos um considerável número de casos com comparecimentos acima de90% e tantos outros com 100% de presença. Em um país com voto facultativo e commenos de 30 anos de transição democrática, 100% de comparecimento às urnas é umnúmero notável. O presente artigo, então, objetiva-se a analisar as razões desse altonível de comparecimento em 2018, verificando hipóteses anteriormente consideradaspor outros autores, como obrigação moral, fraude eleitoral, mobilização feita pelosgovernadores e pressão patronal.
Palavras-chave: comparecimento eleitoral, comportamento eleitoral, Rússia, elei-ções.
1 Introdução“Por que os indivíduos votam?” é uma das perguntas que permeia a literatura
sobre comportamento eleitoral na área da Ciência Política. Em países onde o voto nãoé obrigatório, entender os motivos que levam um cidadão à urna para a escolha de seusrepresentantes é tão importante quanto entender os critérios utilizados pelo mesmo paradecidir seu voto. Hipóteses como um senso de dever cívico, altruísmo, interesse próprio,pressão social e simples hábito são consideradas, mas não há um consenso sobre asmotivações do eleitor de comparecer à seção eleitoral, afinal, os motivos podem variar de
∗Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais ePolíticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (IESP/UERJ) - Email: [email protected]
299
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
acordo com o contexto nacional e também a nível individual. O índice de comparecimentoeleitoral, então, leva a Ciência Política a fazer inferências sobre o comportamento de umdeterminado eleitorado.
Entretanto, ao analisarmos o comparecimento em diversos países, os dados sãoagregados, geralmente, em uma média nacional, o que não permite uma análise um poucomais profunda. O ideal, em países com dados abertos, é utilizar a seção eleitoral comounidade de análise, o que possibilita inferências mais precisas acerca do comportamentode um eleitorado em um bairro, cidade ou região, propiciando estudos mais pontuais,permitindo uma melhor compreensão. Além disso, tais regiões devem ser colocadastambém através do tempo, para que possam ser observadas mudanças no comportamentodo eleitorado, no que tange ao comparecimento.
Entretanto, o presente artigo se propõe, de forma exclusivamente expositora, anali-sar hipóteses levantadas por outros autores em eleições anteriores, e verificar sua validadena última eleição presidencial, de 2018.
2 O caso da Federação RussaNa Federação Russa, os dados eleitorais são abertos e disponíveis online desde a
eleição para a Duma, o parlamento russo, em 2003. O órgão responsável pelas eleições,a ЦИК1, divulga os dados através da plataforma “Выборы”2, onde se pode consultaros dados de cada eleição, em todos os níveis: nacional, estadual, municipal e por seçãoeleitoral.
Utilizando essa plataforma, foram captados os dados da eleição presidencial queocorreu em 18 de março de 2018. A base de dados dessa eleição contém 97697 seçõeseleitorais, denominadas Comissões Eleitorais Circunscricionais (Участковая избира-тельная комиссия, na sigla УИК - UIK). Logo, existem 97697 UIKs na FederaçãoRussa. Entretanto, dentre essas, estão contempladas as seções localizadas fora do territóriorusso, presentes no mundo todo, através de consulados, e também a cidade de Baikonur,no Cazaquistão, que é administrada pelo governo russo por conta da existência de um Cos-módromo no local. Ao retirarmos essas seções, por representarem um problema diferenteno que tange ao comparecimento3, obtemos 97297 casos. Ao sumarizar tais dados, obte-mos, como visto na Tabela 1, na página 301, observamos uma distribuição assimétrica docomparecimento em todas as UIKs, por termos uma média 3,39 pontos acima da mediana,1 Abreviação de “Центральная избирательная комиссия” - Comissão Central Eleitoral, em tradução
livre.2 Plataforma “Vybory” - <http://www.vybory.izbirkom.ru/region/izbirkom> - em russo. Último acesso:
09/05/20183 No caso das seções existentes fora do território russo, dos 393 casos, em 276, ou seja, 70,22%, há um
comparecimento de 100%. É perceptível que tais seções não possuem o mesmo rigor na inscrição deseus eleitores, comparadas às seções dentro da Rússia. A inscrição na lista de eleitores, na Rússia, éautomática, como no Brasil, apesar do voto não ser obrigatório. Assim, cidadãos russos que vivem emoutro país não precisam notificar o consulado sobre seu desejo de votar, bastando ir ao mesmo no diado pleito. Entretanto, pela base de dados, verificam-se seções com um determinado número de eleitoresinscritos, e um número menor de eleitores que compareceram, não se sabendo, até então, como foiconstruída pelo consulado, a lista de eleitores inscritos originalmente, já que não há inscrição por partedo eleitor.
300
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
Figura 1 – Histograma do Comparecimento às Urnas
indicando que os valores mais elevados de comparecimento encontram-se mais distantesdo centro de distribuição dessa curva. E isso pode ser verificado a partir do gráfico naFigura 1, na página 301. Há um elevado número de casos concentrados em 100%, além depequenos picos, localizados principalmente em números múltiplos de 5, a partir dos 70%,o que se relaciona com o tratado por Kobak et al. (2016). Diante de tais dados, pode-seperceber que o comparecimento eleitoral na Federação Russa é atípico, existindo diversashipóteses para justificá-lo, as quais serão tratadas adiante.
Min. 0,00%1o Quartil 60,35%Mediana 68,18%Média 71,57%3o Quartil 83,16%Max. 100,00%
Tabela 1 – Sumarização do Comparecimento
3 O partido “Rússia Unida”Segundo a ЦИК4, a eleição presidencial de 2018, que ocorreu em 18 de março do
mesmo ano, teve como resultado, como visto na tabela 2, a vitória de Vladimir Vladimiro-vich Putin, com 76,69% dos votos. Putin, que chega ao cargo em 2000, tendo ocupado,4 Fonte: Resultado da eleição presidencial de 2018 da Federação Russa - <http://www.vybory.izbirkom.
ru/region/region/izbirkom?action=show&root=1&tvd=100100084849066&vrn=100100084849062®ion=0&global=1&sub_region=0&prver=0&pronetvd=null&vibid=100100084849066&type=226> -em russo. Último acesso: 14/05/2018.
301
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
anteriormente, a função de Primeiro-Ministro da Federação Russa durante o governo deBóris Iéltsin, está em seu quarto mandato, tendo exercido a presidência entre 2000 e 2008,e entre 2012 até 2024, quando finaliza o atual mandato. Entre 2008 e 2012, o cargo dePresidente foi ocupado por seu Primeiro-Ministro, Dmitri Medvedev. Ambos são filiadosao partido “Rússia Unida”, um party of power, fundado em 1o de Dezembro de 2001, eque atualmente controla 128 dos 170 assentos no Conselho Federal5, 338 dos 450 assentosna Duma Estatal6, detém 3095 dos 3980 assentos nos parlamentos regionais7 e possui 77dos 85 governadores8 - . Isso demonstra que o partido possui ampla maioria em todos osníveis da federação, controlando diversos recursos em todas as esferas.
Candidato % de votosVladimir VladimirovichPutin 76,69%
Pavel NicolaevichGrudinin 11,77%
Vladimir VolfovichJirinovsky 5,65%
Ksênia AnatolievnaSobchak 1,68%
Grigori AlekseevichYavlisnky 1,05%
Boris IurivichTitov 0,76%
Maxim AleksandrovichSuraikin 0,68%
Sergei NikolaevichBaburin 0,65%
Tabela 2 – Resultado da Eleição Presidencial 2018
4 HipótesesA corrente seção se dedicará a revisar hipóteses levantadas em eleições anteriores,
buscando aplicá-las no momento atual, para tentar explicar o comparecimento na últimaeleição. A obrigação moral/senso de dever cívico, a mobilização por parte dos governa-dores, a coação por parte de empregados e professores e a hipótese de fraude eleitoral,especificamente no comparecimento, serão abordadas.5 Fonte: Lista de membros do “Rússia Unida” no Conselho Federal - <http://er.ru/persons/federal_council/>
- em russo6 Fonte: Lista de deputados do “Rússia Unida” na Duma Estatal - <http://www.er-duma.ru/party/list/>7 Fonte: Parlamentos Regionais da Rússia - <https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_parliaments_of_
Russia> - em inglês. Último acesso: 14/05/2018. O partido “Rússia Unida” se encontra referenciadocomo “UR” (United Russia).
8 Fonte: Lista de governadores da Federação Russa - <https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_heads_of_federal_subjects_of_Russia#Current>
302
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
4.1 Obrigação moralA primeira hipótese, como observado por Blais, Young e Lapp (2000 apud WHITE;
FEKLYUNINA, 2011), é a da obrigação moral, que é a mais importante determinante dovoto (BLAIS; YOUNG; LAPP, 2000, p. 190). Segundo pesquisa executada por White eFeklyunina, no início de 2008, 77% dos eleitores afirmam ter votado para a eleição para osdeputados da Duma Estatal, ocorrida 2 meses antes. Entretanto, os dados oficiais declaramum comparecimento de 64% (WHITE; FEKLYUNINA, 2011, p. 579). Ou seja, as pessoasse sentem coagidas a votar de forma que, quando não o fazem, mentem que fizeram. Logo,não se pode rejeitar a hipótese de obrigação moral: os indivíduos podem visualizar o votocomo um exercício de cidadania.
Tal hipótese faz sentido, se levarmos em consideração o período da existência daUnião das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Existiam eleições regulares para o Legislativode cada Soviete Supremo e para os Executivos regionais, mas não para o cargo de SecretárioGeral da URSS, que era escolhido pelo Politburo, o ramo executivo do Partido Comunistada União Soviética. Por sua vez, os membros do Politburo eram escolhidos pelo ComitêCentral, e eram membros deste. Os membros do Comitê Central eram eleitos pelosdelegados nos congressos do Partido Comunista. Assim, a eleição era absolutamenteindireta, não podendo o povo soviético escolher seu Secretário-Geral, senão através dasinstâncias estipuladas pela lei.
Assim, isso pode refletir na Federação Russa atualmente na medida em que, porter passado um período sem eleger diretamente seus representantes, há um senso de devercívico e/ou obrigação moral de fazê-lo, levando a um alto índice de comparecimento, oque poderia ser aplicado à eleição de 2018. Entretanto, tal hipótese sofre com o fato daextrema dificuldade em verificá-la, tanto na última eleição quanto nas outras.
4.2 Mobilização dos GovernadoresOutra hipótese a ser considerada é a apresentada por Golosov, que afirma a existên-
cia de uma necessidade dos governadores de apresentarem resultados ao Kremlin em trocade uma não-interferência do mesmo em assuntos internos da região. Isso foi observado porSakwa (2000 apud GOLOSOV, 2011) nas eleições de 1999 para a Duma Estatal, na qual arivalidade entre os dois party of power existentes, o Unidade e o Pátria-Toda a Rússia, foivisivelmente explicitada pelo apoio de cada um dos governadores, leais a um ou ao outropartido (GOLOSOV, 2011, p. 626). Posteriormente, ambos os partidos se fundiram paracriar o “Rússia Unida”.
Os governadores buscavam que o Kremlin não interferisse em seus assuntos in-ternos para afastar a possibilidade do ocorrido em 1999, no episódio conhecido como“Segunda Guerra na Chechênia”, quando movimentos separatistas chechenos se insurgi-ram contra o governo central. Putin se torna Primeiro-Ministro nesse contexto, fazendouma ofensiva russa na região, retomando o controle da mesma. Assim, posteriormente,outros governadores tinham como objetivo evitar esse tipo de intervenção, oferecendodeterminada lealdade ao governo central, mobilizando eleitores. No momento analisadopor Sakwa, os parties of power não possuíam penetração por todo o território, funcionandoapenas a nível nacional, enquanto partidos específicos de cada região eram mais fortes,como visto em Golosov (2011, p.628), e os próprios governadores não possuíam, em sua
303
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
maioria, uma filiação partidária definida, evitando-a para sempre possuir boas relações como governo central, independente do partido que ali estivesse (GOLOSOV, 2011, p.627).Os governadores, a princípio, eram independentes, por possuírem o controle de recursoseconômicos, como petróleo e gás.
Esse cenário de não-filiação por parte dos governadores foi abruptamente trans-formado em 2009, quando uma lei, proposta por Vladimir Putin em 2004 e introduzidapor Medvedev em 2008, entrou em vigor. A lei garantia que o partido que controlassea maioria em uma assembleia regional, pudesse nomear o governador, dentre uma listaapontada pelo presidente (REUTER, 2010, p.298). Tal fato levou a uma indicação massivade políticos filiados ao “Rússia Unida” (o que pode ser comparado ao antigo sistema denomenklatura da URSS), além de filiações de governadores ao partido, como observadopor Reuter. Assim, o suporte ao partido, a partir de 2009, era garantido, com a lealdade dosgovernadores ao Rússia Unida. Assim, o controle dos recursos econômicos supracitadostambém se transferiu para o partido “Rússia Unida”, que podia, a partir do governo central,demitir e indicar novos governadores. Tal mecanismo de indicação caducou em 2012, maspermitiu que o partido garantisse suas posições nas regiões e ganhasse apoio.
Assim, para um governador se manter no poder, é necessário que o mesmo mobilizeeleitores para apoio ao “Rússia Unida” nas urnas, ampliando a performance do partido.Tal hipótese faz sentido até 2012, momento em que a lei de indicação de governadoresé revogada, mas não se aplica integralmente à eleição de 2018, já que os governadoresnão são mais indicados, logo, não precisam temer sua demissão do cargo. Entretanto,por razões óbvias de fidelidade partidária, a hipótese faz parcialmente sentido, embora acontrapartida não seja tão grave como a cassação do mandato. Atualmente, a maioria dosgovernadores faz parte do Rússia Unida, sendo 77 governadores em 85 regiões.
4.3 Pressão patronal e escolarWhite e Feklyunina apresentam uma terceira hipótese que pode ser mencionada:
a pressão em ambiente de trabalho. Os autores trabalham com grupos focais, e algumasopiniões explicitadas permitem a percepção de uma coação no ambiente de trabalho paranão só um comparecimento às urnas, mas também pelo voto no candidato do partido“Rússia Unida”. Dois exemplos são dados: no primeiro, uma participante de um dosgrupos focais, afirma que o diretor da fábrica onde a mãe trabalhava, na cidade de Kaluga,“deixou bem claro para a mãe e seus colegas em quem eles deveriam votar” (WHITE;FEKLYUNINA, 2011, p. 585), e em outro caso, o diretor de uma fábrica em Novomoskovskera membro do partido “Rússia Unida” e “deixou claro a todos os seus subordinados comoera esperado que eles votassem” (WHITE; FEKLYUNINA, 2011, p.585).
Por desconhecermos as ditas fábricas, é impossível verificar a aplicabilidade dessahipótese na última eleição presidencial. Entretanto, sabendo que o primeiro exemploé da cidade de Kaluga, localizada no Oblast de Kaluga, ao sumarizarmos os dados docomparecimento nos 3 distritos da cidade, obtemos uma distribuição com valores inferioresaté mesmo no nível nacional, como observado na Tabela 3.
Já em Novomoskovsk, localizada no Oblast de Tula, o mesmo acontece: os valoresda distribuição se encontram abaixo dos visualizados na Tabela 1, mostrando que essahipótese ainda é pouco relevante, embora não deva ser rejeitada, para explicar um nível
304
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
alto de comparecimento na eleição de 2018.
Outros dois casos podem ser citados: os supervisores da fábrica de automóveisGAZ, em Nijnii Novgorod, obrigaram, em 2008, os seus trabalhadores de votarem nopartido de Putin e que deveriam telefonar para eles [os supervisores] assim que saíssemda seção eleitoral. Nas escolas, há relatos de professores que davam aos alunos panfletosentitulados “Os Planos de Putin”, e pediam que os pais votassem no partido “Russia Unida”(LEVY, 2008). Na Tabela 3, a distribuição em 2018 para os dois distritos fabris (Авто-заводская Северная e Автозаводская Южная) possuem também uma distribuiçãoabaixo do observado em toda a Federação Russa.
Essa hipótese não pode ser considerada fraca, mas também apresenta dificuldadesde verificação: o que se tem são relatos de casos específicos, que certamente não possuemmagnitude para explicar todo um país.
Kaluga Novomoskovsk Nijnii-Novgorod - AvtozavodskMín. 47,71% 59,00% 49,93%1o Quartil 62,06% 65,49% 58,00%Mediana 64,71% 70,17% 61,80%Média 65,05% 71,63% 61,95%3o Quartil 66,71% 75,07% 64,43%Max. 100,00% 100,00% 100,00%
Tabela 3 – Distribuição do comparecimento em Kaluga e Novomoskovsk
4.4 Fraude eleitoralUma outra hipótese a ser considerada é a de que o alto nível de comparecimento
se deve à fraudes eleitorais. Kobak et al. apresentam a hipótese de que, “se os resultadosde uma eleição são manipulados ou forjados, a frequência de porcentagens arredondadasdeve ser elevado”, entendendo que há uma atração dos seres humanos aos númerosarredondados. Esse fenômeno é muitas vezes referenciado como heaping (CRAWFORD;WEISS; SUCHARD, 2015 apud KOBAK et al., 2016). Os autores analizam dados desete eleições federais na Rússia, de 2000 a 2012 e, utilizando simulações de MonteCarlo, observam uma frequência elevada de números arredondados, múltiplos de 5, emdeterminadas regiões (KOBAK et al., 2016, pp. 65-66).
A definição de “porcentam arredondada” de Kobak et al. foi considerada a partirda observação dos dados, baseando-se no fato de que é impossível uma porcentagem serexatamente inteira, dado que o número de eleitores e o número de votos são númerosinteiros. Logo, entendendo que, através de exemplo dado pelos autores, em uma seçãoeleitoral com 974 eleitores registrados, o valor mais próximo possível de 70% é é 70,02%,com 682 pessoas participando das eleições, uma porcentagem inteira pode ter um desviode 0,05%. Em sua análise, os autores retiram também os casos de seções com 100% decomparecimento (como é o caso de seções eleitorais temporárias, em aeroportos, estaçõesde trem e metrô, etc) e seções com menos de 100 eleitores, já que qualquer número devotantes resultaria em uma porcentagem inteira.
305
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
Figura 2 – Histograma de comparecimento: 2000-2012. Fonte: Kobak et al (2016).
Os autores observam, a partir de simulações de Monte Carlo com 10000 repetições,que as eleições entre 2000 e 2003 apresentam valores inteiros dentro do esperado, dadopelas simulações. Entretanto, a partir de 2004, esses números se elevam, ultrapassando osvalores obtidos pelas simulações, podendo-se afirmar que “o número observado de valoresinteiros em seções eleitorais quase certamente não teria ocorrido por acaso”. Ao plotaremhistogramas do comparecimento, como pode ser visto na figura 2, Kobak et al. observarampequenos picos exatamente em valores arredondados, múltiplos de 5, a partir de 70%,representando uma anomalia.
Tais picos também se repetem nas eleiçõs de 2018, como observado na figura 1. Seampliarmos o referido gráfico e recortarmos no intervalo entre 70% e 95% (o mesmo quepossui os picos anômalos observados por Kobak et al.), como pode ser visto na figura 3.
Através da figura 3, fica claro que o verificado por Kobak et al. se mantevena eleição de 2018, com um número muito elevado de porcentagens arredondadas emmúltiplos de 5, acima da distribuição normal, o que nos permite aceitar a hipótese de fraudeeleitoral nos valores de comparecimento às urnas. No banco de dados de 2018, por discordarde Kobak et al. no que tange à retirada das seções eleitorais com 100% de comparecimento,elas foram mantidas. O argumento para mantê-las é de que elas são consideradas nocálculo da média nacional, logo, influenciam no deslocamento da distribuição para umnúmero elevado, representando 2234 casos, como é visível na figura 1. Como afirmado pelo
306
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
Figura 3 – Histograma de comparecimento na eleição de 2018 - Picos entre 70% e 100%
autor, muitas (contudo não todas) dessas seções são temporárias, existindo em aeroportos,estações, e outros locais públicos de grande movimento, e isso representa um outroproblema, que foge ao escopo deste artigo. Diferente das seções consulares, que tambémapresentam problemas no que tange ao comparecimento, como referenciado na seção 2,essas sessões temporárias não podem ser perfeitamente identificadas no banco de dados:apesar de existir uma variável denominada “‘Число избирательных бюллетеней впереносных ящиках для голосования”, que pode ser traduzida como “Número de votosem urnas móveis”, ela se mistura com os votos em urnas estacionárias, impossibilitandouma separação por seção eleitoral.
5 ConclusãoAssim, a partir da revisão das hipóteses apresentadas, não se pode rejeitar a fraude
eleitoral para justificar o elevado número no comparecimento, entendendo que as outrashipóteses, como obrigação moral, mobilização dos governadores e pressão patronal eescolar também são relevantes, porém, são difíceis de serem verificadas e, em alguns casos,fracas. Entretanto, a hipótese de fraude mostra-se mais plausível por conta da verificaçãodos eleitorais de 2018, acompanhando o observado por Kobak et al. em eleições anteriores.
Todavia, ao observamos os dados de pesquisas de opinião pública feitas duranteo período da campanha pelos 3 principais institutos de pesquisa da Rússia, os númerosapresentados pelos mesmos indicavam a vitória de Putin em todos os cenários. A últimapesquisa, de 9 de março de 20189, aplicada pelo instituto ВЦИОМ - Всероссийскийцентр изучения общественного мнения (Centro de Toda a Rússia para o Estudo daOpinião Pública), indica a vitória de Putin com 69% dos votos válidos. Na eleição, Putinobteve 76% dos votos. Apesar dos 7% de diferença, a vitória seria iminente.
Se os dados sobre comparecimento nas eleições são forjados na Rússia, é precisoum estudo mais aprofundado para compreender as razões para tal, entendendo que mesmocom valores menores de comparecimento, o resultado eleitoral seria o mesmo, como vistonas pesquisas de opinião. Se Putin é popular (como visto em Frye et al.) nas pesquisas,ou seja, possui apoio da população, quais seriam os motivos para cometer a fraude, e9 Fonte: Pesquisa de opinião pública para a eleição presidencial de 2018 - <https://wciom.ru/news/ratings/
vybory_2018/> - em russo. Último acesso: 15/05/2018
307
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
principalmente, no comparecimento às urnas? Além do mais, considerando que não háfraude, e que Putin em todas as eleições apresentou uma ampla margem de vitória sobreseus oponentes, o que leva o cidadão russo a fazer questão de votar, já que a vitória égarantida? Tais perguntas são a motivação para os próximos artigos.
308
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
Referências
BLAIS, A.; YOUNG, R.; LAPP, M. The calculus of voting: An empirical test. EuropeanJournal of Political Research, Springer, v. 37, n. 2, p. 181–201, 2000. Citado na página303.
CRAWFORD, F. W.; WEISS, R. E.; SUCHARD, M. A. Sex, lies and self-reported counts:Bayesian mixture models for heaping in longitudinal count data via birth-death processes.The annals of applied statistics, NIH Public Access, v. 9, n. 2, p. 572, 2015. Citado napágina 305.
FRYE, T. et al. Is putin’s popularity real? Post-Soviet Affairs, Taylor & Francis, v. 33, n. 1,p. 1–15, 2017. Citado na página 307.
GOLOSOV, G. V. The regional roots of electoral authoritarianism in russia. Europe-AsiaStudies, Taylor & Francis, v. 63, n. 4, p. 623–639, 2011. Citado 2 vezes nas páginas 303e 304.
KOBAK, D. et al. Integer percentages as electoral falsification fingerprints. The Annals ofApplied Statistics, Institute of Mathematical Statistics, v. 10, n. 1, p. 54–73, 2016. Citado4 vezes nas páginas 301, 305, 306 e 307.
LEVY, C. Kremlin rules. putin’s iron grip on russia suffocates his opponents. New YorkTimes, 2008. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2008/02/24/world/europe/24putin.html>. Citado na página 305.
REUTER, O. J. The politics of dominant party formation: United russia and russia’sgovernors. Europe-Asia Studies, Taylor & Francis, v. 62, n. 2, p. 293–327, 2010. Citadona página 304.
SAKWA, R. Russia’s ‘permanent’(uninterrupted) elections of 1999–2000. The Journal ofcommunist studies and transition politics, Taylor & Francis Group, v. 16, n. 3, p. 85–112,2000. Citado na página 303.
WHITE, S.; FEKLYUNINA, V. Russia’s authoritarian elections: the view from below.Europe-Asia Studies, Taylor & Francis, v. 63, n. 4, p. 579–602, 2011. Citado 2 vezes naspáginas 303 e 304.
309
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
310
Poder Constituinte em Movimento: a relação entre povo e
Constituição no pensamento de Carl Schmitt.
Daniel Capecchi Nunes1
1. Introdução: o problema do poder constituinte e suas limitações.
Nós parecemos lidar com um paradoxo. De um lado, para ser verdade tudo precisa se
tornar uma religião, de outra forma a crença não terá (literalmente) credibilidade ou
autoridade. Ainda assim, por outro lado, nós somos e temos que ser os autores dessa
autoridade. A fé dos sem-fé deve ser um trabalho coletivo de autocriação no qual eu
sou o forjador de minha própria alma e em que todos devemos ser forjadores de
almas.2
Falar de democracia é falar de poder constituinte3. A relação entre permanência e
mudança em um regime constitucional democrático é um dos problemas que mais suscitou – e
suscita – debates e reflexões na teoria política e na filosofia constitucional. De forma
sistemática, a discussão sobre a relação entre permanência, representada pela manutenção de
um regime constitucional estável, e mudança, como manifestação da soberania popular e de seu
direito de tomar as decisões para o futuro, tem sido aglutinada ao redor do chamado paradoxo
da democracia ou do constitucionalismo. De tal modo que é possível localizar,
topologicamente, boa parte das teorias constitucionais como mais próximas de um ou de outro
polo4.
Em outras palavras, o desafio colocado é o de compreender como se estabelece a
conexão entre constitucionalismo, enquanto pré-compromisso e limitação, e democracia,
enquanto autogoverno coletivo5. A resposta mais simples para esse problema parte do
pressuposto de que estabelecido um desenho institucional adequado, com instituições aptas a
1 Professor Assistente da Universidade Federal de Juiz de Fora – Campus de Governador Valadares, Doutorando
em Direito Público na UERJ, Mestre em Direito Público pela UERJ. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/4002975313506432 2 CRITCHLEY, Simon. The Faith of The Faithless. Londres: Verso, 2011, p.4. 3 “Falar de poder constituinte é falar de democracia”, com essa frase Antonio Negri dá início ao seu livro “O Poder
Constituinte” e a partir dela ele começa a fazer uma reconstrução crítica do conteúdo do conceito com o intuito de
leva-lo a um outro patamar de radicalidade. Ao inverter sua frase, neste trabalho, pretendemos evidenciar o
desaparecimento do poder de fundação após o surgimento da ordem constitucional. Cf. NEGRI, Antonio. O Poder
Constituinte: ensaio sobre as alternativas da modernidade. Rio de Janeiro: Lamparina, 2008. P. 4 Bonnie Honig, traça esse paradoxo até a teoria do contrato social de Rousseau e sua ideia de um
legislador/ditador. Cf. HONIG, Bonnie. Between Decision and Deliberation: political paradox in democratic
theory. American Political Science Review, v. 101, n.1, p. 1-17, 2007. 5 HOLMES, Stephen. “Precommitment and the Paradox of Democracy” In: ELSTER, Jon; SLAGSTAD, Rune.
Constitutionalism and Democracy. Cambridge University Press: Cambridge, 1988, p. 195-240.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
311
promover a democracia e a proteger direitos fundamentais, os processos políticos subsequentes
serão de constante aperfeiçoamento do regime constitucional existente. De tal modo que “o
poder que o povo possui só pode ser exercido por meio das formas constitucionais já
estabelecidas ou em processo de estabelecimento”6.
Representando essa perspectiva, é famosa a metáfora da catedral, de Santiago Nino,
segundo a qual um regime constitucional é como uma catedral de construção secular, em cuja
construção participam diferentes indivíduos, tendo como grande trunfo a eterna capacidade de
ser aprimorada. Segundo essa perspectiva, portanto, a democracia constitucional, quando
fundada de maneira adequada, é um ponto que não permite retrocessos7, mas tão somente
avanços.
Dentre outros, dois problemas fundamentais parecem se apresentar diante dessa visão.
O primeiro deles diz respeito à ideia de um progresso inevitável, fundamento da perspectiva
liberal acerca do fenômeno político e econômico, cujas hegemonia vai se estabelecer de
maneira definitiva após a queda do Muro de Berlim e com a chamada terceira onda das
democracias (liberais).8
Essa perspectiva pode ser objeto de crítica por dois caminhos distintos. O primeiro está
associado com relação entre o progresso e as perspectivas eurocêntricas, com forte dimensão
racial e econômica. Segundo essa crítica, a ideia de progresso está imbuída de uma lógica de
raças superiores e inferiores ou, em sua versão contemporânea, de culturas superiores, ligadas
ao centro, e a culturas inferiores, ligadas à periferia. A reprodução do progresso, portanto,
exigiria que as culturas “menos avançadas” buscassem nas culturas “mais avançadas” um
parâmetro de evolução9.
A segunda crítica possível está relacionada com o reconhecimento de uma crise ou de
um retrocesso democrático que não atinge apenas as periferias do mundo, mas também o seu
6 LOUGHLIN, Martin; WALKER, Neil. “Introduction” In: LOUGLHIN, Martin; WALKER, Neil. The Paradox
of Constitutionalism: constituent power and constitutional form. Oxford University Press: Oxford, 2007. p.1 7 Em trabalho seminal de história das ideias, Pocock demonstra como um dos objetivos do pensamento político
florentino, que mais tarde influenciará o pensamento republicano e toda a lógica do constitucionalismo moderno,
era o de superar os ciclos políticos que levavam as instituições à decadência. cf. POCOCK, J. G. A. The
Machiavellian Moment: florentine political thought and the atlantic republican tradition. Princenton University
Press: Princenton, 2016. p. 3-82; 8 “A presente era de transições democráticas é a terceira onda de democratização na história do mundo moderno”.
HUNTINGTON, Samuel. Democracy’s Third Wave Journal of Demcracy, v.2, n.2, p. 12, 1991. 9 Para os problemas relativas à ideia de progresso histórico e sua relação com colonialismo e racismo, ainda que
em posições opostas, cf. ALLEN, Amy. The End of Progress. Nova York: Columbia University Press, 2016;
MCCARTHY, Thomas. Race, Empire, and the Idea of Human Development. Cambridge: Cambridge University
Press, 2009. No Brasil, um trabalho que tem reproduzido esse argumento, não sem muita polêmica é o de SOUZA,
Jessé. A Tolice da Inteligência Brasileira: ou como o páis se deixa manipular pela elite. São Paulo: Leya, 2015.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
312
centro. Na linha do que afirmam Ginsburg e Hug,
“[a] democracia liberal, em resumo, é atualmente objeto de um conjunto plural de fatores
concorrentes corrosivos oriundos tanto de formações de partidos e atores específicas quanto por
dinâmicas culturais, socioeconômicas e geopolíticas de natureza estrutural”.10
Diante desse problema, recentemente, inúmeras categorias procuram explicar a crise das
democracias contemporâneas. Podemos citar, à título de ilustração, os conceitos de
constitucionalismo abusivo (abusive constitutionalism), de regressão democrática (democratic
regression), de autoritarismo sigiloso (stealth constituionalism), de desmembramento
constitucional (constitucional dismemberment), de constitucionalismo autoritário
(authoritarian constitutionalism), de apodrecimento constitucional (constitutional rot), dentre
outras.11
Todas buscam compreender, de alguma maneira, como o desmonte das democracias
constitucionais já não depende, exclusivamente, de golpes de Estado perpetrados por juntas
militares. Frequentemente grupos opostos a uma democracia constitucional recorrem a
instrumentos democráticos e constitucionais para enfraquecer a democracia e o
constitucionalismo. Utilizando-se de alterações que, individualmente, não significariam um
ataque à democracia, mas que, quando concertadas, produzem alterações qualitativas nos
regimes políticos, enfraquecendo sua dimensão de direitos.
Uma fundação democrática, portanto, não é suficiente para garantir um
desenvolvimento democrático e a ideia de um poder constituinte democrático que se esgote no
momento da fundação tampouco é capaz de encerrar todas as complexidades associadas com a
manutenção da existência de um regime democrático. Os fundamentos da separação entre o
poder constituinte e o poder constituído, estabelecidos por Sieyès12 no auge da revolução
10 HUG, Aziz, GINSBURG, Tom. How to Lose a Constitutional Democracy, UCLA Law Review, v. 65, n.1, p. 5,
2018. 11 LANDAU, David. Abusive Constitutionalism. Davis Law Review, v. 47, n. 1, p. 189-260, 2013; BUVARIC,
Bojan. A Crisis of Constitutional Democracy in pos-Communist Europe: “Lands in between” democracy and
authoritarianism. International Journal of Constitutional Law, v.13, n.1, 219-245, 2015; VAROL, Ozan O. Stealth
Authoritarianism. Iowa Law Review, v. 100, 1673-1742, 2015; BERMEO, Nancy. On Democraci Backsliding.
Journal of Democracy, v. 27, n.1, p. 5-19, 2016; BALKIN, Jack M. Constitutional Rot. In: SUNSETEIN, Cass R.
(org.) Can It Happen Here? Authoriarianism in America. Nova York: Dey Street Books, 2018; ALBERT, Richard.
Constitutional Amendment and Dismemberment. Yale Journal of International Law, v. 48, n.1, p. 1-118, 2018; 12 Para uma análise de história das ideias do desenvolvimento da concepção de poder constituinte, cf. BEUAD,
Olivier. La Puissance de L’Etat. Paris: Presses Universitaries de France, 1994.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
313
francesa e sua presunção da democracia representativa como ápice do processo revolucionário
revela suas próprias contradições diante do cenário contemporâneo13.
Diante desse problema, a hipótese que defenderemos é a de que a teoria do poder
constituinte em movimento, desenvolvida por Carl Schmitt, pode oferecer uma nova
perspectiva conceitual sobre o problema da fundação e da manutenção dos regimes
democráticos. Ao fundar sua análise conceitual em uma metodologia polêmica de reconstrução
dos conceitos jurídicos e político, Schmitt dá lugar para o conflito e a dissenso dentro de uma
democracia. Mais do que isso, ele permite vislumbrar uma noção de fundação continua, cujo
motor é o conflito e a disputa sobre os sentidos da ordem constitucional.
Do ponto de vista organizacional, o trabalho está dividido em três partes. Na primeira,
apresentaremos a figura de Carl Schmitt e a possibilidade de utilizar sua obra para pensar, hoje,
os paradoxos e perplexidades envolvendo o funcionamento das democracias constitucionais.
Na segunda, o método do jurista, plenamente desenvolvido em sua obra “O Conceito do
Político” será introduzido e proposto como chave para ler a sua noção de poder constituinte.
Por fim, na terceira e última parte, trataremos, especificamente, da ideia de um poder
constituinte em movimento a partir da ideia dos três momentos da constituição de Schmitt e
suscitaremos as possíveis contribuições que sua teoria podem dar ao problema apresentado.
2. Carl Schmitt: crítico da democracia liberal.
Para lançar novas luzes sobre o problema da fundação constitucional e sua relação com
a legitimidade democrática, o objetivo deste trabalho é apresentar o conceito trifásico da relação
entre povo e constituição desenvolvido por Carl Schmitt em sua famosa “Teoria da
Constituição”, de 1928. Escrito simultaneamente com “O Conceito do Político”14, Teoria da
Constituição é um livro que pretende apresentar uma crítica à noção de estado de direito
burguesa, sobretudo, em sua tentativa de mascarar o conflito e a pluralidade existentes na
Europa, durante aquele momento histórico15.
13 “No século XXI, a simplicidade e a lógica dessa hierarquia de um poder constituído e poderes constituídos não
são mais atuais”. CALLEJÓN, Francisco Balaguer; PINON, Stéphane;VIALA, Alexandre. Le Pouvoir Constituant
au XX1e Siècle. Paris: Institut Universitaire Varenne, 2017, p. 7. 14 A obra é classificada por alguns autores do calibre de Jean-François Kervégan como o “o texto mais conhecido
de Carl Schmitt, dando margem a uma multidão de interpretação frequentemente controversas”. KERVÉGAN,
Jean-François. Que Faire de Carl Schmitt? Paris: Gallimard, 2011. p. 21; 15 Para uma contextualização histórica da produção do livro, cf. KENNEDY, Ellen. Constitutional Failure: Carl
Schmitt in Weimar. Duke University Press: Durham, 2004. p. 119-153;
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
314
Nascido em Plettenberg, Alemanha, em 1888, de uma família católica, Carl Schmitt foi
um dos maiores pensadores políticos e constitucionais do século XX. Sua obra, como a de seu
contemporâneo Hans Kelsen, começa como uma tentativa de produzir uma oposição à teoria
formalista que predominava na Alemanha antes da primeira guerra mundial16. Além disso, boa
parte de seus trabalhos mais importantes serão publicados no período de decadência da
República de Weimar e de ascensão do regime nazista.
Com a mencionada decadência, a teoria de Schmitt vai sendo marcada como uma crítica
ao pluralismo e a falta de decisão produzida pelo compromisso dilatório entre valores
contraditórios típico do liberalismo, do qual a Constituição de Weimar de 1919 era um retrato
fiel. De modo que seu pensamento, ao antagonizar o liberalismo, pode ser classificado como a
produção de um “fanático pela ordem em um tempo de confusão e tumulto”17.
Sua obra e biografia ficarão identificadas por sua adesão ao regime nazista, que o levou
a ser conhecido como jurista coroado do nazismo18. Em sua defesa, o autor tenta se comparar
Capitão Benito Cereno do conto de Melville, obrigado a pilotar um navio dominado por
escravos19, o questionamento sobre a conexão entre sua obra e sua vida é uma questão
constante, tanto para seus críticos quanto para seus utilizadores.
Apesar dessa marca maldita, sua obra foi recepcionada e utilizada, reconhecidamente
ou não, por autores tão diversos quanto Giorgio Agamben, em sua teoria do estado de exceção20,
Jürgen Habermas, em sua perspectiva acerca da crise do parlamentarismo21, e Chantal Mouffe,
16 “[....] Entre os jovens críticos jurídicos, dois são de especial interesse para os futuros desenvolvimentos da
República de Weimar: Hans Kelsen e Carl Schmitt. [...] Kelsen e Schmitt, os quais viriam a ser os antípodas da
teoria constitucional de Weimar, começaram suas carreiras com uma crítica surpreendentemente similar da
tradição labandiana em seu desenvolvimento realizado pelas teorias da soberania e do direito de George Jellinek”.
CALDWELL, Peter C. Popular Sovereignity and the Crisis of German Constitutional Law: the theory and practice
of Weimar Constitucionalism. Durham: Duke University Press, 1997, p. 41. 17 MEIERHENRICH, Jens; SIMONS, Oliver “A Fanatic of Order in a Epoch of Confusing Turmoil”: the political,
legal and cultural thought of Carl Schmitt”. In: MEIERHENRICH, Jens; SIMONS, Oliver. The Oxford Handbook
of Carl Schmitt. Oxford: Oxford University Press, 2017, p. 3-72. 18 Há uma série de textos de sua fase nazista, os quais, em sua maior parte não são objeto de estudo ou de
interlocução pela teoria política contemporânea. De seu período de total adesão, talvez , o texto mais conhecido
seja “O Fuhrer Protege o Direito”. Cf. KERVÉGAN, Jean-François. Que Faire de Carl Schmitt? Paris: Gallimard,
2011, p. 21-51; 19 Em uma entrevista de 1982, ao ser perguntando sobre sua responsabilidade, Schmitt responde: “[...] A esse
propósito seria oportuno fazer menção ao mito de Benito Cereno. Conhece o conto de Melville, o mito das
situações sem solução? Peguemos Hess. Está ainda na prisão. Não pode falar, não pode tampouco ser considerado
responsável pela guerra. É incrível!”. SCHMITT, Carl. “Un giurista davanti a se stesso” In: AGAMBEN, Giorgio.
Un Giurista Davanti a Se Stesso. Vicenza: Neri Pozza Editore, 2005, p. 182.183. 20 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: il potere sovrano e la nuda vita. Torino: Giulio Einaudi Editore, 1995, p.
17-76. 21 Para a recepção subrepticia de Schmitt pela Escola de Frank e, especialmente, por Habermas Cf. KENNEDY,
Ellen. Carl Schmitt and the Frankfurt School. Telos, n. 71, p. 37-66, 1987. Para a relação entre os juristas da
mencionada Escola e o pensamento de Schmitt, cf. SCHEUERMAN, William. Between Norm and Exception: the
Frankfurt School and the Rule of Law. Cambridge: The MIT Press, 1994.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
315
em sua tentativa de salvar a perspectiva liberal pela via de uma democracia agonística22. De
uma forma ou de outra, o pensamento de Carl Schmitt tem se tornado um ponto de parada
fundamental para aqueles que pretendem compreender a crise da democracia e a insuficiência
das categorias tradicionais do direito constitucional. Como afirma Chantal Mouffe,
“[q]ue Schmitt é um dos grandes teóricos políticos e legais desse século é algo que tem sido
amplamente reconhecido. Basta testemunhar o recente boom na tradução do seu trabalho e o
crescente número de obras dedicadas a estudá-lo”.23
Tal recepção não está imune a críticas, tanto pela mácula que paira sobre sua biografia,
quanto pelo potencial perigo autoritário que escondem suas ideias. Para os estudiosos de
Schmitt, uma das questões fundamentais é saber até que ponto suas ideias anteriores à adesão
ao regime nazista já tinham uma natureza essencialmente autoritária.
Ilustrativa dessa dificuldade é a crítica de Adam Sitze, que encara com ceticismo o que
ele considera uma postura crescente de analisar as posições e teorias de Schmitt de uma maneira
descontextualizada e fora de suas manifestações políticas24. De tal sorte que, quanto mais
distância se toma da figura individual do jurista coroado do nazista e de contexto políticos e
histórico de suas ideias, mais fácil é considerar suas ideias pertinentes para explicar o mundo
contemporâneo.
Em defesa do diálogo com ideias de Carl Schmitt, entretanto, é possível apontar dois
principais argumentos. O primeiro dele, de natureza histórica, está relacionado com o momento
do desenvolvimento da teoria política e jurídica do autor. Em um tempo que possui semelhanças
com o nosso, ele pensa a crise da democracia e do constitucionalismo liberal, levando ao
extremo a demonstração das fraturas e perplexidade que os envolvem. Schmitt é um pensador
da crise, ao qual não parece absurdo recorrer em momentos nos quais a crença no progresso e
no desenvolvimento já não gozam de tamanho prestígio. Ao pensar as fraturas do liberalismo,
o jurista nos deixou uma série de questões carentes de resposta25.
O segundo argumento está relacionado ao método. O que se pretende aqui, na linha do
que argumenta Chantal Mouffe, não é comprar de maneira irrestrita e ilimitada as conclusões
22 MOUFFE, Chantal. The Return of the Political. Londres: Verso, 1993. 23 MOUFFE, Chantal. “Introduction” In: MOUFFE, Chantal. The Challenge of Carl Schmitt. Londres: Verso,
1999, p. 1. 24 SITZE, Adam. A Farewell to Schmitt: notes on the Work of Carlo Galli. New Centennial Review, v. 10, p. 27-
72; 25 “Ele [Carl Schmitt] revela as diversas fraquezas da democracia liberal e trás a tona os pontos cegos que estavam
atrás de nós. Tais deficiência não podem ser ignoradas”. MOUFFE, Chantal. The Democratic Paradox. Londres:
Verso, 2005, p; 57;
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
316
de Schmitt sobre a necessidade de um regime autoritário ou de uma democracia plebiscitária.
O que se pretende é, a partir de seu diagnóstico de crise, pensar novas possibilidades que possam
emergir da tradição constitucional democrática, sem que nos vinculemos ao dogmatismo. De
maneira muito sintética, trata-se de “pensar com e contra Schmitt”26. Ao retomar o paradoxo
da democracia e o conceito de poder constituinte, pretendemos nos engajar em uma tal
atividade.
3. Pensamento da Ordem Concreta: o método polêmico de Schmitt.
“Palavras como Estado, República, Sociedade, Classe e, mais, Soberania, Estado de
Direito, Absolutismo, Ditadura, Planejamento, Estado Neutro ou Total, etc., são
incompreensíveis quando não se sabem quem, em concreto, deve ser atingido,
combatido, negado ou refutado com tal palavra”27.
As disputas são a lente pela qual todas as categorias políticas fazem sentido. De maneira
sintética, essa poderia ser uma frase que descreve o método pelo qual Carl Schmitt desenvolve
seu livro “O Conceito do Político”. Conforme apontado anteriormente, esse trabalho,
provavelmente, é a obra mais conhecida e referenciada do autor. Nela, ele estabelece o político
como a famosa divisão entre “amigo” e “inimigo”. No que concerne ao nosso presente estudo,
o livro é uma reconstrução da metodologia utilizada pelo jurista na maior parte de seus
trabalhos.
Tal metodologia é algo que o pensador chama de “pensamento da ordem concreta”28,
em síntese, uma negativa do que ele considerava uma visão abstrata do processo político e do
elogio liberal ao pluralismo, que, em sua perspectiva, era a origem das crises constantes que
abatiam a Constituição de Weimar.
Schmitt defende que o conceito do político, assim como as demais categorias da teoria
política e jurídica, só pode ser compreendido de maneira efetiva quando se percebe quais
disputas concretas estão em jogo. Tais categorias, portanto, têm uma dimensão polêmica
essencial de disputa e confronto, a qual costuma, frequentemente, ser mascarada pelas
26 MOUFFE, Chantal. “Introduction” In: MOUFFE, Chantal. The Challenge of Carl Schmitt. Londres: Verso,
1999, p. 6. 27 SCHMITT, Carl. O Conceito do Político. Petropólis: Vozes, 1992, p. 57. 28 Para o desenvolvimento dessa perspectiva no pensamento do autor, cf. MEIERHENRICH, Jens. “Fearing the
Disorder of Things: the development of Carl Schmitt’s Institutional Theory, 1919-1942” In: MEIERHENRICH,
Jens; SIMONS, Oliver. The Oxford Handbook of Carl Schmitt. Oxford: Oxford University Press, 2017, p. 171-
216;
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
317
construções teóricas de pensadores liberais, que se apoiariam sobre uma demonização do
conflito.29
A grande virtude do texto é a de explicitar o método de análise schmittiano e a forma
como o autor pretende compreender conceitos clássicos da teoria política e constitucional. Esse
método vai ser aplicado de maneira menos alardeada em sua obra “Teoria da Constituição”, na
qual ele revisita diversos conceitos da Teoria Geral do Estado e do Direito Constitucional.
Dentre eles, o de Poder Constituinte, objeto da investigação do presente artigo.
A recuperação desse metodologia tem o propósito de explicar as lentes por meio das
quais analisaremos o problema a que estamos nos dedicando no presente trabalho, de modo que
o que propomos, portanto, é que o método polêmico explicitado em “O Conceito do Político”
deve ser a chave de interpretação para compreender a construção de uma teoria do poder
constituinte em movimento, conforme proposta na “Teoria da Constituição”. A tentativa de
recolocar o povo no processo de desenvolvimento de um texto constitucional é um elemento de
reativação da dimensão política do processo de fundação e de manutenção das ordens
constitucionais30.
4. O Poder Constituinte em Movimento: os três momentos do povo em sua relação
com a constituição.
O poder é, na democracia, sujeito do poder constituinte. Toda Constituição, segundo
a concepção democrática, se baseia, inclusive para seu elemento de Estado de Direito,
em uma decisão política concreta do povo dotado de capacidade política. Toda
Constituição democrática supõe um povo com tal capacidade31.
“Poder constituinte é a vontade política cuja força ou autoridade é capaz de adotar a
decisão concreta do conjunto sobre o modo e a forma da própria existência política”32. Para
Schmitt, portanto, a manifestação do poder constituinte é a verbalização concreta da decisão de
um povo acerca de sua existência política. A Constituição surge, consequentemente, como a
29 “[...]Para os adversários políticos de uma teoria política clara não é difícil portanto declarar o conhecimento e a
descrição dos fenômenos e verdades politicas, em nome de qualquer esfera objetiva, como imoral, antieconômica,
a-científica, e sobretudo – pois ai está o que importa politicamente – hors-la-loi e digno de ser combatido como
coisa do demônio”. SCHMITT, Carl. O Conceito do Político. Petropólis: Vozes, 1992, p. 92. 30 “[...] Ao lado dos elementos liberais da Constituição de Weimar, Schmitt agora incorpora uma dimensão política.
É essa rearticulação dos elementos liberais e políticos que determinam a estrutura de Verfassungslehre. Uma visão
expandida do soberano permite a adoção concorrente do Estado de Direito Liberal. Schmitt muda de uma aderência
intransigente ao conservadorismo revolucionário que ele compartilhava com de Maistre e com Donoso Cortes para
uma postura mais flexível. Ele vê a necessidade de adotar uma forma de acordo com o liberalismo. Isso implica
uma mudança em direção à aceitação de uma leitura conservadora do liberalismo, uma visão que não rejeita a
soberania, esteja ela expressa democrática ou monarquicamente”. CRISTI, Renato. Carl Schmitt on Sovereignity
and Constituent Power. Canadian Journal of Law and Jurisprudence. v. 10, n. 1, p. 194, 1997. 31 SCHMITT, Carl. Teoria de la Constitucion. Madrid: Alianza Editorial, 2011, p. 309. 32SCHMITT, Carl. Teoria de la Constitucion. Madrid: Alianza Editorial, 2011, p. 123-124.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
318
verbalização dessa vontade em um determinado momento histórico e seu destino e perpetuação
estão intrinsecamente relacionados com essa vontade.
O primeiro elemento importante para entender a concepção de poder constituinte de
Carl Schmitt, portanto, é a ideia de que se trata de uma manifestação concreta da vontade de
um povo, em um determinado momento histórico. Nas palavras do próprio autor, “[o] poder
constituinte é uma vontade política: ser político concreto”33. Dessa concepção, defluem dois
elementos fundamentais, o primeiro deles é a noção de que o povo responde a questões
concretas de seu próprio tempo e que a Constituição, por consequência não tem o grau de
transcendência que lhe é atribuída pelas teorias contemporâneas.
A aposta em uma determinada forma política ou institucional surge como resposta aos
problemas que se identificavam anteriormente. Ao fundar um regime democrático, por
exemplo, a decisão fundamental do povo tem por intuito rejeitar os defeitos e as dificuldades
do regime anterior. Como consequência disso, a existência do povo não se desfaz com a
fundação constitucional, a vontade que justificou a criação da constituição é a mesma vontade
que legitima e torna possível sua existência:
Assim como uma disposição orgânica não esgota o poder organizador que detêm a
autoridade e poder de organização, tampouco pode a emissão de uma Constituição
esgotar, absorver e consumir o poder constituinte. Uma vez exercitado, ele não se
acaba ou desaparece. A decisão política implicada na Constituição não pode atuar
contra o seu sujeito, nem destruir sua existência política. Ao lado e acima da
Constituição, segue subsistindo essa vontade34.
Na percepção de Schmitt, por consequência, as formas de produção de textos
constitucionais como Assembleias, Mesas Redondas ou Convenções, nada mais são do que
manifestações provisórias dessa vontade, bem como os textos que são produzidos por esses
órgãos35. Nessa linha, o grau de racionalidade ou legitimidade democrática que envolvem o
surgimento do texto são elementos contingenciais e não essenciais dessas formas de
organização36.
33 SCHMITT, Carl. Teoria de la Constitucion. Madrid: Alianza Editorial, 2011, p. 124. 34 SCHMITT, Carl. Teoria de la Constitucion. Madrid: Alianza Editorial, 2011, p. 309. 35 “[E]le [Schmitt] insiste que a Assembleia Constituinte permanece sempre subordinada a suprema autoridade do
povo, o verdadeiro, incontestável soberano, o qual delegou e autorizou ela a agir”. KALYVAS, Andreas.
Democracy and the Politics of Extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah Arendt. Cambridge:
Cambridge University Press, 2008. p. 97. 36 “Modo e forma da existência estatal se determina, segundo o princípio da legitimidade democrática, pela livre
manifestação da vontade de um povo. A vontade constituinte do povo não está vinculada a nenhum determinado
procedimento. Como antes já se expôs, a atual prática das Constituições democráticas deu lugar a certos métodos,
seja de eleição de uma assembleia constituinte, seja de uma votação popular. Como frequência se ligam esses
métodos ao pensamento da legitimidade democrática, inserindo um certo procedimento em um conceito de
legitimidade, e caracterizando como verdadeiramente democráticas, somente aquelas Constituições que
encontraram a aprovação dos cidadãos formada pelo procedimento de votação individual secreta [...]”SCHMITT,
Carl. Teoria de la Constitucion. Madrid: Alianza Editorial, 2011, p. 141
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
319
O verdadeiro instrumento para se apreender o grau de legitimidade democrática de um
texto constitucional e sua potencialidade de traduzir a vontade constituinte de um povo estaria
mais relacionada com a adesão do mesmo pela via de sua ressignificação cotidiana. De maneira
muito sintética, o grau de efetividade um texto está intimamente relacionado com sua
capacidade de traduzir essa vontade constituinte.
Mais do que isso, para que um determinado texto constitucional se apresente como
manifestação da vontade constituinte é preciso que ele seja capaz de absorver as disputas
políticas existentes em uma determinada sociedade, atuando em seu processo de
ressignificação. É dizer: “[n]a simples participação de um povo na vida pública estabelecida
pela Constituição podemos ver, por exemplo, uma conduta concluinte, mediante se manifesta
com claridade a vontade constituinte do povo”37.
Em direção contrária às teorias liberais do poder constituinte e da fundação
democrática38, baseadas na busca por um consenso (im)possível por meio de categorias como
a do consenso sobreposto, Carl Schmitt parece fundar sua teoria da legitimidade da Constituição
e da sua relação com a decisão constituinte no confronto. Enquanto as pessoas se utilizarem dos
instrumentos constitucionais para manifestar suas percepções políticas publicamente, a esfera
pública produzida constitucionalmente será um retrato da vontade constituinte39.
O confronto e a disputa, portanto, não são uma condição provisória do momento pré-
constitucional, eles são o elemento que fazem com a Constituição permaneça viva e consiga
institucionalizar uma vontade que, originalmente, poderia se dissipar no tempo. Se a
Constituição encerra o conflito e a participação política divergente, ela não será capaz de
traduzir a vontade política de um povo e está sujeita a constantes rupturas e crises40.
Por essa razão, os processos de reforma e revisão de dispositivos constitucionais não
são capazes de extinguir o poder constituinte, mas para que garantam a permanência do texto
37 SCHMITT, Carl. Teoria de la Constitucion. Madrid: Alianza Editorial, 2011, p. 141. 38 Nesse sentido, poderíamos fazer menção à chamada “virada consensualista” de Habermas e Rawls, cf. MIGUEL,
Luis Felipe. Democracia e Representação: territórios em disputa. São Paulo: Unesp, 2014, p. 63-96; 39 Em uma versão mais fraca dessa tese, Chantal Mouffe propõe a ideia de um consenso sobre “a democracia” e
um dissenso sobre as demais questões. Essa construção, entretanto, parece-nos ser uma mera mudança de chave
conceitual para explicar o fenômeno da consensualidade liberal, não abraçando toda a radicalidade possível da
teoria schmittiana. Cf. MOUFFE, Chantal. The Democratic Paradox. Londres: Verso, 2005, p. 55-56; 40 Ainda que criticando Carl Schmitt, Loughlin parece sustentar uma perspectiva semelhante, que ele chama de
relacional: “O poder constituinte expressa o fato que a unidade é criada da desunião, inclusão da exclusão. O
processo de ordenamento constitucional é dinâmico, nunca estático. Então, ao invés de tratar o poder constituinte
do povo como uma unidade existencial antecedente à formação da constituição, esse poder expressa a relação
dialética entre a “nação” colocada como o propósito de autoconstituição e a forma constitucional por meio da qual
ela pode falar com autoridade”. LOUGHLIN, Martin. European Journal of Political Theory, v. 13, n. 2, p. 229,
2013.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
320
constitucional devem ser capazes de recepcionar a vontade constituinte que sustenta o texto.
Por essa razão, Carl Schmitt propõe uma separação inusitada entre o sujeito do poder
constituinte e suas manifestações concretas, as constituições.
Em sua visão, é possível que a manifestação concreta da vontade constituinte assuma
diferentes formas sem que isso represente uma troca no sujeito que o motivou. Um mesmo povo
pode produzir diferentes textos constitucionais em sua história, a depender da conjuntura de
força, que dará a tônica dos pactos constituintes.
De tal maneira que seria possível identificar, em manifestações constituintes distintas,
um núcleo comum que ao longo da história seria imutável, resultado das emanações de um
mesmo sujeito. Além disso, para Schmitt, essa organização estrutural das mudanças na
Constituição permitiria compreender melhor fenômenos como a recepção constitucional de
dispositivos legais e, até mesmo, constitucionais de regimes anteriores41.
A essa situação se oporiam os cenários de “destruição constitucional”42, nos quais
houvesse uma troca do sujeito constituinte e uma mudança radical nos agentes responsáveis
pela manifestação do poder. Dessa maneira, a transição de um regime absolutista para uma
democracia liberal ou dessa para um regime comunista representariam um rompimento total
com o sujeito constitucional anterior, de modo a destruir a ordem jurídica anterior e propiciar
o nascimento de um novo texto constitucional.
Tal perspectiva acerca da vontade constituinte tem, ao menos, duas vantagens. Em
primeiro plano, a separação entre sujeito constituinte e manifestação constitucional, permite
sofisticar a questão da continuidade entre regimes. Se a teoria tradicional atribui uma natureza
“inicial”, de acordo com a qual todo o poder constituinte é o ponto de início das ordens jurídica,
ela oferece também uma perplexidade: como compreender a relação desse regime inicial com
o regime passado?
A teoria de Schmitt parece suprir essa lacuna, ao propor um elemento de continuidade
entre diferentes textos constitucionais, quando o sujeito do poder constituinte continuar sendo
o mesmo. Em segundo plano, tal elemento se torna ainda mais interessante, analiticamente,
quando cotejado com seu conceito de político, condicionado pelas disputas reais de poder de
uma determinada coletividade43.
41 SCHMITT, Carl. Teoria de la Constitucion. Madrid: Alianza Editorial, 2011, p.143-144. 42 SCHMITT, Carl. Teoria de la Constitucion. Madrid: Alianza Editorial, 2011, p. 146. 43 “O político pode extrair sua força dos mais variados setores da vida humana – de contraposições religiosas,
econômicas, morais e outras. Ele não designa um âmbito próprio, mas apenas o grau de intensidade de uma
associação ou dissociação entre os humanos, cujos motivos podem ser de cunho religioso, nacional (no sentido
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
321
Essa visão permite, por exemplo, que ao se analisar, comparativamente, os diferentes
elementos de continuidade e ruptura das ordens constitucionais de um determinado Estado,
questione-se quem é o verdadeiro sujeito do poder constituinte e em nome de quais interesses
a decisão fundamental foi tomada. Além disso, ao se concretizar as disputas que criaram e
sustentam uma ordem constitucional, uma tal teoria permitiria compreender a capacidade de
absorção das disputas sociais travadas para ressignificar a Constituição.
Partindo da premissa da continuidade da existência do poder constituinte, Schmitt
propõe um modelo trifásico de relação do povo com a constituição, no qual existe um momento
do povo antes da Constituição, um do povo na Constituição e, finalmente, um do povo a frente
da Constituição. Com essa estrutura conceitual, o autor pretende explicar os processos de
legitimação constitucional e de capacidade de um determinado texto traduzir a vontade
constituinte, cuja extinção é impossível.
A primeira maneira, já mencionada, é a do povo “antes” da constituição. Nessa forma
de relação, a vontade de um determinado agrupamento social será responsável por criar a
constituição, dando-lhe vida por meio de uma decisão política. Os processos políticos de
formação de assembleias constituintes, convenções ou mesas-redondas, a partir dos quais
criam-se textos constitucionais, são exemplos disso.
Dessa maneira, para que uma Constituição democrática exista é necessário que algum
processo de decantação e representação da vontade popular ocorra. No entanto, como
apontamos anteriormente, esse processo não é suficiente para dizer se a Constituição é legitima
ou não. Será a prática política, sob a vigência de suas normas, e as disputas que se desenvolve
em seu nome que dirão a capacidade de um determinado documento constitucional de traduzir
a vontade constituinte que o originou e, mais importante, que o sustenta.
A segunda maneira é a do povo “dentro” da constituição, por meio da qual o povo irá
se utilizar dos instrumentos institucionais oferecidos por um determinado regime constitucional
para traduzir suas vontades para o núcleo das instituições políticas. Esse tipo de tradução da
vontade popular pode se dar tanto pela via tradicional de processos eleitorais, quanto pela via
de outras formas de participação institucionalizadas em uma determinada constituição. Além
disso, Schmitt reconhece abertamente a possibilidade de atuação do povo pela via da opinião
étnico ou cultural), econômico ou outro, e que em diferentes épocas provocaram diferentes ligações e separações”.
SCHMITT, Carl. O Conceito do Político. Petropólis: Vozes, 1992, p. 64.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
322
pública, que assumiria, na perspectiva do autor, o papel de “forma moderna do governo por
aclamação”44.
A terceira e última maneira é a do povo “à frente” da constituição, quando determinadas
manifestações populares, externas ao sistema constitucional institucionalizado, buscam
transformar o funcionamento do regime político. Esses momentos de grande comoção social
podem ser associados com protestos e movimentos sociais de grande impacto que alteram o
curso do funcionamento das instituições constitucionais. O propósito desse terceiro momento,
por conseguinte, é relativizar a dicotomia absoluta entre o momento da fundação e o momento
da reprodução da ordem constitucional. Na síntese de Andreas Kalyvas:
Schmitt confronta o desaparecimento da soberania, tão comum na teoria política
contemporânea, apontando para um terceiro e final momento da democracia. Aqui,
ele localiza o povo a frente da constituição. Ele acredita que, ao acrescentar essa
terceira instância, poderia evitar os dilemas já mencionados. No primeiro momento,
testemunha-se a soberania na sua total, mas evanescente manifestação; no segundo
momento, observa-se seu gradual repouso e quase permanente desaparecimento; no
terceiro e último momento, percebe-se o redespertar parcial das manifestações
populares [...]45.
O estabelecimento de uma perspectiva cíclica da relação entre povo e democracia,
intermediada pelos processos institucionais de uma Constituição apresenta, ao menos, três
vantagens com relação a perspectiva tradicional da dicotomia absoluta entre constituinte e
constituído. Tais vantagens podem ser consideradas
Em primeiro lugar, a teoria delineia um modelo no qual a construção de um regime
democrático não depende exclusivamente de uma boa fundação. A permanência da potência
constituinte que dá origem a toda Constituição coloca o problema da fundação como uma
necessidade constante. A Constituição precisa ser capaz, portanto, de absorver as demandas
populares e traduzi-las institucionalmente, de modo que o grau de permeabilidade de um texto
constitucional é proporcional a sua capacidade de representar a vontade constituinte que o
original.
A segunda vantagem é uma decorrência da primeira. Ao afirmar a permanência da
vontade constituinte que origina uma determinada constituição, ele permite que a questão dos
desenhos institucionais seja recolocada a todo tempo. De maneira distinta das teorias
tradicionais, que remontam a legitimidade ao momento da fundação – seja por uma explosão
democrática, seja por um momento de incomparável racionalidade –, para Schmitt, a
legitimação de um regime constitucional é constante. Ao abrir mão de noções contingenciais
44 SCHMITT, Carl. Teoria de la Constitucion. Madrid: Alianza Editorial, 2011, p. 318. 45 KALYVAS, Andreas. Carl Schmitt and the Three Moments of Democracy. Cardozo Law Review, v. 25, n.1, p.
1558, 2000.
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
323
com as categorias da origem democrática ou da racionalidade originária, essa perspectiva tem
uma sobrecarga normativa incomparavelmente menor do que as teorias tradicionais e está mais
aberta a análises empíricas do que funciona e do que falha na capacidade das instituições de
mediar os conflitos políticos.
A terceiro e última vantagem é a mais importante. O desenho tricotômico de Schmitt
gera respostas – ou, pelo menos, questões – mais sofisticadas para o problema da oposição entre
direitos fundamentais e vontade majoritária. Ao invés de apostar em um Poder Judiciário
formado por juízes Hércules que sirvam para bloquear eventuais ameaças a direitos, a lógica
schmittiana impõe que pensemos em instrumentos para que o debate público seja influenciado
pela lógica dos direitos. Por consequência, Constituição deve atuar como uma via de mão dupla:
por um lado, deve ser capaz de absorver a vontade constituinte que a originou e a sustenta e,
por outro, deve ser apta a influenciar o debate público nos limites semânticos do seu
vocabulário. Para atingir esse papel complexo o texto constitucional deve apostar em desenhos
institucionais sofisticados, que se articulam na atuação de mais de uma instituição.
REFERÊNCIAS:
AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: il potere sovrano e la nuda vita. Torino: Giulio Einaudi
Editore, 1995;
ALBERT, Richard. Constitutional Amendment and Dismemberment. Yale Journal of
International Law, v. 48, n.1, p. 1-118, 2018;
ALLEN, Amy. The End of Progress. Nova York: Columbia University Press, 2016;
BALKIN, Jack M. Constitutional Rot. In: SUNSETEIN, Cass R. (org.) Can It Happen Here?
Authoriarianism in America. Nova York: Dey Street Books, 2018;
BERMEO, Nancy. On Democraci Backsliding. Journal of Democracy, v. 27, n.1, p. 5-19, 2016;
BEUAD, Olivier. La Puissance de L’Etat. Paris: Presses Universitaries de France, 1994.
BUVARIC, Bojan. A Crisis of Constitutional Democracy in pos-Communist Europe: “Lands
in between” democracy and authoritarianism. International Journal of Constitutional Law, v.13,
n.1, 219-245, 2015;
CALDWELL, Peter C. Popular Sovereignity and the Crisis of German Constitutional Law: the
theory and practice of Weimar Constitucionalism. Durham: Duke University Press, 1997;
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
324
CALLEJÓN, Francisco Balaguer; PINON, Stéphane;VIALA, Alexandre. Le Pouvoir
Constituant au XX1e Siècle. Paris: Institut Universitaire Varenne, 2017;
CRISTI, Renato. Carl Schmitt on Sovereignity and Constituent Power. Canadian Journal of
Law and Jurisprudence. v. 10, n. 1, p. 194, 1997.
CRITCHLEY, Simon. The Faith of The Faithless. Londres: Verso, 2011;
HOLMES, Stephen. “Precommitment and the Paradox of Democracy” In: ELSTER, Jon;
SLAGSTAD, Rune. Constitutionalism and Democracy. Cambridge University Press:
Cambridge, 1988, p. 195-240
HONIG, Bonnie. Between Decision and Deliberation: political paradox in democratic theory.
American Political Science Review, v. 101, n.1, p. 1-17, 2007;
HUG, Aziz, GINSBURG, Tom. How to Lose a Constitutional Democracy, UCLA Law Review,
v. 65, n.1, p. 5, 2018.
HUNTINGTON, Samuel. Democracy’s Third Wave Journal of Demcracy, v.2, n.2, p. 12, 1991
KALYVAS, Andreas. Democracy and the Politics of Extraordinary: Max Weber, Carl Schmitt,
and Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press, 2008; MIGUEL, Luis Felipe.
Democracia e Representação: territórios em disputa. São Paulo: Unesp, 2014;
KENNEDY, Ellen. Carl Schmitt and the Frankfurt School. Telos, n. 71, p. 37-66, 1987;
KENNEDY, Ellen. Constitutional Failure: Carl Schmitt in Weimar. Duke University Press:
Durham, 2004;
KERVÉGAN, Jean-François. Que Faire de Carl Schmitt? Paris: Gallimard, 2011, p. 21-51;
LANDAU, David. Abusive Constitutionalism. Davis Law Review, v. 47, n. 1, p. 189-260, 2013;
LOUGHLIN, Martin; WALKER, Neil. “Introduction” In: LOUGLHIN, Martin; WALKER,
Neil. The Paradox of Constitutionalism: constituent power and constitutional form. Oxford
University Press: Oxford, 2007, p.1;
LOUGHLIN, Martin. European Journal of Political Theory, v. 13, n. 2, p. 229, 2013;
MCCARTHY, Thomas. Race, Empire, and the Idea of Human Development. Cambridge:
Cambridge University Press, 2009;
MEIERHENRICH, Jens; SIMONS, Oliver “A Fanatic of Order in a Epoch of Confusing
Turmoil”: the political, legal and cultural thought of Carl Schmitt”. In: MEIERHENRICH, Jens;
SIMONS, Oliver. The Oxford Handbook of Carl Schmitt. Oxford: Oxford University Press,
2017, p. 3-72;
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
325
MEIERHENRICH, Jens. “Fearing the Disorder of Things: the development of Carl Schmitt’s
Institutional Theory, 1919-1942” In: MEIERHENRICH, Jens; SIMONS, Oliver. The Oxford
Handbook of Carl Schmitt. Oxford: Oxford University Press, 2017, p. 171-216;
MOUFFE, Chantal. The Challenge of Carl Schmitt. Londres: Verso, 1999, p. 1.
MOUFFE, Chantal. The Democratic Paradox. Londres: Verso, 2005;
MOUFFE, Chantal. The Return of the Political. Londres: Verso, 1993.
NEGRI, Antonio. O Poder Constituinte: ensaio sobre as alternativas da modernidade. Rio de
Janeiro: Lamparina, 2008;
SCHEUERMAN, William. Between Norm and Exception: the Frankfurt School and the Rule
of Law. Cambridge: The MIT Press, 1994;
SCHMITT, Carl. O Conceito do Político. Petropólis: Vozes, 1992;
SCHMITT, Carl. Teoria de la Constitucion. Madrid: Alianza Editorial, 2011;
SCHMITT, Carl. “Un giurista davanti a se stesso” In: AGAMBEN, Giorgio. Un Giurista
Davanti a Se Stesso. Vicenza: Neri Pozza Editore, 2005;
SITZE, Adam. A Farewell to Schmitt: notes on the Work of Carlo Galli. New Centennial
Review, v. 10, p. 27-72, 1998;
SOUZA, Jessé. A Tolice da Inteligência Brasileira: ou como o páis se deixa manipular pela
elite. São Paulo: Leya, 2015
VAROL, Ozan O. Stealth Authoritarianism. Iowa Law Review, v. 100, 1673-1742, 2015;
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
O NACIONAL-DESENVOLVIMENTISMO COMO IDEOLOGIA NO ISEB
Helio Cannone1
1.IntroduçãoEste trabalho pretende-se um ponto de inflexão na agenda de pesquisa de seu
autor. Em nossa dissertação de Mestrado, trabalhamos a relação entre História e Política na
obra de três intelectuais do ISEB. No doutorado, pretendemos estudar as disputas sobre o
conceito de desenvolvimento entre 1955-1964. Estudaríamos a princípio, o IPES, a ESG e o
ISEB, tendo como hipótese de que a ideologia, enquanto conceito mediador da política e da
cultura, definiria a concepção de desenvolvimento destes três think thanks. Retornamos, então
ao ISEB neste trabalho afim de verificar a concepção de desenvolvimento em três dos seus
principais autores. Para tal, optaremos por analisar as obras publicadas pelos autores
enquanto atuaram no instituto. A ordem dos da exposição ambiciona demonstrar a progressiva
radicalização da instituição. Por isso, primeiro trataremos da obra de Hélio Jaguaribe,
importante fundador e formulador de ideias do instituto. Em seguida, o objeto será os textos
de Alberto Guerreiro Ramos, sociólogo que se reivindicava de esquerda, e que posteriormente
assumiu o cargo de deputado pelo PTB. Diferente do primeiro autor, Guerreiro Ramos era
defensor da participação do povo no processo de desenvolvimento nacional. Por último,
analisaremos a produção iseabiana de Nelson Werneck Sodré, autor marxista que, na fase
final do ISEB, vinculou as teses do instituto à defesa das reformas de base de João Goulart. O
fim intencionado era realizar uma revolução burguesa no país que permitisse a longo prazo o
socialismo e o comunismo.
O Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) foi uma importante instituição
ligada ao Ministério da Educação e Cultura, criado em 1955 durante o governo Café Filho e
fechado em 1964 após o golpe militar. A partir de 1952, um grupo de intelectuais do Rio de
Janeiro e de São Paulo começou a se reunir no Parque de Itatiaia. As diferenças teóricas entre
os dois fez com que em 1953 os cariocas formassem o Instituto Brasileiro de Economia e
Sociologia (IBESP). Em 1955, decidiu-se criar o Instituto Superior de Estudos Brasileiros
(ISEB) para orientar a política no sentido da ideologia nacional-desenvolvimentista. O ISEB
se organizava por cátedras de Ciência Política, Economia, Filosofia, História Universal,
História do Brasil e Sociologia. Os autores que estudaremos neste trabalho foram aqueles que,
1 Bacharel e Licenciado em História pela PUC-Rio, Mestre em Ciência Política pelo IESP-UERJ e Doutorandoem Ciência Política na mesma instituição.
326
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
dentro do ISEB, mais recorreram à História como forma de dar insumo para compreender as
mudanças as quais eles julgavam necessárias para o Brasil se desenvolver. Para fins de
recorte, privilegiaremos propriamente livros dos autores nos quais suas ideias pareciam
melhor sistematizadas. Por vezes, recorreremos a livros e demais textos publicados antes ou
depois da saída de um respectivo autor do instituto.
Uma breve contextualização da conjuntura política e econômica do período ajuda
também a entender o espaço de experiências e o horizonte de expectativas dos intelectuais do
ISEB. Após revolução de 1930, o Brasil começou um processo mais latente de
desenvolvimento a partir do Estado, com centralização política e econômica sob o executivo.
Nos governos Café Filho e Jusselino Kubitschek a economia é aberta para o capital privado.
Na República de 1946 formaram-se partidos políticos nacionais que tinham visões distintas
dos rumos da economia e de sua gestão política. Dentre os partidos que se mantiveram na
legalidade2, a maior oposição acontecia entre a União Democrática Nacional (UDN) e Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB). A primeira se definia como partido liberal e, portanto, era contra
um Estado forte e a intervenção do mesmo na economia. O segundo era herdeiro da tradição
de Vargas e defendia o simétrico oposto. Tal como chama atenção Sonia Mendonça (1988), o
nível de internacionalização e financeirização da economia brasileira era muito baixo no
período, o que tornava muitas das ideias defendias pelo PTB e pelos outros nacionalistas –
como os que compunham o ISEB –viáveis.
2. Concepções teórico-metodológicas
Quentin Skinner (1969) chama atenção para o aspecto da linguagem como
performance. A partir desta perspectiva, fica compreensível que os intelectuais do ISEB,
quando escreveram, buscaram agir na realidade para alterá-la. Eles se inseriam em um debate
sobre desenvolvimento no Brasil que, segundo Ricardo Bielschowsky (2004), estava longe de
ser consensual. Também eram desenvolvimentistas os intelectuais em torno da Escola
Superior de Guerra (ESG) e liberais como Roberto Campos. A partir de um certo ponto de
vista e indicando uma direção, o ISEB disputa a polissemia do conceito de desenvolvimento
colocada em sua época.
2 Embora mantido na ilegalidade na maior parte da República de 1946, o PCB também é relevante paradiscussão sobre política e desenvolvimento no Brasil. Este aspecto será melhor visto no quarto capítulo destetrabalho.
327
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
De acordo com Christian Lynch (2013), existem duas correntes que marcam a tradição
do pensamento político brasileiro. A primeira seria a cosmopolita, hegemônica entre 1880 e
1930. De caráter universalista, esta corrente estava preocupada em enquadrar o Brasil em uma
filosofia da história geral segundo a qual o país estava atrasado em relação à Europa, embora
todos tendessem para uma mesma direção. Segundo o mesmo autor, as guerras mundiais
teriam sido responsáveis por mudar a hegemonia para a segunda corrente. Nas palavras de
Christian Lynch:
O advento de um paradigma cultural nacionalista entre as duas guerrasmundiais desencadeou no subcontinente uma mudança importante no modode conceber o lugar dos países periféricos no mundo e de aferir a qualidadeda sua produção cultural. A crítica às concepções evolucionistas unilinearesque haviam predominado sob o paradigma cosmopolita permitia identificar asingularidade da cultura de cada nacionalidade. Essa crítica matizava acrença na universalidade dos modelos, avançando, em seu lugar, a tese deque cada país possuía uma trajetória própria; que não havia linearidade, maspluralidade das linhas de evolução nacional. Por outro lado, a singularidadeda trajetória de cada país se refletia na especificidade de sua cultura, queganhava também, ao menos potencialmente, o selo de “originalidade.(LYNCH, 2013, p. 745)
Wanderley Guilherme dos Santos (1970), em artigo sobre a imaginação política
brasileira, apresenta a dicotomia entre um Brasil agrário e um Brasil industrial que já existiria
desde a Primeira República e se intensificou nos anos 1930. Segundo o autor, a revolução de
30 teria sido um “divisor de águas” (1970, p. 20) no pensamento político brasileiro. A partir
de tal evento começaram a ganhar força pautas características do nacionalismo, como o
dualismo entre os dois Brasis, a busca de singularidades do país e a crítica a tentativas de
transplantação mecânica de ideias estrangeiras. Isso se demonstraria pela publicação de livros
preocupados com a formação nacional e com a compreensão das particularidades brasileiras.
Alguns exemplos seriam Casa grande & senzala de Gilberto Freyre, Aventura política do
Brasil de Azevedo Amaral, Brasil errado de Martins de Almeida, entre tantos outros.
Wanderley Guilherme dos Santos (1970) entende que nos anos 1950 essas pautas vão se
intensificar ainda mais com o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB). Christian
Lynch (2013) segue na mesma direção e coloca o ISEB entre o nacionalismo conservador do
Instituto Brasileiro de Filosofia (IBF) e o cosmopolitismo cientificista da Universidade de São
Paulo (USP).
328
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
Na “Cartografia do Pensamento Político Brasileiro”, Christian Lynch (2016) explica o
que compõe o estilo periférico de redação, característico das produções nacionais. Para ele, o
fato dos autores do pensamento político brasileiro se enxergarem como habitantes de uma
periferia atrasada deu ao conjunto dos seus textos conformação estilística e temática
específica. As elites brasileiras teriam internalizado os pressupostos europeus de um processo
histórico evolucionista, onde o Brasil estaria atrasado em relação ao centro. Afirma Lynch:
Em decorrência disso, o eixo temático do PPB gira basicamente em torno dodiagnóstico do atraso, da barbárie, do retardo ou do subdesenvolvimentonacional e do imperativo do progresso, da civilização, da evolução ou dodesenvolvimento, meios conducentes à transformação das estruturasherdadas da colonização para alcançar a modernidade Centrica. (LYNCH,2016, p. 83)
O fato de não se virem como pertencentes à civilização produtora de filosofia e de
universalismos teria feito com que os pensadores brasileiros escrevessem de forma menos
abstrata e menos teórica. Portanto, o “estilo periférico” teria menor grau de generalização e
maior sentido prático. Somar-se-ia a isto uma visão negativa do passado e positiva do futuro,
na qual o primeiro é percebido como a época na qual teriam surgido os problemas que
precisariam ser superados. Já o segundo seria “[...] o lugar da redenção nacional, a se alcançar
pelo progresso, pela civilização, pela evolução, pela modernização, pelo desenvolvimento”.
(LYNCH, 2016, p. 85)
O estilo periférico também se caracterizaria pelo que o autor nomeia de
“pedagogismo” (LYNCH, 2016, p. 86). Isso significa que estes autores acreditariam ser
imprescindível educar as elites e as massas na cultura necessária para a vida social e para a
transformação política almejadas. Consequentemente, é comum aos textos do pensamento
político brasileiro a intenção de influenciar o processo político:
No fundo, todas ou quase todas as obras canônicas do PPB pretenderaminfluenciar o processo político. Refletiram o dilema insolúvel da ciênciapolítica: ser entendida como uma disciplina aplicada, voltada para aresolução de determinados fins práticos, ou uma disciplina pura, quedescrevesse o fenômeno político independentemente de comprometimentocom valores (Gunnell, 1993, p. 5). O que as distingue a esse respeito,portanto, é uma questão de grau: algumas se acharam mais voltadas para aintervenção do que outras, que se detiveram mais na descrição da realidade.Por esse motivo, apenas em sentido aproximado será possível aqui classificar
329
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
as principais obras do PPB como mais normativas ou pragmáticas do quedesinteressadas ou científicas. (LYNCH, 2016, p. 87)
Na história do pensamento político brasileiro, o ISEB estaria no influxo do movimento
iniciado de década de 1920. Neste período, a questão nacional seria retomada como forma de
fortalecer o país contra ameaças externas. Alberto Torres e Oliveira Viana são postos por
Christian Lynch (2016) como os maiores representantes desta fase. Já Celso Furtado seria
responsável por inserir a CEPAL na discussão depois da Segunda Guerra Mundial
3.O desenvolvimentismo de Helio Jaguaribe
Hélio Jaguaribe nasceu em 1923 e se formou em Direito pela PUC-Rio. Sua família
era dona da Cia de Ferro e aço de Vitória. Ele foi chefe da cadeira de Ciência Política do
ISEB até 1959, quando se retirou do Instituto. Suas obras, publicadas enquanto atuou na
instituição, são anteriores às de seus colegas Alberto Guerreiro Ramos e Nelson Werneck
Sodré. Torna-se possível, então, levantar a hipótese de que Jaguaribe montou um aparato
teórico de insumo histórico para entender e propor mudanças para o Brasil e este foi adotado
pelos outros dois autores. Esta parte do trabalho irá analisar as formulações do autor sobre as
questões endógenas do país e como ele pretende superar os seus problemas. Em O
Nacionalismo na Atualidade brasileira (JAGUARIBE, 1958b), o autor se dedica diretamente
à análise da questão nacional no Brasil a partir de um aparato teórico-metodológico
históricista.
A obra consiste em uma organização dialética das ideias. Hélio Jaguaribe perpassa o
livro inteiro apresentando teses, suas antíteses e no final de cada parte uma superação de
ambas, a título de buscar a adequação das ideias às necessidades do momento histórico.
Assim, na narrativa que o autor constrói, o Brasil se dividiria politicamente entre nacionalistas
e entreguistas (ou cosmopolitas), admitindo que as duas definições seriam vagas e
englobariam muitas diferenças. Nacionalismo poderia ser desde a extrema direita fascistas à
extrema esquerda comunista. Ele se definiria pela negação de certas políticas, como a inserção
do capital estrangeiro na exploração de recursos naturais e pela afirmação de outras, como
monopólio do Estado na exploração destes. O entreguismo é definido como a opinião oposta
disso. Jaguaribe entende que o nacionalismo teria surgido antes de sua formulação teórica,
como resposta aos problemas estruturais do Brasil. Porém, se ele não fornecesse a si mesmo
formulação racional iria desaparecer com o tempo. Seria preciso dar a tal corrente formulação
330
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
sistemática, que tornasse seus defensores cientes do papel histórico que precisariam cumprir.
O Nacionalismo na Atualidade brasileira (JAGUARIBE, 1958b) foi uma tentativa de cumprir
esta missão.
Enquanto fenômeno histórico-social, o nacionalismo surgiria do choque de condições
objetivas com condições subjetivas. As primeiras seriam de ordem histórica (estabelecimento
de uma Cultura ocidental a partir do Renascimento), sociais (como forma de organização de
uma comunidade) e geográficas (fixação territorial). Já as condições subjetivas são de ordem
cultural: cosmovisão, linguagem, arte, instituições e tecnologia. A Nação se constituiria como
tal quando, dadas algumas condições objetivas, o fator subjetivo agregaria a formulação de
um projeto de integração nacional. Sem ele uma nação no sentido histórico não se torna uma
nação no sentido político. O nacionalismo seria aspiração fundadora e preservadora da
nacionalidade que, dada as condições objetivas para tal, se constitui como projeto nacional.
No sentido que Ortega y Gasset (s.d.) dá ao termo, a Nação e o nacionalismo surgiriam no
pensamento de Hélio Jaguaribe como crenças coletivas.
Segundo o autor, haveria duas formas de Nacionalismo. O primeiro seria integrador,
próprio da fase em que o Brasil se encontraria. O segundo seria o imperialista, fenômeno de
países cêntricos, cujo o desenvolvimento econômico e cultural extravasou o território da
nação. Tal como teria ocorrido na Europa desde a Idade Moderna até o Século XIX, o fim do
nacionalismo seria realizar um modelo de humanidade via integração político jurídica. O fim
almejado com isto seria assegurar os interesses econômicos e de defesa de comunidades
portadoras de condições objetivas de solidariedade. Nas palavras do autor:
Basicamente, portanto, o projeto nacionalista é algo que, fundado nanecessidade de assegurar, mediante um adequado ordenamento político-jurídico, as comuns necessidades econômicas e de defesa, unifica, em dadoterritório comunidades vinculadas pelos mesmos laços histórico-culturais.(JAGUARIBE, 1958b, p. 29)
A configuração nacional brasileira só teria sido possível a partir de 1930. Os
movimentos políticos da independência e da república são vistos por Hélio Jaguaribe como
meras alterações superestruturais. As transformações econômico-sociais que, desde a abolição
teriam começado a criar um mercado interno e a consequente industrialização do país
mereceriam maior destaque. Nos anos seguintes, acontecimentos externos como as guerras
mundiais e a crise de 1929 teriam forçado o Brasil a voltar-se para si.
331
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
Jaguaribe junta o desenvolvimento da economia com as lutas ideológicas internas.
Então, apresenta que a divergência entre nacionalistas e entreguistas (ou cosmopolitas) teria a
ver com a manutenção do antigo regime produtivo do Brasil. Estes últimos favoreceriam
ideias cosmopolitas e defenderiam as políticas econômicas liberais presentes no Império e na
República. Como antítese desta posição, os primeiros prefeririam um dirigismo que
favorecesse a industrialização, com políticas protecionistas e de transferência de renda,
buscando a soberania nacional. Embora não disfarce sua preferência pelo nacionalismo, o
autor queria, acima de tudo, superar as duas correntes. Quando estudou a história da gestão
econômica do Brasil, ele reconheceu excesso dos dois lados. A busca de Hélio Jaguaribe pela
síntese das ideologias autóctones, o fez concluir que o problema estaria no fato de que o
cosmopolitismo subestimaria a capacidade nacional de investimentos e o nacionalismo
pecaria pelo oposto. A síntese estaria no equilíbrio.
A Composição social dos dois grupos também seria distinta. O nacionalismo seria
integrado pela burguesia industrial, pelo proletariado e pela intelligentsia da classe média. O
primeiro é visto por Hélio Jaguaribe como o setor “[...] mais dinâmico[...]” (JAGUARIBE,
1958b, p 35), capaz de encaminhar a industrialização. Com ela, o segundo, se beneficiaria da
ampliação de seu consumo, enquanto o terceiro ocuparia cargos técnicos e administrativos
que surgiriam. Já o cosmopolitismo seria composto pela burguesia latifundiária e mercantil,
setor que foi dominante enquanto perduraram as condições semicoloniais e subdesenvolvidas
do Império e da República Velha, e pela parcela da classe média que compunha o setor
terciário parasitário, patrocinado pela Estado Cartorial via empregos públicos de baixa
funcionalidade.
Tal estrutura de Estado seria responsável por “[...] ser o instrumento de manutenção de
uma estrutura econômico-social fundada numa economia primária de exportação e nos
privilégios de classe a ela correlatos.” (JAGUARIBE, 195b, p. 41). Logo, esse modelo de
Estado seria inadequado para as exigências do desenvolvimento. A união entre burguesia e a
classe média para perpetuarem seus privilégios via Estado Cartorial levaria ao aumento do
déficit do orçamento público, o que seria incompatível com o desenvolvimento. A burguesia
conservaria processos produtivos obsoletos que manteriam baixa a produtividade, bem como
sistemas comerciais e financeiros especulativos, que agravariam a inflação. A contradição
fundamental do nacionalismo seria a de ambicionar promover o desenvolvimento sem
combater a política de clientela e o Estado Cartorial. A forma racional e integrada de
332
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
soberania seria incompatível com esse modelo de Estado. Os serviços públicos deveriam ser
organizados para atender as exigências públicas de forma eficiente, não para promover
empregos e favores.
O autor não nega a existência de conflitos sociais no Brasil. Contudo, estes não se
dariam entre as classes, mas entre setores internos dinâmicos e estáticos das mesmas. Não
haveria, portanto, luta de classes, mas de estrutura faseológica. Nesta modalidade de conflito,
a tensão se daria entre aqueles acomodados no seu momento histórico e os obsoletos. Porém,
Jaguaribe não se priva de otimismo, para ele, a maior conquista da época seria o fato de que o
homem estaria adquirindo consciência do seu lugar no processo histórico. Dado este
acontecimento, a ideologia nacionalista já teria condições para emergir como instrumento de
superação do atraso brasileiro:
Somente a partir da compreensão faseológica dos fenômenos sociais e dasinvestigações da sociologia do conhecimento sobre o sentido das ideologiasé que foi possível, no entanto, converter em projeto socialmente deliberado oprocesso do desenvolvimento econômico-social. (JAGUARIBE, 1958b, p51)
O nacionalismo seria um movimento que pretenderia racionalizar e acelerar o
desenvolvimento do país, por sua vez, sua promoção deveria ser objetivo ideológico de todas
as classes sociais no Brasil, salvo as parcelas vinculadas às estruturas semicoloniais. O que
Hélio Jaguaribe defende não é um nacionalismo em si mesmo, mas um nacionalismo
pragmático, que deveria cumprir o papel de ideologia e estabelecer-se como crença coletiva:
“O nacionalismo, como se viu, não é imposição de nossas peculiaridades, nem simples
expressão de características nacionais. É, ao contrário, um meio para atingir um fim: o
desenvolvimento.” (JAGUARIBE, 1958b, p. 52).
Compreende-se o nacionalismo como uma ideologia destinada a cumprir uma missão
na fase histórica em que se encontrava o Brasil. Na medida em que o desenvolvimento
econômico-social tivesse lugar, ele tenderia a desaparecer, A afirmação da Nação serviria
como antítese da imposição da condição periférica e subdesenvolvida para o Brasil. Longe de
uma noção essencialista ou estática, o nacionalismo defendido por Hélio Jaguaribe era
historicamente transitório:
333
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
Paradoxalmente, o nacionalismo é antinativista e antifolclórico. Nãosignifica isso o repúdio cultural às nossas tradições nem a perda desensibilidade para as contribuições da arte popular. Significa, apenas, quetais contribuições irão passando da vida para o museu, que nós asincorporamos como compreensão do passado e não como formasaprisionadoras de nosso devenir. (JAGUARIBE, 1958b, p. 55)
Segundo a análise de O problema do desenvolvimento econômico e a burguesia
nacional (JAGUARIBE, 1958a), o processo de desenvolvimento que o Brasil passou desde
1930 teria sido responsável por gerar uma mudança na sua estrutura social. De uma classe
dirigente de latifundiários com relação predatória e especulativa com a terra, passou-se a uma
burguesia diversificada, com setores industriais e preocupados com o mercado interno.
Formou-se também o proletariado e uma classe média diversificada. Esta última, teria deixado
de se empregar apenas no funcionalismo público para ocupar também cargos técnicos e
administrativos nos novos empreendimentos que surgiram.
No entanto, este processo econômico e social não teria evolução política
correspondente. A estrutura do Estado brasileiro seria basicamente a mesma de antes de
1930, o que dele faria um “Estado Cartorial” (JAGUARIBE, 1958a, p. 51). O autor define tal
conceito da seguinte maneira:
Estado Cartorial é o Estado que resulta de uma situação em que o jogo dopoder se faz em termo de política de clientela. A política de clientela, por suavez, consiste no processo pelo qual se constitui o poder, uma comunidadeem que existe um grupo detentor dos meios de produção rural, que são oslatifundiários, apoiado por um grupo mercantil dos centros urbanos e emtorno dos quais gira necessariamente toda a possibilidade de emprego, toda apossibilidade de concessão de favores, de sorte que as clientelas seorganizam em forma piramidal, através de contratos tácitos ou relaçõessemelhantes, para assegurar uma composição política correspondente a essamesma composição econômica. (JAGUARIBE, 1958a, p. 51)
Nesta fase do Brasil, haveria um desarranjo entre o econômico-social e a estrutura do
Estado-nacional. Este seria responsável por conservar uma contradição: a classe industrial
teria a propensão de assumir o comando do processo econômico e social, mas o Estado
brasileiro era de tipo agrário, dominado por coronéis que conservavam um poder excessivo.
A manutenção do Estado Catorial se deveria, em partes, ao fato de que as classes no
Brasil seriam vítimas de uma confusão ideológica geral. O Proletariado seria vítima de
334
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
equívocos que o levariam ao assistencialismo e o culto de um líder carismático. No entanto, o
que ele necessitaria de fato seria a expansão do desenvolvimento econômico, pois é a baixa
produtividade que não permite a remuneração adequada da classe.
Já a Classe média, era seduzida por movimentos moralistas como o lacerdismo3. Para
Jaguaribe, este tipo de norma de conduta cultivada pela classe média seria próprio do meio
rural, devendo tornar-se ultrapassado na fase em que o Brasil estaria. O autor compreendia
que a classe média não queria perder privilégios e nem símbolos de diferenciação social que
permitissem seu contraste em relação aos proletários. Nas palavras do autor:
E cultiva preconceitos anti-industriais e anti-proletários, parcialmentemotivados pelo fato de que na evolução de uma sociedade agro-pastoril parauma sociedade industrial, tendem a desaparecer as pequenas sutilezas dahierarquia social, em torno do qual tanto se aferra a classe média.(JAGUARIBE, 1958a, p. 54)
O que de fato a classe média necessitaria é do desenvolvimento. Com o incremento de
parques industriais ela seria empregada em cargos técnicos e administrativos, o que
permitiria, inclusive, o acesso de mais pessoas ao lugar da pequena burguesia. Isso também
retiraria a classe média do lugar marginal que teria em seu país. Com a industrialização, a
classe média poderia se inserir de fato no processo produtivo, enquanto em uma sociedade
agrária permaneceria sem lugar.
A burguesia recebeu atenção especial do autor. Seu problema estaria no fato de que
seu setor mercantil continuaria na liderança. Quando o interesse da burguesia industrial fosse
atendido, o de todas as demais classes também seriam. Hélio Jaguaribe era leitor de Joseph
Schumpeter (1961). Deste autor, ele retirou sua compressão de que o empresário capitalista é
o ator responsável por trazer a inovação. Nas palavras de Schumpeter:
A ordem capitalista, da maneira como está materializada na instituição daempresa privada, prende eficientemente o capitalista ao seu trabalho” […] Omesmo sistema que, em uma determinada época, condiciona os indivíduos eas famílias que formam a classe burguesa, seleciona também, ipso facto, osindivíduos e famílias que ascenderão nesta classe ou dela serão excluídos.Esta combinação de função estimuladora com função selecionadora não éabsolutamente coisa simples. […] “O homem que ascende, em primeirolugar, à classe dos homens de negócio e, depois, dentro dela se mostraindivíduo capaz, ascenderá com toda a probabilidade até onde o puder levarsua capacidade, simplesmente porque, neste esquema, ascender a uma
3 O termo faz referência ao político Carlos Lacerda, que na época era da União Democrática Nacional. 335
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
posição e nela atuar bem é, ou sempre foi, de maneira geral a mesma coisa.Este fato, tão frequentemente obscurecido pela tentativa autoterapêutica dosfracassados para negá-lo, é muito mais importante para a apreciação dasociedade capitalista e da civilização que ela cria do que tudo que se possarecolher da teoria pura do sistema capitalista. (SCHUMPETER, 1961, p. 95)
Tanto Schumpeter quanto Jaguaribe compreendem uma divisão social entre classes
dirigentes e dirigidas na qual cabe à primeira empreender para levar o desenvolvimento para
as demais. Em ambos os autores quem cumpre este papel é o empresário capitalista, durante o
processo de desenvolvimento, a relação entre as classes sociais precisaria ser de cooperação.
O autor austríaco apresenta esta conclusão a partir de crítica que faz ao conceito de luta de
classes de Karl Marx:
Para qualquer mente não deformada pelo hábito de orar pelo rosáriomarxista, deve ser evidente que a relação entre as classes, em temposnormais, é, principalmente, de cooperação e que qualquer teoria contráriadeve basear-se, em grande parte, para verificação, em casos patológicos. Navida social, antagonismo e colaboração apresentam-se juntos e são, de fato,inseparáveis, exceto em casos muito raros. (SCHUMPETER, 1961, p. 29)
Jaguaribe recepcionou estas ideias para o Brasil, adequando-nas à situação nacional.
Para ele, haveria uma “Missão da Industria nacional” (JAGUARIBE, 1958c, p. 55). Partindo
do conceito de Ideologia tal como pensado por Karl Mannheim, Jaguaribe concluiu que a
burguesia apresentaria as linhas de representatividade e de autenticidade do mesmo:
Pode-se chamar como representativa uma ideologia que efetivamentecorresponde aos interesses situacionais do grupo de que ela é a expressão;pode-se chamar de autêntica a ideologia que realmente corresponde àsnecessidades da comunidade no momento dado. Ora, neste momento, aquilode que realmente o país tem necessidade, que é a promoção do seudesenvolvimento econômico em termos de mobilização ótima dos fatoresdisponíveis no país, em função deste, é exatamente o que corresponde aointeresse da burguesia nacional. (JAGUARIBE, 1958a, p. 55 e 56)
O interesse da burguesia industrial representaria, portanto, o interesse de todas as
classes: o desenvolvimento. Caberia a esta burguesia cumprir seu papel histórico de
promove-lo. Isso deveria ser feito a partir da formulação de uma Ideologia não só
representativa da burguesia, mas autêntica do Brasil, uma vez que estaria de em harmonia
336
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
com o interesse de todas as classes sociais. Angélica Lovatto (2010) elucida melhor este
ponto:
No decorrer da análise do pensamento de Hélio Jaguaribe percebe-seclaramente a reafirmação de que a representatividade e a autenticidadeideológica estavam presentes na burguesia industrial brasileira. Isso porqueela representaria o dinamismo econômico daquele momento, ou seja, a basemoderna sobre a qual deveria se processar a reforma do Estado. Esta classecongregava todos os interesses situacionais e seria, por isso mesmo, a maisautêntica para conduzir, enquanto força dirigente, o desenvolvimentonacional. (LOVATTO, 2010, p. 104)
Hélio Jaguaribe acreditava que o desenvolvimento econômico, social, político e
cultural do país seria alcançado via um processo de industrialização liderado pela burguesia.
O resultado disto seria a ruptura do Brasil com todos os resquícios coloniais que o
prenderiam, tornando-se autônomo em todos os campos. Recepcionando a obra de Ortega y
Gasset (s.d.), Jaguaribe passou a enxergar não só o indivíduo, mas a própria nação como algo
que se faz dentro de sua própria história.
4.O desenvolvimentismo de Alberto Guerreiro Ramos
Alberto Guerreiro Ramos nasceu em Santo Amaro na Bahia em 1915. Em 1942 se
formou em Ciências Sociais na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil,
no Rio de Janeiro e no ano seguinte graduou-se pela Faculdade Nacional de Direito da mesma
instituição. Nos anos de 1950 foi catedrático de Sociologia do ISEB e professor de
Administração pública da Fundação Getúlio Vargas. Após sua saída do instituto, ingressou no
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), onde ocupou cadeira de deputado federal entre 1963 e
1964, quando teve seus direitos políticos cassados pelo primeiro ato institucional após o golpe
militar.4 Nos textos isebianos de Alberto Guerreiro Ramos encontram-se três pontos de crítica
comuns aos de Hélio Jaguaribe, a problemática do latifúndio e da industrialização. No
entanto, assim como seguirá fazendo Nelson Werneck Sodré, o povo, seu conteúdo e papel e a
Revolução brasileira passam a ser elementos centrais para a concepção de desenvolvimento
advogada.
Para o sociólogo, os altos níveis de saúde e bem-estar dos países industrializados
seriam causados pelo desenvolvimento tecnológico. Na medida em que ele aumentaria, não só
4 Informações retiradas de: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/guerreiro_ramos337
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
aumentaria junto a qualidade de vida de um país, mas também a qualidade política, razão pela
qual o Brasil deveria almejá-lo. Porém, o latifúndio seria impedimento para o avanço da
urbanização, atravancando o próprio país. Em A dinâmica da sociedade política no Brasil,
Guerreiro Ramos (1995) traça uma breve história do papel político dos latifundiários
brasileiros, partindo das suas categorias de classes ascendentes como progressistas, dominante
como conservadoras ( e reformistas) e classes em declínio como reacionárias. O autor
interpreta os latifundiários como classe ascendente em 1822, quando teriam feito a
independência e organizado o Estado. Desta data até 1930 eles eram classe dominante,
tornando-se, após a revolução, em declínio. Haveria à época uma possibilidade de mudança:
Estes inimigos comuns seriam justamente os latifundiários, contrários ao interesse de
desenvolvimento da Indústria nacional. Assim como os demais intelectuais do ISEB,
Guerreiro Ramos propôs uma coalizão entre diferentes setores da sociedade para permitir o
desenvolvimento do Brasil.
Em 1930 teria se iniciado o declínio da burguesia do latifúndio mercantil como classe
dominante, perdendo sua posição no centro do poder para a burguesia industrial. A manobra
política que deu início ao Estado Novo em 1937 foi interpretada pelo autor como um
ordenamento político-estatal de Vargas para conseguir orientar a produção para consumo
interno sem grandes percalços. Isto porque seria preciso dar um sentido intervencionista ao
Estado. Graças à ascensão do proletariado como força política nos anos 1930, estariam se
fazendo possíveis as condições de dar fim à situação alienada do Brasil, via aliança de seus
setores progressistas.
As referências à categoria Povo e suas potencialidades são abundantes na obra de
Alberto Guerreiro Ramos, aparecendo mais na fase propriamente sociológica de sua
produção. Sobretudo na Cartilha brasileira do aprendiz de sociólogo (1995) e n’ A redução
sociológica (1996). No segundo livro, após afirmar que “A autoconsciência coletiva e a
consciência crítica são produtos históricos” (RAMOS, 1996, p. 46), o autor advoga que em
seu tempo o povo estaria formando esta consciência de si. Na sua definição: “A
personalização histórica de um povo se constitui quando, graças a estímulos concretos, é
levado a percepção dos fatores que o determina, o que equivale à aquisição de consciência
crítica” (RAMOS, 1996, p. 47). O termo povo seria próprio em países periféricos para definir
os habitantes de determinado território que, se entendendo como parte da mesma nação e
338
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
tomando consciência de sua condição de subalternidade em relação aos outros povos,
buscariam superá-la.
Mesmo após a saída de Alberto Guerreiro Ramos do ISEB a referência ao povo que
estava presente desde os anos 1950 na sua produção não desapareceu e foi ganhando
conotação mais próxima das práxis políticas imediata. O sociólogo saiu do ISEB em 1958 e
dois anos depois veio a se filiar ao Partido Trabalhista Brasileiro. Em conferência dada na
Faculdade Nacional de Filosofia em 1959 de título os Princípios do povo brasileiro, o autor
define povo como: “[...] um conjunto de núcleos populacionais articulados entre si pela
divisão social do trabalho, participantes de uma mesma tradição e afetados de uma mesma
consciência coletiva de ideais e de fins.” (RAMOS, 1960, p. 228). Guerreiro Ramos partiu de
um conceito genérico e foi procurar sua aplicação na história do Brasil. De modo semelhante
ao feito por Oliveira Viana em Populações meridionais do Brasil (1952), ele diferenciou
população e povo, uma vez que o segundo implicaria consciência.
Para o sociólogo, na independência não haveria povo, este começaria a se formar na
república para ter seu ápice após a revolução de 1930, quando a massa de trabalhadores teria
começado a ganhar consciência de seu papel. A tarefa que estaria colocada nos anos 1950 e
1960 seria a de liberta-se da condição colonial, tanto no domínio cultural quanto no
econômico, para permitir o desenvolvimento das indústrias nacionais e de todos os seus frutos
benéficos. Contudo, o povo precisaria de um condutor para dirigir o processo histórico-social.
Esta vanguarda era, possivelmente, o Partido Trabalhista ao que o autor estava filiado.
Análoga ao conceito de intelligentsia de Mannheim (1986), esta seria a que, informada pelos
interesses do povo, daria direção ao processo nacional, o representando. Mas a ela caberia
apenas coordenar o processo, sendo o povo o ator do desenvolvimento. Segundo o autor:
A emancipação econômica do país não será obtida, se o povo não exercerefetivamente a categoria que a história já lhe conferiu, de empresárioprincipal do desenvolvimento, se não se fizer apelo à sua capacidadeprodutiva e não lhe for assegurado o controle ideológico da programaçãoeconômica. (RAMOS, 1960, p. 235)
Cinco princípios do trabalhador brasileiro foi publicado originalmente em 1959 no
periódico Vanguarda Popular. Nele, Alberto Guerreiro Ramos (1960) aprofundou a sua
associação entre trabalhadores e povo. Observando sua época, o autor afirmou que
“Atualmente o povo se tornou no Brasil realidade histórica concreta. O povo é, para o
339
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
sociólogo brasileiro contemporâneo, a categoria cardinal de seu trabalho. O teste de validade
de sua produção científica é aprovação popular.” (RAMOS, 1960, p. 260). Ele percebia não só
a entrada do Brasil em uma fase histórica em que existiria povo, mas também ressaltava que a
sociologia precisaria se aproximar e se pensar a partir dele.
No final do breve texto, ele descreveu os cinco princípios dos trabalhadores
brasileiros, os quais teriam sido retirados de ideias já aceitas por líderes sindicais reunidos na
Confederação Nacional da Indústria em novembro de 1958. Trabalhador e povo são
entendidos como sinônimos. Nestes princípios, o trabalhador aparece como sócio do
desenvolvimento nacional e como força política sem a qual um governo não mais se
sustentaria. O autor previa uma relação direta entre planejamento econômico do Estado e
interesse popular que vincularia diretamente a questão nacional com os interesses dos
trabalhadores. Segundo Guerreiro Ramos “Os trabalhadores condenam toda forma de
sectarismo e reconhecem que [...] devem ajustar as suas reivindicações aos imperativos da
emancipação nacional” (RAMOS, 1960, p. 261). Ponto concluído no quinto e último
princípio: “Os trabalhadores brasileiros só apoiam soluções nacionais dos problemas
nacionais.” (RAMOS, 1960, p. 262).
Na definição do trabalhador como sócio ─ o que indicaria parceria ─ do
desenvolvimento, assim como na condenação a sectarismos e a associação entre interesses
nacionais e populares deduz-se o encontro das teses de Guerreiro Ramos com a dos demais
isebianos. Para ele, também se faria necessária uma aliança política entre os setores
interessados em soluções nacionais para o desenvolvimento do Brasil para que o processo se
realizasse. Mesmo depois de sair do ISEB, Guerreiro Ramos ainda defendia um modelo de
desenvolvimento – tido por ele como revolução – composto por uma frente ampla na qual os
trabalhadores não fossem prejudicados pelos outros integrantes dela.
Alberto Guerreiro Ramos dedicou obra inteira ao tema da Revolução brasileira. Em
Mito e Verdade da Revolução brasileira (1963), ele apresenta o marxismo como uma teoria
emprestada, que não seria condizente com a realidade brasileira por não ter sido feita para
pensá-la. Esta corrente de pensamento seria, portanto, ameaça ao desenvolvimento nacional.
O sociólogo justificou no livro sua saída do ISEB pelo fato de o instituto ter sido envolvido
por estas ideias. Embora reconhecesse as contribuições de Marx para o entendimento da
História e de seu desencadear, Guerreiro Ramos não alinhou a revolução brasileira ao
paradigma marxista de compreensão do conceito. Para o autor, o filósofo alemão teria
340
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
contribuído com a teoria da revolução ao submetê-la a análise científica e por isso teria
percebido que o elemento objetivo se sobreporia ao subjetivo, permitindo que se
compreendesse a revolução como expressão de uma realidade histórica e social. Lenin, após
Marx, viria a contribuir para a teoria ao propor uma forma de organizar o elemento subjetivo.
Amarrando estas ideias, Guerreiro Ramos arranjou o seu conceito:
[...] revolução é o movimento, subjetivo e objetivo, em que uma classe oucoalizão de classes, em nomes dos interesses gerais, segundo aspossibilidades concretas de cada momento, modifica ou suprime a situaçãopresente, determinando mudança de atitude no exercício do poder pelosatuais titulares e/ou impondo o advento de novos mandatários. (RAMOS,1963, p. 30).
Para o autor, a revolução seria a substituição das classes que estão no poder por
outras, a partir das leituras das condições objetivas que se apresentariam em determinado
momento histórico. Não existiriam etapas a serem seguidas, a revolução brasileira não seria
uma revolução burguesa em termos marxistas, mas um processo constituído por elementos
burgueses e trabalhadores, unidos pela defesa do interesse nacional. No juízo do sociólogo
seria “[...] anacrônico o clássico modelo marxista de revolução, segundo o qual cada
sociedade teria de percorrer, um após outro, os diferentes modos de produção até chegar ao
socialismo”. (RAMOS, 1963, p. 44).
Embora fosse crítico da internacionalização proposta pelo marxismo de seu
entendimento da história através de etapas, Alberto Guerreiro Ramos não deixou de elogiar
um aspecto da revolução russa: ela teria sido a revolução que a Rússia precisaria naquele
momento de sua História. Lenin e seus correligionários teriam lido bem as condições
objetivas de seu país e dela derivado uma teoria da ação que teria sido responsável por superar
os problemas que se apresentavam no país. A revolução brasileira deveria ser o mesmo, mas
no Brasil, buscando, assim, solucionar seus problemas específicos. Ela viria a cumprir o papel
de submeter a direção da economia nacional ao Estado, que por sua vez canalizaria o
desenvolvimento para o interesse dos trabalhadores. A revolução nacional necessária não
precisaria passar por um estágio de amadurecimento do capitalismo, pode substitui-lo por um
socialismo de tipo estatal, afinal a história seria “[...] rebelde à teoria” (RAMOS, 196, p. 68).
Advoga o autor:
341
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
A História não confirmou a hipótese de que o socialismo surgiria, de início,nos países de capitalismo maduro. [...] O socialismo assume cada vez mais,em nossa época, feição de método político e econômico, adequado parapromover o desenvolvimento acelerado de nações onde o capitalismo ou nãochegou a medrar, ou se encontra em condições ainda rudimentares(RAMOS, 1963, p. 73).
5.O desenvolvimentismo de Nelson Werneck Sodré
Nelson Werneck Sodré nasceu em 1911 no Rio de Janeiro, formou-se em 1933 na
Escola Militar de Realengo e na Escola do Comando e Estado-Maior do Exército em 1946.
Em 1955 passou a atuar como professor de História do Brasil do Instituto Superior de Estudos
Brasileiros (ISEB). Em 1962, tornou-se chefe da cadeira de História onde ficaria até o
fechamento do instituto em 1964. 5
Na obra de Nelson Werneck Sodré, a tese do Feudalismo brasileiro estava associada a
seu projeto político. Tal como assinalado por Jorge Grespan (2006) e por Gildo Marçal
Brandão (1997), a Declaração sobre política do PCB em 1958 expressa a mudança de
orientação do partido, que passava então a defender o desenvolvimento capitalista no Brasil
como forma de acabar com as relações de produção semifeudais que existiriam no campo.
Nelson Werneck Sodré agregou a defesa feita pelo seu partido à discussão já existente sobre o
latifúndio no pensamento político brasileiro.
Na interpretação do autor, o avanço das forças produtivas no Brasil não teria se
seguido como na Europa, onde teria havido uma sequência evolutiva de modos de produção
com maior nível de produtividade. O nosso país teria regredido a um modo de produção
escravista, menos produtivo. Isto teria se dado por imposição do grande comércio, controlado
pela metrópole. Com o advento da Revolução Industrial, a escravidão teria se tornado
inadequada ao comércio mundial, que exigiria a ampliação de um mercado consumidor.
Então, no final do Império, o fim do regime escravista teria representado a passagem para um
regime feudal, pois a perda do mercado externo, causada pela pouca competitividade dos
produtos agrícolas, teria levado ao isolamento comercial e condenado os produtores à
atividade de subsistência. Para Sodré, o Brasil teria se tornado feudal na Primeira república,
uma vez que o regime teria favorecido a divisão do país em feudos. Somente após a
Revolução de 1930 que viria a se iniciar um processo de ruptura que levaria pessoas
5 Informações extraídas do verbete do Dicionário Histórico biográfico da Centro de Documentação e Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (CPDOC-FGV). Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas2/biografias/nelson_werneck_sodre
342
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
dominadas por relações de semi-servidão à vida política. Nelson Werneck advogava que para
o desenvolvimento capitalista e industrial ocorrer, seria preciso remover os resquícios do
atraso conservador. Em termos marxistas, o Brasil precisaria de uma revolução burguesa.
Sodré desenvolveu o tema do feudalismo no Brasil em Raízes históricas do
nacionalismo brasileiro6 (1963). Partindo do pressuposto de que as ideias estariam
condicionadas ao avanço das forças produtivas em determinado momento histórico, o autor
concluiu que o Brasil estaria finalmente na fase em que o nacionalismo se tornaria possível
politicamente. Sodré apresenta três cortes para a História do Brasil7: Independência,
República e Revolução brasileira. Na elaboração intelectual do autor, a história político-
institucional brasileira seria expressão da etapa econômica que o país se encontraria. A
colônia estaria ligada à revolução comercial, na qual toda produção seria para mercados
externos. A Independência, por sua vez, seria reflexo da revolução industrial, que exigiria a
ruptura do monopólio do comércio pela abertura de novos mercados proporcionada por esta
mudança no modelo produtivo internacional.
Do império até a república a classe dominante continuaria sendo o senhor de terras.
Na alteração de regime, o modo de produção teria deixado de ser escravista para ser feudal. O
pequeno produtor estaria preso ao latifundiário e a política dos governadores seria o arranjo
institucional que garantiria o poder dos senhores feudais brasileiros. A fase da Revolução
brasileira teria se iniciado com a revolução de 1930, na qual a classe dominante se
enfraquecera, a classe média se tornara forte e a classe trabalhadora estaria entrando na vida
política.
A última fase ainda teria uma contradição fundamental a resolver. Para Nelson
Werneck, os produtores de café seriam senhores feudais, representantes do arcaísmo que
precisaria ser eliminado. Para tal, o nacionalismo deveria ser utilizado como ferramenta de
libertação. Ele teria o papel de pôr fim às reminiscências do feudalismo neste país, tal como
teria feito nos países europeus durante a Idade moderna. A missão do Nacionalismo no Brasil
seria a de formar um arranjo de classes a partir do interesse comum de encerrar o jugo
colonial imposto ao Brasil. Os inimigos desta coalizão seriam aqueles que acreditavam que o
Brasil só poderia se desenvolver com ajuda alheia, e, por isso, defenderiam a manutenção do
6 O texto é reprodução da aula inaugural dada no ISEB em 1958,7 O recorte é o mesmo presente no livro publicado em 1962 Formação histórica do Brasil, que é resultado docurso de História do Brasil que o autor lecionava no ISEB.
343
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
quadro de relações feudais ou semifeudais. Em sintonia com o projeto defendido pelos demais
intelectuais do ISEB, Nelson Werneck pleiteava uma “[...] composição nacional que inclui
uma burguesia capaz de realizar-se como classe [...]” (SODRÉ, 1963, p.182), para que o
Brasil pudesse atingir o seu desenvolvimento.
Em Quem é o povo no Brasil?8 (SODRÉ, 1963), Sodré dedicou-se à compreensão do
povo e seu papel na revolução brasileira. A obra consiste em uma tentativa de dar
historicidade ao conceito de povo no Brasil, analisando seu conteúdo no decorrer da história
do país, porque, segundo o autor, o conceito de povo estaria sendo usado de maneira
imoderada, pois todos queriam se confundir com ele para passar seus interesses como
interesses gerais. Em outras palavras, o livro é uma história de um conceito politicamente
orientado, a fim de compreender o que preenche tal categoria essencial no vocabulário
político moderno no Brasil. Para Sodré, os trabalhadores seriam a massa principal do povo,
mas, no Brasil, povo não compreenderia somente o trabalhador, de mesmo modo, o conceito
não poderia ser só definido economicamente, mas historicamente, de acordo com a situação
encontrada em determinado momento histórico.
O autor pressupunha uma distinção entre povo e população. O segundo consistira da
massa dos habitantes de um território. O primeiro, por outro lado, é conceituado por Nelson
Werneck como “[...] o conjunto das classes, camadas e grupos sociais empenhados na solução
objetiva das tarefas do desenvolvimento progressista e revolucionário na área em que vive”
(SODRÉ, 1963 p. 191). O Povo seria um agrupamento de classes no qual o arranjo dependeria
do momento histórico vivenciado. Ele também não deixa de afirmar que “[...] só é nacional o
que é popular” para enfatizar que em sua concepção os interesses do povo são o próprio
interesse da nação em determinado momento da história. Partindo desta conceituação geral, o
autor monta sua divisão da história do Brasil em três etapas para ver o que é povo em cada
uma delas. Na colônia, não teria existido o povo, pois não existiriam condições materiais
efetivas para essa tomada de consciência. Na independência o povo era composto por todas as
classes, porque a tarefa progressista imposta era o fim da condição colonial. Já na república, o
necessário era liquidar o império. Nesta fase da História, o povo seria constituído por setores
da burguesia e do proletariado, deixando de ter a classe latifundiária como componente.
Contudo, a Política dos governadores cumpriria o papel de fazer um arranjo entre setores da
8 O texto foi publicado originalmente em 1962 como a segunda edição dos Cadernos do Povo Brasileiro e depoisrepublicado em Introdução à Revolução brasileira como a parte referente à Revolução popular.
344
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
classe dominante para impedir a participação política do povo, dando poder aos grandes
proprietários de terra.
A etapa seguinte seria a que Nelson Werneck Sodré percebia como ainda em curso na
segunda metade do século XX: a Revolução brasileira. O povo, composto pelo campesinato, o
proletariado e por setores da burguesia comprometidos com o interesse nacional e anti-
imperialista, precisaria liquidar a classe latifundiária e suas relações com o imperialismo. O
autor não considerava o uso da violência como algo necessário neste processo. O uso deste
recurso dependeria de as classes dominantes deixarem a revolução se cumprir por um
caminho político institucional ou não. Com esta revolução, haveria uma substituição da classe
dominante: os defensores do arcaísmo na sociedade brasileira seriam derrotados e as forças
nacionais sairiam vitoriosas. O país poderia, então, se libertar do feudalismo representado
pelos latifundiários e do jugo imperialista que lhes interessava. No final da segunda parte de
seu texto, Sodré define o conteúdo da revolução:
Em termos políticos: trata-se de uma revolução democrático-burguesa, masde tipo novo, em que a componente burguesa não terá condições paramonopolizar os proventos da revolução. As possibilidades de operar odesenvolvimento material e cultural do Brasil para proveito apenas daburguesia estão encerradas. (SODRÉ, 1963, p. 210)
A partir do pensamento do autor é possível extrair também um conceito utópico de
povo, que deve ser associado à sua postura política de comunista. Nelson Werneck Sodré
defendia nos anos 1950 e 1960 um tipo de revolução burguesa para o Brasil. Com o
movimento da História, viria o momento em que o povo se confundiria com os trabalhadores,
sendo finalmente possível uma revolução de tipo comunista no Brasil. Porém, esta só poderia
ocorrer depois de superada a etapa feudal e avançada a capitalista.
Somando-se a crítica aos latifúndios com a emergência de um povo autoconsciente de
seu papel, Nelson Werneck Sodré vislumbrou em sua época a necessidade de efetivar uma
revolução que desde 1930 viria se intensificando. Este diagnóstico não existia apenas nesse
autor: a Revolução brasileira foi de fato tema de discussão de inúmeros acadêmicos por esta
época. No entanto, ainda assim parece válido analisar como a ideia aparece em sua obra e
como ele a preenchia de conteúdo.
Nelson Werneck Sodré dedicou uma obra especificamente a este tema: Introdução à
Revolução Brasileira. No entanto, grande parte dos textos já haviam sido publicados
345
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
anteriormente e os que eram originais se assemelham a resumos de obras maiores do autor.
Porém, nos parece significativa a junção deles em um mesmo livro, pois todos consistiam em
uma análise social, política e econômica da história do Brasil na qual a Revolução brasileira
aparece como última etapa. O conceito de revolução que transpassa a obra é o de mudança
radical nas estruturas de uma determinada sociedade, tendo como consequência substituição
de uma classe dominante por outra. A passagem do Império para a república não se
enquadraria dentro da categoria, justamente por não ter havido alteração no arranjo de classes.
Cada processo revolucionário seria, para o autor, fruto da adequação das estruturas políticas
às mudanças na base socioeconômica. Assim, a Revolução brasileira seria uma etapa da
história do país na qual caberia ao povo (enquanto conjunto de classes nacionalistas e
progressistas) encerrar a dependência do país para com o capital externo imperialista, assim
como a proeminência dos latifúndios no mercado interno.
Dentro da concepção marxista da qual o autor advogava, não seria errado dizer que a
Revolução brasileira consistiria em uma revolução burguesa. Como já foi desenvolvido aqui
na discussão sobre o papel do povo, trata-se de um processo em que a violência é recurso, mas
não é condição necessária para atingir o objetivo que se almeja. Buscava-se uma revolução
burguesa, mas de tipo democrático. Nela, a parte da burguesia que participaria do processo
não iria alienar os trabalhadores dos bens gerados após o processo. Dado que para Nelson
Werneck Sodré este processo seria exigência de seu tempo, a revolução teria função tática. A
estratégia adotada seria a de se esperar que no futuro outra revolução fosse necessária.
Seguindo a lógica da filosofia da História marxista, não é absurdo pensar que se trataria de
uma revolução comunista, feita pelos trabalhadores urbanos.
6.Conclusão: a Ideologia desenvolvimentista do ISEB
Em 1977, Hélio Jaguaribe publicou um texto9 no qual pretendia refletir sobre o ISEB quase 20
anos após sua saída. Segundo ele, a então recém-publicada tese de Caio Navarro de Toledo
(1998) o teria reinserido na atmosfera dos anos 1950, o fazendo repensa aquela época.
Jaguaribe conta que o IBESP foi uma iniciativa de dar alguma institucionalidade para as
discussões feitas por um grupo de intelectuais cariocas e paulistas em Itatiaia. Também
descreve que, com o tempo, as diferenças ideológicas entre os dois grupos teriam se
9 O título original do texto era “20 anos: breves reflexões sobre o IBESP e o ISEB”. A revista Insightinteligência republicou em 2016 o texto sob o título “Usina de altos estudos”.
346
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
tencionado, a ponto de se tornarem inconciliáveis. Então, o grupo carioca acabou por fundar o
ISEB.
O Instituto Superior de Estudos Brasileiros teria acabado por se especializar em um
centro de estudos dos problemas nacionais. A partir de uma perspectiva realista, sociológica e
política, o estudo da realidade do pais andaria junto com as inovações trazidas pelas ciências
sociais, afim de dar solução para os problemas que se apresentavam à época. O intelectual
sintetiza as teses políticas do ISEB em três pontos. O primeiro seria a defesa da ideologia
nacional-desenvolvimentista como a mais adequada àquela fase histórica do Brasil, o segundo
a necessidade de aliança entre setores progressistas da indústria para o desenvolvimento. Já o
terceiro, seria a análise de que, na fase em que o Brasil se encontrava, as contradições entre as
classes que compunham esta coalizão não importariam e a burguesia brasileira teria condições
suficientes, de se tornar autônoma.
Dada tal síntese, não é sem motivo que Hélio Jaguaribe parece demonstrar certa
irritação no seu texto com a tese de Caio Navarro de Toledo. O autor classificou-a o como um
“trabalho de juventude” (JAGUARIBE, 2016, p. 88). O ex-iseabiano associa os erros de
análise cometidos por Caio Navarro aos erros de sua perspectiva marxista, baseada no filósofo
Louis Althusser. O que parece haver é um desencontro semântico entre o conceito de
ideologia de Hélio Jaguaribe e de seu crítico. O segundo parece percebê-lo em uma concepção
marxista clássica, de falseamento da realidade e ocultação das condições objetivas. O ISEB
seria aparelho ideológico do Estado que reproduziria tal mascara superestrutural sob a
sociedade brasileira. Jaguaribe retruca:
Fábrica de ideologias, o ISEB? O plural, desde logo, é incorreto. O ISEB sededicou à análise e à discussão de uma só ideologia, o nacional-desenvolvimentismo. Pela originalidade e fluidez com que tratou seus temas,foi menos fábrica do que fonte. Algo de diametralmente oposto à divulgaçãomecânica e sectária de ideologias pré-fabricadas, de esquerda ou de direita,que naquele tempo, como hoje, é prática fácil, com muitos adeptos.(JAGUARIBE, 2016, p. 89)
Como este estudo tentou demonstrar, o conceito de ideologia que orientava a fundação
e a continuidade da produção sociológica, histórica e política do ISEB não tinha origem em
Marx, mas sobretudo, em Karl Mannheim e como ele definiu o conceito. Em passagem do
autor, ele descreveu como entendia a Ideologia:
347
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
Todos os períodos da história contiveram ideias que transcendiam a ordemexistente, sem que, entretanto, exercessem a função de utopias; antes eram asideologias adequadas a este estágio de existência, na medida em que estavam“organicamente” e harmoniosamente integradas na visão de mundocaracterística do período (ou seja, não ofereciam possibilidadesrevolucionárias). (MANNHEIM, 1986, p. 217).
Quando Hélio Jaguaribe diz que o ISEB se orientava por apenas uma ideologia, a
nacional-desenvolvimentista, o autor estava definindo-a como aquele conjunto de ideias que
almejavam adequar e sistematizar no plano intelectual o movimento histórico que estes
intelectuais e atores políticos do ISEB viam como em curso desde 1930. Tal diagnóstico era
comum a todos os autores, se enquadrando entre as teses do Instituto definidas por Jaguaribe.
O próprio autor deixa isso claro em seus textos iseabianos. Em O problema
desenvolvimento econômico e a burguesia nacional (JAGUARIBE, 1958c) ele afirmou que
seria preciso:
[...] elaborar uma formação ideológica que, correspondendo às necessidadesefetivamente experimentadas pelo país em face do seu estágio faseológico,da sua atual estrutura-tipo e do interesse das diversas classes, seja capaz demobilizar estas diversas classes neste mesmo sentido, carregando-se assim,de apelo popular. (JAGUARIBE, 1958c, p. 56 e 57)
Na palestra que deu origem ao livro Condições institucionais do desenvolvimento
(JAGUARIBE, 1958a), Jaguaribe destacou o papel ativo dos intelectuais do ISEB na
formação desta ideologia:
Acredito que experiências como a que estamos aqui realizando no sentido deesclarecer a problemática brasileira e elucidar os requisitos de que depende odesenvolvimento econômico, constituem exatamente um meio de darexecução prática ao imperativo a que acabo aludir, de formar correntes deideias e interesses suficientemente poderosos para transformar, no sentido dodesenvolvimento, as condições institucionais do nosso país. (JAGUARIBE,1958a, p. 53)
No projeto político aqui estudado, o desenvolvimento não era percebido como
incompatível com a democracia. Os três autores aqui analisados entendiam a participação
popular nos processos políticos como fundamental. Era compreensão comum a estes
intelectuais que parte essencial do processo de desenvolvimento do Brasil se fazia pela
348
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
distribuição de recursos. Mesmo Hélio Jaguaribe, defensor da burguesia como classe
responsável pelo desenvolvimento, destacava a importância da democracia:
No plano das nossas relações sociais, esses fenômenos de estrangulamentose apresentam em termos de permanência, além do período em quehistoricamente ainda eram compreensíveis, dos privilégios de classe, quetendem a enquistar-se em determinados sistemas de resistência e dificultam ahorizontalização da democracia brasileira, suscitando, ademais, umfenômeno extremamente grave, que é o parasitismo social.” (JAGUARIBE,1958a, p. 17)
Em Alberto Guerreiro Ramos e Nelson Werneck Sodré este aspecto fica mais óbvio,
uma vez que os dois radicalizam à esquerda as teses nacional-desenvolvimentistas de
Jaguaribe. Para eles, não só a democracia seria fundamental para o desenvolvimento do país,
mas o povo era a classe (agora vista como) revolucionária que realizaria tal processo, afim de
que seus interesses sejam garantidos.
O golpe de 1964 fechou o ISEB e os militares encerram a polissemia dos conceitos de
desenvolvimento e de nacionalismo, dando a eles sentido antidemocrático e conservador.
Mas, estudar os intelectuais do ISEB mostra que existiam outros projetos de desenvolvimento
do Brasil que foram apagados nas mais de duas décadas que se sucederam. Vale a pena
retomar estes autores, suas teses e seu método de interpretar o seu pais para, além de perceber
seus anacronismos, pensar sua atualidade para o Brasil.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, Martins de. Brasil errado: ensaio político sobre os erros do Brasil como país. Riode Janeiro: Schmidt Editor, 1932.
ANDERSON, Benedict. Sob três bandeiras: anarquismo e imaginação anticolonial. Campinas: UNICAMP, 2014.
AZEVEDO, Ariston. A sociologia antropocêntrica de Guerreiro Ramos. Tese de doutorado. Florianópolis, UFSC. 2006.
BARIANI, Edison. Certidão de nascimento: a redução sociológica em seu contexto de publicação. Caderno CRH, Salvador, v. 28, n. 73, p. 15-27, jan.-abr. 2015.
BEVIR, Mark. A lógica da história das ideias. São Paulo: Edusc, 2008.
349
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
BRANDÃO, Gildo Marçal. A esquerda positiva: as duas almas do partido comunista, 1920-1964. São Paulo: Hucitec, 1997.
BIELSCHOWSKY, Ricardo. Pensamento econômico brasileiro: o ciclo ideológico do desenvolvimentismo. 5. ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2004.
BURKE, Edmund. Reflexões sobre a revolução na França. São Paulo: Edipro, 2014.
CAMPOS, Luiz Augusto. “O negro é povo no Brasil”: afirmação da negritude e democracia racial em Alberto Guerreiro Ramos. Caderno CRH, Salvador, v. 28, n. 73, p. 91-111, Jan./Abr. 2015.
CUNHA, Paulo. Um olhar à esquerda: a utopia tenentista na construção do pensamento marxista de Nelson Werneck Sodré, São Paulo: FAPESP, 2002.
DEL ROIO, Marcos. A Teoria da Revolução Brasileira: Tentativa de Particularização de uma Revolução Burguesa em Processo. In: MORAES, João Quartim; DEL ROIO, Marcos. História do marxismo no Brasil, vol. 4. Campinas: UNICAMP, 2000, p. 73-134.
DÓRIA, Carlos Alberto. O Dual, o Feudal e o Etapismo na Teoria da Revolução Brasileira. In: MORAES, João Quartim. História do marxismo no Brasil, vol. 3. 2. ed. Campinas: UNICAMP, 2000, p. 245-298.
EAGLETON, Terry. Ideologia: Uma introdução. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista e Editora Boitempo, 1997.
FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Conceito de civilização brasileira. São Paulo: CompanhiaEditora Nacional, 1936.
GRESPAN, Jorge. O conceito de “modo de produção” em Nelson Werneck Sodré. In: CABRAL, Fátima; CUNHA, Paulo Ribeiro da (Orgs.). Nelson Werneck Sodré: entre o saber ea pena. 2. ed. São Paulo: UNESP, 2006, p. 135-150.
JAGUARIBE, Hélio. Condições institucionais do desenvolvimento. Rio de Janeiro: Ministérioda educação e cultura, 1958.
_________. O nacionalismo na atualidade brasileira. Rio de Janeiro: Ministério da educação e cultura, 1958.
_________. O problema do desenvolvimento econômico e a burguesia nacional. 2 ed. São Paulo: Fórum Roberto Simonsen, 1958.
________. “Usina de altos estudos”. Insight inteligência. Rio de Janeiro, n. 75, out-nov-dez 2016. p. 81-90.
JASMIN, Marcelo Gantus. “História dos conceitos e teoria política e social: referências preliminares”. In: Revista brasileira de ciências sociais. São Paulo, vol. 20, n. 87, 2005.
350
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
KOSELLECK, Reinnhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos.Rio de Janeiro: Contraponto; PUC-Rio, 2006
LENIN, Vladmir Ilitch. Que fazer? S.d. Disponível em: https://pcb.org.br/portal/docs/quefazer.pdf
LENINE, Vladmir Ilitch. Imperialismo, etapa superior do capitalismo. Lisboa; Moscovo: Avante; Progresso, 1984.
LOVATTO, Angélica. O pensamento de Nelson Werneck Sodré no Cadernos do Povo brasileiro. In: CABRAL, Fátima; CUNHA, Paulo Ribeiro da (Orgs.). Nelson Werneck Sodré: entre o saber e a pena. 2. ed. São Paulo: UNESP, 2006, p. 313-326.
___________. A utopia nacionalista de Hélio Jaguaribe: os tempos do ISEB. São Paulo:xamã; Arte escrita, 2010.
LOWY, Michel (Org.). O marxismo na América Latina: uma antologia de 1909 aos dias atuais. 2 ed. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2006.
LYNCH, Christian Edward Cyril. Cartografia do pensamento político brasileiro: Conceito, história, abordagens. Revista Brasileira de Ciência Política, n. 19. Brasília, jan.-abr. 2016, p. 75-119.
________. Por que pensamento e não teoria? A imaginação político-social brasileira e o fantasma da condição periférica. Revista Dados, v. 56, n. 4. Rio de Janeiro, 2013. p. 727-766.
_______. Teoria pós-colonial e pensamento brasileiro na obra de Guerreiro Ramos: o pensamento sociológico. Caderno CRH, Salvador, v. 28, n. 73, p. 27-45, jan.-abr. 2015.
MANNHEIM, Karl. O pensamento conservador. In: MARTINS, José de Souza.(Org.). Introdução à Sociologia Rural. São Paulo 1981.
________. Ideologia e Utopia. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.
_________. Liberdade, poder e planificação democrática. São Paulo: Mestre Jou, 1976.
MARRRECA, Pedro Paiva; CANNONE, Helio. Nacionalismo Periférico no Pensamento de Alberto Guerreiro Ramos e Nelson Werneck Sodré: História, Política e Epistemologia. 9º Congresso Latino-americano de Ciência Política. Montevidéu, 2017.
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: teses sobre Feuerbach. 8. ed. São Paulo: Centauro, 2005.
MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005.
_______. O 18 Brumário de Luís Bonaparte. São Paulo: Boitempo, 2011.
351
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
_______. A assim chamada acumulação primitiva de capital. In: O capital: crítica da Economia política. São Paulo: Boitempo, 2013.
MENDONÇA, Sonia Regina. Estado e economia no Brasil: opções de desenvolvimento. 3. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1988.
MORAES, João Quartim. A influência do leninismo de Stalin no comunismo brasileiro. In: MORAES, João Quartim; REIS FILHO, Daniel Aarão (Orgs.). História do marxismo no Brasil, vol. 1. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991, p. 47-88.
______. Concepções Comunistas do Brasil Democrático: Esperanças e Crispações (1944-1954). In: MORAES, João Quartim. História do marxismo no Brasil, vol. 3. 2. ed. Campinas: UNICAMP, 1998, p. 197-244.
_____. O Programa Nacional-Democrático: Fundamentos e Permanência. In: MORAES, JoãoQuartim; DEL ROIO, Marcos. História do marxismo no Brasil, vol. 4. Campinas: UNICAMP, 2000, p. 161-228.
OLIVEIRA, Lúcia Lippi. A sociologia do Guerreiro. Rio de Janeiro: UFRJ, 1995.
OLIVEIRA FILHO, Virgílio Roma de. A participação de Nelson Werneck Sodré no debate nacionalista da década de 1950. In: CABRAL, Fátima; CUNHA, Paulo Ribeiro da (Orgs.). Nelson Werneck Sodré: entre o saber e a pena. 2. ed. São Paulo: UNESP, 2006, p. 245-264.
ORTEGA Y GASSET, José. Historia como sistema. S.d. Disponível em: http://www.hermanotemblon.com/biblioteca/Literatura%20en%20General%20/Ortega%20y%20Gasset%2C%20Jose/Ortega%20y%20Gasset%2C%20Jose%20-%20Historia%20como%20sistema.pdf
PEREIRA, Astrogildo. Ensaios históricos e políticos. São Paulo: Alfa e Ômega, 1979.
RAMOS, Alberto Guerreiro. A redução sociológica. 3. ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 1996.
_____. Notas para um estudo crítico da sociologia no Brasil. In: Introdução crítica à sociologia brasileira. Rio de Janeiro: UFRJ, 1995, p. 35-48.
_____. Crítica e autocrítica. In: Introdução crítica à sociologia brasileira. Rio de Janeiro: UFRJ, 1995. p. 49-55.
_____. A dinâmica da sociedade política no Brasil. Introdução crítica à sociologia brasileira.Rio de Janeiro: UFRJ, 1995. p. 59-78.
_____. Esforços de teorização da realidade nacional politicamente orientado, de 1870 aos nossos dias. Introdução crítica à sociologia brasileira. Rio de Janeiro: UFRJ, 1995, p. 79-102._____. Cartilha brasileira do aprendiz de sociólogo. Introdução crítica à sociologia brasileira. Rio de Janeiro: UFRJ, 1995, p. 103- 214.
352
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
_____. O tema da transplantação na Sociologia brasileira. Introdução crítica à sociologia brasileira. Rio de Janeiro: UFRJ, 1995, p. 271-290.
_____. Mito e verdade da revolução brasileira. Rio de Janeiro: Zahar, 1963.
_____. Princípios do povo brasileiro. O problema nacional do Brasil. Rio de Janeiro: Saga, 1960, p. 225-256.
_____. Cinco princípios do trabalhador brasileiro. O problema nacional do Brasil. Rio de Janeiro: Saga, 1960, p.257-262.
ROSA, Virgínio Santa. O sentido do tenentismo 3. ed. São Paulo: Alfa e Ômega, 1976.
SANTOS, Raimundo. Crise e pensamento moderno no PCB dos anos 50. In: MORAES, João Quartim; REIS FILHO, Daniel Aarão (Orgs.). História do marxismo no Brasil, vol. 1. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991, p. 133-156.
SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Raízes da Imaginação Política Brasileira. Revista Dados, n. 7. Rio de Janeiro, IUPERJ, 1970.
SCHUMPETER, Joseph. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Fundo deCultura, 1961.
SILVA, Lígia Osório. A “herança colonial” e as lições da história em Nelson Werneck Sodré. In: CABRAL, Fátima; CUNHA, Paulo Ribeiro da (Orgs.). Nelson Werneck Sodré: entre o saber e a pena. 2. ed. São Paulo: UNESP, 2006, p. 103-134.
SILVA, Marcos (Org.). Dicionário crítico Nelson Werneck Sodré. Rio de Janeiro: UFRJ, 2008.
SODRÉ, Nelson Werneck. A ideologia do colonialismo. Rio de Janeiro: Instituto Superior de Estudos Brasileiros, 1961.
_____. A verdade sobre o ISEB. Rio de Janeiro: avenir, 1978.
_____. Elaboração da cultura nacional. In: Introdução à revolução brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1963, p. 115-142
_____. Formação histórica do Brasil. 4. ed. São Paulo: brasiliense, 1967.
_____. História da literatura brasileira: seus fundamentos econômicos. São Paulo: Cultura brasileira, 1940.
_____. Orientações do Pensamento brasileiro. Rio de Janeiro: Vecchi, 1942.
_____. Raízes históricas do nacionalismo brasileiro. Introdução à revolução brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1963, p. 165-186.
353
Anais da IV Semana Discente do IESP-UERJ - Rio de Janeiro, 2018
_____. Quem é o povo no Brasil? Introdução à revolução brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1963, p. 187-226.
SOREL, Georges. Reflexões sobre a violência. Petrópolis: Vozes, 1993.
SKINNER, Quentin. Meaning and Understanding in the History of Ideas. History and Theory,v. 8, n. 1, p. 3-53, 1969.
TOLEDO, Caio Navarro de ISEB: fábrica de ideologias. Campinas: UNICAMP, 1998.
TORRES, Alberto. Problema Nacional Brasileiro. Fonte Digital ebooksbrasil.com, 2002.Disponível em: http://bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/services/e-books/Alberto%20Torres-1.pdf>
VIANNA, Francisco José de Oliveira. Populações meridionais do Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 5ª ed, 1952.
_____. Instituições Políticas Brasileiras. Brasília: Conselho Editorial do Senado Federal, 1999.
354