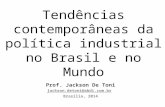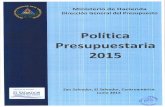Retratos da classe política brasileira: estudos de ciência política (Portraits of Brazilian...
Transcript of Retratos da classe política brasileira: estudos de ciência política (Portraits of Brazilian...
Adriano Codato, Luiz Domingos Costa e Lucas Massimo (eds.)
Retratos da classe política brasileira:
estudos de ciência política
Novas Edições
Acadêmicas
2015
Sumário
Introdução 1Adriano Codato e Luiz Domingos Costa 1
1. Classificando ocupações prévias à política 19Adriano Codato, Luiz Domingos Costa e Lucas Massimo 19
2. Profissionalização ou popularização da classe política brasileira? 49Luiz Domingos Costa e Adriano Codato 49
3. Os empresários no Senado 79Luiz Domingos Costa, Paulo R. N. Costa e Wellington Nunes 79
4. Sucesso eleitoral nas disputas para a Câmara dos Deputados 110Renato Perissinotto e Bruno Bolognesi 110
5. Dinheiro, profissão e partido nas eleições legislativas 144Emerson U. Cervi, Luiz Domingos Costa, Adriano Codato e Renato Perissinotto 144
6. O recrutamento político e a questão de gênero no Parlamento brasileiro 170Luiz Domingos Costa, Bruno Bolognesi e Adriano Codato 170
7. Onde estão os trabalhadores nos partidos brasileiros? 193Luiz Domingos Costa, Bruno Bolognesi e Adriano Codato 193
8. Quem se elege prefeito no Brasil 208Adriano Codato, Emerson Cervi e Renato Perissinotto 208
9. Determinantes da seleção de candidatos 239Bruno Bolognesi 239
10. As motivações no recrutamento político no Brasil 288Bruno Bolognesi e Pedro Medeiros 288
Sobre os autores 319
1
Introdução
Adriano Codato e Luiz Domingos Costa
Este livro compreende trabalhos publicados separadamente em
periódicos, boletins ou anais de eventos especializados entre 2010 e 2015.
Além de permitir o acesso a um público maior, potencialmente interessado
na formação e transformação da classe política brasileira, a compilação de
um material até então disperso se deve a três razões.
Os trabalhos aqui reunidos guardam entre si uma unidade teórica
básica. Estão filiados à tradição da Sociologia Política, cujo espírito se define
por mobilizar, ao mesmo tempo, variáveis sociais e políticas no estudo dos
processos de reprodução e transformação do campo do poder. Em outros
termos, os autores consideram conjuntamente a dimensão sócio-estrutural e
a dimensão político-institucional que produzem, por exemplo, a liderança
política.
Em segundo lugar, os objetos de investigação são entendidos como
partes de um assunto mais geral inspirado pelo conceito de classe política de
Gaetano Mosca. Essa inspiração não é mera celebração de um autor clássico,
pois agrega todo o debate contemporâneo ao estudo do tema. A classe
política é um conjunto ampliado de atores políticos e não apenas a elite
2
política (termo mais adequado ao topo de uma cadeia política determinada,
como os deputados federais ou os ministros) e permite transcender diferenças
entre grupos sociais ou institucionais e que nem sempre estão atados ao poder
político formal (Borchert 2003, p. 3). Estudar o entorno da elite política tem
sido uma estratégia muito utilizada para entender a própria elite política. Daí
ser adequado pesquisar tanto candidatos (e não apenas os eleitos) como
minorias politicamente interessadas (como mulheres ou trabalhadores).
Por último, Retratos da classe política brasileira integra uma área de
estudos em expansão no Brasil, cuja audiência é crescente entre os
acadêmicos e o público não universitário. Em especial nos últimos quinze
anos, aumentou o volume de trabalhos sobre o assunto na Ciência Política
brasileira1. Na verdade, esse movimento é fruto do próprio crescimento da
disciplina e da percepção de que não basta saber como os operadores do
sistema político agem num dado ambiente institucional, mas também o que
eles pensam (Power & Zucco Jr 2011) e, caso deste livro, quais os perfis
sócio-políticos desses atores.
Incipiente nos anos 1990, esse domínio de estudos é, hoje, uma das
subáreas em consolidação na politologia brasileira. As contribuições
recentes nesse campo já produziram teses celebradas, desencontros de
interpretação e novas oportunidades de pesquisa com base na identificação
de lacunas nas cadeias de exploração científica. Não obstante, como toda
agenda que se expandiu muito rápido, sugiram algumas dificuldades quando
pensamos na conexão entre os problemas postos pela pesquisa local e as
vertentes do debate internacional, nas defasagens entre modelos teóricos e
evidência empíricas (cada vez mais robustas), ou na ausência de
1 Consultar, por exemplo, as coletâneas recentes sobre diversos grupos de elites políticas (Marenco dos
Santos 2013)e (Marenco et al. 2012).
3
conhecimento histórico adequando sobre a evolução da classe política
brasileira.
Há pouco consenso entre especialistas sobre o perfil social dominante
e a carreira política padrão de senadores e deputados federais no Brasil. E
como e por que isso tem se transformado ao longo do tempo.
Quando se confrontam os inúmeros estudos sobre a classe política nos
Estados Unidos, na Grã-Bretanha ou na França, para não mencionar os
esforços comparativos e de longo alcance realizados em diferentes
momentos2, conclui-se que os profissionais da política ainda são, entre nós,
senão um enigma completo a ser decifrado, ao menos um problema em
aberto.
Isso porque a história social da classe política brasileira contraria, à
primeira vista, a tendência observada nas democracias tradicionais. Nessas
últimas, com a universalização dos direitos e o aumento da participação
política, assistiu-se à substituição gradual do político diletante e do notável,
ou seja, aquele indivíduo que se encontrava numa posição superior na
hierarquia social, para o qual a política era uma ocupação secundária e os
cargos no Estado tinham uma função mais honorífica que executiva, pelo
político profissional (Weber 1994; Phélippeau 2001; Cotta & Best 2000). No
caso do Brasil, esse caminho nem foi tão direto, nem tão automático3.
Tome-se, por exemplo, o caso dos membros da Câmara Alta brasileira.
Tendo por referência dois indicadores, a extensão da carreira
política/trajetória partidária e a ocupação profissional prévia à atividade
2 (Aberbach et al. 1981; Suleiman & Mendras 1997; Norris 1997; Best & Cotta 2000).
3 Quando se considera detidamente cada história política nacional essa transição também não foi
unidirecional. Para o caso da França, ver o já clássico estudo de (Charle 2006). Para uma discussão
contemporânea, ver (Kreuzer & Stephan 2003). Mas, de toda forma, houve, efetivamente, uma diminuição
importante, ao longo do tempo, de notáveis no Parlamento. Ver, a propósito, (Bécarud 1973), para a França,
e (Guttsman 1951), para o Reino Unido.
4
parlamentar, estudos disponíveis constataram que, com o passar do tempo,
os senadores tenderam cada vez mais a serem recrutados não na classe
política, mas no mundo dos negócios privados. Esses senadores possuem,
hoje, carreiras menos extensas e menos estruturadas que os representantes
eleitos na I República (1889-1930)4. Ou seja, as instituições democráticas
pós-ditadura não exigiram (ou não produziram) uma profissionalização dos
agentes políticos. Antes, o contrário. No caso dos deputados federais,
Marenco dos Santos revelou que no fim do século XX havia mais outsiders
na Câmara Baixa do que políticos experientes (Marenco dos Santos 1997) e
que essa era a realidade não apenas nos diferentes estados da federação, mas
valia para todos partidos políticos (Marenco dos Santos 2005)5.
Duas explicações diferentes podem ser mobilizadas para o que está
ocorrendo na classe política brasileira: ou o Brasil seria um caso atípico de
curtas, noviciado político, recrutamento lateral); ou os achados dessas
pesquisas refletiriam uma imagem distorcida, produto de categorização
inadequada e mensuração equivocada dos atributos sociais e dos perfis de
carreira dos políticos brasileiros. Em suma, a questão aqui é se a percepção
dessa contradição entre democratização e profissionalização é função da
realidade ou de predisposições erradas dos observadores.
As respostas disponíveis sobre a evolução da classe política no Brasil
estiveram muito circunscritas a momentos políticos específicos, a estudos de
4 (Perissinotto & Costa 2013) analisaram a trajetória dos senadores brasileiros entre 1918 e 1937. Tomando
como parâmetro o intervalo 1918-1930, o tempo de carreira médio variou de 25,5 anos a 30 anos até se
chegar ao Senado Federal. O número médio de cargos até se atingir a posição de senador cresceu de 7,7 em
1918 para 9 em 1930.
5 Em 1990 58% dos deputados federais estavam no primeiro mandato. Em 1994, semente 9,6% dos
representantes possuía uma carreira de mais de 15 anos na política (Marenco dos Santos 1997), em especial
Tabela 1 e Gráfico 1.
5
poucos estados da federação, a eleições individuais ou a intervalos de tempo
reduzidos. Em segundo lugar, há muito mais investigações sobre o
funcionamento institucional da Câmara Federal, a produção legislativa, os
processos de migração partidária, as estratégias eleitorais ou o financiamento
das campanhas do que sobre os processos de recrutamento das elites
políticas. Isso produz consequências importantes, e a menor delas pode ser a
dificuldade em produzir pesquisas comparativas do Brasil com outras
realidades nacionais6.
Em termos muito gerais, as pesquisas sobre elites políticas eletivas no
Brasil (mas não só) podem ser divididas em duas grandes famílias de
abordagens: de um lado, análises com foco nos agentes políticos (via
Sociologia Política); e de outro, análises com foco nas carreiras políticas (via
Ciência Política). Estudos históricos, por sua vez, são basicamente estudos
de elites políticas focados em elites do passado e não análises sobre a
transformação do perfil social e da trajetória política ao longo do tempo7. Há,
evidentemente, estudos pioneiros sobre o assunto, e que dizem respeito ao
XIX e ao início do XX8, mas falta uma sociogênese da profissão política que
integre, numa explicação histórica, diferentes tipos sociais: o coronel, o
bacharel, o notável de aldeia, o diletante, o adventício, o semiprofissional, o
profissional, etc.9
6 Mesmo com o volume de estudos empíricos acumulados nos últimos trinta anos sobre as elites políticas
da Europa Ocidental e do Leste, da América Latina e da América do Norte, Blondel e Müller-Rommel são
céticos em relação às possibilidades dessas pesquisas produzirem uma visão global da natureza e do papel
das elites políticas no mundo contemporâneo. Ver (Blondel & Muller-Rommel 2007, p.819).
7 A única exceção é (Neiva & Izumi 2014)
8 Ver, principalmente, (Carvalho 1996; Barman & Barman 1976; Love & Barickman 1986; Pang &
Seckinger 1972; Flory 1975; Carvalho 1982; Wirth 1982; Levine 1980; Love 1982).
9 Para um desenvolvimento da oposição entre o coronel e o bacharel no estudo sobre a profissão política
no Estado Novo ver (Codato 2008).
6
estuda-se origem de classe dos representantes, tipo e tamanho do patrimônio
herdado ou construído, acesso à educação superior e posse de títulos
escolares, habilidades profissionais, gênero, origem étnica e outros
indicadores de posição social. No caso das análises mais tipicamente dos
cientistas políticos, o foco está nas carreiras. Estuda-se idade de ingresso no
mundo política, número de mandatos antes de chegar a posições superiores
na hierarquia política, quantidade de partidos por que passou, cargos que
dirigiu, estratégias de ambição política e direção da carreira (progressiva,
estática, etc.).
Quando se leem os estudos nacionais concentrados nos perfis dos
agentes políticos, o que se vê é que há basicamente três grandes perguntas
que orientam toda a literatura: 1) está em curso uma popularização
(Rodrigues 2002; Rodrigues 2006; Rodrigues 2014) ou uma
profissionalização da classe política brasileira?10; 2) o perfil social atual da
classe política brasileira estaria de acordo com a tese da convergência (Cotta
& Best 2000), isto é, a maioria convergindo para um perfil padrão como nos
parlamentos da Europa ocidental (homens, brancos, de classe média, de meia
idade, etc.)?; e 3) qual seria o peso específico e a utilidade analítica de se
considerar, nas análises, determinados recursos sociais e marcações de
gênero para impulsionar a carreira política no Brasil?11
10 Essa questão se desdobra em outras duas: caso se aceite a tese da profissionalização, ela seria ainda baixa
e incipiente (Marenco dos Santos 2000; Miguel 2003; Marenco dos Santos 2005; Marenco dos Santos 1997)
ou alta, sendo a classe política nacional formada em sua maioria por parlamentares experientes (Perissinotto
& Bolognesi 2010; Codato et al. 2013; Perissinotto & Miríade 2009)?
11 Para educação superior, ver (Coradini 2010; Unzué 2012; Carvalho 1996); sobre formação profissional,
(Codato et al. 2014; Costa et al. 2014); sobre associativismo (Almeida et al. 2012; Coradini 2011;
Bordignon 2011) e gênero (Araújo 2005; Araújo & Alves 2007; Araújo 2009; Codato et al. 2014).
7
Já quando se consideram as análises sobre carreiras, as questões que
têm organizado o campo de discussões podem ser assim resumidas: 1) a
carreira política no Brasil pode ser analiticamente previsível já que estaria
centrada no indivíduo, em seus recursos pessoais e seria pouco controlada
pelos partidos ou, por outro lado, obedeceria ao cálculo estratégico que
candidatos fariam entre os custos e os benefícios de se lançar ou não numa
nova empresa eleitoral?12; 2) a senioridade e a ocupação de postos e funções
no interior do Legislativo como comissões (Araújo & Silva 2013),
liderança parlamentar (Pereira & Mueller 2003; Soares 2013; Miranda
2010), e o ativismo legislativo (Silva & Araújo 2013; Neiva 2011) é
importante ou não?; e 3) como afinal candidatos são selecionados pelos
partidos políticos?13
Esses debates têm como pano de fundo uma diferença importante a
relação com a democratização das oportunidades de participação e qual a sua
relação com a institucionalização dos aparelhos de representação (partidos
políticos e rotinas parlamentares).
Codato, Costa e Massimo abrem a coletânea com uma discussão sobre
sobre a classe política. Trata-se de um indicador central para estabelecer o
12 Sobre a lógica política subjacente às carreiras dos representantes no Brasil ver em especial (Santos &
Pegurier 2011; Borchert 2009); sobre o personalismo das campanhas e o individualismo dos cálculos, ver
(Samuels 2003; Ames 2002); sobre, enfim, o cálculo estratégico que candidatos sempre fazem entre o custo
de permanecer ou não numa instituição altamente competitiva do ponto de vista eleitoral, mas com pouco
poder decisório como é a Câmara dos Deputados, ver (Pereira & Rennó 2001; Pereira & Rennó 2007;
Pereira & Rennó 2013).
13 Ver (Bolognesi 2013; Braga et al. 2009; Braga & Bolognesi 2013; Braga 2008; Veiga & Perissinotto
2011; Braga & Amaral 2013). Para uma discussão específica se gênero seria um fator preponderante,
(Araújo & Borges 2013).
8
social background dos políticos, mas que, devido ao subjetivismo no seu
emprego, tem dificultado a comparação entre diferentes trabalhos. Por isso,
defendem uma classificação menos descritiva e mais analítica, baseada nas
conexões existentes entre as disposições sociais das ocupações e a atividade
política. Em outros termos, sugerem um retorno à concepção weberiana de
políticos profissionais.
O segundo capítulo faz um apanhado panorâmico dos trabalhos sobre
o perfil dos representantes nacionais, comparando a composição do Senado
e da Câmara dos Deputados desde a Constituinte de 1987-1988. Observando
mais detidamente o caso dos senadores, sumariza parte significativa do
debate brasileiro referente ao recrutamento dos legisladores nacionais para
recolocar uma das questões centrais da área: com a democratização nos anos
1980 e com a conquista da presidência por um partido de esquerda, há uma
popularização ou uma profissionalização da classe política brasileira?
Costa, Costa e Nunes fazem um trabalho sobre os senadores egressos
do mundo dos negócios durante o regime democrático, replicando duas teses
existentes sobre esse tipo social nos estudos sobre a Câmara dos Deputados.
-
direita (Rodrigues, 2002) e se possuem carreiras políticas mais curtas quando
contrastados com as ocupações menos prestigiadas (Marenco dos Santos e
Serna, 2007). As constatações permitem confirmar a primeira assertiva e
propõem revisar a segunda. Os autores concluem haver um elevado
carreirismo político prévio entre os empresários que alcançam uma cadeira
no Senado Federal, tendência que acompanha o incremento do perfil de
carreira dos senadores em geral, representando assim um sintoma de elevada
profissionalização dos políticos no período recente.
Os dois trabalhos seguintes se valem das sugestões de Norris (1997)
ao enfocarem o estudo dos eleitos como parte do universo mais amplo dos
9
candidatos. As duas contribuições exploram, mediante técnicas estatísticas
diferentes e cada qual com distintas ênfases, quais os contrastes mais
decisivos entre os candidatos e os vencedores nas eleições para a Câmara dos
Deputados.
Perissinotto e Bolognesi, olhando as eleições de 1998, 2002 e 2006
demonstram que os filtros mais importantes que operam para selecionar os
candidatos vitoriosos à Câmara dos Deputados se referem à posse de cargos
políticos, especialmente cargos de deputado. Ainda assim, seus achados
apontam que determinadas variáveis societais (como ocupações amplamente
prestigiadas) ou demográficas (como escolaridade) também exercem
influência sobre as chances eleitorais dos postulantes à deputado federal no
Brasil.
No capítulo 5, Cervi, Costa, Codato e Perissinotto também analisam
as diferenças entre pretendentes e eleitos, mas utilizando dados das eleições
de 2010 para a Câmara federal e incorporando a variável financiamento de
campanhas conseguem ampliar as conclusões. O trabalho aponta para a
existência de três fatores decisivos para se entender o sucesso político no
Brasil: sair candidato pelos grandes partidos nacionais (aqueles com 40
cadeiras ou mais na Câmara), possuir já ocupações eletivas (especialmente
como deputados federais) e muito dinheiro para investir na campanha. Essas
são as chaves para se entender o sucesso na luta pela Câmara dos Deputados.
O capítulo 6 enquadra o tema da sub-representação feminina nas
instituições políticas sob o ângulo do recrutamento político. Bolognesi,
Costa e Codato destacam as variáveis ocupacionais e as estratégias
partidárias de composição das listas eleitorais e o seu impacto sobre a
promoção de mulheres à Câmara dos Deputados. Destacam como as
variáveis de carreira política e organização partidária exerceram influência
10
decisiva sobre os resultados obtidos pelas mulheres nas eleições de 2002 e
2006.
No sétimo capítulo, Costa, Bolognesi e Codato se propõem a analisar
a capacidade dos partidos brasileiros de lançarem candidatos e elegerem
trabalhadores à Câmara dos Deputados entre 1998 e 2014. O objeto dos
-
sistema político aos grupos da não elite, tema esse caro à teoria dos partidos
e à teoria democrática. O trabalho constata que as candidaturas working class
brasileira migrou do PT para os partidos pequenos ou fisiológicos. Isso se
deu pari passu ao apogeu do PT na política nacional e à fragmentação do
sistema de partidos vivenciada na última década. Conclui assim que está em
curso uma espécie de aburguesamento da bancada petista, bem como a
diminuição das taxas de sucesso político daquele segmento sócio-
ocupacional nas franjas do sistema partidário.
Em seguida, Codato, Cervi e Perissinotto fazem uma contribuição ao
estudo da classe política em nível municipal ao mensurar os fatores mais
importantes para determinar o êxito eleitoral dos candidatos a prefeito em
todos municípios brasileiros em 2012. Nesse universo, assim como ocorre
com os deputados federais, as variáveis políticas pela ordem: incumbência,
fazer parte de uma coligação, pertencer a um partido com grande
desempenho e a arrecadação financeira são aquelas mais fortemente
associadas ao sucesso político. Além do mais, no agregado nacional, as
variáveis econômicas ou demográficas como patrimônio, ocupação,
escolaridade ou sexo não contribuem para prever o resultado eleitoral dos
postulantes às prefeituras municipais.
O Capítulo 9, de Bolognesi, é inédito e examina as determinantes da
seleção de candidatos a deputado federal nas eleições de 2010 nos principais
partidos brasileiros (PT, PMDB, PSDB e DEM). Sob a chave da
11
institucionalização partidária, o autor oferece um modelo para analisar a
relação entre as diversas dimensões da rotina partidária e os mecanismos de
formação das listas eleitorais. Suas conclusões indicam que a ocorrência de
maior institucionalização partidária permite à organização política maior
autonomia frente às determinantes do sistema eleitoral e do sistema
partidário. Nesse caso, o personalismo não atravessa de modo homogêneo os
partidos analisados e, portanto, a relação entre sistema eleitoral e estratégia
partidária deve ser vista com muito mais ressalvas do que supunham os
brasilianistas nos anos 1990.
Bolognesi e Medeiros, no capítulo 10, trabalharam sobre os aspectos
motivacionais do recrutamento político, tema raramente abordado na
literatura brasileira. A análise da motivação é um passo fundamental para
compreender o processo de formação da classe política, que se encontra na
fronteira entre os socialmente privilegiados e politicamente motivados
(Putnam 1976). Assim, a posse de recursos sociais, tal como abordado nos
capítulos anteriores, não nos diz nada sobre as aspirações dos agentes. Trata-
se, portanto, de valiosa contribuição por preencher uma lacuna importante
do estado da arte. Mediante um survey aplicado a 120 concorrentes a
deputado federal em 2010, Bolognesi e Medeiros indicam que o interesse
por política (em geral) se dá junto à família e ao movimento estudantil, ao
passo que o interesse pela dedicação integral à política se dá nos partidos. O
estudo conclui que é indispensável integrarmos aos estudos de recrutamento
os agentes responsáveis pelo start na carreira dos indivíduos.
Registramos aqui um agradecimento especial aos organizadores das
coletâneas e aos editores dos periódicos que autorizaram republicação dos
nossos trabalhos neste livro: Opinião Pública, da Unicamp, Revista
Brasileira de Ciência Política, do departamento de Ciência Política da UnB,
12
Brazilian Political Science Review, da Associação Brasileira de Ciência
Política, Sociedade e Estado, do departamento de Sociologia da UnB, a
Newsletter do Observatório de Elites Políticas e Sociais do Brasil, os
Cadernos Adenauer da Fundação Konrad Adenauer no Brasil, a revista
Paraná Eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e a Revista de
Sociologia e Política, da Universidade Federal do Paraná.
Paris, julho de 2015.
Adriano Codato
Luiz Domingos Costa
Referências
Aberbach, J., Putnam, R. & Rockman, B., 1981. Bureaucrats and Politiciansin Western Democracies, Harvard: Harvard University Press.
Almeida, C., Lüchmann, L.L. & Ribeiro, E., 2012. Associativismo erepresentação política feminina no Brasil. Revista Brasileira de CiênciaPolítica, (8), pp.237 263.
Ames, B., 2002. The Deadlock of Democracy in Brazil: Interests, Identities, and Institutions in Comparative Politics, Ann Arbor: University ofMichigan Press.
Araújo, C., 2009. Gênero e acesso ao poder legislativo no Brasil: as cotasentre as instituições e a cultura. Revista Brasileira de Ciência Política,(2), pp.23 59.
Araújo, C., 2005. Partidos políticos e gênero: mediações nas rotas deingresso das mulheres na representação política. Revista de Sociologia ePolítica, (24), pp.193 215.
13
Araújo, C. & Alves, J.E.D., 2007. Impactos de indicadores sociais e dosistema eleitoral sobre as chances das mulheres nas eleições e suasinterações com as cotas. Dados, 50(3), pp.535 577.
Araújo, C.M. de O. & Borges, D., 2013. Trajetórias políticas e chancesRevista de
Sociologia e Política, 21(46), pp.69 91.
Araújo, S.M.V.G. de & Silva, R.S. e, 2013. Titulares da agenda e carreiraspolíticas. Revista Brasileira de Ciência Política, (10), pp.285 311.
Barman, R. & Barman, J., 1976. The Role of the Law Graduate in thePolitical Elite of Imperial Brazil. Journal of Interamerican Studies andWorld Affairs, 18(4), pp.423 450.
Bécarud, J., 1973. Noblesse et représentation parlementaire: les députésnobles de 1871 à 1968. Revue française de science politique, 23(5), pp.972 993.
Best, H. & Cotta, M. eds., 2000. Parliamentary Representatives in Europe1848-2000. Legislative Recruitment and Careers in Eleven EuropeanCountries., New York: Oxford University Press.
Blondel, J. & Muller-Rommel, F., 2007. Political Elites. In R. J. Dalton &H.-D. Klingemann, eds. The Oxford Handbook of Political Behavior.Oxford: Oxford University Press, pp. 819 832.
Bolognesi, B., 2013. A seleção de candidaturas no DEM, PMDB, PSDB ePT nas eleições legislativas federais brasileiras de 2010: percepções doscandidatos sobre a formação das listas. Revista de Sociologia e Política,21(46), pp.45 68.
Borchert, J., 2009. Ambition and Opportunity in Federal Systems: ThePolitical Sociology of Political Career Patterns in Brazil, Germany, andthe United States. In APSA 2009 Toronto Meeting Paper. Toronto, Canada, p. 21.
Borchert, J., 2003. Professional Politicians: Towards a ComparativePerspective. In J. Borchert & J. Zeiss, eds. The Political Class inAdvanced Democracies. New York: Oxford University Press, pp. 1 25.
Bordignon, R. da R., 2011. Recursos sociais e modalidades de entrada napolítica: recrutamento e seleção de elites políticas no Rio Grande do Sul
14
entre 1998 e 2006. Porto Alegre - RS: Universidade Federal do RioGrande do Sul - UFRGS.
Braga, M. do S.S., 2008. Organizações partidárias e seleção de candidatosno estado de São Paulo. Opinião Pública, 14(2), pp.454 485.
Braga, M. do S.S. & Amaral, O.E. do, 2013. Implicações do processo deseleção de candidatos na competição partidária: o caso brasileiro. Revista de Sociologia e Política, 21(46), pp.33 43.
Braga, M. do S.S. & Bolognesi, B., 2013. Dimensões do processo de seleçãoda classe política brasileira: autopercepções dos candidatos à Câmarados Deputados nas eleições de 2010. In A. Marenco dos Santos, ed. Oseleitos. Representação e carreiras políticas em democracias. PortoAlegre: Editora UFRGS.
Braga, M. do S.S., Veiga, L.F. & Miríade, A., 2009. Recrutamento e perfildos candidatos e dos eleitos à Câmara dos Deputados nas eleições de2006. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 24(70), pp.123 142.
Carvalho, J.M. de, 1996. A construção da ordem: a elite política imperial;Teatro de sombras: a política imperial 2a. ed., Rio de Janeiro: EditoraUFRJ; Relume-Dumará.
Carvalho, J.M. de, 1982. Political Elites and State Building: The Case ofNineteenth-Century Brazil. Comparative Studies in Society and History,24(3), pp.378 399.
Charle, C., 2006. Les élites de la République (1880-1900) 2nd ed., Paris:Fayard.
Codato, A., 2008. Elites e instituições no Brasil: uma análise contextual doEstado Novo. Campinas - SP: Universidade Estadual de Campinas -Unicamp.
Codato, A., Cervi, E.U. & Perissinotto, R.M., 2013. Quem se elege prefeitono Brasil? Condicionantes do sucesso eleitoral em 2012. CadernosADENAUER, 14(2), pp.61 84.
Codato, A., Costa, L.D. & Massimo, L., 2014. Classificando ocupaçõesprévias à entrada na política: uma discussão metodológica e um testeempírico. Opinião Pública, 20(3), pp.346 362.
15
Coradini, O.L., 2011. Representação política e de interesses: basesassociativas dos deputados federais de 1999-2007. Sociedade e Estado,26(1), pp.197 220.
Revista Brasileira de Educação, 15(43), pp.45 69.
Costa, P.R.N., Costa, L.D. & Nunes, W., 2014. Os senadores-empresários:recrutamento, carreira e partidos políticos dos empresários no Senadobrasileiro (1986-2010). Revista Brasileira de Ciência Política, (14), pp.227 253.
Cotta, M. & Best, H., 2000. Between Professionalization andDemocratization: A Synoptic View on the Making of the EuropeanRepresentative. In H. Best & M. Cotta, eds. ParliamentaryRepresentatives in Europe 1848-2000. Legislative Recruitment andCareers in Eleven European Countries. Oxford, England: OxfordUniversity Press, pp. 493 526.
Flory, T., 1975. Judicial Politics in Nineteenth-Century Brazil. The HispanicAmerican Historical Review, 55(4), pp.664 692.
Guttsman, W.L., 1951. The Changing Social Structure of the British PoliticalÉlite, 1886-1935. The British Journal of Sociology, 2(2), pp.122 134.
Kreuzer, M. & Stephan, I., 2003. France: Enduring Notables, Weak Parties, and Powerful Technocrats. In J. Borchert & J. Zeiss, eds. The PoliticalClass in Advanced Democracies: A Comparative Handbook. Oxford:Oxford University Press, pp. 124 141.
Levine, R.M., 1980. A velha usina: Pernambuco na federação Brasileira, 1889-1937, Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Love, J.L., 1982. A locomotiva: São Paulo na federação brasileira, 1889-1937, Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Love, J.L. & Barickman, B.J., 1986. Rulers and Owners: A Brazilian CaseStudy in Comparative Perspective. The Hispanic American HistoricalReview, 66(4), pp.743 765.
Marenco, A. et al. eds., 2012. Peças e Engrenagens dos Jogos Políticos noBrasil, São Leopolgo/São Luis: Oikos/EdUFMA.
16
Marenco dos Santos, A., 2000. Não se fazem mais oligarquias comoantigamente: recrutamento parlamentar, experiência política e vínculospartidários entre deputados brasileiros (1946-1998). Porto Alegre - RS:Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.
Marenco dos Santos, A., 1997. Nas fronteiras do campo político. Raposas eoutsiders no Congresso Nacional. Revista Brasileira de CiênciasSociais, 12(33), pp.87 101.
Marenco dos Santos, A., 2013. Os eleitos. Representação e carreiraspolíticas em democracias 1st ed. A. Marenco dos Santos, ed., PortoAlegre - RS: Editora UFRGS.
Marenco dos Santos, A., 2005. Still a Traditional Political Class? Patterns ofParliamentary Recruitment in Brazil (1946-2002). Canadian Journal of Latin American & Caribbean Studies, 30(60), pp.13 40.
Miguel, L.F., 2003. Capital político e carreira eleitoral: algumas variáveis naeleição para o Congresso brasileiro. Revista de Sociologia e Política,(20), pp.115 134.
Miranda, G.L. de, 2010. A delegação aos líderes partidários na Câmara dosDeputados e no Senado Federal. Revista de Sociologia e Política,18(37), pp.201 225.
Neiva, P. & Izumi, M., 2014. Perfil profissional e distribuição regional dossenadores brasileiros em dois séculos de história. Revista Brasileira deCiências Sociais, 29(84), pp.165 188.
Neiva, P.R.P., 2011. Coesão e disciplina partidária no Senado Federal. Dados, 54(2), pp.289 318.
Norris, P. ed., 1997. Passages to Power: Legislative Recruitment inAdvanced Democracies, New York: Cambridge University Press.
Pang, E.-S. & Seckinger, R.L., 1972. The Mandarins of Imperial Brazil. Comparative Studies in Society and History, 14(2), pp.215 244.
Pereira, C. & Mueller, B., 2003. Partidos fracos na arena eleitoral e partidosfortes na arena legislativa: a conexão eleitoral no Brasil. Dados, 46(4),pp.735 771.
17
Pereira, C. & Rennó, L., 2001. O que é que o reeleito tem? Dinâmicaspolítico-institucionais locais e nacionais nas eleições de 1998 para aCâmara dos Deputados. Dados, 44(2), pp.133 172.
Pereira, C. & Rennó, L., 2007. O que é que o reeleito tem? O retorno: oesboço de uma teoria da reeleição no Brasil. Revista de EconomiaPolítica, 27(4), pp.664 683.
Pereira, C. & Rennó, L., 2013. Should I stay or should I go? ExplainingPolitical Ambition by Electoral Success. Journal of Politics in LatinAmerica, 5(3), pp.73 95.
Perissinotto, R. & Costa, L.D., 2013. Regime político oligárquico eprofissionalização política: o caso da Primeira República brasileira(1889-1930). In 2o Reunión Internacional sobre Formación de lasElites. Buenos Aires, Argentina: Flacso: Faculdade Latino-Americanade Ciências Sociais, p. 20.
Perissinotto, R.M. & Bolognesi, B., 2010. Electoral Success and PoliticalInstitutionalization in the Federal Deputy Elections in Brazil (1998,2002 and 2006). Brazilian Political Science Review, 4(1), pp.10 32.
Perissinotto, R.M. & Miríade, A., 2009. Caminhos para o parlamento:candidatos e eleitos nas eleições para deputado federal em 2006. Dados,52(2), pp.301 333.
Phélippeau, E., 2001. Sociogênese da profissão política. In A. Garrigou & B. Lacroix, eds. Norbert Elias. A política e a história. São Paulo:Perspectiva, pp. 185 208.
Power, T.J. & Jr, C.Z. eds., 2011. O Congresso por ele mesmo:autopercepções da classe política brasileira, Belo Horizonte: EditoraUFMG.
Putnam, R.D., 1976. The Comparative Study of Political Elites, EnglewoodCliffs, N.J.: Prentice Hall.
Rodrigues, L.M., 2006. Mudanças na classe política brasileira, São Paulo:PubliFolha.
Rodrigues, L.M., 2002. Partidos, ideologia e composição social: um estudodas bancadas partidárias na Câmara dos Deputados, São Paulo: Edusp.
18
Rodrigues, L.M., 2014. Pobres e ricos na luta pelo poder: novas elites napolítica brasileira, Rio de Janeiro: Topbooks.
Samuels, D., 2003. Ambition, Federalism and Legislative Politics in Brazil,Cambridge: Cambridge University Press.
Santos, F. & Pegurier, F., 2011. Political Careers in Brazil: Long-termTrends and Cross-sectional Variation. Regional & Federal Studies,21(2), pp.165 183.
Silva, R.S. e & Araújo, S.M.V.G. de, 2013. Ainda vale a pena legislar: aatuação dos agenda holders no Congresso brasileiro. Revista deSociologia e Política, 21(48), pp.19 50.
Soares, M.M., 2013. Influência majoritária em eleições proporcionais: osefeitos presidenciais e governatoriais sobre as eleições para a Câmarados Deputados brasileira (1994-2010). Dados, 56(2), pp.413 437.
Suleiman, E. & Mendras, H., 1997. Le Recrutement des élites en Europe,Paris: La Découverte.
Unzué, M., 2012. A universidade na trajetória dos parlamentares brasileiros. Revista Brasileira de Ciência Política, (8), pp.13 46.
Veiga, L.F. & Perissinotto, R.M., 2011. Profissionalização política, processoseletivo e recursos partidários: uma análise da percepção dos candidatosdo PT, PMDB, PSDB e DEM nas eleições para Deputado Federal de2010. In 35o Encontro Anual da Anpocs. Caxambu - MG: ANPOCS, p. 21.
Weber, M., 1994. The Profession and Vocation of Politics. In P. Lassman &R. Speirs, eds. Weber: Political Writings. Cambridge: CambridgeUniversity Press, pp. 309 369.
Wirth, J.D., 1982. O fiel da balança: Minas Gerais na federação brasileira, 1889-1937, Rio de Janeiro: Paz e Terra.