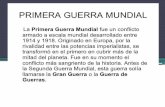Relatório mundial sobre violência e saúde - OPAS
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Relatório mundial sobre violência e saúde - OPAS
Relatório mundialsobre violência
e saúde
Editado porEtienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy,
Anthony B. Zwi e Rafael Lozano
Organização Mundial da SaúdeGenebra
2002
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) – Biblioteca da OMS
World report on violence and health (Relatório Mundial sobre violência e saúde) / editado por Etienne G. Krug ... [e outros.].1. Violência 2. Violência doméstica 3. Suicídio 4. Agressões sexuais 5. Guerra6. Saúde Pública 7. Fatores de risco I. Krug, Etienne G.
ISBN 92 4 154561 5 (Classificação NLM: HV 6625)
Citação sugerida: Krug EG et al., eds. World report on violence and health . Geneva, World Health Organization, 2002.
Fotografia de Nelson Mandela reproduzida com a autorização do Congresso Nacional Africano.
A Organização Mundial da Saúde acolhe com prazer as solicitações de permissão para reproduzir ou traduzir suas publicações,parcial ou totalmente. As solicitações e os pedidos devem ser encaminhados ao Escritório de Publicações, World HealthOrganization, Genebra, Suíça, que ficará satisfeito em fornecer as últimas informações relacionadas a qualquer alteração quetenha sido feita no texto, programações para novas edições, reimpressões e traduções já disponíveis.
© World Health Organization 2002
As publicações da Organização Mundial da Saúde gozam de proteção dos direitos autorais em conformidade com as provisõesdo Protocolo 2 da Convenção Universal de Direitos Autorais (Universal Copyright Convention). Todos os direitos reservados.
As designações empregadas nesta publicação e a apresentação do referido material não implicam a expressão de qualqueropinião de parte do Secretariado da Organização Mundial da Saúde que diz respeito ao status legal de qualquer país, território,cidade ou área de sua autoridade ou à limitação de suas fronteiras ou limites.
A menção a empresas específicas ou determinados produtos não implica que eles sejam endossados ou recomendados pelaOrganização Mundial da Saúde de preferência a outros de natureza semelhante que não foram mencionados. Salvo erros eomissões, os nomes dos produtos patenteados estão diferenciados por letras maiúsculas iniciais.
A designação “país ou área”, que aparece nos cabeçalhos das tabelas, engloba países, territórios, cidades ou áreas.
Elaborado por minimum graphics.Composição e impressão realizada na Suíça,2002/14323—Stratcom—20 000
O século vinte será lembrado como um século marcado pela violência. Em umaescala jamais vista e nunca antes possível na história da humanidade, ele nosoprime com seu legado de destruição em massa, de violência imposta. Mas esselegado - resultado de novas tecnologias a serviço de ideologias de ódio – não éo único que carregamos, nem que devemos enfrentar.
Menos visível, mais ainda mais disseminado, é o legado do sofrimentoindividual diário. É a dor das crianças que sofrem abusos provenientes das pessoasque deveriam protegê-las, mulheres feridas ou humilhadas por parceiros violentos,pessoas idosas maltratadas por aqueles que são os responsáveis pelos seus
cuidados, jovens oprimidos por outros jovens e pessoas de todas as idades que infligem violência contra sipróprias. Este sofrimento - e há muitos outros exemplos que eu poderia citar - é um legado que se reproduzquando novas gerações aprendem com a violência de gerações passadas, quando as vítimas aprendem comseus agressores e quando se permite que se mantenham as condições sociais que nutrem a violência. Nenhumpaís, nenhuma cidade, nenhuma comunidade está imune à violência, mas, também, não estamos impotentesdiante dela.
Na ausência de democracia, respeito pelos direitos humanos e um bom governo, a violência prospera.Freqüentemente conversamos sobre como uma "cultura de violência" pode criar raízes. Isso, de fato, é umaverdade. Como um sul-africano que vivenciou o apartheid e está vivendo suas conseqüências, tenho vistoe experimentado isto. Também é verdade que os padrões de violência são mais difusos e difundidos nassociedades em que as autoridades endossam o uso da violência por meio de suas próprias ações. Em muitassociedades, a violência é tão dominante que frustra as esperanças de desenvolvimento econômico e social.Não podemos deixar que isto continue.
Muitos dos que convivem com a violência dia após dia assumem que ela é parte intrínseca da condiçãohumana, mas isto não é verdade. A violência pode ser evitada. As culturas violentas podem ser modificadas.Em meu próprio país e em todo o mundo, temos exemplos notáveis de como a violência tem sido combatida.Os governos, as comunidades e os indivíduos podem fazer a diferença.
Dou as boas-vindas a este primeiro Relatório mundial sobre violência e saúde. Este relatório significauma valiosa contribuição para a nossa compreensão da violência e seu impacto sobre as sociedades. Eleilumina as diferentes faces da violência, desde o sofrimento "invisível" dos indivíduos mais vulneráveis dasociedade até toda a tragédia, bastante visível, das sociedades em conflito. Ele antecipa nossa análise dosfatores que levam à violência e as possíveis respostas dos diferentes setores da sociedade. E, ao fazer isto,ele nos lembra que a segurança e a tranqüilidade não acontecem simplesmente, elas são o resultado deconsenso coletivo e investimento público.
O relatório descreve e faz recomendações para ações em nível local, nacional e internacional. Ele será,portanto, uma ferramenta de valor imensurável para os legisladores, pesquisadores, médicos, advogados evoluntários envolvidos com a prevenção da violência. Uma vez que a violência tradicionalmente tem sidoatribuída ao domínio do sistema de justiça penal, o relatório apresenta de maneira intensa suas razões paraenvolver todos os setores da sociedade em esforços preventivos.
Nós devemos às nossas crianças - os cidadãos mais vulneráveis em qualquer sociedade - uma vida livrede violência e medo. A fim de assegurar isto, devemos manter-nos incansáveis em nossos esforços nãoapenas para alcançar a paz, a justiça e a prosperidade para os países, mas também para as comunidades emembros da mesma família. Devemos dirigir nossa atenção para as raízes da violência. Somente assim,transformaremos o legado do século passado de um fardo opressor em um aviso de alerta.
Nelson Mandela
Preâmbulo
Em todo o mundo, a violência invade a vida de muitas pessoas e, de algumamaneira, toca a todos nós. Para muitas pessoas, ficar a salvo é questão de trancarportas e janelas e evitar lugares perigosos. Para outros, é impossível escapar. Aameaça da violência está atrás dessas portas, bem escondida da vista pública.E, para aqueles que vivem no meio de guerras e conflitos, a violência permeiatodos os aspectos da vida.
Este relatório, o primeiro sumário abrangente do problema em uma escalaglobal, mostra não apenas o tributo humano da violência – mais de 1,6 milhões
de vidas perdidas a cada ano e um número incontável de vidas prejudicadas nem sempre de maneira aparente–, mas expõe as muitas faces da violência interpessoal, coletiva e auto-infligida, bem como os cenários emque ela ocorre. Mostra que, onde a violência persiste, a saúde é seriamente comprometida.
Em muitos aspectos, o relatório também nos desafia. Força-nos a ir além das nossas noções do que éaceitável e confortável, a desafiar noções de que atos de violência são simplesmente questões de privacidadefamiliar, escolhas individuais ou facetas inevitáveis da vida. A violência é um problema complexo, relacionadoa padrões de pensamento e comportamento que são formados por uma multidão de forças dentro das nossasfamílias e comunidades, forças essas que, ainda, podem transcender as fronteiras nacionais. O relatório urge-nos a trabalhar com uma série de parceiros e adotar uma abordagem que seja proativa, científica e abrangente.
Temos algumas das ferramentas e conhecimento que fazem a diferença - as mesmas ferramentas que têmsido utilizadas com êxito para atacar outros problemas de saúde. Isto se torna evidente no relatório. E temosa noção de onde aplicar nosso conhecimento. A violência é, em geral, previsível e evitável. Assim comooutros problemas de saúde, ela não está distribuída de maneira uniforme pelos grupos populacionais ouregiões. Muitos dos fatores que aumentam o risco da violência são compartilhados pelos diferentes tipos deviolência e são passíveis de modificações.
Um tema que se repete neste relatório é a importância da prevenção primária. Aqui, até mesmo pequenosinvestimentos podem trazer grandes e duradouros benefícios, mas não sem a resolução de líderes e o apoioaos esforços preventivos de um grande número de parceiros nas esferas públicas e privadas, e tanto empaíses industrializados como nos países emergentes.
A saúde pública tem obtido resultados notáveis nas últimas décadas, particularmente em relação à reduçãodos índices de muitas doenças infantis. Entretanto, salvar nossas crianças destas doenças apenas para permitirque se tornem vítimas da violência ou perdê-las mais tarde para atos de violência entre parceiros íntimos,selvagerias das guerras e dos conflitos, ferimentos infligidos por elas próprias ou suicídio, seria uma falha dasaúde pública.
Enquanto a saúde pública não oferecer todas as respostas para este problema complexo, estamosdeterminados a desempenhar nosso papel na prevenção da violência mundial. Este relatório contribuirá paramoldar a resposta global à violência e fazer do mundo um lugar mais seguro e mais saudável para todos.Convido você a ler o relatório com muita atenção e juntar-se a mim e aos muitos especialistas em prevençãoà violência do mundo todo, que aqui contribuíram na implementação de um chamamento vital para a ação.
Gro Harlem Brundtland
Diretora Geral
Organização Mundial da Saúde
Preâmbulo
Contribuições
Direção editorialComitê editorialEtienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi, Rafael Lozano.
Editor executivoLinda L. Dahlberg.
Comitê consultivoNana Apt, Philippe Biberson, Jacquelyn Campbell, Radhika Coomaraswamy, William Foege, Adam Graycar,Rodrigo Guerrero, Marianne Kastrup, Reginald Moreels, Paulo Sergio Pinheiro, Mark L. Rosenberg, Terezinhada Silva, Mohd Sham Kasim.
Secretariado da OMSAhmed Abdullatif, Susan Bassiri, Assia Brandrup-Lukanow, Alberto Concha-Eastman, Colette Dehlot, AntonioPedro Filipe, Viviana Mangiaterra, Hisahi Ogawa, Francesca Racioppi, Sawat Ramaboot, Pang Ruyan,Gyanendra Sharma, Safia Singhateh, Yasuhiro Suzuki, Nerayo Tecklemichael, Tomris Turmen, MadanUpadhyay, Derek Yach.
Consultores RegionaisOMS - Região AfricanaNana Apt, Niresh Bhagwandin, Chiane Esther, Helena Zacarias Pedro Garinne, Rachel Jewkes, Naira Khan,Romilla Maharaj, Sandra Marais, David Nyamwaya, Philista Onyango, Welile Shasha, Safia Singhateh, IsseuDiop Touré, Greer van Zyl.
OMS - Região das AméricasNancy Cardia, Arturo Cervantes, Mariano Ciafardini, Carme Clavel-Arcas, Alberto Concha-Eastman, CarlosFletes, Yvette Holder, Silvia Narvaez, Mark L. Rosenberg, Ana Maria Sanjuan, Elizabeth Ward.
OMS - Região Sudeste da ÁsiaSrikala Bharath, Vijay Chandra, Gopalakrishna Gururaj, Churnrutai Kanchanachitra, Mintarsih Latief, PanpimolLotrakul, Imam Mochny, Dinesh Mohan, Thelma Narayan, Harsaran Pandey, Sawat Ramaboot, SanjeevaRanawera, Poonam Khetrapal Singh, Prawate Tantipiwatanaskul.
OMS - Região EuropéiaFranklin Apfel, Assia Brandrup-Lukanow, Kevin Browne, Gani Demolli, Joseph Goicoechea, Karin Helweg-Larsen, Mária Herczog, Joseph Kasonde, Kari Killen, Viviana Mangiaterra, Annemiek Richters, Tine Rikke,Elisabeth Schauer, Berit Schei, Jan Theunissen, Mark Tsechkovski, Vladimir Verbitski, Isabel Yordi.
OMS - Região do Mediterrâneo OrientalSaadia Abenaou, Ahmed Abdullatif, Abdul Rahman Al-Awadi, Shiva Dolatabadi, Albert Jokhadar, HindKhattab, Lamis Nasser, Asma Fozia Qureshi, Sima Samar, Mervat Abu Shabana.
OMS - Região do Pacífico OcidentalLiz Eckermann, Mohd Sham Kasim, Bernadette Madrid, Pang Ruyan, Wang Yan, Simon Yanis.
Autores e revisoresCapítulo 1. Violência - um problema global de saúde públicaAutores: Linda L. Dahlberg, Etienne G. Krug.Quadros: Alberto Concha-Eastman, Rodrigo Guerrero (1.1); Alexander Butchart (1.2); Vittorio Di Martino(1.3).
Capítulo 2. Violência juvenilAutores: James A. Mercy, Alexander Butchart, David Farrington, Magdalena Cerdá.Quadros: Magdalena Cerdá (2.1); Alexander Butchart (2.2).Revisores: Nancy Cardia, Alberto Concha-Eastman, Adam Graycar, Kenneth E. Powell, Mohamed Seedat,Garth Stevens.
Capítulo 3. Abuso infantil e negligência por parte dos pais e outros responsáveisAutores: Desmond Runyan, Corrine Wattam, Robin Ikeda, Fatma Hassan, Laurie Ramiro.Quadros: Desmond Runyan (3.1); Akila Belembaogo, Peter Newell (3.2); Philista Onyango (3.3);Magdalena Cerdá, Mara Bustelo, Pamela Coffey (3.4).Revisores: Tilman Furniss, Fu-Yong Jiao, Philista Onyango, Zelided Alma de Ruiz.
Capítulo 4. Violência perpetrada por parceiros íntimosAutores: Lori Heise, Claudia Garcia-Moreno.Quadros: Mary Ellsberg (4.1); Pan American Health Organization (4.2); Lori Heise (4.3).Revisores: Jill Astbury, Jacquelyn Campbell, Radhika Coomaraswamy, Terezinha da Silva.
Capítulo 5. Abuso de idososAutores: Rosalie Wolf, Lia Daichman, Gerry Bennett.Quadros: HelpAge International Tanzania (5.1); Yuko Yamada (5.2); Elizabeth Podnieks (5.3).Revisores: Robert Agyarko, Nana Apt, Malgorzata Halicka, Jordan Kosberg, Alex Yui-Huen Kwan, SiobhanLaird, Ariela Lowenstein.
Capítulo 6. Violência sexualAutores: Rachel Jewkes, Purna Sen, Claudia Garcia-Moreno.Quadros: Rachel Jewkes (6.1); Ivy Josiah (6.2); Fatma Khafagi (6.3); Nadine France, Maria de Bruyn (6.4).Revisores: Nata Duvvury, Ana Flávia d'Oliveira, Mary P. Koss, June Lopez, Margarita Quintanilla Gordillo,Pilar Ramos-Jimenez.
Capítulo 7. Violência auto-infligidaAutores: Diego DeLeo, José Bertolote, David Lester.Quadros: Ernest Hunter, Antoon Leenaars (7.1); Danuta Wasserman (7.2).Revisores: Annette Beautrais, Michel Grivna, Gopalakrishna Gururaj, Ramune Kalediene, Arthur Kleinman,Paul Yip.
xiv • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Capítulo 8. Violência coletivaAutores: Anthony B. Zwi, Richard Garfield, Alessandro Loretti.Quadros: James Welsh (8.1); Joan Serra Hoffman, Jose Teruel, Sylvia Robles, Alessandro Loretti (8.2);Rachel Brett (8.3).Revisores: Suliman Baldo, Robin Coupland, Marianne Kastrup, Arthur Kleinman, David Meddings, PauloSergio Pinheiro, Jean Rigal, Michael Toole.
Capítulo 9. O caminho a seguir: recomendações para a açãoAutores: Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi, Andrew Wilson.Quadros: Tyrone Parks, Shereen Usdin, Sue Goldstein (9.1); Joan Serra Hoffman, Rodrigo Guerrero, AlbertoConcha-Eastman (9.2); Laura Sminkey, Etienne G. Krug (9.3).
Anexo: EstatísticasColin Mathers, Mie Inoue, Yaniss Guigoz, Rafael Lozano, Lana Tomaskovic.
FontesLaura Sminkey, Alexander Butchart, Andrés Villaveces, Magdalena Cerdá.
CONTRIBUIÇÕES • xv
Agradecimentos
A Organização Mundial da Saúde e o Comitê Editorial gostariam de prestar uma homenagem especial àprincipal autora do capítulo sobre abusos de idosos, Rosalie Wolf, que faleceu em junho de 2001. Foiincomensurável sua contribuição relacionada aos cuidados e à proteção contra abusos e negligência aosidosos. Ela demonstrou um comprometimento tenaz para com esta parcela particularmente vulnerável e, quasesempre, renegada, da população.
A Organização Mundial da Saúde reconhece agradecida os vários autores, revisores, conselheiros econsultores, cuja dedicação, apoio e experiência tornou este relatório possível. Este relatório também foibeneficiado pela contribuição de muitas outras pessoas. Fazemos menção especial a Tony Kahane que revisouos rascunhos e a Caroline Allsoop e Angela Haden que editaram o texto final. Gostaríamos de estendernossos agradecimentos a Sue Armstrong e Andrew Wilson por prepararem o sumário deste relatório; LauraSminkey por sua preciosa assistência ao Comitê Editorial no gerenciamento diário e na coordenação doprojeto; Marie Fitzsimmons por sua ajuda editorial; Catherine Currat, Karin Engstrom, Nynke Poortinga,Gabriella Rosen e Emily Rothman pela contribuição nas pesquisas; Emma Fitzpatrick, Helen Green, ReshmaPrakash, Angela Raviglione, Sabine van Tuyll van Serooskerken e Nina Vugman, pelos contatos ecomunicação; e Simone Colairo, Pascale Lanvers, Angela Swetloff-Coff e Stella Tabengwa pelo apoioadministrativo.
A Organização Mundial da Saúde gostaria de agradecer ainda à California Wellness Foundation [Fundaçãode Bem-Estar da Califórnia], ao Global Forum for Health Research [Fórum Global para Pesquisas em Saúde],aos governos da Bélgica, Finlândia, Japão, Suécia e Reino Unido, à Rockefeller Foundation [FundaçãoRockefeller] e aos United States Centers for Disease Control and Prevention [Centros Americanos para Controlee Prevenção de Doenças] pelo generoso apoio financeiro para o desenvolvimento e publicação deste relatório.
Introdução
Em 1996, a Quadragésima Nona Assembléia Mundial de Saúde adotou a Resolução WHA49.25, declarandoa violência como um problema importante, e crescente, de saúde pública no mundo (Consultar o quadro nofinal desta introdução contendo o texto completo).
Na resolução, a Assembléia chamou a atenção para as sérias conseqüências da violência – no curto e nolongo prazo – para indivíduos, famílias, comunidades e países, e destacou os efeitos prejudiciais que elagera no setor de serviços de saúde.
A Assembléia pediu aos Estados Membros que considerassem urgentemente o problema da violênciadentro de suas fronteiras e solicitou ao Diretor Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) que organizassecampanhas de saúde pública para lidar com o problema.
Assim, o primeiro Relatório mundial sobre violência e saúde é uma parte importante da resposta daOMS quanto à Resolução WHA49.25. Ele atende principalmente aos pesquisadores e aos profissionais daárea da saúde, assistentes sociais e todos os envolvidos em desenvolvimento e implementação de programase serviços de prevenção, educadores e policiais. Também está disponível um resumo do relatório.
Objetivos
Os objetivos deste relatório são ampliar a consciência acerca do problema da violência em nível global,argumentar que a violência pode ser prevenida e que a saúde pública tem um papel crucial noreconhecimento de suas causas e conseqüências. Os objetivos mais específicos são: — descrever a magnitude e o impacto da violência em todo o mundo;
— descrever os principais fatores de risco que causam a violência;— relatar os tipos de ações, intervenções e respostas políticas que têm sido implantados e resumir o que se conhece sobre sua eficácia e— recomendar ações em nível local, nacional e internacional.
Temas e escopoEste relatório examina os tipos de violência que estão presentes no mundo todo, na vida diária das pessoas
e que constituem a parte principal do fardo que a violência impõe à saúde. Assim, estas informações foramorganizadas em nove capítulos, cobrindo os seguintes temas:
1. Violência – um problema global de saúde pública2. Violência juvenil3. Abuso infantil e negligência por parte dos pais e outros responsáveis4. Violência perpetrada por parceiros íntimos
1. World report on violence and health: a summary [Relatório mundial sobre violência e saúde: um resumo]. Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2002.
xx • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Prevenindo a violência: uma prioridade da saúde pública(Resolução WHA49.25)
A Quadragésima Nona Assembléia Mundial de Saúde,Constatando, no mundo, com grande preocupação, o aumento da incidência de lesões intencionais
que afetam pessoas de todas as idades e ambos os sexos, mas especialmente mulheres e crianças;Endossando o apelo feito na Declaration of the World Summit for Social Development [Declaração
Mundial para o Desenvolvimento Social] para apresentação e implementação de políticas específicas eprogramas de saúde pública e serviço social, de forma a prevenir a violência na sociedade e moderarseus efeitos;
Endossando as recomendações feitas na International Conference on Population and Development[Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento] (Cairo, 1994) e na Fourth WorldConference on Women [Quarta Conferência Mundial sobre Mulheres] (Beijing, 1995) para que se ataqueurgentemente o problema da violência contra mulheres e meninas e se compreenda suas conseqüênciasna saúde;
Reafirmando a Declaração das Nações Unidas sobre a eliminação da violência contra a mulher;Registrando o apelo feito pela comunidade científica na Melbourne Declaration [Declaração de
Melbourne], adotado na Third International Conference on Injury Prevention and Control [TerceiraConferência Mundial sobre Prevenção e Controle de Maus Tratos] (1996) para aumentar a cooperaçãointernacional a fim de garantir a segurança dos cidadãos do mundo;
Reconhecendo as sérias implicações, imediatas e de longo prazo, para a saúde e desenvolvimentospsicológico e social que a violência representa para os indivíduos, famílias, comunidades e países;
Reconhecendo as crescentes conseqüências da violência para os serviços de saúde em todos oslugares, e seus efeitos prejudiciais para os escassos recursos à disposição da saúde pública dos paísese das comunidades;
Reconhecendo que os profissionais da área de saúde estão freqüentemente entre os primeiros asocorrer as vítimas da violência, sendo eles possuidores de uma capacidade técnica singular e tendo avantagem de ocupar uma posição especial na comunidade para assim ajudar aqueles estão em perigo;
Reconhecendo que a OMS, o órgão mais importante para a coordenação dos trabalhos internacionaisem saúde pública, é responsável por prover liderança e diretrizes aos Estados Membros, para quedesenvolvam programas de saúde pública para prevenção de violência auto-infligida e violência contraterceiros;
1. DECLARA que a violência é um dos principais problemas mundiais de saúde pública;2. SOLICITA que os Estados Membros avaliem os problemas da violência em seus territórios e
comuniquem à OMS tais informações e suas abordagens referentes a eles;3. REQUER que seu Diretor Geral, no uso dos recursos disponíveis, inicie campanhas na saúde
pública para alertar sobre o problema da violência e assim: (1) caracterizar os diferentes tipos de violência, definir sua magnitude e avaliar suas causas e as conseqüências para a saúde pública utilizando, inclusive, uma “perspectiva de gêne- ro” (homens/mulheres) na análise;
(2) avaliar os tipos de soluções e a eficácia destas medidas e programas para prevenir a violência e mitigar seus efeitos, com particular atenção para as iniciativas baseadas nas comunidades;(3) promover campanhas que ataquem este problema em ambos os níveis, nacional e internacional, incluindo os seguintes passos: (a) aprimorar o diagnóstico, registro e gerenciamento das conseqüências da violência; (b) promover um maior envolvimento entre os setores na prevenção e gerenciamento da violência; (c) promover pesquisas sobre a violência como uma prioridade nas pesquisas da saúde
pública; (d) preparar e disseminar recomendações para programas de prevenção da violência nas nações, países e comunidades de todo o mundo.(4) assegurar a participação coordenada e ativa do pessoal técnico da OMS;(5) fortalecer a colaboração da Organização Mundial da Saúde junto a governos, autoridades locais e outras organizações do sistema das Nações Unidas, no planejamento,i m p l e m e n t a ç ã o e monitoramento de programas de prevenção e redução da violência;
4. REQUER ADICIONALMENTE que o Diretor-Geral apresente, na nonagésima nona sessão do Conselho Executivo, um relatório descrevendo o progresso obtido até o momento e um plano de ação para a continuidade deste progresso na direção de um enfoque científico da saúde pública para a prevenção da violência.
(continuação)
CONTRIBUIÇÕES • xv
5. Abuso de idosos6. Violência sexual7. Violência auto-infligida8. Violência coletiva9. O caminho a seguir: recomendações para a ação
Por ser impossível cobrir ampla e adequadamente todos os tipos de violência em um único documento,cada capítulo terá um enfoque especifico. Por exemplo, o capítulo sobre violência juvenil, examina a violênciainterpessoal entre adolescentes e jovens adultos na comunidade. O capítulo que trata de abuso infantildiscute o abuso físico, psicológico e sexual, assim como a negligência de pais e responsáveis. Outras formasde maus tratos às crianças, tais como prostituição infantil e utilização de crianças como soldados, são tratadosem outras partes do relatório. O capítulo a respeito do abuso de idosos enfoca o abuso praticado pelosresponsáveis pelo cuidado aos idosos nos domicílios e instituições, enquanto que, no item violência coletiva,discutem-se os conflitos violentos. Os capítulos sobre violência perpetrada por parceiros íntimos e violênciasexual concentram-se principalmente na violência contra as mulheres, embora se inclua também a violênciasexual contra homens e meninos. O capítulo em que é abordada a violência auto-infligida tratapredominantemente do comportamento suicida. Este capítulo foi incluído no relatório porque o comportamentosuicida é uma das causas externas de lesões às pessoas e, quase sempre, é produto dos mesmos fatoressociais, psicológicos e circunstanciais encontrados em outros tipos de violência.
Os capítulos seguem uma estrutura semelhante. Cada capítulo inicia com uma análise resumida dedefinições, de acordo com o tipo de violência ali abordado, seguido de um resumo de informações atualizadassobre a extensão do problema em diferentes partes do mundo. Onde possível, são apresentados os dadosreferentes aos países, assim como descobertas feitas por vários estudos e pesquisas. Os capítulos descrevem,então, as causas e conseqüências da violência, fornecem informações sobre as intervenções e medidas queestão sendo tomadas e fazem recomendações para futuras pesquisas e ações. Foram incluídos tabelas,figuras e quadros, para destacar descobertas e padrões epidêmicos específicos, ilustrar exemplos de atividadesde prevenção e chamar a atenção para assuntos específicos.
O relatório encerra-se com duas seções adicionais: um anexo com dados estatísticos e uma lista de fontesda Internet. O anexo contém informações globais, regionais e nacionais derivadas do banco de dados daOMS sobre mortalidade e morbidez, e da Versão 1 do projeto Carga Global de Doença [Global Burden ofDisease] da OMS para 2000. A descrição das fontes de coleta de dados e de métodos encontrada no anexoserve para explicar como estas informações foram obtidas e analisadas.
A lista de fontes da Internet inclui endereços, na rede, de organizações envolvidas com a pesquisa sobreviolência, prevenção e assistência. A lista inclui "metasites" (cada um oferece acesso a centenas deorganizações, como as mencionadas no inicio deste parágrafo), web sites que enfocam tipos específicos deviolência, outros web sites que ampliam o leque de questões contextuais ligadas à violência e outros, ainda,que servem como ferramentas de referência para aprimorarmos nosso entendimento a respeito da violência.
Como o relatório foi desenvolvidoEste relatório se beneficiou da participação de mais de 160 especialistas do mundo inteiro, coordenados
por um pequeno Comitê Editorial. Um Comitê Consultivo, formado por representantes de todas as regiões daOMS e membros da equipe da OMS, contribuiu com orientação ao Comitê Editorial nas várias etapas doregistro escrito deste documento.
Os capítulos foram revisados em conjunto por cientistas de diferentes lugares do mundo. A estes revisoresfoi pedido que comentassem não somente o conteúdo cientifico do capítulo, mas também a relevância domesmo para a cultura dos quais eram provenientes.
À medida que o relatório progredia, foram feitas consultas aos membros dos escritórios regionais daOrganização Mundial da Saúde e a diversos especialistas do mundo todo. Os participantes revisaram umprimeiro esboço do documento, fornecendo uma visão geral do problema da violência em seus países efazendo sugestões sobre os avanços necessários nas atividades de prevenção da violência naqueles lugares.
Caminhos para o futuroEste relatório abrangente, o primeiro do seu tipo, é somente um início. Espera-se que suscite a discussão
em nível local, nacional e internacional e que forneça a plataforma para o aumento das ações de prevenção daviolência.
xxii • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
CAPÍTULO 1. VIOLÊNCIA - UM PROBLEMA MUNDIAL DE SAÚDE PÚBLICA • 3
AntecedentesTalvez a violência sempre tenha participado da
experiência humana. Seu impacto pode ser visto devárias formas, em diversas partes do mundo. Todoano, mais de um milhão de pessoas perdem suas vidase muitas outras sofrem lesões não fatais, resultantesda violência auto-infligida, interpessoal ou coletiva.De forma geral, no mundo todo, a violência está entreas principais causas de morte de pessoas na faixaetária de 15 a 44 anos.
Apesar da dificuldade em se obter estimativasprecisas, o custo da violência se traduz em bilhõesde dólares americanos em gastos anuais comassistência à saúde no mundo todo e, no caso daseconomias nacionais, mais alguns bilhões em termosde dias de trabalho perdidos, aplicação das leis eperdas em investimentos.
O visível e o invisívelÉ claro que não se pode calcular o custo humano
em sofrimento e dor. Na realidade, muito deste custoé invisível. Ao mesmo tempo em que a tecnologiados satélites tem tornado certos tipos de violência –terrorismo, guerras, rebeliões e tumultos civis –diariamente visíveis ao público, há muito maisviolência ocorrendo de forma invisível nos lares,locais de trabalho e, até mesmo, em instituiçõesmédicas e sociais criadas para cuidar das pessoas.Muitas das vítimas são demasiadamente jovens,fracas ou doentes para se protegerem. Outras sãoforçadas por convenções ou pressões sociais amanterem silêncio sobre suas experiências.
Assim como ocorre com seus impactos, algumascausas da violência podem ser facilmente percebidas.Outras estão profundamente enraizadas no arcabouçocultural e econômico da vida humana. A pesquisarecente indica que, ao mesmo tempo em que fatoresbiológicos e outros fatores individuais explicamalgumas das predisposições à agressão, é maisfreqüente que esses fatores interajam com fatoresfamiliares, comunitários, culturais e outros fatoresexternos para, assim, criar uma situação propícia àviolência.
Um problema que pode ser evitadoApesar de a violência sempre ter estado presente,
o mundo não tem de aceitá-la como parte inevitávelda condição humana. Desde que a violência existe,também existem sistemas – religiosos, filosóficos,legais e comunais – que se desenvolveram para evitá-
la ou restringi-la. Nenhum deles foi totalmente bemsucedido, mas todos deram sua contribuição paraesse marco definidor da civilização.
Desde o início da década de 1980, o campo desaúde pública tem dado uma contribuição cada vezmais importante nessa resposta. Muitos profissionais,pesquisadores e sistemas de saúde pública tomarampara si as tarefas de entender as raízes da violência eevitar que ela ocorra.
A violência pode ser evitada e seu impactominimizado, da mesma forma que os esforços em saúdepública evitaram e reduziram, em muitas partes domundo, complicações ligadas à gravidez, lesõesocupacionais, doenças infecciosas e doençasresultantes de alimentos e água contaminados. Osfatores que contribuem para respostas violentas –sejam eles de atitude e comportamento ourelacionados a condições mais abrangentes sociais,econômicas, políticas e culturais – podem sermudados.
A violência pode ser evitada. Não se trata de umaquestão de fé, mas de uma afirmação baseada emevidências. Podem-se encontrar exemplos bemsucedidos em todo o mundo, desde trabalhosindividuais e comunitários em pequena escala atépolíticas nacionais e iniciativas legislativas.
Como uma abordagem de saúdepública pode contribuir?
Por definição, a saúde pública não se refere apacientes individuais. Seu foco está em lidar comdoenças, condições e problemas que afetam a saúde,e seu objetivo é oferecer o máximo de benefícios parao maior número de pessoas. Isso não significa que asaúde pública ignore a assistência às pessoasenquanto indivíduos. Ao contrário, ela estápreocupada em evitar os problemas de saúde eexpandir uma melhor assistência e segurança parapopulações inteiras.
A abordagem da saúde pública para qualquerproblema é interdisciplinar e com bases científicas(1). Ela se fundamenta no conhecimento de diversasdisciplinas, incluindo medicina, epidemiologia,sociologia, psicologia, criminologia, educação eeconomia. Com isso, o campo da saúde pública podeser inovador e responsivo a uma ampla gama dedoenças, enfermidades e lesões no mundo todo.
A abordagem da saúde pública também enfatiza aação coletiva. Ela tem provado que o tempo e, maisuma vez, as ações cooperativas de vários setores –
QUADRO 1.1
A abordagem da saúde pública em ação: DESEPAZ na ColômbiaEm 1992, o prefeito de Cali, Colômbia – ele próprio um especialista em saúde pública – ajudou a
cidade a criar um amplo programa voltado para a redução dos altos níveis de criminalidade ali existentes.Os índices de homicídio em Cali, uma cidade com cerca de dois milhões de habitantes, haviam aumentadode 23 para uma população de 100 mil, em 1983, para 85 em 1991. O programa chamou-se DESEPAZ, umacrônimo para Desarrollo, Seguridad, Paz (desenvolvimento, segurança, paz).
Nos estágios iniciais do programa da cidade, foram realizados estudos epidemiológicos para identificaros principais fatores de risco de violência e estabelecer as prioridades para a ação. Para fortalecer apolícia, o sistema judiciário e o escritório local de direitos humanos foram aprovados orçamentos especiais.
O DESEPAZ assumiu a educação em assuntos de direitos civis, tanto para a polícia quanto para opúblico em geral, inclusive com anúncios na televisão, em horário de pico de audiência, salientando aimportância do autocontrole e da tolerância para com os outros. Em cooperação com organizações nãogovernamentais locais, foram organizados diversos projetos culturais e educacionais para as escolas eas famílias, para promover discussões sobre violência e ajudar a solucionar conflitos interpessoais. Emfinais de semana e ocasiões especiais, houve restrições à venda de bebidas alcoólicas e foi proibido oporte de armas de fogo.
No decorrer do programa, foram criados projetos especiais para oferecer oportunidades econômicase lugares seguros de lazer para a população jovem. O prefeito e sua equipe administrativa discutiram coma população local suas propostas para reduzir o crime, e a administração da cidade assegurou suaparticipação contínua e o compromisso da comunidade.
Com o programa em funcionamento, o índice de homicídios em Cali, de 1994 a 1997, diminuiu doelevado e constante índice de 124 para cada 100 mil habitantes, para 86, representando uma redução de30%. Em números absolutos, houve aproximadamente 600 homicídios a menos entre 1994 e 1997, emcomparação ao período anterior de três anos, o que permitiu, às autoridades de aplicação da lei, dirigir osescassos recursos existentes para o combate a formas mais organizadas de crime. Além disso, em Cali, aopinião pública mudou radicalmente de uma atitude passiva diante da violência para uma exigênciaveemente por mais atividades de prevenção.
4 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
como saúde, educação, serviços sociais, justiça epolítica - são necessárias para solucionar o quenormalmente é visto como problemas puramente"médicos". Ao lidar com o problema da violência,cada setor tem um papel importante a desempenhare, coletivamente, a abordagem adotada por cada umdeles tem potencial para produzir importantesreduções na violência (ver Quadro 1.1).
A abordagem da saúde pública em relação àviolência baseia-se nas rigorosas exigências dométodo científico. Ao passar do problema para asolução, tal abordagem apresenta quatro etapasprincipais (1):
• Revelar o máximo possível de conhecimentobásico a respeito de todos os aspectos daviolência - através da coleta sistemática de dadossobre a magnitude, o alcance, as características eas conseqüências da violência nos níveis local,nacional e internacional.
• Investigar por que a violência ocorre, ou seja,realizar pesquisas para determinar:— as causas e os fatores relacionados à violência;— os fatores que aumentam ou diminuem o riscode violência;— os fatores que podem ser modificados por meiode intervenções.• Explorar formas de evitar a violência, utilizandoas informações obtidas, elaborando,implementando, monitorando e avaliandointervenções.• Implementar, em diversos cenários, intervençõesque pareçam promissoras, divulgandoamplamente as informações e determinando arelação custo/efetividade dos programas.A saúde pública é, acima de tudo, caracterizada
por sua ênfase na prevenção. Em vez de simplesmenteaceitar ou reagir à violência, seu ponto de partida é aforte convicção de que tanto o comportamentoviolento quanto suas conseqüências podem serevitados.
Definindo ViolênciaQualquer análise abrangente da violência deve
começar pela definição das várias formas deviolência, de modo a facilitar sua mensuraçãocientífica. Existem várias maneiras de se definir aviolência. A Organização Mundial da Saúde defineviolência (2) como:
O uso intencional da força física ou do poder,real ou em ameaça, contra si próprio, contra outrapessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade,que resulte ou tenha grande possibilidade de resultarem lesão, morte, dano psicológico, deficiência dedesenvolvimento ou privação.
A definição utilizada pela Organização Mundialda Saúde associa intencionalidade com a prática doato propriamente dito, independentemente doresultado produzido. Os incidentes não intencionais –tais como a maioria das lesões de trânsito equeimaduras acidentais – estão excluídos da definição.
A inclusão da palavra "poder", além da frase"uso da força física", amplia a natureza de um atoviolento e expande o entendimento convencionalde violência de modo a incluir aqueles atos queresultam de uma relação de poder, inclusive ameaçase intimidações. O "uso do poder" também serve paraincluir negligência ou atos de omissão, além de atosviolentos mais óbvios de perpetração. Assim, "ouso da força física ou do poder" deve ser entendidode forma a incluir a negligência e todos os tipos deabuso físico, sexual e psicológico, bem como osuicídio e outros atos de auto-abuso.
Essa definição cobre uma ampla gama deconseqüências – inclusive dano psicológico,privação e deficiência de desenvolvimento. Elareflete um reconhecimento cada vez maior por partedos pesquisadores e profissionais acerca danecessidade de incluir a violência que não resultanecessariamente em lesões ou morte, mas que,contudo, oprime as pessoas, as famílias, ascomunidades e os sistemas de assistência à saúdeno mundo todo. Muitas formas de violência contramulheres, crianças e idosos, por exemplo, podemresultar em problemas físicos, psicológicos e sociaisque não necessariamente levam a lesões, invalidezou morte. Essas conseqüências podem serimediatas, bem como latentes, e podem perdurar poranos após o abuso inicial. Portanto, definir osresultados somente em termos de lesões ou morteslimita a compreensão da totalidade do impacto daviolência sobre as pessoas, as comunidades e asociedade como um todo.
IntencionalidadeUm dos aspectos mais complexos da definição é
a questão da intencionalidade. Dois pontosimportantes devem ser observados aqui. Em primeirolugar, mesmo a violência sendo distinta de eventosnão intencionais que resultam em lesões, a presençade uma intenção de usar a força não necessariamentesignifica que houve uma intenção de causar dano.Na verdade, pode haver uma grande disparidade entreo comportamento pretendido e a conseqüênciapretendida. Um perpetrador pode cometerintencionalmente um ato que, por padrões objetivos,é considerado perigoso e com alta possibilidade deresultar em efeitos adversos à saúde, mas operpetrador pode não perceber seu ato dessa forma.
Por exemplo, um jovem pode envolver-se em umabriga com outro jovem. Dar um soco contra a cabeçaou usar de uma arma na briga certamente aumentam orisco de uma lesão grave ou morte, apesar de nãohaver intenção de nenhum desses resultados. Umpai ou uma mãe pode sacudir com violência umacriança que esteja chorando tentando fazê-la calar.Contudo, esse ato pode causar danos cerebrais. Éclaro que a força foi usada, mas sem a intenção decausar uma lesão.
Um segundo ponto relacionado à intencionalidadereside na distinção entre a intenção de lesar e aintenção de "usar a violência". A violência, de acordocom Walters & Parke (3), é determinada culturalmente.Algumas pessoas tencionam ferir os outros, mas, combase em seus antecedentes culturais e suas crenças,não percebem seus atos como violentos. A definiçãoutilizada pela Organização Mundial da Saúde,contudo, define a violência em relação à saúde ou aobem-estar das pessoas. Determinadoscomportamentos, como bater na esposa, podem serconsiderados por algumas pessoas como práticasculturais aceitáveis, mas são considerados atosviolentos, com importantes implicações para a saúdeda pessoa.
Outros aspectos da violência, apesar de nãoestarem explicitamente colocados, também seencaixam na definição. Por exemplo, a definiçãoimplicitamente inclui todos os atos de violência, sejampúblicos ou privados, sejam reativos (em resposta aeventos anteriores, como provocações) ou proativos(instrumental para resultados em benefício próprio,ou com intenção de tal benefício) (4), sejam atoscriminosos ou não criminosos. Cada um dessesaspectos é importante para se compreender as causasda violência e elaborar programas de prevenção.
CAPÍTULO 1. VIOLÊNCIA - UM PROBLEMA MUNDIAL DE SAÚDE PÚBLICA • 5
Tipologia da violênciaNa resolução WHA49.25, de 1996, que declara a
violência como um dos principais problemas desaúde pública, a World Health Assembly[Assembléia Mundial da Saúde] solicitou àOrganização Mundial da Saúde que desenvolvesseuma tipologia da violência que caracterizasse osdiferentes tipos de violência, bem como os vínculosentre eles. Há poucas tipologias e nenhuma delas émuito abrangente (5).
Tipos de violências A tipologia proposta aqui divide a violência emtrês grandes categorias, conforme as característicasde quem comete o ato de violência:
— Violência dirigida a si mesmo (auto-infligida);— Violência interpessoal;— Violência coletiva.Essa categorização inicial faz a distinção entre a
violência que uma pessoa inflige a si mesma, aviolência infligida por outra pessoa ou por umpequeno grupo de pessoas, e a violência infligidapor grupos maiores como, por exemplo, Estados,grupos políticos organizados, grupos de milícia eorganizações terroristas (ver Figura 1.1).
Cada uma dessas três grandes categoriasé posteriormente dividida para refletir tiposmais específicos de violência.
Violência auto-infligidaA violência auto-infligida é subdividida emcomportamento suicida e auto-abuso. O primeiroinclui pensamentos suicidas, tentativas de suicídio -também chamados de "parassuicídio" ou "autolesãodeliberada" em alguns países - e suicídioscompletados. O auto-abuso, por outro lado, incluiatos como a automutilação.
Violência interpessoal A violência interpessoal é dividida em duassubcategorias:
• Violência da família e de parceiro(a) íntimo(a) -ou seja, violência que ocorre em grande parte entreos membros da família e parceiros íntimos,normalmente, mas não exclusivamente, dentro decasa.• Violência comunitária – violência que ocorreentre pessoas sem laços de parentesco(consangüíneo ou não), e que podem conhecer-
6 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
se (conhecidos) ou não (estranhos), geralmentefora de casa.O primeiro grupo inclui formas de violência, tais
como abuso infantil, violência praticada por parceiroíntimo e abuso contra os idosos. O segundo grupoinclui violência juvenil, atos aleatórios de violência,estupro ou ataque sexual por estranhos, bem como aviolência em grupos institucionais, tais como escolas,locais de trabalho, prisões e asilos.
Violência coletivaA violência coletiva é subdividida em violência
social, política e econômica. Diferentemente dasoutras duas categorias, as subcategorias de violênciacoletiva sugerem a existência de motivos possíveispara a violência cometida pelos grandes grupos depessoas ou pelos Estados. A violência coletivacometida para seguir uma determinada agenda socialinclui, por exemplo, crimes de ódio cometidos porgrupos organizados, atos terroristas e violência demultidões. A violência política inclui guerras econflitos de violência pertinentes, violência doEstado e atos semelhantes realizados por gruposmaiores. A violência econômica inclui ataques degrupos maiores motivados pelo ganho econômico,tais como ataques realizados visando a interromper aatividade econômica, negar acesso a serviçosessenciais ou criar segmentações e fragmentaçõeseconômicas. É claro que os atos cometidos porgrupos maiores podem ter diversos motivos.
A natureza dos atos violentosA Figura 1.1 ilustra a natureza dos atos violentos,
que pode ser:— física;— sexual;— psicológica;— envolvendo privação ou negligência.O eixo horizontal na Figura 1.1 mostra quem é
afetado, e o eixo vertical descreve como são afetados.Esses quatro tipos de atos violentos ocorrem
em cada uma das grandes categorias e de suassubca tegor i a s an te s desc r i t a s , exce to aviolênciaauto-infligida. Por exemplo, a violênciacontra crianças cometida dentro de casa podeincluir abuso físico, sexual e psicológico, bemcomo negligência. A violência comunitária podeincluir agressões físicas entre jovens, violênciasexual no local de trabalho e negligência com osidosos em asilos . A violência política pode incluiratos como estupro durante conflitos e manobras
CAPÍTULO 1. VIOLÊNCIA - UM PROBLEMA MUNDIAL DE SAÚDE PÚBLICA • 7
deguerra física e psicológica.Essa tipologia, mesmo imperfeita e longe de
ser universalmente aceita, fornece uma estruturaútil para se compreender os complexos padrõesde violência que ocorrem no mundo, bem como aviolência na vida diária das pessoas, das famíliase das comunidades. Ao captar a natureza dosatos violentos, a relevância do cenário, a relaçãoentre o perpetrador e a vítima, e, no caso daviolência coletiva, as prováveis motivações paraa violência, ela também supera muitas daslimitações de outras tipologias. Contudo, tantona pesquisa quanto na prática, as fronteiras entreos diferentes tipos de violência nem sempre sãotão claras.
Medindo a violência e o seu impactoTipos de dados
São necessários diferentes tipos de dados paradiferentes fins, inclusive:
— a descrição da magnitude e do impacto daviolência;— a compreensão de quais são os fatores queaumentam o risco de vitimização e perpetraçãoviolentas;— o conhecimento dos programas deprevenção contra a violência.Alguns desses tipos de dados e fontes estão
descritos na Tabela 1.1.
Dados relacionado à mortalidade Os dados de fatalidades, especialmente de
homicídio, e de suicídio e mortes relacionadasa guerras podem fornecer um indicativo doalcance da violência letal em uma determinadacomunidade ou em um dado país . Quandocomparados às estatísticas referentes a outrasmortes, esses dados são indicadores úteis dacarga imposta pe las lesões re lac ionadas àviolência. Esses dados também podem ser úteispa ra o mon i to ramen to das mudanças nav io lênc ia fa ta l no decor re r do t empo ,identificando os grupos e as comunidades sobalto risco de violência e fazendo comparaçõesnos países e entre os países.
Outros Tipos de dadosOs números referentes à mortalidade, contudo,
são apenas um dos tipos de dados possíveis paradescrever a magnitude do problema. Uma vez queos resultados não fatais são muito mais comunsdo que os fatais, e posto que certos tipos deviolência não estão totalmente representados pelosdados de mortalidade, são necessários outros tiposde informação. Essas informações podem ajudarna compreensão das circunstâncias dos incidentesespecíficos e na descrição de todo o impacto daviolência na saúde das pessoas e da comunidade.Dentre esses tipos de dados podemos citar:
— dados sob re doenças , l e sões e ou t rosproblemas de saúde;— dados auto-relatados pelas pessoas sobre
Uma tipologia da violênciaFIGURA 1.1
8 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
atitudes, crenças, comportamentos, práticasculturais, vitimização e exposição à violência;— dados comunitários relativos a característicasda população e níveis de renda, educação edesemprego;— dados criminais relativos a características ecircunstâncias de eventos violentos e decriminosos violentos;— dados econômicos relativos aos custos detratamentos e serviços sociais;— dados que descrevem a carga econômica sobreos sistemas de assistência à saúde e as possíveiseconomias resultantes dos programas deprevenção;— dados sobre política e legislação.
Fontes de dadosDentre as fontes potenciais dos diversos tipos
de informação podemos citar:— pessoas;— registros das agências ou instituições;— programas locais;— registros comunitários e governamentais;— pesquisas populacionais e outras;— estudos especiais.Apesar de não constar da Tabela 1.1, quase
todas as fontes incluem informações demográficasbásicas, tal como a idade e o gênero (sexo) dapessoa. Algumas fontes – inclusive registrosmédicos, registros policiais, atestados de óbito erelatórios funerários – incluem informaçõesespecíficas sobre o acontecimento violento ou alesão. Os dados obtidos a partir de departamentos
de emergência, por exemplo,podem fornecer informaçõessobre a natureza da lesão, amaneira como a vítima foiassist ida, o local e omomento em que o incidenteocorreu. Os dados coletadospela polícia podem incluirinformações sobre orelacionamento entre avítima e o perpetrador, sehavia armas e outrascircunstâncias relativas aocrime.
As pesqu i sas e osestudos especiais podemfornecer informações
detalhadas sobre a vítima ou o perpetrador, seusantecedentes, suas atitudes, seus comportamentose possíveis envolvimentos anter iores comviolência. Essas fontes também podem ajudar arevelar a violência que não é relatada para a políciaou para outras agências. Por exemplo, uma pesquisadoméstica na África do Sul mostrou que, semrelatar o incidente à polícia, de 50% a 80% dasvítimas de violência receberam tratamento médicopara uma lesão relacionada à violência (6). Em outroestudo, realizado nos Estados Unidos, 46% dasvítimas que buscaram tratamento de emergêncianão fizeram denúncia para a polícia (7).
Problemas na coleta de dadosDentro dos países e entre eles, para comparar
os t ipos de violência, variam bastante adisponibilidade, qualidade e util idade dasdiferentes fontes de dados. No que diz respeito àcapacidade de coleta de dados, os países seencontram em diferentes estágios.
Disponibilidades de dadosDe todas as fontes, os dados relacionados à
mortalidade são os mais coletados e, dentre todos,os mais disponíveis. Muitos países mantêmcertidões de nascimento e de óbito, bem como uminventário básico dos homicídios e suicídios.Contudo, nem sempre é possível calcular os índicescom base em tais inventários, principalmenteporque em geral não se tem dados populacionaisdisponíveis, ou eles não são confiáveis. Issoacontece especialmente onde as populações estão
CAPÍTULO 1. VIOLÊNCIA - UM PROBLEMA MUNDIAL DE SAÚDE PÚBLICA • 9
em movimento – em áreas, por exemplo, que estejampassando por conflitos ou movimentos contínuosentre grupos populacionais - ou onde é difícil contaras populações, como acontece em áreas densamentepovoadas ou muito distantes.
Na maioria dos países do mundo, normalmentenão há dados sistemáticos sobre resultados nãofatais, embora atualmente estejam sendodesenvolvidos sistemas para coleta desses tipos dedados. Nos últimos anos, foram publicados diversosdocumentos com diretrizes para medir diferentes tiposde violência em diversos cenários (8-14).
Qualidade dos dadosMesmo quando há dados disponíveis, a
qualidade das informações pode não ser adequadapara fins de pesquisa e para identificar estratégias deprevenção. Uma vez que as agências e as instituiçõesmantêm registros voltados para seus própriosobjetivos, seguindo seus procedimentos internos paraa manutenção dos registros, seus dados podem estarincompletos ou pode não haver as informaçõesnecessárias para proporcionar uma compreensãoadequada sobre a violência.
Os dados fornecidos pelos estabelecimentos desaúde são coletados com o objetivo de oferecer umexcelente tratamento para o paciente. O registromédico pode conter informações de diagnóstico sobrea lesão e o tratamento, mas não conter ascircunstâncias relacionadas à lesão. Esses dadospodem, ainda, ser confidenciais e, portanto, nãoestarem disponíveis para fins de pesquisa. Por outrolado, as pesquisas contêm informações maisdetalhadas sobre a pessoa, seus antecedentes e seuenvolvimento com a violência. Contudo, essasinformações são limitadas até o ponto em que a pessoase lembra dos eventos e admite participar dedeterminados comportamentos, e mesmo pela formacomo as perguntas são feitas e por quem são feitas,assim como o momento, o local e a maneira como aentrevista é conduzida.
Outros obstáculosNo que diz respeito à pesquisa sobre violência,
estabelecer o vínculo entre as informações dediferentes fontes é o problema mais difícil. Em geral,os dados relativos à violência vêm de diversasorganizações, que funcionam independes umas dasoutras. Assim, dados fornecidos pela área médicanormalmente não podem ser cruzados com dados
coletados pela polícia. Além disso, há uma falta geralde uniformidade na forma como os dados sobreviolência são coletados, o que dificulta a comparaçãodesses dados entre comunidades e países.
Apesar de estar além do âmbito desta discussão,há diversos outros problemas na coleta de dadosrelativos à violência que devem ser mencionados.Dentre eles podemos citar:
– a dificuldade em desenvolver medidas que sejamrelevantes e específicas para grupos desubpopulação e diferentes contextos culturais (8,9, 11, 14);– criar protocolos adequados para proteger aconfidencialidade das vítimas e garantir suasegurança (15);– uma série de outras considerações éticasassociadas à pesquisa sobre violência.
Um panorama geral sobre oconhecimento atual
A prevenção contra a violência, de acordo com aabordagem da saúde pública, começa com umadescrição da magnitude e do impacto do problema.Esta seção descreve o que se sabe atualmente sobreos padrões globais da violência, utilizando dadoscompilados para este relatório obtidos a partir dobanco de dados referente à mortalidade daOrganização Mundial da Saúde e a primeira versãodo projeto Carga Global de Doença (Global Burdenof Disease), da Organização Mundial da Saúde, de2000, bem como dados de pesquisas e estudosespeciais sobre violência.
Estimativas de mortalidadeEm 2000, estima-se que morreram 1,6 milhões de
pessoas no mundo inteiro como resultado deviolência auto-infligida, interpessoal ou coletiva, paraum índice geral, ajustado por idade, de 28,8 para umapopulação de 100 mil habitantes (ver Tabela 1.2).
A maior parte dessas mortes ocorreu em paísesde renda baixa e renda média. Menos de 10% detodas as mortes relacionadas à violência ocorreramem países de renda alta.
Cerca de metade desses 1,6 milhões de mortesrelacionadas à violência foram suicídios, quase umterço foi de homicídios e cerca de um quinto estavarelacionado a guerras.
Mortalidade segundo gênrero e idadeComo muitos outros problemas de saúde no
mundo, a violência não está distribuída igualmenteentre os gêneros ou faixas etárias. Em 2000, houveaproximadamente 520 mil homicídios, para umíndice geral ajustado por idade de 8,8 para umapopulação de 100 mil habitantes (ver Tabela 1.2).Os homens foram responsáveis por 77% de todos oshomicídios e seus índices representaram mais de trêsvezes o índice das mulheres (13,6 e 4,0respectivamente, para cada 100 mil) (ver Tabela 1.3).Os maiores índices de homicídio no mundo estãoentre os homens na faixa etária de 15 a 29 anos(19,4 para cada 100 mil), seguido bem de perto peloshomens na faixa etária de 30 a 44 anos (18,7 paracada 100 mil).
No mundo todo, o suicídio levou a vida deaproximadamente 815 mil pessoas em 2000, paraum índice geral ajustado por idade de 14,5 paracada 100 mil (ver Tabela 1.2). Mais de 60% de todosos suicídios ocorreram entre homens, mais dametade deles na faixa etária de 15 a 44 anos. Tantopara homens quanto para mulheres, o índice desuicídio aumenta em proporção à idade e é maisalto entre as pessoas que têm 60 anos ou mais (verTabela 1.3). Contudo, de forma geral, os índices desuicídio são maiores entre os homens do que entreas mulheres (18,9 para cada 100 mil contra 10,6 paracada 100 mil). Isso acontece principalmente entreas faixas etárias mais altas onde, no mundo inteiro,os índices de suicídio entre homens na faixa etáriade 60 anos é duas vezes maior do que os índicesde suicídio de mulheres na mesma faixa etária (44,9para cada 100 mil contra 22,1 para cada 100 mil).
Mortalidade segundo o nível de rendado país e região
Os índices de morte violenta variam conforme
10 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
os níveis de renda do país. Em 2000, o índicede mortes violentas em países de renda baixa amédia foi de 32,1 para cada 100 mil habitantes,mais do que o dobro do índice em países dealta renda (14,4 para cada 100 mil) (ver Tabela1.2).
Há também consideráveis diferençasregionais nos índices de morte violenta. Essasdiferenças ficam evidentes, por exemplo, entreas regiões da OMS (ver Figura 1.2). Nas regiõesda África e das Américas, os índices dehomicídio são quase três vezes maiores do que
os índices de suicídio. Contudo, nas regiões daEuropa e sudeste da Ásia, os índices de suicídiosão mais do que o dobro dos índices de homicídio(19,1 para cada 100 mil contra 8,4 para cada 100 milna região européia, e 12,0 para cada 100 mil contra5,8 para cada 100 mil para a região do sudeste daÁsia), e na região do Pacífico Ocidental, os índicesde suicídio são cerca de seis vezes maiores do queos índices de homicídio (20,8 para cada 100 milcontra 3,4 para cada 100 mil).
Também há grandes diferenças entre os paísesem cada região. Em 1994, por exemplo, o índice dehomicídio entre homens na Colômbia foi de 146,5para cada 100 mil, enquanto os índicescorrespondentes em Cuba e no México foram 12,6 e32,3 para cada 100 mil respectivamente (16). Dentrodos países há, ainda, enormes diferenças entre aspopulações urbanas e rurais, entre grupos ricos epobres e entre diferentes grupos raciais e étnicos.Por exemplo, nos Estados Unidos, em 1999, os jovensafro-americanos na faixa etária de 15 a 24 anosapresentaram um índice de homicídio (38,6 para cada100 mil) acima de duas vezes maior do que o doshispânicos (17,3 para cada 100 mil), e mais de 12 vezeso índice de suas contrapartes caucasianas e nãohispânicas (3,1 para cada 100 mil) (17) .
Estimativa de violência não fatalOs números supracitados relativos à mortalidade
certamente subestimam o verdadeiro ônus daviolência. No que diz respeito à violência, em todasas partes do mundo as mortes representam a"pontado iceberg". Ataques físicos e sexuais ocorremtodos os dias, apesar de não haver estimativasnacionais e internacionais precisas sobre cada umdeles. Nem todos os ataques resultam em lesõesgraves o bastante para necessitarem de assistênciamédica e, mesmo entre os que resultam em lesõesgraves, os sistemas de vigilância [surveillance] paracoletar dados relativos a essas lesões e prepararrelatórios sobre elas, inexistem ou ainda estão sendodesenvolvidos em muitos países.
Muito do que se sabe sobre a violência não fatalprovém de pesquisas e estudos especiais emdiferentes grupos populacionais. Por exemplo, empesquisas nacionais, o percentual de mulheres querelataram ter sofrido pelo menos uma vez umaagressão física por parte de um parceiro íntimo varioude 10% no Paraguai e nas Filipinas, para 22,1% nosEstados Unidos, 29,0% no Canadá e 34,4% no Egito(18-21). A proporção de mulheres de várias cidadesou províncias ao redor do mundo que relataram tersido sexualmente agredidas (inclusive vítimas detentativa de agressão) variou de 15,3% em Torontono Canadá, a 21,7% em León na Nicarágua, 23,0% emLondres na Inglaterra e 25,0% em uma província deZimbábue (21-25). No ano passado, entreadolescentes do sexo masculino cursando o ensinomédio, o percentual de envolvimento em luta físicavariou de 22,0% na Suécia e 44,0% nos EstadosUnidos para 76,0% em Jerusalém, Israel (26-28).
FIGURA 1.2
Índices de homicídio e suicídio por região da OMS, 2000
Um ponto importante, neste aspecto, é que essesdados são fundamentados principalmente emdepoimentos dados pelas próprias pessoas. É difícilsaber se eles sobrestimam ou subestimam a realabrangência das agressões físicas e sexuais entreesses grupos populacionais. Certamente nos paísesem que há pressões culturais mais fortes para mantera violência "entre quatro paredes" ou simplesmentepara aceitá-la como "natural", a violência não fatalparece ser subestimada nos relatórios. As vítimaspodem relutar em discutir as experiências violentas,não só devido à vergonha e aos tabus, mas tambémpor terem medo. Em alguns países, admitir que passoupor determinados eventos violentos, tais comoestupro, pode resultar em morte. Em certas culturas,a preservação da honra da família é um motivotradicional para matar as mulheres que foramestupradas (as chamadas "mortes pela honra").
Os custos da violênciaA violência impõe ônus humanos e econômicos
aos países, e custa anualmente muitos bilhões dedólares em assistência à saúde, custos legais,absenteísmo e produtividade perdida. Nos EstadosUnidos, um estudo realizado em 1992 estimou em126 bilhões de dólares os custos anuais diretos eindiretos devidos a ferimentos à bala. Ferimentospor corte ou facadas custaram mais 51 bilhões dedólares (29). Em um estudo realizado em 1996, naprovíncia canadense de New Brunswick, o custototal devido a morte por suicídio foi acima de 849 mildólares. Os custos totais diretos e indiretos,inclusive os custos com serviços de assistência àsaúde, autópsias, investigações policiais e
CAPÍTULO 1. VIOLÊNCIA - UM PROBLEMA MUNDIAL DE SAÚDE PÚBLICA • 11
12 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
produtividade perdida resultante de morteprematura, totalizaram aproximadamente 80 milhõesde dólares (30).
O alto custo da violência não é exclusivo doCanadá ou dos Estados Unidos. Entre 1996 e 1997, oBanco Interamericano de Desenvolvimentopatrocinou estudos sobre a magnitude e o impactoeconômico da violência em seis países da AméricaLatina (31) . Cada estudo avaliou os gastosresultantes de violência, em serviços de assistênciaà saúde, aplicação da lei e serviços judiciários, bemcomo prejuízos intangíveis e prejuízos com atransferência de bens. Expresso como um percentualdo produto interno bruto (PIB), em 1997, o custo dosgastos com assistência à saúde, resultantes daviolência, foi de 1,9% do PIB no Brasil, 5,0% naColômbia, 4,3% em El Salvador, 1,3% no México, 1,5%no Peru e 0,3% na Venezuela.
É difícil calcular precisamente a carga de todos ostipos de violência sobre os sistemas de assistência àsaúde, ou seus efeitos sobre a produtividadeeconômica no mundo todo. A evidência disponívelmostra que as vítimas de violência doméstica e sexualtêm mais problemas de saúde, custos com assistênciaà saúde significativamente mais elevados e vão commaior freqüência aos departamentos de emergênciado que as pessoas que não têm um histórico de abuso(ver Capítulos 4 e 6). O mesmo é válido para as vítimasde abuso e negligência na infância (ver Capítulo 3).Esses custos contribuem substancialmente para osgastos anuais com assistência à saúde.
Uma vez que, de forma geral, as estimativas decusto nacional não levam em conta também outrosproblemas de saúde, tais como depressão, tabagismo,abuso de álcool e drogas, gravidez indesejada, vírusde imunodeficiência adquirida/síntoma deimunodeficiência adquirida (HIV/AIDS/SIDA), outrasdoenças sexualmente transmissíveis e outrasinfeções (em estudos de pequena escala, todasvinculadas à violência) (32 - 37), ainda não é possívelcalcular a carga global econômica desses problemas,uma vez relacionados à violência.
Analisando as raízes da violência: ummodelo ecológico
Não há um fator único que explique por quealgumas pessoas se comportam de forma violenta emrelação a outras, ou porque a violência ocorre maisemalgumas comunidades do que em outras. A violênciaé o resultado da complexa interação de fatoresindividuais, de relacionamento, sociais, culturais e
ambientais. Entender como esses fatores estãorelacionados à violência é um dos passos importantesna abordagem de saúde pública para evitar aviolência.
Vários níveisOs capítulos deste relatório aplicam um modelo
ecológico para ajudar a compreensão da naturezamultifacetada da violência. Introduzido pela primeiravez ao final da década de 1970 (38, 39), este modeloecológico foi inicialmente aplicado ao abuso infantil(38) e, posteriormente, à violência juvenil (40,41).Mais recentemente, os pesquisadores têm usado essemodelo para entender a violência praticada peloparceiro íntimo (42, 43) e o abuso contra os idosos(44, 45). O modelo explora a relação entre fatoresindividuais e contextuais e considera a violência comoo resultado de vários níveis de influência sobre ocomportamento (ver Figura 1.3).
IndividualO primeiro nível do modelo ecológico busca
identificar os fatores históricos - biológicos epessoais – que uma pessoa traz em seucomportamento. Além dos fatores biológicos edemográficos, são levadosem consideração outrosfatores tais como impulsividade, baixo rendimentoescolar, abuso de substâncias [tóxicas] e históricode agressão e abuso. Em outras palavras, este níveldo modelo ecológico se concentra nas característicasda pessoa que aumentam a possibilidade de ela seruma vítima ou um perpetrador da violência.
RacionalO segundo nível do modelo econômico explora
como as relações sociais próximas – por exemplo,relações com companheiros, parceiros íntimos emembros da família – aumentam o risco paravitimização violenta e perpetração da violência. Noscasos de violência de parceiro e maus tratos àcriança, por exemplo, a interação quase diária ou oconvívio em uma casa com alguém que pratiqueabuso podem aumentar a oportunidade deconfrontos violentos. Como as pessoas sãoobrigadas a um relacionamento contínuo, éprovável que, nesses casos, a ví t ima sofrarepetidos abusos praticados pelo criminoso (46).No caso de violência interpessoal entre jovens, aspesquisas mostram que jovens têm maior
CAPÍTULO 1. VIOLÊNCIA - UM PROBLEMA MUNDIAL DE SAÚDE PÚBLICA • 13
probabilidade de entrar em atividades negativasquando tais comportamentos são incentivados eaprovados pelos amigos (47, 48). Os companheiros,parceiros íntimos e membros da família têm poderpara moldar o comportamento de uma pessoa e asua esfera de experiências.
ComunitárioO terceiro nível do modelo ecológico analisa
os contextos comunitários em que as relaçõesestão embutidas - como escolas, locais de trabalhoe vizinhança - e busca identificar as característicasdesses cenários que estão associadas ao fato dea pessoa ser vítima ou perpetrador da violência.Um alto nível de mobilidade residencial (em queas pessoas não ficam por muito tempo em umamesma moradia e mudam-se muitas vezes), aheterogeneidade (população muito diversa, compouco "vínculo" social que una as comunidades)e alta densidade populacional são exemplosdessas características e todas têm sido associadasà violência. Da mesma forma, as comunidadescaracterizadas por problemas como tráfico dedrogas, altos níveis de desemprego ou grandeisolamento social (por exemplo, pessoas que nãoconhecem seus v iz inhos ou que não têmenvolvimento algum com sua comunidade)também têm maior probabilidade de vivenciar aviolência. Pesquisas sobre violência mostram queas oportunidades de que ela ocorra são maioresem alguns contextos comunitários do que emoutros, por exemplo, em áreas de pobreza oudeterioração física, ou onde há pouco apoio
institucional.
SocialO quarto e último nível do modelo ecológico
analisa os fatores sociais mais amplos que influenciam
FIGURA 1.3
Modelo ecológico para compreender a violência
os índices de violência. Aqui se incluem os fatoresque criam um clima favorável à violência, os que
reduzem as inibições contra violência eaqueles que criam e sustentam lacunasentre os diferentes segmentos dasociedade - ou tensões entre diferentesgrupos ou países. Os principais fatoressociais incluem:- normas culturais que apoiam aviolência como uma forma aceitável parasolucionar conflitos;
- atitudes que consideram o suicídio como umaquestão de escolha individual em vez de um atode violência que pode ser evitado;- normas que dão prioridade aos direitos dos paissobre o bem-estar da criança;- normas que reafirmam o domínio masculino sobreas mulheres e crianças;- normas que validam o uso abusivo da força pelapolícia contra os cidadãos;- normas que apoiam os conflitos políticos.Os fatores sociais mais amplos incluem ainda as
políticas de saúde, educacionais, econômicas esociais que mantêm altos os níveis de desigualdadeeconômica e social entre os grupos na sociedade(ver Quadro 1.2).
A estrutura ecológica enfatiza as diversas causasda violência e a interação dos fatores de risco dentroda família e de contextos mais abrangentes, como ocomunitário, o social, o cultural e oeconômico.Colocado em um contexto dedesenvolvimento, o modelo ecológico também mostracomo a violência pode ser causada por diferentesfatores em diferentes estágios da vida.
Vínculos complexosEnquanto alguns fatores de risco podem ser
únicos para um determinado tipo de violência, osvários tipos de violência normalmente compartilhamalguns fatores de risco. As normas culturaispredominantes, a pobreza, o isolamento social efatores como abuso de álcool, abuso de substânciase acesso a armas de fogo são fatores de risco ligadosa mais de um tipo de violência. Como conseqüência,não é raro que algumas pessoas sob risco de violênciavivenciem mais de um tipo de violência. As mulheressob risco de violência física por parceiros íntimos,por exemplo, também estão sob risco de violênciasexual (18).
Também não é raro detectar vínculos entre
14 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
QUADRO 1.2
Globalização: as implicações para a prevenção cintra a violênciaA globalização corroeu as fronteiras funcionais e políticas que separavam as pessoas em Estados
soberanos com uma movimentação e uma troca de informações, idéias, serviços e produtos cada vezmais rápidas e abrangentes. Por um lado, esse fato tem levado a uma enorme expansão no comérciomundial acompanhada por uma demanda por maiores resultados econômicos, criando milhões deempregos e aumentando os padrões de vida em alguns países, de uma forma nunca antes imaginada. Poroutro lado, os efeitos da globalização têm sido marcadamente desiguais. Em algumas partes do mundo,a globalização tem levado a desigualdades maiores em termos de renda e ajudou a destruir fatores, comoa coesão social, que protegem contra a violência interpessoal.
Os benefícios e os obstáculos para se evitar a violência resultante da globalização podem ser resumidoscomo segue.
Os efeitos positivosO grande aumento no compartilhamento de informações provocado pela globalização tem produzido
novas redes e alianças internacionais que têm potencial para melhorar o alcance e a qualidade dos dadoscoletados sobre violência. Nos locais onde a globalização aumentou os padrões de vida e ajudou areduzir as desigualdades, há uma maior possibilidade de que as intervenções econômicas que estãosendo utilizadas diminuam as tensões e os conflitos, tanto dentro dos Estados quanto entre eles. Alémdo mais, a globalização cria novas formas de se utilizar mecanismos globais:
Para realizar pesquisas sobre violência - especialmente sobre fatores sociais, econômicos epolíticos que transcendem as fronteiras nacionais.Para incentivar atividades de prevenção contra a violência em escala regional ou global.Para implementar leis internacionais e tratados elaborados para reduzir a violência.Para apoiar esforços de prevenção contra a violência nos países, especialmente para aquelescom capacidade limitada para realizar tais atividades.
Os efeitos negativosAs sociedades com níveis já elevados de desigualdade, que vivenciam um aumento do descompasso
entre ricos e pobres em conseqüência da globalização, provavelmente testemunharão um aumento naviolência interpessoal. A rápida mudança social em um país, como resposta às fortes pressões globais -como aconteceu, por exemplo, em alguns Estados da antiga União Soviética -, pode sobrepujar oscontroles sociais existentes para o comportamento e, assim, criar condições para um elevado nível deviolência. Além disso, como resultado da globalização, a remoção das restrições de mercado e incentivoscada vez maiores para que se vise a lucros podem levar, por exemplo, a um acesso muito mais livre aoálcool, às drogas e a armas de fogo, a despeito dos esforços para se reduzir o uso das armas emincidentes violentos.
A necessidade de respostas globaisA violência não pode continuar sendo um assunto exclusivo das políticas nacionais, mas deve ser
tratada também em nível global - através do agrupamento de Estados, organismos internacionais e redesinternacionais de organizações governamentais e não governamentais. Esses esforços internacionaisdevem visar à utilização dos aspectos positivos da globalização para um bem maior, enquanto lutam paradiminuir os aspectos negativos.
CAPÍTULO 1. VIOLÊNCIA - UM PROBLEMA MUNDIAL DE SAÚDE PÚBLICA • 15
diferentes tipos de violência. As pesquisas têmmostrado que a exposição à violência no lar estáassociada ao fato de a pessoa ser uma vítima ou umperpetrador da violência na adolescência ou na faseadulta (49) . A experiência de ser rejeitada,negligenciada ou de sofrer indiferença por parte dospais, deixa a criança sob um risco maior decomportamento agressivo e anti-social, inclusive decomportamento abusivo quando adulto (50-52).Foram encontradas associações entre ocomportamento suicida e os diversos tipos deviolência, inclusive maus tratos à criança (53, 54),violência praticada por parceiro íntimo (33, 55),agressão sexual (53) ou abuso contra idosos (56,57). Em Sri Lanka, os índices de suicídio mostraramuma queda durante o período de guerra e aumentaramsomente depois que o violento conflito terminou (58).Em muitos países que passam por conflitos violentos,os índices de violência interpessoal permanecem altosmesmo depois do término das hostilidades - entreoutros motivos, porque a forma de violência tornou-se mais aceita socialmente e devido à disponibilidadede armas.
Os vínculos entre os tipos de violência e ainteração entre os fatores individuais e os contextossociais, culturais e econômicos mais abrangentesindicam que lidar com os fatores de risco nos diversosníveis do modelo ecológico pode contribuir parareduções em mais de um tipo de violência.
Como a violência pode ser evitada?Os dois primeiros estágios do modelo de saúde
pública fornecem informações importantes sobre aspopulações que necessitam de intervençõespreventivas, assim como sobre os fatores de risco ede proteção que precisam ser tratados. Uma dasprincipais metas da saúde pública é colocar esseconhecimento em prática.
Tipos de prevençãoAs intervenções de saúde pública são,
tradicionalmente, caracterizadas em termos de níveisde prevenção:
• Prevenção primária - abordagens que visam aevitar a violência antes que ela ocorra.• Prevenção secundária - abordagens que têmcomo foco as respostas mais imediatas à violência,tais como assistência pré-hospitalar, serviços deemergência ou tratamento de doenças sexualmentetransmitidas após um estupro.
• Prevenção terciária - abordagens que visam àassistência em longo prazo no caso de violência,tais como reabilitação e reintegração, e tentamdiminuir o trauma ou reduzir a invalidez de longoprazo associada à violência.Esses três níveis de prevenção são definidos por
seu aspecto temporal, seja a prevenção anterior àviolência, imediatamente após a violência ou em longoprazo. Apesar de tradicionalmente serem aplicados avítimas de violência e no âmbito da assistência àsaúde, os esforços de prevenção secundários eterciários também são considerados relevantes paraos perpetradores da violência e são aplicados emâmbito judiciário como resposta à violência.
Os pesquisadores no campo da prevenção contraa violência têm cada vez mais se voltado para umadefinição de prevenção que visa a um grupo alvo deinteresse. Essa definição agrupa as intervenções daseguinte forma (59):
• Intervenções universais - abordagens que visama grupos ou à população em geral, sem levar emconsideração o risco individual. Dentre osexemplos, podemos citar os currículos deprevenção contra a violência fornecidos a todosos estudantes nas escolas ou a crianças de umadeterminada faixa etária, bem como campanhas demídia para a comunidade.• Intervenções selecionadas - abordagensvoltadas para pessoas consideradas como estandosob maior risco de violência (que apresentam umou mais fatores de risco de violência). Dentre osexemplos desta intervenção está o treinamentovoltado para a criação de crianças oferecido a paisde baixa renda ou pais solteiros.• Intervenções indicadas - abordagens voltadasàqueles que já demonstraram comportamentoviolento, tais como tratamento para perpetradoresde violência doméstica.
Até hoje, muitos esforços em paísesindustrializados e emergentes têm enfatizado asrepostas secundárias e terciárias à violência. Épossível entender que normalmente seja dadaprioridade às conseqüências imediatas da violência,dando apoio às vítimas e punindo os criminosos. Taisrespostas, mesmo sendo importantes e precisandoser fortalecidas, devem ser acompanhadas por ummaior investimento na prevenção primária. Umaresposta abrangente à violência é aquela que não sóprotege e apoia as vítimas da violência, mas também
16 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
promove a não violência, reduz a perpetração daviolência e muda as circunstâncias e condições que
primordialmente dão origem à violência.
Respostas multifacetadasComo a violência é um problema multifacetado,
com raízes biológicas, psicológicas, sociais eambientais, é necessário confrontá-lasimultaneamente em diversos níveis. Neste sentido,o modelo ecológico serve a dois propósitos: cadanível do modelo representa um nível de risco e cadanível também pode ser encarado como um pontoprincipal para a intervenção.
Para se lidar com a violência em diversos níveis énecessário:
• Tratar de fatores de risco individuais e adotarmedidas para modificar os comportamentosindividuais de risco;• Influenciar relacionamentos pessoais próximose trabalhar para criar ambientes familiaressaudáveis, assim como oferecer ajuda profissionale apoio às famílias que apresentam disfunções;• Monitorar locais públicos, como escolas, locaisde trabalho e bairros, e adotar medidas para tratarde problemas que possam levar à violência;• Lidar com a desigualdade de gênero e com asatitudes e práticas culturais adversas;• Lidar com os fatores culturais, sociais eeconômicos mais abrangentes, que contribuempara a violência, e adotar medidas para mudá-los,inclusive medidas para acabar com odescompasso entre o rico e o pobre e para garantirum acesso igual a bens, serviços e oportunidades.
Documentando respostas efetivasUma regra geral fundamental para a abordagem
da saúde pública em relação à violência é que todosos esforços, sejam grandes ou pequenos, devem serrigorosamente avaliados. Documentar as respostasexistentes e estimular uma avaliação estritamentecientífica das intervenções em diferentes cenários éde grande valia para todos. Esses passos sãoparticularmente necessários para outras pessoas queestejam tentando determinar respostas as maisefetivas à violência e estratégias que podem fazerdiferença.
Reunir toda as evidências e experiênciasdisponíveis também é um fator extremamente útil paraa defesa da causa, uma vez que dá aos responsáveispela tomada de decisões a garantia necessária de
que algo pode ser feito. Ainda mais importante é ofato de que, com isso, eles têm um valioso guia sobrequais os esforços que provavelmente reduzirão aviolência.
Equilibrando a ação da saúde públicaUma pesquisa rigorosa leva tempo para produzir
resultados. O impulso para investir apenas emabordagens testadas não deve ser um obstáculo paradar apoio a abordagens promissoras. Abordagenspromissoras são aquelas que foram avaliadas, masainda precisam de maiores testes, em diversoscenários e com grupos populacionais diferentes.
É também de bom alvitre testar diversosprogramas e usar as iniciativas e as idéias dascomunidades locais. A violência é um problema queexerce demasiada pressão, para postergar a ação dasaúde pública enquanto se espera pelo conhecimentoperfeito.
Lidando com as normas culturaisEm várias partes do mundo, algumas vezes, a
especificidade cultural e a tradição são usadas comojustificativas para determinadas práticas sociais queperpetuam a violência. A opressão das mulheres éum dos exemplos mais citados, mas também podemosmencionar muitos outros.
As normas culturais devem ser tratadas comsensibilidade e respeito em todos os esforços deprevenção – com sensibilidade, porque as pessoasnormalmente têm ligações apaixonadas com as suastradições; e com respeito, porque a culturanormalmente é uma fonte de proteção contra aviolência. A experiência provou que, por ocasião daelaboração e da implementação dos programas, éimportante fazer consultas prévias e constantes comos líderes religiosos e tradicionais, com grupos leigose figuras de destaque na comunidade, tal comocurandeiros.
Ações contra a violência em todos osníveis
No longo prazo, o sucesso na prevenção contra aviolência dependerá cada vez mais de abordagensabrangentes em todos os níveis.
CAPÍTULO 1. VIOLÊNCIA - UM PROBLEMA MUNDIAL DE SAÚDE PÚBLICA • 17
Nível localEm nível local, os parceiros poderão ser
provedores de assistência à saúde, polícia,educadores, assistentes sociais, empregadores efuncionários do governo. Muito pode ser feito parapromover a prevenção contra a violência. Programaspiloto em pequena escala e projetos de pesquisapodem fornecer os meios para se testar as idéias e -talvez igualmente importante - para que diversosparceiros se acostumem a trabalhar juntos. Para osucesso desse tipo de cooperação, são essenciaisestruturas, tais como grupos ou comissões detrabalho, que reúnem diferentes setores e mantêmcontatos formais e informais.
Nível nacionalComo no nível local, também em nível nacional as
parcerias multissetoriais são altamenteaconselháveis. Diversos ministérios do governo – enão só os responsáveis pela aplicação da lei, pelosserviços sociais e de saúde – têm importantescontribuições para dar na prevenção contra aviolência. Os ministérios da educação são parceirosóbvios, dada a importância da intervenção nasescolas. Os ministérios do trabalho podem fazer muitopara reduzir a violência no local de trabalho,especialmente em cooperação com sindicatos eempregadores (ver Quadro 1.3). No que diz respeito àviolência, os ministérios da defesa podem moldarpositivamente as atitudes de vários jovens sob seucontrole, ao encorajar a disciplina, promover códigosde honra e ao promover uma grande conscientizaçãoa respeito da letalidade das armas de fogo. Aslideranças e as organizações religiosas têm um papela desempenhar em seu trabalho pastoral e, quandocabível, ao oferecer seus bons préstimos para fazer amediação em problemas específicos.
Nível globalComo já foi mostrado, por exemplo, na resposta
internacional à AIDS e no campo de assistência adesastres, em nível global, a cooperação e a troca deinformações entre as organizações podem produzirsignificativos benefícios, da mesma forma que asparcerias em nível nacional e local. Nesse sentido, aOrganização Mundial da Saúde tem um papel globalmuito importante a desempenhar, uma vez que é aagência das Nações Unidas responsável pela saúde.Outras agências e órgãos internacionais, contudo,
também têm grandes contribuições a oferecer em seuscampos especializados. Dentre elas, podemos citar oAlto Comissariado das Nações Unidas para DireitosHumanos (no que diz respeito aos direitos humanos),o Alto Comissariado das Nações Unidas paraRefugiados (refugiados), o Fundo das Nações Unidaspara a Infância (o bem-estar das crianças), o Fundodas Nações Unidas para Mulheres e o Fundo dePopulação das Nações Unidas (saúde da mulher), oPrograma das Nações Unidas para oDesenvolvimento (desenvolvimento humano), oInstituto Inter-regional das Nações Unidas paraPesquisa em Crime e Justiça (crime) e o Banco Mundial(financiamento e governança). Diversos doadoresinternacionais, programas bilaterais, organizações nãogovernamentais e organizações religiosas já estãoenvolvidos em atividades de prevenção contra aviolência no mundo todo.
Problemas para os resposáveis pelatomada de decisões nacionais
Se a violência é altamente evitável, surge então aquestão: por que não há mais esforços para evitá-la,especialmente em nível nacional, provincial eestadual?
Um grande obstáculo é simplesmente a falta deconhecimento. Para muitos responsáveis pela tomadade decisões, a idéia de que a violência é um problemade saúde pública é nova e, na verdade, bastantecontrária à crença de que a violência é um problemacriminal. Esse é o caso especialmente de formasmenos visíveis de violência, tais como abuso decrianças, mulheres e idosos. A noção de que aviolência pode ser evitada também é nova ouquestionável para os responsáveis pela tomada dedecisões. Para muitas pessoas, uma sociedade livrede violência parece ser inatingível; um nível"aceitável" de violência, principalmente nas ruas ondevivem, parece ser muito mais realista. Para outros,paradoxalmente, o inverso é verdadeiro, uma vez quegrande parte da violência é ocultada, distante ouesporádica. Para eles, a paz e a segurança parecemser o estado predominante. Da mesma forma que setem o ar puro como certo até que o céu se cubra depoluição, a violência também deve ser tratada logoque começa a dar sinais de existência. Não é desurpreender que algumas das soluções maisinovadoras tenham partido dos níveis comunitáriose municipais do governo, precisamente aqueles que,diariamente, estão mais próximos do problema.
18 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Um segundo problema diz respeito à viabilidade dasopções políticas para combatê-la. Poucosresponsáveis pela tomada de decisões perceberam aevidência de que muitas formas de violência podemser evitadas E demasiados consideram que asabordagens tradicionais do sistema de justiça criminalsão as únicas que "funcionam". Essa visão nãoreconhece a extensão da violência na sociedade. Elaperpetua o foco sobre certas formas bastante visíveisde violência – especificamente a violência juvenil –enquanto prestam muito menos atenção a outrostipos, tais como a violência de parceiros íntimos e oabuso infantil e de idosos, para os quais o sistema de
justiça criminal é menos responsivo e menos efetivo.Um terceiro problema diz respeito à determinação.
A violência é uma questão extremamente emocionale muitos países relutam em adotar iniciativas quedesafiem atitudes ou práticas estabelecidas há muitotempo. Pode-se precisar de uma considerável coragempolítica para tentar novas abordagens em áreas comopoliciamento e segurança pública.
Com esses três problemas, há um forte papel a serdesempenhado pelos profissionais da área de saúdepública, pelas instituições acadêmicas, pelasorganizações não governamentais e pelasorganizações internacionais para ajudar os governosa aumentarem seu conhecimento e sua confiança em
QUADRO 1.3
Em muitas partes do mundo, a violência no local de trabalho é um grande fator a contribuir paramortes e lesões. Nos Estados Unidos, estatísticas oficiais colocaram o homicídio como a segundaprincipal causa de morte no local de trabalho - depois de lesões no trânsito - para os homens e a primeirapara as mulheres. Na União Européia, aproximadamente três milhões de trabalhadores (2% da mão deobra) têm sido sujeitos à violência física no trabalho. Estudos sobre trabalhadoras migrantes das Filipinasmostraram que muitas, especialmente as que trabalham em serviços domésticos ou na indústria de lazer,são desproporcionalmente afetadas pela violência em seus trabalhos.
A violência no trabalho envolve não somente o comportamento físico, mas também o psicológico.Muitos trabalhadores são sujeitos a comportamentos prepotentes agressivos [bullying], assédio sexual,ameaças, intimidações e outras formas de violência psicológica. Uma pesquisa realizada no Reino Unidorevelou que 53% dos empregados foram vítimas de comportamento agressivo no trabalho e 78%testemunharam tal comportamento. Na África do Sul, as hostilidades no local de trabalho são consideradascomo "excepcionalmente elevadas" e um estudo recente mostrou que 78% dos pesquisados haviampassado por comportamento prepotente agressivo em seu local de trabalho.
Repetidos atos de violência - desde comportamentos prepotentes agressivos, assédio sexual eameaças até humilhação e deterioração moral dos trabalhadores - também podem evoluir cumulativamentepara casos muito graves. Na Suécia, estima-se que, em 10 a 15% dos suicídios, um dos fatores tenha sidotal comportamento.
Os custosA violência no local de trabalho causa uma ruptura imediata e, muitas vezes, de longo prazo nos
relacionamentos interpessoais, bem como desagrega o ambiente de trabalho como um todo. Os custos dessaviolência incluem:
Custos diretos - efeitos colaterais de pontos como:— acidentes;— enfermidades;— invalidez e morte;— absenteísmo;— rotatividade de funcionários.
Custos indiretos, inclusive:— menor desempenho no trabalho;— menor qualidade dos produtos ou do serviço, e produção mais lenta;
Uma abordagem abrangente para evitar a violência no trabalho
CAPÍTULO 1. VIOLÊNCIA - UM PROBLEMA MUNDIAL DE SAÚDE PÚBLICA • 19
— diminuição na competitividade; Custos mais intangíveis, inclusive:
— danos à imagem de uma organização;— menor motivação e moral mais baixa;— menor lealdade para com a organização;— níveis mais baixos de criatividade;— um ambiente menos condutivo ao trabalho.
As respostasAo lidar com a violência em outros cenários, é necessária uma abordagem abrangente. A violência no
trabalho não é simplesmente um problema individual, que acontece de tempos em tempos, mas sim umproblema estrutural com causas socioeconômicas, culturais e organizacionais muito mais amplas.
A resposta tradicional à violência no trabalho, fundamentada exclusivamente na disciplina regulamentar,não atinge muitas situações no local de trabalho. Uma abordagem mais abrangente tem como foco as causasda violência no local de trabalho. Ela visa a fazer com que a saúde, a segurança e o bem-estar dos trabalhadoressejam partes integrantes do desenvolvimento da organização.
O tipo de pacote sistemático e direcionado para se evitar a violência no trabalho que está sendo cada vezmais adotado inclui: — a colaboração ativa das organizações de empregados e de empregadores na formulação de políticas e programas claros contra a violência no local de trabalho;— apoio à legislação e às diretrizes do governo nacional e local;— a divulgação de estudos de caso sobre práticas recomendadas na prevenção contra a violência no trabalho;— melhorias no ambiente de trabalho, estilos de gerenciamento e organização do trabalho;— maiores oportunidades de treinamento;— aconselhamento e apoio às pessoas afetadas.
Ao fazer o vínculo direto da saúde e da segurança com o gerenciamento e desenvolvimento de umaorganização, essa abordagem abrangente oferece os meios para uma ação imediata e sustentável para eliminara violência no local de trabalho.
(continuação)
intervenções que podem funcionar. Parte destepapel é a defesa, utilizando a educação e informaçõescientíficas. A outra parte é um parceiro ou consultorque ajude a desenvolver políticas e a elaborar ou
implementar as intervenções.
ConclusãoA saúde pública diz respeito à saúde e ao bem-
estar das populações como um todo. A violênciaimpõe uma carga maior ao bem-estar. O objetivo dasaúde pública é criar comunidades seguras esaudáveis no mundo todo. Uma grande prioridadehoje em dia é persuadir os mais diversos setores –nos níveis global, nacional e comunitário – acomprometerem-se com este objetivo. Osfuncionários da área de saúde pública podem fazermuito para criar planos e políticas nacionais para evitara violência, estabelecendo importantes parcerias entreos setores e assegurando a devida alocação de
recursos para os esforços de prevenção.Mesmo que não precise - e na verdade não possa
– dirigir todas as ações para evitar a violência eresponder a ela, a liderança da saúde pública tem umsignificativo papel a desempenhar. Os dadosdisponíveis para a saúde pública e para outrasagências, a compreensão e o entendimentodesenvolvidos por método científico e a dedicaçãopara descobrir respostas efetivas são importantesinstrumentos que o campo da saúde pública oferecepara a resposta global à violência.
Referências1. Mercy JA et al. Public health policy for preventingviolence. Health Affairs, 1993, 12:7-29.2. WHO Global Consultation on Violence and Health.Violence: a public health priority. Geneva, World
20 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Health Organization, 1996 (document WHO/EHA/SPI.POA.2).3. Walters RH, Parke RD. Social motivation,dependency, and susceptibility to social influence.In: Berkowitz L, ed. Advances in experimental socialpsychology. Vol. 1. New York, NY, Academic Press,1964:231-276.4. Dodge KA, Coie JD. Social information processingfactors in reactive and proactive aggression inchildren's peer groups. Journal of Personality andSocial Psychology, 1987, 53:1146-1158.5. Foege WH, Rosenberg ML, Mercy JA. Publichealth and violence prevention. Current Issues inPublic Health, 1995, 1:2-9.6. Kruger J et al. A public health approach to violenceprevention in South Africa. In: van Eeden R, WentzelM, eds. The dynamics of aggression and violence inSouth Africa. Pretoria, Human Sciences ResearchCouncil, 1998:399-424.7. Houry D et al. Emergency departmentdocumentation in cases of intentional assault. Annalsof Emergency Medicine, 1999, 34:715-719.8. WHO multi-country study on women's health anddomestic violence . Geneva, World HealthOrganization, 1999 (document WHO/FCH/GWH/02.01).9. Holder Y et al., eds. Injury surveillance guidelines.Geneva, World Health Organization (published incollaboration with the United States Centers forDisease Control and Prevention), 2001 (documentWHO/NMH/VIP/01.02).10. Sethi D, Krug E, eds. Guidance for surveillanceof injuries due to landmines and unexplodedordnance. Geneva, World Health Organization, 2000(document WHO/NMH/PVI/00.2).11. Saltzman LE et al. Intimate partner surveillance:uniform definitions and recommended data elements,Version 1.0. Atlanta, GA, National Center for InjuryPrevention and Control, Centers for Disease Controland Prevention, 1999.12. Uniform data elements for the national fatalfirearm injury reporting system. Boston, MA,Harvard Injury Control Research Center, HarvardSchool of Public Health, 2000.13. Data elements for emergency departments.Atlanta, GA, National Center for Injury Preventionand Control, Centers for Disease Control andPrevention, 1997.14. Dahlberg LL, Toal SB, Behrens CB. Measuringviolence-related attitudes, beliefs, and behaviorsamong youths: a compendium of assessment tools.Atlanta, GA, Centers for Disease Control and
Prevention, 1998.15. Putting women first: ethical and safetyrecommendations for research on domestic violenceagainst women. Geneva, World Health Organization,2001 (document WHO/FCH/GWH/01.01).16. World health statistics annual 1996. Geneva,World Health Organization, 1998.17. Anderson RN. Deaths: leading causes for 1999.National Vital Statistics Reports, 2001, 49:1-87.18. Heise LL, Ellsberg M, Gottemoeller M. Endingviolence against women. Baltimore, MD, JohnsHopkins University School of Public Health, Centerfor Communications Programs, 1999 (PopulationReports, Series L, No. 11).19. Tjaden P, Thoennes N. Full report of theprevalence, incidence, and consequences of violenceagainst women: findings from the National ViolenceAgainst Women Survey. Washington, DC, NationalInstitute of Justice, Office of Justice Programs, UnitedStates Department of Justice and Centers for DiseaseControl and Prevention, 2000.20. Rodgers K. Wife assault: the findings of a nationalsurvey. Juristat Service Bulletin, 1994, 14:1-22.21. El-Zanaty F et al. Egypt demographic and healthsurvey, 1995. Calverton, MD, Macro International,1996.22. Randall M et al. Sexual violence in women's lives:findings from the women's safety project, acommunity-based survey. Violence Against Women,1995, 1:6-31.23. Ellsberg MC et al. Candies in hell: women'sexperience of violence in Nicaragua. Social Scienceand Medicine, 2000, 51:1595-1610.24. Mooney J. The hidden figure: domestic violencein north London. London, Middlesex University,1993.25. Watts C et al. Withholding sex and forced sex:dimensions of violence against Zimbabwean women.Reproductive Health Matters, 1998, 6:57-65.26. Grufman M, Berg-Kelly K. Physical fighting andassociated health behaviours among Swedishadolescents. Acta Paediatrica, 1997, 86:77-81.27. Kann L et al. Youth risk behavior surveillance:United States, 1999. Morbidity and Mortality WeeklyReport, 2000, 49:1-104 (CDC Surveillance Summaries,SS-5).28. Gofin R, Palti H, Mandel M. Fighting amongJerusalem adolescents: personal and school-relatedfactors. Journal of Adolescent Health, 2000, 27:218-223.29. Miller TR, Cohen MA. Costs of gunshot and cut/stab wounds in the United States, with some Canadian
CAPÍTULO 1. VIOLÊNCIA - UM PROBLEMA MUNDIAL DE SAÚDE PÚBLICA • 21
comparisons. Accident Analysis and Prevention,1997, 29:329-341.
30. Clayton D, Barcel A. The cost of suicide mortalityin New Brunswick, 1996. Chronic Diseases inCanada, 1999, 20:89-95.31. Buvinic M, Morrison A. Violence as an obstacleto development. Washington, DC, Inter-AmericanDevelopment Bank, 1999:1-8 (Technical Note 4:Economic and social consequences of violence).32. Kaplan SJ et al. Adolescent physical abuse: riskfor adolescent psychiatric disorders. AmericanJournal of Psychiatry, 1998, 155:954-959.33. Kaslow NJ et al. Factors that mediate and moderatethe link between partner abuse and suicidal behaviorin African-American women. Journal of Consultingand Clinical Psychology, 1998, 66:533-540.34. Pederson W, Skrondal A. Alcohol and sexualvictimization: a longitudinal study of Norwegian girls.Addiction, 1996, 91:565-581.35. Holmes MM et al. Rape-related pregnancy:estimates and descriptive characteristics from anational sample of women. American Journal ofObstetrics and Gynecology, 1996, 175:320-325.36. Kakar F et al. The consequences of landmines onpublic health. Prehospital Disaster Medicine, 1996,11:41-45.37. Toole MJ. Complex emergencies: refugee andother populations. In: Noji E, ed. The public healthconsequences of disasters. New York, NY, OxfordUniversity Press, 1997:419-442.38. Garbarino J, Crouter A. Defining the communitycontext for parent-child relations: the correlates ofchild maltreatment. Child Development, 1978, 49:604-616.39. Bronfenbrenner V. The ecology of humandevelopment: experiments by nature and design.Cambridge, MA, Harvard University Press, 1979.40. Garbarino J. Adolescent development: anecological perspective. Columbus, OH, Charles E.Merrill, 1985.41. Tolan PH, Guerra NG. What works in reducingadolescent violence: an empirical review of the field.Boulder, CO, University of Colorado, Center for theStudy and Prevention of Violence, 1994.42. Chaulk R, King PA. Violence in families: assessingprevention and treatment programs. Washington,DC, National Academy Press, 1998.43. Heise LL. Violence against women: an integratedecological framework. Violence Against Women,
1998, 4:262-290.44. Schiamberg LB, Gans D. An ecological frameworkfor contextual risk factors in elder abuse by adultchildren. Journal of Elder Abuse and Neglect, 1999,11:79-103.45. Carp RM. Elder abuse in the family: aninterdisciplinary model for research. New York, NY,Springer, 2000.46. Reiss AJ, Roth JA, eds. Violence in families:understanding and preventing violence. Panel onthe understanding and control of violent behavior.Vol.1. Washington, DC, National Academy Press,1993:221-245.47. Thornberry TP, Huizinga D, Loeber R. Theprevention of serious delinquency and violence:implications from the program of research on thecauses and correlates of delinquency. In: Howell JCet al., eds. Sourcebook on serious, violent andchronic juvenile offenders. Thousand Oaks, CA,Sage, 1995:213-237.48. Lipsey MW, Derzon JH. Predictors of seriousdelinquency in adolescence and early adulthood: asynthesis of longitudinal research. In: Loeber R,Farrington DP, eds. Serious and violent juvenileoffenders: risk factors and successful interventions.Thousand Oaks, CA, Sage, 1998:86-105.49. Maxfield MG, Widom CS. The cycle of violence:revisited 6 years later. Archives of Pediatrics andAdolescent Medicine, 1996, 150:390-395.50. Farrington DP. The family backgrounds ofaggressive youths. In: Hersov LA, Berger M, ShafferD, eds. Aggression and antisocial behavior inchildhood and adolescence. Oxford, Pergamon Press,1978:73-93.51. McCord J. A forty-year perspective on the effectsof child abuse and neglect. Child Abuse & Neglect,1983, 7:265-270.52. Widom CS. Child abuse, neglect, and violentcriminal behavior. Criminology, 1989, 27:251-272.53. Paolucci EO, Genuis ML, Violato C. A meta-analysis of the published research on the effects ofchild sexual abuse. Journal of Psychology, 2001,135:17-36.54. Brown J et al. Childhood abuse and neglect:specificity of effects on adolescent and young adultdepression and suicidality. Journal of the AmericanAcademy of Child and Adolescent Psychiatry, 1999,38:1490-1496.55. Stark E, Flitcraft A. Killing the beast within: womanbattering and female suicidality. International
22 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Journal of Health Services, 1995, 25:43-64.56. Bristowe E, Collins JB. Family-mediated abuse ofnon-institutionalised elder men and women living inBritish Columbia. Journal of Elder Abuse andNeglect, 1989, 1:45-54.57. Pillemer KA, Prescott D. Psychological effects ofelder abuse: a research note. Journal of Elder Abuse
and Neglect, 1989, 1:65-74.58. Somasundaram DJ, Rajadurai S. War and suicidein Northern Sri Lanka. Acta PsychiatricaScandinavica, 1995, 91:1-4.59. Tolan PH, Guerra NG. Prevention of juveniledelinquency: current status and issues. Journal ofApplied and Preventive Psychology, 1994, 3:251-273.
CAPÍTULO 2. VIOLÊNCIAJUVENIL• 25
AntecedentesA violência praticada por pessoas jovens é uma
das formas mais visíveis de violência na sociedade.Em todo o mundo, jornais e meios de comunicaçãorelatam diariamente a violência das gangues nasescolas ou praticada por jovens nas ruas. Em quasetodos os lugares, as principais vítimas e perpetradoresdesse tipo de violência são os próprios adolescentese jovens adultos (1). Os homicídios e as agressõesnão fatais envolvendo jovens , contribuem muito paraa carga global de morte prematura, lesões e invalidez(1, 2).
A violência juvenil prejudica profundamente nãoapenas suas vítimas, mas também os familiares, osamigos e as comunidades. Seus efeitos não sãoobservados apenas na morte, doença e invalidez, mastambém em termos de qualidade de vida. A violênciaque envolve os jovens acarreta muitos custos aosserviços de saúde e bem-estar social, reduz aprodutividade, diminui os valores de propriedade,desintegra uma série de serviços essenciais e, emgeral, abala o arcabouço da sociedade.
O problema da violência juvenil, não pode serconsiderado isoladamente dos outroscomportamentos problema. Jovens violentos tendema cometer uma série de crimes. Normalmente tambémapresentam outros problemas, tais como vadiagem eabandono da escola, abuso de substâncias [tóxicas],mentira compulsiva, direção imprudente e elevadosíndices de doenças sexualmente transmissíveis.Entretanto, nem todos os jovens violentos manifestamproblemas significativos que não sejam sua própriaviolência e nem todos jovens com problemas sãonecessariamente violentos (3).
Há ligações muito próximas entre: violência juvenile outras formas de violência. Testemunhar a violênciaem casa, ser vítima de abuso físico ou sexual, porexemplo, pode condicionar crianças ou adolescentesa considerarem a violência como uma maneiraaceitável de resolver problemas (4, 5). A exposiçãoprolongada a conflitos armados também, podecontribuir para uma cultura geral de terror, queaumenta a incidência de violência juvenil (6–8). Acompreensão dos fatores que aumentam o risco dosjovens serem vítimas ou perpetradores de violência éessencial para o desenvolvimento de políticas eprogramas eficazes para evitar a violência.
Para atender às finalidades deste relatório, osjovens são definidos como pessoas entre 10 e 29anos de idade. Os índices elevados de agressões e
vitimizações, entretanto, geralmente se estendem atéos 30 a 35 anos de idade, e este grupo de pessoasmais velhas, jovens adultos, também deve ser levadoem consideração na tentativa de se compreender eevitar a violência juvenil.
A extensão do problemaÍndices de homicidio juvenil
Em 2000, ocorreram cerca de 199 mil homicídiosjuvenis (9,2 para cada 100 mil pessoas) em todo omundo. Em outras palavras, uma média de 565crianças, adolescentes e jovens adultos, entre 10 e29 anos, morrem por dia como resultado da violênciainterpessoal. Os índices de homicídio variamconsideravelmente de região para região, variandode 0,9 para cada 100 mil nos países de renda alta daEuropa e partes da Ásia e do Pacífico, a 17,6 para 100mil na África e 36,4 para 100 mil na América Latina(ver Figura 2.1).
Há também grandes variações nos índices dehomicídio juvenil entre os países em si (ver Tabela2.1). Entre os países cujos dados da OMS estãodisponíveis, os índices são mais levados na AméricaLatina (por exemplo, 84,4 para cada 100 mil naColômbia e 50,2 para cada 100 mil em El Salvador), noCaribe (por exemplo, 41,8 para cada 100 mil em PortoRico), na Federação Russa (18,0 para cada 100 mil) eem alguns países do sudeste da Europa (por exemplo,28,2 para cada 100 mil na Albânia). Com exceção dosEstados Unidos, onde os índices ficam em 11,0 paracada 100 mil, a maior parte dos países com índices dehomicídio acima de 10,0 para cada 100 mil são paísesemergentes ou países que passam por rápidasmudanças sociais e econômicas.
Os países com baixos índices de homicídio juveniltendem a pertencer à Europa Ocidental - por exemplo,França (0,6 para cada 100 mil), Alemanha (0,8 paracada 100 mil) e Reino Unido (0,9 para cada 100 mil) -ou à Ásia, como o Japão (0,4 para cada 100 mil). Váriospaíses apresentam menos de 20 homicídios juvenispor ano.
Em quase todos os lugares, os índices dehomicídio juvenil são significativamente mais baixosentre as mulheres do que entre os homens, indicandoque o fato de pertencer ao sexo masculino é um fortefator de risco demográfico. A razão entre o índice dehomicídios juvenis entre homens e mulheres tende aser mais alta em países com índices elevados dehomicídios masculinos. Por exemplo, a razão é de13,1:1 na Colômbia, 14,6:1 em El Salvador, 16,0:1 nas
26 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Filipinas e 16,5:1 na Venezuela.Em lugares em que osíndices de suicídios masculinos são mais baixos, arazã, em geral , é mais baixa–como ocorre na Hungria(0,9:1), Paizes baixos e Republica da Coréia(1,6:1).Entre os países , em relação aos Índices dehomocídios entre mulheres e homens, a variação éconsideravelmente menor que a variação nos índicesde homicídiomasculinos
As descobertas epidemiológicas sobre homicídiojuvenil são muito escassas em países e regiões ondenão há dados de mortalidade da OMS ou os dadosestão incompletos. Onde existem dados adequadossobre o homicídio juvenil, como em vários estudosdesenvolvidos em países da África (inclusive Nigéria,África do Sul e República Unida da Tanzânia), daÁsia e do Pacífico (tal como a China, inclusive aProvíncia de Taiwan, e o Fiji) (9-16), padrõesepidemiológicos semelhantes têm sido relatados, asaber:
— uma acentuada preponderância de vítimas dehomicídio do sexo masculino em relação ao sexofeminino;
— uma significativa variação nos índices entreos países e as regiões
Tendências nos homicídios juvenisEntre 1985 e 1994, os índices de homicídio juvenil
aumentaram em diversas partes do mundoespecialmente entre jovens na faixa de 10 a 24 anosde idade. Houve também diferenças importantes entreos sexos, os países e as regiões. Em geral, os índicesde homicídios entre jovens de 15 a 19 e de 20 a 24aumentaram mais que os índices entre jovens de 10 a14 anos. Os índices de homicídios masculinosaumentaram mais que os femininos (ver Figura 2.2), eos aumentos nos índices de homicídios juvenis forammais pronunciados em países emergentes e economiasem transição. Além disso, os aumentos nos índicesde homicídio juvenil geralmente estavam associadosa aumentos no uso de armas de fogo como métodosde ataque (ver Figura 2.3).
Enquanto os índices de homicídio juvenil naEuropa Oriental e na antiga União Soviéticaaumentaram dramaticamente após o colapso docomunismo, no final dos anos 80 e início dos anos90, os índices na Europa Ocidental, em geral,permaneceram baixos e estáveis. Na Federação Russa,no período de 1985 a 1994, os índices da faixa etária
Índices estimados de homicídio entre jovens com idade de 10 a 29 anos, 2000a
a Os índices foram calculados pelo nível de renda da região da OMS e do país e, em seguida, agrupados de acordo com agrandeza.
FIGURA 2.1
CAPÍTULO 2. VIOLÊNCIA JUVENIL• 27
de 10 a 24 anos de idade aumentaram mais de 150%, de7,0 para cada 100 mil para 18,0 para cada 100 mil,enquanto na Letônia houve um aumento de 125%, de4,4 para cada 100 mil para 9,9 para cada 100 mil. Nomesmo período, em muitos destes países, houve umaumento acentuado na proporção de mortes por
ferimentos à bala – mais que o dobro de que noAzerbaidjão, Letônia e Federação Russa.
No Reino Unido, em comparação, os índices dehomicídio entre jovens na faixa etária de 10 a 24 anosde idade, no mesmo período de 10 anos, aumentaram37,5% (de 0,8 para cada 100 mil para 1,1 para cada 100mil). Na França, os índices de homicídio juvenilaumentaram 28,6% no mesmo período (de 0,7 paracada 100 mil para 0,9 para cada 100 mil). Na Alemanha,os índices de homicídio juvenil aumentaram 12,5%entre 1990 e 1994 (de 0,8 para cada 100 mil para 0,9para cada 100 mil). Enquanto os índices de homicídiojuvenil aumentaram nestes países nesse período, aproporção de homicídios juvenis envolvendo armasde fogo permaneceu em torno de 30%.
No período de 1985 a 1994, foram observadasextraordinárias diferenças nas tendências dehomicídios juvenis no continente americano. NoCanadá, onde cerca de um terço dos homicídiosjuvenis envolve armas de fogo, os índices caíram 9.5%,de 2,1 para cada 100 mil para 1,9 para cada 100 mil.Nos Estados Unidos, a tendência foi exatamente ooposto, com mais de 70%
dos homicídios juvenis envolvendo armas defogo e um aumento nos homicídios de 77%, de 8,8para cada 100 mil para 15,6 para cada 100 mil. NoChile, os índices nesse período permaneceram baixose estáveis, cerca de 2,4 para cada 100 mil. No México,onde as armas de fogo são responsáveis por cercade 50% de todos os homicídios juvenis, os índicespermaneceram elevados e estáveis, aumentando de14,7 para cada 100 mil para 15,6 para cada 100 mil. Poroutro lado, na Colômbia, os homicídios juvenisaumentaram 159%, de 36,7 para cada 100 mil para 95,0para cada 100 mil (com 80% dos casos, no final desseperíodo, envolvendo armas de fogo), e na Venezuela132%, de 10,4 para cada 100 mil para 24,1 para cada100 mil.
Na Austrália, o índice de homicídio juvenil caiude 2,0 para cada 100 mil em 1985 para 1,5 para cada100 mil em 1994, enquanto na vizinha Nova Zelândia,no mesmo período, atingiu mais que o dobro, de 0,8para cada 100 mil para 2,2 para cada 100 mil. No Japão,os índices nesse período permaneceram baixos, cercade 0,4 para cada 100 mil.
Violência não fatalEm alguns países, os dados sobre homicídio
juvenil podem ser analisados em comparação comestudos sobre violência não fatal. Estas comparaçõesfornecem um quadro mais completo do problema da
FIGURA 2.2
Tendências globais nos índices de homicídio juvenil entrehomens e mulheres na faixa etária de 10 a 24 anos, 1985-1994a
Ano
FIGURA 2.3
Tendências no método de ataque nos homicídios entrejovens na faixa etária de 10 a 24 anos, 1985-1994a
Ano
violência juvenil. Estudos sobre violência não fatalrevelam que para cada homicídio juvenil há cerca de20 a 40 vítimas de violência juvenil não fatal recebendotratamento hospitalar. Em alguns países, incluindoIsrael, Nova Zelândia e Nicarágua, a relação é aindamaior (17-19). Em Israel, entre os jovens na faixa etáriade 18 anos, a incidência anual de lesões violentasrecebendo tratamento em pronto-socorrosemergência é de 196 para cada 100 mil, comparadaaos índices de homicídio juvenil de 1,3 para cada 100mil entre os homens e 0,4 para cada 100 mil entre asmulheres (19).
Assim como ocorre com a violência juvenil, a maiorparte das vítimas de violência não fatal tratadas emhospitais são homens (20-26), embora a relação entrecasos envolvendo homens e casos envolvendomulheres seja um pouco menor do que para asfatalidades. Um estudo realizado em Eldoret, noQuênia, por exemplo, revelou que a relação de homense mulheres vítimas de violência não fatal é de 2,6:1(22). Outra pesquisa revelou uma relação de cerca de3:1 na Jamaica, e 4-5:1 na Noruega (23, 24).
Os índices de lesões violentas não fatais tendema aumentar dramaticamente no período que vai dametade da adolescência ao início da fase adulta. Umapesquisa realizada em lares de Johannesburg, Áfricado Sul, revelou que 3,5% das vítimas de violênciatinham 13 anos de idade ou menos, comparados com21,9% com 14 a 21 anos, e 52,3% com 22 a 35 anos(27). Os estudos realizados na Jamaica, Quênia,Moçambique e várias cidades do Brasil, Chile,Colômbia, Costa Rica, El Salvador e Venezuela tambémmostraram elevados índices de lesões não fataisresultantes de violência entre adolescentes e jovensadultos (22, 28, 29).
Comparadas à violência juvenil fatal, as lesõesnão fatais resultantes de violência envolvem umnúmero bem menor de ataques com armas de fogo eum uso correspondente maior dos punhos e pés, eoutras armas, tais como armas brancas [facas esimilares] ou bastões. Em Honduras, 52% dos ataquesnão fatais a jovens envolviam outros tipos de armas,exceto armas de fogo, e em um estudo realizado naColômbia, somente 5% das agressões não fataisestavam relacionadas a armas de fogo (comparadas amais que 80% dos homicídios juvenis envolvendoarmas de fogo) (25, 30). Na África do Sul, os ferimentosà bala são responsáveis por cerca de 16% de todasas lesões violentas que chegam aos hospitais,quando comparadas a 46% de todos os homicídios(31). Entretanto, pode ser ilusória a comparação direta
entre países e subgrupos dentro dos países queutilizam dados sobre violência não fatal registradosnos serviços de saúde. As diferenças nos índices decasos que chegam aos pronto-socorros porferimentos à bala, por exemplo, podem simplesmenterefletir o fato de que os cuidados médicos pré-hospitalares e de emergência variam entre osdiferentes cenários.
Comportamentos de risco para aviolência juvenil
Participação em lutas físicas, comportamentosagressivos e porte de armas são comportamentos derisco importantes para a violência juvenil. A maiorparte dos estudos que examinam essescomportamentos têm envolvido alunos do ensinofundamental e médio, os quais diferem muitos dascrianças e adolescentes que deixaram ouabandonaram a escola. Em conseqüência,provavelmente é limitada a aplicabilidade dosresultados destes estudos para jovens que não estãomais freqüentando a escola.
Em muitas partes do mundo, entre crianças emidade escolar, é muito comum o envolvimento em lutasfísicas (32-38). Cerca de um terço dos alunos relatater-se envolvido em brigas físicas, sendo que o fatoocorre de 2 a 3 vezes mais com os homens do quecom as mulheres. Comportamentos agressivostambém ocorrem entre crianças em idade escolar (39,40). Em estudo sobre comportamentos e saúderealizado em 27 países entre crianças em idade escolar,na maior parte dos países, a maioria das crianças com13 anos de idade pelo menos algumas vezes já haviase envolvido em comportamento agresivo (ver Tabela2.2) (40). Independente de serem formas de agressão,o comportamento agresivo e a luta física tambémpodem levar a formas sérias de violência (41).
O porte de armas é um comportamento de riscoimportante e uma atividade predominantementemasculina entre jovens em idade escolar. Há,entretanto, muitas variações na ocorrência do portede armas, conforme relatado por adolescentes emdiferentes países. Na Cidade do Cabo, África do Sul,9,8% dos meninos e 1,3% das meninas do ensinomédio relataram terem levado armas brancas para aescola durante as quatro semanas anteriores àentrevista (42). Na Escócia, 34,1% dos meninos e 8,6%das meninas com idades entre 11 e 16 anos disseramque carregavam armas pelo menos uma vez, sendoque o fato ocorre com mais freqüência com usuáriosde drogas do que com jovens que não usam drogas
CAPÍTULO 2. VIOLÊNCIA JUVENIL•29
.
(43). Nos Países Baixos, 21% dos alunos do ensinomédio admitiram possuir uma arma e 8% realmentetraziam armas para a escola (44). Nos Estados Unidos,um levantamento nacional realizado com estudantes
realmente traziam armas para a escola (44). NosEstados Unidos, um levantamento nacional
realizado com estudantes da 9a à 12a sérierevelou que 17,3% tinham portado uma arma nosúltimos 30 dias e 6,9% tinham portado uma arma nasdependências da escola (32).
A dinâmica da violência juvenilOs padrões de comportamento, incluindo a
violência, mudam no decorrer da vida de umapessoa. O período da adolescência e do início dafase adulta é o momento em que a violência, bemcomo outros tipos de comportamentos, geralmenteassumem uma expressão mais intensificada (45).Quando uma pessoa se desenvolve, a compreensãode quando e sob que condições o comportamentotipicamente violento ocorre pode ajudar a formularintervenções e políticas para prevenção que visamaos grupos em idade mais crítica (3).
Como a violência juvenil se inicia?A violência juvenil pode se desenvolver de
diversas maneiras. Algumas crianças apresentamcomportamentos problema na primeira infância, queprogressivamente aumentam para formas maisgraves de agressão antes da adolescência e durantea mesma. De 20% a 45% dos meninos e 47% a 69%
das meninas, que são agressores violentos gravesna idade de 16 a 17 anos, encontram-se na chamada"trajetória de desenvolvimento persistente ao longoda vida" (3, 46-50) . Pessoas jovens que seenquadram nesta categoria cometem os atosviolentos mais graves e, em geral, mantêm estecomportamento violento até se tornarem adultos (51-54).
Estudos longitudinais têm examinado de quemaneiras a agressão pode continuar da infância àadolescência e da adolescência à fase adulta, criandoum padrão de agressão persistente por toda a vidade uma pessoa. Vários estudos têm mostrado que aagressão na infância é um bom prognóstico deviolência na adolescência e no início da fase adulta.Em um estudo realizado em Örebro, na Suécia (55),dois terços de uma amostra de cerca de mil jovens dosexo masculino que apresentaram comportamentoviolento até a idade de 26 anos já tinham reveladoíndices extremamente elevados para agressividadenas idades de 10 e 13 anos, comparados aaproximadamente um terço de todos os meninos. Damesma forma, em um estudo de acompanhamento
da 9a à 12a série revelou que 17,3% tinham portadouma arma nos últimos 30 dias e 6,9% tinham portadouma arma nas dependências da escola (32).
O porte de armas é um comportamento de riscoimportante e uma atividade predominantementemasculina entre jovens em idade escolar. Há,entretanto, muitas variações na ocorrência do portede armas, conforme relatado por adolescentes emdiferentes países. Na Cidade do Cabo, África do Sul,9,8% dos meninos e 1,3% das meninas do ensinomédio relataram terem levado armas brancas para aescola durante as quatro semanas anteriores àentrevista (42). Na Escócia, 34,1% dos meninos e8,6% das meninas com idades entre 11 e 16 anosdisseram que carregavam armas pelo menos uma vez,sendo que o fato ocorre com mais freqüência comusuários de drogas do que com jovens que não usamdrogas (43). Nos Países Baixos, 21% dos alunos doensino médio admitiram possuir uma arma e 8%
30 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
realizado em Jyväskylä, na Finlândia, comaproximadamente 400 jovens (56), classificações porsemelhanças de agressão nas idades de 8 e 14 anos,prognosticou-se significativamente a violência atéos 20 anos de idade.
Existem ainda evidências de uma continuidadeno comportamento agressivo da adolescência à faseadulta. Em um estudo desenvolvido em Columbus,OH, Estados Unidos, 59% dos jovens presos porcrimes violentos antes dos 18 anos de idade forampresos novamente quando adultos, e 42% dessesinfratores adultos foram acusados de pelo menos umcrime violento grave, como homicídio, agressãoagravada ou estupro (57). Verificou-se, ainda, queuma parcela maior de jovens que foram presos porcrimes envolvendo violência grave foram presosnovamente quando adultos, em comparação a jovenspresos por crimes envolvendo violências menores.Um estudo sobre o desenvolvimento da delinqüênciaem Cambridge, Inglaterra, revelou que um terço dosjovens do sexo masculino, que tinham sidocondenados por crimes envolvendo violência antesdos 20 anos de idade, foram condenados novamenteentre os 21 e 40 anos de idade, comparados a apenas8% daqueles que não foram condenados por crimesviolentos durante a adolescência (58).
A existência de uma trajetória de desenvolvimentopersistente ao longo da vida, ajuda a explicar acontinuidade do comportamento agressivo e violentono decorrer do tempo, ou seja, há determinadosindivíduos que persistem em ter uma tendênciasubjacente maior do que outros indivíduos, emdireção a comportamentos agressivos e violentos.Em outras palavras, aqueles que são relativamentemais agressivos em uma determinada idade tambémtendem a ser relativamente mais agressivos mais tarde,muito embora os níveis absolutos de violênciapossam variar.
No decorrer do tempo, pode haver aindaprogressões de um tipo de agressão para outro. Porexemplo, em um estudo longitudinal realizado emPittsburgh, PA, Estados Unidos, de cerca de 1.500meninos analisados inicialmente com idades de 7, 10e 13 anos, Loeber e outros relataram que a agressãona infância tendia a se transformar em briga degangues e posteriormente em violência juvenil (59).
Agressores que se mantêm agressores durante avida toda, entretanto, representam apenas umapequena parcela daqueles que cometem a violência.A maior parte dos jovens mais violentos se engajamem comportamentos violentos por períodos de tempomuito menores. Estas pessoas são chamadas
"agressores limitados à adolescência". Os resultadosdo National Youth Survey [Levantamento Nacionalde Jovens] conduzido nos Estados Unidos - baseadoem uma amostra nacional de jovens entre 11 e 17anos de idade em 1976, que foram acompanhados atéa idade de 27 a 33 anos - mostram que, embora umapequena parcela de jovens tenha continuado acometer a violência na fase adulta, cerca de trêsquartos dos jovens que praticam violência graveabandonaram o comportamento violento após cercade 1 a 3 anos (3). A maioria dos jovens que se tornamviolentos são agressores limitados à adolescênciaque, de fato, mostram pouca ou nenhuma evidênciade níveis elevados de agressão ou outroscomportamentos problema durante sua infância (3)
Fatores situacionaisEntre os agressores limitados à adolescência,
determinados fatores situacionais podemdesempenhar um importante papel na causa decomportamentos violentos. Uma análise situacional– explicando as interações entre o supostoperpetrador e a vítima em uma determinada situação– descreve como o potencial para a violência pode setornar violência real. Os fatores situacionais incluem:
— os motivos para comportamentos violentos;— o local onde ocorre o comportamento;— o fato de álcool ou armas estarem presentes;— o fato de outras pessoas, além da vítima e doagressor, estarem presentes;— o fato de estarem envolvidas outras ações(como arrombamentos), que possam conduzir àviolência.Os motivos para a violência juvenil variam de
acordo com a idade dos participantes e com o fato deoutras pessoas estarem presentes ou não. Um estudosobre delinqüência realizado em Montreal, Canadá,mostrou que, quando os perpetradores eram jovensem fase de adolescência ou entrando na fase adulta,cerca da metade dos ataques pessoais violentosforam motivados pela busca de emoção,freqüentemente com co-agressores, e metade porobjetivos racionais ou utilitários (60). Para todos oscrimes, entretanto, a motivação principal mudou - deser uma busca de emoção na fase de adolescênciados perpetradores – para uma razão utilitária,envolvendo planejamento prévio, intimidaçãopsicológica e uso de armas, no início da fase adulta(61).
O National Youth Survey [Levantamento Nacionalde Jovens] conduzido nos Estados Unidos, revelouque as agressões geralmente eram cometidas em
CAPÍTULO 2. VIOLÊNCIAJUVENIL• 31
retaliação a ataques anteriores, por vingança, oudevido à provocação ou raiva (61). No estudorealizado em Cambridge, antes mencionado, osmotivos para as brigas físicas dependem do fato de ojovem do sexo masculino ter brigado sozinho ou comum grupo (62). Em brigas individuais, geralmente ummenino foi provocado, ficou nervoso e bateu paramachucar seu oponente ou liberar tensões internas.Em brigas em grupo, os meninos normalmente seenvolvem para ajudar os amigos ou porque foramatacados - raramente porque estavam nervosos. Asbrigas em grupo, portanto, eram de um modo geralmais sérias. Freqüentemente progrediam de incidentesmenores, ocorriam em bares ou nas ruas, estavammais propensas a envolverem armas, acarretavamlesões e envolviam a polícia.
A embriaguez é um fator situacional imediatoimportante que pode precipitar a violência. Em umestudo realizado na Suécia, cerca de três quartos dosagressores violentos e aproximadamente metade dasvítimas de violência estava embriagada no momentodo incidente; e, no estudo realizado em Cambridge,muitos dos rapazes brigaram após terem bebido (62,63).
Uma característica interessante dos agressoresviolentos jovens, que pode torná-los mais propensosa participar de situações que levam à violência, é atendência a se envolverem em uma ampla variedadede crimes, assim como o fato de apresentarem umasérie de comportamentos problema. Em geral, osagressores violentos jovens são versáteis, em vez deespecializados, nos tipos de crimes que cometem. Naverdade, os jovens violentos normalmente cometemmais crimes não violentos do que violentos (64-66).No estudo realizado em Cambridge, delinqüentesviolentos condenados, com até 21 anos de idade,tinham cerca de três vezes mais condenações paracrimes não violentos do que violentos (58).
Quais os fatores de risco para aviolência juvenil?Fatores individuais
Em nível individual, os fatores que afetam opotencial para o comportamento violento incluemcaracterísticas biológicas, psicológicas ecomportamentais. Estes fatores podem aparecer aindana infância ou adolescência e, em graus variados,podem ser influenciados por pessoas da família ecolegas, e outros fatores sociais e culturais.
Características biológicasEntre os possíveis fatores biológicos, têm sido
realizados estudos sobre as lesões e complicaçõesassociadas à gravidez e ao parto, devido à sugestãode que estes poderiam produzir danos neurológicos,que, por sua vez, poderiam levar à violência. Em umestudo realizado em Copenhagen, Dinamarca, Kandele Mednick (67) acompanharam mais que 200 criançasnascidas no período de 1959 a 1961. A pesquisamostrou que as complicações durante o parto eramum prognóstico para prisões por violência até os 22anos de idade. Oitenta por cento dos jovens presospor cometerem crimes violentos apresentavam índiceselevados de complicações no parto, comparados a30% daqueles presos por cometerem crimesrelacionados a propriedades e 47% dos jovens semnenhum registro criminal. As complicações nagravidez, por outro lado, não prognosticavamsignificativamente a violência.
O interessante é que as complicações no parto,foram bastante associadas à violência futura, quandoos pais tinham um histórico de doenças psiquiátricas.Nestes casos, 32% dos meninos com complicaçõessignificativas no parto foram presos por violência,comparados a 5% daqueles com apenas complicaçõesmenores ou sem nenhuma complicação. Infelizmente,estes resultados não se repetiram no estudoPhiladelphia Biosocial Project [Projeto Biossocial daFiladélfia] (69) desenvolvido por Denno - um estudoenvolvendo aproximadamente mil crianças afro-americanas realizado na Filadélfia, PA, EstadosUnidos, que foram acompanhadas do nascimento atéos 22 anos de idade. É possível, portanto, que ascomplicações na gravidez ou no parto prognostiquema violência apenas, ou principalmente, quando taiscomplicações ocorrem em combinação com outrosproblemas dentro da família.
Freqüências cardíacas baixas – estudadasprincipalmente entre os meninos – estão associadasà busca de emoções e situações de risco, ambascaracterísticas que podem predispor os meninos àagressão e violência na tentativa de aumentar osníveis de estímulo e excitação (70-73). Freqüênciascardíacas elevadas, entretanto, especialmente embebês e crianças jovens, estão ligados a ansiedade,medo e inibições (71).
Características psicológicas ecomportamentais
Entre os principais fatores relacionados à
32 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
personalidade e ao comportamento que podemprognosticar a violência juvenil estão: hiperatividade,impulsividade, controle comportamental deficiente eproblemas de atenção. O nervosismo e a ansiedade,contudo, estão relacionados à violência de maneiranegativa. Em um estudo de acompanhamentorealizado com cerca de mil crianças em Dunedin, NovaZelândia, a probabilidade de meninos queapresentaram condenações por violência até os 18anos de idade apresentarem avaliações deficientesem relação a controle de comportamento (por exemplo,impulsividade e falta de persistência) na idade 3 a 5anos era muito maior se comparados a meninos comnenhuma convicção violenta ou com condenaçõespara crimes não violentos (74). No mesmo estudo,os fatores de personalidade relativos à repressão(como cautela e abstenção de excitação) e reaçõesemocionais negativas (como nervosismo e alienação)aos 18 anos de idade estavam inversamenterelacionados a condenações por violência (75).
Estudos longitudinais conduzidos emCopenhagen na Dinamarca (68), Örebro na Suécia(76), Cambridge na Inglaterra (77) e Pittsburgh, PA,nos Estados Unidos (77), revelaram também vínculosentre esses traços de personalidade e as condenaçõespor violência e violência auto-infligida.Hiperatividade, índices elevados de arrojo oucomportamentos de alto risco, concentraçãodeficiente e dificuldades de atenção antes dos 13anos de idade, todos prognosticaramsignificativamente a violência no início da fase adulta.Nos estudos realizados em Cambridge e nos EstadosUnidos, níveis elevados de ansiedade e nervosismoforam associados de forma negativa à violência.
A baixa inteligência e os baixos níveis dedesempenho na escola têm sido associados àviolência juvenil de maneira consistente (78). Noprojeto desenvolvido na Filadélfia (69) , aspontuações de coeficientes de inteligência medíocres(QI) obtidas em testes de QI verbal e de desempenhorealizados entre crianças de 4 a 7 anos de idade, e asbaixas pontuações obtidas em testes padrão dedesempenho escolar entre jovens de 13 a 14 anos deidade aumentaram a probabilidade de todos osavaliados serem presos por violência até os 22 anosde idade. Em um estudo realizado em Copenhagen,Dinamarca, em mais de 12 mil meninos nascidos em1953, o QI baixo aos 12 anos de idadesignificativamente prognosticou violência registradapela polícia entre os 15 e 22 anos de idade. A ligaçãoentre QI baixo e violência foi mais forte entre meninosde grupos socioeconômicos mais baixos.
Impulsividade, problemas de atenção, baixainteligência e baixo desempenho educacional sãofatores que podem estar ligados às deficiências nasfunções executivas do cérebro localizadas nos lobosfrontais. Essas funções executivas incluem:capacidade de atenção e concentração, raciocínioabstrato e elaboração de conceitos, formulação deobjetivos, antecipação e planejamento,automonitoramento e autoconsciência eficaz decomportamento, e inibições relacionadas acomportamentos inadequados e impulsivos (79).Curiosamente, em um outro estudo realizado emMontreal – com mais de 1.100 crianças inicialmenteestudadas aos 6 anos de idade e acompanhadasprogressivamente a partir dos 10 anos de idade - asfunções executivas aos 14 anos de idade, avaliadascom testes cognitivos neuropsicológicos, forneceramum meio significativo de diferenciação entre meninosviolentos e não-violentos (80). Essa ligação se deuindependente dos fatores familiares, tais como statussocioeconômico, idade dos pais no nascimento doprimeiro filho, nível educacional dos mesmos,separação ou divórcio na família
Fatores de relacionamentoOs fatores de risco individuais para a violência
juvenil, tais como os descritos acima, não existemisolados de outros fatores de risco. Fatoresassociados às relações interpessoais dos jovens –com a sua família, amigos e colegas - também podemafetar muito o comportamento agressivo e violento,e podem moldar os traços da personalidade que, porsua vez, podem contribuir para o comportamentoviolento. Neste sentido, a influência das famíliasgeralmente é o principal fator durante a infância,enquanto que os amigos e colegas exercem um efeitoextremamente importante durante a adolescência(81).
Influências da famíliaO comportamento dos pais e o ambiente familiar,
são os fatores centrais para o desenvolvimento docomportamento violento nos jovens. Omonitoramento e a supervisão, deficientes em relaçãoà criança por parte dos pais, e o uso de puniçõesfísicas severas para disciplinar as crianças são fortesprognósticos de violência durante a adolescência efase adulta. Em seu estudo realizado com 250 meninosem Boston, MA, Estados Unidos, McCord (82)constatou que a supervisão deficiente dos pais, e aagressão e disciplina severas dos mesmos na idade
CAPÍTULO 2. VIOLÊNCIAJUVENIL• 33
de 10 anos aumenta muito o risco de futurascondenações por violência até os 45 anos de idade.
Eron, Huesmann e Zelli (83) acompanharam cercade 900 crianças em Nova Iorque, NY, Estados Unidos.Eles descobriram que a punição física severa aplicadapelos pais na idade de 8 anos prognosticava nãoapenas as prisões por violência até os 30 anos deidade, mas também, no caso dos meninos, a gravidadeda punição de suas próprias crianças e suas históriasde abuso para com a esposa. Em um estudo realizadocom mais de 900 crianças vítimas de abuso e cerca de700 controles, Widom mostrou que o abuso físico e anegligência, registrados quando criança,prognosticavam prisões futuras devido à violência -independente de outros fatores tais como sexo, etniae idade (84). Outros estudos registraram descobertassemelhantes (77, 85, 86).
A violência na adolescência e fase adulta, tambémtem sido muito associada a conflitos familiares naprimeira infância (77, 82), e à ligação afetiva deficienteentre os pais e as crianças (87, 88). Outros fatoresincluem: grande número de crianças na família (65,77); o fato de a mãe ter tido seu primeiro filho quandoera muito jovem, possivelmente na adolescência (77,89, 90); e baixo nível de coesão familiar (91). Muitosdestes fatores, na ausência de outro apoio social,podem afetar o funcionamento e o comportamentosocial e emocional das crianças. McCord (87), porexemplo, mostrou que a probabilidade de osagressores violentos terem recebido afeição dos paise uma boa disciplina e supervisão era menor que aprobabilidade dos agressores não violentos.
A estrutura familiar também é um fator importanteem futuras agressões e violência. Descobertas feitasa partir de estudos conduzidos na Nova Zelândia,Reino Unido e Estados Unidos mostraram que ascrianças que crescem em lares formados por apenasum dos pais, apresentam os maiores riscos para aviolência (74, 77, 92). Em um estudo realizado com5.300 crianças da Inglaterra, Escócia e Gales, porexemplo, a experiência da separação dos pais entre onascimento e os 10 anos de idade, aumentou aprobabilidade de condenações por violência até aidade de 21 anos (92). Em um estudo desenvolvidoem Dunedin, Nova Zelândia, o fato de na idade de 13anos, morar com um pai ou mãe solteirosprognosticou condenações por violência até os 18anos de idade (74). Nestas situações, as restriçõesde acesso a apoio e prováveis recursos econômicosdeficientes podem ser as causas pelas quais asrelações com os pais freqüentemente sofrem eaumenta o risco de os jovens se envolverem com a
violência.Em geral, o baixo status socioeconômico da família
está associado à violência futura. Por exemplo, emum levantamento nacional realizado com jovens nosEstados Unidos, a ocorrência de relatos de agressõese roubo entre os jovens de classes socioeconômicasbaixas era cerca de duas vezes maior que entre osjovens de classe média (93). Em Lima, Peru, osincipientes níveis de educação da mãe e a elevadadensidade nos lares estavam ambos associados àviolência juvenil (94). Um estudo realizado comjovens adultos em São Paulo, Brasil, revelou que,após o ajuste em relação a gênero e idade, o risco deser vítima da violência era significativamente maiorpara jovens de classes socioeconômicas baixasquando comparados àqueles de classessocioeconômicas altas (95). Resultados semelhantesforam obtidos a partir de estudos desenvolvidos naDinamarca (96), Nova Zelândia (74) e Suécia (97).
Dada a importância da supervisão dos pais, daestrutura familiar e do status econômico nadeterminação da ocorrência da violência juvenil, umaumento na violência por parte dos jovens seriaesperado em locais onde as famílias tivessem sedesintegrado devido a guerras ou epidemias, ou porcausa de mudanças sociais rápidas. Considerando-se o caso de epidemias, por exemplo, cerca de 13milhões de crianças em todo o mundo perderam umou ambos os pais devido a AIDS, mais de 90% delasna África subsaariana, onde provavelmente muitosoutros milhões de crianças se tornarão órfãs nospróximos anos (98). A investida violenta da AIDSem pessoas na idade reprodutiva está produzindoórfãos em uma taxa tão elevada que muitascomunidades não podem mais confiar nas estruturastradicionais para cuidar destas crianças. A AIDSepidêmica, portanto, provavelmente acarretará sériasimplicações adversas para a violência entre jovens,particularmente na África, onde os índices deviolência juvenil já são extremamente elevados.
Influências dos colegasAs influências dos colegas durante a
adolescência são, em geral consideradas positivas eimportantes para a formação de relacionamentosinterpessoais, mas elas também podem ter efeitosnegativos. O fato de se ter amigos delinqüentes, porexemplo, está associado à violência nas pessoasjovens (88). Os resultados de estudos realizados empaíses desenvolvidos (78, 88) são consistentes comum estudo realizado em Lima, Peru (94), que revelou
34 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
uma correlação entre o comportamento violento e ofato de ter amigos que usavam drogas. A orientaçãocausal nesta correlação - se vem antes ou depois deser um agressor violento o fato de ter amigosdelinqüentes – não está, portanto, clara (99). Em seuestudo, Elliott e Menard concluíram que adelinqüência acarretava a ligação com os colegas e,ao mesmo tempo, esta ligação com colegasdelinqüentes causava a delinqüência (100).
Fatores relacionados à comunidadeAs comunidades em que os jovens vivem, exercem
uma importante influência sobre suas famílias, anatureza de seus grupos de colegas e a maneira comoeles podem ser expostos a situações que levam àviolência. Genericamente falando, os meninos de áreasurbanas estão mais propensos a se envolverem emcomportamentos violentos, do que aqueles que vivem
CAPÍTULO 2. VIOLÊNCIAJUVENIL• 35
QUADRO 2.1
Um perfil das ganguesPodemos encontrar gangues de jovens em todas as regiões do mundo. Apesar de poderem
variar muito em termos de tamanho e natureza - desde basicamente um agrupamento social até redescriminosas especializadas, todas parecem responder à necessidade básica de fazer parte de umgrupo e de criar uma identidade própria.
Na região a oeste da cidade do Cabo, na África do Sul, há cerca de 90 mil membros de gangues,enquanto em Guam, em 1993, foram registradas cerca de 110 gangues permanentes, das quaisaproximadamente 30 eram gangues radicais. Em Porto Moresby, Papua Nova Guiné, foram observadasquatro grandes associações com diversos subgrupos. Estima-se que haja de 30 a 35 mil membros degangues em El Salvador e uma quantidade semelhante em Honduras, enquanto nos Estados Unidos,em 1996, havia cerca de 31 mil gangues atuando em cerca de 4.800 cidades e municípios. Na Europa,existem gangues de diferentes tamanhos no continente todo e são especialmente fortes nos paísesem transição econômica, como a Federação Russa.
As gangues são um fenômeno basicamente masculino, apesar de, em países como os EstadosUnidos, as meninas estarem formando suas próprias gangues. A faixa etária dos membros de ganguepode variar de 7 a 35 anos, mas normalmente são adolescentes ou estão no início da fase adulta.Eles tendem a vir de áreas economicamente carentes e de ambientes urbanos e suburbanos de baixarenda e da classe operária. Em geral, os membros das gangues podem ter abandonado a escola e tertrabalhos que requerem pouca qualificação ou que são mal remunerados. Muitas ganguesencontradas em países de renda alta ou média são formadas por minorias étnicas ou raciais, quepodem ser muito marginalizadas socialmente.
As gangues estão associadas ao comportamento violento. Os estudos têm mostrado que quandoos jovens entram para as gangues, tornam-se mais violentos e começam a participar de atividadesde maior risco, geralmente ilegais. Em Guam, mais de 60% de todos os crimes violentos denunciadosà polícia são cometidos por jovens, muitos deles ligados às atividades das gangues radicais da ilha.Em Bremen, na Alemanha, a violência cometida por membros de gangues é responsável por quasemetade dos crimes violentos denunciados. Em um estudo longitudinal com aproximadamente 100jovens, em Rochester, Nova Iorque, Estados Unidos, cerca de 30% da amostra era de membros degangues, mas eles eram responsáveis por cerca de 70% dos crimes violentos relatados e 70% docomércio de drogas.
Uma complexa interação de fatores leva os jovens a optarem pela vida em gangue. As ganguesparecem proliferar em locais onde a ordem social estabelecida foi quebrada e onde faltam formasalternativas de comportamento cultural comum. Outros fatores socioeconômicos, comunitários einterpessoais que estimulam os jovens a entrarem para gangues incluem:
— ausência de oportunidades de mobilidade social ou econômica, em uma sociedade queagressivamente promove o consumo;
— declínio local na aplicação da lei e da ordem;
— escolaridade interrompida, associada a uma baixa remuneração por serviços não qualificados;-ausência de orientação, supervisão e apoio dos pais e de outros membros da família;
— punições físicas severas ou vitimização em casa;— associação a colegas que já estão envolvidos com gangues.Tratar ativamente desses fatores subjacentes que incentivam as gangues juvenis e oferecer
saídas culturais alternativas mais seguras para seus potenciais membros, isso pode ajudar a eliminaruma significativa parcela do crime violento cometido por gangues ou que, de alguma forma, envolvejovens.
(continuação)
36 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
em áreas rurais (77, 88, 93). Nas áreas urbanas,aqueles que moram em bairros com elevados índicesde criminalidade, têm maior probabilidade de seenvolverem em comportamentos violentos do queos que vivem em outros locais (77, 88).
Gangues, armas e drogasA presença de gangues (ver Quadro 2.1), armas e
drogas em um lugar é uma mistura potente, queaumenta a probabilidade de ocorrer a violência. Embairros dos Estados Unidos, por exemplo, a presençasimultânea desses três itens parece ser um fatorimportante para explicar o motivo de, entre 1984 e1995, o índice de prisão juvenil por homicídio teraumentado em mais do que o dobro (de 5,4 para cada100 mil, para 14,5 para cada 100 mil) (97, 101, 102).Blumstein sugeriu que esse aumento, estavarelacionado aos aumentos que ocorreram no mesmoperíodo em relação ao porte de armas, ao número degangues e às batalhas pela venda de crack (103). Noestudo já mencionado, realizado em Pittsburg, ainiciação no comércio de drogas coincidia com umsignificativo aumento no porte de armas, em que 80%dos jovens na faixa etária de 19 anos que vendiamdrogas pesadas (como cocaína) também portavamuma arma de fogo (104). No Rio de Janeiro, Brasil,onde a maioria das vítimas e dos perpetradores dehomicídios estão na faixa etária de 25 anos ou menos,o comércio de drogas é responsável por grande partedos homicídios, dos conflitos e das lesões (105). Emoutras partes da América Latina e do Caribe, asgangues de jovens envolvidas com o tráfico de drogasmostram níveis mais elevados de violência do que asgangues que não têm tal envolvimento (106).
Integração SocialO grau de integração social em uma comunidade
também afeta os índices de violência juvenil. O capital
social é um conceito que tenta mensurar essaintegração social. Falando de forma geral, o capitalsocial refere-se a regras, normas, obrigações,reciprocidade e confiança existentes nas relaçõessociais e instituições (107). Os jovens que moram emlocais onde, o capital social, está ausente tendem ater um baixo desempenho escolar e uma maiorprobabilidade de abandonar tudo (108).
Moser e Holland (109), estudaram cincocomunidades urbanas carentes na Jamaica. Elesencontraram uma relação cíclica entre, violência edestruição do capital social. Onde a violênciacomunitária ocorria, a mobilidade física naquele localera limitada, as oportunidades de emprego e educaçãoeram reduzidas, os comerciantes relutavam em investirna área e a população local tinha menos probabilidadede comprar casas novas ou de consertar e fazermelhorias nas propriedades existentes. Essa reduçãono capital social - a descrença cada vez maior,resultante da destruição da infra-estrutura, doconforto e das oportunidades - aumentava aprobabilidade de comportamentos violentos,especialmente entre os jovens. Um estudo realizadoem diversos países de 1980 a 1994, sobre a relaçãoentre o capital social e os índices de criminalidaderevelou que o nível de confiança entre os membrosda comunidade tinha um forte efeito sobre aincidência de crimes violentos (107). Wilkinson,Kawachi e Kennedy (110) mostraram que os índicesde capital social, que revelam uma baixa coesão sociale altos níveis de falta de confiança interpessoal,estavam vinculados tanto a índices mais elevados dehomicídio quanto a uma maior desigualdadeeconômica.
Fatores sociaisDiversos fatores sociais, podem criar as
condições que levam à violência entre os jovens.Muitas das evidências relativas a esses fatores,
contudo, têm como base estudos transversais ouecológicos e são mais úteis para identificarassociações importantes do que as causas diretas.
Mudanças demográficas e sociaisAs rápidas mudanças demográficas na população
jovem, a modernização, a emigração, a urbanização eas políticas sociais em transformação, têm sidovinculadas a um aumento na violência juvenil (111).Em locais que passaram por crises econômicas econseqüentes políticas de ajuste estrutural – comoaconteceu na África e em partes da América Latina -os salários reais, no geral, caíram bastante, as leistrabalhistas foram enfraquecidas ou descartadas ehouve uma significativa diminuição na infra-estruturabásica e nos serviços sociais (112, 113). A pobreza,ficou muito mais concentrada em cidades quepassaram por altos índices de crescimentopopulacional entre os jovens (114).
Em sua análise demográfica de populações jovensna África, Lauras-Locoh e Lopez-Escartin (113)sugerem que a tensão entre um rápido inchamentopopulacional de jovens e uma infra-estrutura emdeterioração tem resultado em revoltas nas escolas ede estudantes. Diallo Co-Trung (115) observou umasituação semelhante de greves e rebeliões estudantisno Senegal, onde a população com idade abaixo de20 anos duplicou entre 1970 e 1988, durante umperíodo de recessão econômica e implementação depolíticas de ajuste estrutural. Em uma pesquisa sobrejovens realizada na Argélia, Rarrbo (116) verificouque o rápido crescimento demográfico, somado àacelerada urbanização, criava condições que incluíamdesemprego e habitações impróprias que, por suavez, levavam à frustração extrema, à raiva e a tensõesentre os jovens. Conseqüentemente, os jovens tinhammaior probabilidade de se voltar para pequenos crimese violência, especialmente sob influência de colegas.
Em Papua Nova Guiné, Dinnen (117) descreve aevolução do "raskolism" (gangues criminosas) nocontexto mais amplo da descolonização e daconseqüente mudança social e política, incluindo umrápido crescimento populacional incoerente com ocrescimento econômico. Esse fenômeno também foicitado como um motivo de preocupação em algumasdas antigas economias comunistas (118), onde - àmedida que o desemprego cresceu muito e o sistemade assistência social sofreu cortes severos - os jovensficaram sem rendas e ocupações legítimas, bem comosem o apoio social necessário no períodocompreendido entre sair da escola e encontrar umemprego. Na ausência de tal apoio, alguns se voltaram
para o crime e a violência.
Má distribuição de rendaA pesquisa tem mostrado a existência de vínculos
entre o crescimento econômico e a violência, bemcomo entre a má distribuição de renda e a violência(119). Gartner, em um estudo realizado em 18 paísesindustrializados, no período de 1950 a 1980 (6),revelou que a má distribuição de renda, medidasegundo o coeficiente Gini, tinha um efeitosignificativo e positivo sobre o índice de homicídio.Fajnzylber, Lederman e Loayza (120) obtiveram osmesmos resultados em uma investigação em 45 paísesindustrializados e emergentes, no período de 1965 a1995. O índice de crescimento do PIB também teveuma associação negativa significativa com o índicede homicídios, mas em muitos casos esse efeito foidesencadeado por aumento nos níveis de mádistribuição de renda. Unnithan e Whitt chegaram aconclusões semelhantes em seu estudo transnacional(121), ou seja, que a má distribuição de renda estavafortemente vinculada aos índices de homicídio e queesses índices também diminuíam à medida que o PIBper capita aumentava.
Estruturas políticasA qualidade da governança em um país, tanto em
termos de estrutura legal quanto das políticas deproteção social, é um importante determinante deviolência. Em particular, a capacidade de umasociedade em aplicar as leis existentes sobreviolência, prendendo e condenando os criminosos,pode funcionar como um agente de coibição daviolência. Fajnzylber, Lederman e Loayza (120)perceberam que o índice de prisão por homicídio tinhaum efeito negativo significativo sobre o índice dehomicídio. Em seu estudo, as medidas objetivas degovernança (tais como os índices de prisão) tinhamuma correlação negativa com os índices decriminalidade, enquanto as medidas subjetivas (taiscomo a credibilidade do judiciário e a qualidade dagovernança) tinham pouca relação com os índices decriminalidade.
Portanto, a governança pode ter um impacto sobrea violência, especialmente se afetar as pessoasjovens. Noronha e outros (122), em seu estudo sobrea violência que afeta diversos grupos étnicos emSalvador, Bahia, Brasil, concluíram que a insatisfaçãocom a polícia, o sistema judiciário e as prisõesaumentavam o uso de formas não oficiais de justiça.No Rio de Janeiro, Brasil, de Souza Minayo (105)
CAPÍTULO 2. VIOLÊNCIAJUVENIL• 37
observou que a polícia estava dentre os principaisperpetradores de violência contra os jovens. Asações policiais – especialmente contra jovens declasses socioeconômicas mais baixas - envolviamviolência física, abuso sexual, estupro e suborno.Sanjuán (123) sugeriu que, entre os jovensmarginalizados em Caracas, na Venezuela, era um fatorimportante no surgimento de uma cultura de violênciao sentimento de que, a justiça dependia da classesocioeconômica. De forma semelhante, Aitchinson(124) concluiu que, na África do Sul, no períodoapós o apartheid, a impunidade em relação aos antigosperpetradores de abuso contra os direitos humanos,bem como a incapacidade da polícia em mudarsignificativamente seus métodos, contribuíram paraum sentimento generalizado de insegurança e umaumento no número de ações extrajudiciaisenvolvendo violência.
A proteção social pelo Estado, um outro aspectoda governança, também é importante. Em seu estudo,Pampel e Gartner (125) utilizaram um indicador quemedia o nível de desenvolvimento das instituiçõesnacionais responsáveis pela proteção social coletiva.A questão que os interessava era por que osdiferentes países - cujos grupos etários de 15 a 29anos tiveram o mesmo índice de crescimento em umdado período - mostravam entretanto, diferentesaumentos em seus índices de homicídio. Pampel eGartner concluíram que fortes instituições nacionaisde proteção social tinham um efeito negativo sobre oíndice de homicídio. Além disso, a existência de taisinstituições poderia agir contra os efeitos sobre osíndices de homicídio associados a aumentos na faixaetária de 15 a 29 anos, o grupo que tradicionalmenteapresenta os índices mais altos de vítimas ouperpetradores de homicídio.
Mesner e Rosenfeld (126) analisaram o impactodos esforços para proteção de populaçõesvulneráveis contra as forças do mercado, inclusive arecessão econômica. Observou-se que gastos maiselevados com o bem-estar, estavam associados adiminuições nos índices de homicídio, sugerindo queas sociedades que possuem redes de segurançaeconômica têm menos homicídios. Briggs e Cutright(7), em um estudo realizado em 21 países no períodode 1965 a 1988, observaram que o gasto com segurosocial, como uma proporção do PIB, tinha uma relaçãonegativa com os homicídios de crianças com até 14anos de idade.
Influências culturaisA cultura, que se reflete nas normas e nos valores
herdados da sociedade, ajuda a determinar como aspessoas respondem a um ambiente em mudança. Osfatores culturais podem afetar a quantidade deviolência em uma sociedade – por exemplo, aoendossar a violência como um método normal deresolver conflitos e ao ensinar os jovens a adotaremnormas e valores que apóiam o comportamentoviolento.
Um importante meio através do qual as imagens,as normas e os valores da violência são propagadosé a mídia. A exposição das crianças e dos jovens avárias formas de mídia tem aumentado drasticamentenos últimos anos. Novas formas de mídia, tais comojogos eletrônicos, fitas de vídeo e a Internet,multiplicaram para os jovens as oportunidades deserem expostos à violência. Diversos estudosmostraram que a introdução da televisão nos países,estava associada a aumentos nos níveis de violência(127 - 131), apesar de normalmente, tais estudosnão levarem em consideração outros fatores quepodem ter simultaneamente influenciado os níveisde violência (3). A grande maioria das evidênciasatuais indica que a exposição à violência exibida natelevisão aumenta a probabilidade de umcomportamento agressivo e, em longo prazo, tem umefeito desconhecido sobre a violência grave (3) (verQuadro 2.2). Não há evidências suficientes em relaçãoao impacto de algumas das formas mais recentes demídia.
As culturas que não oferecem alternativas nãoviolentas para resolver conflitos, parecem ter índicesmais elevados de violência juvenil. No estudo sobregangues realizado em Medelin, na Colômbia, BedoyaMarín e Jaramillo Martínez (136) descrevem comoos jovens de baixa renda são influenciados pelacultura da violência, na sociedade em geral e em suacomunidade em particular. Eles sugerem que, no nívelcomunitário, uma cultura de violência é alimentadapela crescente aceitação de "dinheiro fácil" (em grandeparte proveniente do tráfico de drogas), e dequaisquer métodos que sejam necessários para obteresse dinheiro, assim como através da corrupção dapolícia, do judiciário, dos militares e da administraçãolocal.
As influências culturais além das fronteirasnacionais, também têm sido vinculadas a aumentosna violência juvenil. Em um levantamento sobregangues de jovens na América Latina e no Caribe,Rodgers (106) mostrou que as gangues violentas,
38 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
espelhando-se nas gangues de Los Angeles,Califórnia, Estados Unidos, têm surgido em cidadesno norte e sudeste do México, onde a imigração dosEstados Unidos é mais alta. Um processo semelhantefoi observado em El Salvador, que desde 1992 vempassando por um alto índice de deportações decidadãos salvadorenhos que moravam nos EstadosUnidos, sendo que muitos desses deportados erammembros de gangues nos Estados Unidos.
O que pode ser feito para evitar aviolência juvenil?
Ao preparar os programas nacionais de prevençãocontra a violência juvenil, é importante ter em vistanão apenas os fatores individuais cognitivos, sociaise comportamentais, mas também os sistemas sociaisque modelam tais fatores.
As Tabelas 2.3 e 2.4 mostram exemplos deestratégias de prevenção contra a violência juvenil,como matrizes que relacionam os sistemas ecológicosatravés dos quais a violência pode ser evitada aos
estágios de desenvolvimento, da infância ao inícioda fase adulta, onde o comportamento violento ouos riscos de comportamento violento têm maiorpossibilidade de vir a surgir. As estratégias deprevenção apresentadas nas tabelas não sãoexaustivas, tampouco representam necessariamenteestratégias que se mostraram efetivas. Algumas, naverdade, têm-se mostrado ineficientes. Em vez disso,as matrizes pretendem ilustrar o amplo espectro depossíveis soluções para o problema de violênciajuvenil e enfatizar a necessidade de uma série deestratégias diferentes para diversos estágios dedesenvolvimento.
As Tabelas 2.3 e 2.4 mostram exemplos deestratégias de prevenção contra a violência juvenil,como matrizes que relacionam os sistemasecológicos através dos quais a violência pode serevitada aos estágios de desenvolvimento, dainfância ao início da fase adulta, onde ocomportamento violento ou os riscos decomportamento violento têm maior possibilidade devir a surgir. As estratégias de prevenção
CAPÍTULO 2. VIOLÊNCIAJUVENIL• 39
QUADRO 2.2
O impacto da mídia sobre a violência juvenil
As crianças e os jovens são importantes consumidores da mídia de massa, inclusive deentretenimento e propaganda. Estudos realizados nos Estados Unidos, concluíram que as criançasgeralmente começam a ver televisão aos 2 anos de idade e que, em média, uma pessoa na faixa etáriaentre 8 e 18 anos assiste cerca de 10 mil atos violentos por ano na televisão. Esses padrões deexposição à mídia, não são necessariamente evidentes em outras partes do mundo, especialmenteonde há menos acesso à televisão e a filmes. De qualquer forma, há pouca dúvida de que em qualquerlugar a exposição das crianças e dos jovens à mídia de massa é substancial e aumenta cada vez mais.Portanto, é importante explorar a exposição à mídia como um possível fator de risco para a violênciainterpessoal que envolve os jovens.
Há mais de 40 anos, os pesquisadores vêm analisando o impacto da mídia sobre o comportamentoagressivo e violento. Diversas metanálises de estudos sobre o impacto da mídia na violência e naagressão, têm levado a concluir que a violência exibida pela mídia está verdadeiramente relacionada àagressão a outras pessoas. Contudo, ainda faltam evidências para confirmar seu efeito sobre formasgraves de violência (como agressão e homicídio).
Uma metanálise realizada em 1991, envolvendo 28 estudos sobre crianças e adolescentes expostosà violência exibida pela mídia e observados em interação social livre, concluiu que a exposição àviolência exibida pela mídia aumentava o comportamento agressivo em relação a amigos, colegas desala e estranhos (132). Uma outra metanálise, realizada em 1994, analisou 217 estudos publicadosentre 1957 e 1990, que diziam respeito ao impacto da violência exibida pela mídia sobre o comportamentoagressivo, com 85% da amostra na faixa etária de 6 a 21 anos. Os autores concluíram que, houve umasignificativa relação positiva entre a exposição à violência exibida pela mídia e o comportamentoagressivo, independentemente da idade (133).
Muitos dos estudos incluídos nessas análises críticas eram experimentos randomizados (em
continuação
laboratório e em campo) ou pesquisas transversais. Os resultados dos estudos experimentais , mostramque, uma breve exposição à violência na televisão ou em um filme, especialmente apresentaçõesdramáticas da violência, produz aumentos de comportamento agressivo em curto prazo. Além disso,os efeitos parecem ser maiores em crianças e adultos com tendências agressivas e dentre os que foramestimulados ou provocados. Os resultados, contudo, podem não se estender a situações da vida real.Na verdade, os cenários da vida real geralmente incluem influências que não podem ser “controladas”como acontece nos experimentos – influências que poderiam mitigar o comportamento agressivo eviolento.
Os resultados dos estudos transversais , mostram ainda uma relação positiva entre, a violênciaexibida pela mídia e as diversas medidas de agressão – por exemplo, atitudes e crenças, comportamentose sentimentos como a raiva. Os efeitos da violência exibida pela mídia sobre formas mais graves decomportamento violento (como agressão e homicídio), contudo, são bastante pequenos (r = 0,06)(133). Além disso, diferentemente dos estudos experimentais e longitudinais onde a causalidade podeser mais facilmente estabelecida, não é possível concluir a partir de estudos transversais que a exposiçãoà violência exibida pela mídia cause comportamento agressivo e violento.
Existem também estudos longitudinais que analisam o vínculo entre, o fato de assistir à televisãoe a agressão interpessoal cometida alguns anos depois. Um estudo longitudinal de 3 anos sobrecrianças na faixa etária de 7 a 9 anos, realizado na Austrália, na Finlândia, em Israel, na Polônia e nosEstados Unidos produziu resultados inconsistentes (134), e um estudo de 1992 sobre crianças damesma faixa etária desenvolvido nos Países Baixos não conseguiu comprovar qualquer efeito sobre ocomportamento agressivo (135). Outros estudos que acompanharam crianças nos Estados Unidospor longos períodos (10 a 15 anos), contudo, mostraram uma correlação positiva entre, o fato deassistir à televisão na infância e a agressão nos primeiros anos da fase adulta (3).
Os estudos que analisam as relações entre os índices de homicídio e a introdução da televisão(principalmente observando os índices de homicídio no país antes e depois da introdução da televisão)também encontraram uma correlação positiva entre os dois (127 – 131). Contudo, esses estudos nãocontrolaram as variáveis de interferência tais como : diferenças econômicas, mudanças sociais epolíticas e diversas outras potenciais influências sobre os índices de homicídio.
As descobertas científicas sobre a relação entre a violência exibida pela mídia e a violência juvenilsão, portanto, conclusivas no tocante aos aumentos na agressão em curto prazo. Contudo, os resultadosnão são conclusivos no que diz respeito aos efeitos em longo prazo e sobre as formas mais graves decomportamento violento, indicando que ainda é necessário que se façam mais pesquisas.Independentemente de analisar até que ponto a violência exibida pela mídia é uma causa direta deviolência física grave, também são necessárias pesquisas sobre a influência da mídia nas relaçõesinterpessoais e nas características individuais, tais como hostilidade, frieza, indiferença, falta derespeito e incapacidade de se identificar com os sentimentos das outras pessoas.
40 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
apresentadas nas tabelas não são exaustivas,tampouco representam necessariamente estratégiasque se mostraram efetivas. Algumas, na verdade,têm-se mostrado ineficientes. Em vez disso, asmatrizes pretendem ilustrar o amplo espectro depossíveis soluções para o problema de violênciajuvenil e enfatizar a necessidade de uma série deestratégias diferentes para diversos estágios dedesenvolvimento.
Abordagens individuaisAs intervenções mais comuns contra a violência
juvenil, buscam aumentar o nível de fatores deproteção associados às capacidades, atitudes ecrenças individuais.
Uma estratégia de prevenção contra a violênciaadequada para os primeiros anos da infância – apesarde normalmente não ser considerada como tal - é aadoção de programas de aprimoramento pré-escolar.Esses programas, introduzem as crianças ainda bemnovas nas capacidades necessárias para serem bemsucedidas na escola e, assim, aumentam apossibilidade de futuro êxito acadêmico. Osprogramas podem ainda fortalecer os vínculos de uma
criança com a escola e aumentar o desempenho e aauto-estima (137). Estudos de acompanhamento emlongo prazo dos protótipos desses programasrevelaram benefícios positivos para as crianças,inclusive menor envolvimento em comportamentosviolentos e outros comportamentos delinqüentes(138 - 140).
Os programas de desenvolvimento social parareduzir o comportamento anti-social e agressivo emcrianças e a violência entre os adolescentes, adotamdiversas estratégias. Essas estratégias normalmenteincluem melhorar a competência e as capacidadessociais em relação aos colegas e promover, de formageral, um comportamento que seja positivo, amigávele cooperativo (141). Esses programas podem seroferecidos globalmente ou apenas para grupos dealto risco, sendo realizados com maior freqüência noscenários escolares (142, 143). Normalmente, eles têmcomo foco um ou mais dos seguintes itens (143):
— administração da raiva;— modificação do comportamento;— adoção de uma perspectiva social;— desenvolvimento moral;— capacitação social;— solução de problemas sociais;— resolução de conflitos.Há evidências de que esses programas de
desenvolvimento social podem ser efetivos naredução da violência juvenil e na melhoria dascapacidades sociais (144 - 146). Os programas queenfatizam as capacidades sociais e de competência,parecem estar entre as estratégias mais eficazes deprevenção contra a violência juvenil (3). Eles tambémparecem ser mais efetivos quando são apresentadosàs crianças em ambientes de pré-escola e escola
primária, do que quando são apresentados paraalunos do ensino médio.
Um exemplo de programa de desenvolvimentosocial, que utiliza técnicas comportamentais em salade aula, é um programa para evitar o comportamentoprepotente agressivo [bullying]. Esse programa foiintroduzido nas escolas elementares e secundáriasem Bergen, na Noruega. Os incidentes decomportamento agressivo foram reduzidos pelametade dois anos após essa intervenção ter iniciado(147). O programa tem sido reproduzido na Inglaterra,na Alemanha e nos Estados Unidos com efeitossemelhantes (3).
Outras intervenções que poderiam ser eficientes,direcionadas a indivíduos, incluem os pontos listadosabaixo, embora ainda sejam necessárias maisevidências para confirmar seus efeitos sobre ocomportamento violento e agressivo (137, 148):
— programas para evitar gravidez indesejada, de forma a reduzir o maus tratos em relação a criançase o risco que eles representam para oenvolvimento posterior com comportamentoviolento;— por motivos semelhantes, programas paraaumentar o acesso à assistência pré-natal e pósnatal;— programas de aprimoramento acadêmico;— incentivos para que os jovens sob risco deviolência completem o grau médio e busquem aeducação superior;— treinamento vocacional para jovens e jovensadultos carentes.Programas que não parecem eficientes na reduçãoda violência juvenil incluem (3):— aconselhamento individual;
CAPÍTULO 2. VIOLÊNCIAJUVENIL• 41
— treinamento para o uso seguro de armas;— programas de provação e de condicional queincluam reuniões com colegas de prisão quedescrevam a brutalidade da vida na prisão;— julgamento de criminosos jovens em tribunaisde adultos;— programas de internação em instituiçõespsiquiátricas ou correcionais;— programas que dêem informações sobre abusode drogas.Os programas para jovens delinqüentes
formulados em cima de treinamento militar básico("campos militares para treinamento") têm mostrado,em alguns casos, levar a um aumento na repetição docrime (3).
Abordagens de relacionamentoOutro conjunto comum de estratégias de
prevenção, lida com a violência juvenil tentandoinfluenciar os tipos de relações que os jovens têmcom as pessoas com quem interagem regularmente.Esses programas tratam de problemas tais como afalta de relações emocionais entre pais e filhos, asfortes pressões exercidas pelos colegas para oenvolvimento na violência e a falta de umrelacionamento forte com um adulto que cuide deles.
Visita domiciliarUm tipo de abordagem familiar para evitar a
violência juvenil, é a visita domiciliar. Trata-se de umaintervenção realizada na infância (de 0 a 3 anos), queenvolve visitas regulares por um(a) enfermeiro(a) ououtro profissional de assistência à saúde, à casa dacriança. Esse tipo de programa pode ser observadoem muitas partes do mundo, inclusive na Austrália,no Canadá, na China (Região Administrativa Especialde Hong Kong), na Dinamarca, na Estônia, em Israel,na África do Sul, na Tailândia e nos Estados Unidos.O objetivo é oferecer treinamento, apoio,aconselhamento e monitoramento para mães de baixarenda, famílias que estão esperando ou tiveramrecentemente seu primeiro filho e famílias sob altorisco de cometerem abuso contra os filhos ou comoutros problemas de saúde, e encaminhá-las paraagências externas (137, 146). Os programas de visitasdomiciliares mostraram ter significativos efeitos alongo prazo na redução da violência e delinqüência(138, 149 - 152). Quanto mais cedo os programasforem introduzidos na vida da criança e quanto maiseles durarem, maiores parecem ser os benefícios (3).
Treinamento para a maternidade epaternidade
Os programas de treinamento de habilidadesespecíficas para a maternidade e paternidade visammelhorar as relações familiares e as técnicas de criaçãode filhos, reduzindo assim a violência juvenil. Dentreseus objetivos, podemos citar a melhoria dos vínculosemocionais entre pais e filhos, estimulando os pais autilizarem métodos consistentes para a criação dosfilhos e ajudando-os a desenvolverem o autocontroleao criarem seus filhos (146).
Um exemplo de um programa abrangente detreinamento para os pais é o Triple-P-PositiveParenting Programme [Programa 3 P - Programa dePais Positivos] na Austrália (153). Esse programa,inclui uma campanha de mídia voltada para apopulação, que pretende atingir todos os pais, bemcomo um componente de assistência à saúde queutiliza consultas com médicos de assistência básicapara melhorar as práticas da criação de filhos. Tambémsão oferecidas intervenções intensivas, para os paise as famílias com crianças sob risco de gravesproblemas comportamentais. O programa - ouelementos dele - foi ou está sendo implementado naChina (Região Administrativa Especial de HongKong), na Alemanha, na Nova Zelândia, em Cingapurae no Reino Unido (154).
Diversos estudos de avaliação revelaram que, otreinamento para a maternidade e paternidade é bemsucedido e há evidências de um efeito a longo prazona redução do comportamento anti-social (155 - 158).Em um estudo realizado na Califórnia, Estados Unidos,sobre a relação custo/benefício de intervençõesantecipadas para evitar formas graves de crime,estima-se que o treinamento para os pais, cujos filhosmostravam comportamentos agressivos tenhaevitado 157 crimes graves (tais como homicídio,estupro, incêndios criminosos e roubos), para cadamilhão de dólares americanos gastos (159). Naverdade, estima-se, que o treinamento para os paistenha uma relação custo/benefício três vezes melhordo que a lei conhecida como "three-strikes" [trêsataques] da Califórnia - uma lei que estabelecesentenças severas para criminosos reincidentes.
Programas de mentoresImagina-se que um relacionamento caloroso e de
apoio, com um modelo de adulto positivo, seja umfator de proteção contra a violência juvenil (3, 146).Os programas de mentores, que têm como base essa
42 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
teoria, associam uma pessoa jovem - especialmenteuma que esteja sob risco de comportamento anti-social ou que esteja crescendo em uma família sócom um dos pais - a um adulto que cuidará dela, ummentor, de fora da família (160). Os mentores podemser colegas de classe mais velhos, professores,conselheiros, policiais ou outros membros dacomunidade. Os objetivos desse tipo de programasã: ajudar os jovens a desenvolverem suascapacidades e oferecer um relacionamento sustentadocom alguém que seja seu modelo e guia (143). Mesmoque ainda não tenha sido tão amplamente avaliadaquanto algumas das outras estratégias para reduzir aviolência juvenil, há evidencias de que uma relaçãopositiva de aconselhamento por parte de um mentor,possa melhorar significativamente a freqüência e odesempenho na escola, diminuir a probabilidade douso de drogas, melhorar o relacionamento com ospais e reduzir as formas de comportamento anti-social
relatadas (161).
Abordagens terapêuticas e outrasAs abordagens terapêuticas, também têm sido
utilizadas junto às famílias para evitar a violênciajuvenil. Há muitas formas desse tipo de terapia, masseus objetivos comuns são melhorar a comunicaçãoe as interações entre pais e filhos, e resolver osproblemas que venham a surgir (143). Algunsprogramas, também tentam auxiliar as famílias a lidaremcom fatores ambientais que contribuem para ocomportamento anti-social, e a usarem melhor osrecursos da comunidade. Os programas de terapiafamiliar normalmente são caros, mas há evidênciassuficientes de que eles podem ser eficazes na melhoriado funcionamento da família e na redução dosproblemas comportamentais em crianças (162 - 164).A Functional Family Therapy [Terapia Familiar
CAPÍTULO 2. VIOLÊNCIAJUVENIL• 43
Funcional] (165) e a Multisystemic Therapy [TerapiaMultissistêmica] (166) são duas abordagensparticulares utilizadas nos Estados Unidos, que têmmostrado resultados positivos e duradouros naredução do comportamento violento e delinqüentede agressores juvenis, apresentando custos maisbaixos do que outros programas de tratamento (3).
Outras intervenções voltadas para osrelacionamentos dos jovens que podem ser eficientesincluem (3):
— programas de parceria entre o lar e a escolapara promover o envolvimento dos pais;
— educação compensatória, como tutoria poradultos.
Os programas que lidam com relacionamentos dejovens e que parecem não ser eficientes na reduçãoda violência praticada por adolescentes incluem:
• Mediação dos colegas — o envolvimento dealunos para ajudarem outros alunos a resolverem asdisputas.
• Aconselhamento de colegas.• Redirecionamento do comportamento jovem e
mudanças nas normas do grupo de colegas — tantoum como outro tentam redirecionar os jovens sobrisco de violência para atividades convencionais, mastêm mostrado terem efeitos negativos sobre asatitudes, as realizações e o comportamento (3).
Esforços comunitáriosAs intervenções que lidam com fatores
comunitários, são aquelas que tentam modificar osambientes, onde os jovens interagem uns com osoutros. Um exemplo simples é melhorar a iluminaçãodas ruas, onde áreas mal iluminadas podem aumentaro risco de ocorrerem agressões violentas. Infelizmente,sabe-se menos ainda sobre a efetividade dasestratégias comunitárias, no tocante à violênciajuvenil do que sobre as estratégias que têm comofoco os fatores individuais ou os relacionamentosque os jovens têm com os outros.
Policiamento comunitárioO policiamento comunitário, voltado para a
solução de problemas, tem se tornado uma importanteestratégia de aplicação da lei e para lidar com aviolência juvenil e outros problemas criminais (167).Ele pode assumir diversas formas, mas seusingredientes principais são a construção de parceriascomunitárias e a solução dos problemas comunitários(168). Em alguns programas, por exemplo, a políciacolabora com profissionais de saúde mental para
identificar e encaminhar os jovens que tenhamtestemunhado, vivenciado ou cometido violência(169). Esse tipo de programa faz com que a políciatenha contato diário com os jovens que são vítimasou perpetradores de violência. Em seguida, oprograma dá treinamento especial a esses jovens eem um estágio inicial do desenvolvimento dos jovenscoloca-os em contato com os devidos profissionaisde saúde mental (168). A efetividade desse tipo deprograma ainda não foi determinada, apesar de parecerser uma abordagem útil.
Os programas de policiamento comunitário têmsido implementados com algum sucesso no Rio deJaneiro, Brasil, e em San José, na Costa Rica (170,171). Na Costa Rica, uma avaliação do programarevelou uma associação com um declínio tanto nacriminalidade quanto no sentimento de falta desegurança pessoal (171). Esses programas precisamser avaliados com mais rigor, mas eles realmenteoferecem aos moradores locais maior proteção ecompensação para uma falta de serviços regularesda polícia (170).
Disponibilidade de álcoolOutra estratégia comunitária para lidar com a
criminalidade e a violência é reduzir a disponibilidadede álcool. Como já mencionado, o álcool é umimportante fator situacional que pode precipitar aviolência. O efeito da redução da disponibilidade deálcool sobre os índices de criminalidade, foiobservado em um estudo longitudinal de quatro anosrealizado na região de uma província da NovaZelândia (172) . Os índices de crimes graves(homicídio e estupro) e outros crimes (relacionados apropriedade e tráfico), foram comparados em duascidades experimentais e em quatro cidades de controledurante o período do estudo. Enquanto os dois tiposde crime diminuíram nas cidades experimentais eaumentaram em relação às tendências nacionais nascidades de controle, os índices de criminalidadecaíram consideravelmente por dois anos em áreascom reduzida disponibilidade de álcool. Contudo, nãoestá claro até que ponto a intervenção afetou ocomportamento violento entre os jovens ou quãobem esse tipo de abordagem funcionaria em outroscenários.
Atividades extracurricularesAs atividades extracurriculares – como esporte e
recreação, arte, música, drama e produção de boletinsinformativos – podem oferecer aos adolescentes
44 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
oportunidades de participar e obter reconhecimentopor atividades de grupo construtivas (3). Contudo,muitas comunidades não dispõem de tais atividadesou de lugares onde as crianças possam ir comsegurança, fora do horário de aula, para praticá-las(173). Os programas realizados fora do horário deaula, oferecem essas instalações para as crianças epara os jovens. O ideal seria que esses programasfossem (174):
— abrangentes, lidando com toda a gama defatores de risco para violência e delinqüênciajuvenis;— adequados, em termos de desenvolvimento;— de longa duração.Essor, em Maputo, Moçambique (175) é um
exemplo de um programa comunitário elaborado paralidar com a delinqüência de adolescentes em doisbairros de baixa renda. O programa, que tem comoalvo adolescentes na faixa etária de 13 a 18 anos,oferece atividades esportivas e de lazer para promovera auto-expressão e a formação de equipes. O pessoaldo programa, também mantém contato com os jovenspor meio de visitas domiciliares regulares. Umaavaliação do programa, mostrou melhorassignificativas no comportamento construtivo e nacomunicação com os pais por um período de 18 meses,acompanhadas de uma queda significativa nocomportamento anti-social.
Acabando com a violência dasgangues
Os programas comunitários de prevenção contraa violência das gangues, têm assumido várias formas.As estratégias de prevenção incluem tentativas deacabar com as gangues ou de organizar ascomunidades afetadas pela violência de gangues, demaneira que as gangues de jovens funcionem deforma diferente e com menos atividades criminosas(106). Estratégias de reabilitação ou de correçãoincluem programas de longo alcance e deaconselhamento para membros de gangue, bem comoprogramas que buscam canalizar as atividades dasgangues para direções socialmente produtivas (106).Há pouca evidência de que sejam efetivos osprogramas para abolir as gangues, organizar ascomunidades ou oferecer serviços de longo alcancee de aconselhamento. Na Nicarágua, em 1997, osamplos esforços da polícia voltados para a eliminaçãodas atividades de gangues, obtiveram êxito apenastemporário e, no final das contas, podem ter
exacerbado o problema (176). As tentativas deorganização da comunidade nos Estados Unidos, emBoston, MA e Chicago, IL, também não obtiveramsucesso na redução da violência de gangues,possivelmente porque as comunidades afetadas nãoestavam integradas ou coesas o bastante parasustentar os esforços organizados (177). Os esforçosde longo alcance, e de aconselhamento têm tido aconseqüência indesejada e inesperada de aumentara coesão das gangues (178) . Em Medelin, naColômbia, os programas têm sido bem utilizados paraestimular os membros de gangues a se envolveremem projetos de política local e de desenvolvimentosocial (179), enquanto na Nicarágua e nos EstadosUnidos esses programas de "oportunidades" tiveramum sucesso bem limitado (106).
Outras estratégiasOutras intervenções direcionadas às
comunidades que podem ser eficientes incluem (148,180):
• Monitoramento dos níveis de chumbo e remoção das toxinas do ambiente da casa, de forma a reduzir o risco de dano cerebral nas crianças, que é um fator que pode levar indiretamente à violência juvenil.• Aumento da disponibilidade, da qualidade dos estabelecimentos de assistência infantil e dos programas de aprimoramento pré-escolar, a fim de promover um desenvolvimento saudável e facilitar o êxito escolar.• Tentativas para melhorar os cenários escolares;inclusive mudar as práticas de ensino e as políticas e regras das escolas, bem como aumentar a segurança (por exemplo, instalando detectores de metal ou câmeras de supervisão).• Criação de rotas seguras para as crianças irem e voltarem da escola ou de outras atividades comunitárias.Os sistemas de assistência à saúde, podem dar
uma considerável contribuição tanto para a resposta,quanto para a prevenção contra a violência por meiodas seguintes medidas:
— melhorando a resposta e o desempenho dosserviços de emergência;— melhorando o acesso aos serviços de saúde;— treinando os trabalhadores da área deassistência à saúde, para que identifiquem eencaminhem os jovens sob alto risco.
CAPÍTULO 2. VIOLÊNCIAJUVENIL• 45
Um tipo de programa que parece ser ineficaz naredução da violência juvenil, é oferecer dinheiro comorecompensa pela entrega de armas de fogo à políciaou a outras agências da comunidade -conhecido como"programa para comprar as armas de volta". Háalgumas evidências de que os tipos de armasentregues não são os tipos normalmente utilizadosem homicídios de jovens (3).
Abordagens sociaisA estratégia que é menos empregada para evitar a
violência juvenil, é mudar o ambiente cultural e socialpara reduzir a violência. Esse tipo de abordagem buscareduzir as barreiras econômicas ou sociais para odesenvolvimento - por exemplo, criando programasde trabalho ou fortalecendo o sistema de justiçacriminal - ou modificar as normas e os valores culturaisembutidos que incentivam a violência.
Lidando com a pobrezaAs políticas para reduzir a concentração da
pobreza nas áreas urbanas podem ser eficazes nocombate à violência juvenil. Essa afirmativa foicomprovada em um experimento de habitação emobilidade, chamado "Moving to Opportunity"[Mudando para a Oportunidade], realizado emMaryland, nos Estados Unidos (181). Em um estudosobre o impacto desse programa, as famílias de bairrosextremamente pobres da cidade de Baltimore foramdivididas em três grupos:
— famílias que haviam recebido subsídios,aconselhamento e outras assistênciasespecificamente para se mudarem paracomunidades com níveis menores de pobreza;— famílias que haviam recebido apenassubsídios, mas sem restrições sobre o local paraonde poderiam se mudar;— famílias que não haviam recebido nenhumaassistência especial.O estudo concluiu que, oferecer às famílias a
oportunidade de se mudarem para bairros com níveismenores de pobreza reduzia substancialmente ocomportamento violento dos adolescentes (181).Para poder compreender completamente asimplicações desses resultados, é necessário ummelhor entendimento sobre, o mecanismo pelo qual avizinhança e os grupos de colegas influenciam aviolência juvenil.
Atacando o problema da violênciaarmada entre os jovens
Uma estratégia viável para reduzir o número demortes resultantes da violência juvenil seria mudar oambiente social, de modo a manter as armas de fogoe outras armas mortais longe das mãos das crianças edos jovens que não têm supervisão. Jovens e outraspessoas, que não deveriam ter armas inevitavelmenteconseguirão obtê-las. Algumas destas pessoas,tentarão obtê-las para cometer crimes, enquantooutras - cujos julgamentos estarão prejudicados peloálcool ou pelas drogas — não terão o cuidado e aresponsabilidade necessários, que deveriamacompanhar a posse de armas de fogo.
Em muitos países, já são ilegais os meios pelosquais os jovens conseguem as armas. Nesse caso,um maior poder de aplicação das leis existentes queregulam o repasse ilegal de armas, pode ter um altoretorno na redução da violência relacionada a armasde fogo entre os adolescentes (182). Contudo, poucode sabe sobre a eficácia desse tipo de abordagem.
Outra abordagem para o problema dos jovenspossuírem armas letais é legislar e aplicar a lei comrelação à armazenagem segura e protegida das armasde fogo. Isso pode ter o efeito direto de limitar oacesso inadequado, dificultando para os jovens aretirada das armas de suas casas e, indiretamente,reduzindo a capacidade das pessoas de roubar armas.O roubo, é a principal fonte de armas para os mercadosilegais, e o roubo e arrombamento são o último recurso(embora não seja o mais recente) para os jovensconseguirem as armas (182, 183). Uma estratégia alongo prazo para a redução do acesso não autorizadodas crianças e dos adolescentes às armas seriadesenvolver armas "inteligentes" que nãofuncionassem se outra pessoa, que não seu dono,tentassem usá-las (184). Essas armas, poderiamfuncionar reconhecendo a impressão da palma damão do proprietário ou sendo necessário uma grandeproximidade a um coldre ou a um anel especial paraque funcionem.
Algumas outras intervenções elaboradas paracontrolar o mau uso de armas foram avaliadas. Em1977, foi introduzida em Washington, DC, EstadosUnidos, uma lei de licenciamento restritiva, que proibiaque qualquer pessoa possuísse um revólver, excetoos agentes de polícia, os guardas de segurança equem já era dono de um. Conseqüentemente, aincidência de homicídios e suicídios praticados comarmas de fogo diminuiu em 25% (185). Contudo, o
46 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
impacto dessa lei, sobre a redução da violênciarelacionada a armas especificamente entre os jovensé desconhecido. Durante a década de 1990, em Cali eem Bogotá, na Colômbia, o porte de armas foi abolidodurante os períodos em que se sabia, com base emexperiências passadas, que os índices de homicídioeram mais elevados (186). Esses períodos incluíamos finais de semana após o dia de pagamento, finaisde semana emendados a feriados e dias de eleições.Uma avaliação descobriu que a incidência dehomicídio era mais baixa durante os períodos nosquais a proibição de porte de armas de fogo estavaem vigor (186). Os autores do estudo sugeriram queos banimentos intermitentes de porte de armas emtoda a cidade poderiam ser úteis para evitarhomicídios, especialmente em regiões do mundo ondehá altos índices de homicídio.
Outras abordagensOutras abordagens voltadas para fatores
socioeconômicos e culturais que podem se eficientesna prevenção contra a violência juvenil, mas que aindanão foram devidamente avaliadas, incluem (148,170):
— campanhas de informação pública para mudaras normas sociais e promover um comportamentopró-social;
— esforços para reduzir a violência, exibida pelamídia
— programas, para reduzir a má distribuição derenda;
— atividades e políticas, para mitigar os efeitosda rápida mudança social;
— esforços para fortalecer e melhorar a polícia eos sistemas judiciários;
— reformas institucionais dos sistemaseducacionais.
A revisão dos fatores de risco e as estratégias deprevenção, deixam evidente que a violência juvenil écausada por uma complexa interação entre múltiplosfatores e que os esforços para reduzirsubstancialmente esse problema deverão ser plurais.Conforme mostrado em discussões anteriores, hádiversos fatores — alguns pertinentes ao ambienteindividual, outros ao familiar e ao social — queaumentam a probabilidade de agressão e violênciadurante a infância, a adolescência e no início da faseadulta. O ideal seria que os programas abordassemos jovens, usando sistemas múltiplos de influência(individual, familiar, comunitária e social), eoferecessem um continuum de intervenções e
atividades, que passassem pelos vários estágios dedesenvolvimento. Tais programas, podem se voltarpara fatores de risco que ocorrem simultaneamente,tais como, baixo desempenho educacional, gravidezna adolescência, sexo inseguro e uso de drogas,tratando assim das necessidades dos jovens emmuitas esferas de suas vidas.
RecomendaçõesAs mortes e as lesões, resultantes da violência
juvenil, constituem um grande problema de saúdepública em muitas partes do mundo. Há variaçõessignificativas na magnitude do problema dentro dospaíses e das regiões do mundo e entre eles. Existeainda, uma grande variedade de estratégias viáveis,para evitar a violência juvenil, algumas das quais semostraram especialmente eficazes. Contudo, não háuma única estratégia que seja capaz, por si só, dereduzir a carga da violência juvenil sobre a saúde. Emvez disso, serão necessárias múltiplas abordagenssimultâneas, que precisam ser relevantes para o lugarespecífico onde serão implementadas. O que for bemsucedido na prevenção contra a violência, naDinamarca, por exemplo, não será necessariamenteeficaz na Colômbia ou na África do Sul.
Nas últimas duas décadas, muito se aprendeusobre a natureza e as causas da violência juvenil ecomo evitá-la. Esse conhecimento, apesar de ter comobase principalmente a pesquisa realizada em paísesdesenvolvidos, oferece um embasamento a partir doqual é possível desenvolver programas bemsucedidos de prevenção contra a violência juvenil.Contudo, ainda há muito a ser aprendido sobre aprevenção. Com base no estado atual doconhecimento, as recomendações a seguir, seimplementadas, podem levar a uma maiorcompreensão da violência juvenil e a uma prevençãomais efetiva contra ela.
Criando sistemas de coleta de dadosO desenvolvimento de sistemas de dados, para o
monitoramento regular das tendências nocomportamento violento, nas lesões e nas mortes,deveria ser a base dos esforços de prevenção. Essesdados, fornecerão informações valiosas para aformulação de políticas e programas públicos, paraevitar a violência juvenil e para avaliá-los. Sãonecessárias abordagens simples para a observaçãoda violência juvenil, que possam ser aplicadas emuma vasta gama de cenários culturais. Nesse sentido,os seguintes pontos devem ser priorizados:
CAPÍTULO 2. VIOLÊNCIAJUVENIL• 47
• Devem ser desenvolvidos padrões uniformes,para definir e mensurar a violência juvenil eincorporá-los aos sistemas de vigilância de lesõese violência. Esses padrões, devem incluircategorias por idade, que realmente reflitam osdiferentes riscos existentes entre os jovens devirem a ser vítimas ou perpetradores da violênciajuvenil.• Deve-se dar prioridade ao desenvolvimento desistemas para monitoramento de mortes,resultantes de violência em regiões ondeatualmente os dados de homicídio sãoinadequados ou inexistentes. Essas regiõesincluem a África, o sudeste da Ásia e oMediterrâneo Oriental, bem como partes dasAméricas e do Pacífico Ocidental, especialmenteas áreas mais pobres dessas duas regiões.• Paralelamente à vigilância, deve haver estudosespeciais para estabelecer a relação entre casosfatais e não fatais de lesões relacionadas àviolência, classificados pelo método de ataque,idade e sexo da vítima. Esses dados poderão serutilizados, então, para estimar a magnitude doproblema da violência juvenil onde apenas umtipo de dados - como mortalidade ou morbidade -está disponível.• Todos os países e todas as regiões, devem serincentivados a criar centros onde as informaçõesde rotina disponibilizadas pelos serviços de saúde(incluindo os departamentos de emergência), pelapolícia e por outras autoridades, relevantes paraa violência, possam ser categorizadas ecomparadas. Esse procedimento, ajudará muito aformulação e a implementação de programas deprevenção.
Mais pesquisas científicasAs evidências científicas a respeito dos padrões
e das causas da violência juvenil, tanto qualitativasquanto quantitativas, são essenciais para odesenvolvimento de repostas racionais e efetivas aoproblema. Ainda que o entendimento sobre ofenômeno da violência tenha avançado bastante,existem significativas lacunas que poderiam serpreenchidas através da pesquisa nas seguintes áreas:
— fazer estudos interculturais, sobre as causas,o desenvolvimento e a prevenção da violênciajuvenil para explicar as grandes variações dosníveis de violência juvenil no mundo todo;— verificar a validade e as vantagens relativas dautilização de registros oficiais, registros
hospitalares e relatórios preparados pelaspróprias pessoas para mensurar a violênciajuvenil;— comparar os jovens que cometeram crimesviolentos tanto com os jovens que cometeramcrimes não violentos quanto com aqueles que nãoestão envolvidos em comportamentos violentosou delinqüentes;— determinar fatores de risco que têm efeitosdiferenciais sobre a persistência, a escalada, aqueda e o término da perpetração de crimesviolentos em várias idades;— identificar fatores de proteção contra aviolência juvenil;— verificar o envolvimento das mulheres com aviolência juvenil;— fazer estudos interculturais, sobre asinfluências sociais e culturais relacionadas àviolência juvenil;— fazer estudos longitudinais que medem umagrande variedade de fatores de risco e deproteção, para aumentar o conhecimento sobreas trajetórias de desenvolvimento da violênciajuvenil;— melhorar a compreensão a respeito de comoos fatores sociais e macroeconômicos podemefetivamente ser modificados para reduzir aviolência juvenil.Além das necessidades de pesquisa listadas
acima, é necessário:• Estimativas sobre o custo total da violênciajuvenil para a sociedade, de modo a fazer umamelhor avaliação da relação custo/benefício dosprogramas de prevenção e de tratamento.• Criar-se instituições para organizar, coordenare financiar a pesquisa global sobre a violênciajuvenil.
Desenvolvendo estratégias de prevençãoAté agora, a maioria dos recursos destinados à
prevenção, foram utilizados em programas que aindanão foram testados. Muitos desses programasbaseiam-se em hipóteses questionáveis, e sãoapresentados com pouca consistência ou controlede qualidade. A capacidade de efetivamente evitar econtrolar a violência juvenil requer, acima de tudo,uma avaliação sistemática das intervenções.Particularmente, os seguintes aspectos relativos aosprogramas de prevenção contra a violência juvenilainda precisam de muito mais pesquisa:
— estudos longitudinais que avaliem o impacto
48 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
em longo prazo das intervenções realizadas nosprimeiros anos de vida e na infância;— avaliações dos impactos das intervençõessobre os fatores sociais associados à violênciajuvenil, tais como má distribuição de renda econcentração de pobreza;— estudos sobre a relação custo/benefício dosprogramas e das políticas de prevenção.São necessários padrões consistentes para
estudos de avaliação que estimem a eficácia dosprogramas e das políticas sobre violência juvenil.Esses padrões devem incluir:
- aplicação de um projeto experimental;- evidências de uma redução estatísticasignificativa na incidência de comportamentoviolento, ou lesões relacionadas à violência;- reprodução em diferentes locais e diferentescontextos culturais;- evidências de que o impacto, seja sustentadono decorrer do tempo.
Disseminando o conhecimentoÉ necessário que sejam empreendidos grandes
esforços para aplicar o que foi aprendido sobre ascausas e a prevenção da violência juvenil.Atualmente, o conhecimento sobre esse assunto édisseminado com grande dificuldade para osprofissionais e as pessoas responsáveis por elaboraras políticas no mundo todo, especialmente devido auma precária infra-estrutura de comunicação. Asseguintes áreas em especial devem receber maisatenção:
• É necessária uma coordenação global, paradesenvolver redes de organizações voltadas parao compartilhamento de informações, otreinamento e a assistência técnica.• Devem ser alocados recursos, para a utilizaçãode tecnologia de Internet. Em algumas partes domundo onde essa tecnologia apresentaproblemas, deveriam ser promovidas outrasformas não eletrônicas de compartilharinformações.• Devem ser criadas agências centraisinternacionais de compensação, para identificare traduzir as informações relevantes oriundas detodas as partes do mundo, especialmente defontes menos conhecidas.• É necessária, pesquisa sobre a melhor forma deimplementar estratégias e políticas de prevençãocontra a violência juvenil. Saber simplesmente queestratégias se mostraram efetivas não é o bastante
para assegurar que elas tenham êxito quandoimplementadas.• Sempre que possível, os programas deprevenção contra a violência juvenil, devem serintegrados a programas para evitar o abuso infantile outras formas de violência dentro da família.
ConclusãoO volume de informações sobre as causas e a
prevenção contra a violência juvenil, está crescendorapidamente, assim como a demanda mundial poressas informações. Para atender essa grandedemanda será necessário um investimentosubstancial, a fim de melhorar os mecanismos paraconduzir a vigilância de saúde pública, realizar toda apesquisa científica necessária e criar a infra-estruturaglobal para a disseminação e aplicação do que foiaprendido. Se o mundo puder encarar o desafio efornecer os recursos necessários, a violência juvenilpode, em um futuro próximo, começar a serconsiderada como um problema de saúde pública quepode ser evitado
Referências1. Reza A, Krug EG, Mercy JA. Epidemiology of violentdeaths in the world. Injury Prevention, 2001, 7:104-111.2. Ad Hoc Committee on Health Research Relating toFuture Intervention Options. Investing in healthresearch and development. Geneva, World HealthOrganization, 1996 (document TDR/GEN/96.1).3. Youth violence: a report of the Surgeon General.Washington, DC, United States Department of Healthand Human Services, 2001.4. Fagan J, Browne A. Violence between spouses andintimates: physical aggression between women andmen in intimate relationships. In: Reiss AJ, Roth JA,eds. Understanding and preventing violence: panelon the understanding and control of violentbehavior. Vol. 3. Social influences. Washington, DC,National Academy Press, 1994:114-292.5. Widom CS. Child abuse, neglect, and violentcriminal behavior. Criminology, 1989, 244:160-166.6. Gartner R. The victims of homicide: a temporal andcross-national comparison. American SociologicalReview, 1990, 55:92-106.7. Briggs CM, Cutright P. Structural and culturaldeterminants of child homicide: a cross-nationalanalysis. Violence and Victims, 1994, 9:3-16.8. Smutt M, Miranda JLE. El Salvador: socialización yviolencia juvenil [El Salvador: socialization and
CAPÍTULO 2. VIOLÊNCIAJUVENIL• 49
juvenile violence]. In: Ramos CG, ed. AméricaCentral en los noventa: problemas de juventud[Central America in the 90s: youth problems] . SanSalvador, Latin American Faculty of Social Sciences,1998:151-187.9. Kahn K et al. Who dies from what? Determiningcause of death in South Africa's rural north-east.Tropical Medicine and International Health, 1999,4:433-441.10. Campbell NC et al. Review of 1198 cases ofpenetrating trauma. British Journal of Surgery, 1997,84:1737-1740.11. Phillips R. The economic cost of homicide to aSouth African city [Dissertation]. Cape Town,University of Cape Town, 1999.12. Wygton A. Firearm-related injuries and deathsamong children and adolescents in Cape Town, 1992-1996. South African Medical Journal, 1999, 89:407-410.13. Amakiri CN et al. A prospective study of coroners'autopsies in University College Hospital, Ibadan,Nigeria. Medicine, Science and Law, 1997, 37:69-75.14. Nwosu SE, Odesanmi WO. Pattern of homicidesin Nigeria: the Ile-Ife experience. West African MedicalJournal, 1998, 17:236-268.15. Pridmore S, Ryan K, Blizzard L. Victims of violencein Fiji. Australian and New Zealand Journal ofPsychiatry, 1995, 29:666-670.16. Lu TH, Lee MC, Chou MC. Trends in injurymortality among adolescents in Taiwan, 1965-94.Injury Prevention, 1998, 4:111-115.17. Chalmers DJ, Fanslow JL, Langley JD. Injury fromassault in New Zealand: an increasing public healthproblem. Australian Journal of Public Health, 1995,19:149-154.18. Tercero F et al. On the epidemiology of injury indeveloping countries: a one-year emergencyroombased surveillance experience from León,Nicaragua. International Journal for Consumer andProduct Safety, 1999, 6:33-42.19. Gofin R et al. Intentional injuries among the young:presentation to emergency rooms, hospitalization,and death in Israel. Journal of Adolescent Health,2000, 27:434-442.20. Lerer LB, Matzopoulos RG, Phillips R. Violenceand injury mortality in the Cape Town metropole.South African Medical Journal, 1997, 87:298-301.21. Zwi KJ et al. Patterns of injury in children andadolescents presenting to a South African townshiphealth centre. Injury Prevention, 1995, 1:26-30.22. Odero WO, Kibosia JC. Incidence and
characteristics of injuries in Eldoret, Kenya. EastAfrican Medical Journal, 1995, 72:706-760.23. Mansingh A, Ramphal P. The nature ofinterpersonal violence in Jamaica and its strain onthe national health system. West Indian MedicalJournal, 1993, 42:53-56.24. Engeland A, Kopjar B. Injuries connected toviolence: an analysis of data from the injury registry.Tidsskrift for den Norske Laegeforening, 2000,120:714-717.25. Tercero DM. Caracteristicas de los pacientescon lesiones de origen violento, atendidos enHospital Mario Catarino Rivas [Characteristics ofpatients with intentional injuries, attended to in theMario Catarino Rivas Hospital]. San Pedro Sula,Honduras, Secretary of Health, 1999.26. Kuhn F et al. Epidemiology of severe eye injuries.United States Eye Injury Registry (USEIR) andHungarian Eye Injury Registry (HEIR).Ophthalmologe, 1998, 95:332-343.27. Butchart A, Kruger J, Nell V. Neighbourhoodsafety: a township violence and injury profile. Crimeand Conflict, 1997, 9:11-15.28. Neveis O, Bagus R, Bartolomeos K. Injurysurveillance at Maputo Central Hospital. Abstractfor XIth Day of Health, June 2001. Maputo, 2001.29. Cruz JM. La victimización por violencia urbana:niveles y factores asociados en ciudades de AméricaLatina y España [Victimization through violence:levelsand associated factors in Latin American and Spanishtowns]. Revista Panamericana de Salud Publica,1999, 5:4-5.30. National Referral Centre for Violence. Forensis1999: datos para la vida. Herramienta para lainterpretación, intervención y prevención del hechoviolento en Colombia [Forensis 1999: data for life.A tool for interpreting, acting against andpreventing violence in Colombia]. Santa Fe deBogotá, National Institute of Legal Medicine andForensic Science, 2000.31. Peden M. Non-fatal violence: some results fromthe pilot national injury surveillance system. TraumaReview, 2000, 8:10-12.32. Kann L et al. Youth risk behavior surveillance:United States, 1999. Morbidity and Mortality WeeklyReport, 2000, 49:3-9 (CDC Surveillance Summaries,SS-5).33. Rossow I et al. Young, wet and wild? Associationsbetween alcohol intoxication and violent behaviourin adolescence. Addiction, 1999, 94:1017-1031.34. Clémense A. Violence and incivility at school: thesituation in Switzerland. In: Debarbieux E, Blaya C,
50 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
eds. Violence in schools: ten approaches in Europe.Issy-les-Moulineaux, Elsevier, 2001:163-179.35. Grufman M, Berg-Kelly K. Physical fighting andassociated health behaviours among Swedishadolescents. Acta Paediatrica, 1997, 86:77-81.36. Gofin R et al. Fighting among Jerusalemadolescents: personal and school-related factors.Journal of Adolescent Health, 2000, 27:218-223.37. Youssef RM, Attia MS, Kamel MI. Violence amongschoolchildren in Alexandria. Eastern MediterraneanHealth Journal, 1999, 5:282-298.38. Parrilla IC et al. Internal and external environmentof the Puerto Rican adolescent in the use of alcohol,drugs and violence. Boletin Asociación Medica dePuerto Rico, 1997, 89:146-149.39. O'Moore AM et al. Bullying behaviour in Irishschools: a nationwide study. Irish Journal ofPsychology, 1997, 18:141-169.40. Currie C, ed. Health behaviour in school-agedchildren: a WHO cross-national study. Bergen,University of Bergen, 1998.41. Loeber R et al. Developmental pathways indisruptive child behavior. Development andPsychopathology, 1993, 5:103-133.42. Flisher AJ et al. Risk-taking behaviour of CapePeninsula high-school students. Part VII: violentbehaviour. South African Medical Journal, 1993,83:490-494.43. McKeganey N, Norrie J. Association betweenillegal drugs and weapon carrying in young peoplein Scotland: schools' survey. British Medical Journal,2000, 320:982-984.44. Mooij T. Veilige scholen en (pro)sociaal gedrag:evaluatie van de campaghne 'De veilige school' inhet voortgezet onderwijs [Safe schools and positivesocial behaviour: an evaluation of the ''Safe schools''campaign in continuing education]. Nijmegen,Institute for Applied Social Sciences, University ofNijmegen, 2001.45. Dahlberg LL, Potter LB. Youth violence:developmental pathways and prevention challenges.American Journal of Preventive Medicine, 2001,20(1S):3-14.46. D'Unger AV et al. How many latent classes ofdelinquent/criminal careers? Results from a mixedPoisson regression analysis. American SociologicalReview, 1998, 103:1593-1620.47. Huizinga D, Loeber R, Thornberry TP. Recentfindings from a program of research on the causesand correlates of delinquency. Washington, DC,United States Department of Justice, 1995.48. Nagin D, Tremblay RE. Trajectories of boys'
physical aggression, opposition, and hyperactivityon the path to physically violent and nonviolentjuvenile delinquency. Child Development, 1999,70:1181-1196.49. Patterson GR, Yoerger K. A developmental modelfor late-onset delinquency. Nebraska Symposium onMotivation, 1997, 44:119-177.50. Stattin H, Magnusson M. Antisocial development:a holistic approach. Development andPsychopathology, 1996, 8:617-645.51. Loeber R, Farrington DP, Waschbusch DA.Serious and violent juvenile offenders. In: Loeber R,Farrington DP, eds. Serious and violent juvenileoffenders: risk factors and successful interventions.Thousand Oaks, CA, Sage, 1998:13-29.52. Moffitt TE. Adolescence-limited and life-coursepersistent antisocial behavior: a developmentaltaxonomy. Psychological Review, 1993, 100:674-701.53. Tolan PH. Implications of onset for delinquencyrisk identification. Journal of Abnormal ChildPsychology, 1987, 15:47-65.54. Tolan PH, Gorman-Smith D. Development ofserious and violent offending careers. In: Loeber R,Farrington DP, eds. Serious and violent juvenileoffenders: risk factors and successful interventions.Thousand Oaks, CA, Sage, 1998:68-85.55. Stattin H, Magnusson D. The role of earlyaggressive behavior in the frequency, seriousness,and types of later crime. Journal of Consulting andClinical Psychology, 1989, 57:710-718.56. Pulkkinen L. Offensive and defensive aggressionin humans: a longitudinal perspective. AggressiveBehaviour, 1987, 13:197-212.57. Hamparian DM et al. The young criminal years ofthe violent few. Washington, DC, Office of JuvenileJustice and Delinquency Prevention, 1985.58. Farrington DP. Predicting adult official andselfreported violence. In: Pinard GF, Pagani L, eds.Clinical assessment of dangerousness: empiricalcontributions. Cambridge, Cambridge UniversityPress, 2001:66-88.59. Loeber R et al. Developmental pathways indisruptive child behavior. Development andPsychopathology, 1993, 5:103-133.60. LeBlanc M, Frechette M. Male criminal activityfrom childhood through youth. New York, NY,Springer-Verlag, 1989.61. Agnew R. The origins of delinquent events: anexamination of offender accounts. Journal ofResearch in Crime and Delinquency, 1990, 27:267-294.62. Farrington DP. Motivations for conduct disorder
CAPÍTULO 2. VIOLÊNCIAJUVENIL• 51
and delinquency. Development andPsychopathology, 1993, 5:225-241.63. Wikström POH. Everyday violence incontemporary Sweden. Stockholm, National Councilfor Crime Prevention, 1985.64. Miczek KA et al. Alcohol, drugs of abuse,aggression and violence. In: Reiss AJ, Roth JA, eds.Understanding and preventing violence: panel onthe understanding and control of violent behavior.Vol. 3. Social influences. Washington, DC, NationalAcademy Press, 1994:377-570.65. Brennan P, Mednick S, John R. Specialization inviolence: evidence of a criminal subgroup.Criminology, 1989, 27:437-453.66. Hamparian DM et al. The violent few: a study ofdangerous juvenile offenders. Lexington, MA, DCHeath, 1978.67. Kandel E, Mednick SA. Perinatal complicationspredict violent offending. Criminology, 1991, 29:519-529.68. Brennan PA, Mednick BR, Mednick SA. Parentalpsychopathology, congenital factors, and violence.In: Hodgins S, ed. Mental disorder and crime.Thousand Oaks, CA, Sage, 1993:244-261.69. Denno DW. Biology and violence: from birth toadulthood. Cambridge, Cambridge University Press,1990.70. Raine A. The psychopathology of crime: criminalbehavior as a clinical disorder. San Diego, CA,Academic Press, 1993.71. Kagan J. Temperamental contributions to socialbehavior. A merican Psychologist, 1989, 44:668-674.72. Wadsworth MEJ. Delinquency, pulse rates, andearly emotional deprivation. British Journal ofCriminology, 1976, 16:245-256.73. Farrington DP. The relationship between lowresting heart rate and violence. In: Raine A et al., eds.Biosocial bases of violence. New York, NY, Plenum,1997:89-105.74. Henry B et al. Temperamental and familialpredictors of violent and nonviolent criminalconvictions: age 3 to age 18. DevelopmentalPsychology, 1996, 32:614-623.75. Caspi A et al. Are some people crime-prone?Replications of the personality-crime relationshipacross countries, genders, races, and methods.Criminology, 1994, 32:163-195.76. Klinteberg BA et al. Hyperactive behavior inchildhood as related to subsequent alcohol problemsand violent offending: a longitudinal study of malesubjects. Personality and Individual Differences,1993, 15:381-388.
77. Farrington DP. Predictors, causes, and correlatesof male youth violence. In: Tonry M, Moore MH,eds. Youth violence. Chicago, IL, University ofChicago Press, 1998:421-475.78. Lipsey MW, Derzon JH. Predictors of violent orserious delinquency in adolescence and earlyadulthood: a synthesis of longitudinal research. In:Loeber R, Farrington DP, eds. Serious and violentjuvenile offenders: risk factors and successfulinterventions. Thousand Oaks, CA, Sage, 1998:86-105.79. Moffitt TE, Henry B. Neuropsychological studiesof juvenile delinquency and juvenile violence. In:Milner JS, ed. Neuropsychology of aggression.Boston, MA, Kluwer, 1991:131-146.80. Seguin J et al. Cognitive and neuropsychologicalcharacteristics of physically aggressive boys.Journal of Abnormal Psychology, 1995, 104:614-624.81. Dahlberg L. Youth violence in the United States:major trends, risk factors, and prevention approaches.American Journal of Preventive Medicine, 1998,14:259-272.82. McCord J. Some child-rearing antecedents ofcriminal behavior in adult men. Journal of Personalityand Social Psychology, 1979, 37:1477-1486.83. Eron LD, Huesmann LR, Zelli A. The role ofparental variables in the learning of aggression. In:Pepler DJ, Rubin KJ, eds. The development andtreatment of childhood aggression. Hillsdale, NJ,Lawrence Erlbaum, 1991:169-188.84. Widom CS. The cycle of violence. Science, 1989,244:160-166.85. Malinosky-Rummell R, Hansen DJ. Long-termconsequences of childhood physical abuse.Psychological Bulletin, 1993, 114:68-79.86. Smith C, Thornberry TP. The relationship betweenchildhood maltreatment and adolescent involvementin delinquency. Criminology, 1995, 33:451-481.87. McCord J. Family as crucible for violence:comment on Gorman-Smith et al. (1996). Journal ofFamily Psychology, 1996, 10:147-152.88. Thornberry TP, Huizinga D, Loeber R. Theprevention of serious delinquency and violence:implications from the program of research on thecauses and correlates of delinquency. In: Howell JCet al., eds. Sourcebook on serious, violent, andchronic juvenile offenders. Thousand Oaks, CA,Sage, 1995:213-237.89. Morash M, Rucker L. An exploratory study of theconnection of mother's age at childbearing to herchildren's delinquency in four data sets. Crime andDelinquency, 1989, 35:45-93.
52 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
90. Nagin DS, Pogarsky G, Farrington DP. Adolescentmothers and the criminal behavior of their children.Law and Society Review, 1997, 31:137-162.91. Gorman-Smith D et al. The relation of familyfunctioning to violence among inner-city minorityyouths. Journal of Family Psychology, 1996, 10:115-129.92. Wadsworth MEJ. Delinquency prediction and itsuses: the experience of a 21-year follow-up study.International Journal of Mental Health, 1978, 7:43-62.93. Elliott DS, Huizinga D, Menard S. Multipleproblem youth: delinquency, substance use, andmental health problems. New York, NY, Springer-Verlag, 1989.94. Perales A, Sogi C. Conductas violentas enadolescentes: identificación de factores de riesgo paradiseño de programa preventivo [Violent behaviouramong adolescents: identifying risk factors to designprevention programmes]. In: Pimentel Sevilla C, ed.Violencia, familia y niñez en los sectores urbanospobres [Violence, the family and childhood in poorurban sectors]. Lima, Cecosam, 1995:135-154.95. Gianini RJ, Litvoc J, Neto JE. Agressão física eclasse social. Revista de Saúde Pública, 1999, 33:180-186.96. Hogh E, Wolf P. Violent crime in a birth cohort:Copenhagen 1953-1977. In: van Dusen KT, MednickSA, eds. Prospective studies of crime anddelinquency. Boston, Kluwer-Nijhoff, 1983:249-267.97. Hawkins JD et al. A review of predictors of youthviolence. In: Loeber R, Farrington DP, eds. Seriousand violent juvenile offenders: risk factors andsuccessful interventions. Thousand Oaks, CA, Sage,1998:106-146.98. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS(UNAIDS), UNICEF, National Black LeadershipCommission on AIDS. Call to action for ''childrenleft behind'' by AIDS . Geneva, UNAIDS, 1999(available on the Internet at http://www.unaids.org/p u b l i c a t i o n s / d o c u m e n t s / c h i l d r e n /index.html#young).99. Reiss AJ, Farrington DP. Advancing knowledgeabout co-offending: results from a prospectivelongitudinal survey of London males. Journal ofCriminal Law and Criminology, 1991, 82:360-395.100. Elliott DS, Menard S. Delinquent friends anddelinquent behavior: temporal and developmentalpatterns. In: Hawkins JD, ed. Delinquency and crime:current theories. Cambridge, Cambridge UniversityPress, 1996:28-67.101. Howell JC. Juvenile justice and youth violence.
Thousand Oaks, CA, Sage, 1997.102. Farrington DP, Loeber R. Major aims of this book.In: Loeber R, Farrington DP, eds. Serious and violentjuvenile offenders: risk factors and successfulinterventions. Thousand Oaks, CA, Sage, 1998:1-9.103. Blumstein A. Youth violence, guns and the illicit-drug industry. Journal of Criminal Law andCriminology, 1995, 86:10-36.104. van Kammen WB, Loeber R. Are fluctuations indelinquent activities related to the onset and offsetin juvenile illegal drug use and drug dealing? Journalof Drug Issues, 1994, 24:9-24.105. de Souza Minayo MC. Fala, galera: juventude,violência e cidadania. Rio de Janeiro, Garamond,1999.106. Rodgers D. Youth gangs and violence in LatinAmerica and the Caribbean: a literature survey.Washington, DC, World Bank, 1999 (LCR SustainableDevelopment Working Paper, No. 4).107. Lederman D, Loayza N, Menéndez AM. Violentcrime: does social capital matter? Washington, DC,World Bank, 1999.108. Ayres RL. Crime and violence as developmentissues in Latin America and the Caribbean.Washington, DC, World Bank, 1998.109. Moser C, Holland J. Urban poverty and violencein Jamaica. In: World Bank Latin American andCaribbean studies: viewpoints. Washington, DC,World Bank, 1997:1-53.110. Wilkinson RG, Kawachi I, Kennedy BP. Mortality,the social environment, crime and violence.Sociology of Health and Illness, 1998, 20:578-597.111. Ortega ST et al. Modernization, age structure,and regional context: a cross-national study of crime.Sociological Spectrum, 1992, 12:257-277.112. Schneidman M. Targeting at-risk youth:rationales, approaches to service delivery andmonitoring and evaluation issues. Washington, DC,World Bank, 1996 (LAC Human and SocialDevelopment Group Paper Series, No. 2).113. Lauras-Loch T, Lopez-Escartin N. Jeunesse etdémographie en Afrique [Youth and demography inAfrica]. In: d'Almeida-Topor H et al. Les jeunes enAfrique: évolution et rôle (XIXe-XXe siècles) [Youthin Africa: its evolution and role (19th and 20thcenturies)]. Paris, L'Harmattan, 1992:66-82.114. A picture of health? A review and annotatedbibliography of the health of young people indeveloping countries. Geneva, World HealthOrganization (in collaboration with the United NationsChildren's Fund), 1995 (document WHO/FHE/ADH/95.14).
CAPÍTULO 2. VIOLÊNCIAJUVENIL• 53
115. Diallo Co-Trung M. La crise scolaire au Sénégal:crise de l'école, crise de l'autorité? [The school crisisin Senegal: a school crisis or a crisis of authority?] In:d'Almeida-Topor H et al. Les jeunes en Afrique:évolution et rôle (XIXe-XXe siècles) [Youth in Africa:its evolution and role (19th and 20th centuries) ].Paris, L'Harmattan, 1992:407-439.116. Rarrbo K. L'Algérie et sa jeunesse:marginalisations sociales et désarroi culturel[Algeria and its youth: social marginalization andcultural confusion]. Paris, L'Harmattan, 1995.117. Dinnen S. Urban raskolism and criminal groupsin Papua New Guinea. In: Hazlehurst K, Hazlehurst C,eds. Gangs and youth subcultures: internationalexplorations. NewBrunswick, NJ, Transaction, 1998.118. United Nations Children's Fund. Children at riskin Central and Eastern Europe: perils and promises.Florence, International Child Development Centre,1997 (The Monee Project, Regional MonitoringReport, No. 4).119. Messner SF. Research on cultural andsocioeconomic factors in criminal violence.Psychiatric Clinics of North America, 1988, 11:511-525.120. Fajnzylber P, Lederman D, Loayza N. Inequalityand violent crime. Washington, DC, World Bank,1999.121. Unnithan NP, Whitt HP. Inequality, economicdevelopment and lethal violence: a cross-nationalanalysis of suicide and homicide. InternationalJournal of Comparative Sociology, 1 992, 33:182-196.122. Noronha CV et al. Violência, etnia e cor: um estudodos diferenciais na região metropolitana de Salvador,Bahia, Brasil. Pan American Journal of PublicHealth, 1999, 5:268-277.123. Sanjuán AM. Juventude e violência em Caracas:paradoxos de um processo de perda da cidadania. In:Pinheiro PS, ed. São Paulo sem medo: umdiagnóstico da violência urbana. Rio de Janeiro,Garamond, 1998:155-171.124. Aitchinson J. Violência e juventude na África doSul: causas, lições e soluções para uma sociedadeviolenta. In: Pinheiro PS, ed. São Paulo sem medo:um diagnóstico da violência urbana. Rio de Janeiro,Garamond, 1998:121-132.125. Pampel FC, Gartner R. Age structure, socio-political institutions, and national homicide rates.European Sociological Review, 1995, 11:243-260.126. Messner SF, Rosenfeld R. Political restraint ofthe market and levels of criminal homicide: acrossnational application of institutional-anomietheory. Social Forces, 1997, 75:1393-1416.
127. Centerwall BS. Television and violence: the scaleof the problem and where to go from here. Journal ofthe American Medical Association, 1992, 267:3059-3063.128. Centerwall BS. Exposure to television as a causeof violence. Public Communication and Behaviour,1989, 2:1-58.129. Centerwall BS. Exposure to television as a riskfactor for violence. American Journal ofEpidemiology, 1989, 129:643-652.130. Joy LA, Kimball MM, Zabrack ML. Televisionand children's aggressive behavior. In: Williams TM,ed. The impact of television: a natural experimentin three communities. New York, NY, Academic Press,1986:303-360.131. Williams TM. The impact of television: a naturalexperiment in three communities. New York, NY,Academic Press, 1986.132. Wood W, Wong FY, Chachere G. Effects of mediaviolence on viewers' aggression in unconstrainedsocial interaction. Psychological Bulletin, 1991,109:307-326.133. Paik H, Comstock G. The effects of televisionviolence on antisocial behavior: a meta-analysis.Communication Research, 1994, 21:516-546.134. Huesmann LR, Eron LD, eds. Television and theaggressive child: a cross-national comparison.Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, 1986.135. Wiegman O, Kuttschreuter M, Baarda B. Alongitudinal study of the effects of television viewingon aggressive and antisocial behaviours. BritishJournal of Social Psychology, 1992, 31:147-164.136. Bedoya Marín DA, Jaramillo Martínez J. De labarra a la banda. [From football supporter to gangmember.] Medellín, El Propio Bolsillo, 1991.137. Kellermann AL et al. Preventing youth violence:what works? Annual Review of Public Health, 1998,19:271-292.138. Johnson DL, Walker T. Primary prevention ofbehavior problems in Mexican-American children.American Journal of Community Psychology, 1987,15:375-385.139. Berrueta-Clement JR et al. Changed lives: theeffects of the Perry preschool program on youththrough age 19. Ypsilanti, MI, High/Scope, 1984.140. Schweinhart LJ, Barnes HV, Weikart DP.Significant benefits: the High/Scope Perry preschoolproject study through age 27. Ypsilanti, MI, High/Scope, 1993.141. Tolan PH, Guerra NG. What works in reducingadolescent violence: an empirical review of the field.Boulder, CO, University of Colorado, Center for the
54 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Study and Prevention of Violence, 1994.142. Richards BA, Dodge KA. Social maladjustmentand problem-solving in school-aged children. Journalof Consulting and Clinical Psychology, 1982, 50:226-233.143. Guerra NG, Williams KR. A program planningguide for youth violence prevention: a risk-focusedapproach. Boulder, CO, University of Colorado,Center for the Study and Prevention of Violence, 1996.144. Hawkins JD et al. Preventing adolescent health-risk behaviors by strengthening protection duringchildhood. Archives of Pediatrics & AdolescentMedicine, 1999, 153:226-234.145. Howell JC, Bilchick S, eds. Guide forimplementing the comprehensive strategy for seriousviolent and chronic juvenile offenders. Washington,DC, United States Department of Justice, Office ofJuvenile Justice and Delinquency Prevention, 1995.146. Thornton TN et al. Best practices of youthviolence prevention: a sourcebook for communityaction. Atlanta, GA, Centers for Disease Control andPrevention, 2000.147. Olweus D, Limber S, Mihalic S. Bullyingprevention program. Boulder, CO, University ofColorado, Center for the Study and Prevention ofViolence, 1998 (Blueprints for Violence PreventionSeries, Book 9).148. Williams KR, Guerra NG, Elliott DS. Humandevelopment and violence prevention: a focus onyouth. Boulder, CO, University of Colorado, Centerfor the Study and Prevention of Violence, 1997.149. Lally JR, Mangione PL, Honig AS. The SyracuseUniversity Family Development Research Project:long-range impact of an early intervention with low-income children and their families. In: Powell DR, ed.Annual advances in applied developmentalpsychology: parent education as an early childhoodintervention. Norwood, NJ, Ablex, 1988:79-104.150. Seitz V, Rosenbaum LK, Apfel NH. Effects of afamily support intervention: a 10-year follow-up.Child Development, 1985, 56:376-391.151. Olds DL et al. Long-term effects of nurse homevisitation on children's criminal and antisocialbehavior: 15-year follow-up of a randomizedcontrolled trial. Journal of the American MedicalAssociation, 1998, 280:1238-1244.152. Farrington DP, Welsh BC. Delinquencyprevention using family-based interventions.Children and Society, 1999, 13:287-303.153. Sanders MR. Triple-P-Positive ParentingProgram: towards an empirically validated multilevelparenting and family support strategy for the
prevention of behavior and emotional problems inchildren. Clinical Child and Family PsychologyReview, 1999, 2:71-90.154. Triple-P-Positive Parenting Program. Triple PNews, 2001, 4:1.155. Patterson GR, Capaldi D, Bank L. An early startermodel for predicting delinquency. In: Pepler DJ, RubinKH, eds. The development and treatment ofchildhood aggression. Hillsdale, NJ, LawrenceErlbaum, 1991:139-168.156. Patterson GR, Reid JB, Dishion TJ. Antisocialboys. Eugene, OR, Castalia, 1992.157. Hawkins JD, Von Cleve E, Catalano RF. Reducingearly childhood aggression: results of a primaryprevention program. Journal of the AmericanAcademy of Child and Adolescent Psychiatry, 1991,30:208-217.158. Tremblay RE et al. Parent and child training toprevent early onset of delinquency: the Montreallongitudinal experimental study. In: McCord J,Tremblay RE, eds. Preventing antisocial behavior:interventions from birth through adolescence. NewYork, NY, Guilford, 1992:117-138.159. Greenwood PW et al. Diverting children from alife of crime: measuring costs and benefits. SantaMonica, CA, Rand, 1996.160. Mihalic SF, Grotpeter JK. Big Brothers/BigSisters of America. Boulder, CO, University ofColorado, Center for the Study and Prevention ofViolence, 1997 (Blueprints for Violence PreventionSeries, Book 2).161. Grossman JB, Garry EM. Mentoring: a provendelinquency prevention strategy. Washington, DC,United States Department of Justice, Office of JusticePrograms, 1997 (Juvenile Justice Bulletin, No. NCJ164386).162. Shadish WR. Do family and maritalpsychotherapies change what people do? A meta-analysis of behavior outcomes. In: Cook TD et al.,eds. Meta-analysis for explanation: a casebook. NewYork, NY, Russell Sage Foundation, 1992:129-208.163. Hazelrigg MD, Cooper HM, Borduin CM.Evaluating the effectiveness of family therapies: anintegrative review and analysis. PsychologicalBulletin, 1987, 101:428-442.164. Klein NC, Alexander JF, Parsons BV. Impact offamily systems intervention on recidivism and siblingdelinquency: a model of primary prevention andprogram evaluation. Journal of Consulting andClinical Psychology, 1977, 45:469-474.165. Aos S et al. The comparative costs and benefitsof programs to reduce crime: a review of national
CAPÍTULO 2. VIOLÊNCIAJUVENIL• 55
research findings with implications for Washingtonstate. Olympia, WA, Washington State Institute forPublic Policy, 1999 (Report No. 99-05-1202).166. Henggler SW et al. Multisystemic treatment ofantisocial behavior in children and adolescents.New York, NY, Guilford, 1998.167. Goldstein H. Policing of a free society. Cambridge,MA, Ballinger, 1977.168. Office of Juvenile Justice and DelinquencyPrevention. Bridging the child welfare and juvenilejustice systems. Washington, DC, National Instituteof Justice, 1995.169. Marens S, Schaefer M. Community policing,schools, and mental health. In: Elliott DS, HamburgBA, Williams KR, eds. Violence in American schools.Cambridge, Cambridge University Press, 1998:312-347.170. Buvinic M, Morrison A, Shifter M. Violence inLatin America and the Caribbean: a framework foraction. Washington, DC, Inter-AmericanDevelopment Bank, 1999.171. Jarquin E, Carrillo F. La económica política de lareforma judicial [The political economy of judicialreform]. Washington, DC, Inter-AmericanDevelopment Bank, 1997.172. Kraushaar K, Alsop B. A naturalistic alcoholavailability experiment: effects on crime.Washington, DC, Educational Resources InformationCenter, 1995 (document CG 026 940).173. Chaiken MR. Tailoring established after-schoolprograms to meet urban realities. In: Elliott DS,Hamburg BA, Williams KR, eds. Violence in Americanschools. Cambridge, Cambridge University Press,1998:348-375.174. Chaiken MR, Huizinga D. Early prevention ofand intervention for delinquency and related problembehavior. The Criminologist, 1995, 20:4-5.175. Babotim F et al. Avaliação 1998 do trabalhorealizado pela Essor com os adolescentes de dois
bairros de Maputo/Moçambique. Maputo, Essor,1999.176. Rodgers D. Living in the shadow of death:violence, pandillas and social disorganization incontemporary urban Nicaragua [Dissertation].Cambridge, University of Cambridge, 1999.177. Finestone H. Victims of change: juveniledelinquency in American society. Westport, CT,Greenwood, 1976.178. Klein MW. A structural approach to gangintervention: the Lincoln Heights project. San Diego,CA, Youth Studies Center, 1967.179. Salazar A. Young assassins in the drug trade.North American Conference on Latin America, 1994,27:24-28.180. Painter KA, Farrington DP. Evaluating situationalcrime prevention using a young people's survey.British Journal of Criminology, 2001, 41:266-284.181. Ludwig J, Duncan GJ, Hirschfield P. Urbanpoverty and juvenile crime: evidence from arandomized housing-mobility experiment. QuarterlyJournal of Economics, 2001, 16:655-680.182. Sheley JF, Wright JD. Gun acquisition andpossession in selected juvenile samples. Washington,DC, United States Department of Justice, 1993.183. Cook PJ, Moore MH. Guns, gun control, andhomicide. In: Smith MD, Zahn MA eds. Studyingand preventing homicide: issues and challenges.Thousand Oaks, CA, Sage, 1999:246-273.184. Teret SP et al. Making guns safer. Issues inScience and Technology, 1998, Summer:37-40.185. Loftin C et al. Effects of restrictive licensing ofhandguns on homicide and suicide in the District ofColumbia. New England Journal of Medicine, 1991,325:1615-1620.186. Villaveces A et al. Effect of a ban on carryingfirearms on homicide rates in two Colombian cities.Journal of the American Medical Association, 2000,283:1205-1209.
.
56 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
AntecedentesHá muito e em muitas partes do mundo, existem
registros de abuso infantil na literatura, arte e ciência.Relatos de infanticídio, mutilação, abandono e outrasformas de violência contra as crianças datam deantigas civilizações (1). Os registros históricostambém estão repletos de relatórios de crianças malcuidadas, fracas e desnutridas, expulsas pelasfamílias para se defenderem sozinhas e de criançasque sofreram abuso sexual.
Também há muito, existem grupos beneficentes eoutros relacionados ao bem-estar da criança, que têmdefendido a proteção à criança. Contudo, a questãonão recebeu muita atenção por parte dos profissionaisda área médica ou do público em geral até 1962, coma publicação de um trabalho embrionário, Thebattered child syndrome [A síndrome da criançaespancada], de Kempe e outros (2).
A expressão "síndrome da criança espancada"foi cunhada para caracterizar as manifestaçõesclínicas de abuso físico sério em crianças (2). Agora,quatro décadas mais tarde, há uma clara evidência deque o abuso infantil é um problema global. Ele ocorrede diversas maneiras e está profundamente enraizadonas práticas culturais, econômicas e sociais. Asolução para este problema global, entretanto, requeruma melhor compreensão de sua ocorrência nosdiversos cenários, bem como de suas causas econseqüências nesses cenários.
Como se define o abuso e a negligênciaem relação à criança?Questão culturais
Qualquer abordagem global ao abuso infantil,deve levar em consideração os diferentes padrões eexpectativas em relação ao comportamento parentalem uma variedade de culturas em todo o mundo. Acultura é o fundo comum de crenças ecomportamentos de uma sociedade e seus conceitosde como as pessoas devem se conduzir. Incluídasnestes conceitos estão as idéias sobre que atos deomissão ou acometimento podem constituir abuso enegligência (3, 4). Em outras palavras, a cultura ajudaa definir os princípios normalmente aceitos de criaçãodas crianças e cuidados com as mesmas.
Diferentes culturas têm diferentes normas que sãopráticas aceitáveis de comportamento parental emrelação à criação dos filhos. Alguns pesquisadoressugerem que, nas culturas, os pontos de vistarelacionados à criação dos filhos podem divergirtanto, que se torna extremamente difícil chegar a um
acordo em relação a que práticas são abusivas ounegligentes (5, 6). Entretanto, as diferenças namaneira como as culturas definem o que é abusivotêm mais a ver com a ênfase em determinados aspectosdo comportamento parental. Parece que, entre asdiversas culturas, há um consenso geral de que oabuso infantil não deve ser permitido e, a esserespeito, uma unanimidade virtual de que as práticasdisciplinares muito rígidas e o abuso sexual sãomotivos de preocupação (7).
Tipos de abusoA International Society for Prevention of Child
Abuse and Neglect [Sociedade Internacional dePrevenção ao Abuso e à Negligência em Relação àCriança] recentemente comparou definições de abusode 58 países e encontrou alguns pontos em comumem relação ao que era considerado abusivo (7). Em1999, o Consultation on Child Abuse Prevention[Conselho de Prevenção contra o Abuso Infantil] daOrganização Mundial de Saúde esboçou a seguintedefinição (8):
"O abuso ou maus-tratos em relação à criançaconstitui todas as formas de tratamento doentiofísico e/ou emocional, abuso sexual, negligência outratamento negligente, exploração comercial ou outrotipo de exploração, resultando em danos reais oupotenciais para a saúde, sobrevivência,desenvolvimento ou dignidade da criança no contextode uma relação de responsabilidade, confiança oupoder".
Algumas definições enfatizam comportamentosou ações dos adultos enquanto outras consideramque ocorre o abuso quando há danos ou ameaça dedanos para a criança (8-13). Se a intenção dos paisfaz parte da definição, fica potencialmente confusa adistinção entre comportamento - independente doresultado - e impacto ou dano. Alguns especialistasconsideram como crianças que sofreram abusoaquelas que tenham sido inadvertidamentemachucadas por meio de ações praticadas pelos pais,enquanto outros, para que o ato seja definido comoabusivo, exigem que o dano causado à criança tenhasido intencional. A literatura sobre abuso infantil incluiexplicitamente a violência contra crianças eminstituições ou escolas (14-17).
A definição acima (8) cobre um amplo espectrode abuso. Este capítulo enfoca principalmente os atosde acometimento e omissão por parte dos pais ouresponsáveis, que resultam em danos para a criança.Em particular, ele explora a prevalência, as causas e
CAPÍTULO 3. ABUSO INFANTIL E NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS PAIS E OUTROS RESPONSÁVEIS • 59
as conseqüências de quatro tipos de maus-tratos porparte dos responsáveis pelos cuidados com ascrianças, a saber:
— abuso físico,— abuso sexual,— abuso emocional e— negligência.O abuso físico de uma criança é definido como
atos de acometimento, por parte da pessoaresponsável pelos cuidados com a criança, quecausam real dano físico ou apresentam a possibilidadede um dano. O abuso sexual é definido como atos emque esse responsável usa a criança para obtergratificação sexual.
O abuso emocional inclui a falha, de umresponsável pelos cuidados com a criança, emproporcionar um ambiente apropriado e de amparo, einclui atos que têm um efeito adverso sobre a saúdee o desenvolvimento emocional de uma criança.Dentre esses, destacam-se: restrição dos movimentosde uma criança, atos denigridores, exposição aoridículo, ameaças e intimidações, discriminação,rejeição e outras formas não físicas de tratamentohostil.
A negligência diz respeito às falhas dos pais emproporcionar - onde os pais estão na posição de fazeristo – o desenvolvimento da criança em uma ou maisdas seguintes áreas: saúde, educação,desenvolvimento emocional, nutrição, abrigo econdições de vida seguras. A negligência distingue-se, portanto, das circunstâncias de pobreza, vistoque a primeira pode ocorrer apenas em casos onderecursos razoáveis estejam disponíveis para a famíliaou o responsável.
O Quadro 3.1. apresenta uma descrição maisdetalhada sobre as manifestações destes tipos deabuso.
A extensão do problemaAbuso fatal
As informações sobre o número de crianças quemorrem a cada ano devido a abusos, provêminicialmente dos atestados de óbito ou dadosrelacionados à mortalidade. Segundo a OrganizaçãoMundial de Saúde, houve uma estimativa de 57 milmortes atribuídas a homicídios entre crianças comidade inferior a 15 anos em 2000. As estimativasglobais de homicídios infantis sugerem que bebês ecrianças muito jovens estão na faixa de grande risco,com índices para o grupo de crianças de 0 a 4 anosduas vezes maior que para o grupo de crianças de 5 a
14 anos (ver anexo Estatísticas).Para crianças, o risco de abuso fatal varia de
acordo com o nível de renda de um país e a região domundo. Para crianças abaixo de cinco anos de idadeque vivem em países de renda elevada, o índice dehomicídio é 2,2 para cada 100 mil meninos e 1,8 paracada 100 mil meninas. Em países com renda baixa amédia, os índices são duas a três vezes maiores - 6,1para cada 100 mil meninos e 5,1 para cada 100 milmeninas. Os índices de homicídio mais altos paracrianças abaixo de cinco anos de idade sãoencontrados na região africana da OMS - 17,9 paracada 100 mil meninos e 12,7 para cada 100 mil meninas.Os índices mais baixos são encontrados nos paísesde renda alta localizados na região européia,Mediterrâneo oriental e Pacífico Ocidental da OMS(ver anexo Estatísticas).
Muitas mortes infantis, entretanto, não sãoinvestigadas rotineiramente e também não sãorealizadas autópsias, o que dificulta o estabelecimentode um número preciso de fatalidades de abuso infantilem um determinado país. Até mesmo em países ricos,há problemas em relação ao reconhecimentoadequado de casos de infanticídio e à medição desua incidência. Níveis significantes de classificaçãoincorreta da causa da morte conforme relatada nascertidões de óbito têm sido encontrados, por exemplo,em vários estados dos Estados Unidos. Eminvestigações reabertas, tem sido comprovado quemortes atribuídas a outras causas - por exemplo,síndrome da morte infantil súbita ou acidentes - são,na verdade, homicídios (18, 19).
Apesar da classificação incorreta aparente, ecomum, há um consenso geral de que as fatalidadesprovenientes de abuso infantil são mais freqüentesdo que os números oficiais sugerem em todos ospaíses em que têm sido realizados estudos sobremortes infantis (20-22) . Entre as fatalidadesatribuídas a abuso infantil, a causa mais comum demorte é ferimento na cabeça, seguida de ferimento noabdome (18, 23, 24). A sufocação intencional tambémtem sido muito relatada como causa mortis (19, 22).
Abuso não fatalOs dados sobre abuso infantil e negligência,
provêm de uma variedade de fontes, inclusiveestatísticas oficiais, relatórios de casos e pesquisasbaseadas na população. Estas fontes, entretanto,diferem no tocante à sua utilidade na descrição daextensão completa do problema.
Estatísticas oficiais, em geral, revelam pouco sobre
60 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
QUADRO 3.1
Manifestações de abuso infantil e negligênciaAs lesões infligidas por uma pessoa que cuida de uma criança podem assumir várias formas. As
conseqüências mais freqüentes de uma lesão na cabeça ou nos órgãos internos são danos sérios oumorte de crianças vítimas de abuso. A causa mais comum de morte entre crianças pequenas é o traumatismocraniano como resultado de abuso, sendo que as crianças de até dois anos de idade são as maisvulneráveis. Devido ao fato de a força aplicada ao corpo passar pela pele, os tipos de lesão encontradosna pele podem fornecer sinais claros de abuso. As manifestações de abuso relativas ao esqueletoincluem fraturas múltiplas em diferentes estágios de cicatrização, fraturas de ossos que muito raramentese quebram sob circunstâncias normais e fraturas características de costelas e ossos longos.
A criança sacudidaO ato de sacudir a criança é uma forma corrente de abuso observada em crianças muito pequenas. A
maioria das crianças sacudidas têm menos de nove meses de idade. A maior parte dos perpetradoresdeste tipo de abuso são homens, embora isto possa ser mais um reflexo do fato de que os homens, sendonormalmente mais fortes que as mulheres, tendem a aplicar uma força maior, em vez de serem maispropensos que as mulheres a sacudirem as crianças. Hemorragias intracranianas, hemorragias retinianase pequenas fraturas (trincas ou fissuras) na maior parte das articulações das extremidades do corpo dacriança podem ser resultado de sacudidas muito rápidas em uma criança. Elas também podem ser resultadode uma combinação de sacudir e bater a cabeça em uma superfície. Há evidências de que aproximadamenteum terço das crianças sacudidas fortemente morrem e que a maioria dos sobreviventes apresentamconseqüências em longo prazo, tais como retardamento mental, paralisia cerebral ou cegueira.
A criança espancada (battered child)Um das síndromes do abuso infantil é a da criança espancada. Este termo geralmente é empregado
para crianças que apresentam lesões repetidas e muito graves na pele, sistema esquelético e sistemanervoso. O termo inclui crianças com fraturas múltiplas de idades diferentes, traumatismo craniano etraumatismo visceral grave, com evidências de inflicções repetidas. Felizmente, embora os casos sejamtrágicos, este padrão é raro.
Abuso sexualAs crianças podem ser encaminhadas à atenção profissional devido a preocupações físicas ou
comportamentais que em investigações posteriores se revelam como resultado de abuso sexual. É comumcrianças que foram vítimas de abuso sexual apresentarem sintomas de infecção, lesões genitais, doresabdominais, constipação, infecções crônicas ou recorrentes do trato urinário ou problemascomportamentais. Ser capaz de detectar o abuso sexual infantil requer muita habilidade e familiaridadecom indicadores verbais, comportamentais e físicos de abuso. Muitas crianças revelarão o abuso para aspessoas que cuidam delas ou outros espontaneamente, embora também possa haver sinais físicos oucomportamentais indiretos.
NegligênciaExistem muitas manifestações de negligência em relação a crianças, incluindo-se o não cumprimento
de recomendações relacionadas aos cuidados com a saúde, falha na procura dos cuidados de saúdeapropriados, privação de alimentação resultando em fome e falha em proporcionar um desenvolvimentofísico à criança. Outros motivos para preocupação incluem exposição da criança às drogas e proteçãoinadequada em relação aos perigos do meio ambiente. Além disso, o abandono, a supervisão inadequada,a higiene precária e a privação da educação, todos têm sido considerados como evidências de negligência.
CAPÍTULO 3. ABUSO INFANTIL E NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS PAIS E OUTROS RESPONSÁVEIS • 61
os padrões de abuso infantil. Em parte isso ocorreporque em muitos países não há nenhum sistemalegal ou social com a responsabilidade específica defazer registros de abuso infantil e negligência, muitomenos de prestar contas a respeito (7). Além disso,entre os países, em relação a abuso e negligência, hádefinições legais e culturais diferentes. Há aindaevidências de que somente uma pequena parcela decasos de maus-tratos infantis são denunciados àsautoridades, mesmo onde a denúncia é obrigatória(25).
Séries de casos têm sido publicadas em muitospaíses. Tais publicações, são importantes paraorientar a ação local sobre o abuso infantil e despertara consciência e a preocupação entre o público e osprofissionais (26 - 32). Muitos casos, podem revelarsemelhanças entre as experiências em diferentespaíses e sugerir novas hipóteses. Entretanto, nãosão particularmente úteis no tocante à avaliação daimportância relativa de riscos possíveis ou fatoresde proteção nos diferentes contextos culturais (33).
As pesquisas baseadas na população constituemelemento essencial para a determinação da verdadeiraextensão do abuso infantil não fatal. Pesquisasrecentes deste tipo, têm sido concluídas em umgrande número de países, incluindo África do Sul,Austrália, Brasil, Canadá, Chile, China, Costa Rica,Egito, Estados Unidos, Etiópia, Filipinas, Índia, Itália,México, Nicarágua, Noruega, Nova Zelândia,República da Coréia, Romênia e Zimbábue (12, 14-17, 26, 34-43).
Abuso físicoAs estimativas de abuso físico infantil
provenientes de pesquisas baseadas na populaçãovariam consideravelmente. Uma pesquisa realizadanos Estados Unidos em 1995 perguntava aos paiscomo eles disciplinavam seus filhos (12). Um índiceestimado de abuso físico de 49 em cada mil criançasfoi obtido a partir dessa pesquisa, quando osseguintes comportamentos foram incluídos: bater nacriança com um objeto em qualquer parte do corpoque não as nádegas, chutar a criança, surrar a criançae ameaçar a criança com uma faca ou arma. A pesquisadisponível sugere que, para muitos outros países, osíndices não são mais baixos e podem, na verdade, sersuperiores às estimativas de abuso físico nos EstadosUnidos. Por todo o mundo, entre outras, as seguintesdescobertas são recentes:
• Em uma pesquisa realizada com crianças no Egito, 37% das crianças relataram que foram surradas
ou amarradas pelos pais e 26% relataram ferimentosfísicos, tais como fraturas, perda de consciência ouincapacidade permanente como resultado depancadas ou de terem sido amarradas (17).
• Em um estudo recente na República da Coréia,os pais foram questionados sobre seucomportamento em relação aos filhos. Dois terçosdos pais relataram ter castigado seus filhos e 45%confirmaram que tinham batido, surrado ou dadochutes nas crianças (26).
• Uma pesquisa nos lares na Romênia revelouque 4,6% das crianças pesquisadas eram vítimas deabuso físico grave e freqüente, inclusive por meio desurra com algum objeto, queimaduras ou privação dealimentação. Cerca da metade dos pais romenosadmitiram que batiam em seus filhos "regularmente"e 16% que batiam em seus filhos com objetos (34).
• Na Etiópia, 21% das crianças de escolas urbanase 64% de escolas rurais relataram contusões outumefações em seus corpos, resultantes de puniçõespor parte dos pais (14).
Dados mais comparáveis provêm do projetoWorld Studies of Abuse in the Family Environment -WorldSAFE [Estudos Mundiais do Abuso noAmbiente Familiar], um estudo feito em cooperaçãoentre diferentes países. Pesquisadores do Chile, Egito,Índia e Filipinas têm administrado um protocolocentral, comum para amostras baseadas na populaçãode mães em cada país, para estabelecer taxas deincidência comparáveis para formas de disciplinainfantil severas e mais moderadas. Os pesquisadoresmediram especificamente a freqüência doscomportamentos parentais disciplinares, utilizandouma Escala de Táticas de Conflito entre Pais e Filhos(Parent-Child Conflict Tactics Scale) (9-12, 40).Nesses estudos também foram coletados de maneirarotineira outros dados para determinar os fatores derisco e de proteção.
A Tabela 3.1 apresenta as conclusões de quatropaíses envolvidos no estudo sobre a incidênciarelativa de comportamentos disciplinares parentaisrelatados pelos próprios pais. Perguntas formuladasde modo idêntico foram utilizadas em cada país. Osresultados são comparados àqueles obtidos em umapesquisa nacional conduzida nos Estados Unidosutilizando-se o mesmo instrumento (12). Está claroque, a punição severa por parte dos pais não serestringe a apenas alguns lugares ou a uma únicaregião do mundo. No Egito, em áreas rurais da Índia enas Filipinas, como punição, os pais com freqüênciarelataram bater em suas crianças com um objeto emuma parte do corpo que não sejam as nádegas, pelo
62 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
menos durante os seis meses anteriores. Estecomportamento também foi relatado no Chile e nosEstados Unidos, embora em uma taxa muito inferior.Formas mais severas de violência, tais como, asfixiaras crianças, queimá-las ou ameaçá-las com uma facaou revólver, foram relatadas com menos freqüência.
Pais de outros países confirmaram, emdepoimentos semelhantes, que a punição física severade crianças por parte de seus pais existe emquantidade significativa onde quer que sejainvestigado. Na Itália, com base nas Escalas deTáticas de Conflito, a incidência de violência gravefoi de 8% (39). Tang apresentou uma taxa anual deviolência grave contra crianças, conforme relatadopelos pais, de 461 para cada 1 mil na China (HongKong SAR*) (43).
Um outro estudo, comparando os índices deviolência contra crianças com idade escolar primária,realizado na China e na República da Coréia, tambémutilizou as Escalas de Táticas de Conflito emboradirecionando as perguntas para as crianças em vezde seus pais (41). Na China, o índice de violênciagrave relatada pelas crianças foi de 22,6%, enquantoque na República da Coréia foi de 51,3%.
Dados extraídos a partir do estudo WorldSAFEtambém são esclarecedores em relação aos padrõesde formas “moderadas” de disciplina física nosdiferentes países (ver Tabela 3.1). Não há umconsenso universal em relação à disciplina moderadacomo abusiva, embora alguns profissionais e paisconsiderem inaceitáveis essas formas de disciplina.
CAPÍTULO 3. ABUSO INFANTIL E NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS PAIS E OUTROS RESPONSÁVEIS • 63
Nesta área, o estudo WorldSAFEindicou uma divergência mais amplaentre as sociedades e culturas. Surraras crianças nas nádegas, foi a medidadisciplinar mais comum relatada emtodos os países, com exceção do Egito,onde outras medidas, tais como sacudiras crianças, beliscá-las, ou estapeá-lasno rosto ou na cabeça eram maisutilizadas como punição. Os pais dasáreas rurais da Índia, entretanto,relataram que bater no rosto ou nacabeça das crianças é quase tão normalquanto bater nas nádegas, enquantoque em outros países esta práticaocorre com menos freqüência.
Formas graves e mais moderadasde disciplina, não estão limitadas aoambiente familiar ou doméstico. Umaquantidade significativa de punições
severas, ocorre em escolas e outras instituiçõesdirigidas por professores e outras pessoasresponsáveis pelo cuidado com as crianças (verQuadro 3.2).
Abuso sexualAs estimativas de prevalência de abuso sexual
variam muito, dependendo das definições utilizadase da maneira como as informações são coletadas.Algumas pesquisas são conduzidas com crianças,outras com adolescentes e adultos relatando suainfância, enquanto outros questionam os pais sobreas experiências pelas quais seus filhos têm passado.Estes três métodos diferentes podem produzirresultados muito diversos. Por exemplo, a pesquisaanteriormente mencionada das famílias romenasrevelou que 0,1% dos pais admitiu ter abusadosexualmente de seus filhos, enquanto 9,1% dascrianças relataram ter sofrido abuso sexual (34). Estadiscrepância pode ser explicada, em parte, pelo fatode que foi solicitado às crianças que considerassemtambém o abuso sexual cometido por outras pessoasalém de seus pais.
Entre os estudos publicados sobre adultosrelatando retrospectivamente sua própria infância,prevalecem índices de abuso sexual na infânciavariando, entre homens, de 1% (44) – utilizando-se
uma definição restrita de contato sexual envolvendopressão ou força – a 19% (38), onde uma definiçãomais abrangente foi empregada. Os índices deprevalência da vida toda para vitimização sexual na
Quadro 3.2
Punição corporalA punição corporal de crianças – seja batendo, socando, chutando ou surrando – é social e legalmente
aceita em vários países. Em muitos, o fato é um fenômeno relevante nas escolas e sistemas penais parajovens infratores.
A United Nations Convention on the Rights of the Child [Convenção das Nações Unidas sobre osDireitos das Crianças] exige que os Estados protejam as crianças de “todas as formas de violência física emental” enquanto estiverem sob os cuidados parentais e outros responsáveis, e o United Nations Committeeon the Rights of the Child [Comitê das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças] tem enfatizado quea punição corporal é incompatível com a Convenção.
Em 1979, a Suécia foi o primeiro país a proibir todas as formas de punição corporal de crianças. Desdeentão, pelo menos mais 10 Estados adotaram a medida. Os julgamentos de cortes constitucionais ousupremas condenando a punição nas escolas e nos sistemas penais também têm auxiliado, inclusive naÁfrica do Sul, Namíbia e Zimbábue, e, em 2000, a corte suprema de Israel declarou ilegal todo tipo depunição corporal. A Constituição de 1994 da Etiópia assegura o direito da criança de estar livre de puniçõescorporais nas escolas e instituições. A punição corporal nas escolas também foi banida na Nova Zelândia,República da Coréia, Tailândia e Uganda.
Contudo, pesquisas indicam que a punição corporal para infratores jovens permanece legal em pelomenos 60 países e, em pelo menos 65 países, nas escolas e outras instituições. A punição corporal decrianças é aceita legalmente nos lares em todos os países, exceto 11. Onde tal prática não tem sido confrontadade maneira persistente por reformas legais e educação pública, os poucos estudos existentes indicam queela continua sendo uma prática extremamente comum.
A punição corporal é perigosa para as crianças. Em curto prazo, ela mata milhares de crianças a cadaano, lesa e provoca incapacidade física ou mental em muitas outras. Em longo prazo, um grande númerode pesquisas têm mostrado que a punição corporal é um fator importante no desenvolvimento decomportamentos violentos e está associada a outros problemas na infância e fases posteriores da vida.
64 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
infância entre mulheres adultas variam de 0,9% (45),sendo utilizado o estupro como definição de abuso,a 45% (38) com uma definição mais abrangente. Asdescobertas relatadas nos estudos internacionaisconduzidos desde 1980 revelam um índice médio deprevalência da vida toda para vitimização sexual nainfância de 20% entre as mulheres e 5 a 10% entre oshomens (46, 47).
Estas grandes variações, encontradas nasestimativas de prevalência publicadas podem resultarde diferenças verdadeiras no risco que predominanas diferentes culturas ou de diferenças na maneiracomo os estudos foram conduzidos (46). Incluindo-se o abuso perpetrado por colegas na definição deabuso sexual infantil, a prevalência resultante podeaumentar 9% (48) e incluindo-se casos em que ocontato físico não ocorre, os índices podem aumentarcerca de 16% (49).
Abuso emocional e psicológicoEm termos gerais, tem-se dado menos atenção ao
abuso psicológico contra crianças do que ao abusofísico e sexual. Fatores culturais parecem influenciarmuito as técnicas não físicas que os pais escolhempara disciplinar seus filhos - algumas das quais podemser consideradas por pessoas com outras formaçõesculturais como psicologicamente prejudiciais. Definirabuso psicológico é, portanto, muito difícil. Alémdisso, as conseqüências do abuso psicológico,embora definidas, estão sujeitas a grandes variaçõesdependendo do contexto e da idade da criança.
Há evidências indicando que gritar com ascrianças é uma resposta comum dos pais em muitospaíses. Existem também muitas variações no que dizrespeito a xingar e insultar as crianças. Em cinco paísesdo estudo WorldSAFE, a taxa de incidência mais baixaem relação a xingar as crianças nos seis mesesanteriores foi de 15% (ver Tabela 3.2). As práticas de
ameaçar as crianças de seremabandonadas ou trancadas fora de casa,entretanto, variavam muito entre ospaíses. Nas Filipinas, por exemplo, asameaças de abandono eram em geralrelatadas pelas mães como uma medidadisciplinar. No Chile, o índice deutilização de tais ameaças era muito maisbaixo, cerca de 8%.
São extremamente raros, os dadossobre até que ponto os responsáveispelos cuidados com as crianças empregam métodosdisciplinares não violentos e não abusivos emdiferentes culturas e partes do mundo. Os dadoslimitados do projeto World SAFE, indicam que amaioria dos pais utiliza práticas disciplinares nãoviolentas. Essas práticas, incluem explicar para ascrianças porque seus comportamentos sãoconsiderados errados e pedir que parem, retirarprivilégios e utilizar outros métodos não violentospara mudar o comportamento problema (ver Tabela3.3). Em outros lugares, como na Costa Rica, porexemplo, os pais admitiram utilizar punições físicaspara disciplinar as crianças, mas relataram que esteera o método disciplinar menos preferido (50).
NegligênciaMuitos pesquisadores incluem a negligência ou
os danos causados pela falta de cuidados parentaisou de outros responsáveis como parte da definiçãode abuso (29, 51-53). Condições como fome epobreza são algumas vezes incluídas na definição denegligência. Devido ao fato de as definições variareme as leis relativas a depoimentos de abuso nem sempreexigirem necessariamente o relato obrigatório danegligência, é difícil estimar as dimensões globais doproblema ou comparar significativamente os índicesentre os países. Poucas pesquisas, por exemplo, têmsido realizadas acerca da maneira como as crianças eos pais, ou outros responsáveis pelo cuidado com ascrianças, podem diferir ao definir negligência.
No Quênia, quando os adultos da comunidadeforam questionados sobre o assunto, o abandono ea negligência foram os aspectos mais comumentecitados de abuso (51). Nesse estudo, 21,9% dascrianças relataram que tinham sido negligenciadaspelos pais. No Canadá, um estudo nacional de casosrelatados aos serviços de bem-estar das criançasdescobriu que, entre os casos comprovados denegligência, 19% envolviam negligência física, 12%abandono, 11% negligência educacional e 48% danos
CAPÍTULO 3. ABUSO INFANTIL E NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS PAIS E OUTROS RESPONSÁVEIS • 65
físicos resultantes de falha dos pais em prover umasupervisão apropriada (54).
Quais os fatores de risco para o abusoinfantil e a negligência?
Inúmeras teorias têm sido desenvolvidas paraexplicar a ocorrência de abuso dentro das famílias. Omodelo explanatório mais adotado é o modeloecológico, descrito no Capítulo 1. Quando aplicadoao abuso infantil e à negligência, o modelo ecológicoconsidera uma série de fatores, inclusive ascaracterísticas individuais da criança e de sua família,as características da pessoa responsável peloscuidados com a criança ou do perpetrador do abuso,a natureza da comunidade local, o ambiente social,econômico e cultural (55, 56).A pesquisa limitada a esta área indica que, em váriospaíses, alguns fatores são bastante consistentes aose compararem os riscos. É importante notar,entretanto, que os fatores listados a seguir podemestar apenas estatisticamente associados e nãoestarem necessariamente ligados devido a uma causaespecífica (6).
Fatores que aumentam avulnerabilidade das crianças
Diversos estudos, provenientes principalmentede países desenvolvidos, indicaram que determinadascaracterísticas das crianças aumentam o risco deabuso.
IdadeA vulnerabilidade ao abuso - seja físico, sexual
ou por meio de negligência - depende em parte daidade da criança (14, 17, 57, 58). Casos fatais deabuso físico são muito encontrados entre criançasmuito novas (18, 20, 21, 28). Em revisões de mortesinfantis ocorridas na Alemanha, em Fiji, na Finlândiae no Senegal, por exemplo, a maioria das vítimas tinha
menos de dois anos de idade (20, 24, 28, 59).As crianças jovens também correm o risco de
serem vítimas de abuso físico não fatal, embora asidades máximas para esse tipo de abuso variem depaís para país. Por exemplo, os índices de abuso físiconão fatal atingem níveis máximos para crianças entre3 e 6 de idade na China, 6 e 12 anos nos EstadosUnidos (11, 40, 43), e 6 e 11 anos na Índia. Os índicesde abuso sexual, por outro lado, tendem a se elevarapós o início da puberdade, com as taxas mais altasocorrendo durante a adolescência (15, 47, 60).Entretanto, o abuso sexual, também pode serdirecionado a jovens crianças.
SexoNa maioria dos países, as meninas correm mais
riscos que os meninos em relação a infanticídio, abusosexual, negligência educacional e nutricional eprostituição forçada (ver também o Capítulo 6). Asdescobertas de vários estudos internacionais revelamque, entre as meninas, os índices de abuso sexualsão de 1,5 a 3 vezes superiores aos de meninos (46).Em termos mundiais, mais de 130 milhões de criançasentre as idades de 6 e 11 anos não estão na escola,60% das quais são meninas (61). Em alguns países,as meninas são proibidas até mesmo de recebereducação escolar ou são mantidas em casa paraajudar a cuidar de seus irmãos ou auxiliareconomicamente a família por meio do trabalho.
Em muitos países, as crianças do sexo masculinoparecem correr mais risco de receberem puniçõesfísicas severas (6, 12, 16, 40, 62). Embora as meninasestejam sob elevado risco de infanticídio em muitoslugares, não está claro porque os meninos estãosujeitos a punições físicas mais severas. É provávelque isso ocorra devido ao fato de tal tipo de puniçãoser visto como uma preparação para os papéis e asresponsabilidades do adulto, ou ainda pelo fato dese considerar que os meninos precisam de maisdisciplina física. Sem dúvida alguma, as grandesdefasagens culturais entre as diferentes sociedades
66 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
no que diz respeito ao papel dasmulheres e aos valores atribuídos àscrianças do sexo masculino e femininopodem ser responsáveis por muitasdessas diferenças.
Características especiaisAs pesquisas têm revelado que
crianças prematuras, gêmeas eportadoras de deficiências físicas correm mais riscode serem vítimas de abuso físico e negligência (6, 53,57, 63). Há descobertas conflitantes provenientesde estudos sobre a importância do retardamentomental como um fator de risco. Acredita-se que obaixo peso ao nascer, a prematuridade, as doençasou as deficiências físicas ou mentais no bebê ou nacriança interferem na ligação e no vínculo, e podemtornar a criança mais vulnerável ao abuso (6) .Entretanto, essas características não parecem ser osfatores de maior risco para o abuso quando outrosfatores são considerados, tais como variáveisrelacionadas aos pais e à sociedade (6).
Características da família e doresponsável pelos cuidados com acriança
Pesquisas têm associado ao abuso infantil e ànegligência determinadas características da pessoaresponsável pela criança, bem como característicasdo ambiente familiar. Enquanto alguns fatores,inclusive características demográficas, estãorelacionados a variações no risco, outros estãorelacionados às características psicológicas ecomportamentais da pessoa que cuida da criança oua aspectos do ambiente familiar que podemcomprometer a paternidade/maternidade e levar aosmaus-tratos em relação à criança.
SexoO fato de as vítimas de abuso pertencerem mais
ao sexo feminino ou masculino, depende, em partedo tipo de abuso. Pesquisas conduzidas na Chile,China, Estados Unidos, Finlândia e Índia revelam queas mulheres declaram utilizar mais disciplina do queos homens (12, 40, 43, 64, 65). No Quênia, osdepoimentos de crianças também mostram que hámais violência por parte das mães do que dos pais(51). Entretanto, os homens são os perpetradoresmais comuns de lesões na cabeça que ameaçam a
vida, fraturas abusivas e outros ferimentos fatais (66-68).
Em muitos países, os perpetradores de abusosexual contra crianças, nos casos em que as vítimassão tanto do sexo feminino quanto do masculino,são predominantemente homens (46, 69, 70). Osestudos têm mostrado de forma consistente que, nocaso de vítimas de abuso sexual do sexo feminino,acima de 90% dos perpetradores são homens, e nocaso de vítimas do sexo masculino, entre 63% e 86%dos perpetradores são homens (46, 71, 72).
Estrutura e recursos da famíliaHá maior probabilidade de pais/mães que cometem
abusos físicos serem jovens, solteiros, pobres,desempregados e terem um nível de educação inferiorao de seus parceiros que não cometem abuso. Tantonos países desenvolvidos quanto nosindustrializados, as mães solteiras pobres e jovensestão entre aquelas com mais risco de utilizar aviolência contra seus filhos (6, 12, 65, 73).
Nos Estados Unidos, por exemplo, aprobabilidade de mães solteiras relatarem que utilizamdisciplina física severa é três vezes maior do que demães pertencentes a famílias que têm ambos os pais(12). Descobertas semelhantes foram relatadas naArgentina (73).
Estudos realizados em Bangladesh, Colômbia,Itália, Quênia, Reino Unido, Suécia e Tailândiarevelaram ainda que o baixo nível educacional e afalta de renda para atender às necessidades famíliaaumentam o potencial de violência física em relaçãoàs crianças (39, 52, 62, 67, 74–76), embora em algunslugares tenham sido observadas exceções a estepadrão (14). Em um estudo com famílias Palestinas, afalta de dinheiro para atender às necessidades dascrianças foi uma das principais razões apresentadaspelos pais para abusarem psicologicamente de seusfilhos (77).
Tamanho da família e composição do larO tamanho da família, também pode aumentar as
chances de abuso. Um estudo realizado com pais doChile, por exemplo, revelou que famílias com quatroou mais crianças estavam três vezes mais sujeitas àviolencia dos pais em relação aos filhos do quefamílias com menos filhos (78). Entretanto, nemsempre é apenas o tamanho da família que importa.Dados extraídos de diversos países indicam que emlares superlotados os riscos de abuso infantil
aumentam (17, 41, 52, 57, 74, 79). Ambientesfamiliares instáveis, em que a composição do lar mudacom freqüência, quando membros da família e outraspessoas entram e saem, são uma característicaparticularmente observada em casos de negligênciacrônica (6, 57).
Característica da personalidade e docomportamento
Em muitos estudos, diversas características depersonalidade e comportamento têm sido associadasa abuso infantil e negligência. Os pais mais sujeitos apraticarem abuso físico contra seus filhos tendem ater baixa auto-estima, controle deficiente de seusimpulsos, problemas de saúde mental e apresentarcomportamentos anti-sociais. (6, 67, 75, 76, 79). Paisnegligentes apresentam muitos destes problemas etambém podem ter dificuldades de planejaracontecimentos importantes da vida, tais comocasamento, ter filhos ou procurar emprego.
Muitas dessas características comprometem apaternidade/maternidade e estão associadas arompimento de relações sociais, falta de habilidadepara lidar com o estresse e dificuldade para alcançarsistemas de apoio social (6).
Os pais que praticam o abuso também podem serdespreparados e possuir expectativas não realistasem relação ao desenvolvimento de seus filhos (6, 57,67, 80). As pesquisas revelaram que pais que praticamo abuso mostram irritação e perturbação maiores emresposta aos estados de humor e comportamentosde seus filhos, são menos dedicados, afetuosos,brincalhões e compreensivos em relação a seus filhos,e são mais controladores e hostis (6, 39).
Histórico anterior de abusoOs estudos mostraram que pais que foram
maltratados quando crianças apresentam mais riscode abusarem de seus próprios filhos (6, 58, 67, 81,82). Todavia, a relação aqui é complexa (81-83) ealgumas investigações indicaram que a maioria dospais que praticam abusos não foi, na verdade, vítimade abuso. Enquanto os dados empíricos indicam quede fato há uma relação, a importância atribuída a estefator de risco tem sido exagerada. Mais prognósticospodem ser outros fatores associados ao abusoinfantil, tais como pouca idade dos pais, estresse,isolamento, superpopulação dos lares, abuso desubstâncias [tóxicas] e pobreza.
CAPÍTULO 3. ABUSO INFANTIL E NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS PAIS E OUTROS RESPONSÁVEIS • 67
Violência no larUma atenção cada vez maior está sendo dada para
a violência perpetrada por parceiros íntimos e suarelação com o abuso infantil. Dados obtidos a partirde estudos realizados em países tanto geográficaquanto culturalmente distintos, como África do Sul,China, Colômbia, Egito, Estados Unidos, Filipinas,Índia e México, têm todos revelado uma forte relaçãoentre estas duas formas de violência (6, 15, 17, 7, 40,43, 67). Em um estudo recente realizado na Índia, aocorrência de violência doméstica nos lares era duasvezes maior que o risco de abuso infantil (40). Entreas vítimas conhecidas de abuso infantil, 40% ou maistambém relataram violência doméstica no lar (84). Naverdade, a relação pode ser ainda maior, visto quemuitas agências encarregadas de proteger as criançasnão coletam rotineiramente os dados em relação aoutras formas de violência nas famílias.
Outras características O estresse e o isolamento social dos pais também
foram associados ao abuso infantil e à negligência(6, 39, 57, 73, 85). Acredita-se que o estresseresultante das mudanças de emprego, perda de renda,problemas de saúde ou outros aspectos do ambientefamiliar podem aumentar o nível de conflito em casa ea habilidade dos membros em lidar com estes conflitosou encontrar apoio. Aqueles com mais condições deencontrar apoio social estão menos sujeitos apraticarem o abuso infantil, mesmo quando outrosfatores de risco conhecidos estão presentes. Em umestudo de controle de casos desenvolvido emBuenos Aires, Argentina, por exemplo, as criançasque viviam com famílias constituídas por paissolteiros corriam um risco significativamente superiorde abuso do que aquelas cujas famílias eramconstituídas por ambos os pais. O risco de abuso eramenor, entretanto, entre aqueles que estavam maiscapacitados para obter acesso a algum tipo de apoiosocial (73).
Em muitos estudos, o abuso infantil também foiassociado ao abuso de substâncias (6, 37, 40, 67,76), contudo mais pesquisas são necessárias paradestrinçar os efeitos independentes do abuso desubstâncias das questões relacionadas à pobreza,superpopulação, distúrbios mentais e problemas desaúde associados a esse comportamento.
Fatores comunitáriosPobreza
Estudos provenientes de diversos países têmdemonstrado uma forte associação entre a pobreza eos maus-tratos em relação à criança (6, 37, 40, 62,86-88). Os índices de abuso são superiores nascomunidades com elevados níveis de desemprego econcentração de pobreza (89-91) . Essascomunidades também se caracterizam pelos elevadosníveis de rotatividade da população e superpopulaçãodos lares. A pesquisa mostra que a pobreza crônicaafeta as crianças de maneira distinta através de seuimpacto no comportamento parental e nadisponibilidade de recursos da comunidade (92). Ascomunidades com elevados índices de pobrezatendem a apresentar infra-estruturas físicas e sociaisdeterioradas e menos recursos e atrativos do que osencontrados em comunidades mais ricas.
Capital social capital social representa o grau de coesão e
solidariedade que existe nas comunidades (85). Ascrianças que vivem em áreas com menos "capitalsocial" ou investimento social na comunidade nacomunidade parecem correr mais riscos de abuso eter mais problemas psicológicos e comportamentais(85). Por outro lado, as redes sociais e conexões coma vizinhança têm se mostrado protetoras em relaçãoàs crianças (4, 58, 93). Isto é verdade, até mesmopara crianças sujeitas a muitos fatores de risco, taiscomo pobreza, violência, abuso de substâncias e paiscom baixo nível de educação, que parecem estarprotegidas pelos elevados índices de capital social(85).
Fatores sociaisUm grande número de fatores de nível social são
considerados importantes no que diz respeito ainfluências para o bem-estar das crianças e famílias.Estes fatores - até esta data não examinados na maioriados países como fatores de risco para o abuso infantil- incluem: • O papel dos valores culturais e das forçaseconômicas com que as famílias se deparam naformação de opções, e a elaboração de respostasdessas famílias para tais forças.• Desigualdades relacionadas a sexo e renda -fatores presentes em outros tipos de violência eprovavelmente relacionados a maus-tratos em
68 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
relação às crianças.• Normas culturais que circundam os papéis docasal, as relações entre pais e filhos e aprivacidade da família.• Políticas infantis e familiares, como asrelacionadas à licença maternidade/paternidade,emprego materno e acordos para o cuidado dosfilhos.• A natureza e extensão dos cuidados preventivosda saúde para bebês e crianças, como uma ajudana identificação de casos de abuso contracrianças.• O fortalecimento do sistema de bem-estar social,ou seja, as fontes de apoio que proporcionamuma rede de segurança para as crianças e famílias.• A natureza e extensão da proteção social ereceptividade do sistema de justiça criminal.• Conflitos sociais mais graves e guerras.Muitos destes fatores culturais e sociais mais
abrangentes podem afetar a capacidade parental emrelação aos cuidados com os filhos – aumentando oureduzindo o estresse associado à vida familiar einfluenciando os recursos disponíveis para asfamílias.
As conseqüências do abuso infantilCarga para a saúde
A debilitação da saúde causada por abuso infantilconstitui uma parcela significativa da carga global dedoenças. Embora algumas das conseqüências para asaúde tenham sido pesquisadas (21, 35, 72, 94-96),apenas recentemente outras têm recebido atenção,incluindo-se distúrbios psiquiátricos ecomportamento suicida (53, 97, 98). É importanteressaltar que atualmente existem evidências de que amaior parte das doenças encontradas nos adultos -inclusive cardiopatia isquêmica, câncer, doençapulmonar crônica, síndrome do intestino irritável efibromialgia - estão relacionadas a experiências deabuso durante a infância (99-101). O mecanismoaparente para explicar estes resultados é a adoção defatores de risco comportamentais como o ato de fumar,o abuso de álcool, dieta alimentar deficiente e falta deexercícios. As pesquisas também destacaramimportantes conseqüências agudas diretas e em longoprazo (21, 23, 99-103) (ver Tabela 3.4).
Da mesma forma, há muitos estudos quedemonstram os danos psicológicos em curto e longoprazo (35, 45, 53, 94, 97) . Algumas criançasapresentam alguns sintomas que não atingem osníveis clínicos de preocupação ou, ainda, estão em
níveis clínicos, mas não tão elevados quanto osobservados em crianças que geralmente sãoencontradas em consultórios clínicos. Outrossobreviventes apresentam graves sintomaspsiquiátricos, como depressão, ansiedade, abuso desubstâncias, agressão, sentimento de vergonha ouenfraquecimento cognitivo. Por fim, algumas criançaspreenchem todos os critérios para doença psiquiátricasque incluem distúrbios de estresse pós-traumático,forte depressão, distúrbios de ansiedade e distúrbiosde sono (53, 97, 98). Um estudo de coorte longitudinalrecente realizado em Christchurch, Nova Zelândia, porexemplo, revelou significativas associações entre oabuso sexual durante a infância e subseqüentesproblemas de saúde mental, tais como depressão,distúrbios de ansiedade e pensamentos ecomportamentos suicidas (97).
As manifestações físicas, comportamentais eemocionais do abuso variam entre as crianças,dependendo do seu estágio de desenvolvimentoquando o abuso ocorre, da gravidade do abuso, darelação entre o perpetrador e a criança, da duraçãodesse abuso, e de outros fatores presentes no ambienteda criança (6, 23, 72, 95-101).
Carga financeiraEm curto e em longo prazos, os custos financeiros
associados aos cuidados com as vítimas constituem
CAPÍTULO 3. ABUSO INFANTIL E NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS PAIS E OUTROS RESPONSÁVEIS • 69
uma parcela significativa do carga geral resultantedo abuso infantil e da negligência. Incluídos nessescálculos estão os custos diretos associados aotratamento, visitas ao hospital e ao médico e outrosserviços de saúde. Uma série de custos indiretos estárelacionada à perda de produtividade, invalidez,redução da qualidade de vida e morte prematura. Háainda os custos de manutenção em relação ao sistemade justiça criminal e outras instituições, incluindo-se:
— gastos relacionados à prisão dos ofensores econseqüentes processos;
— custos, para as organizações de saúde, comrelatórios de investigação dos maus-tratos e com aproteção às crianças contra os abusos;
— custos associados ao fomento assistencial[adoções, entre outros];
— custos do sistema educacional;— custos para o setor de empregos provenientes
de absenteísmo e baixa produtividade.Os dados disponíveis de alguns países
desenvolvidos ilustram o ônus financeiro potencial.Em 1996, o custo financeiro associado ao abusoinfantil e à negligência nos Estados Unidos foiestimado em cerca de 12,4 bilhões de dólares (8).Estes números incluem as estimativas para perdas derendimentos futuros, custos educacionais e serviçosde saúde mental para adultos. No Reino Unido, umcusto estimado anual de aproximadamente 1,2 bilhãode dólares vem sendo citado somente para serviçospara o bem-estar imediato e serviços legais (104).Em curto e longo prazo, os custos com intervençõespreventivas provavelmente excedem em muito oscustos totais com abuso infantil e negligência notocante aos indivíduos, às famílias e à sociedade.
O que pode ser feito para se evitar o abusoinfantil e a negligência?
Embora quase que universalmente se proclameque a prevenção do abuso infantil é uma importantepolítica social, surpreendentemente pouco se temfeito para investigar a eficácia de intervençõespreventivas. Um trabalho cuidadoso, tem sidodesenvolvido em algumas intervenções, como a visitaaos lares (105-107), mas muitas outras intervençõesneste campo carecem de uma avaliação apropriada(108).
A maioria dos programas se voltam para as vítimasou para os perpetradores de abuso infantil enegligência. Muito poucos enfatizam em primeiro
70 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
plano as abordagens básicas de intervençãoobjetivando a prevenção do abuso infantil e danegligência. A seguir apresentamos as respostas maiscomuns.
Abordagens de apoio às famíliasTreinamento parentalTêm sido desenvolvidas várias intervenções paramelhorar as práticas atribuídas à paternidade ematernidade e proporcionar apoio às famílias.Programas desse, tipo geralmente educam os paissobre o desenvolvimento da criança, ajudando-os aaperfeiçoar suas habilidades para lidar com ocomportamento das crianças. Enquanto a maioria dosprogramas são voltados para famílias de alto risco ouaquelas famílias em que já ocorreu abuso,compreende-se cada vez mais que pode ser benéficoproporcionar educação e treinamento nesta área paratodos os pais ou futuros pais. Em Cingapura, porexemplo, a educação e o treinamento parental começano ensino médio, com aulas de "preparação para apaternidade/maternidade". Os alunos aprendem sobreos cuidados com as crianças e como elas sedesenvolvem; e ganham experiência diretatrabalhando com crianças em pré-escolas e centrosde atendimento a crianças (8).
Para as famílias em que o abuso infantil já ocorreu,o objetivo principal é evitar abusos futuros, bemcomo outras conseqüências negativas para a criança,tais como problemas emocionais ou atraso nodesenvolvimento. Ao mesmo tempo em que asavaliações de programas de educação e treinamentoparental têm mostrado resultados promissores emrelação à redução da violência juvenil, alguns estudosexaminam especificamente o impacto de taisprogramas em relação aos índices de abuso infantil enegligência. Por outro lado, em muitas intervenções,para medir sua eficácia, têm sido utilizados osresultados imediatos, como competência e habilidadedos pais, conflitos entre pais e filhos e saúde mentaldos pais.
Como exemplo, Wolfe e outros avaliaram umaintervenção comportamental, especificamenteprojetada para famílias consideradas de risco, parafornecer treinamento parental (109). Os pares mãe-filho foram atribuídos aleatoriamente para aintervenção ou para um grupo de comparação. Asmães que receberam o treinamento parental relatarammenos problemas comportamentais com seus filhose poucos problemas de adaptação associados aosmaus-tratos em potencial comparadas às mães dogrupo de comparação. Além disso, a avaliação de
acompanhamento, realizada pelos assistentes sociais,mostrou que houve risco mais baixo de maus-tratospor parte das mães que receberam o treinamentoparental.
Visita aos lares e outros programas deapoio a família
Os programas de visitação às famílias trazem osrecursos da comunidade para as famílias em seuspróprios lares. Este tipo de intervenção, tem sidoidentificado como um dos mais promissores para aprevenção de uma série de resultados negativos ,inclusive a violência juvenil (ver o Capítulo 2) e o abusoinfantil (105-107). Durante a visita aos lares, sãooferecidas informações, apoio e outros serviços paramelhorar o funcionamento da família. Diversosmodelos diferentes de visita aos lares têm sidodesenvolvidos e estudados. Em alguns, as visitassão voltadas para todas as famílias, independente dostatus de risco em que se enquadrem, enquantooutras se direcionam para famílias com risco deviolência, como famílias com pais pela primeira vezou pais solteiros e adolescentes que vivem emcomunidades com elevados índices de pobreza.
Em uma pesquisa realizada em mais de 1.900programas de visita a lares, Wasik & Roberts (110)identificaram 224 que basicamente forneceramserviços para crianças vítimas de abuso e negligência.Entre esses, o aprimoramento das habilidades e oaumento do nível de tolerância parental foramconsiderados os serviços mais importantes, seguidospelo apoio emocional. As famílias, em geral, eramvisitadas semanalmente ou a cada duas semanas,sendo que os serviços foram fornecidos por umperíodo de 6 meses a 2 anos.
Um exemplo de programa desse tipo é o programadesenvolvido pelo Parent Centre [Centro Parental],em Cape Town, África do Sul. Visitadores de laressão recrutados da comunidade, treinados pelo centroe supervisionados por assistentes sociaisprofissionais. As famílias são visitadas mensalmentedurante o período pré-natal, semanalmente nos doisprimeiros meses após o nascimento, depois a cadaduas semanas até a criança completar dois meses deidade e, então, mensalmente até que o bebê completeseis meses. Neste ponto, as visitas podem continuarou terminar dependendo da avaliação do supervisor.As famílias podem recorrer a outros órgãos para obterserviços onde estes sejam apropriados.
Um dos poucos estudos sobre os efeitos em longoprazo, das visitas aos lares, em relação ao abuso
CAPÍTULO 3. ABUSO INFANTIL E NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS PAIS E OUTROS RESPONSÁVEIS • 71
infantil e à negligência foi realizado por Olds e outrosautores. (106). Eles concluíram que, por todo umperíodo de 15 anos após o nascimento do primeirofilho, as mulheres que foram visitadas pelasenfermeiras durante a gravidez e durante a infânciade seus filhos estavam menos sujeitas a seremidentificadas como perpetradoras de abuso infantildo que as mulheres que não foram visitadas.
Serviços intensivos de preservação dafamília
Este tipo de serviço é elaborado para manter afamília junta e evitar que as crianças sejamencaminhadas a cuidados substitutos. Voltada parafamílias em que tenham sido confirmados os maus-tratos às crianças, a intervenção dura pouco (algumassemanas ou meses) e é intensa, em geral 10 a 30 horaspor semana dedicadas a uma família em particular,seja na casa ou em qualquer outro lugar familiar àcriança. Em geral, são oferecidos diversos serviços,de acordo com as necessidades da família, inclusivevárias formas de terapia e serviços mais práticos, comosubsídios temporários para aluguel.
Um exemplo deste tipo de programa nos EstadosUnidos é o Homebuilders [Construtores de Lares],um programa domiciliar intensivo de intervenção emcrises familiares e educação para superá-las (111).As famílias que têm uma ou mais crianças em perigoeminente de serem colocadas sob custódia sãoencaminhadas para este programa pelos assistentesestaduais. Por um período de quatro meses, as famíliasrecebem serviços intensivos de terapeutas que ficamde plantão 24 horas por dia. A ampla extensão dosserviços oferecidos inclui auxílio em relação àsnecessidades básicas, tais como alimentação e abrigoe em relação à aquisição de novas habilidades.
As avaliações deste tipo de intervenção têm sidolimitadas e suas descobertas de certa forma não sãoconclusivas, principalmente devido ao fato de osprogramas oferecerem uma grande variedade deserviços e relativamente poucos estudos teremincluído um grupo de controle. Há algumas evidênciassugerindo que programas para preservar a unidadefamiliar podem ajudar a evitar que as crianças sejamcolocadas sob custódia, pelo menos em curto prazo.Entretanto, há pouco para se afirmar que a principaldisfunção familiar subjacente à raiz do problemapossa ser resolvida com serviços desse tipo,intensivos e de pouca duração. Uma metanálise dosvários e diferentes programas intensivos de
preservação da família revelou que aqueles queapresentaram elevados índices de envolvimento dosparticipantes, utilizando uma abordagem quefundamentou as bases da família e envolveu umelemento de apoio social, produziram resultadosmelhores do que os programas sem tais componentes(112).
Abordagens de serviços de saúde Avaliação minuciosa por parte da áreada saúde
Os profissionais da área da saúde desempenhamum papel importantíssimo na identificação, tratamentoe encaminhamento de casos de abuso e negligênciae na denúncia de casos suspeitos de maus-tratospara as autoridades apropriadas. É fundamental que,os casos de maus-tratos às crianças sejam detectadoslogo no início, para que assim seja possível minimizaras conseqüências para a criança e iniciar o maisrápido possível os serviços necessários.
Tradicionalmente, a avaliação minuciosa é aidentificação de um problema de saúde antes queapareçam os sinais e sintomas. No caso de abusoinfantil e de negligência, tal avaliação poderia exporos problemas, uma vez que seria necessário confiarnas informações obtidas diretamente do perpetradorou dos observadores. Por essa razão, relativamentepoucas abordagens de avaliação minuciosa têm sidodescritas, e, para a maior parte delas, a ênfase tem sevoltado para a melhora do reconhecimento antecipadopor meio de provedores de assistência à saúde,ligados a abuso infantil e negligência, principalmenteatravés de níveis mais elevados de treinamento eeducação.
Treinamento de profissionais da área deassistência à saúde
Estudos realizados em vários países têmdestacado a necessidade de educação continuada,para profissionais da área de assistência à saúde,relacionada ao reconhecimento e relato de sinais esintomas antecipados de abuso infantil e negligência(113-115). Conseqüentemente, um grande númerode organizações ligadas à área de assistência à saúdetem desenvolvido programas de treinamento, demaneira a melhorar tanto o reconhecimento quanto orelato de abuso e negligência, e também oconhecimento, entre os trabalhadores da saúde,acerca dos serviços comunitários disponíveis. NosEstados Unidos, por exemplo, a American Medical
72 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Association [Associação Médica Americana] e aAmerican Academy of Pediatrics [Academia Americanade Pediatria] produziram diretrizes de diagnóstico etratamento para maus-tratos às crianças (116) e paraabuso sexual (117). No estado de Nova York, osprofissionais da área da saúde são obrigados a fazerum curso de duas horas sobre identificação e relato deabuso infantil e negligência como pré-requisito paraobterem suas licenças (118). Em vários países europeuse outros lugares também têm ocorrido movimentos paraaumentar este tipo de treinamento para os profissionaisda saúde (7, 119-121).
A detecção do abuso infantil e da negligência,entretanto, nem sempre é direta (122-124). Em geral,são necessárias técnicas apropriadas de entrevista etipos específicos de exames físicos. Os profissionaisda área médica devem estar alerta para a presença deriscos familiares ou de outros fatores de risco quepodem sugerir o abuso infantil.
Para manter um processo de educação contínuo edinâmico, alguns pesquisadores sugerem um currículomultidisciplinar estruturado para os profissionais dasaúde, de acordo com seu nível particular deenvolvimento com casos de abuso infantil (125). Combase em tal proposta, cursos separados mas integradosde treinamento seriam desenvolvidos para osestudantes de medicina e médicos em treinamento, epara aqueles com um interesse específico em abusoinfantil.
As avaliações dos programas de treinamento têmse voltado, principalmente, para o conhecimento dosprofissionais da área de assistência à saúde relativo aabuso e comportamento infantil. O impacto dosprogramas de treinamento sob outros resultados, comoa melhora em relação aos cuidados e encaminhamentodas crianças, é desconhecido.
Abordagens terapeuticasAs respostas ao abuso infantil e à negligência
dependem de muitos fatores, inclusive a idade, o nívelde desenvolvimento da criança e a presença de fatoresde estresse do ambiente. Por esta razão, uma amplavariedade de serviços terapêuticos foram elaboradospara serem utilizados com os indivíduos. Os programasterapêuticos têm sido estabelecidos em todo o mundo,inclusive Argentina, China (Hong Kong SAR),Eslováquia, Federação Russa, Grécia, Panamá eSenegal (7).
Serviços para as vítimas
Uma revisão dos programas de tratamento paracrianças vítimas de abuso físico revelou que aabordagem mais popular foi o cuidadoterapêuticodiário, com ênfase no aperfeiçoamento dashabilidades cognitivas e de desenvolvimento (126).O cuidado terapêutico diário tem sido defendido parauma série de condições relacionadas a abuso, taiscomo problemas emocionais, comportamentais ouproblemas relacionados à afetividade e a atrasoscognitivos ou no desenvolvimento. A abordagemincorpora métodos específicos de terapia e detratamento no decorrer das atividades diárias dacriança, desenvolvidos em uma instituição paracuidados com as crianças. A maioria dos programasdeste tipo incluem ainda terapia e educação parental.
Um exemplo de método de tratamento específicopara crianças socialmente retraídas e vítimas de abusofoi descrito por Fantuzzo e outros autores (127).Crianças maltratadas na fase pré-escolar que erambastante retraídas socialmente foram colocadas emgrupos de diversão junto com crianças com níveissuperiores de entrosamento social. As crianças commelhor entrosamento social foram orientadas paraagirem como modelos para as crianças retraídas eencorajá-las a participarem das sessões debrincadeiras. Suas tarefas incluíam fazer propostasverbais e físicas apropriadas para as criançasretraídas, por exemplo, oferecer um brinquedo.Observaram-se melhoras no comportamento socialdas crianças retraídas, embora não tenham sidoavaliados os efeitos em longo prazo desta estratégia.A maior parte dos demais programas de tratamentodescritos na revisão mencionada acima tambémtiveram pouca ou nenhuma avaliação (126).
Assim como ocorre com o abuso físico, asmanifestações de abuso sexual podem variar muito,dependendo de uma série de fatores, tais comocaracterísticas individuais da vítima, relação doperpetrador com a vítima e circunstâncias em queocorreu o abuso. Por conseguinte, diversasabordagens de intervenção e métodos de tratamentotêm sido adotados para tratar crianças vítimas deabuso sexual, inclusive a terapia individual, em grupoe em família (128-131). Embora a pesquisa limitadasugira que a saúde mental das vítimas melhora comoum resultado de tais intervenções, a informação emrelação a outros benefícios é consideravelmentemenor.
CAPÍTULO 3. ABUSO INFANTIL E NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS PAIS E OUTROS RESPONSÁVEIS • 73
Serviços para crianças quetestemunham a violência
Uma das aquisições mais recentes para a coleçãode estratégias de intervenção são os serviços paracrianças que testemunham violência doméstica (132-134). Pesquisas têm mostrado que esse tipo deexposição pode acarretar inúmeras conseqüênciasnegativas. Por exemplo, as crianças que testemunhama violência estão mais sujeitas a reproduzir, quandoadultas, relações disfuncionais dentro de suaspróprias famílias.
Assim como ocorre com os casos de agressãofísica direta ou sexual, as crianças que testemunhama violência podem apresentar uma série de sintomas,inclusive problemas comportamentais, emocionais ousociais, e atrasos no desenvolvimento cognitivo oufísico, embora algumas possam não desenvolvernenhum tipo de problema. Dada esta variabilidade,diferentes estratégias de intervenção e métodos detratamento têm sido desenvolvidos, considerando-se a idade de desenvolvimento da criança. Até omomento, evidências em relação à eficácia destesprogramas são limitadas e, em geral, contraditórias.Por exemplo, resultados diferentes foram produzidaspor duas avaliações do mesmo programa - comduração de 10 semanas - de aconselhamento emgrupo. Em uma, as crianças do grupo de intervençãoforam capazes de descrever mais habilidades eestratégias para evitar se envolverem em conflitosviolentos entre seus pais e procurar apoio do que ascrianças pertencentes ao grupo de comparação,enquanto que, na outra, não foram observadasdiferenças entre os grupos de tratamento e decomparação (135, 136).
Serviços para adultos que foram vítimasde abuso quando crianças
Vários estudos revelaram uma ligação entre umhistórico de abuso infantil e uma série de condições,inclusive abuso de substâncias, problemas de saúdemental e dependência alcoólica (96-99, 137). Alémdisso, as vítimas de abuso infantil podem não seridentificadas como tal até muitos anos mais tarde epodem não apresentar os sintomas até muito tempodepois de ter ocorrido o abuso. Por tais razões, houveum aumento crescente nos serviços voltados paraadultos que foram vítimas de abuso quando crianças,e particularmente em relação a serviços de saúde
mental. Infelizmente, poucas avaliações forampublicadassobre o impacto das intervenções paraadultos que foram vítimas de abuso na infância. Amaioria dos estudos realizados tem se voltadoprincipalmente para as meninas que foram vítimas deabuso por parte de seus pais (138).
Recursos legais e relacionadosDenúncias obrigatórias e voluntárias
A denúncia por parte dos profissionais da saúdede suspeitas de abuso infantil e negligência éobrigatória por lei em vários países, inclusiveArgentina, Espanha, Estados Unidos, Finlândia,Israel, Quirguistão, República da Coréia, Ruanda eSri Lanka. Mesmo assim, relativamente poucos paísespossuem leis obrigatórias de denúncia de abusoinfantil e negligência. Uma pesquisa mundial recenterevelou que, dos 58 países que responderam àpesquisa, 33 possuíam leis apropriadas obrigatóriasde denúncia e 20 possuíam leis de denúncia voluntária(7). A argumentação por detrás da adoção de leis dedenúncia obrigatória foi que a detecção precoce doabuso ajudaria a impedir a ocorrência de lesõesgraves, aumentar a segurança das vítimas eximindo-as da necessidade de fazerem as denúncias e fomentara coordenação entre respostas legais e respostasprovenientes dos serviços de saúde.
No Brasil, a denúncia é obrigatória e deve serfeita para um "Conselho de Guardiões" composto decinco membros (8). Os membros do conselho, eleitospor um período de dois anos, têm a obrigação deproteger as vítimas de abuso infantil e negligênciautilizando-se de todos os meios sociais, inclusivecuidados de adoção provisória e hospitalização. Nãosão da competência do Conselho os aspectos legaisdo abuso infantil e da negligência, tais comoprocessos contra os perpetradores e revogação dosdireitos parentais.
As leis obrigatórias são úteis principalmente paraa coleta de dados, mas não se sabe o quão eficazessão para a prevenção de casos de abuso enegligência. As críticas a essa abordagem têmsuscitado várias dúvidas e preocupações, entre elasse as instituições sociais com poucos recursosfinanceiros estão em posição para beneficiar a criançae sua família ou se, ao contrário, podem causar maisdanos do que benefícios levantando falsasesperanças (139).
Existem vários tipos de sistemas de denúnciavoluntária em todo o mundo, como por exemplo,Barbados, Camarões, Croácia, Japão, República Unida
da Tanzânia e Romênia (7). Nos Países Baixos, casossuspeitos de abuso infantil podem ser denunciadosvoluntariamente para um dos dois órgãos públicos -o Child Care and Protection Board e o ConfidentialDoctor's Office. Ambos existem para proteger ascrianças de abuso e negligência, e os dois agem nosentido de investigar denúncias de suspeitas de maus-tratos. Nenhum dos órgãos fornece serviços diretospara a criança ou a família; em vez disso, encaminhamas crianças e os membros da família para outrasinstituições, para que recebam os serviçosapropriados (140).
Serviços de protenção a criançaOs órgãos de proteção à criança, investigam e
tentam comprovar as denúncias de suspeita de abusoinfantil. As denúncias iniciais podem vir de diversasfontes, inclusive de pessoal da área da saúde,policiais, professores e vizinhos.
Caso as denúncias sejam comprovadas, o pessoalencarregado dos serviços de proteção à criança teráde decidir tratamentos e encaminhamentosapropriados. Em geral tais decisões são difíceis, vistoque é necessário encontrar um equilíbrio entre váriasexigências potencialmente conflitantes - como anecessidade de proteger a criança e o desejo de mantera família intacta. Variam muito, portanto, os serviçosoferecidos às crianças e famílias. Embora tenham sidopublicadas algumas pesquisas a respeito do processode tomada de decisão em relação ao tratamentoapropriado, bem como das atuais deficiências - comoa necessidade de critérios específicos e padronizadospara identificar as famílias e as crianças que corremrisco de abuso infantil -, houve pouca investigaçãoem relação à eficácia dos serviços de proteção àcriança no tocante à redução dos índices de abuso.
Equipes de revisão das fatalidadesocorridas com crianças
Nos Estados Unidos, o aumento daconscientização de violências graves contra ascrianças levou a estabelecerem-se equipes em muitosestados para revisar as fatalidades ocorridas comcrianças (141). Essas equipes multidisciplinaresanalisam as mortes ocorridas entre crianças, extraindodados e recursos entes de fontes como a polícia,promotores públicos, profissionais da área da saúde,serviços de proteção à criança e médicos legistas ouperitos. As pesquisas constataram que tais equipesespecializadas de revisão estão mais aptas a
74 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
detectarem sinais de abuso infantil e negligência doque as pessoas sem treinamento relevante. Um dosobjetivos deste tipo de intervenção, portanto, éaprimorar a exatidão das classificações de mortes decrianças.
Este aperfeiçoamento, por sua vez, poderácontribuir para maior sucesso dos trabalhos depromotoria, com a coleta de melhores evidências. Emuma análise de dados coletados a partir de revisõesde fatalidades ocorridas entre crianças no estado daGeórgia, Estados Unidos, (142), os pesquisadoresconstataram que as revisões das fatalidades ocorridasentre crianças eram mais produtivas ao se investigarmorte por maus-tratos e síndrome da morte infantilsúbita. Após as investigações realizadas pela equipe,2% das mortes investigadas durante o ano do estudo,não classificadas inicialmente como relacionadas aabuso ou negligência, foram posteriormentereclassificadas como mortes devidas a maus-tratos.
Outros objetivos da equipe de inspeção incluem:prevenção de futuras mortes infantis por maus-tratos,análise e implantação de ações corretivas e promoçãode uma melhor coordenação entre os diversos órgãose disciplinas envolvidas.
Políticas de detenção e processuaisAs políticas da justiça criminal variam muito,
refletindo diferentes visões sobre o papel do sistemajudiciário em relação aos maus-tratos à criança. Adecisão de processar ou não pretensos perpetradoresde abuso depende de vários fatores, inclusive agravidade do abuso, a força das evidências, o fato dea criança ser ou não uma testemunha competente ese há quaquer alternativa viável para a execução doprocesso (143). Uma revisão dos processos criminaisenvolvendo casos de abuso sexual infantil (144)revelou que 72% das 451 alegações registradasdurante um período de dois anos foram consideradasprováveis casos de abuso sexual. Entretanto empouco mais da metade destes casos foram registradasacusações formais. Em outro estudo de alegações deabuso sexual infantil, os promotores aceitaram 60%dos casos que lhes foram encaminhados.
Tratamento obrigatório para osofensores
O tratamento obrigatório, determinado pelostribunais, para os agressores que praticaram abusoinfantil é uma abordagem recomendada em muitospaíses. Entretanto, há uma polêmica entre ospesquisadores, a respeito de o tratamento
CAPÍTULO 3. ABUSO INFANTIL E NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS PAIS E OUTROS RESPONSÁVEIS • 75
determinado pelo sistema judiciário ser preferível ounão ao comparecimento voluntário em programas detratamento. O tratamento obrigatório parte da crençade que, na ausência de repercussões legais, algunsagressores recusar-se-ão a submeter-se ao tratamento.Contra esta afirmação existe a visão de que otratamento imposto pela justiça pode realmente criarresistência ao tratamento por parte dos agressores eque a participação voluntária do agressor é essencialpara o sucesso do tratamento.
Esforços baseados na comunidadeEm geral, as intervenções baseadas na comunidade
concentram-se em um grupo selecionado da populaçãoou são implementadas em um local específico, tal comoescolas. Elas também podem ser conduzidas em umaescala mais ampla - para uma série de segmentos dapopulação, por exemplo, ou até mesmo para toda acomunidade -, com o envolvimento de muitos s etores.
Programas escolaresOs programas escolares para evitar o abuso sexual
infantil, são uma das estratégias preventivas maisutilizadas e têm sido incorporados ao currículo escolarregular em vários países. Na Irlanda, por exemplo, oprograma de prevenção básica Stay Safe [FiqueSeguro] atualmente está implantado em quase todasas escolas primárias, contando com o apoio total doDepartamento de Educação e de líderes religiosos(146).
Esses programas, em geral, são projetados paraensinar as crianças a reconhecerem situações deameaça e provê-las de habilidades para se protegemcontra abusos. Os conceitos subjacentes aosprogramas são que a criança possui o controle eacesso ao seu corpo, e que há tipos diferentes decontato físico. As crianças aprendem o que dizer a umadulto, se este lhe solicitar que faça alguma coisa quelhe dê sensação de desconforto. Os programasescolares variam muito em relação ao seu conteúdo eapresentação, e muitos também podem envolver ospais ou outros responsáveis pelos cuidados com ascrianças.
Embora entre os pesquisadores haja um consensode que as crianças podem desenvolver conhecimentoe adquirir habilidades para se protegerem contraabusos, tem-se questionado se estas habilidades sãomantidas com o decorrer do tempo e se protegeriamuma criança em uma situação de abuso, particularmentese o perpetrador for alguém conhecido e em quem a
criança confia. Em uma avaliação do programa irlandêsStay Safe antes mencionado, por exemplo, as criançasque participavam do programa mostraramsignificativas melhoras em relação ao conhecimentoe às habilidades (146). As habilidades foram mantidasem um acompanhamento após três meses.
Uma metanálise recente (147) conclui que osprogramas preventivos de vitimização eram bemeficientes, no que diz respeito ao ensino de conceitose habilidades relacionados à proteção contra abusosexual. Os autores constataram, ainda, que a retençãode tais informações era satisfatória. Entretanto,concluíram que a prova da eficácia definitiva destesprogramas exigiria mostrar que as habilidadesaprendidas tinham sido transferidas de maneira bemsucedida para situações da vida real.
Campanha de prevenção e educação Uma outra abordagem muito difundida parareduzir os casos de abuso infantil e negligência, sãoas campanhas de prevenção e educação. Essasintervenções, provêm da crença de que um aumentoda conscientização e da compreensão do fenômenona população em geral resultará em índices inferioresde abuso. Isto pode ocorrer diretamente, com osperpetradores reconhecendo seus próprioscomportamentos como abusivos e errados eprocurando tratamento, ou indiretamente, por meiodo reconhecimento e da denúncia de abusos por partedas vítimas ou de terceiros.
No período de 1991 a 1992, foi conduzida nosPaíses Baixos uma campanha multimídia (148, 149). Oobjetivo era aumentar a divulgação do abuso infantil,tanto pelas vítimas quanto por aqueles queestivessem em um contato próximo com as crianças,como os professores. A campanha incluiu umdocumentário televisivo, pequenos filmes ecomerciais, um programa de rádio e materiaisimpressos, tais como pôsteres, adesivos, livretos eartigos em jornais. Foram oferecidas sessões regionaisde treinamento aos professores. Em uma dasavaliações desta intervenção, Hoefnagels e Baartman(149) concluíram que a campanha nos meios decomunicação em massa aumentou o nível dedivulgação, conforme comprovado pelos índices detelefonemas para o serviço National Child Line [LinhaNacional para a Criança] antes e depois da campanha.O efeito do aumento da divulgação nos índices deabuso infantil e na saúde mental das vítimas,entretanto, precisa ser estudado posteriormente.
76 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Intervenções para mudar as atitudes eo comportamento da comunidade
Uma outra abordagem para se evitar o abusoinfantil e a negligência é desenvolver intervençõescoordenadas, eficazes nos diversos setores, com ointuito de mudar as atitudes e o comportamento dascomunidades. Um exemplo deste tipo de programa éa resposta abrangente ao abuso infantil e à negligênciaobtida no Quênia (ver Quadro 3.3).
No Zimbábue, o Training and Research SupportCentre [Centro de Treinamento e Apoio a Pesquisas]elaborou um programa participativo multissetorialdirecionado a questões relativas ao abuso sexualinfantil (8). O Centro reuniu um grupo diversificadode indivíduos, incluindo alguns profissionais dasáreas rurais e urbanas de todo o país. Sessões paradramatização de papéis, pintura e discussão foramutilizadas para trazer à luz experiências e percepçõesde abuso sexual infantil e analisar o que poderia serfeito para prevenir e detectar o problema.
Em seguida a esse primeiro estágio, o grupo departicipantes elaborou e implementou dois programasde ação. O primeiro, um programa escolardesenvolvido em colaboração com os Ministérios daEducação e Cultura, cobriu o treinamento, aconstrução de aptidões e o desenvolvimento demateriais para psicólogos, professores, pessoal daárea administrativa e crianças da escola. O segundo,constitui-se em um programa de âmbito legal,desenvolvido em conjunto com o Ministério deAssuntos Judiciários, Legais e Parlamentares. Talprograma - elaborado para enfermeiros, funcionáriosde organizações não governamentais, policiais eoutros oficiais vinculados ao cumprimento de leis -estabeleceu cursos de treinamento, sobre a maneirade proceder com os agressores sexuais jovens. Otreinamento também, abordou a questão da criaçãode tribunais amigáveis em relação a vítimas etestemunhas vulneráveis. Desenvolveram-se aindaas diretrizes referentes às denúncias.
Abordagens sociaisProgramas e políticas nacionais
A maior parte dos esforços de prevenção de maus-tratos às crianças centram-se nas vítimas e nosperpetradores sem necessariamente se voltarem paraas raízes do problema. Acredita-se, contudo, queatacando a pobreza de maneira satisfatória,
melhorando os níveis educacionais e asoportunidades de emprego, e aumentando adisponibilidade e qualidade dos cuidados com acriança, os índices de abuso infantil e negligênciapodem ser reduzidos significativamente. Pesquisasrealizadas em vários países da Europa Ocidental, bemcomo Canadá, Colômbia, partes da Ásia e do Pacíficoindicam que a disponibilidade de programas de altaqualidade para a primeira infância podem compensaras desigualdades econômicas e melhorar osresultados para as crianças (150). Contudo, faltamevidências que associem diretamente adisponibilidade de tais programas a uma diminuiçãodos maus-tratos às crianças. Estudos relacionados aestes programas, em geral, têm medido os resultados,
CAPÍTULO 3. ABUSO INFANTIL E NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS PAIS E OUTROS RESPONSÁVEIS • 77
QUADRO 3.3
Prevenção contra o abuso infantil e a negligência no Quênia
Em 1996, formou-se uma coalizão no Quênia com o objetivo de aumentar a conscientizaçãopública em relação ao abuso infantil e à negligência, e de melhorar a provisão de serviços às vítimas.Um estudo anterior, realizado em quatro áreas do Quênia, tinha mostrado que o abuso infantil e anegligência eram relativamente prevalentes no país, embora não existisse nenhum sistema organizadode resposta ao problema. Membros da coalizão vieram inicialmente dos principais ministérios dogoverno, bem como de organizações não governamentais com programas voltados para acomunidade. A eles se juntaram, posteriormente, representantes do setor privado, do sistema policiale judiciário e dos principais hospitais.
Todos os membros da coalizão, receberam treinamento sobre abuso infantil e negligência. Foramestabelecidos três grupos de trabalho, um para lidar com o treinamento, outro com a defesa e oterceiro com a proteção à criança. Cada grupo colaborou com órgãos governamentais e nãogovernamentais específicos. O grupo de trabalho encarregado do treinamento, por exemplo, trabalhouem conjunto com os Ministérios da Educação, Saúde, Interior e Trabalho, realizando workshopspara funcionários de escolas, profissionais da área da saúde, advogados, assistentes sociais epoliciais. O grupo encarregado da defesa, trabalhou com o Ministério da Informação e Divulgaçãoe várias organizações não governamentais, produzindo programas de rádio e televisão, e tambémcolaborou com a imprensa em áreas rurais.
Notavelmente, as próprias crianças se envolveram no projeto, por meio de competições dedramatização, música e monografias. Tais atividades foram realizadas inicialmente em nível local eposteriormente em nível distrital, provincial e nacional. Atualmente, essas competições fazem partedas atividades regulares do sistema escola queniano.
A coalizão, também trabalhou para fortalecer as denúncias e o gerenciamento de casos de abusoinfantil e negligência. Ela assistiu o Departamento para Crianças, do Ministério do Interior, naelaboração de um banco de dados sobre abuso infantil e negligência e ajudou a criar uma rede legalpara crianças vítimas de abuso, a "Children Legal Action Network" ["Rede de Ação Legal paraCrianças"]. Em 1998 e 1999, a coalizão organizou conferências nacionais e regionais para reunirpesquisadores e especialistas no campo de abuso infantil e negligência.
Como um dos resultados desses esforços, atualmente mais quenianos estão cientes do problemade abuso infantil e negligência, e foi estabelecido um sistema para atender as necessidades dasvítimas e de seus familiares.
como o desenvolvimento da criança e o bomdesempenho escolar.
Outras políticas que podem afetar indiretamenteos níveis de abuso infantil e negligência são aquelasrelacionadas à saúde reprodutiva. Afirma-se que aspolíticas liberais sobre saúde reprodutivaproporcionam às famílias uma noção maior de controledo tamanho de suas famílias e que isto, por sua vez,beneficia mulheres e crianças. Essas políticas, porexemplo, têm permitido maior flexibilidade nos acordosreferentes a emprego para as mães e cuidados comos filhos.
Portanto, a natureza e o alcance dessas políticastambém são importantes. Alguns pesquisadores
alegam que as políticas que limitam o tamanho dasfamílias, como a política de "uma só criança" naChina, têm exercido um efeito indireto de reduçãodos índices de abuso infantil e negligência (151),embora outros chamem atenção para o aumento donúmero de meninas abandonadas na China como umaevidência de que tais políticas podem na verdadeaumentar a incidência de abuso.
Tratados internacionaisEm novembro de 1989, a Assembléia Geral das
Nações Unidas (United Nations General Assembly)adotou a Convenção sobre os Direitos das Crianças(Convention on the Rights of the Children). Umprincípio norteador da convenção é que as criançassão indivíduos com direitos iguais aos dos adultos.Contudo, visto que as crianças são dependentesdos adultos, seus pontos de vista raramente sãolevados em consideração quando os governosestabelecem políticas. Ao mesmo tempo, geralmenteas crianças são o grupo mais vulnerável no que dizrespeito às atividades patrocinadas pelo governorelacionadas ao meio ambiente, condições de vida,cuidados com a saúde e nutrição. A Convenção sobreos Direitos das Crianças fornece padrões eobrigações claros relacionados à proteção dascrianças para todas as nações signatárias.
A Convenção sobre os Direitos das Crianças , éum dos mais amplamente ratificados de todos ostratados e convenções internacionais. Seu impacto,entretanto, com respeito à proteção da criança contrao abuso e a negligência ainda precisa sercompreendido na íntegra (ver Quadro 3.4).
RecomendaçõesHá várias áreas importantes de ação que
precisam ser consideradas pelos governos,pesquisadores, profissionais da saúde e assistentessociais, profissões da área da educação e do direito,organizações não governamentais e outros gruposcom interesse na prevenção do abuso infantil e danegligência.
Melhor avaliação e monitoramentoOs governos devem monitorar os casos de abuso
infantil e negligência, e os danos por eles causados.Esse monitoramento, pode consistir em coleta dedenúncias de casos, condução periódica depesquisas ou util ização de outros métodosapropriados, e pode ser assistido por instituições
78 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
acadêmicas, pelo sistema de assistência à saúde epor organizações não governamentais. Devido aofato de, em muitos países, os profissionais não seremtreinados para essa questão e não haver programasdo governo na maioria dos lugares, a confiança nasdenúncias oficiais provavelmente não será suficientepara aumentar o interesse público em relação ao abusoinfantil e à negligência. Em vez disso, serãonecessárias pesquisas populacionais periódicasrealizadas junto ao público.
Melhores sistemas de respostasÉ essencial que os sistemas que respondem ao
abuso infantil e à negligência sejam apropriados eoperacionais. Nas Filipinas, por exemplo, os hospitaispúblicos e privados fornecem a primeira linha deresposta ao abuso infantil, seguidos pelo sistemanacional de justiça (152). Sem dúvida alguma, é vitalque as crianças recebam serviços especializados econduzidos adequadamente em todos os estágios.As investigações, as avaliações médicas, os cuidadoscom a saúde mental, as intervenções da família e osserviços legais precisam ser totalmente seguros paraas crianças e famílias envolvidas. Nos países ondehá uma tradição de sociedades privadas de ajuda àscrianças fornecendo estes serviços, será necessáriomonitorar apenas os cuidados com as crianças.Contudo, é importante que, caso não haja nenhumoutro provedor disponível, os governos garantam aqualidade e a disponibilidade dos serviços eproporcionem recursos para esses serviços.
Desenvolvimento de políticas
Os governos devem assistir aos órgãos locaispara a implementação de serviços de proteçãoeficientes para as crianças. Novas políticas podemser necessárias:–assegurar uma força de trabalho bem treinada;–desenvolver respostas utilizando uma gama dedisciplinas;–fornecer locais alternativos de assistência àscrianças;–assegurar o acesso aos recursos de saúde;–fornecer recursos para as famílias.
Uma importante área política que precisa serconsiderada, é a maneira como o sistema judiciárioopera com respeito às vítimas de abuso infantil enegligência. Alguns países, têm investido recursospara melhorar os tribunais juvenis, encontrar maneirasde diminuir a necessidade de depoimentos das
CAPÍTULO 3. ABUSO INFANTIL E NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS PAIS E OUTROS RESPONSÁVEIS • 79
QUADRO 3.4
A Convenção sobre os Direitos da Criança (Convention on the Rights ofthe Child)
A Convenção sobre os Direitos da Criança, reconhece e advoga seriamente o respeito pelos direitoshumanos das crianças. O Artigo 19, em particular, exige ações legislativas, administrativas, sociais eeducacionais para proteger as crianças de todas as formas de violência, inclusive o abuso e a negligência.
É difícil, entretanto, avaliar o impacto preciso da Convenção nos níveis de abuso infantil. A maioriados países incluem a proteção à criança contra a violência dentro das leis relacionadas à família, o quedificulta a extração de informações detalhadas sobre o progresso que signatários à Convenção têmobtido na prevenção do abuso infantil. Ademais, nenhum estudo global tentou determinar especificamenteo impacto da Convenção no tocante à prevenção do abuso.
Ao mesmo tempo, a Convenção estimulou reformas legais e o estabelecimento de organismosestatutários para supervisionar as questões que afetam as crianças. Na América Latina, pioneira noprocesso global de ratificação da Convenção e reforma apropriada da legislação, os parlamentos nacionaisaprovaram leis estipulando que as crianças devem ser protegidas de situações de risco, inclusivenegligência, violência e exploração. A incorporação da Convenção à lei nacional levou ao reconhecimentooficial do papel nuclear da família nos cuidados e desenvolvimento da criança. No caso de abuso infantil,a Convenção resultou em uma mudança da institucionalização das crianças vítimas de abuso parapolíticas de maior apoio à família e de remoção dos perpetradores do abuso do ambiente familiar.
Na Europa, a Polônia é um dos países que integrou as estipulações da Convenção às suas leisnacionais. Os órgãos governamentais locais deste país têm agora a responsabilidade de proporcionarajuda social, psiquiátrica e legal às crianças. Na África, Gana também fez emendas em seu código penal,elevou as penas para estupro e molestamento, e aboliu a opção de multas para delitos que envolvemviolência sexual. O governo conduziu ainda campanhas educacionais sobre questões relacionadas aosdireitos das crianças, inclusive abuso infantil.
Apenas alguns países, entretanto, possuem provisões legais que cobrem todas as formas de violênciacontra a criança. Além disso, a falta de coordenação entre os diferentes departamentos governamentaise entre as autoridades em nível nacional e local, bem como outros fatores, tem resultado em freqüenteimplementação fragmentária destas medidas que são ratificadas. No Equador, por exemplo, foi estabelecidoum órgão nacional de proteção aos menores, mas é necessária uma reforma do sistema de proteção àcriança antes que o cumprimento adequado dos direitos das crianças seja possível. Em Gana, as reformaslegais tiveram apenas efeitos limitados, visto que faltam fundos para disseminar as informações e fornecero treinamento necessário.
Organizações não governamentais, têm despendido esforços consideráveis em nome dos direitosdas crianças e têm feito campanhas para que a Convenção seja bastante apoiada. Em vários países,inclusive Gâmbia, Paquistão e Peru, os órgãos de proteção à criança, têm utilizado a Convenção paraexigir maior investimento do Estado na proteção à criança e para aumentar o envolvimento governamentale não governamental na prevenção do abuso infantil. No Paquistão, por exemplo, a Coalizão para osDireitos da Criança trabalha na Província da Fronteira Noroeste, treinando ativistas da comunidade emdireitos das crianças e realizando pesquisas sobre questões como o abuso infantil. Utilizando suaspróprias descobertas e a estrutura legal da Convenção, ela tenta sensibilizar outras organizaçõescomunitárias para a questão do abuso.
É necessário que mais países, incorporem os direitos das crianças em suas políticas sociais eexijam que as instituições governamentais locais implementem esses direitos. Dados específicossobre violência contra crianças e sobre as intervenções voltadas para a questão ainda sãonecessários para que os programas existentes possam ser monitorados e novos programasimplementados de maneira eficaz.
crianças, e assegurar a presença de pessoal de apoioquando a criança precisa testemunhar no tribunal.
Melhores dadosA falta de bons dados relacionados à extensão e
às conseqüências do abuso e da negligência, temimpedido os progressos no desenvolvimento derespostas apropriadas na maior parte do mundo. Afalta de bons dados locais, também dificulta odesenvolvimento de um conhecimento apropriadoem relação ao abuso infantil e à negligência e degrupos de peritos no direcionamento do problemadentro das profissões das áreas de saúde, jurídica eassistência social. Visto que, em todos os países, éessencial um estudo sistemático sobre abuso infantile negligência, os pesquisadores devem serencorajados a utilizar técnicas de avaliação jáempregadas de maneira satisfatória em outros lugares,para que as comparações entre as culturas possamser feitas de maneira significativa e possam serexaminadas as razões por detrás das variações entre
os países.
Mais pesquisasPráticas disciplinares
São necessárias mais pesquisas para explorar asvariações entre as culturas na definição decomportamentos disciplinares aceitáveis. Os padrõesde variações culturais na disciplina das criançaspodem ajudar todos os países a desenvolveremdefinições viáveis de abuso e atender às questõesde variações culturais dentro dos países. Essasvariações culturais podem, na verdade, ser a razãosubjacente para algumas das manifestações incomunsde abuso infantil relatadas na literatura médica (153).Alguns dos dados anteriormente citados, sugeremque pode haver um consenso mais geral do que oanteriormente contemplado entre as culturas sobreque práticas disciplinares são consideradasinaceitáveis e abusivas. A pesquisa é necessária,portanto, para explorar a fundo se é possível chegar-se a um consenso mais amplo em relação a disciplinasmuito severas.
NegligênciaHá também uma grande necessidade de mais
estudo sobre o problema da negligência, em relação
às crianças. Devido ao fato, de a negligência estarmuito associada à pouca educação e à baixa renda, éimportante descobrir a melhor maneira de diferenciara negligência dos pais de privação decorrente dapobreza.
Fatores de riscoMuitos fatores de risco parecem operar de maneira
semelhante em todas as sociedades, embora hajaalguns, exigindo mais pesquisas, que parecemdepender da cultura. Embora pareça claro haver umaassociação entre o risco de abuso e a idade da criança,os índices mais elevados de abuso físico ocorrem emidades diferentes nos diversos países. Este fenômenorequer uma investigação mais detalhada. Emparticular, é necessária uma maior compreensão arespeito de como variam as expectativas parentaisem relação ao comportamento das crianças entre asculturas, bem como, quando ocorre um abuso, qual opapel desempenhado pelas características da criança.
Outros fatores que têm sido sugeridos comofatores de risco ou fatores de proteção no abusoinfantil - inclusive estresse, capital social, apoio social,disponibilidade de uma outra família para ajudar comos cuidados das crianças, violência doméstica eabuso de substâncias - também precisam de maispesquisas.
É igualmente necessária uma melhor compreensãode como os fatores sociais, culturais e econômicosmais amplos influenciam a vida familiar. Acredita-seque essas forças interagem com os fatores individuaise familiares para produzir padrões de comportamentocoercivos e violentos. A maior parte deles, entretanto,tem sido muito negligenciada em estudos sobre maus-tratos a crianças.
Documentação de respostas eficazes
Têm sido realizados relativamente poucosestudos acerca da eficácia de respostas para aprevenção do abuso infantil e da negligência. Há,portanto, uma necessidade urgente, tanto nos paísesindustrializados quanto nos emergentes, de umaavaliação rigorosa de muitas das respostaspreventivas acima descritas. Outras intervençõesexistentes também deveriam ser avaliadas no tocanteao seu potencial para a prevenção do abuso, porexemplo, os pagamentos para apoio às crianças,
80 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
licença paternidade e maternidade remuneradas eprogramas para a primeira infância. Por fim, novasabordagens deveriam ser desenvolvidas e testadas,especialmente aquelas voltadas para a prevençãobásica.
Treinamento e educação aperfeiçoadospara os profissionais
Os profissionais das áreas de saúde e educaçãotêm uma responsabilidade especial. Os pesquisadoresnos campos da medicina e saúde pública devem terhabilidades para elaborar e conduzir investigaçõesde abuso. Currículos para alunos de medicina eenfermagem, programas de treinamento graduado emciências sociais e comportamentais, programas detreinamento de professores deveriam todos incluir otema abuso infantil e o desenvolvimento dentro dasorganizações de respostas para esse problema. Osprofissionais que dirigem todos estes camposdeveriam trabalhar ativamente para atrair recursosque possibilitem a implementação apropriada destecurrículo.
Conclusão
O abuso infantil, é um problema sério de saúdemundial. Embora a maior parte dos estudos relativosao assunto tenha sido conduzida em paísesdesenvolvidos, há uma forte evidência de que ofenômeno é algo comum em todo o mundo.
Muito mais pode e deve ser feito em relação aoproblema. Em muitos países, o reconhecimento doabuso infantil entre os profissionais da área públicaou da saúde é muito restrito. O reconhecimento e aconscientização, embora sejam elementos essenciaispara uma prevenção eficaz, são apenas parte dasolução. Os esforços e as políticas de prevençãodevem voltar-se diretamente para as crianças, paraas pessoas responsáveis pelas mesmas e para o meioambiente em que vivem, a fim de evitar que ocorramabusos futuros e lidar de maneira eficaz com casosde abuso e negligência que tenham ocorrido. Nessecaso, são necessários esforços combinados ecoordenados de uma série de setores, e ospesquisadores e especialistas da saúde públicapodem desempenhar um papel extremamenteimportante no que toca à liderança e facilitação do
processo.
Referências
1. Ten Bensel RW, Rheinberger MM, Radbill SX.Children in a world of violence: the roots of childmaltreatment. In: Helfer ME, Kempe RS, Krugman RD,eds. The battered child. Chicago, IL, University ofChicago Press, 1997:3-28.2. Kempe CH et al. The battered child syndrome.Journal of the American Medical Association, 1962,181:17-24.3. Estroff SE. A cultural perspective of experiences ofillness, disability, and deviance. In: Henderson GE etal., eds. The social medicine reader. Durham, NC,Duke University Press, 1997:6-11.4. Korbin JE. Cross-cultural perspectives and researchdirections for the 21st century. Child Abuse &Neglect, 1991, 15:67-77.
5. Facchin P et al. European strategies on childprotection: preliminary report. Padua, Epidemiologyand Community Medicine Unit, University of Padua,1998.6. National Research Council. Understanding childabuse and neglect. Washington, DC, NationalAcademy of Sciences Press, 1993.7. Bross DC et al. World perspectives on child abuse:the fourth international resource book. Denver, CO,Kempe Children's Center, University of ColoradoSchool of Medicine, 2000.8. Report of the Consultation on Child AbusePrevention, 29-31 March 1999, WHO, Geneva.Geneva, World Health Organization, 1999 (documentWHO/HSC/PVI/99.1).9. Straus MA. Manual for the Conflict Tactics Scales.Durham, NH, Family Research Laboratory, Universityof New Hampshire, 1995.10. Straus MA. Measuring intrafamily conflict andviolence: the Conflict Tactics (CT) Scales. Journal ofMarriage and the Family, 1979, 41:75-88.11. Straus MA, Hamby SL. Measuring physical andpsychological maltreatment of children with theConflict Tactics Scales. In: Kantor K et al., eds. Outof the darkness: contemporary perspectives onfamily violence. Thousand Oaks, CA, Sage, 1997:119-135.12. Straus MA et al. Identification of childmaltreatment with the Parent-Child Conflict TacticsScales: development and psychometric data for a
CAPÍTULO 3. ABUSO INFANTIL E NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS PAIS E OUTROS RESPONSÁVEIS • 81
national sample of American parents. Child Abuse &Neglect, 1998, 22:249-270.13. Straus MA, Gelles RJ, eds. Physical violence inAmerican families: risk factors and adaptations toviolence in 8,145 families. New Brunswick, NJ,Transaction Publishers, 1990.14. Ketsela T, Kedebe D. Physical punishment ofelementary school children in urban and ruralcommunities in Ethiopia. Ethiopian Medical Journal,1997, 35:23-33.15. Madu SN, Peltzer K. Risk factors and child sexualabuse among secondary students in the NorthernProvince (South Africa). Child Abuse & Neglect,2000, 24:259-268.16. Shumba A. Epidemiology and etiology of reportedcases of child physical abuse in Zimbabwean primaryschools. Child Abuse & Neglect, 2001, 25:265-277.17. Youssef RM, Attia MS, Kamel MI. Childrenexperiencing violence: parental use of corporalpunishment. Child Abuse & Neglect, 1998, 22:959-973.18. Kirschner RH. Wilson H. Pathology of fatal childabuse. In: Reece RM, Ludwig S, eds. Child abuse:medical diagnosis and management, 2nd ed.Philadelphia, PA, Lippincott Williams & Wilkins,2001:467-516.19. Reece RM, Krous HF. Fatal child abuse andsudden infant death syndrome. In: Reece RM, LudwigS, eds. Child abuse: medical diagnosis andmanagement, 2nd ed. Philadelphia, PA, LippincottWilliams & Wilkins, 2001:517-543.20. Adinkrah M. Maternal infanticides in Fiji. ChildAbuse & Neglect, 2000, 24:1543-1555.21. Kotch JB et al. Morbidity and death due to childabuse in New Zealand. Child Abuse & Neglect, 1993,17:233-247.22. Meadow R. Unnatural sudden infant death.Archives of Disease in Childhood, 1999, 80:7-14.23. Alexander RC, Levitt CJ, Smith WL. Abusive headtrauma. In: Reece RM, Ludwig S, eds. Child abuse:medical diagnosis and management , 2nd ed.Philadelphia, PA, Lippincott Williams & Wilkins,2001:47-80.24. Vock R et al. Lethal child abuse through the use ofphysical force in the German Democratic Republic (1January 1985 to 2 October 1990): results of amulticentre study. Archiv für Kriminologie, 1999,204:75-87.25. Theodore AD, Runyan DK. A medical researchagenda for child maltreatment: negotiating the nextsteps. Pediatrics, 1999, 104:168-177.
26. Hahm H, Guterman N. The emerging problem ofphysical child abuse in South Korea. Chi ldMaltreatment, 2001, 6:169-179.27. Larner M, Halpren B, Harkavy O. Fair start forchildren: lessons learned from seven demonstrations.New Haven, CT, Yale University Press, 1992.28. Menick DM. Les contours psychosociaux del'infanticide en Afrique noire: le cas du Sénégal [Thepsychosocial features of infanticide in black Africa:the case of Senegal]. Child Abuse & Neglect, 2000,24:1557-1565.29. Menick DM. La problématique des enfantsvictimes d'abus sexuels en Afrique ou l'imbroglio d'undouble paradoxe: l'exemple du Cameroun [Theproblems of sexually abused children in Africa, or theimbroglio of a twin paradox: the example ofCameroon]. Child Abuse & Neglect, 2001, 25:109-121.30. Oral R et al. Child abuse in Turkey: an experiencein overcoming denial and description of 50 cases.Child Abuse & Neglect, 2001, 25:279-290.31. Schein M et al. The prevalence of a history ofsexual abuse among adults visiting familypractitioners in Israel. Child Abuse & Neglect, 2000,24:667-675.32. Shalhoub-Kevrkian N. The politics of disclosingfemale sexual abuse: a case study of Palestiniansociety. Child Abuse & Neglect, 1999, 23:1275-1293.33. Runyan DK. Prevalence, risk, sensitivity andspecificity: a commentary on the epidemiology ofchild sexual abuse and the development of a researchagenda. Child Abuse & Neglect, 1998, 22:493-498.34. Browne K et al. Child abuse and neglect inRomanian families: a national prevalence study 2000.Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2002.35. Bendixen M, Muss KM, Schei B. The impact ofchild sexual abuse: a study of a random sample ofNorwegian students. Child Abuse & Neglect, 1994,18:837-847.36. Fergusson DM, Lynskey MT, Horwood LJ.Childhood sexual abuse and psychiatric disorder inyoung adulthood. I: Prevalence of sexual abuse andfactors associated with sexual abuse. Journal of theAmerican Academy of Child and AdolescentPsychiatry, 1996, 35:1355-1364.37. Frias-Armenta M, McCloskey LA. Determinantsof harsh parenting in Mexico. Journal of AbnormalChild Psychology, 1998, 26:129-139.38. Goldman JD, Padayachi UK. The prevalence andnature of child sexual abuse in Queensland, Australia.Child Abuse & Neglect, 1997, 21:489-498.
82 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
39. Bardi M, Borgognini-Tari SM. A survey of parent-child conflict resolution: intrafamily violence in Italy.Child Abuse & Neglect, 2001, 25:839-853.40. Hunter WM et al. Risk factors for severe childdiscipline practices in rural India. Journal of PediatricPsychology, 2000, 25:435-447.41. Kim DH et al. Children's experience of violence inChina and Korea: a transcultural study. Child Abuse& Neglect, 2000, 24:1163-1173.42. Krugman S, Mata L, Krugman R. Sexual abuseand corporal punishment during childhood: a pilotretrospective survey of university students in CostaRica. Pediatrics, 1992, 90:157-161.43. Tang CS. The rate of child abuse in Chinesefamilies: a community survey in Hong Kong. ChildAbuse & Neglect, 1998, 22:381-391.44. Pederson W, Skrondal A. Alcohol and sexualvictimization: a longitudinal study of Norwegian girls.Addiction, 1996, 91:565-581.45. Choquet M et al. Self-reported health andbehavioral problems among adolescent victims of rapein France: results of a cross-sectional survey. ChildAbuse & Neglect, 1997, 21:823-832.46. Finkelhor D. The international epidemiology ofchild sexual abuse. Child Abuse & Neglect, 1994,18:409-417.47. Finkelhor D. Current information on the scopeand nature of child sexual abuse. The Future ofChildren, 1994, 4:31-53.48. Fergusson DM, Mullen PE. Childhood sexualabuse: an evidence-based perspective. ThousandOaks, CA, Sage, 1999.49. Russell DEH. The secret trauma: incest in thelives of girls and women. New York, NY, Basic Books,1986.50. Lopez SC et al. Parenting and physicalpunishment: primary care interventions in LatinAmerica. Revista Panamericana de Salud Pública,2000, 8:257-267.51. Awareness and views regarding child abuse andchild rights in selected communities in Kenya.Nairobi, African Network for the Prevention andProtection against Child Abuse and Neglect, 2000.52. Sumba RO, Bwibo NO. Child battering in Nairobi,Kenya. East African Medical Journal, 1993, 70: 688-692.53. Wolfe DA. Child abuse: implications for childdevelopment and psychopathology , 2nd ed.Thousand Oaks, CA, Sage, 1999.54. Troemé NH, Wolfe D. Child maltreatment inCanada: selected results from the Canadian
Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect.Ottawa, Minister of Public Works and GovernmentServices Canada, 2001.55. Garbarino J, Crouter A. Defining the communitycontext for parent-child relations: the correlates of childmaltreatment. Child Development, 1978, 49:604-616.56. Belsky J. Child maltreatment: an ecologicalintegration. American Psychologist, 1980, 35:320-335.57. Dubowitz H, Black MB. Child neglect. In: ReeceRM, Ludwig S, eds. Child abuse: medical diagnosisand management, 2nd ed. Philadelphia, PA, LippincottWilliams & Wilkins, 2001:339-362.58. Hunter RS et al. Antecedents of child abuse andneglect in premature infants: a prospective study in anewborn intensive care unit. Pediatrics, 1978, 61:629-635.59. Haapasalo J, Petäjä S. Mothers who killed orattempted to kill their child: life circumstance, childhoodabuse, and types of killings. Violence and Victims, 1999,14:219-239.60. Olsson A et al. Sexual abuse during childhood andadolescence among Nicaraguan men and women: apopulation-based anonymous survey. Child Abuse &Neglect, 2000, 24:1579-1589.61. Equality, development and peace. New York, NY,United Nations Children's Fund, 2000.62. Hadi A. Child abuse among working children inrural Bangladesh: prevalence and determinants. PublicHealth, 2000, 114:380-384.63. Leventhal JM. Twenty years later: we do know howto prevent child abuse and neglect. Child Abuse &Neglect, 1996, 20:647-653.64. Vargas NA et al. Parental attitude and practiceregarding physical punishment of schoolchildren inSantiago de Chile. Child Abuse & Neglect, 1995, 19:1077-1082.65. Sariola H, Uutela A. The prevalence and context offamily violence against children in Finland. Child Abuse& Neglect, 1992, 16:823-832.66. Jenny C et al. Analysis of missed cases of abusivehead trauma. Journal of the American MedicalAssociation, 1999, 281:621-626.67. Klevens J, Bayón MC, Sierra M. Risk factors andthe context of men who physically abuse in Bogotá,Colombia. Child Abuse & Neglect, 2000, 24:323-332.68. Starling SP, Holden JR. Perpetrators of abusive headtrauma: comparison of two geographic populations.Southern Medical Journal, 2000, 93:463-465.69. Levesque RJR. Sexual abuse of children: a humanrights perspective. Bloomington, IN, Indiana UniversityPress, 1999.
CAPÍTULO 3. ABUSO INFANTIL E NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS PAIS E OUTROS RESPONSÁVEIS • 83
70. MacIntyre D, Carr A. The epidemiology of childsexual abuse. Journal of Child Centred Practice,1999:57-86.71. Finkelhor D. A sourcebook on child sexual abuse.London, Sage, 1986.72. Briere JN, Elliott DM. Immediate and long-termimpacts of child sexual abuse. The Future of Children,1994, 4:54-69.73. Zununegui MV, Morales JM, Martínez V. Childabuse: socioeconomic factors and health status.Anales Españoles de Pediatria, 1997, 47:33-41.74. Isaranurug S et al. Factors relating to theaggressive behavior of primary caregiver toward achild. Journal of the Medical Association ofThailand, 2001, 84:1481-1489.75. Sidebotham P, Golding J. Child maltreatment inthe ''Children of the Nineties'': a longitudinal study ofparental risk factors. Child Abuse & Neglect, 2001,25:1177-1200.76. Lindell C, Svedin CG. Physical abuse in Sweden: astudy of police reports between 1986 and 1996. SocialPsychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2001,36:150-157.77. Khamis V. Child psychological maltreatment inPalestinian families. Child Abuse & Neglect, 2000,24:1047-1059.78. Larrain S, Vega J, Delgado I. Relaciones familiaresy maltrato infantil [Family relations and childabuse]. Santiago, United Nations Children's Fund,1997.79. Tadele G, Tefera D, Nasir E. Family violenceagainst children in Addis Ababa. Addis Ababa,African Network for the Prevention of and Protectionagainst Child Abuse and Neglect, 1999.80. Helfer ME, Kempe RS, Krugman RD, eds. Thebattered child. Chicago, IL, University of ChicagoPress, 1997.81. Egeland B. A history of abuse is a major risk factorfor abusing the next generation. In: Gelles RJ, LosekeDR, eds. Current controversies on family violence.Thousand Oaks, CA, Sage, 1993:197-208.82. Ertem IO, Leventhal JM, Dobbs S.Intergenerational continuity of child physical abuse:how good is the evidence? Lancet, 2000, 356:814-819.83. Widom CS. Does violence beget violence? Acritical examination of the literature. PsychologicalBulletin, 1989, 106:3-28.84. Children's Bureau. The national child abuse andneglect data system 1998. Washington, DC, UnitedStates Department of Health and Human Services,
1999.85. Runyan DK et al. Children who prosper inunfavorable environments: the relationship to socialcapital. Pediatrics, 1998, 101:12-18.86. Cawson P et al. The prevalence of childmaltreatment in the UK. London, National Societyfor the Prevention of Cruelty to Children, 2000.87. De Paul J, Milner JS, Mugica P. Childhoodmaltreatment, childhood social support and childabuse potential in a Basque sample. Child Abuse &Neglect, 1995, 19:907-920.88. Bagley C, Mallick K. Prediction of sexual, emotionaland physical maltreatment and mental healthoutcomes in a longitudinal study of 290 adolescentwomen. Child Maltreatment, 2000, 5:218-226.89. Gillham B et al. Unemployment rates, single parentdensity, and indices of child poverty: theirrelationship to different categories of child abuse andneglect. Child Abuse & Neglect, 1998, 22:79-90.90. Coulton CJ et al. Community-level factors andchild maltreatment rates. Child Development, 1995,66:1262-1276.91. Coulton CJ, Korbin JE, Su M. Neighborhoodsand child maltreatment: a multi-level study. ChildAbuse & Neglect, 1999, 23:1019-1040.92. McLloyd VC. The impact of economic hardshipon black families and children: psychological distress,parenting, and socioeconomic development. ChildDevelopment, 1990, 61:311-346.93. Korbin JE et al. Neighborhood views on thedefinition and etiology of child maltreatment. ChildAbuse & Neglect, 2000, 12:1509-1527.94. Bifulco A, Moran A. Wednesday's child: researchinto women's experience of neglect and abuse inchildhood, and adult depression . London,Routledge, 1998.95. Briere JN. Child abuse trauma: theory andtreatment of lasting effects. London, Sage, 1992.96. Lau JT et al. Prevalence and correlates of physicalabuse in Hong Kong Chinese adolescents: apopulation-based approach. Child Abuse & Neglect,1999, 23:549-557.97. Fergusson DM, Horwood MT, Lynskey LJ.Childhood sexual abuse and psychiatric disorder inyoung adulthood. II: Psychiatric outcomes ofchildhood sexual abuse. Journal of the AmericanAcademy of Child and Adolescent Psychiatry, 1996;35:1365-1374.98. Trowell J et al. Behavioural psychopathology ofchild sexual abuse in schoolgirls referred to a tertiarycentre: a North London study. European Child and
84 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Adolescent Psychiatry, 1999, 8:107-116.99. Anda R et al. Adverse childhood experiences andsmoking during adolescence and adulthood. Journalof the American Medical Association, 1999, 282:1652-1658.100. Felitti V et al. Relationship of childhood abuseand household dysfunction to many of the leadingcauses of death in adults. American Journal ofPreventive Medicine, 1998, 14:245-258.101. McBeth J et al. The association between tenderpoints, psychological distress, and adversechildhood experiences. Arthritis and Rheumatism,1999, 42:1397-1404.102. Cooperman DR, Merten DF. Skeletalmanifestations of child abuse. In: Reece RM, LudwigS, eds. Child abuse: medical diagnosis andmanagement, 2nd ed. Philadelphia, PA, LippincottWilliams & Wilkins, 2001:123-156.103. Wattam C, Woodward C. ''... And do I abuse mychildren? No!'' Learning about prevention from peoplewho have experienced child abuse. In: Childhoodmatters: the report of the National Commission ofInquiry into the Prevention of Child Abuse. Vol. 2.London, Her Majesty's Stationery Office, 1996.104. National Commission of Inquiry into thePrevention of Child Abuse. Childhood matters: thereport of the National Commission of Inquiry intothe Prevention of Child Abuse. Vol. 1. London, HerMajesty's Stationery Office, 1996.105. Olds D et al. Preventing child abuse and neglect:a randomized trial of nurse home visitation. Pediatrics,1986, 78:65-78.106. Olds D et al. Long-term effects of home visitationon maternal life course and child abuse and neglect:fifteen-year follow-up of a randomized trial. Journalof the American Medical Association, 1997, 278:637-643.107. The David and Lucile Packard Foundation. Homevisiting: recent program evaluations. The Future ofChildren, 1999, 9:1-223.108. MacMillan HL. Preventive health care, 2000update: prevention of child maltreatment. CanadianMedical Association Journal, 2000, 163:1451-1458.109. Wolfe DA et al. Early intervention for parents atrisk of child abuse and neglect. Journal of Consultingand Clinical Psychology, 1988, 56:40-47.110. Wasik BH, Roberts RN. Survey of home visitingprograms for abused and neglected children and theirfamilies. Child Abuse & Neglect, 1994, 18:271-283.111. Kinney J et al. The homebuilder's model. In:Whittaker JK et al. Reaching high-risk families:
intensive family preservation in human services.Modern applications of social work. New York, NY,Aldine de Gruyter, 1990:31-64.112. MacLeod J, Nelson G. Programs for the promotionof family wellness and the prevention of childmaltreatment: a meta-analytic review. Child Abuse &Neglect, 2000, 24:1127-1149.113. Alpert EJ et al. Family violence curricula in USmedical schools. American Journal of PreventiveMedicine, 1998, 14:273-278.114. Van Haeringen AR, Dadds M, Armstrong KL.The child abuse lottery: will the doctor suspect andreport? Physician attitudes towards and reporting ofsuspected child abuse and neglect. Child Abuse &Neglect, 1998, 22:159-169.115. Vulliamy AP, Sullivan R. Reporting child abuse:pediatricians' experiences with the child protectionsystem. Child Abuse & Neglect, 2000, 24:1461-1470.116. Child maltreatment. Washington, DC, AmericanMedical Association, updated periodically (availableon the Internet at http://www. ama-assn.org/ama/ pub/category/4663.html).117. American Academy of Pediatrics. Guidelinesfor the evaluation of sexual abuse of children: subjectreview. Pediatrics, 1999, 103:186-191.118. Reiniger A, Robison E, McHugh M. Mandatedtraining of professionals: a means for improving thereporting of suspected child abuse. Child Abuse &Neglect, 1995, 19:63-69.119. Kutlesic V. The McColgan case: increasing thepublic awareness of professional responsibility forprotecting children from physical and sexual abusein the Republic of Ireland: a commentary. Journal ofChild Sexual Abuse, 1999, 8:105-108.120. LeBihan C et al. The role of the national educationphysician in the management of child abuse. SantéPublique, 1998, 10:305-310.121. Díaz Huertes JA et al. Abused children: role ofthe pediatrician. Anales Españoles de Pediatria, 2000,52:548-553.122. Finkel MA, DeJong AR. Medical findings in childsexual abuse. In: Reece RM, Ludwig S, eds. Childabuse: medical diagnosis and management, 2nd ed.Philadelphia, PA, Lippincott Williams & Wilkins,2001:207-286.123. Jenny C. Cutaneous manifestations of childabuse. In: Reece RM, Ludwig S, eds. Child abuse:medical diagnosis and management, 2nd ed.Philadelphia, PA, Lippincott Williams & Wilkins,2001:23-45.124. Leventhal JM. Epidemiology of sexual abuse of
CAPÍTULO 3. ABUSO INFANTIL E NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS PAIS E OUTROS RESPONSÁVEIS • 85
children: old problems, new directions. Child Abuse& Neglect, 1998, 22:481-491.125. Giardino AP, Brayden RM, Sugarman JM.Residency training in child sexual abuse evaluation.Child Abuse & Neglect, 1998, 22:331-336.126. Oates RK, Bross DC. What we have learned abouttreating child physical abuse: a literature review ofthe last decade. Child Abuse & Neglect, 1995,19:463-473.127. Fantuzzo JW et al. Effects of adult and peer socialinitiations on the social behavior of withdrawn,maltreated preschool children. Journal of Consultingand Clinical Psychology, 1988, 56:34-39.128. Finkelhor D, Berliner L. Research on the treatmentof sexually abused children: a review andrecommendations. Journal of the Academy of ChildAdolescent Psychiatry, 1995, 34:1408-1423.129. O'Donohue WT, Elliott AN. Treatment of thesexually abused child: a review. Journal of ClinicalChild Psychology, 1992, 21:218-228.130. Vargo B et al. Child sexual abuse: its impact andtreatment. Canadian Journal of Psychiatry, 1988,33:468-473.131. Beutler LE, Williams RE, Zetzer HA. Efficacy oftreatment for victims of child sexual abuse. The Futureof Children, 1994, 4:156-175.132. Groves BM. Mental health services for childrenwho witness domestic violence. The Future ofChildren, 1999, 9:122-132.133. Pelcovitz D, Kaplan SJ. Child witnesses ofviolence between parents: psychosocial correlatesand implications for treatment. Child and AdolescentPsychiatric Clinics of North America, 1994, 3:745-758.134. Pynoos RS, Eth S. Special intervention programsfor child witnesses to violence. In: Lystad M, ed.Violence in the home: interdisciplinary perspectives.Philadelphia, PA, Brunner/Mazel, 1986:193-216.135. Jaffe P, Wilson S, Wolfe D. Promoting changesin attitudes and understanding of conflict among childwitnesses of family violence. Canadian Journal ofBehavioural Science, 1986, 18:356-380.136. Wagar JM, Rodway MR. An evaluation of a grouptreatment approach for children who have witnessedwife abuse. Journal of Family Violence, 1995, 10:295-306.137. Dube SR et al. Childhood abuse, householddysfunction, and the risk of attempted suicidethroughout the lifespan. Journal of the AmericanMedical Association, 2001, 286:3089-3096.
138. Cahill C, Llewelyn SP, Pearson C. Treatment ofsexual abuse which occurred in childhood: a review.British Journal of Clinical Psychology, 1991, 30:1-12.139. Hyman A, Schillinger D, Lo B. Laws mandatingreporting of domestic violence: do they promotepatient well-being? Journal of the American MedicalAssociation, 1995, 273:1781-1787.140. Roelofs MAS, Baartman HEM. The Netherlands.Responding to abuse: compassion or control? In:Gilbert N, ed. Combatting child abuse: internationalperspectives and trends. New York, NY, OxfordUniversity Press, 1997:192-211.141. Durfee MJ, Gellert GA, Tilton-Durfee D. Originsand clinical relevance of child death review teams.Journal of the American Medical Association, 1992,267:3172-3175.142. Luallen JJ et al. Child fatality review in Georgia: ayoung system demonstrates its potential foridentifying preventable childhood deaths. SouthernMedical Journal, 1998, 91:414-419.143. Myers JEB. Legal issues in child abuse andneglect practice. Thousand Oaks, CA, Sage, 1998.144. Martone M, Jaudes PK, Cavins MK. Criminalprosecution of child sexual abuse cases. Child Abuse& Neglect, 1996, 20:457-464.145. Cross TP, Whitcomb D, DeVos E. Criminal justiceoutcomes of prosecution of child sexual abuse: a caseflow analysis. Child Abuse & Neglect, 1995, 19:1431-1442.146. MacIntyre D, Carr A. Evaluation of theeffectiveness of the Stay Safe primary preventionprogramme for child sexual abuse. Child Abuse &Neglect, 1999, 23:1307-1325.147. Rispens J, Aleman A, Goudena PP. Prevention ofchild sexual abuse victimization: a meta-analysis ofschool programs. Child Abuse & Neglect, 1997,21:975-987.148. Hoefnagels C, Mudde A. Mass media anddisclosures of child abuse in the perspective ofsecondary prevention: putting ideas into practice.Child Abuse & Neglect, 2000, 24:1091-1101.149. Hoefnagels C, Baartman H. On the threshold ofdisclosure: the effects of a mass media fieldexperiment. Child Abuse & Neglect, 1997, 21:557-573.150. Boocock SS. Early childhood programs in othernations: goals and outcomes. The Future of Children,1995, 5:94-114.151. Hesketh T, Zhu WX. Health in China. The one-child family policy: the good, the bad, and the ugly.
86 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
CAPÍTULO 3. ABUSO INFANTIL E NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS PAIS E OUTROS RESPONSÁVEIS • 87
British Medical Journal, 1997, 314:1685-1689.152. Ramiro L, Madrid B, Amarillo M. The PhilippinesWorldSAFE Study (Final report). Manila,
International Clinical Epidemiology Network, 2000.153. Socolar RRS, Runyan DK. Unusualmanifestations of child abuse. In: Reece RM, LudwigS, eds. Child abuse: medical diagnosis andmanagement, 2nd ed. Philadelphia, PA, Lippincott
CAPÍTULO 4. VIOLÊNCIA PERPETRADA POR PARCEIROS ÍNTIMOS • 91
AntecedentesUma das formas mais comuns de violência contra
as mulheres é a praticada por um marido ou umparceiro íntimo. A situação em relação aos homens éradicalmente diferente, pois geralmente o maisprovável é que eles sejam atacados por um estranhoou mero conhecido do que por alguém que faça partede seu círculo íntimo de amizades (1-5). O fato de asmulheres em geral estarem emocionalmenteenvolvidas com quem as vitimiza, e dependeremeconomicamente deles, tem grandes implicações tantopara a dinâmica do abuso quanto para as abordagenspara se lidar com isso.
A violência perpetrada por parceiro íntimo ocorreem todos os países, independentemente do gruposocial, econômico, religioso ou cultural. E apesar demulheres poderem ser violentas em seusrelacionamentos com homens e, às vezes, tambémencontrarmos violência em relacionamentos comparceiros do mesmo sexo, a grande carga da violênciade gênero [masculino/feminino] recai sobre asmulheres nas mãos dos homens (6, 7). Por essemotivo, este capítulo lidará com a questão da violênciapraticada por homens contra suas parceiras.
Há muito, as organizações de mulheres no mundotodo vêm chamando a atenção para a violência contraas mulheres, especialmente para a violência degênero. Pelos esforços dessas organizações é que aviolência contra as mulheres atualmente se tornouuma questão internacional. Inicialmente vista, emgrande parte, como uma questão de direitos humanos,atualmente a violência de gênero é cada vez maisencarada como um importante problema de saúdepública.
A extensão do problemaEm uma relação íntima, a violência de gênero refere-
se a qualquer comportamento que cause dano físico,psicológico ou sexual àqueles que fazem parte darelação. Esse comportamento inclui:
• Atos de agressão física – tais como estapear,socar, chutar e surrar.• Abuso psicológico – tais como intimidação,constante desvalorização e humilhação.• Relações sexuais forçadas e outras formas decoação sexual.• Vários comportamentos controladores – taiscomo isolar a pessoa de sua família e amigos,monitorar seus movimentos e restringir seuacesso às informações ou à assistência.
Quando o abuso ocorre repetidamente no mesmorelacionamento, o fenômeno é freqüentementechamado de "espancamento" [battering].
Em 48 pesquisas realizadas com populações domundo todo, de 10% a 69% das mulheres relataramter sofrido agressão física por um parceiro íntimo emalguma ocasião de suas vidas (ver Tabela 4.1). Opercentual de mulheres que foram agredidas por umparceiro nos 12 meses anteriores variou de 3% oumenos na Austrália, no Canadá e nos EstadosUnidos, a 27% das mulheres que algum dia já tiveramum parceiro sexual em León na Nicarágua, 38% dasmulheres que estão casadas na República da Coréia,e 52% das mulheres palestinas atualmente casadasna Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Para muitas dessasmulheres, a agressão física não foi um evento isolado,mas sim parte de um padrão contínuo decomportamento abusivo.
As pesquisas indicam que a violência física nosrelacionamentos íntimos normalmente éacompanhada por abuso psicológico e, de um terço amais da metade dos casos, por abuso sexual (3, 8-10). Dentre 613 mulheres no Japão que alguma vezsofreram abuso, por exemplo, 57% sofreram todos ostrês tipos de abuso - físico, psicológico e sexual.Menos de 10% dessas mulheres vivenciaram apenaso abuso físico (8). Da mesma forma em Monterrey,México, 52% das mulheres agredidas fisicamentetambém sofreram abuso sexual praticado por seusparceiros (11). A Figura 4.1 ilustra graficamente asobreposição dos tipos de abuso entre as mulheresque já tiveram algum parceiro em León, na Nicarágua(9).
A maioria das mulheres que são alvo da agressãofísica geralmente passam por múltiplos atos deagressão no decorrer do tempo. No estudo realizadoem León, por exemplo, 60% das mulheres que sofreramabuso durante os anos anteriores, tinham sidoagredidas mais de uma vez, e 20% já haviam sofridoviolência grave mais de seis vezes. Dentre asmulheres que relataram agressão física, 70% relataramabuso grave (12). De acordo com uma pesquisarealizada em Londres na Inglaterra, o número médiode agressões físicas durante os anos anteriores, entreas mulheres que atualmente sofrem abuso, foi sete(13), enquanto nos Estados Unidos, em um estudonacional realizado em 1996, esse número foi de três(5).
Em geral, diferentes tipos de abuso coexistem nomesmo relacionamento. Contudo, os estudos depredominância da violência doméstica são uma áreanova de pesquisa e, de forma geral, ainda não há
FIGURA 4.1 Sobreposição entre o abuso sexual, físico e psicológico vividos por mulheres em León, na Nicarágua (N = 360 mulheres que alguma vez tiveram parceiros)
CAPÍTULO 4. VIOLÊNCIA PERPETRADA POR PARCEIROS ÍNTIMOS • 93
dados disponíveis sobre os diversos tipos deviolência de gênero, exceto por abuso físico. Osnúmeros na Tabela 4.1, portanto, referem-seexclusivamente à agressão física. Mesmo assim,devido a diferenças metodológicas, os dados dessesestudos bem elaborados não são passíveis decomparação direta. As estimativas relatadas de abusosão altamente sensíveis às definições particularesutilizadas, à forma como foram feitas as perguntas,ao grau de privacidade nas entrevistas e à naturezada população que está sendo estudada (14) (verQuadro 4.1). Portanto, as diferenças entre os países -especialmente diferenças bem pequenas - poderiamestar refletindo variações metodológicas em vez dasreais diferenças nas taxas de predominância.
Medindo a violência de gêneroEm pesquisas sobre a violência de gênero,
normalmente se pergunta às mulheres se elasvivenciaram algum abuso, com base em uma lista deatos específicos de agressão, inclusive ser estapeadaou socada, chutada, surrada ou ser ameaçada comuma arma. A pesquisa mostrou que questõesespecíficas de comportamento, tais como "Algumavez você foi forçada a ter relações sexuais contra asua vontade?" produzem maiores índices de respostapositiva do que as questões que perguntam se amulher já foi "vítima de abuso" ou "estuprada" (17).Essas perguntas específicas acerca de comportamentopermitem ainda que os pesquisadores meçam agravidade relativa e a freqüência do abuso sofrido. Osatos físicos que são mais graves do que estapear,
empurrar ou jogar um objeto em uma pessoa,normalmente, são definidos nos estudos como"violência grave", apesar de alguns observadoresfazerem objeção a definir a gravidade somenteconforme o ato (18).
Um enfoque voltado somente para os atos tambémpode ocultar a atmosfera de terror que às vezespermeia relacionamentos violentos. Por exemplo, emuma pesquisa nacional relativa a violência contramulheres, realizada no Canadá, um terço das mulheresque haviam sido fisicamente agredidas por um parceirodisseram que, em algum ponto do relacionamento,temeram por suas vidas (19). Apesar de, por ela sermais facilmente conceituada e mensurada, os estudosinternacionais terem se concentrado na violênciafísica, estudos qualitativos indicam que algumasmulheres consideram o abuso psicológico e adegradação ainda mais intoleráveis do que a violênciafísica (1, 20, 21).
Violência de gênero e assassinatoOs dados provenientes de uma grande variedade
de países indicam que a violência de gênero éresponsável por um significativo número de mortespor assassinato entre as mulheres. Estudos realizadosna África do Sul, na Austrália, no Canadá, nos EstadosUnidos e em Israel mostram que, das mulheres vítimasde assassinato, de 40 a 70% foram mortas por seusmaridos ou namorados, normalmente no contexto deum relacionamento de abusos constantes (22 - 25).Esse fato contrasta totalmente com a situação doshomens vítimas de assassinato. Nos Estados Unidos,por exemplo, apenas 4% dos homens assassinadosentre 1976 e 1996 foram mortos por suas esposas, ex-esposas ou namoradas (26). Na Austrália, no períodode 1989 a 1996, o percentual foi de 8,6% (27).
Em diferentes países, os fatores culturais e adisponibilidade de armas definem os perfis dosassassinos de parceiros íntimos. Nos Estados Unidos,os assassinatos de mulheres são cometidos mais comrevólveres do que com todos os outros tipos de armascombinados (28). Na Índia, os revólveres são raros,mas são comuns as mortes por surras e porqueimaduras. Um estratagema freqüente é encharcaruma mulher com querosene e depois dizer que elamorreu em um "acidente na cozinha". As autoridadesde saúde pública na Índia desconfiam que muitosassassinatos de mulheres são classificados nasestatísticas oficiais como "queimaduras acidentais".Um estudo realizado em meados da década de 1980concluiu que entre as mulheres na faixa etária de 15 a
JamaisAbusado
97
Pissicologica-mente
Abusado71
SexualidadeAbusado
1
FísicoAbusado
5
109
74
3
Referência: 9
QUADRO 4.1
Tornando os dados sobre violência de gênero mais comparáveis.Diversos fatores afetam a qualidade e a comparabilidade dos dados sobre violência de gênero,
inclusive:— inconsistências na forma como se definem violência e abuso;— variações nos critérios de seleção para os participantes do estudo;— diferenças resultantes das fontes de dados;— a disponibilidade dos entrevistados em falar aberta e honestamente sobre as experiências com violência.
Devido a esses fatores, a maioria dos números predominantes acerca da violência de gênero, extraídosde estudos diferentes, não pode ser comparada diretamente. Por exemplo, nem todos os estudos separamdiferentes tipos de violência, portanto nem sempre é possível diferenciar os atos de violência física,sexual e psicológica. Alguns estudos analisam apenas atos violentos ocorridos nos últimos 12 meses ou5 anos, enquanto outros medem as experiências de toda a vida.
Há também uma variação considerável nas populações de estudos utilizadas na pesquisa. Muitosestudos relativos a violência de gênero incluem todas as mulheres de uma determinada faixa etária,enquanto outros entrevistam apenas as mulheres que atualmente estão casadas ou que foram casadas.Tanto a idade quanto o estado civil estão associados ao risco de uma mulher ser vítima de abuso porparte do parceiro. Os critérios de seleção para os participantes podem, assim, afetar consideravelmenteas estimativas sobre a predominância de abuso em uma população.As estimativas de predominânciatambém podem variar segundo a fonte dos dados. Diversos estudos nacionais produziram estimativassobre a predominância de violência de gênero – estimativas essas que geralmente estão abaixo daquelasobtidas em estudos menores e em profundidade acerca das experiências das mulheres com relação àviolência. Os estudos menores e em profundidade tendem a se concentrar mais na interação entre osentrevistadores e os entrevistados. Esses estudos também tendem a cobrir o assunto muito maisdetalhadamente do que a maioria das pesquisas nacionais.
As estimativas de predominância entre os dois tipos de estudos também podem variar devido aalguns fatores anteriormente mencionados, inclusive diferenças nas populações do estudo e nasdefinições de violência.
Melhorando o fornecimento das informaçõesTodos os estudos sobre assuntos delicados, como a violência, enfrentam o problema de como
conseguir que as pessoas se abram sobre aspectos íntimos de suas vidas. Em parte, o sucesso vaidepender da forma como as questões são preparadas e apresentadas, e de quão confortáveis osentrevistados se sentem durante a entrevista. Esse último aspecto depende de fatores como o sexo doentrevistador, a duração da entrevista, a presença ou não de outras pessoas e o quanto o entrevistadoparece estar interessado e não estar fazendo juízo de valor.
Diversas estratégias podem melhorar o fornecimento de informações dentre elas:§ Durante uma entrevista, dar ao entrevistado várias oportunidades de poder revelar a
violência.§ Utilizar perguntas específicas acerca de comportamentos, ao invés de perguntas subjetivas
como “Você já sofreu abuso?”.§ Selecionar cuidadosamente os entrevistadores e treiná-los para que desenvolvam uma
boa conversa com os entrevistados.§ Dar apoio aos entrevistados para ajudar a evitar a retaliação por parte de um parceiro ou
um membro da família que comete abusos
94 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
CAPÍTULO 4. VIOLÊNCIA PERPETRADA POR PARCEIROS ÍNTIMOS • 95
Continuação:
Em todas as estratégias para melhorar a pesquisa sobre violência, a segurança dos entrevistados edos entrevistadores deve ser sempre levada em consideração.
Recentemente, a Organização Mundial de Saúde publicou as diretrizes que lidam com questõeséticas e de segurança na pesquisa sobre violência contra as mulheres (15). As diretrizes para definir emedir a violência de gênero e a agressão sexual estão sendo desenvolvidas para ajudar a melhorar acomparabilidade dos dados. Algumas dessas diretrizes já estão disponíveis (16) (ver também Recursos).
44 anos na grande Bombaim e em outras áreas urbanasdo estado de Maharashtra, uma de cada cinco mortesera atribuída a "queimaduras acidentais". (29).
Noções tradicionais de honra masculinaEm muitos lugares, as noções de honra masculina
e castidade feminina colocam as mulheres em risco(ver também o Capítulo 6). Por exemplo, em algumaspartes do Mediterrâneo Oriental, a honra de umhomem muitas vezes está ligada à "pureza" sexualdas mulheres de sua família. Se uma mulher tem suacastidade "violada" – seja por estupro ou porenvolver-se voluntariamente em relação sexo fora docasamento – ela é considerada uma desgraça para ahonra da família. Em algumas sociedades, a únicaforma de limpar a honra da família é matar a"criminosa", seja ela uma mulher ou uma menina. Umestudo sobre mortes de mulheres por assassinato,realizado em Alexandria, no Egito, concluiu que 47%das mulheres foram assassinadas por um parente,depois de terem sido estupradas por alguém (30).
A dinâmica da violência de gêneroPesquisas recentes em países industrializados
indicam que as formas de violência de gênero queocorrem não são as mesmas para todos os casais quevivenciam conflitos violentos. Parece haver pelomenos dois padrões (31, 32):
• Uma forma grave e crescente de violência,caracterizada por diversas formas de abuso, terrore ameaças, e um comportamento cada vez maispossessivo e controlador por parte de quem praticao abuso.• Uma forma mais moderada de violência norelacionamento, onde a frustração constante e araiva ocasionalmente irrompem em agressãofísica.Os pesquisadores acreditam que as pesquisas em
comunidade são mais adequadas para detectar o
segundo padrão, ou seja, uma forma mais moderadade violência – também conhecida como "violênciacomum de casal" – do que o tipo grave de abusonomeada como "espancamento" (battering). Issopode ajudar a explicar porque as pesquisas sobreviolência feitas em comunidades de paísesindustrializados, normalmente, encontram evidênciassubstanciais de agressão física praticada pormulheres, apesar de serem mulheres a grande maioriadas vítimas que procuram os provedores de serviços(em abrigos, por exemplo), a polícia ou os tribunais.Apesar de nos países industrializados haverevidências de que as mulheres participam da violênciacomum de casal, há poucos indícios de que asmulheres sujeitem os homens ao mesmo tipo deviolência grave e crescente freqüentemente vista emexemplos clínicos de mulheres vítimas de agressõesconstantes (32, 33).
Da mesma forma, a pesquisa indica que asconseqüências da violência de gênero são diferentespara homens e mulheres, bem como os motivos quelevam as pessoas a praticá-la. Estudos realizados noCanadá e nos Estados Unidos mostraram que asmulheres têm muito mais probabilidade de seremmachucadas durante as agressões por parceirosíntimos do que os homens, e que as mulheres sofremformas mais graves de violência (5, 34 - 36). NoCanadá, as vítimas femininas da violência de gêneroestão três vezes mais sujeitas a lesões, cinco vezesmais sujeitas a receber assistência médica e cincovezes mais sujeitas a temer por suas vidas do que asvítimas masculinas (36). Em situações em que ocorrea violência praticada por mulheres é mais provávelque ela seja uma forma de autodefesa (32, 37, 38).
Em sociedades mais tradicionais, surrar a esposaé, em grande parte, considerado como umaconseqüência do direito do homem de infligirpunições físicas à sua esposa - dado obtido a partirde estudos em países tão diversos como Bangladesh,Camboja, Índia, México, Nigéria, Papua Nova Guiné,Paquistão, República Unida da Tanzânia e Zimbábue
96 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
(39 - 47). As justificativas culturais para a violênciageralmente decorrem de noções tradicionais dospapéis característicos dos homens e das mulheres.Em muitos cenários, as mulheres devem cuidar dosfilhos e de seus lares, mostrar obediência a seu maridoe também respeito. Se um homem achar que a mulhernão cumpriu seu papel ou ultrapassou os limites –mesmo, por exemplo, ao pedir dinheiro para casa ouao enfatizar as necessidades das crianças – então aviolência pode ser a resposta dele. Como observa oautor do estudo no Paquistão, "Bater na esposa paracastigá-la ou discipliná-la é encarado como sendojustificável em termos culturais e religiosos [...] Comoos homens são vistos como os 'donos' de suasesposas, é necessário mostrar a elas quem mandapara desestimular futuras transgressões".
Uma grande variedade de estudos, tanto empaíses industrializados quanto em países emergentes,produziram uma lista consistente de eventos que,dizem, disparam o gatilho da violência de gênero (39- 44). Dentre esses eventos, podemos citar:
— não obedecer ao homem;— retrucar;— não estar com a comida preparada na hora;— não cuidar de forma adequada das crianças
ou da casa;— questionar o homem sobre dinheiro ou
namoradas;
— ir a algum lugar sem a permissão do homem;— recusar sexo ao homem;— o homem suspeitar da infidelidade da mulher.Em muitos países emergentes, as mulheres em
geral concordam com a idéia de que os homens têmdireito a disciplinar suas esposas, até pela força sefor necessário (ver Tabela 4.2). No Egito, mais de80% das mulheres rurais são da opinião de que assurras são justificadas em determinadascircunstâncias (48). É significativo o fato de que umadas razões que as mulheres citam com maiorfreqüência como causa para apanhar é a mulher negarsexo ao homem (48 - 51). Não é de surpreender quenegar sexo seja uma das razões que as mulheres citamcom maior freqüência como um gatilho para surras(40, 52 - 54). Obviamente, isso traz implicações paraa capacidade das mulheres de se protegerem contragravidez indesejada e contra infecções sexualmentetransmitidas.
As sociedades normalmente fazem a distinçãoentre motivos "justos" e "injustos" para o abuso,bem como entre níveis "aceitáveis" e "inaceitáveis"de violência. Desta forma, algumas pessoas –geralmente maridos ou membros mais velhos da família– têm o direito de punir uma mulher fisicamente, semlimites, por determinadas transgressões. Somente seo homem ultrapassar essas fronteiras – por exemplo,tornando-se muito violento ou espancando uma
CAPÍTULO 4. VIOLÊNCIA PERPETRADA POR PARCEIROS ÍNTIMOS • 97
Geralmente a resposta de uma mulher ao abuso élimitada pelas opções que lhe são disponíveis (60).Estudos qualitativos profundos sobre as mulheresnos Estados Unidos, na África, na América Latina,na Ásia e na Europa mostram que diversos fatorespodem manter a mulher em relacionamentoseconômicos, preocupação com as crianças,dependência emocional, falta de apoio da família e deamigos e uma esperança de que o homem vá mudar(9, 40, 42, 62, 63). Em países emergentes, as mulherescitam ainda a estigmatização associada ao fato denão ser casada como uma barreira adicional paraabandonar o relacionamento abusivo (40, 56, 64).A negação e o medo de ser socilmente jogada aoostracismo normalmente evitam que as mulheresbusquem ajuda. Estudos mostraram que cerca de 20a 70 % das mulheres que sofreram abuso nuncafalaram com outra pessoa sobre o abuso até teremsido entrevistadas para o estudo (ver Tabela 4.3).Aquelas que buscam ajuda, buscam-naprincipalmente nos familiares e amigos, de preferênciaàs instituições. Apenas uma pequena minoria procuraa polícia.
Apesar dos obstáculos, muitas mulheres quesofreram abuso eventualmente largam seus parceirosviolentos, às vezes só depois de muitos anos, deterem crescido os filhoos. No estudo realizado emLeon, na Nicarágua, por exemplo, 70% das mulhereseventualmente largaram seus par4ceiros quecometiam abusos (65). O tempo médio que umamulher gastava em uma relação violenta era de cercade seis anos, apesar de ser mais provável que as
mulher sem uma causa aceitável- os outros interferirão (39, 43,55, 56).
Essa noção de "motivo justo"é encontrada em muitos dosdados qualitativos sobreviolência no mundo emdesenvolvimento. Uma mulherindígena no México comentou,"Eu acho que se a mulher éculpada, o marido tem o direitode bater nela [...] Se eu tiver feitoalguma coisa errada [...] ninguémdeve me defender. Mas, se eu nãotiver feito alguma coisa errada,eu tenho o direito de serdefendida" (43). No norte e nosul da Índia são encontradossentimentos semelhantes entregrupos-alvo participantes. "Sefor um grande erro", comentou uma mulher em TâmilNadu, "então o marido tem razão em bater na esposadele. Por que não? Uma vaca não vai obedecer semapanhar" (47).
Mesmo quando a própria cultura garante aohomem um significativo controle sobre ocomportamento feminino, os homens abusivosgeralmente ultrapassam a norma (49, 57, 58) .Estatísticas da Pesquisa Demográfica e de Saúderealizada na Nicarágua, por exemplo, mostram queentre as mulheres que sofreram abuso físico, 32%tinham maridos com alto "controle marital", emcomparação a apenas 2% entre mulheres que nãosofriam abuso físico. A escala incluía diversoscomportamentos por parte do marido, inclusiveacusações contínuas de que a mulher estaria sendoinfiel e restringindo o acesso dela à família e aosamigos (49).
Como as mulheres reagem ao abuso? Estudos qualitativos confirmaram que a maioria
das mulheres que sofreram abusos não são vítimaspassivas, mas, ao contrário, adortaram estratégiasativas para maximizar sua segurança e a segurançade seus filhos. Algumas mulheres residem, outrasfogem, enquanto outras tentam manter a paz cedendoàs demandas do marido (3, 59-61). O que aoobservador externo pode parecer uma falta deresposta positiva por parte da mulher pode, naverdade, ser uma avaliação calculada do que énecessário para sobreviver no casamento e protegera si mesma e aos filhos .
mulheres mais jovens abandonassemesse tipo de relacionamento maiscedo (9). Os estudos indicam que háum conjunto consistente de fatoresque levam as mulheres a sesepararem definitivamente deparceiros que cometem abuso.Normalmente, isso ocorre quando aviolência se torna grave o bastantepara despertar a consciência de queo parceiro nãp mudará, ou quando asituação começa a afetar visivelmenteas crianças. As mulheres também mencionaram oapoio emocional e logístico da família ou dos amigoscomo sendo fundamental na decisão de terminar orelacionamento (61, 63, 66 - 68).
De acordo com a pesquisa, deixar umrelacionamento abusivo é um processo e não umevento "definitivo". A maioria das mulheres deixa eretorna várias vezes ao relacionamento antes definalmente decidir dar um fim à relação. O processoinclui períodos de negação, de culpar a si mesma e desofrimento antes de a mulher chegar a reconhecer arealidade do abuso e identificar-se com outrasmulheres em situações semelhantes. Neste ponto,ela começa a desvincular-se e recuperar-se dorelacionamento de abuso (69). O reconhecimento daexistência desse processo pode ajudar as pessoas aentenderem mais e julgarem menos as mulheres quevoltam para situações de abuso.
Infelizmente, deixar um relacionamento de abuso,por si só, nem sempre garante a segurança. Às vezes,a violência pode continuar e pode até mesmoaumentar depois que uma mulher larga o seu parceiro(70). Na verdade, na Austrália, no Canadá e nosEstados Unidos, uma significativa parcela dehomicídios de parceiros íntimos envolvendo mulheresocorre mais ou menos quando a mulher está tentandodeixar um parceiro que comete abuso (22, 27, 71,72).
Quais os fatores de risco para aviolência praticada por parceirosíntimos?
Só recentemente os pesquisadores começaram abuscar os fatores individuais e comunitários quepodem afetar o índice de violência de gênero. Apesarde a violência contra mulheres existir na maioria doslugares, há exemplos de sociedades pré-industriaisonde a violência praticamente inexiste (73, 74). Essassociedades servem de testemunho de que as relaçõessociais podem ser organizadas de forma a minimizar a
violência contra as mulheres.Em muitos países, o predomínio da violência
doméstica varia substancialmente entre áreasvizinhas. Essas diferenças locais, em geral, sãomaiores do que as diferenças entre fronteirasnacionais. Por exemplo, no estado de Uttar Pradesh,na Índia, o percentual de homens que admitem quebatem em suas esposas variou de 18% no municípiode Naintal para 45% no município de Banda. Aproporção de homens que forçava fisicamente suasesposas a fazerem sexo variou de 14% a 36% entre osmunicípios (ver Tabela 4.4). Essas variações levantamuma questão interessante e instigante: o que acontececom esses cenários, que pode ser responsável pelasgrandes diferenças em relação à agressão física esexual?
Recentemente, aumentou o interesse dospesquisadores em explorar essas questões, embora abase de pesquisa atual não seja adequada para atarefa. Nossa atual compreensão acerca dos fatoresque afetam o predomínio da violência de gênerobaseia-se, em grande parte, em estudos realizados naAmérica do Norte, que podem não sernecessariamente relevantes para outros cenários. Hádiversos estudos de população realizados em paísesemergentes, mas a utilidade desses estudos parainvestigar fatores de risco e de proteção é limitada,por seu projeto transversal e pelo limitado número defatores de prognóstico que exploram. De forma geral,a base atual da pesquisa é direcionada muito mais àinvestigação de fatores individuais do que aos fatorescomunitários ou sociais que podem afetar aprobabilidade de abuso.
Na verdade, mesmo havendo um consensoemergente de que há uma interação de fatorespessoais, situacionais, sociais e culturais que secombinam para causar o abuso (55, 75), ainda élimitada a informação sobre quais são os fatores mais
98 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
importantes. A Tabela 4.5 resume os fatores que foramcolocados como estando relacionados ao risco deperpetrar violência contra um parceiro íntimo.Contudo, essas informações devem ser vistas comoincompletas e altamente experimentais. Vários fatoresimportantes podem estar faltando, porque nenhumestudo avaliou seu significado, enquanto outrosfatores podem se mostrar simplesmentecorrelacionados à agressão praticada pelo parceiro,ao invés de verdadeiros fatores causais.
Fatores individuaisBlack e outros reviram recentemente a literatura
de ciência social produzida na América do Norte, queversa sobre os fatores de risco na agressão física aum parceiro íntimo (76). Eles analisaram apenas osestudos que consideraram metodologicamenteconsistentes e que utilizaram uma amostracomunitária representativa ou uma amostra clínicacom um grupo de controle adequado. Diversosfatores demográficos, de histórico pessoal e depersonalidade surgiram a partir dessa análise,freqüentemente vinculados à probabilidade de umhomem agredir fisicamente uma parceira íntima.Dentre os fatores demográficos, pouca idade e baixarenda foram freqüentemente descritos como fatoresvinculados à probabilidade de um homem cometerviolência física contra uma parceira.
Alguns estudos revelaram uma relação entre aagressão física e as medidas combinadas de carátersocioeconômico e nível educacional, apesar de osdados não serem totalmente consistentes. O Estudosobre Saúde e Desenvolvimento realizado emDunedin, Nova Zelândia - um dos poucos estudoslongitudinais, de coorte de nascimento para explorara violência de gênero - concluiu que a pobreza familiarna infância e na adolescência, o baixo rendimentoacadêmico e a delinqüência agressiva na faixa etáriade 15 anos dão um forte indício de abuso físico deparceiras, praticado por homens na idade de 21 anos(77). Esse estudo foi um dos poucos que avaliou seos mesmos fatores de risco dão um prognóstico deagressão a um(a) parceiro(a), tanto por parte dos
homens quanto das mulheres.
Histórico de violência na famíliaEntre os fatores de história pessoal, a violência
na família de origem apareceu como um fator de riscoparticularmente importante para a agressão à parceiracometida pelos homens. Estudos realizados no Brasil,no Camboja, no Canadá, no Chile, na Colômbia, naCosta Rica, em El Salvador, na Indonésia, naNicarágua, na Espanha, nos Estados Unidos e naVenezuela chegaram à conclusão de que os índicesde abuso eram muito mais altos entre as mulherescujos maridos ou apanharam quando criança ou viramsuas mães apanhar (12, 57, 76, 78 - 81). Apesar deos homens que abusam fisicamente de suas esposasnormalmente apresentarem um histórico de violência,nem todos os meninos que testemunham violênciaou sofrem abuso tornam-se perpetradores de abusosquando crescem (82) . Uma importante questãoteórica neste caso é: o que diferencia os homens que,apesar das adversidades que enfrentaram na infância,conseguem criar relacionamentos saudáveis e nãoviolentos, daqueles que se tornam perpetradores deabusos?
Uso do álcool pelos homensOutro indicador de risco para a violência de gênero
que aparece consistente em diferentes cenários é ouso de bebida alcoólica pelos homens (81, 83 - 85).Na metanálise supracitada, realizada por Black eoutros, qualquer estudo que tenha analisado o usode álcool ou o excesso de bebida como um fator derisco para violência de gênero descobriu umasignificativa associação, com coeficientes decorrelação que variam de r = 0,21 a r = 0,57. Pesquisasbaseadas na população realizadas no Brasil, noCamboja, no Canadá, no Chile, na Colômbia, na CostaRica, em El Salvador, na Índia, na Indonésia, naNicarágua, na África do Sul, na Espanha e naVenezuela também encontraram uma relação entre orisco de uma mulher sofrer violência e os hábitos debeber de seu parceiro (9, 19, 79 - 81, 86, 87).
Contudo, há controvérsias sobre a natureza da
CAPÍTULO 4. VIOLÊNCIA PERPETRADA POR PARCEIROS ÍNTIMOS • 99
relação entre o uso de álcool e a violência, bem comose tal relação é realmente causal. Muitospesquisadores acreditam que o álcool funciona comoum fator situacional, aumentando a probabilidade deviolência, ao reduzir as inibições, anuviar o julgamentoe coibir a capacidade da pessoa de interpretar ossinais (88). O excesso de bebida também podeaumentar a violência de gênero ao estimular as brigasentre os casais. Outros argumentam que o vínculoentre a violência e o álcool depende da cultura e existeapenas em cenários onde a expectativa coletiva é deque a bebida causa ou justifica determinadoscomportamentos (89, 90). Na África do Sul, porexemplo, os homens falam de usar o álcool de formapremeditada, para ganhar a coragem necessária parabater em suas parceiras, como acham que ésocialmente esperado deles (9).
Apesar das opiniões conflitantes acerca do papelcausal desempenhado pelo abuso de álcool, aevidência é de que as mulheres que vivem comhomens que bebem correm um risco muito maior desofrer violência por parte de seus parceiros, e que oshomens que bebem são muito mais violentos na horada agressão (57). De acordo com a pesquisa sobreviolência contra as mulheres, realizada no Canadá,por exemplo, a probabilidade das mulheres que viviamcom parceiros que bebiam demais serem agredidaspor eles era cinco vezes maior do que a probabilidadedas mulheres que viviam com homens que nãobebiam (19).
Distúrbios da personalidadeDiversos estudos tentaram identificar se
determinados fatores ou distúrbios da personalidadeestão consistentemente relacionados à violência degênero. Estudos realizados no Canadá e nos EstadosUnidos mostraram que há uma maior probabilidadede que os homens que agridem suas esposas sejamemocionalmente dependentes, inseguros e tenhambaixa auto-estima e, assim, é mais provável quetenham dificuldades em controlar seus impulsos (33).Também é mais provável que, em relação a suascontrapartes não violentas, eles mostrem maior raivae hostilidade, que sejam depressivos e obtenham altapontuação em determinadas escalas de distúrbios dapersonalidade, inclusive distúrbios da personalidadeanti-social, agressiva e de limites. Apesar de osíndices de psicopatologia normalmente serem maioresentre os homens que abusam de suas esposas, nemtodos os homens que praticam o abuso físico mostramesses tipos de distúrbio psicológico. A proporçãode agressões praticadas por parceiro que têm algum
vínculo com uma psicopatologia parece serrelativamente baixa em cenários onde a violência degênero é comum.
Fatores de relacionamentoEm um nível interpessoal, o fator mais consistente
para o aparecimento da violência de gênero é o conflitoou a discórdia no relacionamento. Nos estudosanalisados por Black e outros, o conflito marital temuma relação de moderada a forte com a agressão àparceira, praticada pelos homens (76). Também seobservou que esse conflito é indicativo da violênciade gênero em um estudo de população entre homense mulheres realizado na África do Sul (87) e em umaamostra representativa de homens casados emBancoc, na Tailândia (92). No estudo realizado naTailândia, o conflito marital verbal mostrou estarsignificativamente relacionado à agressão física daesposa, mesmo depois de controlar a situaçãosocioeconômica, o nível de estresse do marido eoutros aspectos relacionados ao casamento, tal comocompanheirismo e estabilidade (92).
Fatores comunitáriosUma situação socioeconômica elevada
normalmente parece oferecer uma certa proteçãocontra o risco de violência física contra um parceiroíntimo, apesar de haver exceções (39). Estudosrealizados em diversos cenários mostram que, mesmoque a violência física contra parceiros esteja presenteem todos os grupos socioeconômicos, as mulheresque vivem em pobreza são muitíssimo mais afetadas(12, 19, 49, 78, 79, 81, 92 - 96).
Ainda não está claro por que a pobreza aumentao risco de violência - se é por causa da baixa rendapor si só ou devido a outros fatores que acompanhama pobreza, tal como superpopulação ou falta deesperança. Para alguns homens, viver na pobrezapode gerar estresse, frustração e uma sensação deinadequação por não ter conseguido cumprir seupapel de provedor, como é culturalmente esperado.A pobreza também pode ser fonte de material parabrigas no casamento ou fazer com que seja mais difícilque as mulheres abandonem seus relacionamentosviolentos ou, de alguma outra forma, insatisfatórios.Quaisquer que sejam os mecanismos exatos, éprovável que a pobreza atue como um "marco" paradiversas condições sociais que se combinam paraaumentar o risco enfrentado pelas mulheres (55).
A maneira como uma comunidade responde àviolência de gênero pode afetar todos os níveis deabuso naquela comunidade. Em um estudo
100 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
comparativo de 16 sociedades com altos ou baixosíndices de violência de gênero, Counts, Brown eCampbell descobriram que as sociedades com osníveis mais baixos de violência de gênero eram asque tinham sanções comunitárias contra violênciade gênero e aquelas onde as mulheres que sofreramabuso tinham acesso a um refúgio, na forma deabrigos ou de apoio da família (73). As sançõescomunitárias, ou proibições, podem tomar a forma desanções legais formais ou de pressão moral dosvizinhos para intervir se uma mulher estiverapanhando. Essa estrutura de "sanções e refúgios"sugere a hipótese de que a violência contra parceiroíntimo será maior em sociedades onde a posição damulher está em um estado de transição. Nos cenáriosem que as mulheres ocupam uma posição muito baixa,a violência não é "necessária" para impor a autoridademasculina. Por outro lado, onde as mulheresdesfrutam de uma posição elevada, provavelmenteelas conseguiram coletivamente um poder suficientepara mudar os papéis tradicionais dos gêneros. Assimsendo, a violência de gênero normalmente é maiorquando as mulheres começam a assumir papéis nãotradicionais ou começam a ser parte da mão de obra.
Vários outros fatores comunitários têm sidosugeridos como prováveis fatores que afetam aincidência geral de violência de gênero, mas poucosdeles foram testados empiricamente. Um estudo queestá sendo realizado em vários países, patrocinadopela Organização Mundial de Saúde em oito países(Bangladesh, Brasil, Japão, Namíbia, Peru, Samoa,Tailândia e República Unida da Tanzânia) estácoletando dados sobre diversos fatores em nível decomunidade para analisar a possível relação com aviolência de gênero. Esses fatores incluem:
• Índices de outro crime violento.• Capital social (ver Capítulo 2).• Normas sociais que tenham a ver comprivacidade familiar.• Normas comunitárias relativas à autoridade dohomem sobre a mulher.O estudo lançará uma luz sobre as contribuições
relativas dos fatores individuais e comunitários paraos índices de violência de gênero.
Fatores sociaisEstudos de pesquisa entre culturas trouxeram à
tona diversos fatores sociais e culturais que podemdar origem a níveis mais elevados de violência.Levinson, por exemplo - explorando os fatores quefreqüentemente diferenciam as sociedades onde o
espancamento da esposa é comum daquelas onde talprática é rara ou inexiste -, usou a análise estatísticade dados etnográficos codificados de 90 sociedadespara analisar os padrões culturais do espancamentoda esposa (74). A análise de Levinson indica que oespancamento da esposa ocorre com maior freqüênciaem sociedades onde os homens têm poder econômicoe de decisão no lar, onde as mulheres não têm acessofácil ao divórcio e onde os adultos normalmenterecorrem à violência para resolver seus conflitos.Nesse estudo, o segundo maior indicador dafreqüência de espancamento da esposa foi ainexistência de grupos de trabalho compostostotalmente por mulheres. Levinson desenvolve ahipótese de que a presença de grupos de trabalhofemininos oferece proteção contra o espancamentode esposas, porque garantem às mulheres uma fonteestável de apoio social, assim como independênciaeconômica de seus maridos e de suas famílias.
Diversos pesquisadores propuseram uma sériede fatores adicionais que podem contribuir paraíndices mais elevados de violência de gênero. Porexemplo, tem-se argumentado que a violência degênero é mais comum em lugares onde guerras ououtros tipos de conflitos ou rebeliões sociais estejamocorrendo, ou ocorreram recentemente. Nos lugaresonde a violência se tornou um lugar comum e aspessoas têm fácil acesso a armas, as relações sociais- inclusive os papéis dos homens e das mulheres -freqüentemente são rompidas. Durante essesperíodos de rompimento econômico e social, asmulheres normalmente se tornam mais independentese assumem maior responsabilidade econômica,enquanto os homens podem se tornar menos capazesde desempenhar seus papéis socialmente esperadosde protetores e provedores. Esses fatores bem podemaumentar a violência de gênero, mas as evidênciasnesse sentido ainda são bastante empíricas.
Outros sugeriram que a desigualdade estruturalentre homens e mulheres, os rígidos papéis dosgêneros e as noções de virilidade ligadas ao domínio,à honra masculina e à agressão servem para aumentaro risco de violência de gênero (55). Mais uma vez,embora essas hipóteses pareçam razoáveis, elas aindaprecisam ser comprovadas por sólidas evidências.
As conseqüências da violênciapraticada por parceiros íntimos
As conseqüências do abuso são profundas, indoalém da saúde e da felicidade das pessoas, chegandoaté mesmo a afetar o bem-estar de comunidadesinteiras. Viver em um relacionamento violento afeta o
CAPÍTULO 4. VIOLÊNCIA PERPETRADA POR PARCEIROS ÍNTIMOS • 101
senso de auto-estima de uma mulher e sua capacidadede participar no mundo. Estudos mostraram quemulheres que sofreram abuso são rotineiramenterestringidas em suas formas de ter acesso ainformações e serviços, participar da vida pública ereceber apoio emocional de amigos e parentes. Não éde surpreender que, freqüentemente, essas mulheresnão consigam cuidar de si mesmas e de suas crianças,tampouco consigam procurar empregos e seguircarreiras.
Impacto na saúdeUm ramo crescente da pesquisa está mostrando
que viver com um parceiro que comete abusos podecausar um profundo impacto na saúde de uma mulher.A violência tem sido vinculada a uma série dediferentes resultados em saúde, tanto imediatosquanto em longo prazo. A Tabela 4.6 se baseia naliteratura científica para resumir as conseqüênciasque têm sido associadas à violência praticada porparceiros íntimos. Apesar da violência poder terconseqüências diretas na saúde, tais como lesões,ser uma vítima da violência também aumenta o riscode uma mulher vir a ter uma saúde precária no futuro.Assim como as conseqüências do uso do tabaco edo álcool, ser uma vítima de violência pode ser
102 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
considerado como um fator de risco para diversasdoenças e problemas de saúde.
Estudos mostram que as mulheres que sofreramabuso físico ou sexual na infância ou na fase adultatêm mais problemas de saúde do que as outrasmulheres – em relação ao funcionamento físico, aobem-estar psicológico e à adoção de futuroscomportamentos de risco, inclusive fumar, inatividadefísica e abuso de álcool e drogas (85, 97 – 103). Ofato de ter um histórico de ser alvo de violência colocaa mulher em risco crescente de:
— depressão;— tentativas de suicídio;— síndromes de dor crônica;— distúrbios psicossomáticos;— lesão física;— distúrbios gastrintestinais;— síndrome de intestino irritável;— diversas conseqüências na saúde reprodutiva(ver adiante).De forma geral, as conclusões resultantes da
pesquisa atual sobre as conseqüências do abusosobre a saúde são as seguintes:
• A influência do abuso pode durar muito tempomesmo depois do abuso ter cessado (103, 104).• Quanto mais grave o abuso, maior é o impactosobre a saúde física e mental da mulher (98).O impacto de diferentes tipos de abuso emúltiplos episódios de abuso parece sercumulativo ao longo do tempo (85, 99, 100,103, 105).
Saúde reprodutivaAs mulheres que vivem com parceiros violentos
passam por dificuldades para se proteger contragravidez indesejada ou doenças. A violência podelevar diretamente à gravidez indesejada ou a infecçõessexualmente transmitidas, inclusive infecção por HIV,através do sexo forçado, ou ainda indiretamente, aointerferir na possibilidade de uma mulher usarcontraceptivos, inclusive preservativos (6, 106). Osestudos mostram de maneira consistente que aviolência doméstica é mais comum em famílias commuitos filhos (5, 47, 49, 50, 78, 93, 107). Portanto,os pesquisadores acreditaram por muito tempo que oestresse de ter muitos filhos aumentava o risco deviolência, porém dados recentes levantados naNicarágua, na verdade, indicam que a relação podeser oposta. Na Nicarágua, o surgimento da violência
é muito anterior ao fato de se ter muitos filhos (80%da violência começa nos quatro primeiros anos decasamento), sugerindo que a violência pode ser umfator de risco para se ter muitos filhos (9).
A violência também ocorre durante a gravidez,com conseqüências não só para a mulher, mas tambémpara o desenvolvimento do feto. Estudos depopulação realizados no Canadá, Chile, Egito e naNicarágua concluíram que de 6% a 15% das mulherescom parceiros constantes sofreram abuso físico ousexual durante a gravidez, normalmente praticado porseus parceiros (9, 48, 49, 57, 78). Nos EstadosUnidos, as estimativas acerca de abuso durante agravidez variam de 3% a 11% entre mulheres adultas,e até 38% entre mães adolescentes de baixa renda(108 - 112).
A violência durante a gravidez tem sido associadaa (6, 110, 113 - 117):
— aborto espontâneo;— entrada tardia em cuidado pré-natal;— natimortos;— parto e nascimento prematuros;— lesão fetal;— baixo peso ao nascer, uma das principaiscausas de morte infantil nos países emergentes.A violência praticada por parceiros íntimos é
responsável por uma grande, porém não reconhecida,parcela da mortalidade materna. Um estudo recenterealizado entre 400 vilas e sete hospitais em Pune, naÍndia, revelou que 16% de todas as mortes durante agravidez eram resultado da violência praticada peloparceiro (118). O estudo mostrou ainda que cerca de70% das mortes maternas naquela região em geralnão eram registradas e que 41% das mortesregistradas foram mal classificadas. O fato de sermorta por um parceiro também tem sido identificadocomo uma importante causa de mortes maternas emBangladesh (119) e nos Estados Unidos (120, 121).
A violência de gênero também tem muito a vercom a crescente epidemia de AIDS. Em seis países daÁfrica, por exemplo, o medo do ostracismo e aconseqüente violência no lar foram um importantemotivo para as mulheres grávidas se recusarem a fazero teste de HIV, ou então não voltarem para pegar osresultados (122). Da mesma forma, em um estudorecente sobre a transmissão de HIV entreheterossexuais em Uganda rural, as mulheres querelataram terem sido forçadas a fazer sexo contra suavontade nos anos anteriores tiveram um risco oito
CAPÍTULO 4. VIOLÊNCIA PERPETRADA POR PARCEIROS ÍNTIMOS • 103
vezes maior de se infectar com HIV (123).
Saúde físicaObviamente, a violência pode levar a lesões, que
vão desde cortes e hematomas até invalidezpermanente e morte. Estudos de população indicamque de 40% a 72% de todas as mulheres que sofreramabuso físico de um parceiro são feridas, em algummomento de sua vida (5, 9, 19, 62, 79, 124). NoCanadá, 43% das mulheres feridas dessa formareceberam cuidados médicos e 50% delas precisoude licença no trabalho (19).
O ferimento, contudo, não é o resultado físicomais comum do abuso praticado pelo parceiro. Osmais comuns são os "distúrbios funcionais" - diversosdistúrbios que freqüentemente não apresentam umacausa médica identificável, tais como síndrome deintestino irritável, fibromialgia, distúrbiosgastrintestinais e diversas síndromes de dor crônica.Em geral, os estudos vinculam essas desordens a umhistórico de abuso físico ou sexual (98, 125 - 127).As mulheres que sofreram abuso também têm umfuncionamento físico reduzido, mais sintomas físicose passam mais dias de cama do que as mulheres quenão sofreram abuso (97, 98, 101, 124, 125, 128).
Saúde mentalAs mulheres que são vítimas de abuso por parte
de seus parceiros têm mais depressão, ansiedade efobias do que as mulheres que não sofrem nenhumtipo de abuso, conforme estudos realizados naAustrália, nos Estados Unidos, na Nicarágua e noPaquistão (129 - 132). A pesquisa indica ainda queas mulheres que foram vítimas de abuso praticadopor seus parceiros estão sob risco muito maior desuicídio e tentativas de suicídio (25, 49, 133 - 136).
Utilização dos serviços de saúdeDado o impacto em longo prazo da violência sobre
a saúde da mulher, as mulheres que sofreram abusotêm maior probabilidade de serem usuárias dosserviços de saúde por períodos maiores, aumentandoassim os custos da assistência à saúde. Estudosrealizados na Nicarágua, nos Estados Unidos e noZimbábue mostram que as mulheres que sofreramagressão física ou sexual, seja na infância ou na faseadulta, usam os serviços de saúde com maiorfreqüência do que as que não sofreram abusos (98,100, 137 - 140). Em média, as vítimas de abuso passam
por mais cirurgias, consultas médicas, internaçõesem hospitais, idas a farmácias e consultas de saúdemental durante sua vida do que as que não sãovítimas, mesmo depois de controlar os potenciaisfatores de frustração.
Impacto econômico da violênciaAlém dos custos humanos, a violência representa
uma imensa carga econômica para as sociedades emtermos de produtividade perdida e aumento no usode serviços sociais. Entre as mulheres pesquisadasem Nagpur, Índia, por exemplo, 13% precisaram largarum trabalho remunerado por causa de abuso, faltandouma média de sete dias úteis por incidente, e 11%não conseguiram desempenhar tarefas domésticaspor causa de um incidente de violência (141).
Embora a violência de gênero não afeteconstantemente a probabilidade geral de uma mulherde conseguir um emprego, parece que ela influenciano salário da mulher e em sua capacidade de manterum emprego (139, 142, 143). Um estudo realizadoem Chicago, IL, Estados Unidos, concluiu quemulheres com um histórico de violência de gênerotinham maior probabilidade de haver passado porperíodos de desemprego, de ter tido granderotatividade de empregos e de ter sofrido maisproblemas físicos e mentais que poderiam afetar seudesempenho no trabalho. Elas também tinham menorrenda pessoal e tinham muito mais possibilidade dereceber assistência social do que as mulheres quenão tinham um histórico de violência de gênero (143).Da mesma forma, em um estudo realizado em Manáguana Nicarágua, as mulheres que sofreram abusoganhavam 46% a menos do que as mulheres semhistórico de abuso, mesmo depois de controlar outrosfatores que poderiam afetar os rendimentos (139).
Impacto sobre as criançasAs crianças geralmente estão presentes durante
altercações domésticas. Em um estudo realizado naIrlanda (62), 64% das mulheres que sofreram abusodisseram que seus filhos costumavam testemunhar aviolência, e 50% das mulheres que sofreram abusoem Monterrey, no México relataram o mesmo (11).
As crianças que testemunham violência maritalestão sob risco maior de diversos problemasemocionais e de comportamento, inclusive ansiedade,depressão, baixo rendimento escolar, baixa auto-estima, desobediência, pesadelos e reclamações de
saúde física (9, 144 - 146). Na verdade, estudosrealizados na América do Norte indicam que ascrianças que testemunham violência entre seus paisfreqüentemente mostram muitos dos distúrbioscomportamentais e psicológicos apresentados pelascrianças que são vítimas de abusos (145, 147).
Evidências recentes indicam que a violênciatambém pode afetar, direta ou indiretamente, amortalidade infantil (148, 149). Pesquisas realizadasem León, na Nicarágua, concluíram que, depois decontrolar outros possíveis fatores de confusão, osfilhos de mulheres que sofriam abuso físico e sexualpraticado por um parceiro tinham seis vezes maisprobabilidade de morrer antes de ter cinco anos doque os filhos de mulheres que não haviam sofridoabuso. O abuso praticado por parceiro era responsávelpor cerca de um terço das mortes entre criançasnaquela região (149). Um outro estudo realizado nosEstados indianos de Tâmil Nadu e Uttar Pradeshconcluiu que as mulheres que haviam apanhadotinham muito mais probabilidade do que as mulheresque não sofreram abuso de ter passado por uma perdade gravidez ou uma morte infantil (aborto provocado,aborto espontâneo e filho natimorto), mesmo depoisde controlar indicadores bem estabelecidos demortalidade infantil, tais como a idade da mulher, onível de educação e o número de gravidezes anterioresque resultaram em um filho vivo (148).
O que pode ser feito para evitar aviolência praticada por parceirosíntimos?
A maioria dos trabalhos realizados até hoje sobreviolência de gênero têm sido liderados pororganizações de mulheres, com ocasionalfinanciamento e assistência dos governos. Noslugares em que o governo se envolveu - como naAustrália, América Latina, América do Norte e empartes da Europa - geralmente o fez em resposta ademandas da sociedade civil por uma açãoconstrutiva. A primeira onda de atividades, em geral,envolve elementos de reforma legal, treinamento dapolícia e criação de serviços especializados paraatendimento às vítimas. Vários países já aprovaramleis sobre violência doméstica, apesar de muitosfuncionários ainda não estarem cientes das novasleis, ou não terem vontade de implementá-las.Aqueles que estão dentro do sistema (na polícia ouno sistema legal, por exemplo) freqüentemente
104 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
compartilham os mesmos preconceitos quepredominam na sociedade como um todo.Repetidamente a experiência tem mostrado que, semesforços sustentados para mudar a cultura e a práticainstitucionais, a maioria das reformas legais e políticastêm pouca valia.
Apesar de o ativismo no campo da violênciacontra mulheres já ter mais de 20 anos, pouquíssimasintervenções foram rigorosamente avaliadas. Naverdade, a recente revisão de programas para evitar aviolência em família nos Estados Unidos, realizadapelo National Research Council [Conselho Nacionalde Pesquisa] encontrou apenas 34 estudos quetentaram avaliar as intervenções relativas a abuso degênero. Desses, 19 tinham como foco a aplicação dalei, refletindo a grande preferência entre os agentesdo governo por usar o sistema da justiça criminalpara lidar com a violência (150). A pesquisa sobreintervenções em países emergentes é ainda maislimitada. Existem apenas alguns poucos estudos quetentam fazer uma análise crítica das intervençõesatuais. Dentre esses estudos, há uma revisão dosprogramas sobre violência contra mulheres em quatroEstados da Índia. Além disso, o Fundo das NaçõesUnidas para o Desenvolvimento das Mulheresanalisou sete projetos em cinco regiões, financiadospelo Fundo Fiduciário de Apoio a Ações paraEliminação da Violência contra a Mulher, visando adisseminação das lições aprendidas com essesprojetos (151).
Apoio às vítimasNos países desenvolvidos, os centros para
mulheres em crise e abrigos para mulheres espancadastêm sido a base dos programas para vítimas deviolência doméstica. Em 1995, havia aproximadamente1800 programas desse tipo nos Estados Unidos,sendo que 1200 deles ofereciam abrigo de emergênciaalém de apoio emocional, legal e material para asmulheres e para seus filhos (152). Normalmente, essescentros oferecem grupos de apoio e aconselhamentoindividual, capacitação, programas para as crianças,assistência para lidar com serviços sociais e assuntoslegais, bem como indicações para tratamento deabuso de droga e álcool. A maioria dos abrigos ecentros de apoio a crises na Europa e nos EstadosUnidos foram criados originalmente por mulheresativistas, apesar de atualmente muitos deles seremdirigidos por profissionais e receberem financiamento
do governo.Desde o início da década de 1980, os abrigos para
mulheres e os centros de apoio a crises também seespalharam em muitos países emergentes. A maioriados países tem pelo menos algumas organizaçõesnão governamentais que oferecem serviçosespecializados para as vítimas de abuso e fazemcampanha em nome delas. Alguns países têmcentenas de organizações assim. Contudo, amanutenção do abrigo é cara e muitos paísesemergentes têm evitado esse modelo, preferindo criarlinhas diretas ou centros de apoio a crises nãoresidenciais que oferecem alguns dos serviçosoferecidos pelos residenciais.
Quando não é possível recorrer a um abrigo formal,as mulheres têm encontrado outras formas de lidarcom as emergências ligadas ao abuso doméstico. Umaestratégia é criar uma rede informal de "lares seguros",onde a mulher que está com problemas pode buscarabrigo temporário em casas na vizinhança. Algumascomunidades determinaram alguns lugares sagrados- um templo ou uma igreja, por exemplo - como abrigosonde as mulheres podem ficar com seus filhos durantea noite para fugir de parceiros alcoolizados ouviolentos.
Medidas legais e reformas jurídicasCriminalizar o abuso
As décadas de 1980 e 1990 viram uma onda dereformas legais relativas ao abuso físico e sexualpraticado por um parceiro íntimo (153, 154). Nosúltimos 10 anos, por exemplo, 24 países da AméricaLatina e do Caribe aprovaram legislação específicasobre violência doméstica (154). As reformas maiscomuns envolvem a criminalização do abuso físico,sexual e psicológico praticado por parceiros íntimos,tanto por meio de novas leis sobre violênciadoméstica quanto por emendas aos códigos penais.
A mensagem subjacente a tal legislação é que aviolência de gênero é um crime e não será tolerada nasociedade. Trazer essa mensagem à tona também éuma forma de acabar com a idéia de que a violência éum assunto particular, da família. Além de introduzirnovas leis ou expandir as leis existentes, alguns paísesemergentes têm experimentado introduzir tribunaisespeciais de violência doméstica, treinar a polícia, osagentes dos tribunais e a defensoria, bem comooferecer assessores especiais para ajudarem a mulhera lidar com o sistema judiciário criminal. Apesar de
CAPÍTULO 4. VIOLÊNCIA PERPETRADA POR PARCEIROS ÍNTIMOS • 105
106 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
até agora haver poucas avaliações rigorosas dessasmedidas, a recente revisão das intervenções emviolência familiar, feita pela United States NationalAcademy of Sciences [Academia Nacional deCiências dos Estados Unidos] concluiu: "Asevidências empíricas indicam que as unidadesespecializadas e as grandes reformas nosdepartamentos de polícia, nas procuradorias e nostribunais especializados melhoraram a experiência decrianças e mulheres vítimas de abuso" (150).
Há experimentos semelhantes sendo realizadosem vários outros lugares. Na Índia, por exemplo, osgovernos estaduais criaram postos de assistêncialegal, tribunais de família, lok adalat (tribunaispopulares) e mahilla lok adalat (tribunais demulheres). Uma avaliação recente observa que essesórgãos são basicamente mecanismos de conciliação,que contam exclusivamente com a mediação e oaconselhamento para promover a reconciliação dafamília. Contudo, há indícios de que, mesmo comomecanismos de conciliação, essas instituições sãomenos do que satisfatórias, e que os mediadorestendem a colocar o bem-estar das mulheres abaixo dointeresse do Estado em manter as famílias unidas(155).
Leis e políticas referentes à detençãoDepois dos serviços de apoio às vítimas, a próxima
forma de intervenção contra violência domésticanormalmente são os esforços para reformar a práticapolicial. No começo, a ênfase era sobre o treinamentoda polícia, mas quando sozinho o treinamentomostrou-se bastante ineficiente para mudar ocomportamento da polícia, os esforços passaram aser direcionados à busca de leis que exijam a detençãoobrigatória em casos de violência doméstica epolíticas que obriguem os agentes da polícia aadotarem uma postura mais ativa.
O apoio para a detenção como uma forma dereduzir a violência doméstica foi impulsionado em1984 por um experimento em Minneapolis, MN,Estados Unidos, que indicou que a detenção diminuiupela metade o risco de novas agressões em um períodode seis meses, em comparação às estratégias deseparar os casais ou aconselhá-los a procurar ajuda(156). Esses resultados foram amplamentedivulgados e levaram a uma drástica mudança naspolíticas da polícia em relação à violência domésticaem todo o território dos Estados Unidos.
Os esforços para reproduzir os resultados deMinneapolis em outras cinco áreas dos EstadosUnidos, contudo, não conseguiram confirmar o valorde inibição da detenção. Esses novos estudosdescobriram que, em média, a detenção não tinhamaiores efeitos na redução da violência do que outrasrespostas da polícia, como reprimendas e citações,aconselhamento para os casais ou separação doscasais (157, 158). Uma análise detalhada dessesestudos também produziu algumas conclusõesinteressantes. Quando o perpetrador da violência eracasado, tinha emprego ou ambos, a detenção reduziaa repetição da agressão, mas para os homensdesempregados ou que não tinham compromisso coma parceira, na verdade a detenção levou a um aumentodo abuso em algumas cidades. O impacto da detençãotambém variou conforme a comunidade. Os homensque moravam em comunidades com poucodesemprego foram reprimidos devido à detenção,independentemente de sua situação pessoal deemprego; os suspeitos que moram em áreas com altosíndices de desemprego, contudo, ficaram maisviolentos depois de serem detidos do que ficavamdepois de simplesmente receber uma reprimenda(159). Essas conclusões levaram a questionar avalidade das leis de detenção obrigatória em áreas depobreza concentrada (160).
Sanções alternativasComo alternativa à detenção, algumas
comunidades estão fazendo experiências com outrosmétodos de reprimir o comportamento violento. Umaabordagem da lei civil é emitir medidas cautelaresque proíbam um homem de entrar em contato oucometer abuso contra sua parceira, emitir mandadosjudiciais para que ele saia de casa, ordenar a ele quepague pensão, ou exigir que ele busqueaconselhamento ou tratamento para abuso desubstância.
Os pesquisadores descobriram que apesar de asvítimas geralmente acharem que as ordens deproteção são úteis, a prova de sua eficiência naredução da violência é mista (161, 162). Em um estudorealizado nas cidades de Denver e Boulder, CO,Estados Unidos, Harrel e Smith (163) chegaram àconclusão de que as ordens de proteção erameficientes, pelo menos por um ano, para evitar arecorrência de violência doméstica, em comparação asituações similares onde não havia ordem de
proteção. Contudo, os estudos têm mostrado quesão raras as detenções por violação de uma ordem deproteção, o que tende a acabar com a efetividadedelas na prevenção contra a violência (164). Outrapesquisa mostra que as ordens de proteção podemmelhorar a auto-estima de uma mulher, mas têm poucoefeito sobre homens com sérios antecedentescriminais (165, 166).
Em outros lugares, a comunidade tem exploradotécnicas como execração pública, piquetes em frenteà casa ou ao trabalho de quem cometeu o abuso, ousolicitar serviços comunitários como punição porcomportamento abusivo. Ativistas na Índiafreqüentemente fazem o dharna, uma forma deexecração pública e protesto, em frente às casas ouao local de trabalho dos homens que praticam abuso(155).
Delegacias de polícia de mulheresAlguns países têm experimentado as delegacias
de polícia de mulheres, uma inovação que começouno Brasil e agora se espalhou por toda a AméricaLatina e partes da Ásia (167, 168). Apesar de serteoricamente recomendável, as avaliações mostramque, até o momento, essa iniciativa tem passado pormuitos problemas (155, 168 - 172). Mesmo que apresença de uma delegacia de polícia com todo oquadro de pessoal composto por mulheres aumentea busca por ajuda por parte das mulheres que sofreramabuso, freqüentemente os serviços que sãonecessários a essas mulheres, como assistênciajurídica e aconselhamento, não estão disponíveis nadelegacia. Além disso, a premissa de que as agentesde polícia serão mais solidárias com as vítimas nemsempre se mostra verdadeira e, em alguns lugares, acriação de postos policiais especiais para crimescontra as mulheres fez com que ficasse mais fácilpara as outras delegacias desconsiderarem as queixasfeitas por mulheres. Uma análise das delegacias demulheres na Índia observa que "as mulheres vítimassão forçadas a viajar grandes distâncias para registrarsuas queixas em delegacias de mulheres e não têmassegurada a rapidez da proteção da polícia davizinhança". Para tornar-se viável, a estratégia deveser acompanhada por um treinamento para sensibilizaros agentes de polícia, incentivos para estimular essetipo de trabalho e o fornecimento de uma maiorvariedade de serviços (155, 168, 170).
CAPÍTULO 4. VIOLÊNCIA PERPETRADA POR PARCEIROS ÍNTIMOS • 107
Tratamento para os perpetradores deabuso
Os programas de tratamento para osperpetradores de violência de gênero são umainovação que tem estado se espalhando dos EstadosUnidos para a Austrália, Canadá, Europa e diversospaíses emergentes (173- 175). A maioria dosprogramas utiliza um formato de grupo para discutiros papéis dos gêneros e ensinar algumas habilidades,inclusive como lidar com estresse e raiva, assumir aresponsabilidade pelas ações de alguém e mostrarsentimentos pelas pessoas.
Nos últimos anos, houve diferentes esforços paraavaliar esses trabalhos, apesar de eles terem sidoimpedidos por dificuldades metodológicas, quecontinuam a criar problemas para a interpretação dosresultados. Uma pesquisa realizada nos EstadosUnidos indica que a maioria dos homens (53% a 85%)que terminam os programas de tratamento continuamfisicamente não violentos por até dois anos, com taxasmais baixas para períodos subseqüentes mais longos(176, 177). Esses índices de sucesso, contudo,devem ser vistos sob a ótica do alto índice deabandono que há nesses programas; de forma geral,de um terço à metade de todos os homens que entramnesses programas não o terminam (176) e muitos dosque são encaminhados aos programas nunca sematricularam formalmente (178). Uma avaliação feitapelo Programa de Prevenção contra a Violência, doReino Unido, por exemplo, mostrou que 65% doshomens não apareceram na primeira sessão, 33%compareceram a menos do que seis sessões, e apenas33% prosseguiram até o segundo estágio (179).
Uma avaliação recente dos programas em quatrocidades dos Estados Unidos concluiu que a maioriadas mulheres vítimas de abuso se sentiram"melhores" e "mais seguras" depois que seusparceiros começaram a fazer o tratamento (177).Contudo, esse estudo descobriu que, depois de 30meses, quase metade dos homens tinha usado daviolência uma vez, e 23% dos homens haviam sidorepetidamente violentos e continuavam a infligirsérias lesões, enquanto que 21% dos homens nãopraticavam abuso físico nem verbal. Um total de 60%dos casais havia se separado e 24% não tinham maiscontato.
De acordo com uma recente análise internacionalrealizada por pesquisadores na Universidade deNorth London, Inglaterra (179), as avaliações no geral
indicam que os programas de tratamento funcionammelhor se:
— forem de longa e não de curta duração;— mudarem as atitudes dos homens o suficientepara que discutam seu comportamento;— trabalharem em conjunto com um sistema dejustiça criminal que aja estritamente quando háquebras das condições do programa.Em Pittsburgh, PA, Estados Unidos, por exemplo,
a taxa de não comparecimento caiu de 36% para 6%de 1994 a 1997, quando o sistema judiciário começoua emitir mandados de prisão para quem nãocomparecesse à sessão de entrevista inicial doprograma (179).
Intervenções dos serviços de saúdeNos últimos anos, a atenção tem-se voltado para
a reforma da resposta às vítimas de abuso dosprovedores de assistência à saúde. A maioria dasmulheres tem contato com o sistema de saúde emalgum estágio de sua vida – por exemplo, quandobuscam por contraceptivos, têm filhos ou buscamassistência para seus filhos. Isso coloca o cenário deassistência à saúde em um lugar de destaque, ondeas mulheres que sofrem abuso podem seridentificadas, receber apoio e, se necessário, serencaminhadas a serviços especializados.Infelizmente, os estudos mostram que na maioria dospaíses, os médicos e enfermeiros raramente buscamsaber das mulheres se elas sofreram abuso, se estãosofrendo abuso, ou buscam por sinais evidentes deviolência (180 - 186).
As intervenções existentes têm enfatizado asensibilização dos provedores de assistência à saúde,estimulando exames de rotina para abuso epreparando protocolos para a forma adequada de lidarcom o abuso. Um número cada vez maior de países –inclusive a África do Sul, o Brasil, as Filipinas, aIrlanda, a Malásia, o México e a Nicarágua – deraminício a projetos piloto em treinamento detrabalhadores de saúde para identificar e responderao abuso (187 - 189). Diversos países da AméricaLatina também incorporaram diretrizes sobre violênciadoméstica às suas políticas do setor de saúde. (190).
Pesquisas indicam que mudanças de processona assistência ao paciente – tal como um lembretepara o provedor na carteira do paciente ou incorporarquestões sobre abuso aos formulários de admissão -têm maior efeito sobre o comportamento dos
108 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
provedores de assistência à saúde (191, 192).Também é importante confrontar crenças e
atitudes que estão bastante enraizadas. Na África doSul, o projeto Agisanang Domestic Abuse Preventionand Training e seu parceiro, a Health SystemsDevelopment Unit of the University of Witwatersrand[Unidade de Desenvolvimento de Sistemas de Saúdeda Universidade de Witwatersrand], têmdesenvolvido um curso para enfermeiros sobre saúdereprodutiva e gênero, contendo um forte componenterelativo à violência doméstica. Nesses cursos, ditospopulares, canções de casamento e peças são usadasem um exercício para dissecar noções comuns sobreviolência e os papéis que se espera dos homens edas mulheres. Depois do exercício, há uma discussãosobre a responsabilidade dos enfermeiros comoprofissionais de saúde. Uma análise de uma pesquisarealizada depois de um desses cursos descobriu queos participantes não mais acreditavam ser justificávelbater em uma mulher e a maioria reconhecia que umamulher poderia ter sido estuprada por seu marido.
Em geral, uma busca contínua por abuso -perguntando aos pacientes sobre seu possívelhistórico de violência praticada por parceiro íntimo -é considerada como uma boa prática neste campo.Contudo, mesmo os estudos mostrandorepetidamente que as mulheres aceitam bem seremquestionadas sobre a violência, de uma forma isentade julgamentos (181, 182, 193), poucas avaliaçõessistemáticas foram realizadas para verificar se apesquisa sobre abuso pode aumentar a segurançadas mulheres ou seu comportamento de busca porsaúde e, se o fizer, sob quais condições o faz (194).
Esforços baseados nas comunidadesTrabalho de superação
O trabalho de superação tem sido uma importantepeça na resposta à violência de gênero por parte deorganizações não governamentais. As pessoas quetrabalham com superação - que normalmente sãoduplas de educadores - visitam as vítimas de violênciaem seus lares e suas comunidades. As organizaçõesnão governamentais normalmente recrutam e treinamtrabalhadores que são antigos clientes e, portanto, jáforam vítimas de violência.
Tanto os projetos governamentais quanto os nãogovernamentais são conhecidos por empregar"defensores" – pessoas que dão informação eassistência às mulheres que sofreram abuso,
especialmente ajudando a negociar os pormenoresdo sistema legal e do bem-estar da família e outrosbenefícios. Essas pessoas têm como foco os direitosdas vítimas de violência e desempenham seu trabalhoem instituições diversas como delegacias,procuradorias e hospitais.
Diversos planos de superação foram avaliados.O projeto Domestic Violence Matters [Questões deViolência Doméstica] em Islington, Londres,Inglaterra, colocou defensores civis em delegaciaslocais, com a tarefa de entrar em contato com todasas vítimas de violência de gênero no prazo de 24horas depois de elas entrarem em contato com apolícia. Outra iniciativa em Londres, o projetoDomestic Violence Intervention [Intervenção emViolência Doméstica] em Hammersmith e Fulham,associou um programa educacional para homensviolentos às devidas intervenções para suasparceiras. Uma recente análise desses programasdescobriu que o projeto de Islington reduziu onúmero de repetições de chamadas para a polícia e,por inferência, reduziu a recorrência de violênciadoméstica. Ao mesmo tempo, o projeto aumentou autilização de novos serviços pelas mulheres, inclusivede abrigos, assessoria legal e grupos de apoio. Osegundo projeto conseguiu alcançar maioresquantidades de mulheres pertencentes a grupos deminoria étnica e mulheres profissionais do que outrosserviços para vítimas de violência doméstica (195).
Intervenções comunitáriascoordenadas
A coordenação de conselhos ou fórunsinteragências é uma forma cada vez mais popular demonitorar e aprimorar, em nível comunitário, asrespostas à violência praticada por parceiros íntimos(166). O objetivo é:
— trocar informações;— identificar e lidar com problemas na prestaçãode serviços;— promover a boa prática através de treinamentoe elaboração de diretrizes;— rastrear casos e realizar auditoriasinstitucionais para avaliar a prática de diversasagências;— promover a conscientização comunitária e otrabalho de prevenção.Adaptado dos programas-piloto originais na
Califórnia, em Massachusetts e em Minnesota nos
CAPÍTULO 4. VIOLÊNCIA PERPETRADA POR PARCEIROS ÍNTIMOS • 109
Estados Unidos, esse tipo de intervenção espalhou-se pelo resto dos Estados Unidos, Canadá, ReinoUnido e partes da América Latina.
A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS -Pan American Health Organization [PAHO]), porexemplo, criou projetos-piloto em 16 países latino-americanos para testar essa abordagem tanto nocenário urbano quanto no rural. Em cenários rurais,os conselhos de coordenação incluem pessoas comoo padre local, o prefeito, promotores de saúdecomunitária, magistrados e representantes de gruposde mulheres. O projeto da OPAS começou com umestudo qualitativo, conhecido como La Ruta Crítica,para verificar o que acontece com as mulheres nascomunidades rurais quando elas buscam por ajuda.Os resultados estão resumidos no Quadro 4.2.
Raramente esses tipos de intervençõescomunitárias foram avaliados. Um estudo descobriuum aumento estatístico significativo na proporçãode chamadas para a polícia que resultaram emdetenções, assim como na proporção de detençõesque resultaram em processos, depois daimplementação de um projeto de intervençãocomunitária (196) . O estudo revelou ainda umsignificativo aumento na proporção de homens queforam enviados a aconselhamentos obrigatórios emcada comunidade, apesar de ainda não estar claroqual o impacto, se é que há algum, que essas açõestiveram sobre os índices de abuso.
As avaliações qualitativas observaram que muitasdessas intervenções têm como foco principalmente acoordenação entre os refúgios e o sistema de justiçacriminal, às custas de um maior envolvimento dascomunidades religiosas, das escolas, do sistema desaúde ou de outras agências de serviço social. Umaanálise recente de fóruns interagências no ReinoUnido concluiu que, ao mesmo tempo em que osconselhos coordenadores podem melhorar aqualidade dos serviços prestados às mulheres e àscrianças, o trabalho realizado entre as agências podefuncionar como uma cortina de fumaça, escondendoo fato de que pouca coisa realmente muda. A análisesugeriu que as organizações deveriam identificarcritérios firmes para a auto-avaliação, queabrangessem a satisfação do usuário e as verdadeirasmudanças nas políticas e nas práticas (197).
Campanhas de prevenção Há tempos que, na tentativa de aumentar a
110 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
conscientização sobre violência de gênero e mudar ocomportamento, as organizações de mulheres utilizamcampanhas de divulgação, mídia em pequena escalae outros eventos. Há evidências de que taiscampanhas atingem um grande número de pessoas,apesar de apenas algumas poucas campanhas teremsido avaliadas em relação à sua eficiência em mudaras atitudes ou os comportamentos. Na década de1990, por exemplo, uma rede de grupos de mulheresna Nicarágua montou uma campanha anual de mídiade massa para conscientização acerca do impacto daviolência sobre as mulheres (198). Usando sloganscomo "Quiero vivir sin violencia" (Quero viver semviolência), as campanhas mobilizaram as comunidadescontra o abuso. De forma semelhante, o Fundo dasNações Unidas para Desenvolvimento da Mulher,junto com várias outras agências das Nações Unidas,
QUADRO 4.2
Promovendo a não violência: alguns exemplos de programas de prevençãoprimária
A seguir, temos alguns dos muitos exemplos de programas inovadores de prevenção contra a violênciaentre parceiros íntimos que foram realizados no mundo todo.
Em Calabar, na Nigéria, a Girl's Power Initiative é direcionada a jovens. As meninas se encontramsemanalmente há três anos para discutir, de forma aberta, diversas questões relacionadas à sexualidade,à saúde e aos direitos das mulheres, relacionamentos e violência doméstica. Tópicos específicos doprograma, elaborado para criar auto-estima e ensinar autoproteção, incluíram atitudes sociais que colocamas mulheres em risco de estupro e fizeram a distinção entre amor e paixão.
O Education Wife Assault em Toronto, no Canadá, trabalha com mulheres imigrantes e refugiadas,ajudando-as a desenvolver campanhas de prevenção contra a violência que sejam culturalmenteadequadas para sua comunidade. Para tanto, o projeto promove "oficinas especiais de habilidadesespecíficas". Ao mesmo tempo, o projeto oferece ainda apoio emocional às organizadoras, para ajudá-lasa superar a discriminação normalmente dirigida às mulheres que fazem campanhas contra a violênciadoméstica, uma vez que essas mulheres são vistas como uma ameaça à coesão da comunidade.
No México, a organização não governamental Instituto Mexicano de Investigación de Familia yPoblación preparou uma oficina de trabalho para adolescentes, visando a ajudar a evitar a violência nosnamoros e em relacionamentos entre amigos. Denominado de "Faces and Masks of Violence" ["Faces eMáscaras da Violência"], o projeto utiliza técnicas participativas para ajudar os jovens a explorarem asexpectativas e os sentimentos em relação a amor, desejo e sexo, e a entenderem como os papéis tradicionaisdos gêneros podem inibir o comportamento, tanto nos homens quanto nas mulheres.
Em Trinidad e Tobago, a organização não governamental SERVOL ( Services Volunteered for All[Serviços Voluntários para Todos] ) realiza oficinas de trabalho para adolescentes, com duração de 14semanas, com o intuito de ajudá-los a desenvolverem relacionamentos saudáveis e a aprenderem a serpais. O projeto ajuda esses jovens a compreenderem como sua própria maneira de serem pais contribuipara formar o que eles são e ensina a eles como não repetir os erros que seus pais e outros parentespossam ter cometido ao criarem suas famílias. Conseqüentemente, os alunos descobrem como reconhecere lidar com suas emoções e se tornam mais sensíveis em relação a como os traumas físicos e psicológicosno começo da vida podem levar a um comportamento destrutivo mais tarde.
tem patrocinado diversas campanhas regionais contraviolência de gênero, usando o slogan: "Uma vidasem violência: é nosso direito" (199). Um projetoque tem sido avaliado é o projeto de multimídia emsaúde, conhecido como Soul City, na África do Sul -um projeto que combina séries de televisão e rádiocom outras atividades educativas. Um componente édedicado especificamente à violência doméstica (verQuadro 9.1 do Capítulo 9). A avaliação revelou ummaior conhecimento e maior conscientização emrelação à violência doméstica, mudança nas atitudese nas normas, e uma grande vontade por parte dopúblico do projeto em agir adequadamente.
Programas escolaresApesar do crescente número de iniciativas
direcionadas a jovens para evitar a violência, apenas
algumas lidam especificamente com o problema daviolência em relacionamentos íntimos. Contudo, nosprogramas existentes para reduzir a violência naescola, o assédio moral, a delinqüência e outroscomportamentos problemáticos, bem como nosprogramas de saúde reprodutiva e sexual, há umcenário para integrar materiais que exploremrelacionamentos, papéis de gênero incluindo coaçãoe controle.
Os programas juvenis que tratam explicitamentedo abuso em relacionamentos íntimos tendem a seriniciativas independentes patrocinadas por órgãosque trabalham para acabar com a violência contra asmulheres (ver Quadro 4.3). Apenas alguns dessesprogramas foram avaliados, inclusive um no Canadá(200) e dois nos Estados Unidos (201, 202) .Utilizando modelos experimentais, essas avaliaçõesrevelaram mudanças positivas em termos deconhecimento e atitudes no que diz respeito àviolência no relacionamento (203) . Um dosprogramas dos Estados Unidos demonstrou umaredução na perpetração da violência em um mês.Apesar de o efeito sobre o comportamento violentoter desaparecido em um ano, mantiveram-se seusefeitos sobre as normas de violência em umrelacionamento íntimo, sobre a capacidade de resolverconflitos e sobre o conhecimento (201).
Princípios de boa práticaUm volume crescente de conhecimento sobre a
violência de gênero, acumulado durante muitos anospor vários provedores de serviços, defensores epesquisadores, sugere um conjunto de princípios paraajudar a orientar as "boas práticas" nesta área. Dentreos princípios podemos citar:
• As ações para lidar com a violência devemocorrer tanto em nível nacional quanto local.• O envolvimento das mulheres, nodesenvolvimento e na implantação dos projetos,e a segurança das mulheres devem ser o princípionorteador de todas as decisões relativas àsintervenções.• Os esforços para reformar as respostas dasinstituições – inclusive da polícia, dosfuncionários da área de assistência à saúde e dojudiciário – devem ir além do treinamento paramudar as culturas institucionais.• As intervenções devem cobrir uma série dediferentes setores e serem coordenadas entre eles.
Ação em todos os níveisUma lição importante, que surge dos esforços
para evitar a violência, é que as ações devem acontecertanto em nível nacional quanto local. No nívelnacional, as prioridades incluem melhoria da situaçãoda mulher, criação de normas, políticas e leisadequadas sobre abuso, bem como criar um ambientesocial que seja condutivo a relacionamentos nãoviolentos.
Muitos países, tanto industrializados quantoemergentes, acharam útil estabelecer um mecanismoformal para desenvolver e implementar planosnacionais de ação. Tais planos devem incluirobjetivos claros, linhas de responsabilidade ecronogramas, recebendo os recursos necessários.
Contudo, a experiência mostra que os esforçosnacionais, por si só, não são suficientes paratransformar a paisagem da violência íntima. Mesmonos países industrializados onde os movimentosnacionais contra a violência de gênero já existem hámais de 25 anos, as opções disponíveis para ajudaruma mulher que sofreu abuso, assim como as reaçõesque ela provavelmente verá em instituições como apolícia, ainda variam muito dependendo da localidade.Onde houve esforços na comunidade para evitar aviolência, e onde há grupos estabelecidos para realizartreinamentos e monitorar as atividades dasinstituições formais, as vítimas de abuso passammuito melhor do que nos locais onde tais esforçosnão ocorrem.
Envolvimento das mulheresAs intervenções devem ser elaboradas para
trabalhar com as mulheres - que normalmente são asmelhores juízas de sua situação - e para respeitarsuas decisões. Análises recentes de diversosprogramas sobre violência doméstica realizados nosestados indianos de Gujarat, Karnataka, Madhya,Pradesh e Maharashtra, por exemplo, têmconstantemente demonstrado que o sucesso ou oinsucesso dos projetos foi, em grande parte,determinado pelas atitudes dos organizadores emrelação à violência de gênero e suas prioridades paraincluir os interesses das mulheres nas fases deplanejamento e implementação das intervenções(205).
A segurança das mulheres também deve sercuidadosamente levada em consideração durante o
CAPÍTULO 4. VIOLÊNCIA PERPETRADA POR PARCEIROS ÍNTIMOS • 111
planejamento e a implementação das intervenções.As intervenções que podem priorizar a segurança e aautonomia das mulheres geralmente se mostrarammais bem sucedidas do que as que não dão essaprioridade. Por exemplo, há uma certa preocupaçãoem relação às leis que exigem que os funcionários daárea de assistência à saúde relatem para a polícia oscasos de suspeita de abuso. Esses tipos deintervenção retiram o controle das mãos das mulherese, no geral, mostraram-se contraproducentes. Elesbem podem colocar a segurança da mulher em risco ediminuir a possibilidade de ela ser encaminhada àassistência (206 - 208) . Essas leis tambémtransformam os funcionários da área de saúde embraços do sistema judiciário e trabalham contra aproteção emocional que o ambiente da clínica deveoferecer (150).
Mudando as culturas institucionaisNormalmente, os esforços em curto prazo rendem
poucas mudanças duradouras no sentido desensibilizar os atores institucionais, a menos quetambém haja esforços reais para envolver toda ainstituição. A natureza da liderança da organização, aforma como o desempenho é avaliado erecompensado, e os desvios e as crenças culturaisembutidas são de primordial importância nesse caso(209, 210). No caso de reformar a prática da assistênciaà saúde, dificilmente o treinamento por si só é obastante para mudar o comportamento institucionalem relação às vítimas da violência (211, 212). Emborao treinamento possa melhorar o conhecimento e aprática em curto prazo, seu impacto normalmente sedesfaz rapidamente, a menos que ele sejaacompanhado de mudanças institucionais naspolíticas e no desempenho (211, 213).
Uma abordagem multissetorialDiversos setores, tais como a polícia, os serviços
de saúde, o judiciário e os serviços de apoio social,devem trabalhar juntos para alinhavar o problema daviolência praticada por parceiro íntimo.Historicamente, a tendência dos programas tem sidoconcentrar-se em um único setor, o que a experiênciatem mostrado que, geralmente, produz pouquíssimosresultados (155).
Recomendações
As evidências disponíveis mostram que aviolência contra as mulheres, praticada por parceirosíntimos, é um problema sério e abrangente em todasas partes do mundo. Há também cada vez maisdocumentos sobre o impacto danoso da violênciasobre a saúde física e mental das mulheres, bem comosobre o bem estar delas de forma geral. As principaisrecomendações para ação são as seguintes:
• Na próxima década, os governos e outrosdoadores devem ser incentivados a investir muitomais em pesquisa sobre a violência praticada porparceiros íntimos.• Os programas devem dar maior ênfase àcapacitação das famílias, dos círculos de amigose dos grupos comunitários, inclusive dascomunidades religiosas, para lidarem com oproblema da violência de gênero.• Os programas sobre violência de gênero devemser integrados a outros programas, tais como osque lidam com violência juvenil, gravidez naadolescência, abuso de substância e os de outrasformas de violência familiar.• Os programas devem voltar-se mais para aprevenção primária contra a violência praticadapor parceiro íntimo.
Pesquisas sobre a violência praticadapor parceiros íntimos
A falta de uma clara compreensão teórica sobreas causas da violência praticada por parceirosíntimos, e sua relação com outros tipos de violênciainterpessoal, tem frustrado os esforços para construiruma resposta global eficiente. Os estudos paradesenvolver o entendimento da violência sãonecessários para diversos frontes, inclusive:
• Estudos que analisem a predominância, asconseqüências e os fatores de risco e de proteçãorelativos à violência praticada por parceirosíntimos em diferentes cenários culturais, utilizandometodologias padronizadas.• Pesquisa longitudinal acerca da trajetória docomportamento violento por parte dos parceirosíntimos no decorrer do tempo, examinando se eledifere do desenvolvimento de outroscomportamentos violentos e como isso ocorre.• Estudos que explorem o impacto da violênciadurante a vida de uma pessoa, investigando oimpacto relativo de diferentes tipos de violência
112 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
sobre a saúde e o bem-estar, e se os efeitos sãocumulativos.• Estudos que analisem o histórico dos adultosque estão em relacionamentos saudáveis, nãoviolentos, a despeito das experiências quecomprovadamente aumentam o risco de violênciade gênero.Além disso, muito mais pesquisas ainda são
necessárias sobre as intervenções, tanto para fazerlobby entre os responsáveis pela tomada de decisõesvisando a maiores investimentos, como para melhorara elaboração e a implementação dos programas. Napróxima década, deve-se priorizar:
• A documentação sobre as diversas estratégiase intervenções para o combate à violência degênero no mundo todo.• Estudos que avaliem os custos econômicos daviolência praticada por parceiros íntimos.• Avaliação dos efeitos em curto e longo prazodos programas para evitar a violência de gênero,bem como para responder a ela - inclusiveprogramas de educação na escola, mudançaslegais e políticas, serviços para vítimas daviolência, programas que tenham como alvo operpetrador da violência e campanhas para mudaras atitudes e os comportamentos sociais.
Fortalecendo as fontes informais deapoio
Muitas mulheres não buscam assistência emserviços ou sistemas oficiais disponíveis para elas.Portanto, é crucial que se expandam as fontesinformais de apoio através de redes de vizinhança eredes de amigos, de grupos religiosos e outros gruposcomunitários, bem como de redes em locais de trabalho(6, 61, 183, 214). A maneira como esses gruposinformais e essas pessoas responderão determinaráse uma vítima de violência de gênero entrará em ação,ou em isolamento e terá vergonha de si mesma (214).
Há muito espaço para programas que possam criarrespostas construtivas por parte da família e dosamigos. Um programa inovador em Iztacalco, México,por exemplo, usou eventos comunitários, mídia depequena escala (tal como cartazes, panfletos e fitascassete) e oficinas de trabalho para ajudar as vítimasde violência a discutirem o abuso que haviam sofridoe a mostrar aos amigos e a outros membros da famíliacomo lidar melhor com tais situações (215).
Criando uma causa comum comoutros programas sociais
Há uma grande sobreposição entre os fatores queaumentam o risco de diversos comportamentosproblemáticos (216). Parece também que há umasignificativa continuidade entre o comportamentoagressivo na infância e os diversos comportamentosproblemáticos na juventude e no início da fase adulta(ver Capítulo 2). As novas visões baseadas empesquisas sobre esses tipos de violência também sesobrepõem. Há necessidade evidente de umaintervenção precoce nas famílias de alto risco, bemcomo de oferecer apoio e outros serviços antes quepadrões de disfunção de comportamento sejamcriados na família, preparando o estágio para ocomportamento de abuso na adolescência ou na faseadulta.
Infelizmente, hoje em dia há pouca coordenaçãoentre as agendas dos programas ou das pesquisassobre violência juvenil, abuso infantil, abuso desubstância e violência de gênero, apesar do fato detodos esses problemas geralmente coexistirem nasfamílias. Caso se deseje um verdadeiro progresso,deve-se dar atenção ao desenvolvimento de padrõesde comportamento agressivo, padrões estes que emgeral começam na infância. Respostas integradas deprevenção que tratem dos vínculos entre os diferentestipos de violência têm potencial para reduzir algumasdessas formas de violência.
Investindo na prevenção primáriaEm geral, importância da prevenção primária
contra a violência praticada por parceiros íntimos éobscurecida pela importância de diversos programasque, compreensivelmente, procuram lidar com asconseqüências imediatas e inúmeras da violência.
Tanto os responsáveis pela elaboração depolíticas quanto os ativistas nesta área devem darmaior prioridade à tarefa reconhecidamente imensade criar um ambiente social que permita e promovarelacionamentos pessoais justos e não violentos. Abase para esse ambiente deve ser a nova geração dascrianças que devem crescer com melhorescapacidades do que tiveram seus pais, de forma geral,em lidar com os relacionamentos e resolver seusconflitos internos, com maiores oportunidades paraseu futuro e com noções mais adequadas sobre comoos homens e as mulheres podem se relacionar ecompartilhar o poder.
CAPÍTULO 4. VIOLÊNCIA PERPETRADA POR PARCEIROS ÍNTIMOS • 113
ConclusãoA violência praticada por parceiros íntimos é um
importante problema de saúde pública. Para resolveresse problema é necessário o envolvimento dediversos setores trabalhando em conjunto nos níveiscomunitário, nacional e internacional. Em cada nível,as respostas devem incluir dar poder às mulheres eàs jovens, conseguir envolver os homens, darassistência às necessidades das vítimas e aumentaras sanções para quem pratica o abuso. É crucial queas respostas envolvam crianças e jovens e tenhamcomo foco a mudança das normas comunitárias esociais. O progresso feito em cada uma dessas áreasserá a chave para se conseguir reduções mundiais naviolência contra parceiros íntimos.
Referências1. Crowell N, Burgess AW. Unders tandingviolence against women . Washington, DC,National Academy Press, 1996.2. Heise L, Pitanguy J, Germain A. Violenceagainst women: the hidden heal th burden.Washington, DC, World Bank, 1994 (DiscussionPaper No. 255).3. Koss MP et al. No safe haven: male violenceagainst women at home, at work, and in thecommunity. Washington, DC, AmericanPsychological Association, 1994.4. Butchart A, Brown D. Non-fatal injuries due tointerpersonal violence in Johannesburg-Soweto:incidence, determinants and consequences.Forensic Science International, 1991, 52:35-51.5. Tjaden P, Thoennes N. Full report of theprevalence, incidence, and consequences ofviolence against women: f indings from theNational Violence Against Women Survey.Washington, DC, National Institute of Justice,Office of Just ice Programs, United StatesDepartment of Justice and Centers for DiseaseControl and Prevention, 2000 (NCJ 183781).6. Heise LL, Ellsberg M, Gottemoeller M. Endingviolence against women. Baltimore, MD, JohnsHopkins University School of Public Health,Center for Communications Programs, 1999(Population Reports, Series L, No. 11).7. Violence against women: a priority health issue.Geneva, World Health Organization, 1997(document WHO/FRH/WHD/97.8).
8. Yoshihama M, Sorenson SB. Physical, sexual,and emotional abuse by male int imates:experiences of women in Japan. Violence andVictims, 1994, 9:63-77.9. Ellsberg MC et al. Candies in hell: women'sexperience of violence in Nicaragua. Socia lScience and Medicine, 2000, 51:1595-1610.10. Leibrich J, Paulin J, Ransom R. Hitting home:men speak about domestic abuse of womenpartners. Wellington, New Zealand Departmentof Justice and AGB McNair, 1995.11. Granados Shiroma M. Salud reproductiva yviolencia contra la mujer: un análisis desde laperspectiva de género [Reproductive health andviolence against women: a gender perspective].Nuevo León, Asociación Mexicana de Población,Consejo Estatal de Población, 1996.12. Ellsberg MC et al. Wife abuse among womenof childbearing age in Nicaragua. AmericanJournal of Public Health, 1999, 89:241-244.13. Mooney J. The hidden figure: domesticviolence in north London. London, MiddlesexUniversity, 1993.14. Ellsberg M et al. Researching domesticviolence against women: methodological andethical considerat ions . Studies in Fami lyPlanning, 2001, 32:1-16.15. Putting women first: ethical and safetyrecommendations for research on domestic violenceagainst women. Geneva, World Health Organization,2001 (document WHO/FCH/GWH/01.01).16. Saltzman LE et al. In t imate par tnersurve i l lance: uni form def in i t ions andrecommended data elements, Version 1.0. Atlanta,GA, National Center for Injury Prevention andControl , Centers for Disease Control andPrevention, 1999.17. Ellsberg M, Heise L, Shrader E. Researchingviolence against women: a practical guide forresearchers and advocates. Washington, DC,Center for Health and Gender Equity, 1999.18. Smith PH, Smith JB, Earp JAL. Beyond themeasurement t rap: a reconstructedconceptualization and measurement of battering.Psychology of Women Quarterly, 1999, 23:177-193.19. Rodgers K. Wife assault: the findings of a nationalsurvey. Juristat Service Bulletin, 1994, 14:1-22.20. Cabaraban M, Morales B. Soc ia l andeconomic consequences for family planning usein southern Phi l ipp ines . Cagayan de Oro,
114 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Research Institute for Mindanao Culture, XavierUniversity, 1998.21. Cabrejos MEB et al. Los caminos de lasmujeres que rompieron el silencio: un estudiocualitativo sobre la ruta crítica que siguen lasmujeres afectadas por la violencia intrafamiliar[Paths of women who broke the s i lence: aqualitative study of help-seeking by womenaffected by family violence] . Lima, ProyectoViolencia Contra las Mujeres y las Niñas andWorld Health Organization, 1998.22. Mouzos J. Femicide: the killing of women inAustra l ia 1989-1998. Canberra, AustralianInstitute of Criminology, 1999.23. Juristat. Homicide in Canada . Ottawa,Statistics Canada, 1998.24. Gilbert L. Urban violence and health: SouthAfrica 1995. Social Science and Medicine, 1996,43:873-886.25. Bailey JE et al. Risk factors for violent deathof women in the home. Archives of InternalMedicine, 1997, 157:777-782.26. Fox JA, Zawitz MW. Homicide trends in theUnited States. Washington, DC, Bureau of JusticeStatistics, United States Department of Justice, 1999.27. Carcach C, James M. Homicide betweenint imate par tners in Austral ia . Canberra,Australian Institute of Criminology, 1998.28. When men murder women: an analysis of 1996homicide data. Washington, DC, Violence PolicyCenter, 2000.29. Karkal M. How the other half dies in Bombay.Economic and Political Weekly , 24 August1985:1424.30. Mercy JA et al. Intentional injuries. In: MashalyAY, Graitcer PL, Youssef ZM, eds. Injury in Egypt:an analysis of injuries as a health problem. Cairo,Rose El Youssef New Presses, 1993.31. Johnson MP. Patriarchal terrorism and commoncouple violence: two forms of violence againstwomen. Journal of Marriage and the Family,1995, 57:283-294.32. Johnson MP, Ferraro KJ. Research ondomestic violence in the 1990s: makingdistinctions. Journal of Marriage and the Family,2000, 62:948-963.33. Kantor GK, Jasinski JL. Dynamics and riskfactors in partner violence. In: Jasinski JL,Williams LM, eds. Partner v io lence: acomprehensive review of 20 years of research.
Thousand Oaks, CA, Sage, 1998.34. Morse BJ. Beyond the conflict tactics scale:assessing gender differences in partner violence.Violence and Victims, 1995, 10:251-272.35. Brush LD. Violent acts and injurious outcomesin married couples: methodological issues in thenational survey of family and households. Genderand Society, 1990, 4:56-67.36. Canadian Centre for Justice Statistics. Familyviolence in Canada: a statistical profile. Ottawa,Statistics Canada, 2000.37. Saunders DG. When battered women useviolence: husband-abuse or se l f -defense?Violence and Victims, 1986, 1:47-60.38. DeKeseredy WS et al. The meanings andmotives for women's use of violence in Canadiancollege dating relationships: results from anational survey. Sociological Spectrum, 1997,17:199-222.39. Schuler SR et al. Credit programs, patriarchyand men's violence against women in ruralBangladesh. Social Science and Medicine, 1996,43:1729-1742.40. Zimmerman K. Plates in a basket will rattle:domestic violence in Cambodia. A summary. PhnomPenh, Project Against Domestic Violence, 1995.41. Michau L. Community-based research for socialchange in Mwanza, Tanzania. In: Third AnnualMeeting of the International Research Networkon Violence Against Women, Washington, DC, 9-11 January 1998. Takoma Park, MD, Center forHealth and Gender Equity, 1998:4-9.42. Armstrong A. Culture and choice: lessonsfrom survivors of gender violence in Zimbabwe.Harare, Violence Against Women in ZimbabweResearch Project, 1998.43. Gonzalez Montes S. Domestic violence inCuetzalan, Mexico: some research questions andresul ts . In: Third Annual Mee t ing o f theInternational Research Network on ViolenceAgainst Women, Washington, DC, 9-11 January1998. Takoma Park, MD, Center for Health andGender Equity, 1998:36-41.44. Osakue G, Hilber AM. Women's sexuality andfertility in Nigeria. In: Petchesky R, Judd K, eds.Negotiating reproductive rights. London, ZedBooks, 1998:180-216.45. Hassan Y. The haven becomes hell: a study ofdomestic violence in Pakistan. Lahore, ShirkatGah Women's Resource Centre, 1995.
CAPÍTULO 4. VIOLÊNCIA PERPETRADA POR PARCEIROS ÍNTIMOS • 115
46. Bradley CS. Attitudes and practices relatingto marital violence among the Tolai of East NewBritain. In: Domestic violence in Papua NewGuinea. Boroko, Papua New Guinea Law ReformCommission, 1985:32-71.47. Jejeebhoy SJ. Wife-beating in rural India: ahusband's right? Economic and Political Weekly,1998, 33:855-862.48. El-Zanaty F et al. Egypt demographic andhealth survey 1995. Calverton, MD, MacroInternational, 1996.49. Rosales J et al. Encuesta Nicaraguense dedemografía y salud, 1998 [1998 Nicaraguandemographic and health survey]. Managua,Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 1999.50. David F, Chin F. Economic and psychosocialinfluences of family planning on the lives ofwomen in Western Visayas. Iloilo City, CentralPhilippines University and Family HealthInternational, 1998.51. Bawah AA et al. Women's fears and men'sanxieties: the impact of family planning on genderrelations in northern Ghana. Studies in FamilyPlanning, 1999, 30:54--66.52. Wood K, Jewkes R. Violence, rape, and sexualcoercion: everyday love in a South Africantownship. Gender and Development, 1997, 5:41-46.53. Khan ME et al. Sexual violence within marriage.Seminar (New Delhi), 1996:32-35.54. Jenkins C (for the National Sex andReproduction Research Team). National study ofsexua l and reproduc t i ve knowledge andbehaviour in Papua New Guinea. Goroka, PapuaNew Guinea Institute of Medical Research, 1994.55. Heise L. Vio lence aga ins t women: anintegrated ecological framework. ViolenceAgainst Women 1998, 4:262-290.56. Rao V. Wife-beating in rural South India: aqualitative and econometric analysis. SocialScience and Medicine, 1997, 44:1169-1179.57. Johnson H. Dangerous domains: violenceagainst women in Canada. Ontario, InternationalThomson Publishing, 1996.58. Romero M. Violencia sexual y domestica:informe de la fase cuantitativa realizada en elcentro de atención a adolescentes de San Miguelde Allende [Sexual and domestic violence: reportfrom the qualitative phase from an adolescentcenter in San Miguel de Allende]. Mexico City,Population Council, 1994.
59. Campbell J et al. Voices of strength andresistance: a contextual and longitudinal analysisof women's responses to battering. Journal ofInterpersonal Violence, 1999, 13:743-762.60. Dutton MA. Battered women's strategicresponse to violence: the role of context. In:Edelson JL, Eisikovits ZC, eds. Futureinterventions with battered women and theirfamilies. London, Sage, 1996:105-124.61. Sagot M. Ruta crítica de las mujeres afectadaspor la violencia intrafamiliar en América Latina:estudios de caso de diez países [The critical pathfollowed by women victims of domestic violencein Latin America: case studies from ten countries]Washington, DC, Pan American HealthOrganization, 2000.62. O'Conner M. Making the links: towards anintegrated strategy for the elimination of violenceagainst women in intimate relationships with men.Dublin, Women's Aid, 1995.63. Short L. Survivor's identification of protectivefactors and early warning signs in intimate partnerviolence. In: Third Annual Meet ing o f theInternational Research Network on ViolenceAgainst Women, Washington, DC, 9-11 January1998. Takoma Park, MD, Center for Health andGender Equity, 1998:27-31.64. George A. Differential perspectives of men andwomen in Mumbai, India on sexual relations andnegotiations within marriage. Reproduct iveHealth Matters, 1998, 6:87-95.65. Ellsberg M et al. Women's strategic responsesto violence in Nicaragua. Journa l o fEpidemiology and Community Health, 2001,55:547-555.66. Bunge VP, Levett A. Family violence inCanada: a statistical profile. Ottawa, StatisticsCanada, 1998.67. Campbell JC, Soeken KL. Women's responsesto battering: a test of the model. Research inNursing and Health, 1999, 22:49-58.68. Campbell JC. Abuse during pregnancy:progress, policy, and potential. American Journalof Public Health, 1998, 88:185-187.69. Landenburger KM. The dynamics of leavingand recovering from an abusive relationship.Journal of Obstetric, Gynecologic, and NeonatalNursing, 1998, 27:700-706.70. Jacobson NS et al. Psychological factors inthe longitudinal course of battering: when do the
116 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
couples split up? When does the abuse decrease?Violence and Victims, 1996, 11:371-392.71. Campbell J. Assess ing dangerousness:violence by sexual offenders, batterers, and childabusers. Thousand Oaks, CA, Sage, 1995.72. Wilson M, Daly M. Spousal homicide. JuristatService Bulletin, 1994, 14:1-15.73. Counts DA, Brown J, Campbell J. Sanctionsand sanctuary: cultural perspectives on thebeating of wives. Boulder, CO, Westview Press, 1992.74. Levinson D. Family violence in cross-culturalperspective. Thousand Oaks, CA, Sage, 1989.75. Dutton DG. The domestic assault of women:psychological and criminal justice perspectives.Vancouver, University of British Colombia Press, 1995.76. Black DA et al. Partner, child abuse risk factorsliterature review. National Network of Family Resiliency,National Network for Health, 1999 (available on theInternet at http://www.nnh.org/risk ).77. Moffitt TE, Caspi A. Findings about partnerviolence from the Dunedin multi-disciplinary healthand development study, New Zealand. Washington,DC, National Institutes of Justice, 1999.78. Larrain SH. Violencia puertas adentro: lamujer golpeada [Violence behind closed doors:the ba t tered women] . Santiago, EditorialUniversitaria, 1994.79. Nelson E, Zimmerman C. Household surveyon domestic violence in Cambodia. Phnom Penh,Ministry of Women's Affairs and Project AgainstDomestic Violence, 1996.80. Hakimi M et al. Si lence for the sake ofharmony: domestic violence and women's healthin Central Java, Indonesia. Yogyakarta, GadjahMada University, 2001.81. Moreno Martín F. La violencia en la pareja[In t imate par tner v io lence] . RevistaPanamericana de Salud Pública, 1999, 5:245-258.82. Caeser P. Exposure to violence in the families oforigin among wife abusers and maritally nonviolentmen. Violence and Victims, 1998, 3:49-63.83. Parry C et al. Alcohol attributable fractions fortrauma in South Africa. Curationis, 1996, 19:2-5.84. Kyriacou DN et al. Emergency department-based study of risk factors for acute injury fromdomestic violence against women. Annals ofEmergency Medicine, 1998, 31:502-506.85. McCauley J et al. The "battering syndrome":prevalence and clinical characteristics of domestic
violence in primary health care internal medicinepractices. Annals of Internal Medicine , 1995,123:737-746.86. International Clinical Epidemiologists Network(INCLEN). Domes t ic v io lence in Ind ia .Washington, DC, International Center for Researchon Women and Centre for Development andPopulation Activities, 2000.87. Jewkes R et al. The prevalence of physical,sexual and emotional violence against women inthree South African provinces. South AfricanMedical Journal, 2001, 91:421-428.88. Flanzer JP. Alcohol and other drugs are keycausal agents of violence. In: Gelles RJ, LosekeDR, eds. Current controversies on family violence.Thousand Oaks, CA, Sage, 1993:171-181.89. Gelles R. Alcohol and other drugs areassociated with violence - they are not its cause.In: Gelles RJ, Loseke DR, eds. Currentcontroversies on family violence . ThousandOaks, CA, Sage, 1993:182-196.90. MacAndrew D, Edgerton RB. Drunkencomportment: a social explanation. Chicago, IL,Aldine, 1969.91. Abrahams N, Jewkes R, Laubsher R. I do notbe l ieve in democracy in the home: men 'sre la t ionsh ips wi th and abuse o f women.Tyberberg, Centre for Epidemiological Researchin South Africa, Medical Research Council, 1999.92. Hoffman KL, Demo DH, Edwards JN. Physicalwife abuse in a non-Western society: an integratedtheoretical approach. Journal of Marriage andthe Family, 1994, 56:131-146.93. Martin SL et al. Domestic violence in northernIndia. American Journal of Epidemiology, 1999,150:417-426.94. Gonzales de Olarte E, Gavilano Llosa P. Doespoverty cause domestic violence? Some answersfrom Lima. In: Morrison AR, Biehl ML, eds. Tooclose to home: domestic violence in the Americas.Washington, DC, Inter-American DevelopmentBank, 1999:35-49.95. Straus M et al. Societal change and change infamily violence from 1975 to 1985 as revealed bytwo national surveys. Journal of Marriage andthe Family, 1986, 48:465-479.96. Byrne CA et al. The socioeconomic impact ofinterpersonal violence on women. Journal ofConsulting and Clinical Psycholo gy, 1999,
CAPÍTULO 4. VIOLÊNCIA PERPETRADA POR PARCEIROS ÍNTIMOS • 117
67:362-366.97. Golding JM. Sexual assault history andlimitations in physical functioning in two generalpopulation samples. Research in Nursing andHealth, 1996, 19:33-44.98. Leserman J et al. Sexual and physical abusehistory in gastroenterology practice: how typesof abuse impact health status. PsychosomaticMedicine, 1996, 58:4-15.99. Koss MP, Koss PG, Woodruff WJ. Deleteriouseffects of criminal victimization on women's healthand medical utilization. Archives of InternalMedicine, 1991, 151:342-347.100. Walker E et al. Adult health status of womenHMO members with histories of childhood abuseand neglect. American Journal of Medicine, 1999,107:332-339.101. McCauley J et al. Clinical characteristics ofwomen with a his tory of chi ldhood abuse:unhealed wounds. Journal of the AmericanMedical Association, 1997, 277:1362-1368.102. Dickinson LM et al. Health-related quality oflife and symptom profiles of female survivors ofsexual abuse. Archives of Family Medicine, 1999,8:35-43.103. Felitti VJ et al. Relationship of childhoodabuse and household dysfunction to many of theleading causes of death in adults: the AdverseChildhood Experiences (ACE) study. AmericanJournal of Preventive Medicine, 1998, 14:245-258.104. Koss MP, Woodruff WJ, Koss PG. Criminalvictimization among primary care medical patients:prevalence, incidence, and physician usage.Behavioral Science and Law, 1991, 9:85-96.105. Follette V et al. Cumulative trauma: the impactof child sexual abuse, adult sexual assault, andspouse abuse. Journal of Traumatic Stress, 1996,9:25-35.106. Heise L, Moore K, Toubia N. Sexual coercionand women's reproductive health: a focus onresearch. New York, NY, Population Council, 1995.107. Najera TP, Gutierrez M, Bailey P. Bolivia:follow-up to the 1994 Demographic and HealthSurvey, and women's economic activities, fertilityand contraceptive use. Research Triangle Park,NC, Family Health International, 1998.108. Ballard TJ et al. Violence during pregnancy:measurement issues. American Journal of PublicHealth, 1998, 88:274-276.
109. Campbell JC. Addressing battering duringpregnancy: reducing low bir th weight andongoing abuse. Seminars in Perinatology, 1995,19:301-306.110. Curry MA, Perrin N, Wall E. Effects of abuseon maternal complications and birth weight inadult and adolescent women. Obstetrics andGynecology, 1998, 92:530-534.111. Gazmararian JA et al. Prevalence of violenceagainst pregnant women. Journal of the AmericanMedical Association, 1996, 275:1915-1920.112. Newberger EH et al. Abuse of pregnantwomen and adverse birth outcome: currentknowledge and implications for practice. Journalof the American Medical Association, 1992,267:2370-2372.113. Bullock LF, McFarlane J. The birth-weight/battering connection. American Journal ofNursing, 1989, 89:1153-1155.114. Murphy C et al. Abuse: a risk factor for lowbirth weight? A systematic review and meta-analysis . Canadian Medica l Assoc ia t ionJournal, 2001, 164:1567-1572.115. Parker B, McFarlane J, Soeken K. Abuseduring pregnancy: effects on maternalcomplications and birth weight in adult andteenage women. Obstetrics and Gynecology, 1994,84:323-328.116. Valdez-Santiago R, Sanin-Aguirre LH.Domestic violence during pregnancy and itsrelationship with birth weight. Salud PublicaMexicana, 1996, 38:352-362.117. Valladares E et al. Physical abuse duringpregnancy: a risk factor for low birth weight[Dissertat ion] . Umeå, Department ofEpidemiology and Public Health, UmeåUniversity, 1999.118. Ganatra BR, Coyaji KJ, Rao VN. Too far, toolittle, too late: a community-based case-controlstudy of maternal mortal i ty in rural westMaharashtra, India. Bulletin of the World HealthOrganization, 1998, 76:591-598.119. Fauveau V et al. Causes of maternal mortalityin rural Bangladesh, 1976-85. Bulletin of the WorldHealth Organization, 1988, 66:643-651.120. Dannenberg AL et al. Homicide and otherinjuries as causes of maternal death in New YorkCity, 1987 through 1991. American Journal ofObstetrics and Gynecology, 1995, 172:1557-1564.
118 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
121. Harper M, Parsons L. Maternal deaths due tohomicide and other injuries in North Carolina:1992-1994. Obstetrics and Gynecology, 1997,90:920-923.122. Brown D. In Africa, fear makes HIV aninheritance. Washington Post , 30 June 1998,Section A:28.123. Quigley M et al. Case-control study of riskfactors for incident HIV infection in rural Uganda.Journal of Acquired Immune Def ic iencySyndrome, 2000, 5:418-425.124. Romkens R. Prevalence of wife abuse in theNetherlands: combining quant i ta t ive andqualitative methods in survey research. Journalof Interpersonal Violence, 1997, 12:99-125.125. Walker EA et al. Psychosocial factors infibromyalgia compared with rheumatoid arthritis: II.Sexual, physical, and emotional abuse and neglect.Psychosomatic Medicine, 1997, 59:572-577.126. Walker EA et al. Histories of sexualvictimization in patients with irritable bowelsyndrome or inflammatory bowel disease. AmericanJournal of Psychiatry, 1993, 150:1502-1506.127. Delvaux M, Denis P, Allemand H. Sexualabuse is more frequently reported by IBS patientsthan by patients with organic digestive diseasesor controls: results of a multicentre inquiry.European Journal of Gastroenterology andHepatology, 1997, 9:345-352.128. Sutherland C, Bybee D, Sullivan C. The long-term effects of battering on women's health.Women's Health, 1998, 4:41-70.129. Roberts GL et al. How does domestic violenceaffect women's mental health? Women's Health,1998, 28:117-129.130. Ellsberg M et al. Domestic violence andemotional distress among Nicaraguan women.American Psychologist, 1999, 54:30-36.131. Fikree FF, Bhatti LI. Domestic violence andhealth of Pakistani women. International Journalof Gynaecology and Obstetrics, 1999, 65:195-201.132. Danielson KK et al. Comorbidity betweenabuse of an adult and DSM-III-R mental disorders:evidence from an epidemiological study. AmericanJournal of Psychiatry, 1998, 155:131-133.133. Bergman B et al. Suicide attempts by batteredwives. Acta Psychiatrica Scandinavica, 1991,83:380-384.134. Kaslow NJ et al. Factors that mediate and
moderate the link between partner abuse andsuicidal behavior in African-American women.Journal of Consulting and Clinical Psychology,1998, 66:533-540.135. Abbott J et al. Domestic violence againstwomen: incidence and prevalence in an emergencydepartment population. Journal of the AmericanMedical Association, 1995, 273:1763-1767.136. Amaro H et al. Violence during pregnancy andsubstance use. American Journal of PublicHealth, 1990, 80:575-579.137. Felitti VJ. Long-term medical consequencesof incest , rape, and molestat ion. SouthernMedical Journal, 1991, 84:328-331.138. Koss M. The impact of crime victimization onwomen's medical use. Journal of Women's Health,1993, 2:67-72.139. Morrison AR, Orlando MB. Social andeconomic costs of domestic violence: Chile andNicaragua. In: Morrison AR, Biehl ML, eds. Tooclose to home: domestic violence in the Americas.Washington, DC, Inter-American DevelopmentBank, 1999:51-80.140. Sansone RA, Wiederman MW, Sansone LA.Health care utilization and history of traumaamong women in a primary care setting. Violenceand Victims, 1997, 12:165-172.141. IndiaSAFE Steering Committee. IndiaSAFEfinal report. Washington, DC, InternationalCenter for Research on Women, 1999.142. Browne A, Salomon A, Bassuk SS. The impactof recent partner violence on poor women'scapacity to maintain work. Violence AgainstWomen, 1999, 5:393-426.143. Lloyd S, Taluc N. The effects of male violenceon female employment. Violence Against Women,1999, 5:370-392.144. McCloskey LA, Figueredo AJ, Koss MP. Theeffects of systemic family violence on children's mentalhealth. Child Development, 1995, 66:1239-1261.145. Edleson JL. Children's witnessing of adultdomestic violence. Journal of InterpersonalViolence, 1999, 14:839-870.146. Jouriles EN, Murphy CM, O'Leary KD.Interspousal aggression, marital discord, and childproblems. Journal of Consulting and ClinicalPsychology, 1989, 57:453-455.147. Jaffe PG, Wolfe DA, Wilson SK. Children ofbattered women. Thousand Oaks, CA, Sage, 1990.
CAPÍTULO 4. VIOLÊNCIA PERPETRADA POR PARCEIROS ÍNTIMOS • 119
148. Jejeebhoy SJ. Associations between wife-beating and fetal and infant death: impressionsfrom a survey in rural India. Studies in FamilyPlanning, 1998, 29:300-308.149. Åsling-Monemi K et al. Violence against womenincreases the risk of infant and child mortality: acase-referent study in Nicaragua. Bulletin of theWorld Health Organization, in press.150. Chalk R, King PA. Violence in families:assessing prevention and treatment programs.Washington, DC, National Academy Press, 1998.151. Spindel C, Levy E, Connor M. With an end insight: strategies from the UNIFEM trust fund toeliminate violence against women. New York, NY,United Nations Development Fund for Women, 2000.152. Plichta SB. Identifying characteristics ofprograms for battered women. In: Leinman JM etal., eds. Addressing domestic violence and itsconsequences: a pol icy repor t o f theCommonwealth Fund Commission on Women'sHealth. New York, NY, The Commonwealth Fund,1998:45.153. Ramos-Jimenez P. Philippine strategies tocombat domest ic v io lence agains t women.Manila, Task Force on Social Science andReproductive Health, Social DevelopmentResearch Center, and De La Salle University, 1996.154. Mehrotra A. Gender and legislation in LatinAmerica and the Caribbean. New York, UnitedNations Development Programme RegionalBureau for Latin America and the Caribbean, 1998.155. Mitra N. Best practices among response todomestic violence: a study of government and non-government response in Madhya Pradesh andMaharashtra [draft] . Washington, DC,International Center for Research on Women, 1998.156. Sherman LW, Berk RA. The specific deterrenteffects of arrest for domestic assault. AmericanSociological Review, 1984, 49:261-272.157. Garner J, Fagan J, Maxwell C. Publishedfindings from the spouse assault replicationprogram: a critical review. Journal of QuantitativeCriminology, 1995, 11:3-28.158. Fagan J, Browne A. Violence betweenspouses and intimates: physical aggressionbetween women and men in intimate relationships.In: Reiss AJ, Roth JA, eds. Understanding andpreventing violence: panel on the understandingand control of violent behavior. Vol. 3. Social
influences. Washington, DC, National AcademyPress, 1994:115-292.159. Marciniak E. Community policing of domesticviolence: neighborhood differences in the effectof arrest . College Park, MD, University ofMaryland, 1994.160. Sherman LW. The influence of criminologyon criminal law: evaluating arrests formisdemeanor domestic violence. Journal o fCriminal Law and Criminology, 1992, 83:1-45.161. National Institute of Justice and American BarAssociation. Legal interventions in familyv io lence: research f indings and pol icyimplications. Washington, DC, United StatesDepartment of Justice, 1998.162. Grau J, Fagan J, Wexler S. Restraining ordersfor battered women: issues of access and efficacy.Women and Politics, 1984, 4:13-28.163. Harrell A, Smith B. Effects of restrainingorders on domestic violence victims. In: BuzawaES, Buzawa CG, eds. Do arrests and restrainingorders work? Thousand Oaks, CA, Sage, 1996.164. Buzawa ES, Buzawa CG. Domestic violence:the criminal justice response. Thousand Oaks,CA, Sage, 1990.165. Keilitz S et al. Civil protect ion orders:victims' views on effectiveness. Washington, DC,National Institute of Justice, 1998.166. Littel K et al. Assessing the justice systemresponse to violence against women: a tool forcommunities to develop coordinated responses.Pennsylvania, Pennsylvania Coalition AgainstDomestic Violence, 1998 (available on the Internethttp://www.vaw.umn.edu/Promise/PP3.htm).167. Larrain S. Curbing domestic violence: twodecades of activism. In: Morrison AR, Biehl ML,eds. Too close to home: domestic violence in theAmericas. Washington, DC, Inter-AmericanDevelopment Bank, 1999:105-130.168. Poonacha V, Pandey D. Response to domesticviolence in Karnataka and Gujurat. In: DuvvuryN, ed. Domestic violence in India. Washington,DC, International Center for Research on Women,1999:28-41.169. Estremadoyro J. Violencia en la pareja:comisarías de mujeres en el Perú [Violence incouples: police stations for women in Peru]. Lima,Ediciones Flora Tristan, 1993.170. Hautzinger S. Machos and policewomen,
120 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
battered women and anti-victims: combatingviolence against women in Brazil. Baltimore, MD,Johns Hopkins University, 1998.171. Mesquita da Rocha M. Dealing with crimesagainst women in Brazil. In: Morrison AR, BiehlL, eds. Too close to home: domestic violence inthe Americas. Washington, DC, Inter-AmericanDevelopment Bank, 1999:151-154.172. Thomas DQ. In search of solutions: women'spolice stations in Brazil. In: Davies M, ed. Womenand violence: realities and responses worldwide.London, Zed Books, 1994:32-43.173. Corsi J. Treatment for men who batter women inLatin America. American Psychologist, 1999, 54:64.174. Cervantes Islas F. Helping men overcomeviolent behavior toward women. In: Morrison AR,Biehl ML, eds. Too close to home: domesticviolence in the Americas. Washington, DC, Inter-American Development Bank, 1999:143-147.175. Axelson BL. Violence against women: a maleissue. Choices, 1997, 26:9-14.176. Edleson JL. Intervention for men who batter:a review of research. In: Stith SR, Staus MA, eds.Understanding partner violence: prevalence,causes , consequences and so lu t ions .Minneapolis, MN, National Council on FamilyRelations, 1995:262-273.177. Gondolf E. A 30-month follow-up of courtmandated batterers in four cities. Indiana, PA,Mid-Atlantic Addiction Training Institute, IndianaUniversity of Pennsylvania, 1999 (available onthe Internet http:/ /www.iup.edu/maati/publications/30MonthFollowup.shtm).178. Gondolf EW. Batterer programs: what weknow and need to know. Journal of InterpersonalViolence, 1997, 12:83-98.179. Mullender A, Burton S. Reducing domesticviolence: what works? Perpetrator programmes.London, Policing and Crime Reduction Unit,Home Office, 2000.180. Sugg NK et al. Domestic violence and primarycare: attitudes, practices, and beliefs. Archives ofFamily Medicine, 1999, 8:301-306.181. Caralis PV, Musialowski R. Women'sexperiences with domestic violence and theirattitudes and expectations regarding medical careof abuse victims. Southern Medical Journal,1997, 90:1075-1080.182. Friedman LS et al. Inquiry about victimization
experiences: a survey of patient preferences andphysician pract ices . Archives o f In ternalMedicine, 1992, 152:1186-1190.183. Ruta crítica que siguen las mujeres víctimasde violencia intrafamiliar: análisis y resultadosde investigación [Help-seeking by victims of familyviolence: analysis and research results]. PanamaCity, Pan American Health Organization, 1998.184. Cohen S, De Vos E, Newberger E. Barriers tophysician identification and treatment of familyviolence: lessons from five communities.Academic Medicine, 1997, 72 (1 Suppl.):S19-S25.185. Fawcett G et al. Detección y manejo de mujeresvíctimas de violencia doméstica: desarrollo yevaluación de un programa dirigido al personalde salud [Detecting and dealing with womenvictims of domestic violence: the development andevaluation of a programme for health workers].Mexico City, Population Council, 1998.186. Watts C, Ndlovu M. Addressing violence inZimbabwe: strengthening the health sectorresponse. In: Vio lence agains t women inZimbabwe: strategies for action. Harare, MusasaProject, 1997:31-35.187. d'Oliviera AFL, Schraiber L. Violence againstwomen: a physician's concern? In: Fifteenth FIGOWorld Congress of Gynaecology and Obstetrics,Copenhagen, Denmark, 3-8 August 1997. London,International Federation of Gynaecology andObstetrics, 1997:157-163.188. Leye E, Githaniga A, Temmerman M. Healthcare strategies for combating violence againstwomen in developing countr ies . Ghent ,International Centre for Reproductive Health, 1999.189. Como atender a las mujeres que vivens i tua t iones de v io lenc ia domés t ica?Orientaciones básicas para el personal de salud[Care of women living with domestic violence:orientation for health care personnel]. Managua,Red de Mujeres Contra la Violencia, 1999.190. Achievements of project "Toward acomprehensive model approach to domesticv io lence: expans ion and conso l ida t ion o finterventions coordinated by the state and civilsociety". Washington, DC, Pan American HealthOrganization, 1999.191. Olson L et al. Increasing emergency physicianrecognition of domestic violence. Annals ofEmergency Medicine, 1996, 27:741-746.
CAPÍTULO 4. VIOLÊNCIA PERPETRADA POR PARCEIROS ÍNTIMOS • 121
192. Freund KM, Bak SM, Blackhall L. Identifyingdomestic violence in primary care practice.Journal of General Internal Medicine , 1996,11:44-46.193. Kim J. Health sector initiatives to addressdomestic violence against women in Africa. In:Health care strategies for combating violenceagainst women in developing countries. Ghent,International Centre for Reproductive Health,1999:101-107.194. Davison L et al. Reducing domestic violence:what works? Health services. London, Policingand Crime Reduction Unit, Home Office, 2000.195. Kelly L, Humphreys C. Reducing domesticviolence: what works? Outreach and advocacyapproaches . London, Policing and CrimeReduction Unit, Home Office, 2000.196. Gamache DJ, Edleson JS, Schock MD.Coordinated police, judicial, and social serviceresponse to woman battering: a multiple baselineevaluation across three communities. In: HotalingGT et al., eds. Coping with family violence:research and policy perspectives. ThousandOaks, CA, Sage, 1988:193-209.197. Hague G. Reducing domestic violence: whatworks? Multi-agency fora. London, Policing andCrime Reduction Unit, Home Office, 2000.198. Ellsberg M, Liljestrand J, Winkvist A. TheNicaraguan Network of Women Against Violence:using research and act ion for change.Reproductive Health Matters, 1997, 10:82-92.199. Mehrotra A et al. A life free of violence: it'sour r igh t . New York, NY, United NationsDevelopment Fund for Women, 2000.200. Jaffe PG et al. An evaluation of a secondaryschool primary prevention program on violencein intimate relationships. Violence and Victims,1992, 7:129-146.201. Foshee VA et al. The Safe Dates program:one-year follow-up results. American Journal ofPublic Health, 2000, 90:1619-1622.202. Krajewski SS et al. Results of a curriculumintervention with seventh graders regardingviolence in relationships. Journal of FamilyViolence, 1996, 11:93-112.203. Lavoie F et al. Evaluation of a preventionprogram for violence in teen dating relationships.Journal of Interpersonal Violence, 1995, 10:516-524.204. Heise L. Violence against women: global
organizing for change. In: Edleson JL, EisikovitsZC, eds. Future interventions with battered womenand their families. Thousand Oaks, CA, Sage ,1996:7-33.205. Domestic violence in India. Washington, DC,International Center for Research on Women, 1999.206. American College of Obstetr icians andGynecologists. ACOG committee opinion:mandatory report ing of domest ic violence.In terna t iona l Journa l o f Gyneco logy andObstetrics, 1998, 62:93-95.207. Hyman A, Schillinger D, Lo B. Laws mandatingreporting of domestic violence: do they promotepatient well-being? Journal of the AmericanMedical Association, 1995, 273:1781-1787.208. Jezierski MB, Eickholt T, McGee J.Disadvantages to mandatory reporting of domesticviolence. Journal of Emergency Nursing , 1999,25:79-80.209. Bradley J et al. Whole-site training: a newapproach to the organization of training. NewYork, NY, AVSC International, 1998.210. Cole TB. Case management for domesticviolence. Journal o f the Amer ican Medica lAssociation, 1999, 282:513-514.211. McLeer SV et al. Education is not enough: asystems failure in protecting battered women.Annals of Emergency Medicine, 1989, 18:651-653.212. Tilden VP, Shepherd P. Increasing the rate ofidentification of battered women in an emergencydepartment: use of a nursing protocol. Research inNursing Health, 1987, 10:209-215.213. Harwell TS et al. Results of a domestic violencetraining program offered to the staff of urbancommunity health centers. American Journal ofPreventive Medicine, 1998, 15:235-242.214. Kelly L. Tensions and possibilities: enhancinginformal responses to domestic violence. In:Edelson JL, Eisidovits ZC, eds. Futureinterventions with battered women and theirfamilies. Thousand Oaks, CA, Sage, 1996:67-86.215. Fawcett GM et al . Changing communityresponses to wife abuse : a research anddemonstrat ion project in Iztacalco, Mexico.American Psychologist, 1999, 54:41-49.216. Carter J. Domestic violence, child abuse, andyouth violence: strategies for prevention and earlyintervention. San Francisco, CA, Family ViolencePrevention Fund, 2000.
122 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
CAPÍTULO 5. ABUSOS DE IDOSOS • 125
AntecedentesO abuso de idosos por membros da família remonta
a tempos antigos. Até o aparecimento de iniciativaspara tratar do abuso infantil e da violência doméstica,nas últimas duas décadas e meia do século XX, esteassunto permaneceu reservado e escondido dopúblico.
Inicialmente visto como uma questão social e, emseguida, como um problema de idade, o abuso deidosos, tal como outras formas de violência em família,tornou-se um problema de saúde pública e de justiçacriminal. E, em grande medida, esses dois campos -saúde pública e justiça criminal - ditaram o modo comoo abuso de idosos é visto e analisado, e a maneira delidar com ele. Este capítulo focaliza o abuso de idosospor membros da família ou por outras pessoasconhecidas, seja em suas casas, asilos ou outrasinstituições. Não abrange outros tipos de violênciaque possam vitimar idosos, tais como violênciacometida por estranhos, crimes de rua, guerra degangues ou conflitos militares.
Maus-tratos cometidos contra idosos -denominados "abuso de idosos" - foram descritospela primeira vez em l975, em revistas científicasbritânicas, como "espancamento de avós" (1, 2).Como uma questão social e política, entretanto, foi oCongresso dos Estados Unidos que abordou oproblema pela primeira vez, seguido mais tarde porpesquisadores e especialistas. Na década de l980,pesquisas científicas e ações governamentais foramrelatadas da Austrália, Canadá, China (Hong KongSAR [Special Administrative Region - RegiãoAdministrativa Especial]), Estados Unidos, Noruegae Suécia e, na década seguinte, da África do Sul,Argentina, Brasil, Chile, Índia, Israel, Japão, ReinoUnido e outros países europeus. Embora o abuso deidosos tenha sido identificado primeiro em paísesdesenvolvidos, onde tem sido desenvolvida a maiorparte da pesquisa existente, evidências empíricas eoutros relatórios de alguns países emergentes têmdemonstrado que se trata de um fenômeno universal.O fato de que agora o abuso de idosos está sendolevado muito mais a sério reflete uma preocupaçãocrescente, de abrangência mundial, em relação aosdireitos e à igualdade de gêneros e, também, emrelação à violência doméstica e ao envelhecimentoda população.
O fato de ainda não se ter uma definição precisade quando se começa a ser "idoso", torna difíceis ascomparações entre estudos e países. Nas sociedadesocidentais, o começo da velhice geralmente coincide
com a idade da aposentadoria, aos 60 ou 65 anos deidade. Na maioria dos países emergentes, contudo,tem pouco significado esse conceito socialmenteconstruído, com base na idade da aposentadoria.Nesses países, são mais significativos os papéisatribuídos às pessoas durante sua vida. A velhice é,então, considerada como a fase da vida em que aspessoas, por causa do declínio físico, não podemmais desempenhar suas funções na família ou notrabalho.
As preocupações com maus-tratos de idososaumentaram com a conscientização de que naspróximas décadas, tanto nos países desenvolvidoscomo naqueles em desenvolvimento, haverá umaumento dramático na população do segmento idoso- que em francês é denominado de le troisième âge (aterceira idade). Está previsto que, por volta de 2025, apopulação global de pessoas com 60 anos de idade emais velhas será mais que o dobro, passando de 542milhões, em l995, para cerca de l,2 bilhão (ver Figura5.l). O total de idosos vivendo em países emergentestambém será mais que o dobro por volta de 2025,atingindo 850 milhões (3) - l2% da população totaldo mundo em desenvolvimento - embora se estimeque em alguns países, dentre os quais Colômbia,Indonésia, Quênia e Tailândia, o aumento seja quatrovezes maior ou mais. Em todo o mundo, um milhão depessoas atinge a idade de 60 anos por mês, dos quais80% encontram-se nos países emergentes.
Crescimento projetado na população global depessoas com 60 anos de idade e mais velhas, 1995-2025
FIGURA 5.1
Fonte: Divisão de Populações das Nações Unidas, 2002.
Em quase todos os países do mundo, ricos epobres, as mulheres sobrevivem aos homens (3).Entretanto, esta diferença entre os gêneros éconsideravelmente menor nos países emergentes,principalmente por causa dos altos índices demortalidade materna e, em anos recentes, tambémdevido à epidemia da AIDS.
Nos países emergentes, essas mudançasdemográficas estão acontecendo juntamente com acrescente mobilidade e mudança nas estruturas dafamília. A industrialização está corroendo os padrõesduradouros de interdependência entre as geraçõesde uma família, o que geralmente resulta em privaçãomaterial e emocional para os idosos. Em muitos paísesemergentes, as redes de família e comunidade, queantes davam apoio às gerações mais velhas, foramenfraquecidas, e freqüentemente destruídas, pelasrápidas mudanças sociais e econômicas. A epidemiada AIDS também está afetando consideravelmente avida dos idosos. Em muitas partes da Áfricasubsaariana, por exemplo, em grande número,crianças estão ficando órfãs porque seus pais morremda doença. Os idosos, que esperavam o apoio dosseus filhos na velhice, estão na situação deresponsáveis principais e sem uma família para ajudá-los no futuro.
Apenas 30% dos idosos do mundo têm coberturade sistemas previdenciários. Na Europa Oriental enos países da antiga União Soviética, por exemplo,como resultado das mudanças da economia planejadapara a economia de mercado, muitos idosos ficaramsem a pensão de aposentadoria e os serviços desaúde e previdência social que eram garantidos pelosantigos regimes comunistas. Tanto na economia dospaíses desenvolvidos como na dos paísesemergentes, as desigualdades estruturais têm sidofreqüentemente a causa, entre a população em geral,de baixos salários, alta taxa de desemprego, serviçosde saúde precários, falta de oportunidades deeducação e discriminação contra mulheres - o quetende a tornar os idosos mais pobres e maisvulneráveis.
Nos países emergentes, os idosos aindaenfrentam um risco significativo de doençascontagiosas. À medida que aumenta a expectativa devida nesses países, os idosos ficarão sujeitos àsmesmas doenças duradouras, possivelmenteincuráveis, e, em geral, àquelas doenças associadasà velhice que causam invalidez, predominantes nospaíses desenvolvidos. E também enfrentarão perigosambientais e a probabilidade de violência em suassociedades. Não obstante, os avanços na medicina e
no bem-estar social garantirão que muitos idososdesfrutem de longos períodos de velhice seminvalidez. As doenças serão evitadas ou terão seuimpacto reduzido mediante melhores estratégias decuidados com a saúde. O grande número de idososresultante será uma explosão para a sociedade, o queconstituirá uma grande reserva de experiência econhecimento.
Como é definido o abuso de idosos?Geralmente, concorda-se que o abuso de idosos
é um ato de acometimento ou omissão (neste caso écomumente descrito como "negligência"), que podeser tanto intencional como involuntário. O abusopode ser de natureza física ou psicológica(envolvendo agressão emocional ou verbal), ou podeenvolver maus-tratos de ordem financeira ou material.Qualquer que seja o tipo de abuso, certamenteresultará em sofrimento desnecessário, lesão ou dor,perda ou violação de direitos humanos, e uma reduçãoda qualidade de vida para o idoso (4) . Se ocomportamento é denominado abusivo, negligenteou explorador dependerá, provavelmente, dafreqüência com que os maus-tratos ocorrem, suaduração, gravidade e conseqüências, e, sobretudo,do contexto cultural. Entre os Navajos, nos EstadosUnidos, por exemplo, o que poderia parecer, para umpesquisador de fora, exploração econômica pormembros da família era visto pelos mais velhos datribo como sua obrigação cultural, e de fato privilégio,compartilhar os bens materiais com suas famílias (5).Outras tribos indígenas nos Estados Unidos viam oabuso de idosos como um problema da comunidadee não individual (6).
A definição dada pela instituição Action on ElderAbuse [Ação sobre Abuso de Idosos] no Reino Unido(7) e adotada pela International Network for thePrevention of Elder Abuse [Rede Internacional paraPrevenção do Abuso de Idosos] estabelece que: "oabuso de idosos é um ato simples ou repetido, ouausência de ação apropriada, que ocorre no contextode qualquer relacionamento em que haja umaexpectativa de confiança, que causa dano ou tensãoa uma pessoa idosa". Tal abuso, em geral, se dividenas seguintes categorias:
• abuso físico - inflicção de dor ou lesão, coaçãofísica, ou domínio induzido pela força ou pordrogas;• abuso psicológico ou emocional - inflicção deangústia mental;• abuso financeiro ou material - exploração ilegal
1 2 6 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
CAPÍTULO 5. ABUSOS DE IDOSOS • 127
ou imprópria, ou uso de fundos ou recursos doidoso;• abuso sexual - contato sexual não consensual,de qualquer tipo, com o idoso;• negligência - recusa ou falha em desempenhara obrigação de cuidar do idoso. A negligênciapode ou não envolver uma tentativa conscienteou intencional de infligir sofrimento físico ouemocional no idoso.Esta definição de abuso de idosos foi muito
influenciada pelo trabalho desenvolvido no Canadá,Estados Unidos e Reino Unido. Estudosdesenvolvidos na África do Sul, China (Hong KongSAR), Finlândia, Grécia, Índia, Irlanda, Israel, Noruegae Polônia enfocaram o tema de maneiras distintas(8). Pesquisadores noruegueses, por exemplo,identificaram o abuso com um "triângulo de violência"que inclui uma vítima, um perpetrador e outros que -direta ou indiretamente - observam os atoresprincipais. Em países como a China, que enfatizam aharmonia e o respeito no contexto da sociedade,negligenciar nos cuidados de uma pessoa idosa éconsiderado um ato de abuso de idoso. Se os membrosda família falham no desempenho de suas obrigaçõesde parentesco de prover alimentação e moradia, istotambém constitui negligência.
Sociedade tradicionaisMuitas sociedades tradicionais do passado
consideravam a harmonia da família um fatorimportante de orientação dos relacionamentos emfamília. Essa reverência pela família era reforçada pelastradições filosóficas e políticas públicas. Nasociedade chinesa, a reverência era incutida por umsistema de valores que ressaltava a "piedade filial".Maus-tratos de idosos eram desconhecidos ecertamente não relatados. Essas tradições têminfluência até hoje. Estudos feitos nos EstadosUnidos, de atitudes relativas ao abuso de idosos,revelam que cidadãos de origem coreana acreditavamque a supremacia da harmonia da família sobre o bem-estar do indivíduo era um padrão para determinar seum comportamento peculiar era visto como abusivoou não (9). Do mesmo modo, pessoas de origemjaponesa consideravam o "grupo" superior, e que obem-estar do indivíduo deveria ser sacrificado pelobem do grupo (10).
Destituir idosos da função de chefes de família eprivá-los de sua autonomia em nome da afeição sãonormas culturais mesmo em países onde a família é ainstituição principal e o senso de obrigação filial é
forte (11). Tal infantilização e superproteção podemdeixar o idoso isolado, deprimido e desmoralizado, epodem ser consideradas formas de abuso. Emalgumas sociedades tradicionais, viúvas, idosas sãoabandonadas e suas propriedades são tomadas. Emalgumas partes da África e Índia, os ritos de passagemde luto para viúvas incluem práticas que em outroslugares seriam consideradas cruéis, tais como, porexemplo, violência sexual, casamento forçado porlevirato (em que um homem é obrigado, peloscostumes, a casar-se com a viúva sem filhos de seuirmão) e expulsão de seus lares (12). Em algunslugares, acusações de bruxaria, em geral relacionadacom acontecimentos inexplicáveis na comunidadelocal, tais como uma morte ou perda de colheita, sãofeitas a mulheres isoladas e idosas (13). Na Áfricasubsaariana, acusações de prática de bruxaria têmlevado muitas mulheres idosas a deixar suas casas ecomunidades para viver na pobreza em áreas urbanas.Na República Unida da Tanzânia, cerca de 500mulheres idosas, acusadas de bruxaria, sãoassassinadas todos os anos (14). Esses atos deviolência tornaram-se costumes sociais arraigados epodem não ser considerados localmente como "abusode idosos" (ver Quadro 5.l).
Um seminário sobre abuso de idosos, realizadona África do Sul em l992, estabeleceu uma diferençaentre "maus-tratos" (tais como abuso verbal,negligência ativa e passiva, exploração financeira eexcesso de medicação) e abuso (incluindo violênciafísica, psicológica e sexual, e apropriação indébita)(8). Desde então, grupos focais têm sido organizadosna África do Sul, com idosos recrutados de trêsdistritos historicamente "negros", para determinar onível de conhecimento e entendimento sobre abusode idosos nessas comunidades. Além do típicoesquema ocidental que abrange abuso físico, verbal,financeiro e sexual, e negligência, os participantesquiseram acrescentar à definição o seguinte:
— perda de respei to por idosos, que foiequiparada à negligência;— acusações de bruxaria;— abuso por parte dos sistemas (maus-tratosem c l ín icas e proveniente de órgãosburocráticos).Os g rupos p roduz i ram as segu in tes
definições (l5):• abuso físico - surra e brutalidade física;• abuso emocional e verbal – discriminaçãocom base na idade , insu l tos , pa lavrasinjuriosas, difamação, intimidação, acusaçõesfalsas, sofrimento psicológico e crueldade
QUADRO 5.1
Na República Unida da Tanzânia, cerca de 500 mulheres idosas são assassinadas todos os anos porserem acusadas de bruxaria. O problema é particularmente sério em Sukumaland, no norte do país.Grande número de mulheres idosas são forçadas a deixar suas casas e comunidades por medo de seremacusadas de bruxaria e acabam vivendo na pobreza em áreas urbanas.
A crença na bruxaria existe há séculos em Sukumaland, embora a violência que a envolve tenhaaumentado sensivelmente nos últimos anos. Em parte, isso talvez seja devido à pobreza crescentecausada pelo fato de muitas pessoas tirarem seu sustento de uma terra pequena demais, como tambéma uma total falta de educação. À medida que pessoas pobres e não educadas tentam explicar os infortúniosque recaem sobre elas - doenças e morte, perdas de colheita e cacimbas que secam - elas procuram umbode expiatório, e a bruxaria parece explicar acontecimentos que elas não podem entender ou controlarde outra maneira.
Algumas vezes, os homens são acusados de bruxaria, embora o baixo status social das mulheressignifique que elas são, na maioria esmagadora, o alvo principal. Entre alguns dos modos peculiarespelos quais as mulheres são acusadas de bruxaria nessa região estão os seguintes:
disputas por terra são uma causa comum de violência contra viúvas. De acordo com as leis daherança, as viúvas devem continuar a viver na terra de seus maridos, sem ser proprietárias. Quandoelas morrem, a terra se torna propriedade dos filhos de seus maridos. Então, acusações de bruxariasão usadas para se livrarem de viúvas que vivem na terra como inquilinas, bloqueando a herança deoutros;curandeiros tradicionais são freqüentemente instigados pelos membros da família ou vizinhos afazerem acusações de bruxaria contra mulheres. Um garoto matou a mãe depois de um curandeirotradicional dizer a ele que ela era a causa dos seus problemas;mitos a respeito da aparência física das bruxas – que elas têm olhos vermelhos, por exemplo – tambémprovocam em geral as acusações de bruxaria. Os olhos de muitas mulheres idosas são vermelhos emvirtude de terem passado a vida cozinhando em fogões enfumaçados, ou de problemas de saúde, taiscomo conjuntivite.Líderes comunitários em Sukumaland estão pedindo ajuda ao Governo. Um deles teria dito: "trata-se
de uma questão de educar o povo. Em outras regiões do país, onde as pessoas são mais educadas, nãoenfrentamos esse problema".
Até recentemente, o Governo estava relutante em reconhecer que a crença em bruxaria ainda existia.Agora o assunto está sendo amplamente discutido e oficialmente condenado. Em l999, o Governo daTanzânia escolheu a bruxaria como tema para o Dia Internacional da Mulher.
Uma ONG local e a HelpAge International ["Ajuda Internacional a Idosos"] também estão adotandomedidas para melhorar a segurança das mulheres idosas na República Unida da Tanzânia. Essas medidastêm como objetivo a mudança de atitudes e crenças que envolvem a bruxaria e orientar algumas dasquestões práticas, tais como a pobreza e habitação precária, que têm ajudado a manter vivas tais crenças.
Bruxaria: a ameaça da violência na República Unida da Tanzânia
1 2 8 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
mental;• abuso financeiro - extorsão e controle do dinheiroda pensão, apropriação de bens móveis e imóveis,e exploração de idosos para forçá-los a tomar contados netos;• abuso sexual - incesto, estupro e outras formasde coação sexual;• negligência - perda de respeito por idosos,recusa de afeto e falta de interesse pelo bem-estardos idosos;• acusações de bruxaria - estigma e ostracismo;
• abuso proveniente dos sistemas - o tratamentodesumano a que os idosos estão sujeitos nasclínicas de saúde e repartições encarregadas daspensões, e marginalização pelo governo.Essas definições, produzidas pelos participantes
e classificadas pelos pesquisadores, foram oresultado de um esforço inicial feito na África do Sulpara obter informações sobre abuso de idosos. Elastambém são a primeira tentativa de classificar o abusode idosos em um país emergente, com base no modeloocidental, mas trazendo fatores que são relevantespara a população nativa.
A extenção do problemaCenários domésticos
Como a maior parte das nações emergentesapenas recentemente está se tornando conscientedo problema, as informações sobre a freqüência doabuso de idosos basearam-se em cinco levantamentosrealizados na década passada, em cinco paísesdesenvolvidos (l6 - 20). Se forem incluídos abusosfísicos, psicológicos, financeiros e negligência, osresultados mostram um índice de abuso de 4 a 6%entre idosos. Uma das dificuldades em se fazercomparações entre os estudos é a variação entre seustempos. Os estudos desenvolvidos no Canadá, nosPaíses Baixos e nos Estados Unidos referem-se ao"ano anterior". O estudo realizado na Finlândiainvestigou o abuso desde a "idade da aposentadoria",enquanto o estudo na Grã-Bretanha examinou casosdos "últimos anos". O primeiro conjunto de estudos(do Canadá, dos Estados Unidos e dos Países Baixos)não encontrou diferença significativa nas taxasprevalecentes de abuso por idade ou sexo; o estudona Finlândia revelou uma proporção mais alta devítimas femininas (7%) do que vítimas masculinas(2,5%), enquanto no estudo britânico nenhumareferência por idade ou sexo foi apresentada. Porcausa das diferenças na metodologia utilizada noscinco levantamentos e do número relativamentepequeno de vítimas, não se justifica uma análisecomparativa adicional.
Um levantamento feito recentemente no Canadásobre violência em família revelou que, nos últimoscinco anos, 7% dos idosos sofreram alguma forma deabuso emocional, 1% de abuso financeiro e 1% deabuso físico ou agressão sexual nas mãos de crianças,de pessoas que cuidam de idosos ou de companheiros(21). Homens (9%) foram mais propensos do quemulheres (6%) a relatar que sofreram abuso emocionalou financeiro. Por causa de diferenças nas questõesdo levantamento e diferenças de tempo, essasconstatações não podem ser comparadas com oestudo anterior realizado no Canadá, que tinhaencontrado uma proporção de abuso emocional muitomenor (1,4%) e um índice maior de abuso financeiro(2,5%) (17).
Cenários institucionaisHá um quarto de século atrás, a proporção de
idosos vivendo em instituições nos paísesdesenvolvidos tinha atingido cerca de 9% (22). Desdeaquela época, houve uma mudança na ênfase emrelação à assistência na comunidade e ao uso de
cenários residenciais menos restritivos. Os atuaisíndices de utilização de instituições asilares estão nafaixa de 4 a 7% em países como a África do Sul (4,5%),o Canadá (6,8%), os Estados Unidos (4%) e Israel(4,4%). Na maioria dos países africanos, os idosospodem encontrar-se por longos períodos nasenfermarias de hospitais, asilos para indigentes edeficientes, e – em alguns países subsaarianos – emcampos de bruxas. Mudanças sociais, econômicas eculturais que estão acontecendo em algumas dassociedades em desenvolvimento estão tornando asfamílias menos capazes de cuidar de seus parentesfrágeis e, desse modo, prognosticam uma demandacrescente por assistência institucional. Na China, aexpectativa de assistência institucional para idososestá se tornando a norma. Em Taiwan, China, aassistência institucional rapidamente superou aatenção da família pelos idosos (AY Kwan, dadosinéditos, 2000).
Na América Latina, os índices de institucionalizaçãode idosos variam de l a 4%. A assistência institucionalnão é mais considerada inaceitável para um idoso,mas é vista como uma alternativa para as famílias. Osasilos mantidos pelo governo, grandes instituiçõesque lembravam as antigas casas de trabalho inglesas* ,foram convertidos em instituições menores, comequipes profissionais multidisciplinares. Outrasinstituições asilares são administradas porcomunidades religiosas de origem imigrante. Não hádados disponíveis referentes aos índices deinstitucionalização nos países do antigo blocoeuropeu oriental, porque, à época, as autoridadesnão permitiam a publicação de tais informações.
Apesar de existir uma vasta literatura sobre aqualidade da assistência em cenários institucionais,e de que, em relatórios de enquetes governamentais,estudos etnográficos e históricos pessoais, têm sidobem documentados casos de abuso de idosos, nãohá dados nacionais disponíveis sobre a prevalênciaou incidência de abuso, mas apenas dados locaisprovenientes de estudos de escala menor. Umlevantamento sobre o pessoal de instituições asilaresem um estado dos Estados Unidos revelou que 36%da equipe geral e de enfermeiros relatou tertestemunhado pelo menos um incidente de abusofísico cometido por outros membros da equipe noano anterior, enquanto 10% admitiram ter cometido,eles próprios, pelo menos um ato de abuso físico. Daamostra no ano anterior, 8l% tinha observado pelomenos um incidente de abuso psicológico contra umresidente, e 40% admitiu também ter cometido atosdessa natureza (23). Essas descobertas sugerem que
CAPÍTULO 5. ABUSOS DE IDOSOS • 129
1 3 0 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
o número de maus-tratos contra residentes idososem instituições pode ser muito mais extenso do quegeralmente se acredita. Os índices de abuso de idosos,tanto na comunidade como nos cenáriosinstitucionais, podem ser maiores do que indicariamas estatísticas sobre atos violentos coletadas porpaíses. Algumas das disparidades provêm do fato deque o abuso de idosos permaneceu desconhecidoaté a década de l970. Mortes de idosos, tanto emcenários institucionais como na comunidade, têmsido freqüentemente atribuídas a causas naturais,acidentais ou indeterminadas, quando na verdadeforam conseqüência de comportamento abusivo ounegligente.
Quais os fatores de riscos para o abusode idosos?
Dos primeiros estudos sobre o abuso de idosos,a maior parte era limitada a cenários domésticos erealizados nos países desenvolvidos. Ao buscaremexplicações para o abuso de idosos, os pesquisadoresas encontraram na literatura, nas áreas da psicologia,sociologia, gerontologia e no estudo da violência emfamília. A fim de conciliar a complexidade do abusode idosos com os muitos fatores a ele relacionados,os pesquisadores se voltaram para o modeloecológico, que foi aplicado primeiro ao estudo doabuso infantil e da negligência (24 ), e maisrecentemente ao abuso de idosos. O modelo ecológicopode levar em consideração as interações que ocorrementre diversos sistemas. Conforme descrito noCapítulo 1, o modelo consiste de uma hierarquia quese estabelece em quatro níveis do ambiente:indivíduo, relacionamento, comunidade e sociedade.
Fatores individuaisOs primeiros pesquisadores nesse campo não
deram importância a distúrbios de personalidade deindivíduos como agentes causais da violência emfamília em favor de fatores sociais e culturais (27).Mais recentemente, entretanto, pesquisas sobreviolência em família demonstraram que os agressoresque são fisicamente agressivos são mais propensosa ter distúrbios de personalidade e problemasrelacionados com alcoolismo do que a população emgeral (28 ). Do mesmo modo, estudos restritos àviolência contra idosos em cenários domésticosrevelaram que os agressores provavelmente têm maisproblemas de saúde mental e de abuso de substâncias[drogas] do que os membros da família ou pessoasque cuidam dos idosos, que não são violentos nem
abusivos (29-31).Nos primeiros estudos, foram fortemente
identificados como fatores de risco para o abusohaver debilidade cognitiva e física dos idosos vítimasde abuso. Entretanto, um estudo posterior de umasérie de casos realizado por uma agência de serviçosocial revelou que os idosos que tinham sidomaltratados não estavam mais debilitados do queseus companheiros que não haviam sofrido abuso etalvez o estivessem até menos, particularmente noscasos de abuso físico e verbal. Em outros estudos,uma comparação de amostras de pacientes comdoença de Alzheimer demonstrou que o grau dedebilidade não era um fator de risco para serem vítimasde abuso (33-34). Contudo, entre os casos de abusorelatados às autoridades, aqueles envolvendo os maisidosos e que estão mais debilitados geralmenteconstituem uma grande proporção.
O gênero tem sido proposto por alguns como umfator característico no que diz respeito a abuso deidosos sob a alegação de que mulheres idosas podemter sido sujeitas à opressão e desvantagenseconômicas durante toda a vida (35). Entretanto,segundo estudos que têm por base a comunidade,parece que homens idosos correm o risco de abusopelas esposas, jovens e outros parentes na mesmaproporção que mulheres (l6, l7).
Embora a renda dos idosos não constituísse umfator significativo num estudo sobre ocorrência deabuso de idosos nos Estados Unidos, as dificuldadesfinanceiras por parte do agressor apareceram de fatocomo um importante fator de risco. Às vezes, o abusode idosos estava relacionado a um problema de abusode substâncias por parte de jovens, levando-os aextorquir dinheiro, possivelmente um cheque depensão do idoso. O abuso dessa natureza tambémpode ser influenciado, em parte, por indignação demembros da família por terem de gastar dinheiro comcuidados da pessoa idosa.
Fatores de relacionamentoNos primeiros modelos teóricos, o nível de
estresse das pessoas que cuidam dos idosos era vistocomo um fator de risco, que associava o abuso deidosos com os cuidados a um parente idoso (36,37).Enquanto a imagem popular de abuso retrata umavítima dependente e uma pessoa superestressada quecuida de idosos, há evidência crescente de quenenhum desses fatores conta propriamente para oscasos de abuso. Embora o componente estresse nãoseja negado pelos pesquisadores, agora eles tendem
CAPÍTULO 5. ABUSOS DE IDOSOS • 131
a vê-lo num contexto mais amplo, em que a qualidadedo relacionamento é um fator causal (30, 34, 38).Alguns dos estudos que envolvem estresse depessoas que cuidam dos idosos, a doença deAlzheimer e o abuso de idosos indicam que a naturezado relacionamento entre a pessoa que cuida do idosoe o próprio idoso, antes de o abuso começar, podeser um importante indício de abuso (34, 39, 40). Hoje,entretanto, acredita-se que o estresse pode ser umfator que contribui em casos de abuso, mas nãocontribui por si só para o fenômeno.
Trabalhos com pacientes demenciados têmdemonstrado que atos violentos praticados pelaspessoas que recebem cuidados podem funcionarcomo "gatilhos" para a violência recíproca por parteda pessoa que cuida do idoso. Pode ser que aviolência seja o resultado da interação de váriosfatores, incluindo o estresse, o relacionamento entrea pessoa que cuida do idoso e o próprio idoso, aexistência de comportamento violento e agressividadepor parte da pessoa que recebe os cuidados, e adepressão da pessoa que cuida (42).
Arranjos relacionados à moradia, particularmenteno que diz respeito a condições de superpopulação efalta de privacidade, têm sido associados a conflitosdentro da família. Embora o abuso possa ocorrerquando o agressor ou o idoso vítima do abuso vivemseparados, o idoso pode correr mais risco se morarcom a pessoa que cuida dele.
As primeiras teorias sobre o assunto tambémprocuraram associar a dependência ao aumento derisco de abuso. A princípio, foi enfatizada adependência da vítima em relação à pessoa que cuidadela ou o agressor, embora mais tarde trabalhos decaso tenham identificado agressores que eramdependentes do idoso - comumente, jovens quedependem de pais idosos para ter casa e assistênciafinanceira (32). Em alguns desses casos uma " teiada interdependência" era evidente - uma forte ligaçãoemocional entre a vítima do abuso e o agressor, quefreqüentemente impedia esforços de intervenção.
Fatores comunitários e sociaisEm quase todos os estudos de fatores de risco, o
fator comunitário de isolamento social aparece comoum fator significativo nos maus-tratos de idosos (17,29, 43, 44). Assim como ocorre com as mulheres quesão constantemente maltratadas, o isolamento deidosos pode tanto ser uma causa como umaconseqüência de abuso. Muitos idosos são isoladospor causa de enfermidade físicas ou mentais. Além
disso, a perda de amigos e membros da família reduzas oportunidades de interação social.
Embora haja agora pouca evidência empíricasólida, fatores sociais são normalmente consideradosimportantes como fatores de risco para o abuso deidosos, tanto nos países emergentes como nosindustrializados; no passado, enfatizava-se, em geral,os atributos individuais ou interpessoais como fatorespotenciais da causa do abuso de idosos. Hoje,reconhece-se que normas culturais e tradições - taiscomo discriminação etária, discriminação sexual e umacultura de violência - também desempenham umimportante papel subjacente. Os idososfreqüentemente são retratados como frágeis, fracose dependentes, algo que os fez parecer menos dignosde receber recursos governamentais ou até mesmocuidados da família do que outros grupos e osapresentou como alvos prontos para exploração.
No que diz respeito à África subsaariana emparticular, os fatores sociais e comunitários incluem(12):
— os sistemas de herança e direitos sobre a terra,patrilineares e matrilineares, que afetam adistribuição do poder;— o modo como as sociedades vêem o papel damulher;— o desgaste dos laços estreitos entre asgerações de uma família, causado pela migraçãorural-urbana e o crescimento da educação formal;— a perda, devida ao processo de modernização,dos papéis domésticos, de rituais e de autoridade,tradicionais na família, desempenhados pelosidosos.De acordo com o grupo de estudo focal na África
do Sul anteriormente mencionado, a maioria dosabusos - e particularmente a violência doméstica -ocorreram como resultado de desordem socialexacerbada pelo crime, alcoolismo e drogas.Conclusões semelhantes se originaram de umexercício conduzido por sete líderes comunitáriosmasculinos do campo de posseiros de TamagoKatlehong, África do Sul (15). Estabelecendo umarelação entre pobreza e violência, eles descrevemcomo a vida desregrada das famílias, a falta de dinheiropara o essencial e a falta de educação e deoportunidades de trabalho contribuíram para umavida de crime, tráfico de drogas e prostituição dejovens. Nessa sociedade, os idosos são vistos comoalvo para abuso e exploração, sendo suavulnerabilidade o resultado da pobreza que sedistingue pela falta de suporte previdenciário e
1 3 2 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
oportunidades de trabalho, higiene precária, doençase má-nutrição.
As transformações políticas na Europa Orientalpós-comunista também criaram condições para oaumento do risco de abuso de idosos. Os fatores láindicados como responsáveis por afetar o bem-estargeral de saúde e psicossocial, particularmente dosidosos, cuja vulnerabilidade aos maus-tratosaumentou, incluem:
— o crescente empobrecimento de partessignificativas da sociedade;— alto índice de desemprego;— falta de estabilidade e segurança social;— expressão visível de agressividade,especialmente entre os jovens.Nas sociedades chinesas, várias razões foram
apontadas (45) para os maus-tratos de pessoasidosas, incluindo:
— falta de respeito por parte das gerações maisjovens;— tensão entre as estruturas de famílias,tradicionais e novas;— reestruturação das redes básicas de apoio paraos idosos;— migração de casais jovens para novas cidades,deixando os pais idosos em áreas residenciais queestão em deterioração nos centros das cidades.Estudos sobre abuso de idosos têm se voltado
principalmente para problemas interpessoais e defamília. Entretanto, um modelo integrado - que abranjaperspectivas individuais, interpessoais, comunitáriase sociais - é mais adequado e reduz alguns dosdesvios evidentes nos primeiros estudos. Tal modeloleva em consideração as dificuldades enfrentadaspelos idosos, especialmente mulheres idosas. Essaspessoas em geral vivem na pobreza, sem asnecessidades básicas da vida e sem apoio da família,fatores que aumentam o risco de abuso, negligênciae exploração.
As conseqüências do abuso de idososPara os idosos, as conseqüências do abuso
podem ser particularmente sérias. Os idosos sãofisicamente mais fracos e mais vulneráveis do que osjovens, seus ossos são mais frágeis e a convalescençaé mais longa. Mesmo uma lesão relativamentepequena pode causar danos sérios e permanentes.Muitos idosos sobrevivem com rendas limitadas, oque faz com que a perda de uma pequena quantia dedinheiro tenha um impacto significativo. Eles podemficar isolados, solitários ou perturbados por doenças
e, nesses casos, tornam-se mais vulneráveis comoalvo de esquemas fraudulentos.
Cenários domésticosPoucos estudos empíricos têm sido
desenvolvidos para determinar as conseqüências demaus-tratos, embora haja muitos relatórios clínicos ede estudos de caso sobre distúrbio emocional gravesofrido por idosos maltratados. Nos estudosrealizados em países desenvolvidos, há algumasevidências que demonstram que, mais do que seuspares que não sofreram abuso, um grande número deidosos vítimas de abuso sofre de depressão oudistúrbio psicológico (31, 46, 47). Visto que essesestudos tiveram um desenho transversal, não épossível dizer se essa condição existia antes ou foiuma conseqüência dos maus-tratos. Outros sintomasque têm sido propostos como sendo relacionados acasos de abuso incluem sentimentos de desamparo,alienação, culpa, vergonha, medo, ansiedade,negatividade e estresse pós-traumático (48, 49).Efeitos emocionais também foram citados pelosparticipantes no estudo do grupo focal na África doSul, juntamente com problemas de saúde e, naspalavras de um participante, "doença do coração".(15)
Num estudo seminal desenvolvido em NewHaven, CT, Estados Unidos, dados provenientes deum estudo anual abrangente sobre saúde e bem-estar,de uma amostra representativa de 2.812 idosos, foramconfrontados com o banco de dados anual da agêncialocal responsável pela verificação de abusos deadultos em cada ano, durante um período de noveanos (50). Informações para o levantamento sobresaúde foram registradas por enfermeiros quecuidaram dos idosos num hospital durante o primeiroano de coleta de dados, e a cada três anos depoisdisso. Nos anos intermediários, os dados foramatualizados pelo telefone. Pessoas que trabalham comos casos obtiveram as informações sobre abuso enegligência usando os protocolos existentes, apósinvestigar reclamações de maus-tratos, comumentepor uma visita doméstica. O banco de dadosincorporado possibilitou aos pesquisadoresidentificar aquelas pessoas da amostra que duranteo levantamento de nove anos foram confirmadas comovítimas de abuso físico ou negligência. Os índices demortalidade foram então calculados, começando como primeiro ano do levantamento, e por doze anos apartir de então, tanto em relação àqueles que sofreram
CAPÍTULO 5. ABUSOS DE IDOSOS • 133
abuso ou negligência como também em relação aogrupo dos que não sofreram abuso. Quando osíndices de mortalidade em relação aos dois gruposforam comparados, treze anos depois que o estudocomeçou, 40% do grupo que não sofreu abuso ounegligência ainda estavam vivos, comparados com9% daqueles que tinham sofrido abuso físico ounegligência. E, depois de controlar todos os fatorespossíveis que poderiam afetar a mortalidade (porexemplo, idade, sexo, renda, condições funcionais ecognitivas, diagnóstico e grau de apoio social) e nãoencontrar relações significativas nesses fatoresadicionais, os pesquisadores concluíram que maus-tratos causam estresse interpessoal extremo que poderepresentar um risco adicional de morte.
InstituiçõesOs maus-tratos em relação aos idosos têm sido
identificados em instituições de cuidadoscontinuados (tais como instituições asilares,residential care*, hospitais ou instituições-dia), emquase todos os países onde tais instituições existem.Várias pessoas podem ser responsáveis pelo abuso:um membro remunerado da equipe, outro residente,um visitante voluntário, parentes ou amigos. Épossível que, uma vez que o idoso esteja sob cuidadosinstitucionais, um relacionamento abusivo ounegligente entre o idoso e a pessoa que cuida deleem casa não termine necessariamente, pois o abusopode continuar no novo cenário.
Deve ser feita uma distinção entre atos individuaisde abuso ou negligência em cenários institucionais eabuso institucionalizado - onde o regime prevalecenteda própria instituição é abusivo ou negligente. Naprática, entretanto, normalmente fica difícil dizer seas razões para abuso ou negligência ocorridos numcenário institucional foram decorrentes de atosindividuais ou de falhas institucionais, uma vez queambos freqüentemente são encontrados juntos.
O espectro do abuso e negligência dentro dasinstituições tem uma amplitude considerável (51), epode ser relacionado a qualquer dos seguintesaspectos:
— provisão de assistência - por exemplo,resistência à mudança nos remédios geriátricos,debilitação da individualidade na assistência,alimentação inadequada e enfermagem deficiente(tal como falta de cuidado com escaras);— problemas com pessoal - por exemplo, estresserelacionado com trabalho, estafa do pessoal,condições físicas de trabalho precárias,
treinamento insuficiente e problemaspsicológicos entre o pessoal;— dificuldades de interação entre o pessoal e osresidentes - por exemplo, comunicação precária,agressividade por parte dos residentes ediferenças culturais;— ambiente - por exemplo, falta de privacidadebásica, instituições dilapidadas, uso de repressão,estímulo sensorial inadequado, propensão aacidentes dentro da instituição;— políticas organizacionais - por exemplo,aquelas que operam em benefício da instituiçãodando aos residentes poucas escolhas emrelação à vida diária; atitudes burocráticas ouantipáticas em relação aos residentes; reduçãoou alta rotatividade de pessoal; fraudesenvolvendo bens ou dinheiro de residentes; efalta de um conselho de residentes ou conselhode famílias de residentes.Evidências empíricas provenientes da Índia
indicam que o abuso institucional em geral éperpetuado pelo pessoal mediante um sistemaregimental inquestionável - em nome da disciplinaou proteção imposta - e exploração da dependênciado idoso; e isso é agravado pela falta deadministração treinada profissionalmente.
Com o atual nível de conhecimento, é impossívelsaber quão arraigadas são essas condições. Deacordo com levantamento de quinze mil instituiçõesde idosos (52), realizado pelo governo dos EstadosUnidos em 1997, as dez deficiências principais,citadasem categorias mais abrangentes, eram:
1. preparação de alimentos (21,8%);2.avaliação ampla - uma avaliação documentadade todas as necessidades, incluindo assistênciamédica, enfermagem e assistência social (17,3%);3. planos de assistência amplos - em geral naforma de um documento especificando asnecessidades diárias de assistência de umindivíduo e indicando quem é o responsável porelas, com comentários sobre o progresso emudanças requeridas (17,1%);4. acidentes (16,6%);5. escaras (16,1%);6. qualidade da assistência (14,4%);7. dominação física (13,3%);8. serviços de manutenção (13,3%);9. falta de dignidade (13,2%); 10. prevenção de acidentes (11,9%).Abuso e negligência podem ocorrer em muitos
tipos de instituição, inclusive aquelas que parecemfornecer assistência de alta qualidade para os
1 3 4 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
pacientes. Uma questão crucial identificada no examede pesquisas sobre escândalos em asilos sugeriu que,com pouca mudança identificável na situaçãoaparente, um regime de assistência aceitável ou bompoderia ser transformado fácil e rapidamente numregime abusivo de assistência (53).
O que pode ser feito para evitar o abusode idosos?
O impacto que a violência física e psicológica têmna saúde de um idoso é exacerbado pelo processo deenvelhecimento e pelas doenças da velhice. Emdecorrência da deterioração física e cognitiva quegeralmente acompanha a velhice, é mais difícil paraos idosos deixar um relacionamento abusivo ou tomardecisões corretas. Em alguns lugares, obrigações deparentesco e o uso da rede prolongada de famíliapara resolver dificuldades podem também diminuir acapacidade do idoso, particularmente das mulheres,de escapar de situações perigosas. Freqüentemente,o agressor pode ser a única companhia da pessoaque é vítima de abuso. Por causa dessa e de outrasconsiderações, prevenir o abuso de idosos apresentainúmeros problemas para os especialistas. Na maioriados casos, o maior dilema é encontrar o equilíbrioentre o direito do idoso à autodeterminação e anecessidade de adotar medidas para acabar com oabuso.
Respostas em nível nacionalNo mundo, encontram-se em estágios variados
de desenvolvimento os esforços para incentivarmedidas sociais contra o abuso de idosos em nívelnacional e para elaborar legislação e outras iniciativaspolíticas. Alguns autores (54,55) têm usado o modelode problemas sociais de Blumer (56) para descreveros estágios do processo:
— emergência de um problema;— legitimação do problema;— mobilização de ações;— formulação de um plano oficial;— implementação do plano.
Os Estados Unidos são os mais avançados emtermos de uma resposta em nível nacional, com umsistema totalmente desenvolvido para relatar e tratarcasos de abuso de idosos. Esse sistema opera emnível estadual, sendo que o governo federal limita-sea apoiar o National Center on Elder Abuse [CentroNacional de Abusos de Idosos] que dá assistênciatécnica e uma pequena quantia de fundos aos
estados para seus serviços de prevenção de abusode idosos. Um ponto focal em nível nacional tambémé disponibilizado pelo National Committee for thePrevention of Elder Abuse [Comitê Nacional para aPrevenção de Abuso de Idosos], uma organizaçãosem fins lucrativos criada em 1988, e a NationalAssociation of State Adult Protective ServicesAdministrators [Associação Nacional deAdministradores dos Serviços Estaduais de Proteçãoa Adultos], instituída em 1989.
Na Austrália e no Canadá, algumas províncias eestados estabeleceram sistemas para lidar com casosde abuso de idosos, mas nenhuma política oficialfederal foi anunciada. A Nova Zelândia estabeleceuuma série de projetos-piloto por todo o país. Essestrês países possuem grupos nacionais. O NewZealand National Elder Abuse and Neglect AdvisoryCouncil [Conselho Consultivo sobre Abuso eNegligência de Idosos da Nova Zelândia] foiinstituído no começo da década de 1990, para criarum panorama nacional para a assistência e proteçãode idosos.
A Australian Network for the Prevention of ElderAbuse [Rede Australiana para a Prevenção de Abusode Idosos], foi estabelecida em 1998 como um pontode contato e troca de informações para os quetrabalham com idosos em situações de abuso. Em1999, a Canadian Network for the Prevention of ElderAbuse [Rede Canadense para a Prevenção de Abusode Idosos] foi criada com objetivos semelhantes -encontrar meios de desenvolver políticas, programase serviços para eliminar o abuso de idosos.
No Reino Unido, a Action on Elder Abuse [Açãosobre Abuso de Idosos], uma organização não-governamental nacional, ajudou a voltar a atençãodo governo para o abuso de idosos, dando destaquea documentos das políticas do Departament ofHealth [Departamento de Saúde] e da Social ServicesInspection [Inspeção de Serviços Sociais]. A Noruegalidera os países escandinavos, tendo obtidoaprovação do Parlamento para um projeto de serviçoem Oslo e um centro de recursos para informação epesquisa sobre violência, sendo este último emgrande parte o resultado da ação de campanhas contrao abuso de idosos. Outros países europeus -incluindo Alemanha, França, Itália e Polônia -encontram-se no estágio de "legitimização" domodelo de Blumer. As atividades para a prevençãode abuso de idosos são limitadas principalmente apesquisadores individuais e alguns programas locais.
O Latin American Committee for the Prevention
CAPÍTULO 5. ABUSOS DE IDOSOS • 135
of Elder Abuse [Comitê Latino-Americano paraPrevenção de Abuso de Idosos] fez uma fortecampanha para chamar a atenção para o problema deabuso de idosos nos países latino-americanos ecaribenhos, e oferece treinamento por ocasião dasreuniões internacionais e nacionais. Para algunspaíses - incluindo Cuba, Uruguai e Venezuela - aconscientização do problema está ainda iniciando, eas atividades consistem principalmente de reuniõesde profissionais e estudos de pesquisa. Outros paísesda região, tais como Argentina, Brasil e Chile, semobilizaram para a legitimização e ação. Em BuenosAires, Argentina, a organização "Proteger", que lidaexclusivamente com casos de abuso de idosos, foiestabelecida em 1998 como um dos programas doDepartament for the Promotion of Social Welfareand Old Age [Departamento para a Promoção do Bem-Estar Social e da Terceira Idade]. Profissionais e outraspessoas que trabalham nesse programa recebem umtreinamento de seis meses em gerontologia, voltadoprincipalmente para a prevenção da violência eintervenção em casos de abuso de idosos. A"Proteger" também dispõem de um serviço de ajudapor telefone.
No Brasil, o apoio oficial ao treinamento paraabuso de idosos foi disponibilizado pelo Ministérioda Justiça, Saúde e Bem-Estar*. No Chile, comoresultado do trabalho da Interministerial Commissionfor the Prevention Intrafamiliar Violence [ComissãoInterministerial para Prevenção de Violência emFamília], foi aprovada em 1994 (57) uma lei contra aviolência em família. A lei abrangia todos os atos deviolência em família, inclusive aqueles dirigidos aosidosos.
Na Ásia, estudos desenvolvidos porpesquisadores na China (Hong Kong SAR), Índia,Japão e República da Coréia chamaram a atenção parao problema do abuso de idosos, mas isso não foiseguido, até agora, de nenhuma ação oficial, em termosde políticas ou desenvolvimento de programas.
Relatórios sobre abuso de idosos na África doSul surgiram pela primeira vez em l98l. Em l994, umprograma preventivo sobre abuso institucional foiestabelecido conjuntamente pelo estado e o setorprivado (58). Ativistas que trabalhavam para preveniro abuso de idosos promoveram fortemente a idéia deuma estratégia nacional sobre abuso de idosos, queo governo está considerando agora, e lutaram pelainclusão do abuso de idosos na declaração final daSouthern Africa Development CommunityConference on the Prevention of Violence Against
Women [Conferência da Comunidade deDesenvolvimento Sul Africana para a Prevenção daViolência contra as Mulheres], realizada em Maseru,Lesoto, em dezembro de 2000. A Nigerian Coalitionon Prevention of Elder Abuse [Coalizão Nigerianapara a Prevenção de Abusos contra Idosos] reúnetodas as agências e grupos que trabalham com e paraos idosos. Para muitas outras nações africanas, osesforços para lidar com abuso de idosos sãoofuscados por outras preocupações queaparentemente exercem maior pressão - tais comoconflitos, pobreza e dívida.
Em 1997, com uma rápida expansão das atividadesmundiais sobre o abuso de idosos, foi criada a INPEA(International Network for the Prevention of ElderAbuse [Rede Internacional para a Prevenção deAbusos Contra Idosos]), com representação dos seiscontinentes. Os objetivos da INPEA são: aumentar aconsciência do público; promover educação etreinamento; fazer campanha em defesa do idosovítima de abuso e negligência; e promover pesquisassobre causas, conseqüências, tratamentos eprevenções de abuso de idosos.
Durante o primeiro estágio de desenvolvimentoda INPEA, os seminários foram o principal meio detreinamento e foram conduzidos em reuniões deprofissionais na Austrália, Brasil, Canadá, Cuba,Estados Unidos e Reino Unido. Foram criados umboletim informativo trimestral e um site na Internet. AINPEA também serviu de modelo para as redesaustraliana e canadense.
Respostas locaisA maioria dos programas estabelecidos para
combater o problema do abuso de idosos encontra-se nos países ricos. Eles geralmente são conduzidossob os auspícios dos serviços sociais e de saúde ousistemas legais, ou em associação com programaspara combater a violência em família. Embora tenhasido provado que o abuso de idosos existe em váriospaíses pobres ou emergentes, têm sido instituídospoucos programas específicos. Nesses países, casosde abuso de idosos são geralmente tratados pelasagências de serviço social, governamentais ou nãogovernamentais, mesmo que o pessoal de taisagências nem sempre seja instruído sobre o assunto.A Costa Rica, que tem um forte programa localadequado, é uma exceção (11). Em alguns países nãoexistem serviços sociais ou sistemas de assistência àsaúde para lidar com o abuso de idosos.
1 3 6 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Serviços sociaisEm geral, países que prestam serviços a idosos
vítimas de abuso, negligência ou exploração, fazemisso por meio da rede existente de serviços sociais desaúde. Tais casos freqüentemente envolvem questõesmédicas, legais, éticas, psicológicas, financeiras,policiais, e questões ambientais. Para ajudar pessoasque trabalham com casos de abuso, têm sidodesenvolvidos protocolos e diretrizes e, em geral, hápara elas treinamento especial disponível. Aassistência normalmente é planejada por equipesmultidisciplinares de consultores. Normalmente, taisserviços operam em estreita colaboração com forças-tarefa que geralmente representam órgãos legais eorganizações privadas, voluntárias e de caridade, queoferecem serviços de consultoria, treinamento,desenvolvem legislação modelo e identificam pontosfracos no sistema. Uma característica freqüente detais sistemas são as linhas diretas disponíveis parareceber denúncias de maus-tratos (59, 60) eatualmente elas estão operando no Reino Unido e emcomunidades locais na Alemanha, França e Japão(ver Quadro 5.2). Apenas os Estados Unidos e algumasprovíncias canadenses criaram um sistema para lidarexclusivamente com denúncias sobre maus-tratos deadultos. Nesses serviços de proteção aos adultos,como são conhecidos, as pessoas que trabalham comcasos vão investigá-los e avaliá-los, desenvolvendoplanos para assistência adequada e monitorando oscasos até que eles possam ser entregues às agênciasexistentes de serviços sociais para idosos.
Há um interesse crescente em disponibilizarserviços para vítimas de abuso de idosos na mesmalinha daqueles desenvolvidos para mulheresespancadas. São relativamente novos os abrigos deemergência e grupos de apoio especificamente paraidosos vítimas de abuso. Eles propiciam um ambienteonde as vítimas de abuso podem compartilharexperiências, fortalecer-se psicologicamente para lidarcom seus medos, insegurança, estresse e ansiedade,e levantar a auto-estima. Um exemplo de como omodelo de violência doméstica foi adaptado para oabuso de idosos é o programa estabelecido pelaFinnish Federation of Mother and Child Homes andShelters [Federação Finlandesa de Casas e Abrigospara Mães e Filhos], em colaboração com umainstituição asilar local e o sistema finlandês deassistência à de saúde. Esse projeto disponibilizacamas de abrigo de emergência na instituição asilar,uma linha direta de ajuda que oferece conselhos euma oportunidade para os idosos falarem sobre seus
problemas; e promove uma reunião quinzenal de umgrupo de apoio a vítimas. Existem outros abrigos deemergência semelhantes na Alemanha, Canadá,Estados Unidos e Japão.
Nos países de baixa renda, que carecem de infra-estrutura de serviço social para executar esse tipo deprograma, projetos locais podem ser implementadosnão só para ajudar planos de programas para idosose desenvolver seus próprios serviços, mas tambémfazer campanhas em favor de mudanças. Essasatividades também propiciarão força e auto-estimaaos idosos. Na Guatemala, por exemplo, idosos cegosque foram expulsos de suas casas pelas famíliasformaram seu próprio comitê, criaram um abrigoseguro para eles e estabeleceram um artesanato locale outros projetos de geração de renda para ajudar amanutenção do abrigo (61).
Serviços de assistência à saúdeEm alguns países latino-americanos e europeus,
como também na Austrália, a profissão médicadesempenhou um papel de liderança no que se refereao aumento do interesse público em relação ao abusode idosos. Em outros países, incluindo o Canadá e osEstados Unidos, os clínicos ficaram muitos anosatrasados em relação ao trabalho social e deenfermagem. Há poucos programas de intervençãopara idosos vítimas de abuso instalados em hospitais.Onde tais programas existem, normalmente sãoconstituídos apenas de equipes de consulta que estãode plantão na eventualidade de denúncia de suspeitade caso de abuso. Os envolvidos na disponibilizaçãode serviços de assistência à saúde têm um papelimportante a desempenhar nos programas quecontrolam e detectam abuso.
Enquanto se pensa que médicos estão em melhorposição para observar casos de abuso — em partedevido à confiança que a maioria dos idosos depositaneles — muitos doutores não diagnosticam abusoporque esse assunto não faz parte do seu treinamentoformal ou profissional e, por conseguinte, não constade sua lista de diagnósticos diferenciais.
Nas salas de emergência, parece que, em geral,também não se dá atenção suficiente às necessidadesespeciais dos idosos. Os profissionais da área deassistência à saúde em geral se sentem maisconfortáveis lidando com pessoas mais jovens doque com pessoas de idade avançada, e os interessesdos pacientes idosos são freqüentemente ignorados.A maioria dos setores de emergência não usamprotocolos para detectar e lidar com o abuso de
CAPÍTULO 5. ABUSOS DE IDOSOS • 137
QUADRO 5.2
Japan Elder Abuse Prevention Centre [Centro de Prevenção de Abuso deIdosos do Japão]
Em l993, a Society for the Study of Elder Abuse - SSEA [Sociedade para o Estudo de Abusos deIdosos], no Japão, um grupo independente em sua maior parte formado por assistentes sociais eacadêmicos, realizou um levantamento nacional de centros comunitários de assistência. O estudoconfirmou a existência de abuso de idosos no país. Com base nos resultados, a SSEA decidiu queum serviço telefônico de aconselhamento, semelhante ao mantido no Reino Unido pela Action onElder Abuse [Ação sobre Abuso de Idosos], seria a melhor maneira de enfrentar o problema deabuso de idosos (60).
Com o apoio financeiro de uma organização não governamental nacional, foi criado em l996 oJapan Elder Abuse Prevention Centre, um órgão sem fins lucrativos, oferecendo serviço telefônicode aconselhamento operado por voluntários, conhecido simplesmente por Helpline [linha direta].Um dos membros da SSEA, diretor de uma instituição asilar, disponibilizou uma sala para ser usadacomo escritório e forneceu outros tipos de ajuda. O serviço de aconselhamento foi divulgado nosjornais, centros de apoio e outras agências.
Atualmente, o Helpline oferece uma vasta gama de informações, e também aconselhamentolegal para qualquer pessoa com problema relacionado ao abuso de idoso - inclusive assistência àsaúde e profissionais da área de bem-estar.
No início, os conselheiros do Helpline eram todos membros da SSEA, porém depois foramincorporados à equipe três voluntários de fora. Qualquer que seja o dia, um ou dois conselheirosestão de plantão. Treinamento extensivo é dado aos novos conselheiros, e todos os conselheirosparticipam de reuniões mensais na SSEA para trocar informações sobre abuso de idosos e reverseus estudos de casos. Profissionais de fora podem ser chamados, se necessário, para ajudar a lidarcom casos especiais.
O Helpline é um serviço exclusivamente telefônico. Se alguém necessita pessoalmente deaconselhamento, o caso é passado para um centro de apoio a serviços domiciliares locais.Confiabilidade e privacidade e o anonimato dos que procuram esse serviço estão entre as principaispreocupações do Helpline.
idosos, e raramente atentam para tratar a saúde mentale os sinais de comportamento decorrentes do abusode idosos, tais como depressão, tentativa de suicídio,ou abuso de drogas ou álcool (62).
Deveria haver uma investigação das condiçõesde um paciente em decorrência de possível abuso(63, 64) se um médico ou outro profissional deassistência à saúde notar algum dos seguintes sinais:
— demora entre a ocorrência de lesões ou doençase a busca de assistência médica;— explicações implausíveis ou vagas para lesõesou saúde precária, provenientes seja do pacienteou da pessoa que cuida dele;— casos cuja história difere se o relato é feitopelo paciente ou pela pessoa que cuida dele;— visitas freqüentes a setores de emergênciapor causa de uma condição crônica que piorou,apesar de um plano de assistência e de recursos
para lidar coma situação na instituição;— pacientes idosos funcionalmente deterioradosque chegam sem as principais pessoasresponsáveis pelos seus cuidados;— resultados de laboratório que sãoinconsistentes com o histórico fornecido.Ao conduzir um exame (65), o médico ou oprofissional de saúde deveria:— entrevistar o paciente sozinho, perguntandodiretamente sobre uma possível violência física,repressão ou negligência;— entrevistar o suspeito de abusar sozinho;— prestar muita atenção ao relacionamento entreo paciente e a pessoa suspeita de abusar, e aocomportamento de ambos;— fazer uma avaliação geriátrica completa dopaciente, incluindo fatores médicos, funcionais,cognitivos e sociais;
1 3 8 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
— documentar as redes sociais do paciente, tantoformais como informais.A Tabela 5.1 contém uma lista de indicadores que
pode servir como um guia útil se há suspeita de maus-tratos. Contudo, a presença de qualquer indicadornesse quadro não deverá ser tomada como prova deque o abuso aconteceu de fato.
Ação legalApesar do crescente interesse pelo problema, a
maioria dos países não dispõe de legislaçãoespecífica sobre o abuso de idosos. Aspectosparticulares de abuso são em geral amparados por leicriminal ou por leis que dispõem sobre direitos civis,direito de propriedade, violência em família ou saúdemental. Legislação específica e abrangente sobre oabuso de idosos implicaria em um compromisso muitomaior para erradicar o problema. Entretanto, mesmoonde tais leis existem, os casos de abuso de idososraramente foram processados. Isto se dáprincipalmente porque os idosos em geral relutam,ou são incapazes de acusar os membros da família,por freqüentemente serem vistos como testemunhasnão confiáveis, ou por causa da naturezainerentemente oculta do abuso de idosos. Enquantoo abuso de idosos é visto apenas como um problemada pessoa que cuida do idoso, a ação legalprovavelmente não é uma medida eficaz.
Somente as províncias atlânticas do Canadá,alguns estados dos Estados Unidos e Israel possuemlegislação para denúncia obrigatória de abuso deidosos. A província canadense de Newfoundlandaprovou a sua lei de proteção ao adulto já em 1973,seguida pela última das quatro províncias atlânticas,Prince Edward Island, em 1988. Nos Estados Unidos,43 estados exigem que os profissionais e outraspessoas que trabalham com idosos denunciempossíveis casos de abuso de idosos a uma agênciaestatal designada para esse fim, se eles têm "razãopara acreditar" que o abuso, negligência ouexploração aconteceu. O primeiro desses estadosaprovou sua legislação em 1976, e os mais recentesem 1999. A lei de Israel data de 1989. Como aconteceucom as leis de denúncia de abuso infantil, todas essasleis sobre abuso de idosos foram introduzidas paraimpedir que a evidência de abuso não passedesapercebida. A denúncia obrigatória foiconsiderada uma ferramenta valiosa, particularmenteem situações em que as vítimas eram incapazes dedenunciar e os profissionais estavam relutantes emrelatar os casos. Embora a pesquisa do impacto da
denúncia obrigatória existente ainda não forneça umaresposta conclusiva, as indicações são de que o fatode um caso ser, ou não, denunciado tem menos a vercom as exigências legais do que com outros fatoresorganizacionais, éticos, culturais e profissionais (66).
Educação e campanhas deconscientização pública
Nos países industrializados, a educação e ascampanhas de conscientização pública têm sido vitaispara informar as pessoas sobre o abuso de idosos. Aeducação envolve não apenas o ensino de novasinformações, mas também a mudança de atitudes ede comportamento, e é, portanto, uma estratégiapreventiva fundamental. Pode ser conduzida de váriosde modos - por exemplo, em sessões de treinamento,seminários, programas de educação continuada,oficinas, reuniões científicas e conferências. Aquelesescolhidos incluirão não apenas especialistas nasvárias disciplinas relevantes - desde medicina, saúdemental, e enfermagem até trabalho social, justiçacriminal e religião - mas também pesquisadores,educadores, formuladores de política e pessoasresponsáveis pela tomada de decisões.
Um típico plano básico adequado para a maioriadas disciplinas inclui uma introdução ao tema doabuso de idosos, a consideração dos sinais esintomas de abuso, e detalhes de organizações locaisque possam dar assistência. Cursos de treinamentomais especializados se concentrarão em desenvolverpráticas em entrevistas, avaliação de casos de abusoe planejamento de programas de assistência. Paraabranger matérias éticas e legais é mesmo necessárioo ensino mais avançado, ministrado por especialistasna área. Cursos sobre como trabalhar com outrosprofissionais e em equipes multidisciplinares tambémse tornaram parte do currículo de treinamentoavançado sobre abuso de idosos.
Educação pública e aumento da consciência sãoelementos igualmente importantes para prevenirabuso e negligência. Assim como ocorre na educaçãopública sobre abuso infantil e violência perpetradapor parceiros íntimos, o objetivo é informar o públicoem geral sobre os vários tipos de abusos, comoidentificar os sinais e onde obter ajuda. Pessoas quetêm contato freqüente com os idosos são alvosespeciais para esse tipo de educação. À parte dosmembros da família e amigos, também estão incluídosfuncionários dos correios, atendentes de bancos, efuncionários encarregados da leitura de eletricidadee gás. Programas educacionais dirigidos aos próprios
CAPÍTULO 5. ABUSOS DE IDOSOS • 139
idosos geralmente têm mais êxito se a informaçãosobre abuso é organizada em tópicos maisabrangentes, tais como envelhecimento com sucessoou atenção à saúde. Organização para os idosos,centros comunitários, programas de assistência diária,escolas (ver Quadro 5.3), e grupos de auto-ajuda eapoio podem auxiliar esse esforço educacional.
A mídia é uma ferramenta poderosa para aumentara conscientização pública. Imagens mais positivas emaior destaque para os idosos na mídia podem ajudarna mudança de atitudes e reduzir os estereótipos queexistem em relação aos idosos. Os participantes dogrupo de estudo focal realizado na África do Sulfortaleceram a importância da mídia no aumento daconscientização pública (15) , sugerindo que aconscientização do problema do abuso de idososdeveria ser promovida por meio de oficinascomunitárias com o envolvimento do governo. Emoutros países emergentes, com recursos limitados,associações locais podem disponibilizar educaçãobásica juntamente com assistência à saúde.
Até agora, poucos programas de intervençãoforam avaliados e, por conseguinte, não é possíveldizer que os enfoques tiveram maior êxito. Esforçospara avaliar a eficácia de vários projetos foramprejudicados pela falta de definições comuns,diversas explicações teóricas, baixo nível de interessepor parte da comunidade científica e falta de recursos
para o desenvolvimento de estudos rigorosos.Uma revisão da literatura sobre estudos de
intervenções em abusos de idosos concluiu que 117desses estudos foram publicados, em inglês, entre1989 e 1998 (G. Bolen, J. Ploeg & B. Hutchinson, dadosinéditos, l999). Nenhum deles, entretanto, incluiu umgrupo de comparação ou atingiu critérios padrão paraum estudo de avaliação válido. Com base nessasdescobertas, os autores da revisão perceberam quenão havia evidência suficiente em favor de nenhumaintervenção específica. Seis dos estudos revistosforam apontados como os mais próximos dos critériosnecessários, porém eles também continham sériasfragilidades metodológicas. Entre esses seis estudos,a proporção de casos solucionados com êxito, deacordo com uma intervenção, variou de 22 % a 75%.
Recomendações
Embora o abuso de idosos por membros da família,por pessoas que cuidam de idosos e outros sejamelhor compreendido hoje do que há 25 anos, énecessária uma base de conhecimentos mais sólidaspara o estabelecimento de políticas, planejamento eprogramas. Muitos aspectos do problemapermanecem desconhecidos, incluindo suas causase conseqüências, e mesmo a extensão em que ocorre.
QUADRO 5.3
Currículo de uma escola canadense para prevenção de abuso de idososUma organização não governamental, Health Canada, desenvolveu um projeto educacional de duas
etapas sobre abuso de idosos para crianças e jovens. Esse projeto tem como objetivo conscientizar esensibilizar crianças com relação à velhice e o que ela acarreta, e criar oportunidades para os jovensestabeleceram relacionamentos através das gerações. Desse modo, espera-se que crianças e jovensdesenvolvam maior respeito pelos idosos e se tornem muito menos propensos, agora e no futuro, amaltratá-los.
A primeira etapa do projeto consiste de um kit interativo que conta histórias para crianças de 3 a 7anos de idade, envolvendo jogos e fábulas. Mesmo que não aborde diretamente o assunto do abuso deidosos, o kit fornece imagens positivas da velhice. Esse material também provou ser efetivo com criançasmais velhas que têm conhecimento limitado de inglês.
Um currículo escolar formal constitui a essência da segunda etapa do projeto, desenvolvido depoisde longas consultas com uma série de pessoas - incluindo professores, pessoas que trabalham comjovens, líderes religiosos, provedores de assistência à saúde, jovens, pessoas que trabalham com osidosos e os próprios idosos. O currículo, adequado principalmente para adolescentes, tem como objetivomudar atitudes negativas, com relação a idosos e velhice, profundamente arraigadas na sociedade, ereduzir o nível de abuso de idosos.
Ainda no Canadá, escolas em Ontário incluíram o tópico de resolução de conflitos em seus currículos,e os professores acreditam que uma discussão sobre o abuso de idosos pode ser introduzida no contextodesse assunto.
1 4 0 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Pesquisas sobre a eficácia de intervenções nãoproduziram até o momento quase nenhum resultadoútil ou confiável.
Talvez a forma mais insidiosa de abuso contraidosos resida nas atitudes negativas e estereótipos,em relação aos idosos e ao próprio processo deenvelhecimento, atitudes essas que se refletem nofreqüente culto à juventude. Enquanto os idososforem desvalorizados e marginalizados pelasociedade, eles sofrerão de perda de identidade epermanecerão extremamente suscetíveis àdiscriminação e a todas as formas de abuso.
Entre as prioridades necessárias para enfrentar eerradicar o problema do abuso de idosos estão:
— maior conhecimento do problema;— leis e políticas mais sólidas e efetivas;— estratégias de prevenção mais eficazes.
Maior conhecimentoAprofundar o conhecimento sobre o abuso de
idosos é uma das principais prioridades mundiais.
Em l990, dando ampla abrangência ao assunto, oCouncil of Europe [Conselho da Europa] promoveuuma conferência que examinou conceitos,estatísticas, leis e políticas, prevenção e tratamento,como também as fontes de informação disponíveissobre abuso de idosos (67). Um grupo de trabalhoglobal sobre abuso de idosos deveria ser instituídopara tratar de todas essas questões. Entre outrasatribuições, tal órgão poderia consolidar e padronizaras estatísticas globais e produzir os requisitosnecessários para a elaboração de um relatório comumde dados. Também deveria ser pesquisado e melhorexplicado o papel preciso de diferentes culturas emrelação ao abuso de idosos.
É imprescindível o desenvolvimento de pesquisasvisando a intervenções eficazes. Estudos deveriamser realizados a fim de verificar como os idosos podemdesempenhar um papel mais importante, planejandoe participando de programas de intervenção, aexemplo do que já vem sendo feito no Canadá. Essainiciativa poderia ser especialmente relevante nos
CAPÍTULO 5. ABUSOS DE IDOSOS • 141
países emergentes, onde o envolvimento dos idososna elaboração e implementação de programas podeajudar a aumentar a consciência sobre seus direitos,tratar dos problemas relacionados à exclusão social eajudar a fortalecê-los (3).
São necessários padrões mais rigorosos para apesquisa científica sobre abuso de idosos. Muitaspesquisas desenvolvidas no passado, que utilizaramuma metodologia frágil, incluíram poucas amostrasproduzindo, às vezes, resultados conflitantes. Algunsestudos demonstraram que o estado mental doagressor e o abuso de substâncias são fatores derisco, porém, ainda não foi investigado exatamentecomo esses fatores de risco - em alguns casos, masnão em outros - contribuem para o abuso ou anegligência. Trabalhos adicionais também sãonecessários para esclarecer os dados comumentecontraditórios sobre deterioração cognitiva e físicanos idosos como fator de risco para abuso.
Causas de abusoTambém são necessárias pesquisas adicionais
sobre o papel do estresse entre as pessoas quecuidam de idosos, originalmente considerado a causaprincipal do abuso de idosos. Com a crescenteevolução mundial da doença de Alzheimer e oaumento do nível de comportamento abusivoencontrado em famílias em que um dos membros sofredessa doença, deveria ser dada mais atenção aorelacionamento entre esses idosos e as pessoas quecuidam deles. Embora pareça óbvio que o isolamentosocial ou a falta de apoio podem contribuir para oabuso ou a negligência, os idosos que são vítimas deabuso, em geral não querem participar de programasque estimulam a interação social, tais como centrospara idosos ou atividades diárias dirigidas. Pesquisassobre quem são essas vítimas e sobre suas situaçõespoderiam resultar em soluções mais adequadas.
A pecha de velharia - o papel da discriminação eestigmatização das pessoas mais velhas - como umapossível causa do abuso de idosos ainda tem de serinvestigada adequadamente, embora algunsespecialistas na área tenham sugerido que amarginalização do idoso é um fator contribuinte.Estudos comparados de culturas provavelmenteseriam úteis para compreender esse efeito.
Evidentemente há certos fatores sociais eculturais em alguns países emergentes que estãodiretamente ligados ao abuso, tais como a crença embruxaria e o abandono de viúvas. Outras práticas,que também são freqüentemente citadas como
importantes fatores causais, necessitam serexaminadas, uma vez que não existem pesquisas paraconfirmar essas afirmações.Outros fatores culturais e socioeconômicos, taiscomo pobreza, modernização e sistemas de herança,podem ser causas indiretas de abuso. A utilização domodelo ecológico para explicar o abuso de idososainda é nova e são necessárias mais pesquisas sobreos fatores que operam nos diferentes níveis dessemodelo.
Impacto do abusoO aspecto do abuso de idosos que talvez tenha
recebido menos atenção é o impacto no idoso.Estudos longitudinais, que rastreiam por um longoperíodo de tempo tanto vítimas de abuso comopessoas que não sofreram abuso, deveriam, porconseguinte, fazer parte da agenda das pesquisas.Particularmente, poucos estudos examinaram oimpacto psicológico sobre uma pessoa vítima deabuso. Com exceção da depressão, pouco se conhecesobre os danos emocionais causado às vítimas.
Avaliação de intervençõesDiversas intervenções têm sido desenvolvidas,
inclusive intervenções relacionadas a denúnciaobrigatória, unidades de serviços de proteção,protocolos de serviço social, abrigos de emergência,grupos de apoio e auto-ajuda e equipes de consulta.Entretanto, muito poucas têm sido avaliadas eutilizando um projeto de pesquisa experimental ouquase experimental, e, portanto, são imprescindíveispesquisas de avaliação de alto padrão.Lamentavelmente, o tema abuso de idosos não tematraído a atenção de muitos pesquisadoresrenomados, cuja experiência é essencial. Maioresinvestimentos de recursos em estudos sobre abusode idosos estimulariam tais pesquisas.
Leis mais efetivasDireitos básicosOs direitos humanos dos idosos devem sergarantidos mundialmente. Para atingir este fim, énecessário que:– as leis existentes sobre violência doméstica ouintrafamiliar sejam ampliadas para incluir os idososcomo um grupo;–leis criminais e civis relevantes existentes abranjamexplicitamente o abuso, a negligência e a exploraçãode idosos;
1 4 2 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
–os governos introduzam novas leis especificamentepara proteger idosos.
Tradições abusivasMuitas tradições existentes são abusivas com
relação a mulheres idosas, incluindo crença embruxaria e prática de abandono de viúvas. Para acabarcom esses costumes, será necessário um alto grau decolaboração entre muitos grupos, provavelmente porum longo período de tempo. Para auxiliar esteprocesso é necessário que:
— grupos de defesa, constituídos de idosos e depessoas mais jovens, sejam formados em nívellocal, estadual e nacional para fazer campanhaspor mudanças;— programas governamentais de saúde e bem-estar busquem ativamente mitigar o impactonegativo que muitos processos de modernizaçãoe conseqüentes mudanças na estrutura de famíliatêm provocado nos idosos;— governos nacionais estabeleçam um sistemade pensão adequado em todos os países ondenão exista tal mecanismo.
Estratégias de prevenção mais eficazesNo nível mais básico, deve se dar maior
importância principalmente à prevenção. Isto requera construção de uma sociedade em que os idosospossam viver com dignidade, tendo as necessidadesbásicas de vida adequadamente providas, e comoportunidades genuínas para auto-satisfação. Paraaquelas sociedades dominadas pela pobreza, odesafio é enorme.
A prevenção começa com a conscientização. Umimportante caminho para aumentar o nível deconscientização - tanto entre o público como entreprofissionais envolvidos - é por meio da educação edo treinamento. Aqueles provedores de atenção àsaúde e serviços sociais em todos os níveis, tanto nacomunidade como nos cenários institucionais,deveriam receber treinamento básico sobre aconstatação de abusos de idosos. A mídia é umasegunda ferramenta poderosa para aumentar aconscientização do problema entre o público em gerale as autoridades e buscar possíveis soluções.
Programas para a prevenção de abuso de idososem seus lares, nos quais os próprios idososdesempenham um papel de liderança, incluem:
— recrutamento e treinamento de idosos paraservirem como visitadores ou acompanhantes de– outros idosos que estão isolados;
criação de grupos de apoio para idosos vítimasde abuso;— estabelecimento de programas comunitáriospara estimular a interação e participação socialentre os idosos;— constituição de redes sociais de idosos emlocalidades, vizinhanças ou unidadesresidenciais;— trabalho com idosos para instituir programasde "auto-ajuda", a fim de habilitá-los a serprodutivos.A prevenção do abuso de idosos por meio da
ajuda a agressores, especialmente jovens, pararesolver seus próprios problemas, é uma tarefa difícil.Medidas que podem ser úteis incluem:
— desenvolvimento e implementação de planosde assistência amplos;— treinamento de pessoal;— políticas e programas para tratar estresse, de -pessoal, relacionado a trabalho;–desenvolvimento de políticas e programas paramelhorar o ambiente físico e social dasinstituições.
ConclusãoO problema do abuso de idosos não pode ser
solucionado adequadamente se as necessidadesessenciais dos idosos - de alimentação, abrigo,segurança e acesso à assistência à saúde - não forematendidas. As nações do mundo devem criar umambiente em que envelhecer seja aceito como umaparte natural do ciclo da vida, em que atitudesantienvelhecimento sejam desencorajadas, em queos idosos tenham o direto de viver com dignidade,livres de abusos e exploração, e seja dada a eles aoportunidade de participar plenamente das atividadeseducacionais, culturais, espirituais e econômicas (3).
Referências1. Baker AA. Granny-battering. Modern Geriatrics,1975, 5:20-24.2. Burston GR. "Granny battering". British MedicalJournal, 1975, 3:592.3. Randal J, German T. The ageing and developmentreport: poverty, independence, and the world'speople. London, HelpAge International, 1999.4. Hudson MF. Elder mistreatment: a taxonomy withdefinitions by Delphi. Journal of Elder Abuse andNeglect, 1991, 3:1-20.5. Brown AS. A survey on elder abuse in one NativeAmerican tribe. Journal of Elder Abuse and Neglect,
CAPÍTULO 5. ABUSOS DE IDOSOS • 143
1989, 1:17-37.6. Maxwell EK, Maxwell RJ. Insults to the body civil:mistreatment of elderly in two Plains Indian tribes.Journal of Cross-Cultural Gerontology, 1992, 7:3-22.7. What is elder abuse? Action on Elder AbuseBulletin, 1995, 11 (May-June).8. Kosberg JI, Garcia JL. Common and unique themeson elder abuse from a worldwide perspective. In:Kosberg JI, Garcia JL, eds. Elder abuse: internationaland cross-cultural perspectives. Binghamton, NY,Haworth Press, 1995:183-198.9. Moon A, Williams O. Perceptions of elder abuseand help-seeking patterns among African-American,Caucasian American, and Korean-American elderlywomen. The Gerontologist, 1993, 33:386-395.10. Tomita SK. Exploration of elder mistreatmentamong the Japanese. In: Tatara T, ed. Understandingelder abuse in minority populations. Philadelphia,PA, Francis & Taylor, 1999:119-139.11. Gilliland N, Picado LE. Elder abuse in Costa Rica.Journal of Elder Abuse and Neglect, 2000, 12:73-87.12. Owen M. A world of widows. London, Zed Books,1996.13. Gorman M, Petersen T. Violence against olderpeople and its health consequences: experience fromAfrica and Asia. London, Help Age International,1999.14. Witchcraft: a violent threat. Ageing andDevelopment, 2000, 6:9.15. Keikelame J, Ferreira M. Mpathekombi, ya bantuabadala: elder abuse in black townships on theCape 16. Pillemer K, Finkelhor D. Prevalence of elder abuse: arandom sample survey. The Gerontologist, 1988, 28:51-57.17. Podnieks E. National survey on abuse of the elderly inCanada. Journal of Elder Abuse and Neglect, 1992, 4:5-58.18. Kivelä SL et al. Abuse in old age: epidemiological datafrom Finland. Journal of Elder Abuse and Neglect, 1992,4:1-18.19. Ogg J, Bennett GCJ. Elder abuse in Britain. BritishMedical Journal, 1992, 305:998-999.20. Comijs HC et al. Elder abuse in the community:prevalence and consequences. Journal of the AmericanGeriatrics Society, 1998, 46:885-888.21. Canadian Centre for Justice Statistics. Family violencein Canada: a statistical profile 2000. Ottawa, HealthCanada, 2000.22. Kane RL, Kane RA. Long-term care in sixcountries: implications for the United States.Washington, DC, United States Department of
Health, Education and Welfare, 1976.23. Pillemer KA, Moore D. Highlights from a study ofabuse of patients in nursing homes. Journal of ElderAbuse and Neglect, 1990, 2:5-30.24. Garbarino J, Crouter A. Defining the community contextfor parent-child relations: the correlates of childmaltreatment. Child Development, 1978, 49:604-616.25. Schiamberg LB, Gans D. An ecological framework forcontextual risk factors in elder abuse by adult children.Journal of Elder Abuse and Neglect, 1999, 11:79-103.26. Carp RM. Elder abuse in the family: an interdisciplinarymodel for research. New York, NY, Springer, 2000.27. Gelles RJ. Through a sociological lens: social structureand family violence. In: Gelles RJ, Loeske DR, eds. Currentcontroversies on family violence. Thousand Oaks, CA,Sage, 1993:31-46.28. O'Leary KD. Through a psychological lens: personalitytraits, personality disorders, and levels of violence. In: GellesRJ, Loeske DR, eds. Current controversies on familyviolence. Thousand Oaks, CA, Sage, 1993:7-30.29. Wolf RS, Pillemer KA. Helping elderly victims: thereality of elder abuse. New York, NY, Columbia UniversityPress, 1989.30. Homer AC, Gilleard C. Abuse of elderly people by theircarers. British Medical Journal, 1990, 301:1359-1362.31. Bristowe E, Collins JB. Family mediated abuse of non-institutionalised elder men and women living in BritishColumbia. Journal of Elder Abuse and Neglect, 1989, 1:45-54.32. Pillemer KA. Risk factors in elder abuse:results from a case-control study. In: PillemerKA, Wolf RS, eds. Elder abuse: conflict in thefamily. Dover, MA, Auburn House, 1989:239-264.33. Paveza GJ et al. Severe family violence andAlzheimer's disease: prevalence and risk factors.The Gerontologist, 1992, 32:493-497.34. Cooney C, Mortimer A. Elder abuse anddementia: a pilot study. International Journalof Social Psychiatry , 1995, 41:276-283.35. Aitken L, Griffin G. Gender issues in elderabuse. London, Sage, 1996.36. Steinmetz SK. Duty bound: elder abuse andfamily care . Thousand Oaks, CA, Sage, 1988.37. Eas tman M. Old age abuse : a newperspective, 2nd ed. San Diego, CA, SingularPublishing Group, Inc., 1994.38. Reis M, Nahamish D. Validation of theind ica to rs o f abuse ( IOA) sc reen . T h eGerontologist , 1998, 38:471-480.39. Hamel M et al. Predictors and consequencesof aggressive behavior by community-baseddementia patients. The Gerontologist , 1990,
1 4 4 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
30:206-211.40. Nolan MR, Grant G, Keady J. Understandingfamily care : a multidimensional model of caringand cop ing . Buckingham, Open UniversityPress, 1996.41. Pillemer KA, Suitor JJ. Violence and violentfeel ings: what causes them among familycaregivers? Journal of Gerontology , 1992,47:S165-S172.42. O'Loughlin A, Duggan J. Abuse, neglect andmistreatment of older people: an exploratorystudy. Dublin, National Council on Ageing andOlder People, 1998 (Report No. 52).43. Phillips LR. Theoretical explanations of elderabuse. In: Pillemer KA, Wolf RS, eds. Elderabuse: conflict in the family. Dover, MA, AuburnHouse, 1989:197-217.44. Grafstrom M, Nordberg A, Winblad B. Abuseis in the eye of the beholder. ScandinavianJournal of Social Medicine, 1994, 21:247-255.45. Kwan AY. Elder abuse in Hong Kong: a newfamily problem for the east? In: Kosberg JI,Garcia JL, eds. Elder abuse: international andcross-cultural perspectives. Binghamton, NY,Haworth Press, 1995:65-80.46. Phillips LR. Abuse and neglect of the frailelderly at home: an exploration of theoreticalrelationships. Advanced Nursing, 1983, 8:379-382.Flats. Cape Town, Human Sciences ResearchCouncil and University of Cape Town Centre forGerontology, 2000.47. Pillemer KA, Prescott D. Psychological effects of elderabuse: a research note. Journal of Elder Abuse and Neglect,1989, 1:65-74.48. Booth BK, Bruno AA, Marin R. Psychological therapywith abused and neglected patients. In: Baumhover LA,Beall SC, eds. Abuse, neglect, and exploitation of olderpersons: strategies for assessment and intervention.Baltimore, MD, Health Professions Press, 1996:185-206.49. Goldstein M. Elder mistreatment and PTSD. In: RuskinPE, Talbott JA, eds. Aging and post-traumatic stressdisorder. Washington, DC, American PsychiatricAssociation, 1996:126-135.50. Lachs MS et al. The mortality of elder mistreatment.Journal of the American Medical Association, 1998,20:428-432.51. Bennett G, Kingston P, Penhale B. The dimensions ofelder abuse: perspectives for practitioners. London,Macmillan, 1997.52. Harrington CH et al. Nursing facilities, staffing,residents, and facility deficiencies, 1991-1997. San
Francisco, CA, Department of Social and BehavioralSciences, University of California, 2000.53. Clough R. Scandalous care: interpreting public inquiryreports of scandals in residential care. In: Glendenning F,Kingston P, eds. Elder abuse and neglect in residentialsettings: different national backgrounds and similarresponses. Binghamton, NY, Haworth Press, 1999:13-28.54. Leroux TG, Petrunik M. The construction of elder abuseas a social problem: a Canadian perspective. InternationalJournal of Health Services, 1990, 20:651-663.55. Bennett G, Kingston P. Elder abuse: concepts, theoriesand interventions. London, Chapman & Hall, 1993.56. Blumer H. Social problems as collective behaviour.Social Problems, 1971, 18:298-306.57. Mehrotra A. Situation of gender-based violenceagainst women in Latin America and the Caribbean:national report for Chile. New York, United NationsDevelopment Programme, 1999.58. Eckley SCA, Vilakas PAC. Elder abuse in South Africa.In: Kosberg JI, Garcia JL, eds. Elder abuse: internationaland cross-cultural perspectives. Binghamton, NY,Haworth Press, 1995:171-182.59. Hearing the despair: the reality of elder abuse.London, Action on Elder Abuse, 1997.60. Yamada Y. A telephone counseling program for elderabuse in Japan. Journal of Elder Abuse and Neglect,1999, 11:105-112.61. Checkoway B. Empowering the elderly:gerontological health promotion in Latin America.Ageing and Society, 1994, 14:75-95.62. Sanders AB. Care of the elderly in emergencydepartments: conclusions and recommendations.Annals of Emergency Medicine, 1992, 21:79 -83.63. Lachs MS, Pillemer KA. Abuse and neglect of elderlypersons. New England Journal of Medicine, 1995,332:437-443.64. Jones JS. Geriatric abuse and neglect. In: Bosker G etal., eds. Geriatric emergency medicine. St Louis, MO,CV Mosby, 1990:533-542.65. Elder mistreatment guidelines: detection, assessmentand intervention. New York, NY, Mount Sinai/VictimServices Agency Elder Abuse Project, 1988.66. Wolf RS. Elder abuse: mandatory reporting revisited.In: Cebik LE, Graber GC, Marsh FH, eds. Violence,neglect, and the elderly. Greenwich, CT, JAI Press,1996:155 -170.67. Violence against elderly people. Strasbourg, Councilof Europe, Steering Committee on Social Policy, 1991.
CAPÍTULO 6. VIOLÊNCIAJUVENIL• 147
AntecedentesA violência sexual ocorre no mundo todo. Apesar
de na maioria dos países haver pouca pesquisa sobrea questão, os dados disponíveis sugerem que, emalguns países, quase uma em quatro mulheres podevivenciar a violência perpetrada por um parceiroíntimo (1 - 3) e quase um terço das adolescentesrelatam que sua primeira experiência sexual foi forçada(4-6).
A violência sexual tem um impacto profundo sobrea saúde física e mental. Além de causar lesões físicas,ela está associada a um maior risco de diversosproblemas de saúde sexual e reprodutiva, comconseqüências imediatas e conseqüências em longoprazo (4, 7 - 16). Seu impacto sobre a saúde mentalpode ser tão sério quanto seu impacto físico, podendoser também de longa duração (17 - 24). As mortessubseqüentes à violência sexual podem se manifestarsob a forma de suicídio, infecção por HIV (25) ouassassinato - que pode ocorrer durante uma agressãosexual ou posteriormente, como um assassinato "pelahonra" (26). A violência sexual também pode afetarprofundamente o bem-estar social das vítimas; emconseqüência dessa violência, as pessoas podem serestigmatizadas e jogadas ao ostracismo por suasfamílias e outras pessoas (27, 28).
Por parte do perpetrador, o sexo forçado poderesultar em gratificação sexual, apesar de seupropósito subjacente ser freqüentemente aexpressão de poder e dominação sobre a pessoaagredida. Geralmente, os homens que forçam umaesposa a um ato sexual acreditam que suas açõessão legítimas porque eles são casados com a mulher.
O estupro de mulheres e homens comumente éutilizado como uma arma de guerra, como uma formade ataque ao inimigo, tipificando a conquista e adegradação de suas mulheres ou de seuscombatentes capturados (29). O estupro tambémpode ser utilizado para punir as mulheres portransgredirem códigos sociais ou morais como, porexemplo, aqueles que proíbem o adultério ou aembriaguez em público. As mulheres e os homenstambém podem ser estuprados quando estão sobcustódia da polícia ou na prisão.
Embora a violência sexual possa ser dirigida tantoaos homens quanto às mulheres, o foco principaldeste capítulo será nas várias formas de violênciasexual contra as mulheres, bem como nos tipos deviolência sexual dirigidos a meninas e perpetradospor outras pessoas que não as responsáveis porcuidar delas.
Como a violência sexual é definida?A violência sexual é definida como:qualquer ato sexual, tentativa de obter um ato
sexual, comentários ou investidas sexuaisindesejados, ou atos direcionados ao tráfico sexualou, de alguma forma, voltados contra a sexualidadede uma pessoa usando a coação, praticados porqualquer pessoa independentemente de sua relaçãocom a vítima, em qualquer cenário, inclusive em casae no trabalho, mas não limitado a eles.
A coação pode abranger diversos graus de força.Além da força física, ela pode envolver intimidaçãopsicológica, chantagem ou outras ameaças - porexemplo, a ameaça de dano físico, de ser demitida deum emprego ou de não obter um emprego. A coaçãotambém pode ocorrer quando a pessoa agredida éincapaz de dar seu consentimento, por exemplo,enquanto está embriagada, drogada, adormecida, oué mentalmente incapaz de entender a situação.
A violência sexual inclui o estupro, definido comoa penetração forçada - fisicamente ou por meio dealguma outra coação, mesmo que sutil - da vulva oudo ânus, utilizando o pênis, outras partes do corpoou um objeto. A tentativa de fazê-lo é conhecida porestupro tentado. O estupro de uma pessoa cometidopor dois ou mais perpetradores é conhecido comoestupro cometido por gangue.
A violência sexual pode incluir outras formas deagressão, envolvendo um órgão sexual, inclusive ocontato forçado entre a boca e o pênis, a vulva ou oânus.
Formas e contextos da violência sexualDiversos atos sexualmente violentos podem
ocorrer em diferentes circunstâncias e cenários.Dentre eles, podemos citar:
— estupro dentro do casamento ou namoro;— estupro cometido por estranhos;— estupro sistemático durante conflito armado;— investidas sexuais indesejadas ou assédiosexual, inclusive exigência de sexo comopagamento de favores;— abuso sexual de pessoas mental ou fisicamenteincapazes;— abuso sexual de crianças;— casamento ou coabitação forçados, inclusivecasamento de crianças;— negação ao direito de usar anticoncepcionaisou adotar outras medidas de proteção contradoenças sexualmente transmitidas;— aborto forçado;
148 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
— atos violentos contra a integridade sexual dasmulheres, inclusive mutilação genital feminina eexames obrigatórios de virgindade;— prostituição forçada e tráfico de pessoas comfins de exploração sexual.Não há uma definição universalmente aceita de
tráfico para exploração sexual. O termo abrange omovimento organizado de pessoas, geralmentemulheres, entre países e dentro dos países paratrabalho sexual. O tráfico também inclui forçar ummigrante a um ato sexual como condição para permitirou fazer os acertos necessários para a migração.
O tráfico sexual utiliza-se da coação física, dafraude e da escravidão resultantes de dívidasforçadas. Mulheres e crianças traficadas, porexemplo, comumente recebem promessas de trabalhodoméstico ou na indústria, mas, ao invés disso, quasesempre são levadas a bordéis onde seus passaportese outros documentos de identificação sãoconfiscados. Elas podem apanhar ou ser trancafiadase terem sua liberdade condicionada a pagarem, pormeio da prostituição, o seu preço de compra, assimcomo os custos de viagem e visto (30 - 33).
A extensão do problemaFontes dos dadosOs dados sobre violência sexual geralmente sãofornecidos pela polícia, por clínicas, por organizaçõesnão governamentais e por pesquisas. A relação entreessas fontes e a magnitude global do problema daviolência sexual pode ser vista como equivalente aum iceberg flutuando na água (34) (ver Figura 6.1).A pequena ponta visível representa os casosdenunciados à polícia. Uma parte maior pode seresclarecida através de pesquisa e do trabalho das
organizações não governamentais. Contudo, abaixoda superfície está um componente substancial, aindaque não quantificado, do problema.
De forma geral, as pesquisas têm negligenciado aviolência sexual. Os dados disponíveis sãoinsuficientes e fragmentados. Os dados fornecidospela polícia, por exemplo, geralmente são incompletose limitados. Muitas mulheres não denunciam aviolência sexual para a polícia por vergonha ouporque têm medo de serem humilhadas, de nãoacreditarem nelas ou de serem maltratadas de algumaforma. Os dados fornecidos pelos institutos médico-legais, por outro lado, podem apresentar desvios emrelação aos incidentes mais violentos de abuso sexual.A quantidade de mulheres que procuram os serviçosmédicos por causa de problemas imediatosrelacionados à violência sexual também érelativamente pequena.
Apesar de durante a última década, em decorrênciadas pesquisas, ter havido avanços consideráveis notocante à mensuração do fenômeno, as definiçõesutilizadas variam consideravelmente de estudo paraestudo. Há também significativas diferenças entre asculturas no que se refere à vontade de revelar aviolência sexual para os pesquisadores. Portanto, énecessário ter cautela ao fazer comparações globaisacerca da ocorrência da violência sexual.
Estimativas de violência sexualOs levantamentos realizados a respeito de vítimas decrime, em várias cidades e em vários países, têmutilizado uma metodologia comum, para ajudar acomparabilidade e incluir, de forma geral, as perguntassobre violência sexual. A tabela 6.1 resume os dadosde alguns desses levantamentos relativos à
Magnitude do problema da violência sexual
FIGURA 6.1
CAPÍTULO 6. VIOLÊNCIAJUVENIL• 149
ocorrência de agressão sexual nos últimos cinco anos(35, 36). Conforme esses estudos, o percentual demulheres que relataram ter sido vítimas de ataquesexual varia de menos de 2% em locais como La Paz,na Bolívia (1,4%), Gaborone em Botsuana (0,8%),Beijing na China (1,6%) e Manila nas Filipinas (0,3%)a 5% ou mais em Tirana na Albânia (6,0%), BuenosAires na Argentina (5,8%), Rio de Janeiro no Brasil(8,0%), e Bogotá na Colômbia (5,0%). É importanteobservar que esses números não fazem qualquerdistinção entre estupro cometido por estranhos oupor parceiros íntimos. As pesquisas que não fazemessa distinção, ou as que analisam apenas o estuprocometido por estranhos geralmente subestimambastante a ocorrência da violência sexual (34).
Além dos levantamentos acerca de crimes, houvealguns poucos com amostragens representativas queperguntaram às mulheres sobre violência sexual. Porexemplo, em uma pesquisa nacional realizada nosEstados Unidos, 14,8% das mulheres com mais de 17anos de idade relataram já ter sido estupradas (mais2,8% passaram por uma tentativa de estupro) e 0,3%da amostra relatou ter sido estuprada no ano anterior(37) . Uma pesquisa com uma amostragemrepresentativa de mulheres na faixa etária de 18 a 49
anos, realizada em três províncias daÁfrica do Sul, verificou que no anoanterior 1,3% das mulheres havia sidoforçada, fisicamente ou por ameaçasverbais, a ter sexo não consensual (34).Em uma pesquisa com uma amostrarepresentativa da população geral commais de 15 anos de idade, realizada naRepública Checa (38) , 11,6% dasmulheres relataram já ter sofrido contatosexual forçado durante sua vida, sendoque 3,4% relataram que o fato ocorreu maisde uma vez. A forma mais comum decontato foi o coito vaginal forçado.
Violência sexual praticada porparceiros íntimosEm muitos países, uma grande parcela dasmulheres que vivenciam a violência sexualtambém vivencia o abuso sexual. NoMéxico e nos Estados Unidos, os estudosestimam que de 40 a 52% das mulheresque vivenciam violência física praticadapor um parceiro íntimo também estãosujeitas a coação sexual por parte desseparceiro (39,40). Às vezes, a violência
sexual ocorre sem a violência física (1). No Estado deUttar Pradesh, na Índia, em uma amostrarepresentativa de mais de 6 mil homens, 7% relataramter praticado abuso sexual e físico contra suasesposas, 22% relataram utilizar a violência sexual semviolência física e 17% relataram que haviam utilizadosomente a violência física (41).
A Tabela 6.2 resume alguns dos dados disponíveissobre a ocorrência de coação sexual praticada porparceiros íntimos (1 - 3, 37, 42 - 57). Os resultadosdesses estudos mostram que a agressão sexualpraticada por um parceiro íntimo não é rara, nemespecífica de qualquer região do mundo. Por exemplo,23% das mulheres em North London, Inglaterra,relataram ter sido vítimas de estupro - tentado ouconsumado - praticado por um parceiro.
Números semelhantes foram relatados emGuadalajara no México (23,0%), em León na Nicarágua(21,7%), em Lima no Peru (22,5%) e na ProvínciaMidlands no Zimbábue (25,0%). A ocorrência demulheres sexualmente agredidas por um parceiroíntimo durante sua vida (inclusive tentativas deagressão) também foi estimada em algumas poucaspesquisas nacionais (por exemplo, Canadá 8,0%,Escócia, Gales e Inglaterra (juntos) 14,2%, Estados
150 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Unidos 7,7%, Finlândia 5,9% e Suíça 11,6%).
Iniciação sexual forçadaUm número crescente de estudos, especialmente
na África subsaariana, indica que a primeiraexperiência sexual das meninas comumente éindesejada e forçada. Por exemplo, em um estudo comcontrole de casos - realizado entre 191 meninasadolescentes (com média de idade de 16,3 anos) queeram atendidas em uma clínica pré-natal na Cidadedo Cabo, África do Sul, e 353 adolescentes que nãoestavam grávidas, agrupadas por idade e vizinhançaou escola - 31,9% dos casos do estudo e 18,1% doscontroles relatavam que houve o uso da força na suainiciação sexual. Quando inquiridas sobre asconseqüências de negar sexo, 77,9% dos casos doestudo e 72,1% dos controles disseram que temiamapanhar se recusassem a fazer sexo (4).
A iniciação sexual forçada e a coação durante aadolescência foram relatadas em diversos estudossobre jovens de ambos os sexos (ver Tabela 6.3 eQuadro 6.1). Nos casos em que os estudos incluíramna amostra tanto homens quanto mulheres, aocorrência de estupro ou de coação sexual relatadosfoi maior entre as mulheres do que entre os homens(5, 6, 54 - 60). Por exemplo, em um estudo realizadoem diversos países do Caribe, cerca de metade dasadolescentes sexualmente ativas relataram que suaprimeira relação sexual foi forçada, em comparação aum terço dos adolescentes (60). Em Lima, no Peru, opercentual de mulheres jovens que relataram umainiciação sexual forçada foi aproximadamente quatrovezes maior do que o percentual relatado peloshomens jovens (40% contra 11% respectivamente)(56).
CAPÍTULO 6. VIOLÊNCIAJUVENIL• 151
Estupro cometido por ganguesHá muitos relatos em várias partes do mundo
sobre a ocorrência de estupro envolvendo dois oumais perpetradores. Contudo, as informaçõessistemáticas sobre a extensão do problema sãolimitadas. Em Joanesburgo, na África do Sul, estudosde vigilância sobre mulheres que são atendidas emclínicas médico-legais após um estupro revelaramque um terço dos casos era de estupro cometidopor gangue (61). Dados nacionais sobre estupro eagressão sexual nos Estados Unidos indicam quecerca de uma em cada dez agressões sexuais envolvediversos perpetradores. A maior parte dessasagressões é praticada por pessoas desconhecidasdas vítimas (62). Esse padrão, portanto, difere dopadrão observado na África do Sul, onde osnamorados estão envolvidos nos estuproscometidos por gangues.
Tráfico sexualA cada ano, centenas de milhares de mulheres e
jovens no mundo todo são compradas e vendidaspara prostituição ou escravidão sexual (30 - 32, 63,64). Uma pesquisa realizada no Quirguistão estimouque, em 1999, cerca de 4 mil pessoas foram traficadasdo país e que o destino principal dessas pessoasera a Alemanha, o Cazaquistão, a China, os EmiradosÁrabes Unidos, a Federação Russa e a Turquia. Daspessoas traficadas, 62% relataram ter sido forçadasa trabalhar sem pagamento, enquanto mais de 50%
relataram ter sofrido abuso físico ou tortura por partede seus empregadores (31 ) . Um relatório daOrganização Mundial contra Tortura (OMCT) indicaque mais de 200 mil mulheres de Bangladesh foramtraficadas de 1990 a 1997 (65). Cerca de 5 mil a 7 milmulheres e meninas nepalesas são ilegalmentecomercializadas para a Índia a cada ano, e tambémfoi relatado o tráfico de mulheres tailandesas para oJapão (32). O tráfico de mulheres ocorre, ainda,dentro de alguns países, geralmente das áreas ruraispara as cidades.
A América do Norte também é um importantedestino para o tráfico internacional. Um estudovendidas à força no estrangeiro (30). Na Itália, umestudo realizado entre 19 mil a 25 mil prostitutasestrangeiras estimou que 2 mil delas haviam sidotraficadas (66). A maioria dessas mulheres tinhammenos de 25 anos de idade, muitas delas estando nafaixa etária de 15 a 18 anos (30, 66). Elas vinhamprincipalmente da Europa central e oriental,particularmente da Albânia, bem como da Colômbia,da Nigéria e do Peru (66).
Violência sexual contra trabalhadoresdo sexo
Quer sejam traficados ou não, os trabalhadoresdo sexo correm maior risco tanto de violência físicaquanto sexual, especialmente onde o trabalho sexualé ilegal (67). Uma pesquisa entre as trabalhadorassexuais em Leeds, na Inglaterra, e Glasgow eEdimburgo, na Escócia, revelou que 30% delas haviamsido esbofeteadas, socadas ou chutadas por um
152 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
QUADRO 6.1
A violência sexual contra homens e meninosA violência sexual contra homens e meninos é um problema de grande importância. Exceto pelo
abuso sexual durante a infância, a violência sexual contra homens e meninos é muito negligenciada naspesquisas. O estupro e outras formas de coação sexual contra homens e meninos acontecem em diversoscenários, inclusive em casa, no local de trabalho, nas escolas, nas ruas, no serviço militar, durante aguerra, bem como em prisões e delegacias.
Nas prisões, o sexo forçado pode acontecer entre os colegas de cela para estabelecer hierarquias derespeito e disciplina. A violência sexual praticada por agentes penitenciários, policiais e soldados tambémé relatada com bastante freqüência em muitos países. Essa violência pode se apresentar sob a forma deprisioneiros forçados a fazer sexo uns com os outros como uma forma de "diversão", ou oferecer sexoaos soldados ou oficiais no comando. Em outros lugares, homens que fazem sexo com outros homenspodem ser "punidos", por meio de estupro, por seu comportamento ser tido como uma transgressão dasnormas sociais.
A extensão do problemaEstudos realizados principalmente em países desenvolvidos indicam que de 5 a 10% dos homens
relatam uma história de abuso sexual na infância. Em uns poucos estudos de população realizados comadolescentes em países emergentes, o percentual de homens que relatam ter sido vítima alguma vez deuma agressão sexual varia de 3,6% na Namíbia e 13,4% na República Unida da Tanzânia a 20% no Peru.Estudos realizados tanto em países industrializados quanto em emergentes também revelam que não éraro a primeira relação sexual ser forçada. Infelizmente, existem poucas estatísticas confiáveis sobre aquantidade de meninos e homens estuprados em locais como escolas, prisões e campos de refugiados.
A maioria dos especialistas acredita que as estatísticas oficiais subestimam muito o número devítimas masculinas de estupro. A evidência disponível sugere que a probabilidade de as vítimas masculinasdenunciarem a agressão às autoridades é muito menor do que a probabilidade de as vítimas femininas ofazerem. Há diversos motivos pelos quais o estupro masculino não é denunciado, inclusive por vergonha,culpa e medo de não acreditarem ou de ser denunciado pelo que ocorreu. Os mitos e os fortes preconceitossobre a sexualidade masculina também fazem com que os homens evitem seguir adiante.
Conseqüências da violência sexualAssim como acontece com as mulheres vítimas de agressão sexual, as pesquisas indicam que as
vítimas masculinas também estão sujeitas a sofrer diversas conseqüências psicológicas, tanto no períodoimediatamente após a agressão quanto em longo prazo. Dentre essas conseqüências, estão culpa, raiva,ansiedade, depressão, distúrbios de estresse pós-traumático, disfunção sexual, problemas somáticos,distúrbios do sono, fuga dos relacionamentos e tentativa de suicídio. Além dessas reações, os estudosrealizados entre adolescentes revelaram ainda uma associação entre ser estuprado e abuso de substâncias[drogas], comportamento violento, roubo e absenteísmo da escola.
Respostas políticas e de prevençãoAs respostas políticas e de prevenção em relação à violência sexual contra os homens precisam ter
como base uma compreensão do problema, suas causas e as circunstâncias em que ocorre. Em muitospaíses, o fenômeno não é tratado de forma adequada na legislação. Além disso, o estupro masculinofreqüentemente não é tratado como um crime equivalente ao estupro feminino.
Muitas das considerações relativas ao apoio a mulheres que foram estupradas - inclusive umentendimento sobre o processo de recuperação, as necessidades mais urgentes logo após uma agressãoe a efetividade dos serviços de apoio - também são relevantes para os homens. Alguns países já obtiveramprogressos em suas respostas à agressão sexual a homens, oferecendo linhas diretas especiais,
aconselhamento, grupos de apoio e outros serviços para vítimas masculinas. Em muitos lugares, contudo,esses serviços não estão disponíveis ou são muito limitados, por exemplo, voltando-se principalmentepara as mulheres, com poucos conselheiros (se houver) que tenham experiência em discutir os problemascom as vítimas masculinas.
Na maioria dos países, ainda há muito a ser feito antes de a questão da violência sexual contra oshomens e meninos poder ser devidamente reconhecida e tratada sem negação ou vergonha. Um avançotão necessário, portanto, possibilitará que sejam implementadas medidas preventivas mais abrangentese um melhor apoio às vítimas.
cliente enquanto estavam trabalhando, 13% haviamapanhado, 11% haviam sido estupradas, 22% haviamvivenciado uma tentativa de estupro (68). Apenas34% das que sofreram violência nas mãos de umcliente fizeram denúncia na polícia. Uma pesquisacom trabalhadores do sexo em Bangladesh revelouque 49% das mulheres haviam sido estupradas e 59%haviam apanhado da polícia no ano anterior; oshomens relataram níveis muito mais baixos deviolência (69) . Na Etiópia, um estudo sobretrabalhadores do sexo também revelou altos índicesde violência física e sexual cometida pelos clientes,especialmente contra crianças trabalhadoras sexuais(70).
Violência sexual em escolas,estabelecimentos de assistência àsaúde, conflitos armados e locais derefugiadosEscolas
Para muitas jovens, o lugar onde a coação e oassédio sexual acontecem com maior freqüência é naescola. Em um caso extremo de violência em 1991, 71adolescentes foram estupradas por seus colegas declasse e 19 outras foram assassinadas em uma escolaem Meru, no Quênia (71). Visto que grande parte dapesquisa neste campo provém da África, não ficaclaro se ela reflete uma ocorrência particularmentealta do problema naquele lugar ou se simplesmentereflete o fato de que o problema tem se tornado maisaparente lá do que em outras partes do mundo.
O assédio dos meninos às meninas parece ser umproblema global. No Canadá, por exemplo, 23% dasmeninas passaram pela experiência do assédio sexualquando freqüentavam a escola (72). A pesquisarealizada na África, contudo, tem dado destaque aopapel que os professores desempenham ao facilitarou perpetrar a coação sexual. Um relatório preparado
(continuação)
pelo Africa Rights [Direitos da África] (28) reveloucasos - ocorridos na África do Sul, em Gana, na Nigéria,na República Democrática do Congo, na Somália, noSudão, na Zâmbia e no Zimbábue - de professorestentando obter sexo em troca de boas notas ou paranão reprovarem os alunos. Uma pesquisa nacionalrecente, realizada na África do Sul, que incluíaperguntas sobre experiência com estupro antes dos15 anos de idade, chegou à conclusão de que osprofessores das escolas eram responsáveis por 32%dos estupros infantis revelados (34). No Zimbábue,um estudo retrospectivo de denúncias de casos deabuso sexual infantil que cobria um período de oitoanos (1990 a 1997) revelou altos índices de abusosexual cometido por professores em escolas primáriasrurais. Muitas das vítimas eram meninas na faixa etáriade 11 a 13 anos e o tipo de abuso sexual predominanteera sexo com penetração (73).
Estabelecimentos de assistência à saúdeHá, em muitos lugares, relatos de violência sexual
contra pacientes em estabelecimentos de saúde (74 -79). Por exemplo, um estudo realizado nos EstadosUnidos sobre médicos que foram submetidos amedidas disciplinares por causa de crimes sexuaisrevelou que o número de casos havia aumentado de42 em 1989 para 147 em 1997, com a proporção detoda ação disciplinar relacionada a sexo aumentandode 2,1% para 4,4% no mesmo período (76). Contudo,o aumento poderia refletir uma maior boa vontadepara instaurar processos.
Outras formas documentadas de violência contrapacientes do sexo feminino incluem o envolvimentode funcionários médicos na prática de clitoridectomiano Egito (80), exames ginecológicos forçados eameaça de abortos forçados na China (81) , einspeções de virgindade na Turquia (82) . Aviolência sexual é parte de um problema maior deviolência contra pacientes do sexo femininoperpetrada pelos funcionários da área de saúde que
CAPÍTULO 6. VIOLÊNCIAJUVENIL• 153
154 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
tem sido relatado em muitos países e, atérecentemente, foi muito negligenciado (83 - 87).Também há relatos de assédio sexual praticado pormédicos contra enfermeiras (88, 89).
Conflitos armados e locais derefugiados
O estupro tem sido utilizado como uma estratégiaem muitos conflitos, inclusive na Coréia durante aSegunda Guerra Mundial e em Bangladesh durantea guerra da independência. Também foi utilizado emdiversos conflitos armados, como os da Argélia (90),da Índia (Cachemira) (91), da Indonésia (92), daLibéria (29), de Ruanda e de Uganda (93). Em algunsconflitos armados - por exemplo, os de Ruanda edos Estados da antiga Iugoslávia - o estupro temsido utilizado como uma estratégia deliberada paraarruinar os laços comunitários e, conseqüentemente,o inimigo, além de ser usado como um instrumentode "dominação étnica". No Timor Leste, houverelatos de violência sexual extensiva contra asmulheres, cometida pelos militares indonésios (94).
Um estudo realizado em Monróvia, na Libéria,revelou que, durante o conflito, as mulheres na faixaetária abaixo de 25 anos tinham maior probabilidadede terem passado por uma tentativa de estupro oucoação sexual do que as mulheres na faixa etáriaacima de 25 anos (18% contra 4%) (29). As mulheresque foram forçadas a cozinhar para uma facçãoguerrilheira estavam sob risco significativamentemaior.
Outra conseqüência inevitável dos conflitosarmados é a quebra econômica e social que podeforçar um grande número de pessoas à prostituição(94), uma observação que pode ser igualmenteaplicada à situação dos refugiados, estejam elesfugindo de conflitos armados ou de desastresnaturais tais como enchentes, terremotos ou fortestempestades.
Os refugiados que estão fugindo de conflitosou de outras condições ameaçadoras geralmenteficam sob risco de estupro em seu novo ambiente.Dados do Alto Comissariado das Nações Unidaspara Refugiados, por exemplo, indicam que entre as"pessoas de barco" que fugiram do Vietnã no finalda década de 1970 e no início da década de 1980,39% das mulheres foram raptadas ou estupradaspor piratas enquanto estavam no mar - um númeroque parece estar subestimado (27). Da mesmaforma, em muitos campos de refugiados, inclusiveos do Quênia e da República Unida da Tanzânia,
descobriu-se que o estupro é um grande problema(95, 96).
Formas "costumeiras" de violênciasexualCasamento infantil
O casamento geralmente é utilizado para legitimardiversas formas de violência sexual contra asmulheres. O costume de casar crianças pequenas,especialmente as meninas, é observado em muitaspartes do mundo. Essa prática, legal em muitos países,é uma forma de violência sexual, já que as criançasenvolvidas não são capazes de dar ou negar seuconsentimento. A maioria delas pouco ou nada sabesobre sexo antes de se casarem. Assim sendo,freqüentemente temem o sexo (97) e seus primeirosencontros sexuais geralmente são forçados (98).
O casamento precoce é mais comum na África eno sul da Ásia, apesar de também ocorrer no OrienteMédio e em partes da América Latina e da EuropaOriental (99, 100). Na Etiópia e em partes da ÁfricaOcidental, por exemplo, o casamento na idade de 7ou 8 anos não é raro. Na Nigéria, a média de idadeno primeiro casamento é de 17 anos, mas no Estadode Kebbi no norte da Nigéria, a média de idade noprimeiro casamento é de 11 anos (100). Tambémforam observados altos índices de casamentoinfantil na República Democrática do Congo, emMali, em Niger e em Uganda (99, 100).
No sul da Ásia, o casamento infantil é comumespecialmente em áreas rurais, mas ocorre tambémem áreas urbanas (100 - 102). No Nepal, a média deidade no primeiro casamento é de 19 anos. Sete porcento das meninas, contudo, se casam antes dos 10anos de idade, e 40% por volta dos 15 anos (100).Na Índia, a média de idade para as mulheres noprimeiro casamento é de 16,4 anos. Uma pesquisarealizada entre 5 mil mulheres no Estado deRajasthan, na Índia, revelou que 56% das mulhereshaviam se casado antes dos 15 anos e, dessas, 17%se casaram antes dos 10 anos de idade. Outrapesquisa, realizada no Estado de Madhya Pradesh,revelou que 14% das meninas se casaram na idadede 10 a 14 anos (100).
Em outros lugares como na América Latina, porexemplo, verificou-se que o primeiro casamentoocorre em idade tenra em Cuba, na Guatemala, emHonduras, no México e no Paraguai (99, 100). NaAmérica do Norte e na Europa Ocidental, menos de5% dos casamentos envolve meninas com idadeabaixo de 19 anos (por exemplo, 1% no Canadá, naSuíça e no Reino Unido, 2% na Alemanha e na
CAPÍTULO 6. VIOLÊNCIAJUVENIL• 155
Bélgica, 3% na Espanha e 4% nos Estados Unidos)(103).
Outros costumes que levam àviolência
Em muitos lugares, há costumes diferentes docasamento infantil que resultam em violência sexualem relação às mulheres. No Zimbábue, por exemplo,há o costume do ngozi, segundo o qual uma meninapode ser dada a uma família como compensaçãopela morte de um homem que tenha sido causadapor um membro da família da menina. Ao atingir apuberdade, espera-se que a menina tenha relaçãosexual com o irmão ou com o pai da pessoa morta,para gerar um filho para substituir o que morreu. Háainda outro costume, o chimutsa mapfiwa - herançada mulher - conforme o qual, quando uma mulhercasada morre, sua irmã é obrigada a substituí-la nolar matrimonial.
Quais os fatores de risco para a violênciasexual?
Devido às múltiplas formas que adquire e aoscontextos onde ocorre, é complicado explicar aviolência sexual contra as mulheres. Há uma grandejustaposição entre as formas de violência sexual e aviolência praticada por parceiro íntimo; muitas dascausas são semelhantes às discutidas no Capítulo4. Há fatores que aumentam o risco de alguém serforçado ao sexo, fatores que aumentam o risco deum homem forçar o sexo com outra pessoa e fatoresdentro do ambiente social, inclusive colegas efamília, que influenciam a probabilidade de estuproe a reação a ele. Pesquisas indicam que os diversosfatores se agregam, de modo que quanto mais fatoreshouver, maior será a probabilidade de violênciasexual. Além disso, um determinado fator pode variarem importância dependendo do estágio da vida.
Fatores que aumentam a vulnerabilidadedas mulheres
Uma das formas mais comuns de violência sexualno mundo todo é a perpetrada por um parceiro íntimo,levando à conclusão que, em termos de suavulnerabilidade à agressão sexual, um dos principaisfatores de risco para as mulheres é ser casada ouviver junto com um parceiro. Outros fatores queinfluenciam o risco de violência sexual incluem:
— ser jovem,— consumir álcool ou drogas,
— já ter sido estuprada ou ter sofrido abusosexual,— ter muitos parceiros sexuais,— envolvimento em trabalho sexual,— vir a ter maior educação e poder econômico, pelo menos quando a violência sexual perpetrada por parceiro íntimo está envolvida e— pobreza.
IdadeNormalmente as mulheres jovens estão sob
maior risco de estupro do que as mulheres maisvelhas (24, 62, 104). Conforme dados dos sistemasjudiciários e dos centros de crise para estupro noChile, nos Estados Unidos, na Malásia, no México,em Papua Nova Guiné e no Peru, de um terço a doisterços das vítimas de agressão sexual têm 15 anosou menos (62, 104). Determinadas formas deviolência sexual, por exemplo, estão fortementeassociadas à juventude, especialmente a violênciaque acontece nas escolas e nas faculdades, bemcomo o tráfico de mulheres para exploração sexual.
Consumo de álcool e drogasTambém há uma forte relação entre o aumento devulnerabilidade à violência sexual e o uso de álcoole outras drogas. O consumo de álcool ou drogas fazcom que seja mais difícil as mulheres se protegerem,interpretando os indícios e efetivamente agindodiante deles. A ingestão de álcool também podecolocar a mulher em locais onde suas chances deencontrar um potencial agressor são maiores (105).
Já ter sido estuprada anteriormenteou ter sofrido abuso sexual
Há evidências que vinculam a experiência deabuso sexual na infância ou adolescência aospadrões de vitimização na fase adulta (24, 37, 105 -108). Um estudo nacional sobre violência contra asmulheres, realizado nos Estados Unidos, concluiuque as mulheres que foram vítimas de estupro antesdos 18 anos de idade tinham o dobro daprobabilidade de serem estupradas quando adultas,comparadas às mulheres que não haviam sidoestupradas quando crianças ou adolescentes (18,3%e 8,7%, respectivamente) (37). Os efeitos do abusosexual em idade tenra também podem estender-se aoutras formas de vitimização e a problemas durantea fase adulta. Por exemplo, um estudo de controle
156 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
de caso realizado na Austrália sobre o impacto, emlongo prazo, do abuso mostrou que o abuso sexualinfantil e a experiência de estupro têm associaçõessignificativas com problemas de saúde sexual emental, problemas de violência doméstica e outrosproblemas em relações íntimas - mesmo depois delevar em consideração várias outras característicasdo histórico familiar (108) . As pessoas quepassaram por experiências de abuso envolvendorelação sexual tiveram resultados mais negativosdo que as que sofreram outro tipo de coação.
Ter muitos parceiros sexuaisAs jovens que têm muitos parceiros sexuais estão
sob maior risco de violência sexual (105, 107, 109).Contudo, não está claro se ter mais parceiros sexuaisé uma causa ou uma conseqüência do abuso,inclusive do abuso sexual na infância. Por exemplo,os resultados de uma amostra representativa dehomens e mulheres em León, Nicarágua, revelaramque mulheres que haviam vivenciado o estupro,tentado ou consumado, durante a infância ou aadolescência tinham maior probabilidade de ter umnúmero maior de parceiros sexuais na fase adulta, emcomparação a mulheres que não haviam sofrido abusoou que sofreram abuso moderado (110). Estudoslongitudinais sobre mulheres jovens realizados naNova Zelândia e na Noruega apresentaram resultadossemelhantes (107, 109).
Nível de educaçãoQuando aumentam seu nível de educação e,
conseqüentemente, adquirem maior poder, asmulheres ficam sob maior risco de violência sexual,assim como de violência física cometida por parceiroíntimo. As mulheres que não têm educação, segundouma pesquisa realizada na África do Sul, têm umaprobabilidade muito menor de vivenciar a violênciasexual do que as mulheres com níveis mais elevadosde educação (34). No Zimbábue, a probabilidade deuma mulher que estivesse trabalhando relatarepisódios de sexo forçado por um cônjuge era muitomaior do que as mulheres que não trabalhavam (42).Uma explicação possível é que um aumento no podertraz consigo mais resistência por parte das mulheresem relação às normas patriarcais (111), de tal formaque os homens podem recorrer à violência em umatentativa de retomar o controle. A relação entreaumento de poder e a violência física assume formade U invertido - onde o maior poder corresponde aum maior risco até um certo nível, depois do qual
começa a se tornar uma proteção (105, 112). Contudo,não se sabe se essa situação também é válida para aviolência sexual.
PobrezaAs mulheres e as meninas pobres correm mais
risco de estupro enquanto desempenham suas tarefasdiárias do que as que desfrutam de uma situaçãomelhor. Um exemplo desse risco é quando elas voltamdo trabalho para casa sozinhas, tarde da noite, ouquando trabalham nos campos ou quando recolhemmadeira sozinhas. Os filhos de mulheres pobres podemter menos supervisão dos pais, uma vez que suasmães podem estar no trabalho e não terem condiçõesde pagar uma creche. Na verdade, as próprias criançaspodem estar trabalhando e, portanto, ficaremvulneráveis à exploração sexual.
A pobreza força muitas mulheres e muitas meninasa ocupações que trazem um risco relativamente altode violência sexual (113), especialmente o trabalhosexual (114). Ela também cria enormes pressões paraque as mulheres e meninas encontrem ou mantenhamtrabalhos, busquem atividades comerciais e, seestiverem estudando, para que obtenham boas notas- tudo isso as deixa mais vulneráveis à coação sexualpor parte dos que podem prometer algo (28). A smulheres mais pobres também estão sob maior riscode violência cometida por parceiro íntimo, da qual aviolência sexual geralmente é uma manifestação (41,115).
Fatores que aumentam o risco dehomens cometerem estupro
Os dados sobre homens sexualmente violentossão limitados e apresentam muitos desvios em relaçãoaos possíveis estupradores, exceto nos EstadosUnidos, onde também foram feitas pesquisas entreestudantes do sexo masculino. Apesar da quantidadelimitada de informações sobre homens sexualmenteviolentos, parece que a violência sexual pode serencontrada em quase todos os países (embora comdiferenças na prevalência), em todas as classessocioeconômicas e em todas as faixas etárias a partirda infância. Os dados sobre homens sexualmenteviolentos também mostram que a maioria deles agecontra mulheres que eles já conhecem (116, 117).Entre os fatores que aumentam o risco de um homemcometer estupro, há os relacionados a atitudes ecrenças, bem como o comportamento que surge apartir de situações e condições sociais que oferecem
CAPÍTULO 6. VIOLÊNCIAJUVENIL• 157
oportunidades e apoio para o abuso (ver Tabela 6.4).
Consumo de álcool e drogasEm certos tipos de agressão sexual, o álcool tem
mostrado desempenhar um papel desinibidor (118),assim como as drogas, especialmente a cocaína (119).O álcool produz efeito psicofarmacológico de reduziras inibições, anuviando os julgamentos e impedindoa capacidade de interpretar os indícios (120). Osvínculos biológicos entre a violência e o álcool,contudo, são complexos (118). Pesquisas sobre aantropologia social do consumo de álcool sugeremque as ligações entre violência, consumo de álcool eembriaguez são socialmente aprendidas, em vez deserem universais (121). Alguns pesquisadoresobservaram que o álcool pode atuar como um"intervalo" cultural, oferecendo a oportunidade paraum comportamento anti-social. Assim, é maisprovável que os homens ajam com violência quandoestão embriagados, porque acham que não serãoresponsabilizados por seu comportamento. Algumasformas da violência sexual em grupo também estãoassociadas ao consumo de álcool. Nesses ambientes,o consumo de álcool é um ato de união do grupo,onde as inibições são coletivamente reduzidas e ojulgamento individual é desconsiderado em favor dojulgamento do grupo.
Fatores psicológicosNos últimos tempos, muito tem sido feito em
termos de pesquisa a respeito do papel das variáveiscognitivas entre o conjunto de fatores que podemconduzir ao estupro. Os homens sexualmenteviolentos têm mostrado uma maior probabilidade deconsiderar as vítimas responsáveis pelo estupro etêm menos conhecimento do impacto do estuprosobre as vítimas (122). Esses homens podem
interpretar mal os indícios dados pelas mulheres emsituações sociais e podem não ter as inibições queatuam para suprimir as associações entre sexo eagressão (122, 123). Eles têm fantasias sexuaisvexatórias (122, 123), geralmente estimuladas peloacesso à pornografia (124) e, de forma geral, sãomais hostis às mulheres do que os homens que nãosão sexualmente violentos (106, 125, 126). Alémdesses fatores, acredita-se que os homenssexualmente violentos sejam diferentes dos outroshomens em termos de impulsividade e tendênciasanti-sociais (105). E também tendem a ter um sensode masculinidade exagerado.
A violência sexual também está associada a umapreferência por relações sexuais impessoais emoposição aos laços emocionais, a ter muitos parceirossexuais e uma inclinação a satisfazer os desejospessoais às custas dos outros (125, 127). Uma outraassociação é com atitudes adversas sobre gênero,que afirmam que as mulheres são oponentes a seremdesafiadas e conquistadas (128).
Fatores relacionados aos amigos e àfamíliaEstupro cometido por gangue
Algumas formas de violência sexual, tal como oestupro cometido por gangue, sãopredominantemente cometidas por homens jovens(129). Em geral, a agressão sexual é uma característicaque define a masculinidade em um grupo e estábastante ligada ao desejo de ser tido em altaconsideração (130). O comportamento sexualmenteagressivo dos jovens tem sido vinculado àparticipação em gangues e ao fato de ter colegasdelinqüentes (126, 131). As pesquisas tambémsugerem que os homens que têm colegas
158 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
sexualmente agressivos têm muito maisprobabilidade de revelar relações coagidas ouforçadas fora do contexto da gangue, do que oshomens que não têm colegas sexualmenteagressivos (132).
De forma geral, os homens envolvidos noestupro cometido por gangue – e às vezes outraspessoas também - encaram o estupro como legítimo,uma vez que o vêem como uma forma dedesencorajar ou punir comportamentos "imorais"entre as mulheres, como usar saias curtas oufreqüentar bares. Por este motivo, os perpetradoresnão encaram o estupro como um crime. Em diversasáreas de Nova Papua Guiné, as mulheres podem serpunidas com estupro coletivo, geralmentesancionado pelos mais velhos (133).
Ambientes da primeira infânciaHá evidências que indicam que, para alguns
homens, a violência sexual também é umcomportamento aprendido, especialmente no quediz respeito ao abuso sexual. Estudos sobre meninosque sofreram abuso sexual mostraram que um emcada cinco continua a molestar crianças quando maisvelhos (134). Essas experiências podem levar a umpadrão de comportamento onde o homemgeralmente justifica sua violência, nega que estejafazendo algo errado e tem noções falsas e doentiassobre sexualidade.
Ambientes da infância fisicamente violentos, semapoio emocional e caracterizados pela competiçãopor escassos recursos têm sido associados àviolência sexual (105, 126, 131, 135). Ocomportamento sexualmente agressivo do jovem, porexemplo, tem sido vinculado ao testemunho deviolência familiar e ao fato de ter pais emocionalmenteafastados e que não cuidam dos filhos (126, 131).Os homens criados em famílias com fortes estruturaspatriarcais, também estão mais propensos a setornarem violentos, cometerem estupro e utilizarem acoação sexual contra as mulheres, bem comoabusarem de suas parcerias íntimas, do que oshomens criados em lares que são mais igualitários(105).
Honra da família e pureza sexualOutro fator que envolve os relacionamentos
sociais é uma resposta da família à violência sexualque culpa as mulheres sem punir os homens,concentrando-se em restaurar a honra da família quefoi "perdida". Esse tipo de resposta cria um ambiente
onde o estupro pode acontecer impunemente.Enquanto as famílias normalmente tentarão
proteger suas mulheres contra o estupro, até mesmooferecendo contraceptivos a suas filhas para, casoo estupro venha a ocorrer, evitar sinais visíveis(136), dificilmente há muita pressão social paracontrolar os homens jovens ou convencê-los deque forçar o sexo é errado. Em muitos países aconteceexatamente o contrário, onde freqüentemente háapoio para os membros da família fazerem o que fornecessário – inclusive cometer assassinato – paraaliviar a "vergonha" associada ao estupro ou a outratransgressão sexual. Em uma análise sobre todos oscrimes de honra acontecidos na Jordânia em 1995(137), os pesquisadores descobriram que em maisde 60% dos casos, a vítima morreu de múltiplosferimentos a bala, principalmente nas mãos de umirmão. Em casos onde a vítima era uma mulher solteiragrávida, o criminoso era absolvido de assassinatoou recebia uma sentença reduzida.
Apesar de geralmente a pobreza ser a força motrizsubjacente ao casamento infantil, fatores tais comomanter a pureza sexual de uma menina e protegê-lado sexo antes do casamento, de infecção por HIV ede investidas sexuais também são razões geralmenteapresentadas pelas famílias para justificar taiscasamentos (100).
Fatores comunitáriosPobrezaA pobreza está ligada tanto à perpetração de violênciasexual quanto ao risco de ser vítima dela. Diversosautores argumentam que a relação entre pobreza e aperpetração de violência sexual aparece em formasde crise de identidade masculina (95, 112, 138 - 140).Bourgois, quando escreve sobre a vida no Harlem,Nova Iorque, Estados Unidos (138), descreve comoos homens jovens se sentiam pressionados pelaestrutura familiar e pelos modelos de masculinidade"bem sucedida" herdados das gerações de seus paise avós, junto com os ideais atuais de masculinidadeque também enfatizam o consumo material.Entrincheirados em suas favelas, com pouca ounenhuma oportunidade de emprego, é poucoprovável que eles cheguem a realizar algum dessesmodelos ou das expectativas de " sucesso" masculino.Nessas circunstâncias, os ideais de masculinidadesão reformulados para enfatizar a misoginia, o abusode substâncias e a participação em crimes (138) – egeralmente também a xenofobia e o racismo. O estuprocometido por gangue e a conquista sexual são
CAPÍTULO 6. VIOLÊNCIAJUVENIL• 159
regularizados, uma vez que, ao não conseguirem maisexercer o controle patriarcal ou dar apoio econômico,os homens voltam sua agressão contra as mulheres.
Ambiente físico e socialEmbora o medo de estupro seja normalmente
associado ao fato de estar fora de casa (141, 142), agrande maioria da violência sexual na verdadeacontece na casa da vítima ou do perpetrador doabuso. Contudo, o seqüestro cometido por umestranho geralmente é o prelúdio de um estupro e asoportunidades para se cometer tal seqüestro sãoinfluenciadas pelo ambiente físico.
Entretanto, o ambiente social dentro de umacomunidade é, em geral, mais importante do que avizinhança física. Quanto mais enraizadas forem ascrenças de uma comunidade na superioridademasculina e no direito masculino ao sexo, maior seráa influência sobre a possibilidade de a violência sexualocorrer, e de haver tolerância geral na comunidadeem relação à agressão sexual e isso influenciar o pesodas sanções, caso haja alguma, contra osperpetradores (116, 143). Por exemplo, em algunslugares o estupro pode acontecer até mesmo empúblico e os transeuntes se recusam a intervir (133).As queixas de estupro também podem ser tratadascom descaso pela polícia, especialmente se a agressãofor cometida durante um encontro ou pelo marido davítima. Quando as investigações policiais e os casosno tribunal realmente têm prosseguimento, osprocedimentos também podem ser extremamenteindulgentes ou corruptos - por exemplo, "perdendo"a documentação legal em troca de suborno.
Fatores sociaisOs fatores que atuam em nível social e que
influenciam a violência sexual incluem leis e políticasnacionais relativas à igualdade de gêneros em gerale, mais especificamente, à violência sexual, bem comoas normas que tratam do uso da violência. Enquantoos diversos fatores atuam bastante em nível local,dentro das famílias, das escolas, dos locais de trabalhoe das comunidades, há também influências das leis edas normas que atuam em nível nacional e até mesmointernacional.
Leis e politicosEntre os países, há variações consideráveis no
tocante às abordagens da violência sexual. Algunspaíses têm uma legislação e procedimentos legais delongo alcance, com uma ampla definição de estupro,
que inclui estupro marital, e com pesadas penalidadespara os condenados e uma forte resposta de apoio àsvítimas. O compromisso com a prevenção ou ocontrole da violência sexual também se reflete emênfase no treinamento policial e alocação apropriadanão só dos recursos da polícia para o problemapriorizando a investigação de casos de agressãosexual, mas também dos recursos disponibilizadospara apoio às vítimas e provisão de serviços médico-legais. Na outra ponta da escala, há os países comabordagens muito fracas em relação ao assunto - ondenão é permitida a condenação de um perpetradoracusado com base somente na evidência fornecidapelas mulheres, onde certas formas ou determinadoscenários de violência sexual são especificamenteexcluídos da definição legal, e onde as vítimas deestupro são bastante desencorajadas a levar oassunto aos tribunais, por medo de serem punidaspor abrirem um processo de estupro "sem provas".
Normas sociaisA violência sexual cometida pelos homens é, em
grande parte, enraizada em ideologias do direito sexualmasculino. Esses sistemas de crenças garantem àsmulheres pouquíssimas opções legitimadas de negaras investidas sexuais (139, 144, 145). Assim, muitoshomens simplesmente excluem a possibilidade depoderem ser rejeitadas suas investidas sexuais contrauma mulher ou de uma mulher ter o direito a tomaruma decisão autônoma sobre sua participação nosexo. Em muitas culturas, as mulheres, assim comoos homens, consideram que o casamento confere àmulher a obrigação de estar sexualmente disponívelpraticamente sem limites (34, 146), apesar de o sexopoder ser culturalmente proibido em determinadosperíodos, tais como após o nascimento de um filhoou durante a menstruação (147).
As normas sociais sobre o uso da violência comouma forma de atingir os objetivos têm sidoextremamente associadas à ocorrência de estupro.Em sociedades onde a ideologia da superioridademasculina é forte – enfatizando o domínio, a forçafísica e a honra masculina - o estupro é mais comum(148). Os países com uma cultura de violência, ouonde estão acontecendo conflitos violentos,vivenciam um aumento em quase todas as formas deviolência, inclusive a violência sexual (148 - 151).
Tendências mundiais e fatoreseconômicos
Muitos dos fatores que operam em nível nacional
160 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
têm uma dimensão internacional. As tendênciasmundiais em relação ao livre comércio, por exemplo,têm sido acompanhadas por um aumento nomovimento de mulheres e meninas para o trabalho,inclusive para o trabalho sexual (152), no mundotodo. Os programas de ajuste econômico, preparadospor agências internacionais, têm acentuado a pobrezae o desemprego em diversos países, aumentandoassim a probabilidade do tráfico sexual e da violênciasexual (153) – um fato particularmente observado naAmérica Central, no Caribe (114) e em partes da África(113).
As conseqüências da violência sexualNem sempre a força física é necessariamente
utilizada no estupro e as lesões físicas nem sempresão uma conseqüência. Sabe-se que acontecemmortes associadas a estupro, apesar de no mundotodo a ocorrência de fatalidades variarconsideravelmente. Entre as conseqüências maiscomuns da violência sexual, há aquelas relacionadasà saúde reprodutiva, mental e ao bem-estar social.
Gravidez e complicações ginecológicasUm estupro pode resultar em gravidez, apesar de
o índice variar conforme os cenários e dependerespecialmente de até que ponto estarem sendo usadoscontraceptivos que não são de barreira. Um estudosobre adolescentes na Etiópia revelou que, dentre asadolescentes que relataram ter sido estupradas, 17%ficaram grávidas depois do estupro (154), um númerosemelhante aos 15 - 18% relatados pelos centros decrises de estupro no México (155, 156). Um estudolongitudinal realizado nos Estados Unidos com maisde 4 mil mulheres acompanhadas por três anosconsecutivos revelou que o índice nacional degravidez relacionada a estupro era de 5,0% por estuproentre as vítimas na faixa etária de 12 a 45 anos,resultando, a cada ano, em mais de 32 mil gravidezesdecorrentes de estupro no país (7). Em muitos países,as mulheres que foram estupradas são forçadas acriar a criança ou colocar suas vidas em risco devidoa abortos clandestinos.
A experiência de sexo forçado em idade tenra reduza capacidade de uma mulher de encarar suasexualidade como algo que ela controla.Conseqüentemente, é menos provável que umaadolescente que tenha sido forçada ao sexo venha ausar preservativos ou outras formas de contracepção,aumentando a probabilidade de ficar grávida (4, 16,157, 158). Um estudo sobre os fatores associados à
gravidez na adolescência realizado na Cidade do Cabo,África do Sul, constatou que a iniciação sexual forçadaera o terceiro fator mais relacionado à gravidez, depoisda freqüência de relações sexuais e do uso decontraceptivos modernos (4). O sexo forçado tambémpode resultar em uma gravidez indesejada entre asmulheres adultas. Na Índia, um estudo sobre homenscasados revelou que os homens que admitemforçarem o sexo com suas esposas tinham 2,6 maispossibilidade de terem causado uma gravidezindesejada do que os que não admitiam talcomportamento (41).
Geralmente, são observadas complicaçõesginecológicas relacionadas ao sexo forçado. Dentreessas complicações, há o sangramento ou a infecçãovaginal, tumores fibróides, diminuição do apetitesexual, irritação genital, dor durante a relação sexual,dor pélvica crônica e infecções do trato urinário (8 -15). As mulheres que passam por abuso físico e sexualperpetrado por parceiros íntimos estão, de forma geral,sob maior risco de problemas de saúde do que as quepassam somente pela violência física (8, 14).
Doenças sexualmente transmitidasAs infecções por HIV e outras doenças
sexualmente transmitidas são conseqüênciasreconhecidas do estupro (159). Pesquisas sobremulheres em abrigos mostraram que as mulheresque passam pelo abuso sexual e físico cometido porseus parceiros íntimos estão muito mais propensasa terem tido doenças sexualmente transmitidas(160). No caso das mulheres que foram traficadaspara o trabalho sexual, os riscos de HIV e de outrasdoenças sexualmente transmitidas sãoparticularmente elevados. Os vínculos entre HIV eviolência sexual, e as relevantes estratégias deprevenção, são discutidos no Quadro 6.2.
Saúde mentalA violência sexual tem sido associada a diversos
problemas de saúde mental e de comportamento naadolescência e na fase adulta (17-20, 22, 23, 161).Em um estudo populacional, a ocorrência de sintomasou sinais indicativos de um problema psiquiátrico foide 33% em mulheres com um histórico de abuso sexualquando adultas, 15% em mulheres com um históricode violência física perpetrada por um parceiro íntimoe 6% entre mulheres que não sofreram abusos (162).A violência sexual praticada por um parceiro íntimoagrava os efeitos da violência física sobre a saúdemental.
CAPÍTULO 6. VIOLÊNCIAJUVENIL• 161
As mulheres que sofreram abuso e que relatamexperiências de sexo forçado estão sob um riscomuito maior de depressão e estresse pós-traumáticodo que as mulheres que não sofreram abuso (14,18, 22, 23). Os problemas de estresse pós-traumático depois de um estupro são mais prováveisse houver lesão durante o estupro, ou um históricode depressão ou abuso de álcool (24). Um estudovoltado para adolescentes realizado na Françatambém constatou uma relação entre ter sidoestuprada e dificuldades presentes de dormir,sintomas de depressão, queixas somáticas, fumo eproblemas de comportamento, tais comocomportamento agressivo, roubo e vadiagem (163).Na ausência de aconselhamento para o trauma,percebeu-se que os efeitos psicológicos negativospersistiram por, pelo menos, um ano após o estupro,enquanto os problemas e os sintomas de problemasde saúde física tendem a diminuir nesse período(164). Mesmo com aconselhamento, até 50% dasmulheres mantêm os sintomas de estresse (165 -167).
Comportamento suicidaAs mulheres que passaram por agressão física na
infância ou na fase adulta estão mais propensas atentar suicídio, ou a cometê-lo, do que as outrasmulheres (21, 168 - 173). A associação permanece,mesmo depois do controle de sexo, idade, educação,sintomas de problemas de estresse pós-traumático ea presença de problemas psiquiátricos (168, 174). Aexperiência de ser estuprada ou agredida sexualmentepode levar ao comportamento suicida logo no inícioda adolescência. Na Etiópia, 6% das estudantesestupradas relataram ter tentado suicídio (154). Umestudo sobre adolescentes realizado no Brasil revelouque a ocorrência de abuso sexual é um dos principaisfatores indicativos de diversos comportamentos derisco à saúde, inclusive pensamentos suicidas etentativas de suicídio (161).
As experiências de diversos assédios sexuaistambém podem resultar em distúrbios emocionais ecomportamento suicida. Um estudo com mulheresadolescentes no Canadá revelou que 15% das quevivenciam contato sexual indesejado e freqüentemostraram um comportamento suicida nos seis mesesanteriores, em comparação a 2% das que nunca haviamsofrido tal assédio (72).
Ostracismo socialEm muitos cenários culturais, sustenta-se que os
homens não conseguem controlar suas necessidadessexuais e que as mulheres são responsáveis porprovocar o desejo sexual nos homens (144). A maneiracomo as famílias e as comunidades reagem aos atosde estupro em tais cenários é determinada pelas idéiaspredominantes sobre sexualidade e condição damulher.
Em algumas sociedades, a "solução" cultural parao estupro é que a mulher deve se casar com oestuprador, preservando assim a integridade damulher e de sua família ao legalizar a união (175).Essa "solução" encontra-se refletida nas leis dealguns países, que permitem que um homem que tenhacometido o estupro seja desculpado de seu crime seele se casar com a vítima (100). Independentementedo casamento, as famílias podem pressionar a mulhera não denunciar ou dar continuidade ao caso, ou aconcentrar-se em obter a indenização por "danos", aser paga pela família do estuprador (42, 176). Oshomens rejeitam suas mulheres caso tenham sidoestupradas (27) e, em alguns países, comomencionado anteriormente, a recuperação da honrarequer que a mulher seja posta para fora ou, em casosextremos, assassinada (26).
O que pode ser feito para evitar a violênciasexual?O número de iniciativas voltadas para a violênciasexual é limitado e poucas foram avaliadas. A maioriadas intervenções foi desenvolvida e implementadaem países industrializados. Ainda não se sabe bem arelevância das mesmas em outros cenários. Asintervenções desenvolvidas até o momento podemser classificadas como segue.
Abordagens individuaisAssistência e apoio psicológicos
O aconselhamento, a terapia e as iniciativas degrupos de apoio têm-se mostrado de grande auxíliologo após as agressões sexuais, especialmente ondepuder haver fatores complicadores relativos àviolência propriamente dita ou ao processo derecuperação. Há algumas evidências de que umprograma cognitivo-comportamental breve,administrado logo após a agressão, pode acelerar oíndice de melhora do dano psicológico resultante dotrauma (177, 178). Como mencionado anteriormente,as vítimas de violência sexual às vezes se culpampelo incidente, e o fato de lidarem com essa questãona terapia psicológica também se tem mostrado
Quadro 6.2
Violência sexual e HIV/AIDSO sexo violento ou forçado pode aumentar o risco de transmissão de HIV. Na penetração
vaginal forçada, comumente ocorrem abrasões e cortes, facilitando assim a entrada do vírus -quando presente - através da mucosa vaginal. As adolescentes são especialmente suscetíveis àinfecção por HIV por meio do sexo forçado, e mesmo pelo sexo não forçado, porque o muco de suamembrana vaginal ainda não adquiriu a densidade celular que provê uma barreira eficaz, que só édesenvolvida nos últimos anos da adolescência. As pessoas que sofrem estupro anal - homens emeninos, bem como mulheres e meninas - também são bem mais suscetíveis ao HIV do que oseriam se o sexo não fosse forçado, uma vez que os tecidos anais são facilmente danificados,novamente oferecendo ao vírus uma entrada mais fácil para o corpo.
O fato de ser uma vítima de violência sexual e o de ser suscetível ao HIV compartilham dediversos comportamentos de risco. O sexo forçado na infância ou na adolescência, por exemplo,aumenta a probabilidade de participar de sexo sem proteção, ter diversos parceiros, participar detrabalho sexual e abuso de substâncias. As pessoas que passam pelo sexo forçado emrelacionamentos íntimos geralmente têm dificuldade em negociar o uso de preservativos - ouporque usar um preservativo poderia ser interpretado como duvidar de seu parceiro ou admitir apromiscuidade, ou por causa do medo de experimentar a violência de seu parceiro. A coaçãosexual entre adolescentes e adultos também está associada à baixa auto-estima e à depressão,fatores que são associados a muitos dos comportamentos de risco para infecção por HIV.
Estar infectado com HIV ou ter um membro da família soropositivo também pode aumentar orisco de sofrer violência sexual, especialmente para as mulheres. Devido ao estigma associado aoHIV e à AIDS em muitos países, uma mulher infectada pode ser expulsa de sua casa. Além disso,uma doença ou morte relacionada à AIDS pode resultar em uma situação econômica desesperadoraem um lar pobre. As mulheres podem ser forçadas ao trabalho sexual e, conseqüentemente,estarem sob maior risco tanto de HIV/AIDS quanto de violência sexual. As crianças que ficamórfãs por causa da AIDS, empobrecidas e sem ninguém para cuidar delas, podem ser forçadas aviver nas ruas, sob um considerável risco de abuso sexual.
Dentre as várias formas de reduzir a incidência tanto da violência sexual quanto da infecçãopor HIV, a educação talvez seja a mais importante. Para as pessoas jovens principalmente devehaver intervenções abrangentes em escolas e em outros estabelecimentos de educação, em gruposjovens e nos locais de trabalho. Os currículos escolares deveriam cobrir aspectos relevantes desaúde sexual e reprodutiva, relacionamentos e violência. Deveriam também ensinar habilidadespara a vida, inclusive como evitar situações de risco ou ameaçadoras relacionadas, por exemplo,a sexo, violência ou drogas, e como negociar um comportamento sexual seguro.
Para a população adulta em geral deveria haver informações completas e acessíveis sobresaúde sexual e as conseqüências de determinadas práticas sexuais, bem como intervenções paramudar os padrões prejudiciais de comportamento e as normas sociais que impedem a comunicaçãoem assuntos relacionados a sexo.
É importante que os trabalhadores da área de saúde e outros provedores de serviço recebamtreinamento integrado sobre gênero e saúde reprodutiva, inclusive violência de gênero e doençassexualmente transmitidas, como infecção por HIV.
Para as vítimas de estupro, deveria haver uma seleção e um encaminhamento para serviçosvoltados para infecção por HIV. Além disso, pode-se considerar o uso de profilaxia pós-exposiçãoao HIV administrada logo após a agressão, juntamente com aconselhamento. Da mesma forma, énecessário que haja uma investigação minuciosa em relação às mulheres portadoras de HIV, a fimde se avaliar um possível histórico de violência sexual. Os programas voluntários deaconselhamento para HIV devem analisar a possibilidade de incorporar estratégias de prevençãocontra a violência.
162 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
importante para a recuperação (179) . Oaconselhamento em curto prazo e os programas detratamento após atos de violência sexual, contudo,requerem muito mais avaliação.
O apoio psicológico formal para quem passou porviolência sexual tem sido oferecido em grande partepelo setor não governamental, especialmente porcentros de crise de estupro e diversas organizaçõesde mulheres. Inevitavelmente, o número de vítimasde violência sexual que têm acesso a esses serviçosé pequeno. Uma solução para expandir o acesso écriar serviços de linha direta, preferencialmentegratuitos. Uma linha direta chamada Stop WomanAbuse [Pare o Abuso contra as Mulheres] na Áfricado Sul, por exemplo, atendeu 150 mil chamadas nosprimeiros 5 meses de funcionamento (180).
Programas para perpetradoresOs poucos programas direcionados aos
perpetradores de violência sexual são, de forma geral,voltados para homens condenados por agressão.Esses programas são encontrados principalmente empaíses industrializados e apenas recentementecomeçaram a ser avaliados (ver Capítulo 4 para obtermais informações sobre os programas). Uma respostacomum dos homens que cometem a violência sexualé negar que são responsáveis e que aquilo que elesestão fazendo seja violento (146, 181). A fim de seremeficazes, os programas que trabalham comperpetradores precisam fazer com que esses homensadmitam sua responsabilidade e que sejamconsiderados publicamente como responsáveis porsuas ações (182). Uma forma de se conseguir isso éatravés de programas cujo objetivo seja que homensperpetradores de violência sexual colaborem com osserviços de apoio às vítimas, bem como com ascampanhas contra violência sexual.
Habilidades para a vida e outrosprogramas educacionais
Nos últimos anos, diversos programas voltadospara promoção de saúde sexual e reprodutiva,especialmente os que promovem a prevenção contraHIV, começaram a introduzir a questão de gênero e alidar com o problema da violência física e sexualcontra as mulheres. Dois exemplos notáveis -desenvolvidos para a África, mas utilizados emdiversas partes do mundo em desenvolvimento - sãoo "Stepping Stones" [Passo das Pedras] e o "MenAs Partners" [Homens como Parceiros] (183, 184).
Esses programas foram elaborados para serem usadosem grupos semelhantes de homens e mulheres e sãoapresentados em diversas sessões sob forma deoficinas de trabalho, utilizando abordagens deaprendizagem participativa. Sua abordagemabrangente ajuda os homens, que de outra formarelutariam em participar de um programa que seconcentrasse somente na violência contra asmulheres, a participarem e discutirem diversosassuntos relativos à violência. Além disso, mesmoque os homens sejam perpetradores de violênciasexual, os programas têm muito cuidado em evitarrotulá-los como tal.
Uma análise sobre o efeito do programa SteppingStones na África e Ásia, revelou que as oficinasajudaram os homens participantes a assumir maiorresponsabilidade por suas ações, se relacionaremmelhor com os outros, terem maior respeito pelasmulheres e se comunicarem mais efetivamente. Comoresultado do programa, foram relatadas reduções naviolência contra as mulheres no Camboja, em Gâmbia,na África do Sul, em Uganda e na República Unida daTanzânia. Contudo, as avaliações realizadas até omomento utilizaram, de forma geral, métodosqualitativos e ainda são necessárias mais pesquisaspara testar adequadamente a eficácia do programa(185).
Abordagens de desenvolvimentoPara evitar a violência sexual, as pesquisas têm
realçado a importância de criar os filhos comincentivos e desempenhar o papel de pais de um modomelhor e mais equilibrado (124, 125). Ao mesmotempo, Schwartz (186) desenvolveu um método deprevenção que adota uma abordagem dedesenvolvimento com intervenções antes donascimento, durante a infância, na adolescência e noinício da fase adulta. Nesse modelo, o elemento pré-natal incluiria discussões sobre habilidades de serpai e mãe, estereótipo dos papéis dos gêneros,estresse, conflito e violência. Nos primeiros anos dainfância, os provedores de saúde buscariam essasquestões e introduziriam o abuso sexual infantil e aexposição à violência na mídia para formar a lista detópicos de discussão, bem como promoveriam o usode materiais educacionais não sexistas. No final dainfância, a promoção de saúde incluiria elementospara modelar comportamentos e atitudes a fim deevitar os estereótipos, estimulando as crianças adiferenciarem entre o toque "bom" e o "mau", emelhorando sua capacidade e sua confiança para
CAPÍTULO 6. VIOLÊNCIAJUVENIL• 163
tomarem o controle sobre seus próprios corpos. Essaintervenção daria espaço para conversas sobre aagressão sexual. Durante a adolescência e o início dafase adulta, as discussões cobririam mitos sobreestupro, maneira de se estabelecer limites para aatividade sexual e quebras de vínculos entre sexo,violência e coação. Mesmo que o modelo de Schwartztenha sido desenvolvido para ser usado em paísesindustrializados, alguns dos princípios envolvidospoderiam ser aplicados a países emergentes.
Respostas da assistência à saúdeServiços médico-legais
Em muitos países, onde se observa a existênciade violência sexual, o setor de saúde tem a tarefa decoletar evidências médicas e legais para corroborar odepoimento das vítimas ou para ajudar a identificar operpetrador. Uma pesquisa realizada no Canadá indicaque a documentação médico-legal pode aumentar achance de um perpetrador ser preso, processado oucondenado (187, 188). Por exemplo, um estudoconcluiu que a lesão física documentada,especialmente do tipo moderado a grave, estavaassociada a processos sendo impetrados -independente do nível de renda do paciente ou se opaciente conhecia o agressor, tanto como meroconhecido quanto como parceiro íntimo (188).Contudo, um estudo realizado em Nairóbi, no Quênia,sobre mulheres que procuravam um hospital logoapós um estupro, destacou o fato de que em muitospaíses as vítimas de estupro não são examinadas porum ginecologista ou um perito da polícia, bem comonão há protocolos ou diretrizes padrões sobre essaquestão (189).
O uso de protocolos e diretrizes padrões podeaumentar significativamente a qualidade dotratamento e o apoio psicológico às vítimas, assimcomo as evidências que são coletadas (190). Osprotocolos e as diretrizes abrangentes para mulheresvítimas de agressão deveriam conter:
— registro de uma descrição detalhada doincidente, listando todas as evidências coletadas;
— listagem do histórico ginecológico econtraceptivo da vítima;
— documentação padronizada dos resultadosde um exame físico completo;
— avaliação do risco de gravidez;— teste e tratamento de doenças sexualmente
transmitidas inclusive, quando necessário, teste paraHIV;
— fornecimento de contraceptivo de emergência
164 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
e, quando legal, aconselhamento sobre aborto;— fornecimento de apoio psicológico e
encaminhamento.Em alguns países, o protocolo é parte do
procedimento de um "conjunto de evidências deagressão sexual" que inclui instruções e recipientespara coletar evidências, formulários e documentoslegais adequados para registrar as histórias (191). Osexames em vítimas de estupro são, por natureza,extremamente estressantes. O uso de um vídeo paraexplicar o procedimento antes de um exame tem semostrado de grande valor para reduzir o estresseenvolvido (192).
Treinamento para profissionais deassistência à saúde
As questões que envolvem violência sexualprecisam ser tratadas no treinamento de todo opessoal de serviços de saúde, inclusive psiquiatras econselheiros, tanto em programas de treinamentobásico quanto em cursos de pós-graduaçãoespecializados. Em primeiro lugar, tal treinamento dariaaos trabalhadores da área de assistência à saúde ummaior conhecimento e uma melhor consciência sobrea violência sexual, tornando-os mais capazes dedetectar e lidar com casos de abuso, de uma formasensível mas eficaz. Isso também ajudaria a reduziros exemplos de abuso sexual no setor de saúde, algoque pode ser um problema significativo, apesar degeralmente não reconhecido.
Nas Filipinas, a Task Force on Social Science andReproductive Health [Força-Tarefa em Ciência Sociale Saúde Reprodutiva], um órgão que inclui médicos,enfermeiros e cientistas sociais e que tem o apoio doDepartamento de Saúde produziu módulos detreinamento sobre violência de gênero para estudantesde enfermagem e de medicina. Os objetivos doprograma são (193):
— compreender as raízes da violência nocontexto de cultura, gênero e outros aspectos sociais.
— identificar situações, nas famílias ou noslares sob alto risco de violência, onde sejanecessário realizar:— intervenções primárias, especialmente emcolaboração com outros profissionais;— intervenções secundárias, inclusiveIdentificar vítimas de violência, compreender osprocedimentos básicos legais e a maneira comoapresentar as evidências, encaminhar eacompanhar os pacientes e ajudar as vítimas ase reintegrarem à sociedade.
CAPÍTULO 6. VIOLÊNCIAJUVENIL• 165
Esses módulos de treinamento são embutidosnos currículos para alunos de enfermagem e medicina.Para o currículo de enfermagem, os onze módulossão distribuídos no decorrer dos quatro anos deinstrução formal e, para os alunos de medicina, osmódulos são apresentados nos três últimos anos detreinamento prático.
Profilaxia para infecção com HIVA possibilidade de transmissão de HIV durante o
estupro é um grande motivo de preocupação,especialmente em países com uma elevada ocorrênciade infecção por HIV (194). Sabe-se que emdeterminados contextos é eficiente o uso de drogasanti-retrovírus em seguida à exposição ao HIV. Porexemplo, a administração do AZT a trabalhadores daárea de saúde após uma exposição ocupacional aagulhas (perfurando a pele com uma agulhacontaminada) tem provado reduzir em 81% o riscosubseqüente de desenvolver a infecção por HIV (195).
O risco médio de infecção por HIV em um únicoato de sexo vaginal sem proteção com um parceiroinfectado é relativamente baixo (aproximadamente 1-2 para cada 1 mil, de homem para mulher, e cerca de0,5 - 1 para cada 1 mil de mulher para homem). O risco,na verdade, é de uma ordem semelhante a de umalesão com agulha (cerca de 3 para cada 1 mil), onde aprofilaxia pós-exposição agora é um tratamento derotina (196). Contudo, o risco médio de infecção porHIV resultante de sexo anal sem proteção éconsideravelmente mais alto, cerca de 5 - 30 para cada1 mil. No entanto, durante o estupro, devido à forçautilizada, é muito provável que haja rupturas macroou microscópicas na mucosa vaginal, o queaumentaria em muito a probabilidade de transmissãode HIV (194).
Não há informações sobre a viabilidade ou arelação custo/efetividade da oferta rotineira deprofilaxia de HIV para vítimas de estupro em cenáriosde recursos escassos. O teste de infecção por HIVapós o estupro é difícil de qualquer forma.Imediatamente após um incidente, muitas mulheresnão estão em condições de entender totalmente acomplicada informação sobre o teste e os riscos deHIV. Também é difícil garantir um acompanhamentoadequado, visto vez que muitas vítimas nãocomparecem às outras visitas marcadas, por motivosque provavelmente estão relacionados ao seu estadopsicológico depois da agressão. Os efeitos colateraisdo tratamento anti-retrovírus também podem sersignificativos, fazendo com que as pessoas larguem
o tratamento (195, 197), embora as pessoas que sepercebem em risco sejam mais propensas a prosseguircom o tratamento (197).
Apesar da falta de conhecimento sobre a eficáciada profilaxia de HIV após o estupro, muitasorganizações têm recomendado sua utilização. Porexemplo, os programas de assistência médica empaíses de alta renda estão incluindo essa profilaxiacada vez mais em seus pacotes de assistência. Énecessário que se faça, urgentemente, pesquisas empaíses de renda média e baixa sobre a eficácia dotratamento anti-retrovírus após o estupro e como elepoderia ser incluído nos serviços de assistência aopaciente.
Centros que oferecem amplaassistência às vítimas de agressãosexual
Devido à falta de médicos em muitos países,enfermeiros com treinamento especial têm sidoutilizados em alguns lugares para auxiliar as vítimasde agressão sexual (187). No Canadá, enfermeirosconhecidos como "enfermeiros examinadores deagressão sexual" são treinados para oferecer umaampla assistência às vítimas de violência sexual. Essesenfermeiros encaminham os clientes para um médicoquando é necessária uma intervenção médica. Naprovíncia de Ontário, Canadá, o primeiro centro deassistência à agressão sexual foi aberto em 1984 e,desde então, foram criados outros 26 centros. Essescentros oferecem e coordenam uma ampla gama deserviços, inclusive assistência médica de emergênciae acompanhamento médico, aconselhamento, coletade evidências forenses de agressão, apoio legal econsulta e educação comunitárias (198). Estão sendocriados em muitos países centros que oferecemdiversos serviços para as vítimas de agressão sexual,geralmente localizados em lugares como hospitais edelegacias de polícia, (ver Quadro 6.3). Centrosespecializados desse tipo têm a vantagem de contarcom um quadro de pessoal devidamente treinado ecom experiência. Em alguns lugares, por outro lado,existem centros integrados que prestam serviços àsvítimas de diferentes formas de violência.
Esforços comunitáriosCampanhas de prevenção
As tentativas de mudar as atitudes públicas emrelação à violência sexual utilizando a mídia incluempublicidade em outdoors e em transportes públicos,
166 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
bem como em rádio e televisão. A televisão tem sidoeficientemente utilizada na África do Sul e noZimbábue. A série de televisão inédita da África doSul, Soul City, está descrita no Quadro 9.1 do Capítulo9. No Zimbábue, a organização não governamentalMusasa tem produzido iniciativas de conscientizaçãoutilizando o teatro, reuniões públicas e debates, bemcomo uma série de televisão onde os sobreviventesda violência descrevem suas experiências (199).
Outras iniciativas, além das campanhas da mídia,têm sido utilizadas em muitos países. O Sisterhood IsGlobal Institute (Instituto Irmandade É Global), emMontreal no Canadá, por exemplo, desenvolveu ummanual adaptado para as comunidades muçulmanasvisando a conscientizar e estimular o debate acercade questões relacionadas à igualdade de gêneros eviolência contra as mulheres e meninas (200). Omanual foi testado inicialmente no Egito, na Jordâniae no Líbano e, em uma adaptação para cenários nãomuçulmanos, usado no Zimbábue.
Uma iniciativa interórgãos das Nações Unidaspara combater a violência de gênero está sendorealizada em 16 países da América Latina e do Caribe
QUADRO 6.3
Serviços integrados para vítimas de estupro nos hospitais da MalásiaEm 1993, o primeiro "One-Stop Crisis Centre" [Centro Único para Crise] para mulheres espancadas
foi criado no departamento de acidentes e emergências do Hospital de Kuala Lumpur na Malásia. Seuobjetivo era oferecer uma resposta à violência contra as mulheres, coordenada interórgãos, de forma apossibilitar que as vítimas de agressão pudessem cuidar de seus problemas médicos, legais, psicológicose sociais em um único lugar. Inicialmente, o centro lidava exclusivamente com violência doméstica, masexpandiu seu alcance para abranger estupro, com procedimentos específicos para vítimas de estupro.
No Hospital de Kuala Lumpur, uma equipe de intervenção em crises lida com cerca de 300 casos deestupro e 70 casos de violência doméstica por mês. Essa equipe traz expertise do próprio hospital e dediversos grupos de mulheres, da polícia, do departamento de assistentes sociais médicos, do escritóriode assistência legal e do Escritório Religioso Islâmico.
Em 1996, o Ministro de Saúde da Malásia resolveu expandir essa estratégia inovadora de assistênciaà saúde e criar centros semelhantes em todos os hospitais públicos do país. Em três anos, 34 centrosdesse tipo foram criados. Nesses centros, psiquiatras, conselheiros e assistentes sociais médicos realizamaconselhamento sobre estupro e alguns dos clientes se tornam pacientes não internos do departamentode psiquiatria do hospital. Os assistentes sociais treinados precisam ficar à disposição 24 horas por dia.
À medida que foi se desenvolvendo o programa "One-Stop Crisis Center", vários problemas vieramà tona. Um desses problemas foi a necessidade de um melhor treinamento para o pessoal do hospitalconseguir lidar de forma sensível com questões de violência sexual. Alguns funcionários do hospitalculpavam as próprias vítimas de estupro pela violência que haviam sofrido, enquanto outros asconsideravam com uma curiosidade de voyeur, em vez de se concentrarem em oferecer apoio. Haviatambém falta de médicos forenses e de abrigos suficientes para as vítimas de estupro. A identificaçãodesses problemas foi o primeiro passo importante para melhorar o programa e oferecer um serviço demelhor qualidade para as vítimas de estupro.
(201). A campanha é elaborada para:— aumentar a consciência acerca dos custos
humanos, sociais e econômicos da violência contramulheres e meninas;
— promover a capacitação em nível governamentalpara desenvolver e implementar legislação contra aviolência de gênero;
— fortalecer as redes de organizações públicas eprivadas e realizar programas para evitar a violênciacontra mulheres e meninas.
Ativismo comunitário por parte doshomens
Um elemento importante para prevenir violênciasexual e física contra as mulheres são as iniciativascoletivas partindo dos homens. Existem grupos dehomens contra a violência doméstica e o estupro naAustrália, na África, na América Latina e no Caribe,bem como na Ásia, em muitas partes da América doNorte e na Europa. O ponto de partida fundamental
CAPÍTULO 6. VIOLÊNCIAJUVENIL• 167
para esse tipo de iniciativa é que os homens, comoindivíduos, devem adotar medidas para reduzir o usode violência por parte deles (202). As atividadestípicas incluem discussões em grupo, campanhas ereuniões educativas, trabalho com homens violentose oficinas em escolas, prisões e locais de trabalho.As ações normalmente são realizadas em cooperaçãocom organizações de mulheres envolvidas naprevenção contra a violência e na prestação deserviços para mulheres vítimas de abuso.
Só nos Estados Unidos, há mais de 100 gruposde homens desse tipo, muitos dos quais com focoespecificamente sobre a violência sexual. O grupo"Men Can Stop Rape" [Homens Podem Parar oEstupro] em Washington, DC, por exemplo, buscapromover formas alternativas de masculinidade quefomentem a não violência e a igualdade de gêneros.Suas atividades recentes incluem apresentações emescolas secundárias, elaboração de cartazes,produção de um manual para professores e publicaçãode uma revista para jovens (202).
Programas nas escolasA ação nas escolas é vital para reduzir a violênciasexual e outras formas de violência. Em muitos países,uma relação sexual entre um professor e um alunonão é um crime disciplinar sério e as políticas sobreassédio sexual nas escolas ou não existem, ou nãosão implementadas. Nos últimos anos, contudo,alguns países introduziram leis que proíbem relaçõessexuais entre professores e alunos. Tais medidas sãoimportantes para ajudar a erradicar o assédio sexualnas escolas. Ao mesmo tempo, também é necessáriauma maior variedade de ações, inclusive mudançasno treinamento e recrutamento de professores ereformas de currículos, de forma a transformar asrelações de gêneros nas escolas.
Respostas legais e políticasDenunciar e lidar com casos deviolência sexual
Muitos países têm algum sistema para encorajaras pessoas a denunciarem incidentes de violênciasexual para a polícia e para melhorar a rapidez esensibilidade do processamento dos casos nostribunais. Os mecanismos específicos incluemunidades dedicadas à violência doméstica, unidadesde crime sexual, treinamento em gênero para a políciae funcionários do tribunal, delegacias de mulher etribunais para crimes de estupro. Alguns dessesmecanismos são discutidos no Capítulo 4.
Há vezes em que a má vontade dos peritosmédicos em comparecer ao tribunal acarretaproblemas. O motivo para isso é que freqüentementeos horários dos tribunais são imprevisíveis e,geralmente, casos são adiados em cima da hora e hálongas esperas por testemunhas que vão darpequenos testemunhos. Na África do Sul, paracontornar esse problema, o Corpo de Diretores dosPromotores Públicos tem treinado magistrados para,em processos de casos de violência sexual, fazer umainterrupção quando o perito médico chega, de formaque o testemunho pode ser tomado e a testemunhaser examinada sem demora.
Reforma legalAs intervenções legais adotadas em muitos lugaresincluem:
— estender o conceito de estupro;— reformar as regras sobre sentenças eadmissibilidade de evidência;— eliminar requisitos de corroboração dosrelatos das vítimas.Em 1983, as leis canadenses sobre estupro foram
reformadas, eliminando especialmente o requisito deque os relatos de estupro sejam corroborados.Contudo, uma avaliação concluiu que os promotorestendem a ignorar esse relaxamento da necessidadede corroboração e que poucos casos chegam aotribunal sem evidência forense (203).
Diversos países na Ásia, inclusive as Filipinas,promulgaram recentemente legislações que redefinemradicalmente estupro e obrigam a assistência doEstado às vítimas. O resultado tem sido um aumentosignificativo no número de casos denunciados.Também deve haver campanhas para informar opúblico em geral sobre seus direitos legais, caso sedeseje que a legislação reformada seja totalmenteeficaz.
Para assegurar que informações irrelevantes nãosejam admitidas nos tribunais, o International CriminalTribunal for the Former Yugoslavia [Tribunal CriminalInternacional para a Antiga Iugoslávia] criou algumasregras que podem servir como um modelo útil paraleis e procedimentos eficazes em outros lugares. ALei 96 do Tribunal especifica que, em casos deagressão sexual, não há necessidade de corroboraçãodo testemunho da vítima e que o histórico sexualanterior da vítima não deve ser apresentado comoevidência. A lei também trata da possível alegação doacusado de ter havido consentimento para o ato,dizendo que o consentimento como defesa não deve
168 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
ser permitido se a vítima houver sido sujeita ouameaçada por violência física ou psicológica,detenção, ou se tiver motivos para temer tal violênciaou detenção. Além disso, o consentimento não deveser permitido sob a regra de que se a vítima tiverbons motivos para acreditar que, se ele ou ela não sesujeitarem, outra pessoa poderia ser sujeitada,ameaçada ou colocada sob medo. Mesmo onde aalegação de consentimento é permitida, o acusadodeve convencer o tribunal de que a evidência para talalegação é relevante e crível, antes da evidência poderser apresentada.
Em muitos países, os juízes proferem sentençasparticularmente curtas para violência sexual (204,205). Uma forma de superar esse problema tem sidointroduzir uma pena mínima para condenações porestupro, exceto mediante circunstâncias atenuantes.
Tratados internacionaisOs tratados internacionais são importantes
porque eles estabelecem padrões para a legislaçãonacional e proporcionam uma alavanca para que osgrupos locais façam campanha pelas reformas legais.Entre os tratados relevantes que tratam de violênciasexual e sua prevenção, podemos citar:
— a Convenção sobre Eliminação de Todas asFormas de Discriminação contra asMulheres (1979);— a Convenção sobre os Direitos da Criança(1989) e seu Protocolo Opcional sobre aVenda de Crianças, Prostituição Infantil ePornografia Infantil (2000);— a Convenção contra o Crime OrganizadoTransnacional (2000) e seu ProtocoloComplementar para Prevenir, Eliminar ePunir o Tráfico de Pessoas, EspecialmenteMulheres e Crianças (2000);— a Convenção contra Tortura e OutrosTratamentos ou Punições Cruéis,Desumanos ou Degradantes (1984).Diversos outros acordos internacionais
estabelecem normas e limites de comportamento,inclusive comportamento durante conflitos, queprecisa de provisões na legislação nacional. OEstatuto de Roma sobre o Tribunal CriminalInternacional (1998), por exemplo, cobre um amploespectro de crimes de gênero, inclusive estupro,escravidão sexual, prostituição forçada, gravidezforçada e esterilização forçada. Ele também incluideterminadas formas de violência sexual queconstituem uma quebra ou uma séria violação da
Convenção de Genebra de 1949, bem como outrasformas de violência sexual que são comparáveis emgravidade aos crimes contra a humanidade. Ainclusão de crimes de gênero nas definições doestatuto é um importante avanço histórico no direitointernacional (206).
Ações para evitar outras formas deviolência sexualTráfico sexualDe forma geral, as iniciativas para evitar o tráfico depessoas para fins sexuais visam a:
— criar programas econômicos, emdeterminados países, para mulheres sob risco de serem traficadas;— oferecer informações e conscientizar asmulheres sob risco potencial, de forma queelas saibam sobre o perigo do tráfico.Além disso, diversos programas de organizações
governamentais e não governamentais estãodesenvolvendo serviços para as vítimas do tráfico(102). Em Chipre, o Departamento de Estrangeiros eImigração aborda mulheres que estão entrando nopaís para trabalhar nos setores de entretenimento oude serviços domésticos. O Departamento avisa asmulheres sobre seus direitos e suas obrigações, bemcomo sobre as diversas formas disponíveis deproteção contra abuso, exploração e prostituição. NaUnião Européia e nos Estados Unidos, as vítimas detráfico que desejarem cooperar com o sistema jurídicopara processar os traficantes podem receber licençastemporárias de residentes. Na Bélgica e Itália, foramconstruídos abrigos para as vítimas de tráfico. EmMumbai, na Índia, foi criado um centro contra tráficopara facilitar a prisão e a condenação dos criminosos,e para oferecer assistência e informação para asmulheres traficadas.
Mutilação genital femininaPara lidar com práticas culturais sexualmente
violentas, é necessária uma compreensão de seucontexto social, cultural e econômico. Khafagi (208)argumentou que tais práticas, que incluem a mutilaçãogenital feminina, devem ser entendidas sob o pontode vista dos que as praticam e que esse conhecimentopode ser utilizado para elaborar intervençõesculturalmente adequadas para evitar tais práticas. Nodistrito de Kapchorwa em Uganda, o programaREACH tem tido sucesso na redução dos índices demutilação genital feminina. O programa, liderado pela
CAPÍTULO 6. VIOLÊNCIAJUVENIL• 169
Sabiny Elder's Association, tentou angariar o apoiodos mais velhos da comunidade para retirar a práticade mutilação genital feminina dos valores culturaisaos quais ela parece servir. Em seu lugar, foramcolocadas atividades substitutivas alternativas paraa tradição cultural original (209). O Quadro 6.4descreve outro programa, no Egito, de prevençãocontra a mutilação genital feminina.
Casamento infantilO casamento infantil tem uma base cultural e
geralmente é legal, o que dificulta a tarefa de seconseguir mudanças. Para evitar essa prática não serásuficiente simplesmente tornar o casamento infantililegal. Em muitos países, o processo de registro denascimentos é tão irregular que a idade no primeirocasamento pode ser desconhecida (100). Abordagensque lidam com a pobreza - um importante fatorsubjacente a muitos desses casamentos - e as queenfatizam metas educacionais, as conseqüências desaúde resultantes de dar à luz muito nova e os direitosdas crianças têm maior probabilidade de obter êxito.
Estupro durante conflitos armadosA questão da violência sexual em conflitos
armados foi recentemente trazida à tona pororganizações como a Association of the Widows ofthe Genocide (AVEGA) [Associação das Viúvas doGenocídio] e o Forum for African WomenEducationalists [Fórum para Mulheres EducadorasAfricanas]. A primeira tem dado apoio às viúvas dasguerras e às vítimas de estupro em Ruanda, e a últimatem oferecido assistência médica e aconselhamentopara as vítimas em Serra Leoa (210).
Em 1995, o Alto Comissariado das Nações Unidaspara Refugiados lançou diretrizes sobre a prevençãoe a resposta à violência sexual entre as populaçõesrefugiadas (211). Essas diretrizes incluem provisõespara:
— projeto e planejamento de acampamentos,para reduzir a suscetibilidade à violência;— documentação de casos;— educação e treinamento para os funcionáriosidentificarem, responderem e evitarem aviolência sexual;— assistência média e outros serviços de apoio,inclusive procedimentos para evitar maistraumas para as vítimas.As diretrizes também cobrem as campanhas de
conscientização pública, atividades educacionais eo estabelecimento de grupos de mulheres para
denunciarem e responderem à violência.Com base em um trabalho realizado na Guiné
(212) e na República Unida da Tanzânia (96), oComitê Internacional de Resgate desenvolveu umprograma para combater a violência sexual emcomunidades refugiadas. Esse programa inclui o usode métodos participativos para avaliar a ocorrênciade violência sexual e de gênero em populaçõesrefugiadas, o treinamento e o emprego detrabalhadores comunitários para identificar casos ecriar sistemas adequados de prevenção, e medidaspara os líderes comunitários e outros oficiais levaremos perpetradores a julgamento. O programa tem sidousado em muitos lugares contra a violência sexual ede gênero, inclusive na Bósnia-Herzegóvina, noQuênia, na República da Macedônia da antigaIugoslávia, na República Democrática do Congo, emSerra Leoa e no Timor Leste.
RecomendaçõesGeralmente, a violência sexual tem sido uma área
de pesquisa negligenciada em quase todas as partesdo mundo, mesmo que as evidências indiquem tratar-se de um problema de saúde pública de grandesproporções. Ainda é necessário fazer muito mais paracompreender o fenômeno e evitá-lo.
Mais pesquisaO que contribui para a falta de visibilidade do
problema nas agendas não só das pessoas queelaboram as políticas mas também dos doadores é aausência de um consenso sobre a definição deviolência sexual e a escassez de dados que descrevama natureza e a extensão do problema no mundo todo.Há necessidade de pesquisas significativas a respeitode quase todos os aspectos da violência sexual,inclusive:
— a incidência e a ocorrência da violência sexualem diversos cenários, utilizando-se uminstrumento padrão de pesquisa paramensurar a coação sexual,
— os fatores de risco para ser uma vítima ou umperpetrador da violência sexual,—as conseqüências sociais e de saúde dasdiferentes formas de violência sexual,— os fatores que influenciam a recuperação da saúde logo após uma agressão sexual, e— os contextos sociais das diferentes formasde violência sexual, inclusive o tráfico sexuale as relações entre a violência sexual e outras formas de violência.
170 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
QUADRO 6.4
Dando um fim à mutilação genital feminina: o caso do EgitoA mutilação genital feminina é extremamente comum entre as mulheres casadas no Egito. O Censo
Demográfico e de Saúde de 1995 revelou que a faixa etária onde a prática era utilizada com mais freqüênciaera de 9 a 13 anos. Quase metade dos que executores de circuncisão feminina eram médicos e 32% eramparteiras ou pessoas da área de enfermagem. Uma pesquisa sociológica concluiu que as principaisrazões alegadas para praticar a circuncisão feminina eram para manter a tradição, para controlar osdesejos sexuais das mulheres, para tornar as mulheres "limpas e puras" e, o mais importante, para torná-las elegíveis ao casamento.
Em grande parte devido à conscientização pública resultante da Conferência Internacional sobrePopulação e Desenvolvimento, realizada no Cairo em 1994, foi criado um movimento contra a mutilaçãogenital feminina, atingindo diversos setores.
Em termos de resposta dos funcionários e profissionais de saúde, uma declaração conjunta datadade 1998 da Sociedade Egípcia de Ginecologia e Obstetrícia e da Sociedade Egípcia de Assistência àFertilidade declarou que a mutilação genital feminina era tanto inútil quanto danosa, e se constituía emuma prática não ética de um médico. O Ministro Egípcio de Saúde e População também emitiu um decretoproibindo qualquer pessoa de executar a mutilação genital feminina.
Os líderes religiosos no mundo muçulmano também expressaram sua oposição à prática. O GrandeMufti fez uma declaração ressaltando que não havia menção à circuncisão feminina no Alcorão e queditos (hadith) atribuídos ao Profeta Maomé sobre o assunto não foram definitivamente confirmados porevidências. Além disso, em 1998 a Conferência sobre População e Saúde Reprodutiva no MundoMuçulmano adotou uma recomendação que convoca os países islâmicos a abolirem todas as formas deviolência contra as mulheres, com um lembrete que sob a lei islâmica (sharia) não há obrigação decircuncidar as meninas.
Organizações não governamentais egípcias se mobilizaram ao redor da questão, disseminandoinformações sobre a mutilação genital feminina e incluindo esse tema em programas de desenvolvimentocomunitário, conscientização de saúde e outros. Uma força-tarefa composta por cerca de 60 organizaçõesnão governamentais foi criada para combater essa prática.
Diversas organizações não governamentais – geralmente que trabalham com homens líderescomunitários – estão agora envolvendo ativamente os homens, instruindo-os sobre os perigos damutilação genital feminina. Nesse processo, os jovens estão sendo incentivados a declarar que secasarão com mulheres que não foram circuncidadas.
No Alto Egito há um programa voltado para vários grupos sociais - inclusive líderes comunitários,líderes religiosos e profissionais – com o intuito de treiná-los para fazerem campanha contra a mutilaçãogenital feminina. Também é oferecido aconselhamento às famílias que optam por não fazer circuncisãoem suas filhas e são realizadas discussões com funcionários da área de saúde para dissuadi-los deexecutar essa prática.
Determinando respostas eficazesAs intervenções também devem ser estudadas paraproduzir um melhor entendimento sobre o que, emdiferentes cenários, é eficaz para evitar a violênciasexual e para tratar das vítimas e apoiá-las. Asseguintes áreas precisam ser priorizadas:
• Documentar e avaliar os serviços e asintervenções de apoio aos sobreviventes ou
trabalhar com os perpetradores de violênciasexual.• Determinar as respostas do setor de saúdemais adequadas em relação à violênciasexual, inclusive o papel da terapiaprofilática anti-retrovírus após o estupro,para prevenção contra o HIV - comdiferentes pacotes básicos de serviçossendo recomendados para diferentescenários, dependendo do nível de recursos.
CAPÍTULO 6. VIOLÊNCIAJUVENIL• 171
• Determinar qual o apoio psicológicoadequado para diferentes cenários ecircunstâncias.• Avaliar os programas voltados para aprevenção contra a violência sexual,inclusive intervenções comunitárias -especialmente as que têm como foco oshomens - e programas nas escolas.• Estudar o impacto das reformas legais esanções criminais.
Maior atenção à prevenção primáriaA prevenção primária contra a violência sexual
normalmente é marginalizada em favor da prestaçãode serviços aos sobreviventes. Os responsáveis pelaelaboração de políticas, os pesquisadores, osdoadores e as organizações não governamentaisdevem, portanto, dar muito mais atenção a essa áreaimportante. Os seguintes pontos devem serpriorizados:
— prevenção primária contra todas as formas devi olência sexual, a ser realizada por meio deprogramas em comunidades, escolas e locais derefugiados;— apoio para abordagens participativas e quelevem em consideração a cultura, para assimmudar as atitudes e os comportamentos;— apoio a programas que lidam com a prevençãocontra a violência sexual no contexto mais amplode promoção da igualdade de gêneros;— programas que lidam com algumas das causassocioeconômicas subjacentes à violência,inclusive pobreza e falta de educação, oferecendo,por exemplo, oportunidadesde emprego para osjovens;— programas para melhorar a criação dos filhos,reduzir a vulnerabilidade das mulheres epromover noções de masculinidade que tenhammaior equilíbrio de gêneros.
Lidando com o abuso sexual dentro dosetor de saúde
A violência sexual que ocorre contra os pacientesdentro do setor de saúde existe em muitos lugares,mas geralmente não é reconhecida como um problema.É necessária a adoção de várias medidas para superaressa negação e enfrentar o problema, inclusive (83,85):
— incorporar tópicos pertinentes à violência degênero e sexual, inclusive considerações éticas
relevantes para a profissão médica, nos currículospara treinamento básico e de pós-graduação demédicos, enfermeiros e outros funcionários daárea de saúde;— buscar ativamente formas de identificar einvestigar possíveis casos de abuso de pacientesdentro dos estabelecimentos de saúde;— -utilizar organismos internacionais dasprofissões médicas e de enfermagem, bem comoorganizações não governamentais (inclusiveorganizações de mulheres) para monitorar ecompilar evidências de abuso e fazer campanhaspara a ação por parte do governo e dos serviçosde saúde;— estabelecer códigos adequados de práticas eprocedimentos para denúncias, bem comoprocedimentos disciplinares específicos parafuncionários da área de saúde que pratiquemabuso contra os pacientes dentro dosestabelecimentos de assistência à saúde.
ConclusãoA violência sexual é um problema de saúde pública
comum e sério que afeta milhões de pessoas a cadaano no mundo todo. Ela é motivada por diversosfatores que agem em vários contextos sociais,culturais e econômicos. No cerne da violência sexualdirecionada às mulheres está a desigualdade dosgêneros.
Em muitos países, faltam dados sobre a maioriados aspectos da violência sexual e há uma grandenecessidade, em todos os lugares, de pesquisas sobretodos os aspectos da violência sexual. Igualmenteimportantes são as intervenções. Há vários tipos deintervenção, mas as essenciais dizem respeito àprevenção primária contra a violência sexual, voltadatanto para homens quanto mulheres, intervençõesde apoio às vítimas de agressão sexual, medidas paraaumentar a possibilidade dos perpetradores deestupro serem pegos e punidos, bem como estratégiaspara mudar as normas sociais e melhorar a condiçãodas mulheres. É essencial que se desenvolvamintervenções para cenários carentes de recursos eque se faça uma avaliação rigorosa dos programas,tanto em países industrializados quanto paísesemergentes.
Os profissionais da área de saúde têm umimportante papel a desempenhar no tocante ao apoioàs vítimas de agressão sexual – em termos médicos epsicológicos – e na coleta de evidências para auxiliarnos julgamentos. O setor de saúde é muito mais eficaz
172 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
em países onde há protocolos e diretrizes paraadministrar os casos e coletar as evidências, onde osfuncionários são bem treinados e onde há uma boacooperação com o sistema judiciário. Por fim, paracolocar um fim à violência sexual, serão necessáriosum forte comprometimento e envolvimento dosgovernos e da sociedade civil, junto com uma respostacoordenada entre diversos setores.
Referências
1. Hakimi M et al. Silence for the sake of harmony:domestic violence and women's health in central Java.Yogyakarta, Gadjah Mada University, 2001.2. Ellsberg MC. Candies in hell: domestic violenceagainst women in Nicaragua. Umeå, Umeå University,1997.3. Mooney J. The hidden figure: domestic violence innorth London. London, Middlesex University, 1993.4. Jewkes R et al. Relationship dynamics and adolescentpregnancy in South Africa. Social Science andMedicine, 2001, 5:733-744.5. Matasha E et al. Sexual and reproductive healthamong primary and secondary school pupils in Mwanza,Tanzania: need for intervention. AIDS Care, 1998,10:571-582.6. Buga GA, Amoko DH, Ncayiyana DJ. Sexualbehaviour, contraceptive practice and reproductivehealth among school adolescents in rural Transkei.South African Medical Journal, 1996, 86:523-527.7. Holmes MM et al. Rape-related pregnancy: estimatesand descriptive characteristics from a national sampleof women. American Journal of Obstetrics andGynecology, 1996, 175:320-324.8. Eby K et al. Health effects of experiences of sexualviolence for women with abusive partners. Health Carefor Women International, 1995, 16:563-576.9. Leserman J et al. Selected symptoms associated withsexual and physical abuse among female patients withgastrointestinal disorders: the impact on subsequenthealth care visits. Psychological Medicine, 1998,28:417-425.10. McCauley J et al. The "battering syndrome":prevalence and clinical characteristics of domesticviolence in primary care internal medicine practices.Annals of Internal Medicine, 1995, 123:737-746.11. Coker AL et al. Physical health consequences ofphysical and psychological intimate partner violence.Archives of Family Medicine, 2000, 9:451-457.12. Letourneau EJ, Holmes M, Chasendunn-Roark J.Gynecologic health consequences to victims of
interpersonal violence. Women's Health Issues, 1999,9:115-120.13. Plichta SB, Abraham C. Violence and gynecologichealth in women less than 50 years old. AmericanJournal of Obstetrics and Gynecology, 1996, 174:903-907.14. Campbell JC, Soeken K. Forced sex and intimatepartner violence: effects on women's health. ViolenceAgainst Women, 1999, 5:1017-1035.15. Collett BJ et al. A comparative study of womenwith chronic pelvic pain, chronic nonpelvic pain andthose with no history of pain attending generalpractitioners. British Journal of Obstetrics andGynaecology, 1998, 105:87-92.16. Boyer D, Fine D. Sexual abuse as a factor inadolescent pregnancy. Family PlanningPerspectives, 1992, 24:4-11.17. Briggs L, Joyce PR. What determines post-traumatic stress disorder symptomatology forsurvivors of childhood sexual abuse? Child Abuse& Neglect, 1997, 21:575-582.18. Creamer M, Burgess P, McFarlane AC. Post-traumatic stress disorder: findings from the AustralianNational Survey of Mental Health and Well-being.Psychological Medicine, 2001, 31:1237-1247.19. Cheasty M, Clare AW, Collins C. Relation betweensexual abuse in childhood and adult depression: case-control study. British Medical Journal, 1998, 316:198-201.20. Darves-Bornoz JM. Rape-related psychotraumaticsyndromes. European Journal of Obstetrics,Gynecology and Reproductive Biology, 1997, 71:59-65.21. Felitti VJ et al. Relationship of childhood abuseand household dysfunction to many of the leadingcauses of death in adults: the Adverse ChildhoodExperiences (ACE) study. American Journal ofPreventive Medicine, 1998, 14:245-258.22. Fergusson DM, Horwood LJ, Lynskey MT.Childhood sexual abuse and psychiatric disorder inyoung adulthood: II. Psychiatric outcomes ofchildhood sexual abuse. Journal of the AmericanAcademy of Child and Adolescent Psychiatry, 1996,35:1365-1374.
23. Levitan RD et al. Major depression in individualswith a history of childhood physical or sexual abuse:relationship of neurovegetative features, mania, andgender. American Journal of Psychiatry, 1998,155:1746-1752.24. Acierno R et al. Risk factors for rape, physicalassault, and post-traumatic stress disorder in women:examination of differential multivariate relationships.
CAPÍTULO 6. VIOLÊNCIAJUVENIL• 173
Journal of Anxiety Disorders, 1999, 13:541-563.25. Miller M. A model to explain the relationshipbetween sexual abuse and HIV risk among women.AIDS Care, 1999, 11:3-20.26. Mercy JA et al. Intentional injuries. In: MashalyAY, Graitcer PH, Youssef ZM, eds. Injury in Egypt:an analysis of injuries as a health problem. Cairo,Rose El Youssef New Presses, 1993:65-84.27. Mollica RF, Son L. Cultural dimensions in theevaluation and treatment of sexual trauma: anoverview. Psychiatric Clinics of North America, 1989,12:363-379.28. Omaar R, de Waal A. Crimes without punishment:sexual harassment and violence against femalestudents in schools and universities in Africa. AfricanRights, July 1994 (Discussion Paper No. 4).29. Swiss S et al. Violence against women during theLiberian civil conflict. Journal of the AmericanMedical Association, 1998, 279:625-629.30. Migration Information Programme. Traffickingand prostitution: the growing exploitation ofmigrant women from central and eastern Europe.Geneva, International Organization for Migration,1995.31. Chauzy JP. Kyrgyz Republic: trafficking. Geneva,International Organization for Migration, 20 January2001 (Press briefing notes).32. Dinan K. Owed justice: Thai women traffickedinto debt bondage in Japan. New York, NY, HumanRights Watch, 2000.33. The economics of sex. Geneva, InternationalLabour Organization, 1998 (World of Work, No. 26).34. Jewkes R, Abrahams N. The epidemiology of rapeand sexual coercion in South Africa: an overview.Social Science and Medicine (in press).35. The international crime victim survey in countriesin transition: national reports. Rome, United NationsInterregional Crime and Justice Research Institute,1998.36. Victims of crime in the developing world. Rome,United Nations Interregional Crime and JusticeResearch Institute, 1998.37. Tjaden P, Thoennes N. Full report of theprevalence, incidence and consequences of violenceagainst women: findings from the National ViolenceAgainst Women Survey. Washington, DC, NationalInstitute of Justice, Office of Justice Programs, UnitedStates Department of Justice and Centers for DiseaseControl and Prevention, 2000 (NCJ 183781).38. Weiss P, Zverina J. Experiences with sexualaggression within the general population in the Czech
Republic. Archives of Sexual Behavior, 1999, 28:265-269.39. Campbell JC, Soeken KL. Forced sex and intimatepartner violence: effects on women's risk and women'shealth. Violence Against Women, 1999, 5:1017-1035.40. Granados Shiroma M. Salud reproductiva yviolencia contra la mujer: un análisis desde laperspectiva de género [Reproductive health andviolence against women: an analysis from the genderperspective]. Nuevo León, Asociación Mexicana dePoblación, Colegio de México, 1996.41. Martin SL et al. Sexual behaviour and reproductivehealth outcomes: associations with wife abuse inIndia. Journal of the American Medical Association,1999, 282:1967-1972.42. Watts C et al. Withholding sex and forced sex:dimensions of violence against Zimbabwean women.Reproductive Health Matters, 1998, 6:57-65.43. Gillioz L, DePuy J, Ducret V. Domination etviolences envers la femme dans le couple[Domination and violence against women in thecouple]. Lausanne, Payot-Editions, 1997.44. Rodgers K. Wife assault: the findings of a nationalsurvey. Juristat Service Bulletin, 1994, 14:1-22.45. Randall M et al. Sexual violence in women's lives:findings from the women's safety project, acommunity-based survey. Violence Against Women,1995, 1:6-31.46. Morrison A et al. The socio-economic impact ofdomestic violence against women in Chile andNicaragua. Washington, DC, Inter-AmericanDevelopment Bank, 1997.47. Painter K, Farrington DP. Marital violence in GreatBritain and its relationship to marital and nonmaritalrape. International Review of Victimology, 1998,5:257-276.48. Puerto Rico: encuesto de salud reproductiva1995-1996 [Puerto Rico: reproductive healthsurvey 1995- 1996]. San Juan, University of PuertoRico and Centers for Disease Control and Prevention,1998.49. Risberg G, Lundgren E, Westman G. Prevalence ofsexualized violence among women: a populationbased study in a primary healthcare district.Scandinavian Journal of Public Health, 1999, 27:247-253.50. Heiskanen M, Piispa M. Faith, hope andbattering: a survey of men's violence against womenin Finland. Helsinki, Statistics Finland, 1998.51. Haj Yahia MM. The incidence of wife abuse andbattering and some demographic correlates
174 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
revealed in two national surveys in Palestiniansociety. Ramallah, Besir Centre for Research andDevelopment, 1998.52. Ilkkaracan P et al. Exploring the context of women'ssexuality in Eastern Turkey. Reproductive HealthMatters, 1998, 6:66-75.53. Heise LL, Ellsberg M, Gottemoeller M. Endingviolence against women. Baltimore, MD, JohnsHopkins University School of Public Health, Centerfor Communications Programs, 1999 (PopulationReports, Series L, No.11).54. Rwenge M. Sexual risk behaviours among youngpeople in Bamenda, Cameroon. International FamilyPlanning Perspectives, 2000, 26:118-123.55. Estudo CAP nas escolas: conhecimento, atitudes,practicas e comportamento em saude sexual ereproductiva em uma era de SIDA. [A KAP study inschools: knowledge, attitudes, practices andbehaviour regarding sexual and reproductivehealth during an AIDS era]. Maputo, Geração Bizand Ministry of Youth and Sport, 1999.56. Caceres CF, Vanoss M, Sid Hudes E. Sexualcoercion among youth and young adolescents inLima, Peru. Journal of Adolescent Health, 2000,27:361-367.57. Abma J, Driscoll A, Moore K. Young women'sdegree of control over first intercourse: an exploratoryanalysis. Family Planning Perspectives, 1998, 30:12-18.58. Dickson N et al. First sexual intercourse: age,coercion, and later regrets reported by a birth cohort.British Medical Journal, 1998, 316:29-33.59. Adolescents. (Programme brief on the findingsfrom the Operations research and technicalassistance, Africa Project II.) Nairobi, The PopulationCouncil, 1998.60. Halcón L, Beuhring T, Blum R. A portrait ofadolescent health in the Caribbean, 2000.Minneapolis, MN, University of Minnesota and PanAmerican Health Organization, 2000.61. Swart L et al. Rape surveillance through districtsurgeons' offices in Johannesburg, 1996-1998:findings, evaluation and prevention implications.South African Journal of Psychology, 2000, 30:1-10.62. Greenfeld LA. Sex offenses and offenders: ananalysis of data on rape and sexual assault.Washington, DC, United States Department ofJustice, Office of Justice Programs, Bureau of JusticeStatistics (NCJ 163392).63. Richard AO. International trafficking in womento the United States: a contemporary manifestationof slavery and organized crime. Washington, DC,
Center for the Study of Intelligence, 1999.64. Brown L. Sex slaves: the trafficking of women inAsia. London, Virago Press, 2001.65. Benninger-Budel C et al. Violence against women:a report. Geneva, World Organization Against Torture,1999.66. Migration Information Programme. Trafficking inwomen to Italy for sexual exploitation. Geneva,International Organization for Migration, 1996.67. Barnard M. Violence and vulnerability: conditionsof work for streetworking prostitutes. Sociology ofHealth and Illness, 1993, 15:683-705.68. Church S et al. Violence by clients towards femaleprostitutes in different work settings: questionnairesurvey. British Medical Journal, 2001, 322:524-525.69. Jenkins C. Street sex workers in Dhaka: their clientsand enemies. In: The Proceedings of the InternationalConference on Violence Against Women and Children,Dhaka, Bangladesh, June 1998. Dhaka, 1998.70. Ayalew T, Berhane Y. Child prostitution: magnitudeand related problems. Ethiopian Medical Journal,2000, 38:153-163.71. Perlez J. For the oppressed sex: brave words to liveby. New York Times, 6 June 1990.72. Bagley C, Bolitho F, Bertrand L. Sexual assault inschool, mental health and suicidal behaviors inadolescent women in Canada. Adolescence, 1997,32:361-366.73. Nhundu TJ, Shumba A. The nature and frequencyof reported cases of teacher perpetrated child sexualabuse in rural primary schools in Zimbabwe. ChildAbuse & Neglect, 2001, 25:1517-1534.74. Silencio y complicidad: violencia contra lasmujeres en los servicios públicos en el Perú [Silenceand complicity: violence against women in publicservices in Peru]. Lima, Committee of Latin Americaand the Caribbean for the Defense of the Rights of theWoman, and Center for Reproductive Law and Policy,1998.75. McPhedran M. Sexual abuse in the healthprofessions: who's counting? World Health StatisticsQuarterly, 1996, 49:154-157.76. Dehlendorf CE, Wolfe SM. Physicians disciplinedfor sex-related offenses. Journal of the AmericanMedical Association, 1998, 279:1883-1888.77. Thomasson GO. Educating physicians to preventsex-related contact with patients. Journal of theAmerican Medical Association, 1999, 281:419-420.78. Lamont JA, Woodward C. Patient-physician sexualinvolvement: a Canadian survey of obstetriciangynecologists. Canadian Medical AssociationJournal, 1994, 150:1433-1439.
CAPÍTULO 6. VIOLÊNCIAJUVENIL• 175
79. Fary T, Fisher N. Sexual contact between doctorsand patients: almost always harmful. British MedicalJournal, 1992, 304:1519-1520.80. Fayad M. Female genital mutilation (femalecircumcision). Cairo, Star Press, 2000.81. Human rights are women's rights. London,Amnesty International, 1999.82. Frank MW et al. Virginity examinations in Turkey:role for forensic physicians in controlling femalesexuality. Journal of the American MedicalAssociation, 1999, 282:485-490.83. 'Oliveira AF, Diniz SG, Schraiber LB. Violenceagainst women in health-care institutions: anemerging problem. Lancet, 2002, 359:1681-1685.84. Sargent C, Rawlins J. Transformations in maternityservices in Jamaica. Social Science and Medicine,1992, 35:1225-1232.85. Jewkes R, Abrahams N, Mvo Z. Why do nursesabuse patients? Reflections from South Africanobstetric services. Social Science and Medicine,1998, 47:1781-1795.86. Gilson L, Alilio M, Heggenhougen K. Communitysatisfaction with primary health care services: anevaluation undertaken in the Morogoro region ofTanzania. Social Science and Medicine, 1994, 39:767-780.87. Jaffre Y, Prual AM. Midwives in Niger: anuncomfortable position between social behavioursand health care constraints. Social Science andMedicine, 1994, 38:1069-1073.88. Shaikh MA. Sexual harassment in medicalprofession: perspectives from Pakistan. Journal ofthe Pakistan Medical Association, 2000, 50:130-131.89. Kisa A, Dziegielewski SF. Sexual harassment offemale nurses in a hospital in Turkey. Health ServicesManagement Research, 1996, 9:243-253.90. Chelala C. Algerian abortion controversyhighlights rape of war victims. Lancet, 1998, 351:1413.91. Asia Watch. Rape in Kashmir: a crime of war.New York, NY, Human Rights Watch, 1993.92. Xiau W. Silent consent: Indonesian abuse ofwomen. Harvard International Review, 1999, 21:16-17.93. Swiss S, Giller JE. Rape as a crime of war: a medicalperspective. Journal of the American MedicalAssociation, 1993, 270:612-615.94. Pacific Women Against Violence. Violence againstEast Timor women. Pacific Women's Network AgainstViolence Against Women, 2000, 5:1-3.95. Morrell R, ed. Changing men in Southern Africa.Pietermaritzburg, University of Natal Press, 2001.96. Nduna S, Goodyear L. Pain too deep for tears:
assessing the prevalence of sexual and genderviolence among Burundian refugees in Tanzania.Kibondo, International Rescue Committee, 1997.97. George A. Sexual behavior and sexualnegotiation among poor women and men inMumbai: an exploratory study. Baroda, Sahaj Societyfor Health Alternatives, 1997.98. Sharma V, Sujay R, Sharma A. Can married womensay no to sex? Repercussions of the denial of thesexual act. Journal of Family Welfare, 1998, 44:1-8.99. Early marriage: whose right to choose? London,Forum on Marriage and the Rights of Women andGirls, 2000.100. UNICEF Innocenti Research Center. Early marriage:child spouses. Innocenti Digest, 2001, No. 7.101. Kumari R, Singh R, Dubey A. Growing up inrural India: problems and needs of adolescent girls.New Delhi, Radiant Publishers, 1990.102. Ahmed EM. Violence against women: the legalsystem and institutional responses. Lahore, AGHSLegal Aid Cell, 1998.103. Indicators on marriage and marital status. In:1997 Demographic yearbook, 49th ed. New York, NY,United Nations Statistics Division, 1999.104. Heise L, Pitanguy J, Germain A. Violence againstwomen: the hidden health burden. Washington, DC,World Bank, 1994 (Discussion Paper No. 255).105. Crowell NA, Burgess AW, eds. Understandingviolence against women. Washington, DC, NationalAcademy Press, 1996.106. Koss M, Dinero TE. Discriminant analysis ofrisk factors for sexual victimisation among a nationalsample of college women. Journal of Consulting andClinical Psychology, 1989, 57:242-250.107. Fergusson DM, Horwood LJ, Lynskey MT.Childhood sexual abuse, adolescent sexualbehaviours and sexual revictimization. Child Abuse& Neglect, 1997, 21:789-803.108. Fleming J et al. The long-term impact of childhoodsexual abuse in Australian women. Child Abuse &Neglect, 1999, 23:145-159.109. Pederson W, Skrondal A. Alcohol and sexualvictimization: a longitudinal study of Norwegian girls.Addiction, 1996, 91:565-581.110. Olsson A et al. Sexual abuse during childhoodand adolescence among Nicaraguan men and women:a population-based survey. Child Abuse & Neglect,2000, 24:1579-1589.111. Jewkes R, Penn-Kekana L, Levin J. Risk factorsfor domestic violence: findings from a South Africancross-sectional study. Social Science and Medicine(in press).
176 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
112. Jewkes R. Intimate partner violence: causes andprevention. Lancet,2002, 359:1423-1429.113. Omorodion FI, Olusanya O. The social contextof reported rape in Benin City, Nigeria. AfricanJournal of Reproductive Health, 1998, 2:37-43.114. Faune MA. Centroamérica: los costos de la guerray la paz [Central America: the costs of war and ofpeace] Perspectivas, 1997, 8:14-15.115. International Clinical Epidemiologists Network.Domestic violence in India: a summary report of amulti-site household survey. Washington, DC,International Center for Research on Women, 2000.116. Heise L, Moore K, Toubia N. Sexual coercionand women's reproductive health: a focus onresearch. New York, NY, Population Council, 1995.117. Violence against women: a priority health issue.Geneva, World Health Organization, 1997 (documentWHO/FRH/WHD/97.8).118. Miczek KA et al. Alcohol, drugs of abuse,aggression and violence. In: Reiss AJ, Roth JA, eds.Understanding and preventing violence. Vol. 3.Social influences. Washington, DC, NationalAcademy Press, 1993:377-570.119. Grisso JA et al. Violent injuries among women inan urban area. New England Journal of Medicine,1999, 341:1899-1905.120. Abby A, Ross LT, McDuffie D. Alcohol's role insexual assault. In: Watson RR, ed. Drug and alcoholreviews. Vol. 5. Addictive behaviors in women.Totowa, NJ, Humana Press, 1995.121. McDonald M, ed. Gender, drink and drugs.Oxford, Berg Publishers, 1994.122. Drieschner K, Lange A. A review of cognitivefactors in the aetiology of rape: theories, empiricalstudies and implications. Clinical PsychologyReview, 1999, 19:57-77.123. Dean KE, Malamuth NM. Characteristics of menwho aggress sexually and of men who imagineaggressing: risk and moderating variables. Journal ofPersonality and Social Psychology, 1997, 72:449-455.124. Malamuth NM, Addison T, Koss MP.Pornography and sexual aggression: are there reliableeffects and how can we understand them? AnnualReview of Sex Research, 2000, 11:26-91.125. Malamuth NM. A multidimensional approach tosexual aggression: combining measures of pastbehavior and present likelihood. Annals of the NewYork Academy of Science, 1998, 528:113-146.126. Ouimette PC, Riggs D. Testing a mediationalmodel of sexually aggressive behavior innonincarcerated perpetrators. Violence and Victims,1998, 13:117- 130.
127. Malamuth NM et al. The characteristics ofaggressors against women: testing a model using anational sample of college students. Journal ofConsulting and Clinical Psychology, 1991, 59:670-681.128. Lisak D, Roth S. Motives and psychodynamicsof self-reported, unincarcerated rapists. Journal ofPersonality and Social Psychology, 1990, 55:584-589.129. Bourgois P. In search of respect: selling crackin El Barrio. Cambridge, Cambridge University Press,1996.130. Petty GM, Dawson B. Sexual aggression in normalmen: incidence, beliefs and personalitycharacteristics. Personality and IndividualDifferences, 1989, 10:355-362.131. Borowsky IW, Hogan M, Ireland M. Adolescentsexual aggression: risk and protective factors.Pediatrics, 1997, 100:E7.132. Gwartney-Gibbs PA, Stockard J, Bohmer S.Learning courtship aggression: the influence ofparents, peers and personal experiences. FamilyRelations, 1983, 35:276-282.133. Jenkins C. Sexual behaviour in Papua New Guinea.In: Report of the Third Annual Meeting of theInternational Network on Violence Against Women,January 1998. Washington, DC, InternationalNetwork on Violence Against Women, 1998.134. Watkins B, Bentovim A. The sexual abuse ofmale children and adolescents: a review of currentresearch. Journal of Child Psychology andPsychiatry, 1992, 33:197-248.135. Dobash E, Dobash R. Women, violence and socialchange. London, Routledge, 1992.136. Wood K, Maepa J, Jewkes R. Adolescent sexand contraceptive experiences: perspectives ofteenagers and clinic nurses in the NorthernProvince. Pretoria, Medical Research Council, 1997(Technical Report).137. Hadidi M, Kulwicki A, Jahshan H. A review of 16cases of honour killings in Jordan in 1995.International Journal of Legal Medicine, 2001,114:357-359.138. Bourgois P. In search of masculinity: violence,respect and sexuality among Puerto Rican crackdealers in East Harlem. British Journal ofCriminology, 1996, 36:412-427.139. Wood K, Jewkes R. "Dangerous" love: reflectionson violence among Xhosa township youth. In:Morrell R, ed. Changing men in Southern Africa.Pietermaritzburg, University of Natal Press, 2001.140. Silberschmidt M. Disempowerment of men in rural
CAPÍTULO 6. VIOLÊNCIAJUVENIL• 177
and urban East Africa: implications for male identityand sexual behavior. World Development, 2001,29:657-671.141. Madge C. Public parks and the geography offear. Tijdschrift voor Economische en SocialeGeografie, 1997, 88:237-250.142. Pain RH. Social geographies of women's fear ofcrime. Transactions of the Institute of BritishGeographers, 1997, 22:231- 244.143. Rozee PD. Forbidden or forgiven? Rape incrosscultural perspective. Psychology of WomenQuarterly, 1993, 17:499-514.144. Ariffin RE. Shame, secrecy and silence: study ofrape in Penang. Penang, Women's Crisis Centre, 1997.145. Bennett L, Manderson L, Astbury J. Mapping aglobal pandemic: review of current literature onrape, sexual assault and sexual harassment ofwomen. Melbourne, University of Melbourne, 2000.146. Sen P. Ending the presumption of consent:nonconsensual sex in marriage. London, Centre forHealth and Gender Equity, 1999.147. Buckley T, Gottlieb A. Blood magic: theanthropology of menstruation. Berkeley, CA,University of California, 1998.148. Sanday P. The socio-cultural context of rape: across-cultural study. Journal of Social Issues, 1981,37:5-27.149. Gartner R. The victims of homicide: a temporaland cross-national comparison. AmericanSociological Review, 1990, 55:92-106.150. Briggs CM, Cutright P. Structural and culturaldeterminants of child homicide: a cross-nationalanalysis. Violence and Victims, 1994, 9:3-16.151. Smutt M, Miranda JLE. El Salvador: socializacióny violencia juvenil [El Salvador: socialization andjuvenile violence]. In: Ramos CG, ed. America Centralen los noventa: problemas de juventud [CentralAmerica in the 90s: youth problems] San Salvador,Latin American Faculty of Social Sciences, 1998:151-187.152. Watts C, Zimmerman C. Violence against women:global scope and magnitude. Lancet, 2002, 359:1232-1237.153. Antrobus P. Reversing the impact of structuraladjustment on women's health. In: Antrobus P et al.,eds. We speak for ourselves: population anddevelopment. Washington, DC, Panos Institute,1994:6-8.154. Mulugeta E, Kassaye M, Berhane Y. Prevalenceand outcomes of sexual violence among high schoolstudents. Ethiopian Medical Journal, 1998, 36:167-174.155. Evaluación de proyecto para educación,
capacitación y atención a mujeres y menores de edaden materia de violencia sexual, enero a diciembre1990 [An evaluation of a project to provide education,training and care for women and minors affected bysexual violence, January-December 1990]. MexicoCity, Asociación Mexicana contra la Violencia a lasMujeres, 1990.156. Carpeta de información básica para la atenciónsolidaria y feminista a mujeres violadas [Basicinformation file for mutually supportive feminist carefor women rape victims]. Mexico City, Centro doApoyo a Mujeres Violadas, 1985.157. Roosa MW et al. The relationship of childhoodsexual abuse to teenage pregnancy. Journal ofMarriage and the Family, 1997, 59:119-130.158. Stock JL et al. Adolescent pregnancy and sexualrisktaking among sexually abused girls. FamilyPlanning Perspectives, 1997, 29:200-227.159. Jenny C et al. Sexually transmitted diseases invictims of rape. New England Journal of Medicine,1990, 322:713-716.160. Wingood G, DiClemente R, Raj A. Adverseconsequences of intimate partner abuse among womenin non-urban domestic violence shelters. AmericanJournal of Preventive Medicine, 2000, 19:270-275.161. Anteghini M et al. Health risk behaviors andassociated risk and protective factors among Brazilianadolescents in Santos, Brazil. Journal of AdolescentHealth, 2001, 28:295-302.162. Mullen PE et al. Impact of sexual and physical abuseon women's mental health. Lancet, 1988, i:841-845.163. ChoquetM et al. Self-reported health andbehavioral problems among adolescent victims of rapein France: results of a cross-sectional survey. ChildAbuse & Neglect, 1997, 21:823-832.164. Kimerling R, Calhoun KS. Somatic symptoms, socialsupport and treatment seeking among sexual assaultvictims. Journal of Consult ing and ClinicalPsychology, 1994, 62:333-340.165. Foa EB et al. A comparison of exposure therapy,stress inoculation training, and their combination forreducing post-traumatic stress disorder in femaleassault victims. Journal of Consulting and ClinicalPsychology, 1999, 67:194-200.166. Tarrier N et al. Cognitive therapy or imaginalexposure in the treatment of post-traumatic stressdisorder: twelve-month follow-up. British Journal ofPsychiatry, 1999, 175:571-575.167. Kilpatrick DG, Edmonds CN, Seymour AK. Rape inAmerica: a report to the nation. Arlington, VA, NationalVictim Center, 1992.168. Davidson JR et al. The association of sexual assault
178 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
and attempted suicide within the community.Archives of General Psychiatry, 1996, 53:550-555.169. Luster T, Small SA. Sexual abuse history andproblems in adolescence: exploring the effects ofmoderating variables. Journal of Marriage and theFamily, 1997, 59:131-142.170. McCauley J et al. Clinical characteristics of womenwith a history of childhood abuse: unhealed wounds.Journal of the American Medical Association, 1997,277:1362-1368.171. Nagy S, Adcock AG, Nagy MC. A comparison ofrisky health behaviors of sexually active, sexuallyabused, and abstaining adolescents. Pediatrics, 1994,93:570-575.172. Romans SE et al. Sexual abuse in childhood anddeliberate self-harm. American Journal of Psychiatry,1995, 152:1336-1342.173. Wiederman MW, Sansone RA, Sansone LA.History of trauma and attempted suicide amongwomen in a primary care setting. Violence and Victims,1998, 13:3-9.174. Statham DJ et al. Suicidal behaviour: anepidemiological and genetic study. PsychologicalMedicine, 1998, 28:839-855.175. Heise L. Violence against women: the missingagenda. In: Koblinsky M, Timyan J, Gay J, eds. Thehealth of women: a global perspective. Boulder, CO,Westview Press, 1993.176. Ahmad K. Public protests after rape in Pakistanihospital. Lancet, 1999, 354:659.177. Foa EB, Hearst-Ikeda D, Perry KJ. Evaluation ofa brief cognitive-behavioural program for theprevention of chronic PTSD in recent assault victims.Journal of Consulting and Clinical Psychology,1995, 63:948-955.178. Foa EB, Street GP. Women and traumatic events.Journal of Clinical Psychiatry, 2001, 62 (Suppl. 17):29-34.179. Meyer CB, Taylor SE. Adjustment to rape.Journal of Personality and Social Psychology, 1986,50:1226-1234.180. Christofides N. Evaluation of Soul City inpartnership with the National Network on ViolenceAgainst Women (NNVAW): some initial findings.Johannesburg, Women's Health Project, Universityof the Witwatersrand, 2000.181. Kelly L, Radford J. Sexual violence against womenand girls: an approach to an international overview.In: Dobash E, Dobash R, eds. Rethinking violenceagainst women. London, Sage, 1998.182. Kaufman M. Building a movement of men workingto end violence against women. Development, 2001,44:9-14.
183. Welbourn A. Stepping Stones. Oxford, Strategiesfor Hope, 1995.184. Men as partners. New York, NY, AVSCInternational, 1998.185. Gordon G, Welbourn A. Stepping Stones andmen. Washington, DC, Inter-Agency Gender WorkingGroup, 2001.186. Schwartz IL. Sexual violence against women:prevalence, consequences, societal factors andprevention. American Journal of PreventiveMedicine, 1991, 7:363-373.187. Du Mont J, Parnis D. Sexual assault and legalresolution: querying the medical collection of forensicevidence. Medicine and Law, 2000,19:779-792.188. McGregor MJ et al. Examination for sexual assault:is the documentation of physical injury associatedwith the laying of charges? Journal of the CanadianMedical Association, 1999, 160:1565-1569.189. Chaudhry S et al. Retrospective study of allegedsexual assault at the Aga Khan Hospital, Nairobi.East African Medical Journal, 1995, 72:200-202.190. Harrison JM, Murphy SM. A care package formanaging female sexual assault in genitourinarymedicine. International Journal of SexuallyTransmitted Diseases and AIDS, 1999, 10:283-289.191. Parnis D, Du Mont J. An exploratory study ofpostsexual assault professional practices: examiningthe standardised application of rape kits. Health Carefor Women International (in press).192. Resnick H et al. Prevention of post-rapepsychopathology: preliminary findings of a controlledacute rape treatment study. Journal of AnxietyDisorders, 1999, 13:359-370.193. Ramos-Jimenez P. Philippine strategies to combatdomestic violence against women. Manila, SocialDevelopment Research Center and De La SalleUniversity, 1996.194. Violence against women and HIV/AIDS: settingthe research agenda. Geneva, World HealthOrganization, 2001 (document WHO/FCH/GWH/01.08).195. Case-control study of HIV seroconversion inhealth care workers after percutaneous exposure toHIV-infected blood: France, United Kingdom, andUnited States, January 1988 to August 1994.Morbidity and Mortality Weekly Report, 1995,44:929-933.196. Ippolito G et al. The risk of occupational HIV inhealth care workers. Archives of Internal Medicine,1993, 153:1451-1458.197. Wiebe ER et al. Offering HIV prophylaxis to
CAPÍTULO 6. VIOLÊNCIAJUVENIL• 179
people who have been sexually assaulted: 16 months'experience in a sexual assault service. CanadianMedical Association Journal, 2000, 162:641-645.198. Du Mont J, MacDonald S, Badgley R. Anoverview of the sexual assault care and treatmentcentres of Ontario. Toronto, The Ontario Network ofSexual Assault Care and Treatment Centres, 1997.199. Njovana E, Watts C. Gender violence inZimbabwe: a need for collaborative action.Reproductive Health Matters, 1996, 7:46-54.200. Safe and secure: eliminating violence againstwomen and girls in Muslim societies. Montreal,Sisterhood Is Global Institute, 1998.201. Mehrotra A et al. A life free of violence: it's ourright. New York, NY, United Nations DevelopmentFund for Women, 2000.202. Flood M. Men's collective anti-violence activismand the struggle for gender justice. Development,2001, 44:42-47.203. Du Mont J, Myhr TL. So few convictions: therole of client-related characteristics in the legalprocessing of sexual assaults. Violence AgainstWomen, 2000, 6:1109-1136.204. Further actions and initiatives to implementthe Beijing Declaration and Platform for Action.New York, NY, Women, Peace and Development,United Nations, 2000 (Outcome Document, UnitedNations General Assembly Special Session, Women2000: Beijing Plus Five).205. Reproductive rights 2000: moving forward. New
York, NY, Center for Reproductive Law and Policy,2000.206. Bedont B, Martinez KH. Ending impunity forgender crimes under the International Criminal Court.The Brown Journal of World Affairs, 1999, 6:65-85.207. Coomaraswamy R. Integration of the human rightsof women and the gender perspective. Violenceagainst women. New York, NY, United NationsEconomic and Social Council, Commission on HumanRights, 2000 (Report of the Special Rapporteur onviolence against women).208. Khafagi F. Breaking cultural and social taboos:the fight against female genital mutilation in Egypt.Development, 2001, 44:74-78.209. Reproductive health effects of gender-basedviolence. New York, NY, United Nations PopulationFund, 1998 (available on the Internet at http://w w w . u n f p a . o r g / a b o u t / r e p o r t / r e p o r t 9 8 /ppgenderbased.htm.) (Annual Report 1998:programme priorities).210. Sierra Leone: rape and other forms of sexualviolence against girls and women. London, AmnestyInternational, 2000.211. Sexual violence against refugees: guidelineson prevention and response. Geneva, Office of theUnited Nations High Commissioner for Refugees,1995.212. Sexual and gender-based violence programmein Guinea. Geneva, Office of the United Nations HighCommissioner for Refugees, 2001.
CAPÍTULO 7. VIOLÊNCIA AUTO-INFLIGIDA • 183
AntecedentesNo ano de 2000, no mundo todo, estima-se que
se suicidaram cerca de 815 mil pessoas, o querepresenta uma taxa de mortalidade deaproximadamente 14,5 em cada 100 mil pessoas -uma morte a cada 40 segundos. O suicídio é a décimaterceira maior causa de mortes no mundo. (ver anexoEstatísticas). Entre pessoas com idade de 15 a 44anos, os ferimentos auto-inflingidos são a quartamaior causa de morte e a sexta maior origem deproblemas de saúde e incapacitação física (1).
As mortes por suicídio são apenas uma partedesse sério problema. Além dos que morrem, muitossobrevivem aos atentados contra a própria vida eàs tentativas de ferir-se, o que é sério o bastantepara exigir cuidados médicos (2). Além disso, todapessoa que se suicida deixa para trás muitos outros– familiares e amigos – cujas vidas sãoprofundamente afetadas emocional, social eeconomicamente. Estima-se que os custos relativosà morte auto-infligida sejam de bilhões de dólarestodos os anos (3).
Como é definido suicídio?O comportamento suicida vai desde
simplesmente pensar em acabar com a vida até odesenvolvimento de um plano para cometer osuicídio e conseguir os meios de realizá-lo, ou seja,tentando se matar até finalmente realizar o ato("suicídio completado"). O termo "suicídio" em sitraz uma referência direta à violência e àagressividade. Aparentemente, Sir Thomas Brownefoi quem desenvolveu a palavra "suicídio" em seulivro Religio Medici (1642). Médico e filósofo,Browne baseou-se na palavra latina sui (si próprio)e caedere (matar). O novo termo refletia o desejo dedistinguir entre o homicídio contra si próprio e ocontra uma outra pessoa (4).
Uma definição muito conhecida de suicídio é aque aparece na edição de 1973 da EnciclopédiaBritânica, citada por Shneidman: "o ato humano deinfligir a si próprio o fim da vida"(5). Certamente,em qualquer definição de suicídio, a intenção demorrer é o elemento chave. Todavia, é extremamentedifícil reconstruir os pensamentos das pessoas quecometem suicídio, a não ser que elas façamdeclarações claras sobre suas intenções antes desua morte, ou deixem um bilhete de suicida. Nemtodos os que sobrevivem a um ato suicida pretendemviver, e nem todas as mortes suicidas são planejadas.
Desta forma, estabelecer uma correlação entre aintenção e a realização pode ser difícil. Em muitossistemas legais, se as circunstâncias foremconsistentes com o suicídio e a possibilidade deassassinato, morte acidental ou morte por causasnaturais é eliminada, a morte é confirmada comosuicídio.
Existe muita discrepância a respeito daterminologia mais apropriada a ser adotada paradescrever o comportamento suicida.Recentemente, foi proposto um termo,fundamentado no resultado, de "comportamentosuicida fatal" para atos suicidas que resultam emmorte e, similarmente, "comportamento suicida nãofatal" para atos suicidas que não resultam em morte(6). Essas ações também são chamadas de"tentativas de suicídio" (um termo comum nosEstados Unidos), "parassuicídio" e "autolesãodeliberada" (termos que são comuns na Europa).
O termo "idéias suicidas" em geral é utilizadona literatura técnica e refere-se ao pensamento dematar-se, em vários graus de intensidade eelaboração. Na literatura, o termo também se refereà sensação de estar cansado da vida, uma crençade que a vida não vale a pena, assim como o desejode não acordar do sono (7, 8). Embora essesdiferentes sentimentos – ou ideações – expressemdiferentes graus de gravidade, não existenecessariamente um continuum entre eles.Adicionalmente, a intenção de morrer não énecessariamente um critério para o comportamentosuicida não-fatal.
Uma outra forma comum de violência auto-infligida é a automutilação. Trata-se da destruiçãodireta e deliberada de partes do corpo sem aintenção suicida consciente. Favazza (9) propôstrês categorias principais:
Automutilação grave – inclusive cegar-se eauto-amputar-se dedos, mãos, braços,membros, pés ou genitália.Automutilação estereotipada – tal comobater a cabeça, morder-se, bater no própriobraço, cortar os olhos ou a garganta, ouarrancar o cabelo.Automutilação superficial a moderada -como cortar-se, arranhar-se ou queimar apele, enfiar agulhas na pele ou arrancar oscabelos compulsivamente.
A automutilação envolve fatores muitodiferentes oriundos de comportamento suicida enão será discutida aqui. Para uma revisão extensaa respeito da automutilação, consultar Favazza (9).
•
•
•
CAPÍTULO 7. VIOLÊNCIA AUTO-INFLIGIDA • 185
Extensão do problemaComportamento suicida fatal
Os índices nacionais de suicídio variamconsideravelmente (ver Tabela 7.1). Entre os paísesque relatam seus índices à Organização Mundial deSaúde, os índices mais elevados encontram-se nospaíses do leste Europeu (por exemplo, Belarus 41,5para cada 100 mil pessoas, Estônia 37,9 para cada100 mil, a Federação Rússia 43,1 para cada 100 mil ea Lituânia 51,6 para cada 100 mil). Índices elevadosde suicídio também são reportados no Sri Lanka (37para cada 100 mil em 1996), com base em dados doEscritório Regional da OMS para o sudeste da Ásia(10). Índices inferiores são encontrados, sobretudo,na América Latina (notadamente a Colômbia 4,5 paracada 100 mil e o Paraguai 4,2 para cada 100 mil) e emalguns países da Ásia (por exemplo, as Filipinas 2,1para cada 100 mil e a Tailândia 5,6 para cada 100 mil).Países de outras partes da Europa, América do Nortee partes da Ásia e a região do Pacífico tendem a seencaixar em algum ponto desses extremos (porexemplo, Alemanha 14,3 para cada 100 mil, Austrália17,9 para cada 100 mil, Bélgica 24,0 para cada 100mil, Canadá 15,0 para cada 100 mil, Finlândia 28,4para cada 100 mil, Estados Unidos 13,9 para cada100 mil, França 20,0 para cada 100 mil, Japão 19,5para cada 100 mil e Suíça 22,5 para cada 100 mil).Infelizmente, há poucas informações disponíveissobre os índices de suicídio em países africanos.(11).
Dois países, Finlândia e Suécia, têm dados sobreos índices de suicídio desde o século XVIII e ambosmostram um índice crescente de suicídio (12). Duranteo século XX, a Escócia, a Espanha, a Finlândia, aIrlanda, a Noruega, os Países Baixos e a Suéciaapresentaram um aumento significativo dos índicesde suicídio, enquanto que a Inglaterra e País de Gales(dados combinados), Itália, Nova Zelândia e Suíçaapresentaram uma redução importante. Não houvemudanças significativas na Austrália (12). Duranteo período de 1960 -1990, pelo menos 28 países outerritórios apresentaram números crescentes nosíndices de suicídio, inclusive a Bulgária, China(Província de Taiwan), Cingapura, Costa Rica eMaurício enquanto oito países apresentaram índicesdecrescentes, inclusive Austrália, Inglaterra e Paísde Gales (dados combinados) (12).
Os índices de suicídio não estão distribuídosigualmente em toda a população. Um marcadordemográfico importante para o risco de suicídio é aidade. No mundo todo, os índices de suicídio tendem
a aumentar com a idade, embora alguns países, comoo Canadá, tenham recentemente apresentado umpico secundário entre pessoas jovens, com idadeentre 15 e 24 anos. A Figura 7.1 mostra os índicesglobais registrados por idade e sexo em 1995. Osíndices variaram de 0,9 para cada 100 mil no grupoetário entre 5 a 14 anos a 66,9 para cada 100 mil entrepessoas com idade de 75 anos ou mais. No geral, osíndices de suicídio entre pessoas com 75 anos oumais são aproximadamente três vezes mais elevadosdo que entre pessoas mais jovens, com idade entre15 e 24 anos. Essa tendência é encontrada paraambos os sexos, mas é mais evidente entre oshomens. Para as mulheres, os índices de suicídioapresentam padrões diferentes. Em alguns casos,os índices de suicídio entre as mulheres aumentamconsistentemente com a idade, em outros, o índiceapresenta seu pico com a idade mediana e, ainda, emoutros, sobretudo em países emergentes e em gruposminoritários, os índices de suicídio em mulheres têmseu pico entre as adultas jovens (13).
Embora os índices de suicídio sejam geralmentemais elevados em pessoas mais velhas, devido adistribuições demográficas o número absoluto decasos registrados é ainda mais alto entre aquelescom menos de 45 anos, (ver Tabela 7.2). Esta é umamudança notável em relação há 50 anos, quando onúmero absoluto de casos de suicídio aumentavapouco com a idade. Isto não se explica em termosdo envelhecimento geral da população global e, naverdade, ocorre o contrário em relação a essatendência demográfica. Atualmente, os índices desuicídio são mais elevados entre pessoas abaixo de 45anos de idade, em comparação com as acima de 45anos em aproximadamente um terço de todos os países,e este é um fenômeno que parece estar presente emtodos os continentes, sem se correlacionar com níveisde industrialização ou riqueza. Exemplos de países eáreas em que os índices de suicídio (assim como emnúmeros absolutos de casos) são mais elevados entrepessoas abaixo de 45 anos do que entre as acimadessa idade são Austrália, Barein, Canadá, Colômbia,Equador, Guiana, Kuwait, Maurício, Nova Zelândia,Sri Lanka e Reino Unido. Os índices de suicídio entrejovens são elevados em várias Ilhas do Pacífico, comoFiji (entre os de etnia Indiana) e Samoa, tanto entrehomens como mulheres (14).
Sexo, cultura, raça e etnia também são fatoresimportantes na epidemiologia do suicídio. Os índicesde suicídio são mais elevados entre homens do queentre mulheres. A proporção de suicídios entrehomens em relação às mulheres varia de 1,0:1 a 10,4:1
186 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
(ver Tabela 7.1).Tal proporção parece ser influenciada, em parte, pelocontexto cultural. Ela é relativamente baixa em partesda Ásia (por exemplo, 1,0:1 na China, 1,5:1 emCingapura, 1,6:1 nas Filipinas), elevada em váriospaíses da antiga União Soviética (6,7:1 em Belarus,6,2:1 na Lituânia) e muito elevada no Chile (8,1:1) ePorto Rico (10,4:1). Em geral, parece ocorrerem cercade três suicídios masculinos para cada suicídiofeminino, sendo que isso é mais ou menos consistenteem diferentes grupos etários, com exceção de pessoasem idade avançada, quando os homens tendem aapresentar índices ainda mais elevados. De uma formageral, a diferença entre os sexos, em termos de índicesde suicídio, é menor em países asiáticos (15) do queno resto do mundo. As diferenças, normalmentegrandes entre países e por sexo, mostram como éimportante para cada país monitorar suas tendênciasepidemiológicas de forma a determinar os grupospopulacionais com o maior risco de suicídio.
Dentro de um mesmo país, a ocorrência desuicídios entre os caucasianos é duas vezes maiordo que entre outras raças, embora os índices entreafro-americanos tenham aumentado nos EstadosUnidos recentemente (2). Este padrão elevado entreos caucasianos também foi observado na África doSul e no Zimbábue (16). Exceções a esse índiceelevado entre os caucasianos são encontradas nasantigas repúblicas Soviéticas daArmênia, Azerbaidjão e Geórgia (17).
Pessoas que per tencem a ummesmo grupo étnico parecemapresentar índices de suicídiosimilares, como no interessanteexemplo de Estônia, Finlândia e
Hungria, que apresentam índices muito elevados,embora a Hungria esteja geograficamente muitodistante da Estônia e Finlândia. Por outro lado,grupos étnicos diferentes - mesmo quando vivendono mesmo local - podem ter índices de suicídio muitodiferentes. Em Cingapura, por exemplo, as pessoasde etnia chinesa e os de etnia indiana apresentamíndices de suicídio muito mais elevados do que osde etnia malaia (18). Normalmente, os índices desuicídio são mais elevados em grupos indígenas,por exemplo, em grupos indígenas da América doNorte (21), Austrália (19) e China (Província deTaiwan) (20) (ver Quadro 7.1).
Cuidados no uso de dados sobre osuicídio
Varia muito entre os países a forma como todosos tipos de mortes são registrados e, assim, compararíndices de suicídio entre diferentes países torna-sealgo extremamente difícil. Mesmo naqueles paísesque desenvolveram critérios padrão de registro,como a Austrália, a maneira como esses critériossão aplicados pode variar consideravelmente (24).Às vezes podem ocorrer estimativas incorretas desuicídio devido a circunstâncias simples, como data
Índices globais de suicídio por idade e sexo, 1995
FIGURA 7.1
Idade (anos)
CAPÍTULO 7. VIOLÊNCIA AUTO-INFLIGIDA • 187
de encerramento imposta pelo governo para asestatísticas oficiais ou atrasos devido às exigênciasdo médico legista. Em Hong Kong SAR, China, porexemplo, considera-se que as estimativas desuicídios estão abaixo dos valores reais emaproximadamente 5% a 18% unicamente por motivosdessa natureza (25).
Em um determinado país, os índices de suicídioregistrados também podem variar de acordo com afonte dos dados. Por exemplo, na China, a estimativavai de 18,3 para cada 100 mil (dados da OrganizaçãoMundial de Saúde), passando por 22 para cada 100mil (dados do Ministério da Saúde), e chegando a30 para cada 100 mil (estatística da AcademiaChinesa de Medicina Preventiva) (26).
Os dados relacionados à mortalidade porsuicídio geralmente subestimam a verdadeiraocorrência do suicídio em uma população. Essesdados são o produto final da cadeia de informaçõesque inclui as pessoas (geralmente familiares) queencontram o corpo, médicos, policiais, médicoslegistas e estatísticos. Essas pessoas, por uma sériede motivos, podem relutar em chamar de suicídiouma morte. Isto ocorre em locais ondecomportamentos religiosos e culturais condenam osuicídio. Contudo, Cooper e Milroy (27) revelaramum índice de 40% de suicídios encobertos emregistros oficiais em determinadas regiões daInglaterra. O suicídio pode ser mascarado para evitaro estigma à pessoa que tirou sua própria vida e àspessoas da família, por motivos de conveniênciasocial, razões políticas, para as pessoas poderem sebeneficiar de apólices de seguro, ou porque osuicídio foi deliberadamente mascarado como umacidente pela pessoa que o cometeu, por exemplo,como um acidente rodoviário. O suicídio tambémpode ser mal classificado como causa indeterminadade morte, ou como causa natural, por exemplo,quando pessoas - particularmente os idosos - deixamde tomar os medicamentos que mantêm sua vida.
O suicídio pode não ser reconhecido oficialmentequando usuários de drogas tomam uma overdose,quando pessoas deixam deliberadamente dealimentar-se (o que é denominado de "caquexiasuicida" (28)), ou quando as pessoas morrem algumtempo depois da tentativa de suicídio. Nesses casos,e também nos casos de eutanásia ou suicídioassistido, oficialmente a causa clínica da morte, emgeral, é aquela registrada. Os casos não reportadostambém podem relacionar-se à idade, com ofenômeno sendo mais freqüente em pessoas idosas.Apesar de todas essas limitações, tem-se
argumentado que as classificações dos índicesnacionais de suicídio são razoavelmente precisas.
Comportamento suicida não fatal eidéias suicidas
Relativamente poucos países possuem dadosconfiáveis sobre o comportamento suicida não-fatal,sendo que o principal motivo é a dificuldade para secoletarem informações a esse respeito. Somente umaminoria dos que tentam o suicídio vão às clínicasou hospitais buscando cuidados médicos. Alémdisso, em muitos países desenvolvidos, astentativas de suicídio são uma ofensa sujeita àpunição e, desta forma, os hospitais deixam deregistrar as ocorrências. Adicionalmente, em muitoslocais, os ferimentos não precisam ser relatados eas informações referentes aos mesmos não sãocoletadas em nenhum nível. Outros fatores tambémpodem influenciar os registros, como idade, métodoutilizado para tentativa de suicídio, cultura e acessoa serviços de saúde. Em resumo, na maioria dospaíses, os índices de tentativas de suicídio não sãoclaramente conhecidos.
Existem evidências sugerindo que, em média,apenas cerca de 25% dos que tentam um ato suicidaentram em contato com hospitais públicos(possivelmente um dos melhores lugares para acoleta de dados) (29, 30) e esses casos não sãonecessariamente os mais graves. Os casosregistrados são, desta forma, apenas a ponta doiceberg, e a grande maioria de suicidas permaneceno anonimato. (31). Várias instituições, inclusivecentros nacionais de controle e prevenção deferimentos, departamentos de estatística e, em váriospaíses, o departamento de justiça, mantêm registrosde acontecimentos não-fatais registrados nosserviços de saúde. Estes registros fornecem dadosúteis para a finalidade de pesquisa e prevenção, poisos que tentam o suicídio correm o risco subseqüentede novo comportamento suicida, tanto fatal comonão-fatal. Representantes oficiais da saúde públicatambém dependem dos dados de registroshospitalares, pesquisas populacionais e outrosestudos, fontes que geralmente não detéminformações sobre os sistemas de dados demortalidade.
Os números disponíveis demonstram - tanto emrelação ao tamanho da população como em númerosabsolutos - que o comportamento suicida não fatalé mais freqüente entre jovens do que entre pessoas
188 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
QUADRO 7.1
Nos últimos 20 ou 30 anos, os índices de suicídio aumentaram significativamente entre as populaçõesindígenas da Austrália e do Canadá. Na Austrália, o suicídio entre os aborígines e a população das ilhasdo estreito de Torres era algo considerado muito incomum. Um pouco mais de um quarto dessas pessoasvive no estado de Queensland. O índice geral de suicídio em Queensland, no período de 1990 a 1995, foide 14,5 para cada 100 mil pessoas, enquanto que a taxa entre os aborígines e os habitantes das ilhas doestreito de Torres foi de 23,6 para cada 100 mil.
Os suicídios entre os indígenas australianos estão concentrados, sobretudo, entre homens jovens.Em Queensland, 84% de todos os suicídios de indígenas ocorreram entre homens jovens com idadeentre 15 e 34 anos, e o índice de homens indígenas entre 15 e 24 anos foi de 112,5 para cada 100 mil (22).O método mais comum de suicídio entre homens jovens indígenas é o enforcamento.
No norte ártico do Canadá, o índice de suicídios entre os Inuit, relatado em vários estudos, ficouentre 59,5 e 74,3 para cada 100 mil, contra cerca de 15,0 para cada 100 mil considerando-se a populaçãogeral. Entre os Inuit, os homens jovens constituem o maior risco de suicídio, e esse índice vem aumentando.Índices de 195 para cada 100 mil foram registrados entre os jovens com idade entre 15 e 25 anos (23).
Várias explicações foram apresentadas para as elevados índices de suicídio e comportamento suicidaentre as populações indígenas. Entre as causas propostas estão a enorme perturbação social e culturalcriada pelas políticas do colonialismo e as dificuldades desde então encontradas pelos povos indígenaspara se ajustar e integrar às sociedades modernas.
Na Austrália, até a década de 1960 os grupos aborígines foram sujeitos a leis rígidas e discriminação.Quando essas leis, inclusive as restrições à venda de bebidas alcoólicas foram suspensas por um curtoperíodo na década de 1970, as rápidas mudanças sociais que oprimiam as pessoas indígenas levaram àinstabilidade na vida comunitária e familiar. Essa instabilidade continua desde então, com elevadosíndices de criminalidade, delinqüência e encarceramento, violência e acidentes, dependência alcoólica euso de substâncias e uma taxa de homicídios que é dez vezes maior do que a encontrada na populaçãoem geral.
No ártico canadense, no início do século XIX, à medida que os primeiros estrangeiros - baleeiros ecomerciantes de pele - chegaram, as epidemias assolaram a região tirando dezenas de milhares de vidase, até 1900, reduzindo em dois terços o tamanho da população. No final de 1930, o comércio de peles tinhasido extinto e o Canadá introduziu um sistema de bem-estar no Ártico. Nas décadas de 1940 e 1950 vieramos missionários e houve uma tentativa de incorporar os Inuits. Uma explosão febril por petróleo teveinício em 1959, o que aumentou ainda mais a desintegração social.
Pesquisas realizadas acerca do suicídio entre os Inuits canadenses identificaram vários fatores comocausas indiretas do suicídio:
— pobreza;— separação e perdas na infância;— acesso às armas de fogo;- uso de bebida alcoólica e dependência;— histórico de problemas de saúde pessoal ou familiar;— histórico de abuso sexual ou físico.Tanto na Austrália como no Canadá estão sendo empenhados esforços no intuito de se dar mais
atenção ao comportamento suicida entre as populações indígenas. Na Austrália, uma estratégia nacionalbusca evitar o suicídio entre pessoas jovens através de vários programas voltados para os jovensindígenas. Esses programas visam a administrar as necessidades específicas dos jovens indígenas e sãoconduzidos em parceria com organizações que representam o interesse da população indígena, como oConselho de Coordenação Aborígine.
Medidas construtivas para se evitar a ocorrência de suicídio no Ártico canadense incluem melhoresrespostas às crises, amplo e novo desenvolvimento comunitário e progresso em direção àautogovernância das áreas indígenas. O novo e vasto território de Nunavut foi criado em 1o de abril de1999, dando à população Inuit local a autodeterminação e devolvendo a eles alguns de seus direitos eherança.
Suicídio entre povos indígenas: casos da Austrália e Canadá
CAPÍTULO 7. VIOLÊNCIA AUTO-INFLIGIDA • 189
mais velhas. A proporção de comportamento suicidanão fatal entre os que têm mais de 65 anos égeralmente estimada em cerca de 1:2-3, enquantoque, em pessoas jovens abaixo de 25 anos, essaproporção pode atingir 1:100-200 (32, 33).
Embora o comportamento suicida seja menosfreqüente entre os mais velhos, a probabilidade deum suicídio fatal é mais elevada entre eles (28, 34).Em média, as tentativas de suicídio em pessoas deidade são, em termos psicológicos e médicos, maisgraves, sendo que uma "falha" em uma tentativa desuicídio é geralmente resultado do acaso. Alémdisso, normalmente, os índices de comportamentosuicida não fatal tendem a ser 2 a 3 vezes maiselevados em mulheres do que em homens. AFinlândia é uma exceção a este padrão (35).
Dados extraídos de um estudo contínuo docomportamento suicida fatal em 13 países mostramque no período de 1989 a 1992 a média mais elevada,padronizada por idade, de tentativas de suicídio emhomens foi encontrada em Helsinque, Finlândia (314para cada 100 mil), e a taxa mais baixa (45 para cada100 mil) foi encontrada em Guipúzcoa, Espanha -uma diferença sete vezes menor (35). A média maiselevada padronizada por idade para mulheres foiencontrada em Cergy-Pontoise, França (462 paracada 100 mil) e a taxa mais baixa (69 para cada 100mil) foi novamente encontrada em Guipúzcoa.
Com apenas uma exceção, a de Helsinque, osíndices de tentativas de suicídio foram maiores entremulheres do que entre homens. Na maioria doscentros, as maiores taxas de suicídio foramencontradas entre grupos de jovens, enquanto queos índices entre pessoas com 55 anos ou mais foram,em geral, os menores. O método mais comumutilizado foi o envenenamento, seguido de corte.Mais da metade dos que tentaram o suicídio fizerammais de uma tentativa, sendo que aproximadamente20% das segundas tentativas foram feitos numperíodo de 12 meses após a primeira.
Dados de uma amostragem longitudinal,representativa de aproximadamente 10 miladolescentes com idade entre 12 e 20 anos, naNoruega, mostraram que 8% tinham tentado umavez o suicídio e 2,7% tinham feito essa tentativadurante os dois anos de duração do estudo. Análisesde regressão logística dos dados mostraram quehavia uma maior probabilidade de tentativa desuicídio se a pessoa tivesse feito uma tentativaanteriormente, se ela fosse do sexo feminino,estivesse na puberdade, tivesse idéias suicidas,consumisse álcool, não vivesse com ambos os pais
ou tivesse um nível de auto-estima baixo. (36).As idéias suicidas são mais comuns do que a
tentativa de suicídio e o suicídio realizado (8).Todavia, sua extensão ainda não é clara. Uma revisãodos estudos publicados após 1985 sobrepopulações de adolescentes (sobretudo entreestudantes do ensino médio) sugeriu que 3,5% a52,1% dos adolescentes relatam ter pensamentossuicidas (31). É possível que essa ampla diferençade porcentagem possa ser explicada pelo uso dediferentes definições para idéias suicidas e pordiferentes períodos de tempo a que os estudos sereferiam. Existem evidências de que as mulheres,inclusive na idade avançada, são mais suscetíveisdo que os homens de terem pensamentos suicidas(37). No geral, a ocorrência de ideação de suicídioentre adultos mais velhos de ambos os sexos foiestimada entre 2,3% (para os que tiverampensamentos suicidas nas duas últimas semanas) e17% (para os que sempre têm pensamentos suicidas)(38). Todavia, comparada a outras formas decomportamento suicida, as idéias suicidas podem nãoser um indicador muito bom de quais adolescentesou adultos necessitam mais de serviços preventivos.
Quais os fatores de risco para ocomportamento suicida?
O comportamento suicida tem um grande númerode causas subjacentes. Os fatores que colocam osindivíduos em risco de suicídio são complexos einteragem entre si. Identificar esses fatores ecompreender seu papel tanto no suicídio fatal comono não-fatal é fundamental para evitarmos ossuicídios. Epidemiologistas e especialistas emsuicídio descreveram várias característicasespecíficas que estão intimamente associadas a ummaior risco de comportamento suicida. Temos, alémde fatores demográficos, como idade e sexo, ambosjá mencionados anteriormente, entre outros, ospsiquiátricos, biológicos, sociais e ambientais, etambém os fatores relacionados ao histórico de vidada pessoa.
Fatores psiquiátricos A maior parte do que se conhece sobre risco
suicida provém de estudos em que os pesquisadoresentrevistaram um dos pais que sobreviveram ao ato,ou outro parente próximo, ou amigo para identificaracontecimentos específicos da vida e sintomaspsiquiátricos que uma vítima de suicídio tenha tido
190 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
QUADRO 7.2
QUADRO 7.2Depressão e suicídioA depressão é uma doença mental normalmente associada aosuicídio. A ansiedade, uma força motriz poderosa no processo de suicídio, está intimamente ligada àdepressão e os dois tipos de transtorno são, às vezes, indistintos. Os estudos revelaram que até 80% daspessoas que cometeram suicídio tiveram sintomas depressivos.
Pessoas de todas as idades podem sentir depressão. Todavia, ela é mais difícil de ser detectada emhomens que, em geral, buscam ajuda médica mais raramente do que as mulheres. A depressão em homensé, às vezes, associada ao histórico de abuso ou violência, tanto dentro como fora da família. O tratamentoda depressão em homens é muito importante, pois em muitas culturas o suicídio é, em larga escala, umfenômeno masculino.
Entre crianças e adolescentes, a natureza da depressão geralmente difere da que é encontrada emadultos. Pessoas jovens deprimidas tendem a "mostrar sinais" - faltas às aulas, baixas notas, maucomportamento, violência e abuso do álcool e drogas - e também tendem a dormir e comer mais. Aomesmo tempo, a recusa em comer e o comportamento anoréxico são freqüentemente encontrados nadepressão em jovens, especialmente entre as meninas, mas também entre os meninos. Estes transtornosgraves de apetite são, por si próprios, um maior risco de suicídio. A depressão tem outras manifestaçõesfísicas, sobretudo em pessoas mais velhas, como doenças do estômago, tonturas, palpitações e doresem várias partes do corpo. A depressão em pessoas mais velhas pode ser acompanhada de outrasdoenças ou transtornos, tais como derrame, enfarto do miocárdio, câncer, reumatismo e mal de Parkinsonou de Alzheimer.
Essa tendência para o suicídio pode ser reduzida se a depressão e a ansiedade forem tratadas.Muitos estudos confirmaram os efeitos benéficos dos antidepressivos e de várias formas de psicoterapia,sobretudo a terapia comportamental cognitiva. Fornecer um bom apoio psicossocial para as pessoasmais velhas, inclusive o uso do telefone para contato com profissionais da área de saúde e outros,também tem demonstrado ser uma boa maneira de se obter uma redução significativa da depressão e dono número de mortes por suicídio entre as pessoas mais velhas.
Depressão e suicídio
nas semanas ou meses antes de morrer. Este tipo detrabalho é conhecido como "autópsia psicológica".Por meio dessa abordagem, as pesquisas descobriramque muitos adultos que cometeram suicídio exibiamevidências, sinais ou sintomas anteriores quesugeriam uma condição psiquiátrica, meses ou atéanos antes da morte. (39, 40). Alguns dos principaisfatores psiquiátricos ou psicológicos associados aosuicídio são (41-48):
— depressão profunda;— outros transtornos relacionados ao estado dehumor (afetivos), como transtorno afetivo bipolar(uma condição caracterizada por períodos dedepressão que se alternam com períodos deeuforia, ou mania, e na qual os estados alteradospodem durar dias ou, até mesmo, meses);— esquizofrenia;— ansiedade e transtornos de conduta epersonalidade;— impulsividade;— um sentimento de falta de esperança.
A depressão desempenha um papel fundamentalno suicídio e considera-se que está envolvida emaproximadamente 65 a 90% de todos os casos desuicídio com patologias psiquiátricas (42).
Entre pacientes com depressão, o risco pareceser mais alto quando esses pacientes não fazem otratamento corretamente por se considerarem nãotratáveis, ou assim serem considerados pelos própriosespecialistas (43) (ver Quadro 7.2). O risco de suicídiodurante toda a vida nos que são afetados por grandesdepressões com característica bipolares foi estimadoem cerca de 12 a 15% (44, 45), embora um novo erecente exame dessa evidência tenha sugerido umnível de risco muito menor (46).
A esquizofrenia é uma outra condição psiquiátricade elevada associação com o suicídio. O risco desuicídio durante a vida em pessoas com esquizofreniaé estimado em aproximadamente 10 a 12% (47). Orisco é particularmente mais elevado em pacientesjovens do sexo masculino; pacientes em estágiosiniciais da doença, especialmente os que tinham bom
CAPÍTULO 7. VIOLÊNCIA AUTO-INFLIGIDA • 191
desempenho mental e social antes da manifestaçãoda doença; pacientes com recaídas crônicas epacientes com medo da "desintegração mental" (48).
Outros fatores, como a sensação de falta deesperança e a falta de esperança propriamente dita,também aumentam o risco de uma pessoa cometersuicídio. Em um estudo longitudinal de 10 anosrealizado nos Estados Unidos, por exemplo, Beck etal. (49) demonstraram a importância do sentimentode falta de esperança como um dos grandesindicadores do comportamento suicida. Esse estudosobre a falta de expectativas futuras identificoucorretamente 91% dos pacientes que mais tardecometeram suicídio.
O uso de álcool e drogas também desempenhaum papel importante em relação ao suicídio. NosEstados Unidos, pelo menos um quarto de todos ossuicídios envolvem o uso do álcool (50). O risco deuma pessoa cometer o suicídio durante a vida entreos que são dependentes do álcool não é muito menordo que o que ocorre entre pessoas com transtornosdepressivos (50). Existem, todavia, muitas ligaçõesentre o uso do álcool e a depressão, e, em geral, édifícil determinar qual dos dois está provocando acondição. Por exemplo:
— O uso do álcool pode levar direta ouindiretamente à depressão, por meio da sensaçãode declínio e falha, sentida pela maioria daspessoas que são dependentes do álcool.— O abuso do álcool pode ser uma forma deautomedicação para aliviar a depressão.— Tanto a depressão como o abuso do álcoolpodem ser o resultado de estresses específicosda vida de uma pessoa.Entretanto, embora o suicídio entre os que sofrem
de transtornos depressivos aconteça no início dohistórico da doença, principalmente no grupo etárioentre 30 e 40 anos, o suicídio entre os que sofrem dedependência alcoólica geralmente ocorre mais tarde.Além disso, quando esse problema ocorre, ele trazconsigo outros fatores, como ruptura dosrelacionamentos, marginalização social, pobreza e oinício de uma deterioração física oriunda do abusocrônico do álcool. Considera-se que o álcool e o usode drogas desempenham um papel de menorrelevância em casos de suicídio em partes da Ásia,sendo que o mesmo não ocorre em outros locais. Emum estudo sobre o suicídio entre adolescentes emHong Kong SAR, China, somente cerca de 5% dosque cometeram suicídio tinham um histórico de álcoole uso de drogas (51). Essa descoberta poderia explicar
a taxa relativamente baixa de suicídios entreadolescentes na Ásia, exceto na China.
Um histórico de tentativa anterior de suicídio éum dos mais importantes indicadores decomportamento suicida fatal subseqüente (2). O riscoé maior no primeiro ano, e especialmente nos primeiros6 meses, após a tentativa. Quase 1% das pessoasque tentam suicídio morre dentro de um ano (52) ecerca de 10% eventualmente se suicidam. Asestimativas de aumento de risco resultante dehistórico de tentativas anteriores variam de um estudopara outro. Gunnell e Frankel, por exemplo, relatamum aumento de 20 a 30 vezes no risco de suicídio emcomparação com a população em geral, o que éconsistente com outros estudos (53). Embora aexistência de uma tentativa anterior de suicídioaumente o risco de que a pessoa venha a cometersuicídio, a maioria dos que realmente o cometem nãofez uma tentativa anterior (24).
Indicadores biológicos e médicosUm histórico familiar é um indicador importante
para o aumento de risco de suicídio. Para algunspesquisadores, esse histórico sugere que pode haverum traço genético que predisponha algumas pessoasa um comportamento suicida. Na verdade, dadosobtidos a partir de estudos sobre gêmeos e criançasadotivas confirmam a possibilidade de que fatoresbiológicos tenham um papel fundamental nocomportamento suicida. Estudos realizados comgêmeos demonstraram que gêmeos monozigóticos,que compartilham 100% de seus genes, apresentammaior concordância em tentativas de suicídio e osuicídio em si do que gêmeos dizigóticos, quecompartilham 50% de seus genes (54). Todavia, nãohouve ainda estudos sobre gêmeos monozigóticoscriados separadamente - um pré-requisito para umestudo com uma metodologia sólida - e nenhum estudosobre gêmeos controlou cuidadosamente ostranstornos psiquiátricos. Pode ser que ocomportamento suicida seja um transtornopsiquiátrico herdado, em vez de haver umapredisposição genética para o comportamentosuicida, e que esse transtorno faça com que seja maisprovável o comportamento suicida em indivíduosrelacionados.
As descobertas feitas a partir de um estudo decontrole de casos entre crianças adotadas mostraramque os que cometeram suicídio tendiam a ter parenres
192 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
que cometeram suicídio (55). Esses suicidas eramamplamente independentes da presença de umtranstorno psiquiátrico, sugerindo que existe umapredisposição genética para o suicídioindependente de - ou possivelmente somada a -graves transtornos psiquiátricos associados aosuicídio. Outros fatores sociais e ambientaisprovavelmente também interagem com o históricoda família para aumentar o risco de suicídio.
Evidências adicionais que sugerem uma basebiológica para o suicídio se originam de estudos deprocessos neurobiológicos que estão sujeitos acondições psiquiátricas, inclusive as quepredispõem os indivíduos ao suicídio. Algunsestudos, por exemplo, revelaram níveis alterados demetabólitos de serotonina no fluído cerebrospinhalde pacientes psiquiátricos adultos que cometeramsuicídio (56, 57). A serotonina é um neurormônioimportante que controla o humor e a agressão. Foidemonstrado que níveis baixos de serotonina eresposta inadequada a esses testes, que interferemno metabolismo da pessoa, persistem durante algumtempo depois de surtos da doença (58, 59). Umfuncionamento alterado desses neurônios quecontêm a serotonina no córtex pré-frontal do cérebropode ser a causa subjacente da incapacidade deuma pessoa de resistir a impulsos e agir sobpensamentos suicidas (60, 61).
O suicídio também pode ser o resultado de umadoença grave envolvendo muita dor, especialmenteuma que cause incapaciades. A ocorrência dedoença nos que cometem suicídio é estimada empelo menos 25%, embora ela possa chegar a 80%entre pessoas mais velhas que cometem suicídio(62). Em mais de 40% dos casos, a doença física éconsiderada um fator contribuinte importante parao comportamento e a ideação suicida, especialmentese houver também transtornos de humor e sintomasdepressivos (63). É compreensível que a idéia deum sofrimento insuportável e a humilhação dadependência possam levar pessoas a considerarempôr um fim a sua vida. Todavia, várias investigaçõestêm demonstrado que, na ausência de sintomaspsiquiátricos, as pessoas que sofrem de uma doençafísica raramente cometem suicídio (42).
Acontecimentos da vida agindo comofatores desencadeantes
Determinados acontecimentos da vida podemservir como fatores desencadeantes do suicídio.Acontecimentos específicos que um pequeno
número de estudos tentou relacionar ao suicídio são:perdas pessoais, conflitos interpessoais, umrelacionamento rompido ou perturbado, problemaslegais ou relativos ao trabalho (64-67).
A perda de uma pessoa amada, quer seja atravésdo divórcio, separação ou morte, pode provocarsentimentos profundos de depressão, especialmentese a pessoa que morreu era um parceiro ouextremamente íntima. Conflitos nos relacionamentosinterpessoais ocorridos no lar, locais de estudo outrabalho também podem liberar sentimentos de faltade esperança e de depressão. Em um estudo feitocom mais de 16 mil adolescentes na Finlândia, porexemplo, os pesquisadores descobriram umaocorrência muito grande de depressão e graveideação suicida entre os que eram maltratados naescola e entre os que eram os perpetradores dosmaus tratos (68). Um estudo retrospectivo realizadono sudoeste da Escócia controlando idade, sexo etranstornos mentais revelou que confli tointerpessoal adverso pode estar associado aosuicídio (69). Em um estudo englobando todos ossuicídios durante um período de 2 anos em Ballarat,Austrália, os pesquisadores descobriram quedificuldades sociais e pessoais estavam associadasao suicídio em mais de um terço dos casos (70). Apesquisa também indicou uma maior probabilidadede depressão e tentativa de suicídio entre vítimasde violência entre parceiros íntimos (71-74).
Um histórico de abuso físico e sexual na infânciaaumenta o risco de suicídio na adolescência e faseadulta (75-77). Humilhação e vergonha sãofreqüentemente sentidas pelas vítimas de abusosexual (2). As pessoas que foram vítimas de abusosdurante a infância e adolescência geralmente nãosentem confiança nos relacionamentosinterpessoais e têm dificuldade para manter essesrelacionamentos. Essas pessoas apresentamdificuldades sexuais persistentes e sensaçõesintensas de inadequação e inferioridade.Pesquisadores na Holanda examinaram, em 1490estudantes adolescentes, a relação existente entreabuso sexual e comportamento suicida, edescobriram que os que tinham sofrido abusoapresentavam comportamento suicida e outrosproblemas emocionais e comportamentais maissignificativos do que os adolescentes que nãotinham sido vítimas de abuso (78) . Um estudolongitudinal de 17 anos, realizado entre 375 pessoasnos Estados Unidos, descobriu que 11% relataramter sido vítimas de abuso físico ou sexual antes de18 anos de idade. Pessoas com idade entre 15 e 21
CAPÍTULO 7. VIOLÊNCIA AUTO-INFLIGIDA • 193
anos que tinham sofrido abuso apresentavamcomportamento suicida, depressão, ansiedade,desordens psiquiátricas e outros problemasemocionais e comportamentais mais do que os quenão tinham sofrido abuso. (79).
A orientação sexual também pode estarrelacionada a um maior risco de suicídio emadolescentes e jovens adultos (80, 81). Estima-seque a ocorrência de suicídio entre gays e lésbicasjovens, por exemplo, varie de 2,5% a 3,0% (82, 83).Os fatores que podem contribuir para o suicídio etentativas de suicídio incluem a discriminação,estresse nos relacionamentos interpessoais, drogase álcool, ansiedade em relação a HIV/AIDS e recursosde apoio limitados (84, 85).
O fato de se ter em um relacionamento matrimonialestável, por outro lado, parece, em geral, ser um fator"de proteção" contra o suicídio. Asresponsabilidades pela educação das crianças tambémsão um elemento adicional de proteção (86). Estudossobre a relação entre estado civil e suicídio revelamíndices elevados de suicídio entre solteiros e pessoasque nunca se casaram nas culturas ocidentais, índicesainda maiores entre as pessoas viúvas e alguns dosíndices mais altos já encontrados entre pessoas queeram separadas ou divorciadas (87, 88). Esse últimofenômeno é particularmente evidente entre os homens,especialmente nos primeiros meses após a perda ouseparação (89).
De acordo com alguns estudos (90, 91), umaexceção ao efeito normalmente protetor do casamentoé o fato de que os que se casam cedo (antes de 20anos de idade) apresentam índices mais elevados decomportamento suicida do que seus correspondentesnão casados. Além disso, o casamento não é protetorem todas as culturas. Índices mais elevados decomportamento suicida fatal e não fatal foramrelatados entre mulheres casadas no Paquistão emrelação a homens casados e mulheres solteiras (92,93). Isto pode ocorrer porque a discriminação sociale legal cria uma carga psicológica que predispõe asmulheres ao comportamento suicida (92). Índicesmais elevados de suicídio também foram registradosentre mulheres casadas acima de 60 anos de idade emHong Kong SAR, China, em relação a mulheres viúvase divorciadas no mesmo grupo etário (90).
Se de um lado os problemas de relacionamentosinterpessoais aumentam o risco de comportamentosuicida, o isolamento social também pode ser um fatordesencadeante do comportamento suicida. Oisolamento social provocaria, de acordo com osconceitos de Durkheim, o suicídio "egoísta" ou
"anômico" (94), ambos relacionados à idéia deinteração social inadequada. Uma grande parte daliteratura sugere que indivíduos que experimentam oisolamento em suas vidas são mais vulneráveis aosuicídio do que os que têm fortes elos sociais comoutras pessoas (95-98). Depois da morte da pessoaamada, por exemplo, uma pessoa pode tentar o suicídiose, durante o período de luto, houver apoioinsuficiente por parte das pessoas que são íntimasda pessoa enlutada.
Em um estudo comparativo sobre ocomportamento social entre grupos de pessoas quetentaram o suicídio, pessoas que cometeram o suicídioe pessoas que morreram de causa natural, Maris (99)descobriu que os que cometeram o suicídioparticipavam menos da organização social, geralmentenão tinham amigos e tinham demonstrado um declínioprogressivo nos relacionamentos interpessoais,levando a um estado de total isolamento social.Estudos de autópsias psicológicas mostram que oisolamento social freqüentemente precede o atosuicida (99). Isto também foi mostrado em um estudofeito por Negron et al. (100) que descobriram que aspessoas que tentavam o suicídio tinham maistendência a se isolarem durante uma fase agudasuicida do que aquelas com ideação suicida. Wenz(101) identificou a anomia - o sentimento dealienação da sociedade causado pela sensação deausência de uma estrutura social de apoio - como umfator de comportamento suicida em viúvas,juntamente com um isolamento social real e esperado.Com freqüência, o isolamento social tem sidoidentificado como um fator contribuinte para idéiassuicidas entre os idosos (102, 103). Um estudo sobretentativas de suicídio entre adolescentes abaixo de16 anos de idade que tinham sido encaminhados aum hospital geral mostrou que os problemas maisfreqüentes em um comportamento suicida eramdificuldades de relacionamento com os pais,problemas com os amigos e isolamento social (104).
Fatores sociais e ambientais
A pesquisa identificou uma série de importantesfatores sociais e ambientais relativos aocomportamento suicida. Entre eles, encontramosfatores muito diversos, como a disponibilidade demeios para o suicídio, local de residência de umapessoa, status de residência ou imigração, afiliaçãoreligiosa e condições econômicas.
194 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Método escolhidoO método escolhido é um fator importante para
determinar se o comportamento suicida será fatal ounão. Nos Estados Unidos, revólveres são usados emaproximadamente dois terços de todos os suicídios(105). Em outras partes do mundo, o enforcamento éo mais comum, seguido do uso de revólver, pular dealturas e afogamento. Na China, a intoxicação porpesticida é o método mais comum (106, 107).
Nas duas últimas décadas, em alguns países comoa Austrália, houve um aumento significativo deenforcamentos como um meio de suicídio,especialmente entre pessoas mais jovens, seguidode uma diminuição correspondente do uso de armasde fogo (108). No geral, pessoas mais velhas tendema adotar métodos que envolvam menos força física,como afogamento e pular de alturas. Isto foiobservado, sobretudo, em Hong Kong SAR, China,e Cingapura (18). Em quase todos os lugares, asmulheres tendem a adotar métodos mais "suaves",como por exemplo, doses muito altas demedicamentos, tanto em tentativas de suicídio fataiscomo não fatais (35). Uma notável exceção a isto é aprática de auto-imolação encontrada na Índia.
Sem levar em conta idade e sexo, a escolha dométodo de suicídio pode ser influenciada por outrosfatores. No Japão, por exemplo, continua a ocorrer aprática tradicional de imolação com uma espada,também conhecida como hara-kiri. Sabe-se que,especialmente entre os jovens, ocorre a imitação dométodo de suicídio relacionado à morte de umacelebridade (109-111). Em geral, a letalidade dométodo escolhido está relacionada ao quãodeterminada pessoa está a se matar. Pessoas maisvelhas, por exemplo, normalmente expressam umadeterminação maior a morrer do que outras pessoas etendem a escolher métodos mais violentos, como darum tiro em si própria, pular de alturas ou enforcar-se,que deixam menos possibilidades de a pessoa sersalva do ato (112).
Diferenças entre áreas urbanas e ruraisNormalmente, existem grandes disparidades nos
índices de suicídio entre as áreas urbanas e rurais.Em 1997, nos Estados Unidos, por exemplo, o distritode Manhattan em Nova York registrou 1372 suicídios,um número três vezes maior do que o de grandesáreas rurais do estado de Nevada (411), mas noestado de Nevada, o índice foi mais de três vezes
superior ao índice registrado no estado de Nova York(24,5 para cada 100 mil - o índice mais elevado dosEstados Unidos - contra 7,6 para cada 100 mil) (113).Diferenças semelhantes entre áreas rurais e urbanastambém foram registradas na Austrália (114), e empaíses europeus como a Inglaterra e País de Gales(dados combinados) e na Escócia, onde os índiceselevados de suicídio aparecem entre os fazendeiros(115). Os índices de suicídio entre mulheres em áreasrurais da China também são mais elevados do que osde áreas urbanas (26).
Os motivos para índices mais elevados em muitasáreas rurais são o isolamento social e a maiordificuldade em detectar os sinais de avisorelacionados ao suicídio, o acesso limitado a médicose às instituições de saúde, e níveis de educação maisbaixos. Os métodos de suicídio utilizados nas áreasrurais também são diferentes dos utilizados em áreasurbanas. Nas comunidades rurais da Europa Orientale partes do sudeste da Ásia, a disponibilidade deherbicidas e pesticidas os torna escolhas popularespara a finalidade do suicídio. O mesmo ocorre emSamoa, onde o controle da venda do herbicidaparaquat* levou a uma diminuição no número desuicídios (116). Em comunidades rurais da Austrália,onde é comum a posse de armas, um dos métodos desuicídio normalmente registrado é atirar em si próprio(114).
ImigraçãoO impacto da imigração sobre os índices de
suicídio foi estudado em países como a Austrália,Canadá e Estados Unidos, todos eles apresentandouma grande mistura de grupos étnicos. Nesses países,o índice de comportamento suicida em um dado grupoimigrante foi relatado como sendo semelhante aoencontrado no país de origem desses imigrantes. NaAustrália, por exemplo, imigrantes da Grécia, Itália ePaquistão apresentam menores índices de suicídiodo que os de imigrantes de outros países da EuropaOriental ou da Irlanda e Escócia, países quetradicionalmente possuem índices elevados desuicídio (117) (ver também Tabela 7.3). Isto sugereque no comportamento suicida existe um fortecomponente relacionado a fatores culturais.
Emprego e outros fatores econômicosVários estudos mostraram índices mais elevados
de suicídio durante períodos de recessão econômicae desemprego elevado (119-123) e o contrário também
CAPÍTULO 7. VIOLÊNCIA AUTO-INFLIGIDA • 195
foi demonstrado. Em um estudo que examinou oimpacto de fatores econômicos no suicídio naAlemanha, Weyerer e Wiedenmann (122)investigaram o efeito de quatro variáveis econômicase sua relação com os índices de suicídio no períodode 1881 a 1989. A correlação mais forte foi encontradadurante épocas de desintegração social, quandohavia níveis elevados de desemprego, baixos níveisde bem-estar social ou proteção e elevados riscosde falência. Uma investigação preliminar dos índicesde suicídio acima da média encontrados na bacia doKutznetsk, Federação Russa, entre 1980 e 1995, citoua instabilidade econômica, a desintegração da antigaUnião Soviética e outros fatores históricosespecíficos como possíveis fatores contribuintes(123). Ao relatar suas visitas à Bósnia-Herzegóvina,Berk (124) descreveu um índice maior do que oesperado, e também dependência alcoólica entrecrianças. Embora elas tivessem sobrevivido àsameaças mais imediatas do conflito armado duranteo período de 1992 a 1995, essas crianças tinhamsucumbido ao estresse em longo prazo. No Sri Lanka,a comunidade tâmil, que tem uma longa história deviolência e instabilidade política e econômica,apresenta elevados índices de suicídio. Já acomunidade cingalesa, que há 20 anos apresentavabaixos índices de suicídio, agora registra índiceselevados. Isto demonstra claramente uma associaçãoíntima entre suicídio, violência social e colapsosocial.
No nível industrial, o comportamento suicida émais freqüente entre desempregados do que entreempregados (119, 125, 126). Pobreza e baixo nívelsocial, ambos resultantes do desemprego,geralmente parecem estar associados ao aumento
do comportamento suicida,especialmente quando o empregofoi perdido repentinamente. Aspesquisas nesta área, todavia,apresentam algumas limitações.Elas, por exemplo, nem semprelevam em consideração a duraçãodo desemprego. As pessoas queesperam pelo primeiro empregosão, às vezes, agrupadas comoutros que perderam seusempregos. Além disso, ascondições psiquiátricas e ostranstornos de personalidade têmsido ignorados. (127, 128).
ReligiãoA religião é há muito tempo considerada um fator
importante no comportamento suicida. Uma pesquisaapresentou uma classificação aproximada de paísespor afiliação religiosa, em ordem descendente deíndices de suicídio, como segue:
• Países em que as práticas religiosas são proibidasou fortemente desencorajadas (como no caso depaíses comunistas da Europa Oriental e da antigaUnião Soviética).• Países em que predominam o budismo, ohinduismo ou outras religiões asiáticas.• Países em que muitas pessoas são protestantes.Países que são predominantemente católicosromanos.• Países que são predominantementemuçulmanos.A Lituânia é uma notável exceção a esse padrão.
O país sempre foi extremamente católico, mesmoquando fazia parte da União Soviética, com muitaatividade religiosa e uma forte influência da igreja.Todavia, seus índices de suicídio eram e continuamsendo extremamente elevados. A classificaçãoaproximada fornecida acima obviamente não leva emconta dados referentes ao fato de as pessoasrealmente acreditarem e seguirem sua religião (129).A classificação também não inclui o animismo,sobretudo na África, pois geralmente sãodesconhecidos os índices de suicídio entre os queseguem os credos animistas.
Durkheim acreditava que o suicídio se originavade uma falta de identificação com um grupo unitário epostulava que os índices de suicídio deveriam sermenores onde houvesse um alto nível de integração
196 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
religiosa. Desta forma, ele argumentou que as práticase crenças religiosas compartilhadas, como asassociadas ao catolicismo, são fatores de proteçãocontra o suicídio (94). Alguns estudos que testarama hipótese de Durkheim tendem a apoiá-lo (130, 131).Outros estudos, todavia, não encontraram umaassociação entre a proporção de católicos romanosem uma população e os índices de suicídio (132,133). Um estudo desenvolvido por Simpson e Conlin(134) sobre a importância da religião mostrou que acrença no islamismo reduz os índices de suicídio maisdo que a crença no cristianismo.
Alguns estudos tentaram usar a freqüência àigreja e a extensão das redes religiosas como umamedida da fé religiosa, e procuraram, então, associá-las aos índices de suicídio. Suas descobertas sugeremque a freqüência à igreja exerce uma influênciapreventiva forte (135) , com o grau decomprometimento em relação a uma religião emparticular sendo um inibidor de suicídios (136). Damesma forma, um estudo feito por Kok (137)examinou os índices de suicídio entre três gruposétnicos de Cingapura. A conclusão foi queapresentavam os menores índices de suicídio aquelesde etnia malaia, seguidores sobretudo do islamismo,que se opõe radicalmente ao suicídio. Ao mesmotempo, os de etnia indiana apresentavam o maioríndice de suicídio na ilha. As pessoas de etnia indianade Cingapura geralmente seguem o hinduismo, umafé que acredita na reencarnação e não proíberadicalmente o suicídio. Um outro estudo queexaminou as diferenças entre afro-americanos epopulações caucasianas nos Estados Unidos revelouque o índice menor de suicídios entre os afro-americanos podia ser atribuído a uma maior devoçãopessoal à religião (138).
SumárioOs fatores de risco para o comportamento suicida
são numerosos e interagem entre si. O fato de saberque os indivíduos têm uma predisposição para osuicídio e poder confrontar a combinação de fatoresde risco são elementos que podem ajudar a localizaros que mais precisam de esforços de prevenção.
A existência de fatores de proteção fortes osuficiente, mesmo na presença de vários fatores derisco, como uma grande depressão, esquizofrenia,uso do álcool ou perda de uma pessoa amada, podeevitar que se desenvolvam condições para idéiassuicidas ou o comportamento suicida no indivíduo.O estudo relacionado aos fatores de proteção ainda
está engatinhando. Para que haja um progresso realnas pesquisas relacionadas ao suicídio e suaprevenção, é preciso haver um conhecimento muitomaior sobre os fatores de proteção a fim de seestabelecer relações entre os progressos feitos nasdécadas recentes sobre a compreensão e apredisposição e os fatores desencadeantes dosuicídio.
Além das observações de Durkheim sobrecasamento e religião, várias outras investigaçõesfornecem dados sobre as funções de proteçãorelativas a parentesco (139) , apoio social erelacionamento familiar (36, 140-142), auto-estima(143) e repressão do ego (144). Outros estudosestabelecem relações diretas entre os riscos e osfatores de proteção, na tentativa de prever ocomportamento suicida. Em um desses estudos, umapesquisa sobre índios americanos e jovens nativosdo Alaska, Borowsky et al. (145) revelaram queenfocar fatores de proteção, como bem-estaremocional e ligações familiares e de amizade, era tãoeficaz ou mais eficaz do que tentar reduzir os fatoresde risco na prevenção do suicídio. O estudo de fatoresde proteção parece ser um campo promissor parapesquisas futuras.
O que pode ser feito para evitar osuicídio?
Com o aumento geral de comportamentos suicidasentre pessoas jovens, existe uma grande necessidadede intervenções efetivas. Como já foi visto, existe umgrande número de fatores de risco possíveis paracomportamentos suicidas e as intervenções, em geral,baseiam-se no conhecimento desses fatores. Emboramuitas intervenções já existam há um tempoconsiderável, poucas demonstraram um efeitosignificativo na redução do comportamento suicidaou têm produzido resultados sustentáveis no longoprazo (146).
Abordagens de tratamentoTratamento de transtornos mentais
Pelo fato de muitos dos materiais publicados e aexperiência clínica terem demonstrado que váriostranstornos mentais estão bastante associados aosuicídio, uma estratégia importante para se evitar osuicídio é a identificação precoce e o tratamentoadequado desses transtornos. Particularmenterelevantes aqui são os transtornos relacionados aosestados emocionais (humor), à dependência e ao
CAPÍTULO 7. VIOLÊNCIA AUTO-INFLIGIDA • 197
abuso do álcool e outras drogas, à esquizofrenia ecertos tipos de transtorno da personalidade.
Há evidências de que instruir os profissionaisresponsáveis por cuidados médicos paradiagnosticarem e tratarem pessoas com transtornosemocionais pode ser uma maneira eficiente dereduzirem-se os índices de suicídio entre as pessoasde risco. Além disso, uma nova geração demedicamentos para o tratamento de transtornosemocionais e transtornos esquizofrênicos, queapresentam poucos efeitos colaterais e perfisterapêuticos mais específicos do que os utilizadosanteriormente, parece melhorar a continuidade dostratamentos por parte dos pacientes e levar a melhoresresultados, reduzindo assim a probabilidade decomportamentos suicidas nesses pacientes.
FarmacoterapiaA farmacoterapia foi examinada pela sua eficácia
nos processos neurobiológicos que são associadosa determinadas condições psiquiátricas, inclusive asque se relacionam ao comportamento suicida. Verkeset al. (147), por exemplo, mostraram que a substânciaparoxetina pode ser eficiente na redução docomportamento suicida. O motivo para a escolha daparoxetina foi que o comportamento suicida tem sidoassociado a uma redução da função da serotonina. Aparoxetina é conhecida como um inibidor seletivo dareabsorção de serotonina (selective serotoninreuptake inhibitor -SSRI) e desta forma aumenta adisponibilidade de serotonina para a transmissãoneural de sinais. Em um estudo experimental, realizadono período de um ano, no qual os pesquisadores e ospacientes não sabiam que os pacientes estavamrecebendo o medicamento ativo, foram comparadosa paroxetina e um placebo em pacientes que tinhamhistórico de tentativas de suicídio e tinham tentado osuicídio recentemente. Esses pacientes não haviamsofrido uma grande depressão, mas a maioriaapresentava um "transtorno de personalidade grupoB" (que abrange transtornos de personalidade anti-social, narcisista, borderline e histriônica). Osresultados demonstraram que, ao melhorar a funçãoda serotonina através do SSRI, neste caso aparoxetina, em pacientes com um histórico detentativas de suicídio - mas não nos que sofriam deuma grande depressão - pôde-se reduzir ocomportamento suicida.
Abordagens comportamentaisEmbora muitos tratamentos focalizem
principalmente o transtorno mental e assumam queuma melhoria nos transtornos levará a redução docomportamento suicida, outras abordagens visamdiretamente ao comportamento (148). De acordo comessa abordagem, muitas intervenções foramdesenvolvidas, algumas das quais são discutidasabaixo.
Terapia comportamentalNas intervenções comportamentais, um
profissional da área de saúde mental conduz sessõesde terapia com o paciente, discutindo ocomportamento suicida anterior, o atual e também ospensamentos suicidas. Por meio de perguntas desondagem, procura-se estabelecer conexões com ospossíveis fatores subjacentes (148). Resultadospreliminares sobre a eficácia deste tipo de tratamentosão promissores, embora não existam ainda respostasconclusivas.
Um estudo realizado em Oxford, Inglaterra,examinou pacientes de alto risco com múltiplastentativas de suicídio, em idades de 16 a 65 anos, quetinham sido encaminhados a uma unidade deemergência após tomarem uma overdose deantidepressivos (149). Os pacientes receberam otratamento padrão para tentativas de suicídio ou otratamento padrão juntamente com uma intervençãorápida "voltada para o problema", uma forma depsicoterapia em curto prazo que enfocava o problemaque o paciente identificava como o mais problemático.Seis meses após o tratamento, o estudo constatouum benefício importante para o grupo experimental(os que recebiam a intervenção juntamente com otratamento padrão) em termos de redução dos índicesde repetição de tentativas de suicídio. Infelizmente,essa diferença deixou de ser importante quando ospacientes foram reavaliados após dezoito meses.
Um estudo realizado nos Estados Unidos (150)examinou a eficácia de uma terapia comportamentaldialética em pacientes que apresentavam transtornosde personalidade borderline, disfunçõescomportamentais múltiplas, transtornos mentaissignificativos e um histórico de tentativas de suicídio.A terapia comportamental dialética é um tratamentodestinado a pacientes crônicos de suicídio. Ela utilizaa análise comportamental e uma estratégia de soluçãode problemas. Durante o primeiro ano de tratamento,os pacientes que tinham recebido a terapiaapresentaram menos tentativas de suicídio do que
198 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
os que tinham recebido o tratamento padrão.Um outro estudo realizado nos Estados Unidos
(151) , que adotou uma abordagem de terapiacomportamental, estudou pacientes com um históricode tentativa de suicídio. A meta era ver se elesapresentavam um "déficit em pensar num futuropositivo", ou seja, se eles não tinham esperanças eexpectativas para o futuro. Nesse caso, o estudoprocurava verificar se esse déficit podia ser alteradopor intermédio de uma intervenção psicológica breveconhecida como "terapia comportamental cognitivaassistida por manual" (manual-assisted cognitivebehaviour therapy -MACT). Neste tipo deintervenção, o problema é trabalhado através daorientação de um manual, de forma a padronizar otratamento. Os pacientes foram selecionadosaleatoriamente para receberem o MACT ou otratamento padrão contra tentativas de suicídio eforam então reavaliados após seis meses. O estudoconstatou que os pacientes com um histórico detentativas de suicídio demonstravam menosesperança e tinham poucas expectativas positivasem relação ao futuro comparados ao grupocorrespondente de controles da comunidade. Apósa intervenção do MACT, as expectativas melhoraramconsideravelmente, enquanto que os que receberamo tratamento padrão apresentaram melhoras poucosignificativas.
Cartões verdesO cartão verde [green card] é uma intervenção
relativamente simples. O cliente recebe um cartão quelhe dá acesso direto e imediato a uma série de opções,como ligação para um psiquiatra ou hospitalização.Embora não tenha provado ser uma intervençãoeficiente, o cartão verde parece ter algum efeitobenéfico para os que consideram o suicídio pelaprimeira vez (152, 153).
Um estudo recente utilizou o cartão verde compacientes que tinham tentado o suicídio pela primeiravez e em pacientes com um histórico de tentativas desuicídio (154). Os participantes do estudo foramaleatoriamente encaminhados aos grupos de controleque receberam apenas o tratamento padrão paratentativas de suicídio e para grupos experimentaisque receberam o tratamento padrão e o cartão verde.O cartão verde oferecia, para momentos de crise,consulta telefônica 24 horas com um psiquiatra. Oefeito do cartão verde foi diferente nos dois tipos degrupos experimentais. Ele apresentou um efeito deproteção nos que tinham tentado suicídio pela
primeira vez (embora estatisticamente nãosignificativo), mas não surtiu qualquer efeito nos quetinham feito tentativas anteriores de suicídio. Podeser que, no estudo, sozinho, o apoio telefônicooferecido pelo cartão verde não tenha sido suficientee que o cartão devesse fornecer acesso fácil a outrosserviços de apoio para momentos de crise.
Uma outra intervenção, que opera na Itália,baseada no princípio da conectividade, fácil acessoe disponibilidade de ajuda, é o serviço Tele-Help/Tele-Check para pessoas idosas (155). O Tele-Helpé um sistema de alarme que o cliente pode ativar parasolicitar ajuda. O serviço Tele-Check entra em contatocom os clientes duas vezes por semana para verificarsuas necessidades e oferecer apoio emocional. Emum estudo, 12.135 pessoas com idade de 65 anos oumais receberam o serviço Tele-Help/Tele-Checkdurante quatro anos (155). Durante esse período,houve apenas um suicídio no grupo, comparado auma estatística esperada de sete (156).
Abordagens de relacionamento Sabe-se que a suscetibilidade ao suicídio está
relacionada aos relacionamentos sociais que umapessoa tem: quanto maior o número derelacionamentos sociais, em geral, menor é asuscetibilidade ao suicídio (156). Várias intervençõesbuscam melhorar os relacionamentos sociais parareduzir o comportamento de tentativas repetidas desuicídio. A abordagem geral visa a explorar o problemaem diferentes áreas da vida social do paciente e ajudaro terapeuta a acompanhar esses problemas. Emboraa meta principal seja prevenir a recorrência docomportamento suicida, a melhoria dosrelacionamentos sociais é, por si só, tambémconsiderada importante.
Pesquisas sobre a eficácia das abordagens derelacionamento não demonstraram um benefíciopositivo em termos de reduzir o comportamentosuicida. Todavia, a abordagem tem demonstradomelhorar os relacionamentos sociais.
Intervenções psicossociaisLitman e Wold (156) investigaram um método
particular conhecido como "manutenção contínua dosrelacionamentos" (continuing relationshipmaintenance - CRM). Nesse método, o conselheirose aproxima ativamente da pessoa suicida e tentamanter um relacionamento constante com ela. Umtotal de 400 pessoas que apresentam um alto risco desuicídio passou pelo programa, em média por 18
CAPÍTULO 7. VIOLÊNCIA AUTO-INFLIGIDA • 199
meses, sendo encaminhadas para o grupoexperimental (CRM) ou para um grupo de controle.No grupo de controle, os pacientes receberam umaconselhamento contínuo e tiveram de entrar por sipróprios em contato com o seu conselheiro. Aintervenção não conseguiu reduzir a ideação desuicídio, as tentativas de suicídio ou os suicídiosrealizados. Todavia, uma série de metas intermediáriasfoi alcançada, com o grupo CRM mostrando melhoriassignificativas em relação ao grupo de controle. Essasmelhorias incluíam menos solidão, relacionamentosíntimos mais satisfatórios, menos depressão e maiorconfiança na utilização de serviços comunitários.
Em pacientes que tinham feito uma tentativa desuicídio anterior, Gibbons et al. (157) compararam aeficácia do "estudo de caso centralizado em tarefa"("task-centered casework") - um método de soluçãode problemas que enfatiza a colaboração entre umpaciente e uma assistente social em torno de assuntosrelacionados à vida diária -, com o tratamento padrão.Não houve diferenças no índice de tentativasrepetidas de suicídio entre os dois grupos, mas,comparado ao grupo de controle, o grupo do estudode caso centralizado em tarefas conseguiu lidarmelhor com os problemas sociais.
Em um estudo desenvolvido por Hawton et al.(158), 80 pacientes que haviam tomado uma overdosereceberam aconselhamento ou foram encaminhadosde volta ao seu clínico geral com recomendações decuidados adicionais. Novamente, não houvediferença estatística nos índices de tentativasrepetidas de suicídio, mas parece ter havido um certograu de benefício para o grupo de pacientes externosquando avaliados quatro meses mais tarde. Umaproporção maior do grupo de pacientes externos, emrelação ao segundo grupo, apresentou melhorias deajuste social, ajuste matrimonial e relacionamentoscom suas famílias. O aconselhamento pareceubenéfico, sobretudo, para mulheres e pacientes comproblemas que envolviam o relacionamento um-a-um,como marido-mulher, pai-filho ou supervisor-funcionário.
Esforços baseados na comunidadeCentros de prevenção contra o suicídio
Além das intervenções antes descritas, parapessoas que apresentam um comportamento suicida,há serviços comunitários voltados para a saúdemental. Um centro de prevenção do suicídio destina-se a servir como um centro de atendimento a crises,oferecendo ajuda imediata, geralmente por telefone,
mas existem também programas de aconselhamentoface-a-face e um tipo de trabalho que vai até opaciente.
Dew et al. (159) realizaram uma revisão literáriaquantitativa da eficácia dos centros de prevenção dosuicídio e não encontraram um efeito geral, querpositivo ou negativo, em relação aos índices desuicídio. As limitações metodológicas do estudo emquestão, todavia, tornam difícil chegar-se a umaconclusão definitiva. Os autores não acharam que aproporção de suicídios entre clientes queparticipavam de centros de prevenção era maior doque a proporção de suicídios na população em gerale que os indivíduos que levaram a cabo o suicídiotinham mais chance de terem sido clientes dessescentros. Essas descobertas sugerem que os centrosde prevenção de suicídio pelo menos estão atraindouma população de alto risco que eles supostamentedeveriam estar ajudando.
Lester (160) revisou 14 estudos que examinarama eficácia dos centros de prevenção de suicídio emrelação aos índices de suicídio. Sete desses estudosforneceram evidências de um efeito preventivo. Umestudo sobre os centros de prevenção de suicídioem 25 cidades da Alemanha, na verdade, encontrouum aumento nos índices de suicídio em três dascidades (161).
Intervenções baseadas na escolaForam desenvolvidos programas para montar e
treinar pessoal de escolas, membros da comunidadee funcionários da área de saúde para identificarpessoas que apresentam riscos de suicídio eencaminhá-las aos serviços de saúde mental. Aextensão do treinamento varia de um programa aoutro, mas em todos os casos é essencial haver umelo forte com os serviços locais de saúde mental.
Uma observação importante, contudo, foi a deLester (162), ao sugerir que, à medida que as equipesescolares se tornam mais capacitadas, elas deixam deencaminhar os alunos para os profissionais da áreade saúde mental, o que pode, em si, resultar em maissuicídios. Embora a educação das equipes escolares,parentes e outras pessoas envolvidas com osprogramas escolares seja muito importante, essaspessoas não conseguem substituir os profissionaisda área de saúde mental. Por outro lado, as instalaçõesmédicas sozinhas não conseguem atender a todas asnecessidades dos jovens, e as escolas devem sercapazes de agir como um mediador para a prevençãodo suicídio.
200 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Abordagens sociaisRestrição de acesso aos meios
Restringir o acesso aos meios do suicídio éparticularmente relevante quando esse acesso podeser facilmente controlado. Isto foi demonstrado pelaprimeira vez em 1972, na Austrália, por Oliver e Hetzel,(163) que descobriram haver uma redução nosíndices de suicídio quando o acesso a sedativos -sobretudo barbitúricos, que são letais em doses muitoelevadas - foi reduzido.
Além desse estudo sobre o uso de sedativos,também houve evidências de redução nos índices desuicídio ao serem controladas outras substânciastóxicas, por exemplo, pesticidas, que são muitoconhecidos nas áreas rurais de vários paísesemergentes. Talvez o melhor exemplo estudado tenhasido o observado em Samoa (116) onde, até 1972,quando o paraquat foi introduzido no país, o númerode suicídios ficava abaixo de 10. Esse númerocomeçou a crescer vertiginosamente em meados dadécada de 1970 e chegou a quase 50 em 1981, quandotiveram início os esforços para controlar adisponibilidade do paraquat. Durante esse período,os índices de suicídio aumentaram em 367%, indo de6,7 para cada 100 mil em 1972 a 31,3 para cada 100 milem 1981. No prazo de três anos, a taxa de suicídiocaiu de novo para 9,4 para cada 100 mil. Apesar docontrole posterior do paraquat, mais de 90% de todosos suicídios ocorridos em 1988 foram efetuados pormeios da utilização desse produto (ver Figura 7.2).
A desintoxicação do gases, ou seja, a remoção
do monóxido de carbono do gás de cosinha e dosescapamentos dos carros provou ser eficaz naredução dos índices de suicídio. Na Inglaterra, ossuicídios por envenenamento com gas de cosinhacomeçaram a declinar logo após o monóxido decarbono ser removido do gás (164) (ver figura 7.3).Redução semelhante nos índices de suicídio por gasde cozinha também foram observados na Escórcia,nos Estados Unidos, no japão, nos países Baixos ena suíça (165). Outros estudos também mostraramuma redução nos índices de suicídios após aintrodução de catalizadores que, removem o monóxidode carbono dos escapamentos dos veículos(165,166).
A associação entre a posse de armas no lar e osuicídio também tem sido observada (167-169). Hávárias abordagens no sentido de reduzir os ferimentoscausados por armas, sejam acidentais ou intencionais.Em geral, essas abordagens baseiam-se na legislaçãoque regula a venda e posse de armas, e também asegurança em relação ao uso das mesmas. Asegurança no uso de armas abrange educação etreinamento, várias práticas para armazenagem dasarmas, tal como, guardar a arma e a muniçãoseparadamente e manter as armas descarregadas eem locais trancados, e dispositivos de trava dogatilho. Em alguns países, inclusive Austrália, Canadáe Estados Unidos, as restrições relacionadas à possede armas foram associadas a uma redução do usodas mesmas para o suicídio. (165, 169).
Número de suicídios ocorridos em Samoa em relação à chegada de pesticidas contendo paraquat e aocontrole das vendas de paraquat.
FIGURA 7.2
AnoFonte: referência 116.
CAPÍTULO 7. VIOLÊNCIA AUTO-INFLIGIDA • 201
Informações divulgadas pelos meiosde comunicação
O impacto em potencial dos meios decomunicação sobre os índices de suicídio já éconhecido há muito tempo. Há mais de dois séculos,um romance muito lido inspirou uma série de suicídios.Die Leiden des jungen Werther (Os Sofrimentos doJovem Werther), de Johann Wolfgang Goethe, escritoem 1774 e baseado no caso de um amigo do autor,descrevia o sofrimento interior de Werther, à medidaque ele se angustiava devido ao seu amor nãocorrespondido por Lotte. "O efeito sobre os primeirosleitores foi esmagador. O romance inspirou nãoapenas a emoção, mas também a emulação, em umaonda de suicídios similarmente caracterizados comos trajes [que Werther usava] casaco azul, coleteamarelo." (170).
Evidências atuais sugerem que o efeito dos meiosde comunicação encorajando suicídios imitadosdepende muito da maneira como o suicídio é relatado,ou seja, o tom e a linguagem utilizados, a maneiracomo os relatos são destacados e o fato de materiaisgráficos ou outros tipos de materiais serem utilizadosou não. A preocupação é que a vulgarização extremados relatos de suicídios possa criar uma culturasuicida, em que o suicídio seja visto como uma formanormal e aceitável de se abandonar um mundo difícil.
É absolutamente necessário o relato responsávelde suicídio pelos meios de comunicação, e todas asmaneiras de se obter esse tipo de relato são bem-vindas. Várias organizações e instituições
Número de suicídios ocorridos em Samoa em relação à chegada de pesticidas contendo paraquat e aocontrole das vendas de paraquat.
FIGURA 7.2
AnoFonte: referência 164.
governamentais têm proposto diretrizes para o relatodo comportamento suicida, inclusive o BefriendersInternational no Reino Unido, os Centers for DiseaseControl and Prevention (Centros de Controle ePrevenção de Doenças) nos Estados Unidos, aOrganização Mundial de Saúde e os governos daAustrália e Nova Zelândia (171).
Intervenção após o suicídioA perda de uma pessoa por suicídio pode
provocar, em parentes e amigos íntimos daqueles quecometeram o suicídio, sentimentos de pesardiferentes dos que ocorrem quando a morte é natural.Em geral, ainda existe um tabu relativo às discussõessobre o suicídio e aqueles que são separados pelosuicídio podem ter menos oportunidades decompartilhar seu pesar com outras pessoas.Comunicar os sentimentos decorrentes de talviolência é uma parte importante do processo decicatrização. Por este motivo, grupos de apoiodesempenham um papel importante. Em 1970,começaram a surgir na América do Norte os primeirosgrupos de apoio e auto-ajuda para parentes e amigosde pessoas que tinham cometido suicídio (172).Grupos semelhantes foram estabelecidosposteriormente em vários países no mundo todo. Osgrupos de apoio e auto-ajuda são administrados porseus membros, mas com acesso à ajuda e recursosexternos. Esses grupos de auto-ajuda parecem trazerbenefícios às pessoas que perderam alguém devidoao suicídio. A experiência comum da perda pelosuicídio une as pessoas e as encoraja a compartilhar
202 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
seus sentimentos (172).
Respostas políticasEm 1996, o Departamento das Nações Unidas para
Coordenação de Políticas e DesenvolvimentoSustentado (United Nations Department for PolicyCoordination and Sustainable Development)apresentou um documento destacando a importânciade uma política de orientação sobre a prevenção dosuicídio (173). Posteriormente, a OrganizaçãoMundial de Saúde publicou uma série de documentossobre a prevenção do suicídio (171, 172, 174-177),e duas outras publicações sobre transtornos mentais,neurológicos e psicossociais (41, 178). Outrosrelatórios e diretrizes sobre a prevenção do suicídiotambém foram desenvolvidos (179).
Em 1999, a Organização Mundial de Saúde lançouuma iniciativa global para a prevenção do suicídiocom os seguintes objetivos:
� – Obter uma redução duradoura na freqüênciados comportamentos suicidas com ênfase empaíses emergentes e em países em transiçãosocial e econômica. – Identificar, avaliar e eliminar no estágioinicial,o máximo possível, fatores que possamlevar jovens a cometer o suicídio.
–Aumentar a conscientização geral sobre osuicídio e fornecer apoio psicossocial às pessoascom pensamentos suicidas ou que já tentaram osuicídio, bem como, aos amigos e parentes dosque tentaram ou realizaram o suicídio.A principal estratégia para a implementação dessa
iniciativa global segue dois direcionamentos básicosassociados às linhas de ação da estratégia cuidadosbásicos com a saúde da Organização Mundial deSaúde:
• Organização de atividades multissetoriaisregionais, nacionais e globais para aumentar aconscientização sobre o comportamento suicidae como efetivamente evitá-lo.• Fortalecimento dos recursos dos países paradesenvolver e avaliar políticas e programasnacionais para a prevenção do suicídio, quepodem incluir:– apoio e tratamento das populações em risco,como pessoas com depressão, idosos e jovens;redução da disponibilidade de meios para secometer o suicídio, como, por exemplo, assubstâncias tóxicas, e do acesso a eles; – apoio e reforço às entidades dedicadas aossobreviventes do suicídio;
– treinamento de profissionais da área deassistência básica à saúde e de outros setoresrelevantes.Atualmente, a iniciativa foi complementada por
um estudo que busca identificar fatores específicosde risco e intervenções específicas que podem sereficazes na redução do comportamento suicida.
RecomendaçõesVárias recomendações importantes para reduzir o
comportamento suicida fatal e não fatal podem serextraídas deste capítulo.
Melhores dadosNacional e internacionalmente, existe uma
necessidade urgente de mais informações sobre ascausas do suicídio, sobretudo entre gruposminoritários. Deveriam ser encorajados estudosinterculturais, pois podem levar a uma melhorcompreensão das causas do suicídio e dos fatoresde proteção a ele relacionados, e, conseqüentemente,podem ajudar a melhorar os esforços de prevenção.A seguir estão algumas recomendações específicasque visam a fornecer melhores informações sobre osuicídio.
• Os governos deveriam ser encorajados a coleta de dados sobre o comportamento suicida fatal e não fatal e disponibilizar esses dados à Organização Mundial de Saúde. Hospitais e outros serviços médicos e sociais deveriam ser bastante encorajados a manter registros de comportamentos suicidas não-fatais.
• Os dados sobre suicídio e tentativas de suicídiodeveriam estar sempre corretos e atualizados.Deveria haver um conjunto de critérios edefinições uniformes que, uma vez estabelecidos,deveriam ser aplicados de maneira consistente erevisados continuamente.• A coleta de dados deveria ser organizada deforma a evitar duplicação de registros estatísticose, ao mesmo tempo, as informações deveriam estarfacilmente acessíveis a pesquisadores querealizam pesquisas analíticas e epidemiológicas.• Deveriam ser empenhados esforços com ointuito de melhorar os dados de uma série deórgãos, inclusive hospitais, instituiçõespsiquiátricas e outras instituições médicas, oslegistas e os departamentos de polícia.• Todos os profissionais da área de saúde ediretores de importantes agências ligadas aoproblema deveriam ser treinados para detectar e
CAPÍTULO 7. VIOLÊNCIA AUTO-INFLIGIDA • 203
Melhores tratamentos psiquiátricosEm relação ao comportamento suicida, a
contribuição considerável trazida pelos fatorespsiquiátricos sugere que melhorar o tratamento dosque apresentam transtornos psiquiátricos éimportante para prevenir o suicídio. A este respeito,as medidas a seguir deveriam ser adotadas.
• Deveria ser solicitado às empresasfarmacêuticas que desenvolvessem maismedicamentos eficazes contra os transtornospsiquiátricos. O advento de inibidores seletivosda reabsorção da serotonina, por exemplo, podeter provocado uma redução dos índices desuicídio na Escandinávia (180).• Patrocínio à pesquisa visando a descobrirtécnicas mais eficazes de psicoterapia e
aconselhamento para pessoas suicidas.Sobretudo, deveria haver técnicas maisespecíficas para as pessoas cujos transtornosde personalidade estejam intimamenteassociados ao comportamento suicida.• Muito mais pessoas precisam estar cientes dossinais e sintomas do comportamento suicida edos locais onde, se necessário, a ajuda pode serobtida - quer de familiares ou amigos, médicos,assistentes sociais, líderes religiosos, empresasou professores e equipes escolares. Os médicose outros profissionais da área de saúde, emparticular, deveriam ser educados e treinadospara reconhecer, encaminhar e tratar pessoascom transtornos psiquiátricos, especialmente ostranstornos afetivos.• Uma prioridade urgente para os governos eseus departamentos de planejamento deassistência à saúde é a identificação precoce e otratamento de pessoas que sofrem não apenasde transtornos mentais, mas também do abuso edependência de drogas e álcool. O programadesenvolvido em Gotland, Suécia, por Rutz (181)pode fornecer um modelo útil a ser seguido poroutros países.
Mudanças ambientaisUma série de mudanças ambientais foi sugerida
para restringir o acesso a métodos de suicídio, como:• Cercar pontes elevadas.• Limitar o acesso a telhados e parte externa deprédios altos.• Obrigar os fabricantes de carro a mudar oformato dos canos de escapamento e introduzirum mecanismo pelo qual o motorautomaticamente se desliga após funcionar como carro parado, durante um período específicode tempo.• O acesso a pesticidas e fertilizantes ser restritoa pessoas que sejam produtores rurais.• Para medicamentos que são potencialmenteletais:— exigir um monitoramento rigoroso dasreceitas médicas e farmacêuticas;— reduzir a quantidade máxima das receitas;— embalar os medicamentos em blistersplásticos;— quando possível, prescrever medicamentosna forma de supositórios.• Reduzir o acesso a armas entre os grupos derisco de suicídio.
encaminhar pessoas com risco de comportamentosuicida, e codificar esses casos corretamente nossistemas de coleta de dados.• Há necessidade de se obter informações sobreos indicadores sociais, tais como indicadores dequalidade de vida, taxas de divórcio e mudançassociais e demográficas, em sincronia com osdados relacionados ao comportamento suicida, afim de melhorar a atual compreensão do problema.
Pesquisas adicionaisDeveriam ser conduzidas mais pesquisas para
examinar a contribuição relativa de fatorespsicossociais e biológicos no comportamentosuicida. Uma ligação maior entre esses dois tipos defatores em programas de pesquisa permitiria grandesavanços no atual conhecimento acerca do suicídio.Uma área particularmente promissora e que estácrescendo rapidamente é a pesquisa genéticamolecular que, entre outras coisas, apresenta ummaior conhecimento relacionado ao controle dometabolismo da serotonina.
Mais pesquisas clínicas deveriam ser feitas emrelação ao papel de condições co–mórbidas,como,por exemplo, a interaçaõ entre a depressão e o abusode álcool. Uma ênfase maior também deveria ser dadaao subgrupos da população baseados na idade ( vistoque o suicídio entre os idosos apresentacaracterísticas diferentes do suicídio entre pessoasjovens ), na personalidade e no temperamento. Umaoutra área que requer mais esforço de pesquisa é adas imagens diagnósticas cerebrais.Finlmente,deveria haver mais pesquisas sobre o papelda hostilidade,agressao e impulsividade no
204 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Fortalecendo os esforçoscomunitários
As comunidades locais são cenários importantespara as atividades de prevenção do suicídio, emboramuito mais possa ser feito para fortalecer os esforçoscomunitários. A este respeito, deve ser dada maioratenção a:
• Desenvolvimento e avaliação dos programascomunitários.• Melhoria da qualidade dos serviçosdesenvolvidos nos programas existentes.• Maior patrocínio governamental e mais apoioprofissional por parte do governo a atividadescomo:— centros de prevenção do suicídio;— grupos de apoio a pessoas que já conviveramcom o suicídio de alguém muito íntimo (como umacriança, um parceiro ou um parente) e que possamdesta forma, elas próprias, estar sob o riscoelevado de suicídio;— redução do isolamento social, promovendoprogramas comunitários, tais como centros parajovens e centros para pessoas idosas;• Estabelecimento de parcerias e melhoras nacolaboração entre os órgãos apropriados.• Desenvolvimento de programas educacionaispara evitar o comportamento suicida, não apenasem escolas, como ocorre atualmente, mas tambémem locais de trabalho e outros locais dascomunidades.
ConclusãoO suicídio é uma das principais causas de morte
no mundo todo e é um problema importante de saúdepública. O suicídio e a tentativa de suicídio sãofenômenos complexos que ocorrem, de forma muitoindividualista, a partir da inter-relação de fatoresbiológicos, psicossociais, psiquiátricos e sociais. Acomplexidade das causas requer necessariamenteuma abordagem multifacetada de prevenção quedeve levar em conta o contexto cultural. Os fatoresculturais desempenham um papel fundamental nocomportamento suicida (182), acarretando grandesdiferenças nas características deste problema nomundo todo (183). Devido a essas diferenças, oque tem um efeito positivo para prevenir o suicídioem um local pode ser ineficaz ou, até mesmo,contraproducente em outros ambientes culturais.
São necessários maiores investimentos, tantoem pesquisa como nos esforços de prevenção.Embora os esforços de curto prazo contribuam para
o entendimento de porque o suicídio ocorre e o quepode ser feito para evitá-lo, estudos de pesquisalongitudinal são necessários para a totalcompreensão do papel dos fatores biológicos,psicossociais e ambientais em relação ao suicídio.Existe também uma grande necessidade deavaliações rigorosas e de longo prazo dasintervenções. Até hoje, a maioria dos projetos foide curta duração, com pouca avaliação, quandohouve.
Finalmente, os esforços de prevenção dosuicídio serão ineficazes se não forem estabelecidosdentro de uma estrutura que englobe planejamentoem larga escala desenvolvido por equipesmultidisciplinares que envolvam representantesgovernamentais, planejadores e profissionais da áreade saúde pública, e pesquisadores e profissionaisde diferentes disciplinas e setores. Grandesinvestimentos em planejamento, recursos ecolaboração entre esses grupos precisam serempreendidos a fim de se minimizar este importanteproblema de saúde pública.
Referências1. Injury: a leading cause of the global burden ofdisease. Geneva, World Health Organization, 1999(document WHO/HSC/PVI/99.11).2. Moscicki EK. Epidemiology of suicidal behavior.In: Silverman MM, Maris RW, eds. Suicideprevention: toward the year 2000. New York, NY,Guilford, 1985:22-35.3. Stoudemire A et al. The economic burden ofdepression. General Hospital Psychiatry, 1986, 8:387-394.4. Minois G. History of suicide: voluntary death inWestern culture. Baltimore, MD, Johns HopkinsUniversity Press, 1999.5. Shneidman E. Definition of suicide. New York, NY,John Wiley & Sons, 1985.6. Canetto SS, Lester D. Women and suicidal behavior.New York, NY, Springer, 1995.7. Paykel ES et al. Suicidal feelings in the generalpopulation: a prevalence study. British Journal ofPsychiatry, 1974, 124:460-469.8. Kessler RC, Borges G, Walters EE. Prevalence andrisk factors for lifetime suicide attempts in the NationalComorbidity Survey. Archives of General Psychiatry,1999, 56:617-626.9. Favazza A. Self-mutilation. In: Jacobs DG, ed. TheHarvard Medical School guide to suicide assessmentand intervention. San Francisco, CA, Jossey-BassPublishers, 1999:125-145.
CAPÍTULO 7. VIOLÊNCIA AUTO-INFLIGIDA • 205
10. Gururaj G et al. Suicide prevention: emergingfrom darkness. New Delhi, WHO Regional Office forSouth-East Asia, 2001.11. Lester D. Patterns of suicide and homicide in theworld. Commack, NY, Nova Science, 1996.12. Lester D, Yang B. Suicide and homicide in the20th century. Commack, NY, Nova Science, 1998.13. Girard C. Age, gender and suicide. AmericanSociological Review, 1993, 58:553-574.14. Booth H. Pacific Island suicide in comparativeperspective. Journal of Biosocial Science, 1999,31:433-448.15. Yip PSF. Suicides in Hong Kong, Taiwan andBeijing. British Journal of Psychiatry, 1996, 169:495-500.16. Lester D. Suicide in African Americans. Commack,NY, Nova Science, 1998.17. Wasserman D, Varnik A, Dankowicz M. Regionaldifferences in the distribution of suicide in the formerSoviet Union during perestroika, 1984-1990. ActaPsychiatrica Scandinavica Supplementum. 1998,394:5-12.18. Yip PSF, Tan RC. Suicides in Hong Kong andSingapore: a tale of two cities. International Journalof Social Psychiatry, 1998, 44:267-279.19. Hunter EM. An examination of recent suicides inremote Australia. Australian and New ZealandJournal of Psychiatry, 1991, 25:197-202.20. Cheng TA, Hsu MA. A community study of mentaldisorders among four aboriginal groups in Taiwan.Psychological Medicine, 1992, 22:255-263.21. Lester D. Suicide in American Indians. Commack,NY, Nova Science, 1997.22. Baume PJM, Cantor CH, McTaggart PG. Suicidesin Queensland: a comprehensive study, 1990-1995.Brisbane, Australian Institute for Suicide Researchand Prevention, 1997.23. Kermayer L, Fletcher C, Boothroyd L. Suicideamong the Inuit of Canada. In: Leenaars A et al., eds.Suicide in Canada. Toronto, University of TorontoPress, 1998:189-211.24. Graham A et al. Suicide: an AustralianPsychological Society discussion paper. AustralianPsychologist, 2000, 35:1-28.25. Yip PSF, Yam CH, Chau PH. A re-visit on seasonalvariations in the Hong Kong Special AdministrativeRegion (HKSAR). Acta Psychiatrica Scandinavica,2001, 103:315-316.26. Ji JL, Kleinman A, Becker AE. Suicide incontemporary China: a review of China's distinctivesuicide demographics in their socio-cultural context.Harvard Review of Psychiatry, 2001, 9:1-12.
27. Cooper PN, Milroy CM. The coroner's systemand underreporting of suicide. Medicine, Science andthe Law, 1995, 35:319-326.28. De Leo D, Diekstra RFW. Depression and suicidein late life. Toronto and Bern, Hogrefe/Huber, 1990.29. Sayer G, Stewart G, Chipps J. Suicide attempts inNSW: associated mortality and morbidity. PublicHealth Bulletin, 1996, 7:55-63.30. Kjoller M, Helveg-Larsen M. Suicidal ideation andsuicide attempts among adult Danes. ScandinavianJournal of Public Health, 2000, 28:54-61.31. Diekstra RF, Garnefski N. On the nature,magnitude, and causality of suicidal behaviors: aninternational perspective. Suicide and Life-Threatening Behavior, 1995, 25:36-57.32. McIntire MS, Angle CR. The taxonomy of suicideand self-poisoning: a pediatric perspective. In: WellsCF, Stuart IR, eds. Self-destructive behavior inchildren and adolescents. New York, NY, VanNostrand Reinhold, 1981:224-249.33. McIntosh JL et al. Elder suicide: research, theoryand treatment. Washington, DC, AmericanPsychological Association, 1994.34. De Leo D et al. Attempted and completed suicidein older subjects: results from the WHO/EUROMulticentre Study of Suicidal Behaviour.International Journal of Geriatric Psychiatry, 2001,16:1-11.35. Schmidtke A et al. Attempted suicide in Europe:rates, trends and sociodemographic characteristicsof suicide attempters during the period 1989-1992.Results of the WHO/EURO Multicentre Study onParasuicide. Acta Psychiatrica Scandinavica, 1996,93:327-338.36. Wichstrom L. Predictors of adolescent suicideattempts: a nationally representative longitudinalstudy of Norwegian adolescents. Journal of theAmerican Academy of Child and AdolescentPsychiatry, 2000, 39:603-610.37. Linden M, Barnow S. The wish to die in very oldpersons near the end of life: a psychiatric problem?Results from the Berlin Ageing Study (BASE).International Psychogeriatrics, 1997, 9:291-307.38. Scocco P et al. Death ideation and its correlates:survey of an over-65-year-old population. Journalof Mental and Nervous Disease, 2001, 189:209-218.39. Isometsa ET, Lonnqvist JK. Suicide in mooddisorders. In: Botsis AL, Soldatos CR, Stefanis CN,eds. Suicide: biopsychosocial approaches.Amsterdam, Elsevier, 1997:33-46.40. WaernM et al. Suicidal feelings in the last year oflife in elderly people who commit suicide. Lancet,
206 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
1999, 354:917-918.41. Primary prevention of mental, neurological andpsychosocial disorders. Geneva, World HealthOrganization, 1998.42. Blumenthal SJ. Suicide: a guide to risk factors,assessment, and treatment of suicidal patients.Medical Clinics of North America, 1988, 72:937-971.43. Beck AT et al. The relationship betweenhopelessness and ultimate suicide: a replication withpsychiatric outpatients. American Journal ofPsychiatry, 1990, 147:190-195.44. Guze SB, Robins E. Suicide and primary affectivedisorders. British Journal of Psychiatry, 1970, 117:437-438.45. Harris EC, Barraclough B. Suicide as an outcomefor mental disorders. British Journal of Psychiatry,1997, 170:447-452.46. Botswick JM, Pankratz VS. Affective disordersand suicide risk: a re-examination. American Journalof Psychiatry, 2000, 157:1925-1932.47. Roy A. Suicide in schizophrenia. In: Roy A, ed.Suicide. Baltimore, MD, Williams & Wilkins, 1986:97-112.48. Caldwell CB, Gottesman II. Schizophrenics killthemselves too: a review of risk factors for suicide.Schizophrenia Bulletin, 1990, 16:571-589.49. Beck AT et al. Hopelessness and eventual suicide:a 10-year prospective study of patients hospitalizedwith suicidal ideation. American Journal ofPsychiatry, 1985, 142:559-563.50. Murphy GE, Wetzel RD. The life-time risk ofsuicide in alcoholism. Archives of GeneralPsychiatry, 1990, 47:383-392.51. Yip PSF et al. Teenage suicide in Hong Kong.Hong Kong SAR, China, Befrienders International,1998.52. Hawton K, Catalan J. Attempted suicide: apractical guide to its nature and management, 2nded. Oxford, Oxford University Press, 1987.53. Gunnell D, Frankel S. Prevention of suicide:aspiration and evidence. British Medical Journal,1994, 308:1227-1233.54. Roy A. Genetics, biology and suicide in thefamily. In: Maris RW et al., eds. Assessment andprediction of suicide. New York, NY, Guilford,1992:574-588.55. Schulsinger F et al. A family study of suicide. In:Schou M, Stromgren E, eds. Origin, prevention andtreatment of affective disorders. London, AcademicPress, 1979:227-287.56. Asberg M, Traskman L, Thoren P. 5-HIAA in thecerebrospinal fluid. A biochemical suicide
predictor? Archives of General Psychiatry, 1976,33:1193-1197.57. Lester D. The concentration of neurotransmittermetabolites in the cerebrospinal fluid of suicidalindividuals: a meta-analysis. Pharmacopsychiatry,1995, 28:45-50.58. Coccaro EF et al. Serotonergic studies in patientswith affective and personality disorders. Archivesof General Psychiatry, 1989, 46:587-599.59. Mann JJ et al. Relationship between central andperipheral serotonin indexes in depressed andsuicidal psychiatric inpatients. Archives of GeneralPsychiatry, 1992, 49:442-446.60. Mann JJ. The neurobiology of suicide. NatureMedicine, 1998, 4:25-30.61. Van Praag H. Suicide and aggression. In: LesterD, ed. Suicide prevention. Philadelphia, Brunner-Routledge, 2000:45-64.62. Chi I, Yip PSF, Yu KK. Elderly suicide in HongKong. Hong Kong SAR, China, BefriendersInternational, 1998.63. De Leo D et al. Physical illness and parasuicide:evidence from the European Parasuicide StudyInterview (EPSIS/WHO-EURO). InternationalJournal of Psychiatry in Medicine, 1999, 29:149-163.64. Appleby L et al. Psychological autopsy study ofsuicides by people aged under 35. British Journalof Psychiatry, 1999, 175:168-174.65. Beautrais AL, Joyce PR, Mulder RT. Precipitatingfactors and life events in serious suicide attemptsamong youths aged 13 through 24 years. Journal ofthe American Academy of Child and AdolescentPsychiatry, 1997, 36:1543-1551.66. Foster T et al. Risk factors for suicideindependent of DSM-III-R Axis I disorder. Case-control psychological autopsy study in NorthernIreland. British Journal of Psychiatry, 1999, 175:175-179.67. Heikkinen ME et al. Age-related variation inrecent life events preceding suicide. Journal ofNervous and Mental Disease, 1995, 183:325-331.68. Kaltiala-Heino R et al. Bullying, depression andsuicidal ideation in Finnish adolescents: schoolsurvey. British Medical Journal, 1999, 319:348-351.69. Cavanagh JT, Owens DG, Johnstone EC. Lifeevents in suicide and undetermined death in south-east Scotland: a case-control study using themethod of psychological autopsy. Socia lPsychiatry and Psychiatric Epidemiology, 1999,34:645-650.70. Thacore VR, Varma SL. A study of suicides in
CAPÍTULO 7. VIOLÊNCIA AUTO-INFLIGIDA • 207
Ballarat, Victoria, Australia. Crisis, 2000, 21:26-30.71. Kernic MA, Wolf ME, Holt VL. Rates and relativerisk of hospital admission among women in violentintimate partner relationships. American Journal ofPublic Health, 2000, 90:1416-1420.72. Olson L et al. Guns, alcohol and intimate partnerviolence: the epidemiology of female suicide in NewMexico. Crisis, 1999, 20:121-126.73. Thompson MP et al. Partner abuse andposttraumatic stress disorder as risk factors forsuicide attempts in a sample of low-income, inner-city women. Journal of Trauma and Stress, 1999,12:59-72.74. Fischbach RL, Herbert B. Domestic violence andmental health: correlates and conundrums withinand across cultures. Social Science in Medicine,1997, 45:1161-1176.75. Brown J et al. Childhood abuse and neglect:specificity of effects on adolescent and young adultdepression and suicidality. Journal of the AmericanAcademy of Child and Adolescent Psychiatry, 1999,38:1490-1496.76. Dinwiddie S et al. Early sexual abuse and lifetimepsychopathology: a co-twin control study.Psychological Medicine, 2000, 30:41-52.77. Santa Mina EE, Gallop RM. Childhood sexualand physical abuse and adult self-harm and suicidalbehaviour: a literature review. Canadian Journal ofPsychiatry, 1998, 43:793-800.78. Garnefski N, Arends E. Sexual abuse andadolescent maladjustment: differences between maleand female victims. Journal of Adolescence, 1998,21:99-107.79. Silverman AB, Reinherz HZ, Giaconia RM. Thelong-term sequelae of child and adolescent abuse:a longitudinal community study. Child Abuse &Neglect, 1996, 20:709-723.80. Fergusson DM, Horwood LJ, Beautrais AL. Issexual orientation related to mental health problemsand suicidality in young people? Archives ofGeneral Psychiatry, 1999, 56:876-880.81. Herrell R et al. Sexual orientation and suicidality:a co-twin control study in adult men. Archives ofGeneral Psychiatry, 1999, 56:867-874.82. Gibson P. Gay male and lesbian youth suicide.In: Feinleib MR, ed. Report of the Secretary's TaskForce on Youth Suicide. Volume 3. Prevention andinterventions in youth suicide. Washington, DC,United States Department of Health and HumanServices, 1989 (DHHS publication ADM 89-1623):110-137.83. Shaffer D et al. Sexual orientation in adolescents
who commit suicide. Suicide and Life-ThreateningBehavior, 1995, 25(Suppl.):64-71.84. Millard J. Suicide and suicide attempts in thelesbian and gay community. Australian and NewZealand Mental Health Nursing, 1995, 4:181-189.85. Stronski Huwiler SM, Remafedi G. Adolescenthomosexuality. Advances in Pediatrics, 1998,45:107-144.86. Clark DC, Fawcett J. Review of empirical riskfactors for evaluation of the suicidal patient. In:Bongar B, ed. Suicide: guidelines for assessment,management and treatment. New York, NY, OxfordUniversity Press, 1992:16-48.87. Kposowa AJ. Marital status and suicide in theNational Longitudinal Mortality Study. Journal ofEpidemiology and Community Health, 2000, 54:254-261.88. Smith JC, Mercy JA, Conn JM. Marital statusand the risk of suicide. American Journal of PublicHealth, 1998, 78:78-80.89. Cantor CH, Slater PJ. Marital breakdown,parenthood and suicide. Journal of Family Studies,1995, 1:91-102.90. Yip PSF. Age, sex, marital status and suicide: anempirical study of east and west. PsychologicalReports, 1998, 82:311-322.91. Thompson N, Bhugra D. Rates of deliberateselfharm in Asians: findings and models.International Review of Psychiatry, 2000, 12:37-43.92. Khan MM, Reza H. Gender differences innonfatal suicidal behaviour in Pakistan: significanceof sociocultural factors. Suicide and Life-Threatening Behavior, 1998, 28:62-68.93. Khan MM, Reza H. The pattern of suicide inPakistan. Crisis, 2000, 21:31-35.94. Durkheim E. Le Suicide [Suicide]. Paris, Alcain,1897.95. Heikkinen HM, Aro H, Lonnqvist J. Recent lifeevents, social support and suicide. ActaPsychiatrica Scandinavica, 1993, 377(Suppl.):65-72.96. Heikkinen HM, Aro H, Lonnqvist J. Life eventsand social support in suicide. Suicide and Life-Threatening Behavior, 1994, 23:343-358.97. Kreitman N. Parasuicide. Chichester, John Wiley& Sons, 1977.98. Magne-Ingvar U, Ojehagen A, Traskman-BendzL. The social network of people who attempt suicide.Acta Psychiatrica Scandinavica, 1992, 86:153-158.99. Maris RW. Pathways to suicide: a survey ofselfdestructive behaviors. Baltimore, MD, JohnsHopkins University Press, 1981.
208 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
100. Negron R et al. Microanalysis of adolescentsuicide attempters and ideators during the acutesuicidal episode. Journal of the American Academyof Child and Adolescent Psychiatry, 1997, 36:1512-1519.101. Wenz F. Marital status, anomie and forms ofsocial isolation: a case of high suicide rate amongthe widowed in urban sub-area. Diseases of theNervous System, 1977, 38:891-895.102. Draper B. Attempted suicide in old age.International Journal of Geriatric Psychiatry, 1996,11:577-587.103. Dennis MS, Lindsay J. Suicide in the elderly:the United Kingdom perspective. InternationalPsychogeriatrics, 1995, 7:263-274.104. Hawton K, Fagg J, Simkin S. Deliberateselfpoisoning and self-injury in children andadolescents under 16 years of age in Oxford 1976-93. British Journal of Psychiatry, 1996, 169:202-208.105. National injury mortality reports, 1987-1998.Atlanta, GA, Centers for Disease Control andPrevention, 2000.106. Zhang J. Suicide in Beijing, China, 1992-1993.Suicide and Life-Threatening Behavior, 1996,26:175-180.107. Yip PSF. An epidemiological profile of suicidein Beijing, China. Suicide and Life-ThreateningBehavior, 2001, 31:62-70.108. De Leo D et al. Hanging as a means to suicidein young Australians: a report to theCommonwealth Ministry of Health and FamilyServices. Brisbane, Australian Institute for SuicideResearch and Prevention, 1999.109. Schmidtke A, Hafner H. The Werther effect aftertelevision films: new evidence for an old hypothesis.Psychological Medicine, 1998, 18:665-676.110. Wasserman I. Imitation and suicide: a re-examination of the Werther effect. AmericanSociological Review, 1984, 49:427-436.111. Mazurk PM et al. Increase of suicide byasphyxiation in New York City after the publicationof "Final Exit". New England Journal of Medicine,1993, 329:1508-1510.112. De Leo D, Ormskerk S. Suicide in the elderly:general characteristics. Crisis, 1991, 12:3-17.113. Rates of suicide throughout the country: factsheet. Washington, DC, American Association ofSuicidology, 1999.114. Dudley MJ et al. Suicide among youngAustralians, 1964-1993: an interstate comparison ofmetropolitan and rural trends. Medical Journal ofAustralia, 1998, 169:77-80.
115. Hawton K et al. Suicide and stress in farmers.London, The Stationery Office, 1998.116. Bowles JR. Suicide in Western Samoa: anexample of a suicide prevention program in adeveloping country. In: Diekstra RFW et al., eds.Preventive strategies on suicide. Leiden, Brill,1995:173-206.117. Cantor CH et al. The epidemiology of suicideand attempted suicide among young Australians:a report to the NH-MRC. Brisbane, AustralianInstitute for Suicide Research and Prevention, 1998.118. Baume P, Cantor CH, McTaggart P. Suicide inQueensland, 1990-1995. Queensland, AustralianInstitute for Suicide Research and Prevention, 1998.119. Platt S. Unemployment and suicidal behaviour:a review of the literature. Social Science andMedicine, 1984, 19:93-115.120. Varnik A, Wasserman D, Eklund G. Suicides inthe Baltic countries. Scandinavian Journal ofSocial Medicine, 1994, 22:166-169.121. Kalediene R. Time trends in mortality inLithuania. Acta Psychiatrica Scandinavica, 1999,99:419-422.122. Weyerer S, Wiedenmann A. Economic factorsand the rate of suicide in Germany between 1881and 1989. Psychological Report, 1995, 76:1331-1341.123. Lopatin AA, Kokorina NP. The widespreadnature of suicide in Kuzbass (Russia). Archives ofSuicide Research, 1998, 3:225-234.124. Berk JH. Trauma and resilience during war: alook at the children and humanitarian aid workers inBosnia. Psychoanalytical Review, 1998, 85:648-658.125. Yip PSF. Suicides in Hong Kong. SocialPsychiatry and Psychiatric Epidemiology, 1997,32:243-250.126. Morrell S et al. Suicide and unemployment inAustralia 1907-1990. Social Science and Medicine,1993, 36:749-756.127. Fergusson DM, Horwood LJ, Lynskey MT. Theeffects of unemployment on psychiatric illnessduring young adulthood. Psychological Medicine,1997, 27:371-381.128. Beautrais AL, Joyce PR, Mulder RT.Unemployment and serious suicide attempts.Psychological Medicine, 1998, 28:209-218.129. Lester D. Religion, suicide and homicide. SocialPsychiatry, 1987, 22:99-101.130. Faupel CE, Kowalski GS, Starr PD. Sociology'sone law: religion and suicide in the urban context.Journal for the Scientific Study of Religion, 1987,26:523-534.131. Burr JA, McCall PL, Powell-Griner E. Catholic
CAPÍTULO 7. VIOLÊNCIA AUTO-INFLIGIDA • 209
religion and suicide: the mediating effect of divorce.Social Science Quarterly, 1994, 75:300-318.132. Bankston WB, Allen HD, Cunningham DS.Religion and suicide: a research note on"Sociology's One Law". Social Forces, 1983, 62:521-528.133. Pope W, Danigelis N. Sociology's "one law".Social Forces, 1981, 60:495-516.134. Simpson ME, Conlin GH. Socioeconomicdevelopment, suicide and religion: a test ofDurkheim's theory of religion and suicide. SocialForces, 1989, 67:945-964.135. Stack S, Wasserman I. The effect of religion onsuicide ideology: an analysis of the networksperspective. Journal for the Scientific Study ofReligion, 1992, 31:457-466.136. Stack S. The effect of religious commitment ofsuicide: a cross-national analysis. Journal of Healthand Social Behaviour, 1983, 24:362-374.137. Kok LP. Race, religion and female suicideattempters in Singapore. Social Psychiatry andPsychiatric Epidemiology, 1998, 40:236-239.138. Neeleman J, Wessely S, Lewis G. Suicideacceptability in African and white Americans: therole of religion. Journal of Nervous and MentalDisease, 1998, 186:12-16.139. Marzuk PM et al. Lower risk of suicide duringpregnancy. American Journal of Psychiatry, 1997,154:122-123.140. Nisbet PA. Protective factors for suicidal blackfemales. Suicide and Life-Threatening Behavior,1996, 26:325-340.141. Resnick MD et al. Protecting adolescents fromharm: findings from the National Longitudinal Studyon Adolescent Health. Journal of the AmericanMedical Association, 1997, 278:823-832.142. McKeown RE et al. Incidence and predictors ofsuicidal behaviors in a longitudinal sample of youngadolescents. Journal of the American Academy ofChild and Adolescent Psychiatry, 1998, 37:612-619.143. Botsis AJ. Suicidal behaviour: risk and protectivefactors. In: Botsis AJ, Soldatos CR, Stefanis CN,eds. Suicide: biopsychosocial approaches.Amsterdam, Elsevier Science, 1997:129-146.144. Pfeffer CR, Hurt SW, Peskin JR. Suicidal childrengrow up: ego functions associated with suicideattempts. Journal of the American Academy of Childand Adolescent Psychiatry, 1995, 34:1318-1325.145. Borowsky IW et al. Suicide attempts amongAmerican Indian and Alaska Native youth: risk andprotective factors. Archives of Pediatrics and
Adolescent Medicine, 1999, 153:573-580.146. Goldney RD. Prediction of suicide and attemptedsuicide. In: Hawton K, van Heeringen K, eds. Theinternational handbook of suicide and attemptedsuicide. Chichester, John Wiley & Sons, 2000:585-595.147. Verkes RJ et al. Reduction by paroxetine ofsuicidal behaviour in patients with repeated suicideattempts but not with major depression. AmericanJournal of Psychiatry, 1998, 155:543-547.148. Linehan MM. Behavioral treatments of suicidalbehaviors: definitional obfuscation and treatmentoutcomes. In: Stoff DM, Mann JJ, eds. Theneurobiology of suicide: from the bench to the clinic.New York, NY, New York Academy of Sciences,1997:302-328.149. Salkovskis PM, Atha C, Storer D. Cognitivebehavioural problem-solving in the treatment ofpatients who repeatedly attempt suicide: acontrolled trial. British Journal of Psychiatry, 1990,157:871-876.150. Linehan MM, Heard HL, Armstrong HE.Naturalistic follow-up of a behavioural treatment forchronically parasuicidal borderline patients.Archives of General Psychiatry, 1993, 50:971-974.151. MacLeod AK et al. Recovery of positive futurethinking within a high-risk parasuicide group: resultsfrom a pilot randomised controlled trial. BritishJournal of Clinical Psychology, 1998, 37:371-379.152. Morgan HG, Jones EM, Owen JH. Secondaryprevention of non-fatal deliberate self-harm. TheGreen Card Study. British Journal of Psychiatry,1993, 163:111-112.153. Cotgrove A et al. Secondary prevention ofattempted suicide in adolescence. Journal ofAdolescence, 1995, 18:569-577.154. Evans MO et al. Crisis telephone consultationfor deliberate self-harm patients: effects onrepetition. British Journal of Psychiatry, 1999,175:23-27.155. De Leo D, Carollo G, Dello Buono M. Lowersuicide rates associated with a tele-help/tele-checkservice for the elderly at home. American Journalof Psychiatry, 1995, 152:632-634.156. Litman RE, Wold CI. Beyond crisis intervention.In: Schneidman ES, ed. Suicidology, contemporarydevelopments. New York, NY, Grune & Stratton,1976:528-546.157. Gibbons JS et al. Evaluation of a social workservice for self-poisoning patients. British Journalof Psychiatry, 1978, 133:111-118.158. Hawton K et al. Evaluation of outpatient
210 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
counseling compared with general practitioner carefollowing overdoses. Psychological Medicine, 1987,17:7 51-761.159.Dew MA et al. A quantitative literature reviewof t he effectiveness of suicide prevention centers.Journal of Consulting and Clinical Psychology,1987, 55:239-244.160. Lester D. The effectiveness of suicideprevention centres: a review. Suicide and Life-Threatening Behavior, 1997, 27:304-310.161. Riehl T, Marchner E, Moller HJ. Influence ofcrisis intervention telephone services ("crisishotlines") on the suicide rate in 25 German cities. In:Moller HJ, Schmidtke A, Welz R, eds. Current issuesof suicidology. New York, NY, Springer Verlag,1988:431-436.162. Lester D. State initiatives in addressing youthsuicide: evidence for their effectiveness. SocialPsychiatry and Psychiatric Epidemiology, 1992,27:75-77.163. Oliver RG, Hetzel BS. Rise and fall of suiciderates in Australia: relation to sedative availability.Medical Journal of Australia, 1972, 2:919-923.164. Kreitman N. The coal gas history: UnitedKingdom suicide rates, 1960-1971. British Journalof Preventive and Social Medicine, 1972, 30:86-93.165. Lester D. Preventing suicide by restrictingaccess to methods for suicide. Archives of SuicideResearch, 1998, 4:7-24.166. Clarke RV, Lester D. Toxicity of car exhaustsand opportunity for suicide. Journal ofEpidemiology and Community Health, 1987, 41:114-120.167. Lester D, Murrell ME. The influence of guncontrol laws on suicidal behaviour. AmericanJournal of Psychiatry, 1980, 80:151-154.168. Kellerman AL et al. Suicide in the home inrelation to gun ownership. New England Journalof Medicine, 1992, 327:467-472.169. Carrington PJ, Moyer MA. Gun control andsuicide in Ontario. American Journal of Psychiatry,1994, 151:606-608.170. Reed TJ. Goethe. Oxford, Oxford UniversityPress, 1984 (Past Masters Series).
171. Preventing suicide: a resource for mediaprofessionals. Geneva, World Health Organization,2000 (document WHO/MNH/MBD/00.2).172. Preventing suicide: how to start a survivorsgroup. Geneva, World Health Organization, 2000(document WHO/MNH/MBD/00.6).173. Prevention of suicide: guidelines for theformulation and implementation of nationalstrategies. New York, NY, United Nations, 1996(document ST/SEA/245).174. Preventing suicide: a resource for generalphysicians. Geneva, World Health Organization,2000 (document WHO/MNH/MBD/00.1).175. Preventing suicide: a resource for teachersand other school staff. Geneva, World HealthOrganization, 2000 (document WHO/MNH/MBD/00.3).176. Preventing suicide: a resource for primaryhealth care workers. Geneva, World HealthOrganization, 2000 (document WHO/MNH/MBD/00.4).177. Preventing suicide: a resource for prison officers.Geneva, World Health Organization, 2000 (documentWHO/MNH/MBD/00.5).178. The world health report 2001. Mental health:new understanding, new hope. Geneva, WorldHealth Organization, 2001.179. United States Public Health Service. TheSurgeon General's call to action to prevent suicide.Washington, DC, United States Department ofHealth and Human Services, 1999.180. Isacsson G. Suicide prevention: a medicalbreakthrough? Acta Psychiatrica Scandinavica,2000, 102:113-117.181. Rutz W. The role of family physicians inpreventing suicide. In: Lester D, ed. Suicideprevention: resources for the millennium.Philadelphia, PA, Brunner-Routledge, 2001:173-187.182. De Leo D. Cultural issues in suicide and oldage. Crisis, 1999, 20:53-55.183. Schmidtke A et al. Suicide rates in the world: anupdate. Archives of Suicide Research, 1999, 5:81-89.
CAPÍTULO 8. VIOLÊNCIA COLETIVA • 213
AntecedentesA violência coletiva, em suas múltiplas formas,
recebe um alto grau de atenção pública. Conflitosviolentos entre nações e grupos, terrorismo de Estadoe de grupos, estupro como arma de guerra,movimentos de grandes grupos de pessoasdesalojadas de seus lares, guerra entre gangues evandalismo de massas - tudo isso ocorre diariamenteem muitas partes do mundo. Em termos de morte,doenças físicas, invalidez e angústia mental, os efeitosna saúde desses diferentes tipos de acontecimentossão muito grandes.
Há muito tempo que a medicina está envolvidacom os efeitos da violência coletiva, tanto nacondição de ciência, como na prática - desde a cirurgiamilitar até o trabalho do Comitê Internacional da CruzVermelha. A saúde pública, no entanto, começou atratar do fenômeno só nos anos 1970, após a crisehumanitária em Biafra, Nigéria. As lições lá aprendidas,principalmente por organizações não governamentais,foram a base para o que se tornou um organismo emcrescimento no que tange ao conhecimento e àsintervenções médicas no campo de cuidadospreventivos com a saúde.
O mundo ainda está aprendendo como melhorreagir às várias formas de violência coletiva, masagora está claro que a saúde pública tem um papelimportante a desempenhar. Conforme a AssembléiaMundial da Saúde declarou em 1981 (1), o papel dosprofissionais da saúde na promoção e conservaçãoda paz é um fator significativo para se conseguirsaúde para todos.
Este capítulo dedica-se principalmente aosconflitos violentos, com ênfase especial nasemergências complexas relacionadas a conflitos.Embora crises dessa natureza sejam em geralamplamente denunciadas, muitos de seus aspectos,incluindo-se o impacto não fatal nas vítimas e ascausas e reações às crises, muitas das vezespermanecem ocultos, às vezes deliberadamente.Formas de violência coletiva sem objetivos políticos,como a violência de gangues, o vandalismo de massase a violência criminal associada ao banditismo, nãosão tratadas neste capítulo.
Como se define violência coletiva?A violência coletiva pode ser definida como:O uso instrumental da violência por pessoas que
se identificam como membros de um grupo -independente de esse grupo ser transitório ou possuiruma identidade mais permanente - contra outro grupo
ou um conjunto de indivíduos com o intuito dealcançar objetivos políticos, econômicos ou sociais.
Formas de violência coletivaVárias formas de violência coletiva foram
reconhecidas, incluindo:• Guerras, terrorismo e outros conflitos políticosviolentos que ocorrem dentro dos Estados ouentre eles.• Violência perpetrada pelos Estados, tais comogenocídio, repressão, desaparecimentos, torturae outros abusos aos direitos humanos.• Crime organizado violento, como banditismo eguerra de gangues.
Emergências ComplexasConforme a definição do Inter-Agency Standing
Committee [Comitê Permanente Interagencial] (2) -instrumento básico das Nações Unidas para acoordenação de assistência humanitária diante deemergências complexas e de grande porte - umaemergência complexa é:
"uma crise humanitária em um país, região ousociedade onde haja ruptura total ouconsiderável de autoridade, resultante deconflito interno ou externo, que necessite deuma resposta internacional que ultrapasse omandato ou a capacidade de qualquerorganismo específico e/ou o programa emandamento das Nações Unidas para o país".
Apesar de ser usado ocasionalmente paradescrever outras formas de desastres, naturais oucausados pelo homem, que tenham um impactosignificativo, a expressão é usada aqui para descreveras emergências fortemente associadas a conflitosviolentos, muitas vezes com implicações políticasimportantes.
Leaning (3 ) identifica quatro resultadoscaracterísticos de emergências complexas, todos comconseqüências profundas para a saúde pública:
— deslocamento de populações,— destruição de redes sociais e deecossistemas,— insegurança afetando civis e outros nãoenvolvidos na luta e— desrespeito aos direitos humanos.
214 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Alguns analistas (4) utilizam a expressão"emergências políticas complexas" para enfatizar anatureza política de crises específicas. Asemergências políticas complexas tipicamente:
— ocorrem através de fronteiras nacionais,— têm raízes relacionadas à disputa por poder erecursos,— são de longa duração,— ocorrem internamente e refletem estruturas edivisões sociais, políticas, econômicas e culturaisexistentes, e— são freqüentemente caracterizadas pordominação social "predatória".
Conflito armadoEmbora "guerra" seja um termo amplamente
utilizado para descrever conflito - e geralmentecompreendido em seu sentido histórico comoviolência entre nações - sua definição jurídica écontroversa. A controvérsia gira em torno dequestões como quantificação (por exemplo,quantas mortes a luta deve causar para serqualificada como guerra e com que duração detempo), se as hostilidades foram ou não claramentedeclaradas e suas limitações geográficas (porexemplo, se a guerra é necessariamente entrenações ou interna a um país). Para evitar essascontrovérsias e, particularmente para evitar falhasna aplicação das leis humanitárias, muitosinstrumentos internacionais (como as Convençõesde Genebra de 1949) usam a expressão "conflitoarmado".
No entanto, a grande variedade de conflitosarmados e os combatentes envolvidos forçaram osobservadores a buscar novas expressões paradescrevê-los. Dentre os exemplos se incluem aexpressão "novas guerras" , para descreverconflitos em que se tornaram indistintas asfronteiras entre os conceitos tradicionais de guerra,de crime organizado e de violações dos direitoshumanos em grande escala (5), e a expressão "lutaarmada assimétrica". Essa última expressão,intimamente associada ao fenômeno do terrorismomoderno (6), é usada para descrever uma forma deconflito em que um grupo organizado, desprovidode força militar convencional e de podereconômico, procura atacar os pontos fracos dassociedades relativamente prósperas e abertas. Osataques são realizados com armas e táticas nãoconvencionais e sem levar em conta códigos decomportamento militares ou políticos.
Genocídio
O genocídio é uma forma particularmentehedionda de violência coletiva, especialmente porqueos perpetradores do genocídio se voltam para umgrupo específico de população, com o intuito dedestruí-lo. Assim, o genocídio tem, por definição, umadimensão coletiva.
O conceito de genocídio, no entanto, é recente.Apesar de ter sido aplicado retrospectivamente, porhistoriadores e outros, a eventos ocorridos antes de1939 (e, no sentido histórico, é aplicado em exemploscitados mais adiante neste capítulo), a expressãorecebeu uma definição jurídica somente depois daSegunda Guerra Mundial. Os horrores do holocaustonazista provocaram o debate internacional que levouà codificação da expressão, em 1948, na Convençãopara a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio(Convention on the Prevention and Punishment ofthe Crime of Genocide). Essa Convenção entrou emvigor em 12 de Janeiro de 1951. O Artigo 2 daconvenção define genocídio como "qualquer dosatos a seguir, cometidos com a intenção de destruir,no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racialou religioso e, para isso:
— assassinando membros do grupo;causando graves danos físicos ou mentais amembros do grupo;— infligindo deliberadamente ao grupocondições de vida calculadas para resultar emsua destruição física, no todo ou em parte;— impondo medidas destinadas a evitarnascimentos dentro do grupo;— transferindo, pela força, crianças do grupoa outro grupo".
Consoante à Convenção, o crime de genocídio épassível de punição, bem como a cumplicidade emgenocídio, conspiração, incitação direta e pública aogenocídio e a tentativa de cometer genocídio.
Após o conflito de 1994 em Ruanda, o Conselhode Segurança das Nações Unidas expressou, emvárias resoluções, suas sérias preocupações sobredenúncias de genocídio e decidiu estabelecer umTribunal Criminal Internacional ad hoc para Ruanda.O Tribunal já ditou, e confirmou na apelação, váriascondenações por genocídio. Em agosto de 2001, aCorte de Justiça do Tribunal Criminal Internacional(Trial Chamber of the International CriminalTribunal) para a antiga Iugoslávia ditou sua primeiracondenação por genocídio no contexto do conflito
CAPÍTULO 8. VIOLÊNCIA COLETIVA • 215
na Bósnia-Herzegóvina, relativa ao massacre demuçulmanos bósnios ocorrido em Srebrenica, em julhode 1995.
Dados sobre violência coletivaFontes de dados
Uma série de institutos de pesquisa recolhem eanalisam dados sobre vítimas de conflitosinternacionais e de conflitos dentro de um único país.Dentre eles, encontra-se o Stockholm InternationalPeace Research Institute [Instituto Internacional deEstocolmo para Pesquisa da Paz] (SIPRI), queelaborou um formato padrão detalhado para seusrelatórios anuais sobre o impacto dos conflitos e oprojeto Correlates of War [Correlações de Guerra],na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos,uma fonte amplamente citada sobre a magnitude ecausas de conflitos desde o século XIX até os diasde hoje.
Dados especificamente relacionados à tortura eaos direitos humanos são colhidos por diversasagências nacionais de direitos humanos, bem comopor um número crescente de organizações nãogovernamentais internacionais, inclusive AfricanRights [Direitos Africanos], Amnesty International[Anistia Internacional] e Human Rights Watch[Vigilância dos Direitos Humanos]. Na Holanda, oInterdisciplinary Research Programme on RootCauses of Human Rights Violation [ProgramaInterdisciplinar de Pesquisa sobre as CausasPrincipais das Violações dos Direitos Humanos] fazo monitoramento de mortes e outras conseqüênciasde abusos dos direitos em todo o mundo.
Problemas com a coleta de dadosA maioria dos países pobres é carente de sistemas
de registros confiáveis de saúde, tornandoparticularmente difícil determinar as proporções demortes, doenças e deficiências físicas relacionadas aconflitos. Além disso, as emergências complexasinvariavelmente destroem os sistemas de observaçãoe informação existentes (7). Algumas técnicasinovadoras, no entanto, foram desenvolvidas parasobrepujar essas dificuldades. Na Guatemala, trêsconjuntos de dados separados, juntamente comdados obtidos de testemunhas e vítimas, foramcombinados para se obter uma estimativa do total demortes resultantes da guerra civil. Esse métodoindicou que cerca de 132 mil pessoas haviam perdidosuas vidas. O número oficial registrado era muito
menor, omitindo cerca de 100 mil mortes (8).As baixas nas forças armadas são normalmente
registradas de acordo com procedimentos militaresestabelecidos e, em geral, são razoavelmente precisas.É claro que os números relativos aos genocídios estãosujeitos a maior manipulação e são, portanto, maisdifíceis de confirmar. As estimativas de morte emmassa de civis podem variar até um fator de 10. Nogenocídio ocorrido em Ruanda em 1994, as mortesestimadas variaram de 500 mil a 1 milhão. No TimorLeste, dezenas de milhares de pessoas foram dadascomo desaparecidas logo após o conflito ocorridoem 1999 e, vários meses depois, ainda não estavaclaro se as estimativas iniciais estavam ou nãocorretas. Pouco se soube com segurança acerca donúmero de vítimas no conflito da RepúblicaDemocrática do Congo entre 1998 e 2001, emboraestimativas recentes tenham indicado que mais de2,5 milhões de pessoas podem ter perdido suas vidas(9).
Há muitas dificuldades para a coleta de dados.Tais dificuldades incluem os problemas de avaliar asaúde e a mortalidade em populações que passampor mudanças rápidas, a falta de acesso aos serviçosa partir dos quais os dados podem ser coletados euma série de preconceitos. As partes em um conflitogeralmente tentam manipular os dados sobre vítimase recursos. Portanto, é provável haver desvios nasinformações e na forma como se calcula o número devítimas. Por esse motivo, organizações da sociedadecivil têm um papel importante na documentação deinstâncias de violência coletiva.
Dados sobre abusos dos direitos humanos, emgeral, são também difíceis de se comprovar, já que osperpetradores fazem o que podem - por meio deseqüestros, desaparecimentos e assassinatospolíticos - para ocultar as provas de tais abusos. Váriasorganizações, incluindo Amnesty International[Anistia Internacional], Human Rights Watch[Vigilância dos Direitos Humanos] e Physicians forHuman Rights [Médicos para os Direitos Humanos],desenvolveram técnicas abrangentes para recolher,avaliar e verificar dados sobre abusos aos direitoshumanos.
A extensão do problemaA Organização Mundial da Saúde estima que cerca
de 310 mil pessoas morreram por lesões relacionadasà guerra em 2000 (ver anexo Estatísticas). Essasmortes são categorizadas de acordo com os códigosda Classificação Internacional de Doenças - CID
216 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
(International Classification Code - ICD) paraferimentos resultantes de operações de guerra (ICD-9 E990 -E999 ou ICD-10 Y36).
Os índices de mortalidade relacionados à guerravariaram menos de 1 para cada 100 mil habitantes empaíses desenvolvidos até 6,2 para 100 mil em paísessubdesenvolvidos e emergentes. Em termos mundiais,os maiores índices de mortalidade relacionados àguerra foram encontrados na Região Africana da OMS(32,0 para cada 100 mil), seguidos por paísessubdesenvolvidos e emergentes na Região da OMSdo Mediterrâneo Oriental (8,2 para cada 100 mil) e naRegião Européia da OMS (7,6 para cada 100 mil)respectivamente.
Vítimas de conflitosOs totais estimados de mortes relacionadas a
conflitos foram, entre os séculos XVI e XX,respectivamente, por século: 1,6 milhões; 6,1 milhões;7,0 milhões; 19,4 milhões; e 109,7 milhões (12,13).Tais cifras naturalmente escondem as circunstânciasem que as pessoas morreram. Estima-se que seismilhões de pessoas, por exemplo, perderam a vida nacaptura e tráfico de escravos ao longo de quatroséculos e 10 milhões de nativos das Américasmorreram nas mãos dos colonizadores europeus.
De acordo com uma estimativa (14), cerca de 191milhões de pessoas perderam suas vidas direta ouindiretamente nas 25 maiores ocorrências de violênciacoletiva no século XX. 60% dessas mortes ocorreramentre pessoas não envolvidas na luta. Além da PrimeiraGuerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, doisdos eventos mais catastróficos em termos de vidasperdidas foram o período do terror estalinista e osmilhões de pessoas que pereceram na China durantea Grande Marcha (1958 -1960). Ambos os eventosainda estão cercados de incertezas na balança dasperdas humanas. As mortes relacionadas comconflitos nos 25 maiores eventos incluíram cerca de39 milhões de soldados e 33 milhões de civis. A fomerelacionada a conflitos ou a genocídio no século XXdizimou outros 40 milhões de pessoas.
Um desdobramento relativamente novo emconflitos armados é um número crescente de mortesviolentas, nas áreas de conflito, de funcionários civisdas Nações Unidas e de organizações nãogovernamentais. No período de 1985 a 1998,ocorreram mais de 380 mortes entre trabalhadoreshumanitários (15), houve mais mortes entre o pessoalcivil das Nações Unidas do que entre as tropas depaz das Nações Unidas.
Tortura e estuproA tortura é uma prática comum em muitos
conflitos (ver Quadro 8.1). É difícil estimar suaextensão, devido ao fato de as vítimas terem tendênciaa esconder o trauma que sofreram e de haver pressõespolíticas para ocultar o uso da tortura. Em numerososconflitos também foi documentado o uso do estuprocomo arma de guerra. Embora as mulheres formem amaioria das vitimadas, nos conflitos também ocorremestupros masculinos. As estimativas do número demulheres estupradas na Bósnia-Herzegóvina duranteo conflito ocorrido entre 1992 e 1995 variam de 10 mila 60 mil (22). Denúncias de estupros durante conflitosviolentos em décadas recentes também foramdocumentados em Bangladesh, Libéria, Ruanda eUganda, entre outros (ver Capítulo 6). Com freqüênciautiliza-se o estupro para aterrorizar e abater ascomunidades, para forçar as pessoas a fugir e paraquebrar as estruturas da comunidade. Os efeitosfísicos e psicológicos nas vítimas têm longo alcance(23,24).
A natureza dos conflitosDesde a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um
total de 190 conflitos armados, dos quais apenas umquarto foi entre nações. Na realidade, os conflitosdos tempos modernos são cada vez mais internos enão entre nações. A duração da maioria dos conflitosarmados desde a Segunda Guerra Mundial foi inferiora seis meses. Os que duraram mais tempo em geral seestenderam ao longo de muitos anos. Por exemplo,no Vietnã, o conflito violento se prolongou por maisde duas décadas. Outros exemplos incluem osconflitos no Afeganistão e em Angola. O número totalde conflitos armados em progresso era de menos de20 nos anos 50, comparado a 30 nos anos 60 e 70, ecresceu para mais de 50 durante o final dos anos 80.Apesar de haver menos conflitos armados emandamento depois de 1992, os que ocorreram foram,em média, de maior duração.
Embora os conflitos dentro das nações sejam maiscomuns, continuam ocorrendo conflitos entre nações.Estima-se que a guerra entre o Iraque e a RepúblicaIslâmica do Irã resultou, no período de 1980 a 1988,em 450 mil soldados e 50 mil civis mortos (13). Oconflito entre a Eritréia e a Etiópia no final do séculoXX teve sua luta desenvolvida principalmente entredois exércitos convencionais, utilizando armaspesadas e técnicas de guerra de trincheira, e dizimoumilhares de vidas. Também ocorreram coalisões de
CAPÍTULO 8. VIOLÊNCIA COLETIVA • 217
QUADRO 8.1
TorturaUma série de tratados internacionais definiram a tortura. A Convenção das Nações Unidas contra
Tortura e Outros Tratamentos ou Punições Cruéis, Desumanos ou Degradantes de 1984 refere-se a um"ato mediante o qual se inflige intencionalmente dor severa ou sofrimento, seja físico ou mental, a umapessoa", com finalidade de se obter informações ou uma confissão, punição, intimidação ou coerção,"ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer espécie"; A Convenção está preocupadacom a tortura perpetrada por autoridades públicas ou outros indivíduos agindo em capacidade oficial.
Ao preparar seu relatório de 2000 sobre tortura (16), a organização de defesa dos direitos humanos,Amnesty International (Anistia Internacional), encontrou denúncias de tortura ou maus tratos perpetradospor autoridades em mais de 150 países. Em mais de 70 países, a prática era aparentemente generalizada eem mais de 80 países relatou-se a morte de pessoas como resultado de tortura. A maioria das vítimasparecia compor-se de pessoas suspeitas de ou condenadas por prática de crimes, enquanto que amaioria dos torturadores compunha-se de policiais.
A prevalência da tortura contra suspeitos criminosos provavelmente tem seus registros reduzidos, jáque as vítimas em geral têm menos possibilidades de formalizar suas queixas. Em alguns países, umalonga prática de tortura a criminosos comuns atrai a atenção somente quando declina a repressãopolítica mais escancarada. Na ausência de treinamento adequado e de mecanismos de investigação, apolícia pode recorrer à tortura ou aos maus tratos para extrair confissões rapidamente e assim obtercondenações.
Em algumas instâncias de tortura, a finalidade é extrair informações, obter uma confissão (seja elaverdadeira ou falsa), forçar a cooperação ou "quebrar" a vítima para servir de exemplo para outros. Emoutros casos, a punição e humilhação são o objetivo básico. Às vezes, a tortura também é utilizada comomeio de extorsão. Uma vez estabelecido um regime de tortura, ele pode eternizar-se.
A tortura tem sérias implicações para a saúde pública, já que afeta a saúde física e mental daspopulações. A vítima pode permanecer em seu próprio país, adaptando-se da melhor forma possível, comou sem cuidados médicos ou psicossociais. Se suas necessidades não forem atendidas adequadamente,há o risco de vir a tornar-se membro cada vez mais alienado ou desajustado da sociedade. O mesmoocorre se forem para o exílio. Dados existentes sobre pessoas que buscam asilo, algumas das quaissofreram torturas em seu país de origem, sugerem que elas têm carências significativas no campo dasaúde (17,18).
A ausência de controle do uso da tortura encoraja práticas ineficientes da polícia e das forças desegurança e aumento da tolerância a abusos aos direitos humanos e à violência. Várias organizações deprofissionais da saúde adotaram uma posição firme contra a tortura, encarando sua prevenção comoalgo intimamente ligado a sua vocação para a medicina e para o bem da saúde pública (19). Organizaçõesnão governamentais também promovem a prevenção (20).
Um mecanismo de controle em especial - o sistema de inspeção do Conselho da Europa - foirecomendado para uso em nível global. Uma minuta de "Protocolo Opcional" para a Convenção sobreTortura das Nações Unidas proporcionaria um sistema de inspeção semelhante em locais de detenção.Até o momento, o progresso na elaboração de um Protocolo Opcional vem sendo lento.
As iniciativas para se investigar e documentar a tortura cresceram nos últimos anos. As diretrizes dasNações Unidas sobre a avaliação e registro de evidências médicas de tortura, conhecidas como o"Protocolo de Istambul" foram criadas em 1999 por cientistas forenses, médicos, monitores de direitoshumanos e advogados de 15 países e foram publicadas dois anos depois (21)
forças multinacionais, envolvidas em ataques aéreosmaciços - a exemplo da Guerra do Golfo contra oIraque em 1991 e na campanha da Organização doTratado do Atlântico Norte (OTAN) contra aRepública Federal da Iugoslávia em 1999.
Muitos dos conflitos desde o final da SegundaGuerra Mundial ocorreram em países emergentes.Após o colapso dos regimes comunistas no leste daEuropa e da antiga União Soviética no final dos anos80 e início dos anos 90, houve durante um períodoum aumento significativo nos conflitos armadosocorridos na Europa. O tamanho da área do conflitomudou radicalmente nos últimos dois séculos. Até ocomeço do século XIX, a guerra entre nações ocorriaem um "campo de batalha". A mobilização decidadãos-soldados durante as guerras napoleônicascriou campos de batalha maiores, mas semelhantesem sua essência. Com o desenvolvimento de estradasde ferro no século XIX e a mecanização do transportede massas tornou-se possível a guerra em movimento,com mudanças de posição rápidas em grandes áreasgeográficas. Posteriormente, o desenvolvimento detanques, submarinos, aviões de combate/bombardeiros e mísseis guiados por laser, prepararamas fundações de campos de batalha sem limitesgeográficos. Conflitos recentes, como o empreendidoem 1999 pela OTAN contra aRepública Federal da Iugoslávia,têm sido chamados de "guerrasvirtuais" (25) devido à forma comoesses conflitos se desenvolvem,com mísseis controlados àdistância, sem o envolvimento detropas no teatro de operações.
Quais os fatores de riscode violência coletiva?
A boa prática da saúde públicarequer a identificação de fatores derisco e determinantes de violênciacoletiva, bem como odesenvolvimento de abordagenspara a solução de problemas semrecorrer à violência. Foi identificadauma série de fatores de risco paraconflitos políticos importantes.Especificamente, a CarnegieCommission on Preventing DeadlyConflict [Comissão Carnegie paraa Prevenção de Conflito Mortal](26) relacionou indicadores denações em risco de colapso e de
conflito interno (ver Tabela 8.1). Combinados, essesfatores interagem entre si, criando condições deconflito violento. Individualmente, nenhum deles ésuficiente para levar à violência ou à desintegraçãode uma nação.
Os fatores de risco de conflitos violentos incluem:• Fatores políticos:— ausência de processos democráticos;— desigualdade no acesso ao poder.• Fatores econômicos:— distribuição excessivamente desigual derecursos;— acesso desigual a recursos;— controle dos recursos naturais maisimportantes;— controle de produção ou tráfico de drogas.• Fatores sociais e da comunidade:— desigualdade entre grupos;— o acirramento do fanatismo de grupo nosaspectos étnicos, nacionais ou religiosos;— a disponibilidade fácil de armas e outrosarmamentos de pequeno porte;• Fatores demográficos:— rápida mudança demográfica.Muito desses fatores de risco podem ser
identificados antes da ocorrência de violência
218 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
CAPÍTULO 8. VIOLÊNCIA COLETIVA • 219
coletiva flagrante.
Fatores políticos e econômicosA excessiva desigualdade de distribuição de
recursos, particularmente serviços de saúde eeducação, e do acesso a esses recursos e ao poderpolítico - seja por área geográfica, classe social,religião, raça ou etnia - são fatores importantes quepodem contribuir para conflitos entre grupos. Aliderança não democrática, especialmente se forrepressiva e se o poder advém da identidade étnicaou religiosa, é um elemento de forte contribuição parao conflito. Uma redução nos serviços públicos,geralmente afetando os setores mais pobres dasociedade com maior gravidade, pode ser um sinalde alerta de uma situação em fase de deterioração. Oconflito é menos provável em situações decrescimento econômico do que em economias emretração, onde se intensifica a competição pelosrecursos.
GlobalizaçãoAs tendências na economia global aceleraram o
ritmo da integração global e o crescimento econômicopara alguns países e para alguns grupos dentro dospaíses, contribuindo ao mesmo tempo para afragmentação e marginalização econômica de outros.Outros possíveis fatores de risco de conflito que
podem estar relacionados à globalização sãofinanceiros (as freqüentes e rápidas movimentaçõesde capital ao redor do mundo) e culturais (aspiraçõesindividuais e coletivas motivadas pelos meios decomunicação globais que não têm condições reais deser atingidas). Ainda se desconhece se as tendênciasatuais da globalização podem levar a mais conflitos emaior violência dentro ou entre nações. A Figura 8.1mostra ligações em potencial entre as tendências daglobalização e a ocorrência de conflitos (27).
Recursos naturaisCom freqüência, as lutas pelo acesso aos recursos
naturais mais importantes exercem influência noacirramento e prolongamento de conflitos. Sãoexemplos de conflitos deste tipo ocorridos nas últimasduas décadas os relacionados a diamantes em Angola,na República Democrática do Congo e em Serra Leoa;petróleo em Angola e no sul do Sudão; e madeira epedras preciosas no Camboja. Em outros lugares,incluindo-se o Afeganistão, Colômbia e Myanmar, odesejo de controlar a produção e distribuição dedrogas contribuiu para conflitos violentos.
Fatores sociais e da comunidadeUm fator de risco particularmente importante
associado à ocorrência de conflito é a existência dedesigualdades dentro dos próprios grupos,especialmente se estiverem se expandindo (28) e
Possíveis ligações entre globalização, desigualdades e conflitos
FIGURA 8.1
forem sentidas como reflexo da desigualdade dealocação de recursos na sociedade. Tal fator é muitasvezes observado em países onde o governo estádominado por uma comunidade que exerce o poderpolítico, militar e econômico sobre comunidadesbastante diferentes.
A fácil disponibilidade de armas de pequeno porteou outros armamentos na população em geral tambémpode aumentar o risco de conflito, o que éparticularmente problemático em locais onde já houveconflitos e onde os programas de desmobilização,descomissionamento de armas e criação de empregospara ex-combatentes é inadequado ou onde não seestabeleceram tais medidas.
Fatores demográficosMudanças demográficas rápidas - incluindo
aumento na densidade populacional e uma proporçãomaior de jovens, combinadas com a incapacidade deum país de acompanhar o crescimento populacionalcom um maior número de empregos e de escolas,podem contribuir para um conflito violento,particularmente onde houver aindaoutros fatores de risco. Nessascondições, grandes movimentospopulacionais podem ocorrer, namedida em que pessoasdesesperadas procuram uma vidamais sustentável em outro lugar eisso, por sua vez, pode aumentar orisco de violência nas áreas para asquais as pessoas se mudam.
Fatores tecnológicosO nível da tecnologia de armas
não afeta necessariamente o riscode conflito, mas determina a escalade qualquer conflito e a quantidadede destruição que ocorrerá. Muitosséculos atrás, a evolução da flechapara a balestra aumentou o alcancee a força de destruição de armas deprojéteis. Muito depois, armas defogo simples foram desenvolvidas,seguidas por rifles, metralhadoras esubmetralhadoras. O poder dedestruição potencial dessas armasaumentou muito com a capacidadede atirar um maior número de balas
mais rapidamente e com maior alcance e precisão.No entanto, mesmo armas básicas, como o
machete, podem contribuir para a ocorrência dedestruição humana maciça, como se observou nogenocídio em Ruanda em 1994 (29). Nos atos deterrorismo nos Estados Unidos, em 11 de setembro e2001, quando aviões de passageiro sequestradosforam deliberadamente atirados contra as torres doWorld Trade Center e o Pentágono, matando váriosmilhares de pessoas, as armas convencionais nãoforam uma ferramenta importante nos incidentes.
As conseqüências da violência coletivaImpacto na saúde
O impacto que os conflitos exercem sobre a saúdepode ser muito grande em termos de mortalidade,morbidade e deficiências físicas (ver Tabela 8.2).
Mortalidade infantilEm épocas de conflito, a mortalidade infantil
220 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
CAPÍTULO 8. VIOLÊNCIA COLETIVA • 221
geralmente aumenta. Doenças evitáveis como osarampo, o tétano e a difteria podem se tornarepidêmicas. Em meados dos anos 80, a mortalidadeinfantil em Uganda subiu para mais de 600 por mil emalgumas áreas afetadas por conflitos (30). Segundo oFundo das Nações Unidas para as Crianças foramregistradas reduções de mortalidade infantil em todosos países do sul da África no período entre 1960 e1986, com exceção de Angola e Moçambique, doispaíses que estiveram expostos a conflitos contínuos(31). Os esforços para a erradicação de doençasinfecciosas, como a poliomielite, são negativamenteafetados por resíduos da doença em áreas afetadaspor conflitos. Em Zepa, na Bósnia-Herzegóvina - uma"área segura" controlada pelas Nações Unidas eposteriormente invadida por forças sérvias da Bósnia- as taxas de mortalidade perinatal e infantil dobraramapós apenas um ano de conflito. Em Sarajevo, partosde bebês prematuros haviam dobrado e o peso médiodos recém-nascidos havia caído em 20% em 1993.
Doenças contagiosasO aumento no risco de ocorrência de doenças
contagiosas durante conflitos em geral se deve a:— redução da cobertura de imunização;— êxodo da população e superlotação de camposde refugiados;— maior exposição a vetores e riscos ambientais,como água poluída;— redução de campanhas de saúde pública e deatividades de extensão de seu alcance;— falta de acesso a serviços de cuidados com asaúde.Durante a luta na Bósnia-Herzegóvina em 1994,
menos de 35% das crianças estavam imunizadas emcomparação a 95% antes do início das hostilidades(32, 33). No Iraque, houve fortes quedas na coberturade imunização depois da Guerra do Golfo em 1991 eda subseqüente imposição de sanções econômicas epolíticas. Entretanto, evidências recentes de ElSalvador indicam que é possível, com intervençõesseletivas de cuidados com a saúde e fornecimento derecursos adequados, melhorar certos problemas desaúde durante conflitos em andamento (34).
Na Nicarágua, entre 1985 e 1986, uma epidemia desarampo foi atribuída em grande parte à redução nacapacidade do serviço de saúde de imunizar aspessoas em risco nas áreas afetadas pelo conflito(35). Uma deterioração das atividades de controle damalária foi relacionada a epidemias de malária na
Etiópia (36) e em Moçambique (37), destacando-se avulnerabilidade dos programas de controle dedoenças durante os períodos de conflito. Acredita-se que o surto de febre hemorrágica causada pelovírus Ebola em Gulu, Uganda, no ano 2000 estavarelacionado ao retorno de tropas das lutas naRepública Democrática do Congo.
Na Etiópia, no final dos anos 80, acreditava-seque epidemias de febre tifóide e febre reincidente -doenças infecciosas transmitidas por carrapatos,piolhos ou pulgas infectados - eram originárias decampos de prisioneiros superlotados e campos derefugiados, bem como da venda de cobertores eroupas infectados feita por soldados em retirada àscomunidades locais (36). No êxodo de Ruanda em1994, epidemias de doenças relacionadas à água,como o cólera e a disenteria causada por Shigellaspp, levaram à morte no prazo de um mês de 6 a 10%da população de refugiados que chegavam ao Zaire(atualmente, República Democrática do Congo) (38).
O índice bruto de mortes - de 20 a 35 por 10 milhabitantes, por dia - era 2 a 3 vezes mais alto do queo anteriormente registrado em populações refugiadas.No início de conflitos violentos e durante eles há, emgeral, um aumento muito grande no risco detransmissão de infecção por HIV e de outras doençassexualmente transmissíveis (39). Em muitas forçasarmadas a prevalência de infecção por HIV já atingiualtos índices (40). Em épocas de conflito, as forçasmilitares (incluindo-se, às vezes, as forças de paz)assumem o poder de exigir serviços sexuais dapopulação local, seja à força, ou mediante pagamento(41). A transmissão do HIV e de outras doençassexualmente transmissíveis incrementa-se ainda maispelo fato de que as tropas têm um alto grau demobilidade e, no final, retornam a diferentes regiõesdepois da desmobilização (36, 42, 43). No total, osrefugiados de conflitos e populações internamentedeslocadas sofrem um aumento no risco de infecçãopor HIV (44) porque:
• Em geral, estão mais vulneráveis a abusossexuais e violência.• Estão mais propensos a se entregar àprostituição - tendo sido privados de suas fontesde renda habituais para sobrevivência.• Crianças desalojadas, com muito pouco paraocupá-las e possivelmente sem ninguém paracuidar delas, podem tornar-se sexualmente ativasmais cedo do que ocorreria em outras condições.• O sangue usado em transfusões nasemergências pode não ter sido testado quanto à
222 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
presença de HIV.
Deficiências físicasOs dados sobre incapacitações físicas
relacionadas a conflito são escassos. No Zimbábue,uma pesquisa em nível nacional, realizada em 1982,determinou que 13% de todas as incapacitaçõesfísicas eram resultado direto do conflito armadoanterior. Mais de 30 anos de conflito armado na Etiópiaacarretaram cerca de 1 milhão de mortes, das quaiscerca da metade foram de civis (36). Aproximadamenteum terço dos 300 mil soldados voltando das linhasde frente depois do final do conflito haviam sofridolesões ou tinham incapacitações físicas e, pelo menos40 mil pessoas haviam perdido um ou mais membrosno conflito.
As minas terrestres são uma das principaiscontribuições para as incapacitações físicas. NoCamboja, 36 mil pessoas perderam pelo menos ummembro depois de detonar uma mina terrestreacidentalmente - um em cada 236 membros dapopulação (45). Um total de 6 mil pessoas ficouincapacitada desta forma, somente em 1990. Mais de30 milhões de minas foram colocadas no Afeganistãona década de 1980.
Em alguns conflitos, a mutilação na forma de cortedas orelhas ou lábios, como praticado emMoçambique durante a guerra civil (46), ou demembros, como ocorreu mais recentemente em SerraLeoa (47), tem sido sistematicamente praticada como intuito de desmoralizar as forças inimigas.
Saúde mentalO impacto dos conflitos na saúde mental é
influenciado por uma série de fatores. Dentre estesse incluem (48):
— a saúde psicológica dos afetados, antes doevento;— a natureza do conflito;— a forma de trauma (se é resultado de viver aexperiência e assistir a atos de violência ou se édiretamente infligido, como no caso de tortura ede outros tipos de violência repressiva);— a resposta ao trauma por indivíduos ecomunidades;— o contexto cultural em que ocorre a violência.Os estresses psicológicos relacionados aconflitos estão associados a, ou resultam de (49):— desalojamento, seja forçado ou voluntário,— perda e desgosto,— isolamento social,
— perda de status,— perda da comunidade e,— em alguns cenários, aculturação a novosambientes.As manifestações desses estresses podem
incluir:— depressão e ansiedade,— doenças psicossomáticas,— comportamento suicida,— conflitos intrafamiliares,— abuso de álcool (alcoolismo) e— comportamento anti-social.Especialmente refugiados solteiros e isolados,
bem como mulheres responsáveis pela família (headof household), podem correr riscos de sofrer estressepsicológico.
Alguns especialistas (48,50) alertaram quanto àsuposição de que as pessoas não têm capacidade eresistência de reagir a condições adversas origináriasde conflito violento. Outros advertiram quanto aoperigo (51) de que os programas de ajuda humanitáriapossam se transformar em substituto para o diálogopolítico com as partes envolvidas no conflito -possivelmente aquelas que são sua força propulsoraprincipal. Estudos realizados na África do Sul (52)indicaram que nem todos os que estiveram sujeitos atrauma durante o apartheid se tornaram "vítimas".Ao invés disso, pelo menos em alguns casos, osindivíduos tiveram a capacidade de reagir com vigor,porque se viam lutando por causas legítimas quevaliam a pena. O modelo médico que atribui a"síndrome pós-estresse" a indivíduos pode estardeixando de levar em conta a variedade ecomplexidade das reações humanas a eventosestressantes (48). Está ficando mais claro agora quea recuperação de trauma psicológico resultante deconflito violento está associada à reconstrução dasredes sociais e econômicas e das instituiçõesculturais (50).
Índices elevados de depressão, uso de drogas esuicídio, freqüentemente são o resultado de conflitosviolentos. O Sri Lanka tinha um índice de suicídiototal muito menor do que tem agora (53). Constataçõessemelhantes foram denunciadas em El Salvador (34).Em ambos esses casos, o forte aumento de suicídiosfoi, pelo menos em parte, conseqüência da violênciapolítica.
Do ponto de vista da saúde mental, as populaçõesafetadas por conflitos violentos podem ser divididasem três grupos (54):
— os que apresentam doenças psiquiátricasincapacitantes;
CAPÍTULO 8. VIOLÊNCIA COLETIVA • 223
— os que apresentam graves reações psicológicasa traumas;— os que compõem a maioria e que, uma vezrestabelecidas a paz e a ordem, são capazes de seadaptar.Os dois primeiros grupos são passíveis de sebeneficiar consideravelmente de cuidados desaúde mental que levem em consideração fatoresculturais e socioeconômicos.
Impacto em populações específicasO efeito direto dos conflitos na saúde das forças
armadas normalmente é registrado com um certo graude precisão; no entanto, em geral é difícil de sedeterminar o efeito dos conflitos em gruposespecíficos. O tamanho da população e a densidadepodem variar muito em curtos períodos de tempo àmedida que as pessoas se mudam para áreas segurase para locais onde há mais recursos disponíveis. Estefato complica as medições do impacto do conflito nasaúde.
CivisSegundo a Convenção de Genebra de 1949, as
forças armadas devem aplicar os princípios daproporcionalidade e da distinção em sua escolha dealvos. A proporcionalidade envolve a tentativa deminimizar as vítimas civis ao buscar alvos militares erelacionados. A distinção significa evitar alvos civissempre que possível (52). Apesar dessas tentativasde regular seu impacto, os conflitos armadosocasionam muitas mortes entre os civis.
Enquanto as mortes de civis podem ser o resultadodireto de operações militares, o aumento dos índicesde mortalidade entre civis em tempos de conflito sãoem geral um reflexo dos efeitos combinados de:
— menor acesso a alimentos, ocasionando subnutrição;— aumento do risco de doenças contagiosas;— acesso reduzido a serviços de saúde;— redução dos programas de saúde pública;— condições ambientais inadequadas;— angústia psicossocial.
Refugiados e população internamentedesalojada
É característico que, especialmente no períodoimediatamente após sua migração, refugiados epessoas internamente desalojadas apresentem altos
índices de mortalidade (55,56). Exames de saúde derefugiados e de populações desalojadas revelaramíndices de mortalidade extremamente elevados - nospiores casos até 60 vezes acima dos índicesesperados durante a fase aguda do desalojamento(55, 57, 58). Na Monróvia, capital da Libéria, o índicede mortalidade entre civis desalojados durante oconflito de 1990 foi sete vezes maior do que o índiceanterior ao conflito (57).
As mortes decorrentes de subnutrição, diarréia edoenças infecciosas ocorrem principalmente entre ascrianças, enquanto os adultos são afetadosprincipalmente por outras doenças infecciosas, comomalária, tuberculose e HIV, bem como uma série dedoenças não contagiosas, lesões e violência. O estadode saúde anterior da população, seu acesso aosprincipais determinantes para a saúde (alimentos,abrigo, água, saneamento e serviços de saúde), aamplitude de sua exposição a novas doenças e adisponibilidade de recursos são fatores que exercemimportante influência na saúde de refugiados, durantee após os conflitos.
Impacto demográficoUma conseqüência da mudança nos métodos
modernos de guerra, onde comunidades inteiras sãocada vez mais encaradas como alvo, tem sido o grandenúmero de pessoas desalojadas. O número total derefugiados fugindo através de fronteiras nacionaiscresceu de cerca de 2,5 milhões em 1979 e 11 milhõesem 1983, para 23 milhões em 1997 (59, 60). No iníciodos anos 90, adicionalmente, um total estimado de 30milhões de pessoas foram desalojadas internamenteem um determinado momento (60), a maioria delastendo fugido de zonas de conflito. Os desalojadosdentro dos países, provavelmente têm menos acessoa recursos e ajuda internacional do que os refugiadosque fogem através das fronteiras e também estão maispropensos a sofrer risco continuado de violência (61).
A Tabela 8.3 mostra os movimentos de refugiadose de populações internamente desalojadas duranteos anos 90 (62). Na África, nas Américas e na Europadurante esse período havia muito mais pessoasdesalojadas internamente do que refugiados,enquanto na Ásia e no Meio Oriente ocorria ocontrário.
A redistribuição forçada de populações, praticadapor vários governos, por razões alegadas desegurança, ideologia, ou desenvolvimento, tambémpode ter um forte impacto na saúde. Entre 1985 e1988, cerca de 5,7 milhões de pessoas, 15% da
224 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
população rural total, foram transferidos dasprovíncias do norte e do leste para povoados nosudoeste em conseqüência de um programaobrigatório do governo na Etiópia (63). Durante oregime de Pol Pot no Camboja (1975 -1979), centenasde milhares de habitantes da região urbana foramdesalojados à força e transferidos para áreas rurais.
Impacto socioeconômicoO impacto econômico dos conflitos pode ser
profundo (64, 65). Tendem a ser drasticamentereduzidos os gastos públicos em setores que incluemsaúde e educação, na medida em que o Estadoenfrenta dificuldades na coleta de impostos e naobtenção de outras fontes de receita - por exemplo, oturismo - ao mesmo tempo em que aumentam osgastos militares. Na Etiópia, os gastos militaresaumentaram de 11,2% do orçamento do governo em1973-1974 para 36,5% em 1990-1991, enquantosimultaneamente a fatia do orçamento destinada àsaúde caiu de maneira drástica de 6,1% para 3,2%(36).
Os conflitos também afetam significativamenteos recursos humanos e a produtividade. No nível
doméstico, as fontes de recursos disponíveis tambémsão passíveis de ser fortemente reduzidas. Problemasadicionais para a subsistência das pessoas podemser ocasionados pela manipulação de preços ou ofornecimento de artigos essenciais, e por outrasformas de especulação.
Houve algumas tentativas de medir os custos deoportunidade de desenvolvimento que não ocorrera,como resultado de conflitos. Os países em conflitosistematicamente têm obtido menor progresso naampliação da expectativa de vida e na redução demortalidade infantil e nos índices brutos demortalidade, quando comparados a outros países namesma região e com situação sócio-econômicasemelhante (66). Análises como essas podem serconfundidas pela influência simultânea da pandemiade AIDS, que por si só pode ser consideravelmenteexacerbada por conflitos e instabilidade (42, 43).
Alimentos e agriculturaEm períodos de conflito, a produção e a
distribuição de alimentos freqüentemente são visadasde forma especifica (67). No conflito ocorrido naEtiópia entre forças do governo e forças separatistasda Eritréia e da província de Tigre no período de 1974
a 1991, os agricultores foram impedidos à força deplantar e colher suas colheitas e soldados saquearamsementes e gado. Na província de Tigre e na Eritréiaos combatentes recrutaram agricultores, minaram asterras, confiscaram alimentos e abateram o gado (36).A perda dos animais de criação priva os agricultoresde um bem necessário para fazer a terra produzir,acarretando, portanto um efeito adverso imediato e alongo prazo.
Infra-estruturaImportantes infra-estruturas podem ser
danificadas durante períodos deconflito. No caso da infra-estruturade água e saneamento, os danoscausados podem ter efeito direto egrave na saúde. No início e em meadosda década de 1980, nos conflitosocorridos no sul do Sudão e emUganda, as bombas manuais dosvilarejos foram deliberadamentedestruídas por tropas do governo queoperavam em áreas controladas porforças rebeldes, e por guerrilhas nasáreas sob controle do governo (30).Durante as operações militares contrao Iraque em 1991, os suprimentos deágua, estações de esgoto e outrosserviços de saneamento foramafetados drasticamente pelo intenso
bombardeio (68).
Serviços de assistência àsaúde
O impacto de conflitos nosserviços de assistência à saúde é deefeito extremamente abrangente (verTabela 8.4). Antes da Guerra do Golfo,em 1991, os serviços de saúde noIraque atendiam 90% da população eas crianças com menos de cinco anoseram rotineiramente vacinadas em suagrande maioria. Durante o conflito,muitos hospitais e clínicas foramseriamente danificados e tiveram deser fechados, enquanto os que aindaestavam em operação tiveram deatender áreas de abrangência muitomaior.Extensos danos às estações de
abastecimento de água, eletricidade e esgotosreduziram ainda mais a capacidade de operação dosserviços de saúde remanescentes (68). No violentoconflito ocorrido no Timor Leste em 1999, após oplebiscito pela independência, as forças milicianasdestruíram virtualmente todos os serviços deassistência à saúde. Somente o hospital principal dacidade mais importante, Dili, foi deixado em pé.muitomaior.
Geralmente no início e ao longo dos conflitos, ofornecimento de medicamentos fica prejudicado,causando aumento de condições que poderiam tersido evitadas por medicação, incluindo males
CAPÍTULO 8. VIOLÊNCIA COLETIVA • 225
226 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
potencialmente fatais, como asma, diabettes e umasérie de doenças infecciosas. Além dosmedicamentos, também podem faltar pessoal da áreamédica, equipamentos para diagnóstico, eletricidadee água, afetando a qualidade dos serviços de saúdedisponíveis. Em geral, os recursos humanos nosserviços de assistência à saúde também sãogravemente afetados por conflitos violentos. Emalguns casos, como em Moçambique e Nicarágua, opessoal médico transformou-se em alvo específico.O pessoal qualificado freqüentemente se retira paraáreas urbanas mais seguras, podendo tambémabandonar definitivamente a profissão. Em Uganda,entre 1972 e 1985, a metade dos médicos e 80% dosfarmacêuticos deixaram o país para preservar suasegurança. Em Moçambique, apenas 15% dos 550médicos existentes durante os últimos anos dodomínio português ainda permaneciam lá no final daguerra da independência em 1975 (69).
O que pode ser feito para evitar aviolência coletiva?Reduzir o potencial de conflitosviolentos
No mundo, estão entre as políticas necessáriaspara reduzir o potencial de conflitos violentos dequalquer tipo (70):
• Reduzir a pobreza, tanto em termos absolutoscomo relativos, e garantir que o auxílio ao• desenvolvimento seja objetivado de forma aexercer o maior impacto possível contra a pobreza.• Tornar mais confiável a tomada de decisões.• Reduzir a desigualdade entre grupos dasociedade.• Reduzir o acesso a armas biológicas, químicas,nucleares e de outros tipos.
Promover o cumprimento de acordosinternacionais
Um elemento importante na prevenção deconflitos violentos e outras formas de violênciacoletiva é assegurar a promoção e aplicação detratados firmados internacionalmente inclusive osrelativos a direitos humanos.
Os governos nacionais podem ajudar a evitarconflitos defendendo o espírito da Carta das NaçõesUnidas, que solicita a prevenção de agressões e apromoção da paz e segurança internacional. Em um
nível mais detalhado, isso engloba a adesão ainstrumentos legais internacionais, inclusive aconvenção de Genebra de 1949 e seus Protocolos de1977.
Leis relativas a direitos humanos, especialmenteas que resultam da Convenção Internacional sobreDireitos Civis e Políticos, estabelecem limites àforma como os governos exercem sua autoridadesobre pessoas sob sua jurisdição eincondicionalmente proíbe, entre outros atos, atortura e o genocídio. O estabelecimento da CorteCriminal Internacional assegurará um mecanismopermanente para tratar de crimes de guerra e crimescontra a humanidade. Também poderá proporcionardesestímulo contra violência dirigida a populaçõescivis.
Os esforços para criar tratados e acordos quecontemplem a violência coletiva, com desestímulose sanções por abusos, tendem a ser mais eficazesno que tange à violência entre Estados, tendogeralmente muito menos poder dentro de fronteirasnacionais, que é a área onde vem ocorrendo cadavez mais conflitos.
Os benefícios potenciais daglobalização
A globalização está produzindo novas formaspara aumentar a consciência pública e osconhecimentos sobre conflitos violentos, suascausas e conseqüências. As novas tecnologias quetêm surgido proporcionam novos meios, não apenaspara o intercâmbio de idéias, mas também parapressionar os responsáveis pela tomada de decisõesa aumentarem a responsabilidade e a transparênciada direção dos governos e para reduzirdesigualdades sociais e injustiças.
Um número crescente de organizaçõesinternacionais - incluindo-se Amnesty International[Anistia Internacional], Human Rights Watch(Vigilância de Direitos Humanos), InternationalCampaign to Ban Landmines [CampanhaInternacional para o Banimento de Minas Terrestres]e Physicians for Human Rights [Médicos paraDireitos Humanos] - estão monitorando conflitos epressionando por ações corretivas ou preventivas.Indivíduos e grupos afetados por conflitos podemagora, por meio dessas organizações e de outrasformas, fazer uso das novas tecnologias para relatarsuas experiências e preocupações a grandespúblicos.
CAPÍTULO 8. VIOLÊNCIA COLETIVA • 227
O papel do setor da saúdeInvestir no desenvolvimento da saúde também
contribui para a prevenção de conflitos violentos.Uma grande ênfase em serviços sociais pode ajudara manter a coesão social e a estabilidade.
Manifestações precoces de situações que podemlevar a conflitos podem ser detectadas com freqüênciano setor da saúde. Os profissionais da área de saúdetêm um importante papel a desempenhar, chamandoa atenção para esses sinais e solicitando intervençõessociais e de saúde apropriadas para reduzir os riscosde conflito (ver Quadro 8.2).
Em termos da redução de desigualdades entregrupos sociais e acesso desigual a recursos - ambosimportantes fatores de risco para violência - o setorda saúde está bem posicionado para detectardesigualdades no estado de saúde e no acesso àassistência médica. São importantes açõespreventivas contra conflitos potenciais aidentificação precoce dessas desigualdades e apromoção de medidas corretivas, especialmentequando o distanciamento entre os grupos sociais estácrescendo. Monitorar a distribuição e as tendênciasnão só das doenças associadas à pobreza, queestejam em condições passíveis de prevenção outratamento por parte dos serviços médicos, mastambém das desigualdades em possibilidades desobrevivência, são essenciais para detectardisparidades na sociedade, em grande parte nãoreconhecidas, porém importantes.
O setor da saúde também pode prestar umimportante serviço ao publicar os impactossocioeconômicos dos conflitos violentos e seusefeitos sobre a saúde.
Reações a conflitos violentosPrestação de serviços durante osconflitos
Os problemas comuns enfrentados pelasoperações humanitárias durante períodos de conflitoincluem (71):
— a melhor maneira de aperfeiçoar os serviços deassistência médica para a população hospedeiraparalelamente à prestação de serviços pararefugiados;— uma maneira de proporcionar serviços de boaqualidade, de maneira humana e eficiente;— uma maneira de envolver as comunidades nadeterminação de prioridades e a forma pela qual
os serviços são prestados;— uma maneira de criar mecanismos sustentáveisa través dos quais a experiência obtida em campoé utilizada na formulação de políticas.Os refugiados que fogem de seu país
atravessando fronteiras perdem suas fontes habituaisde assistência médica, passando a depender do queestiver disponível no país hospedeiro, ou do quepuder ser proporcionado em serviços adicionais porórgãos internacionais e organizações nãogovernamentais. Os serviços do governo hospedeiropodem ficar sobrecarregados se grandescontingentes de refugiados repentinamente semudarem para uma área e tentarem usar os serviçosde saúde locais. Isto pode ser uma fonte deantagonismo entre os refugiados e a população dopaís hospedeiro, que pode resultar em nova violência.Tal antagonismo pode ser agravado se os refugiadosreceberem serviços, incluindo os serviços de saúde,mais facilmente ou mais baratos do que osdisponíveis para a população local, ou se o paíshospedeiro não receber recursos externos para fazerfrente a esse encargo muito aumentado. Durante oconflito ocorrido em 1999, quando etnias albanesasde Kosovo fugiram para a Albânia e para a Repúblicada Macedônia da antiga Iugoslávia, a OrganizaçãoMundial da Saúde e outras agências tentaram ajudaros sistemas de saúde e previdência existentes dessespaíses hospedeiros a enfrentarem a carga adicional,ao invés de simplesmente permitir que um sistemaparalelo fosse importado através dos organismos deajuda.
Ao planejar reações durante crises, os governose agências precisam:
efetivamente sendo implementados.— avaliar, em um estágio muito inicial, quem estáparticularmente vulnerável e quais são suasnecessidades;— coordenar estritamente as atividades entre osvários envolvidos;— trabalhar no sentido de aumentar ascapacidades globais, nacionais e locais para poderfornecer serviços de saúde eficientes durante osvários estágios da emergência.A Organização Mundial da Saúde tem
desenvolvido mecanismos de observação para ajudara identificar e reagir o mais prontamente possível aconflitos. Sua Health Intelligence Network forAdvanced Contingency Planning [Rede deInteligência de Saúde para Planejamento Avançadode Contingências] proporciona rápido acesso a Infor-
228 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
QUADRO 8.2
A saúde como uma ponte para a pazO conceito - que a saúde pode contribuir para a conciliação e colaboração regionais - foi
consagrado em 1902 nos princípios da fundação da Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS(Pan American Health Organization - PAHO), a mais antiga organização internacional de saúde domundo. Nas últimas duas décadas a Organização Pan-Americana de Saúde/Escritório Regional daOMS para as Américas tem atuado como um instrumento útil para a aplicação deste conceito.
Em 1984, a OPAS/OMS, em cooperação com ministros nacionais de saúde e outras instituições,lançou uma iniciativa estratégica em áreas destruídas pela guerra na América Central. O objetivoera melhorar a saúde dos povos da América Central, ao mesmo tempo em que se desenvolvia acooperação entre e dentro de países da região. Sob o tema geral de "Saúde como uma ponte parapaz, solidariedade e entendimento", o plano consistia de uma série de programas.Na primeira fase,até 1990, havia sete prioridades para colaboração:
— fortalecer os serviços de saúde,— desenvolver recursos humanos,— medicamentos essenciais,— alimentos e nutrição,— principais doenças tropicais,— sobrevivência infantil, e— abastecimento de água e saneamento.
Em alguns anos, mais de 250 projetos nessas áreas de prioridade haviam sido desenvolvidos,estimulando a colaboração entre nações e grupos na América Central até então envolvidos emdisputas entre si. Em El Salvador, por exemplo, apesar da dificuldade de se trabalhar em meio àviolência política, negociaram-se "dias de tranqüilidade" e suspenderam-se as lutas para permitira imunização das crianças. Esse acordo durou de 1985 até o final do conflito em 1992, permitindoque cerca de 300 mil crianças fossem vacinadas anualmente. A incidência de sarampo, tétano epoliomielite caiu drasticamente, com a poliomielite chegando a zero.
A colaboração também ocorreu no controle da malária, distribuição de medicamentos e vacinasatravés de fronteiras, e treinamentos. Estabeleceram-se redes de informação de saúde regionais esub-regionais e organizou-se um sistema de resposta rápida a desastres naturais. Esses esforçoscriaram um precedente para um diálogo mais amplo dentro da região, até os eventuais pactos depaz. Durante a segunda fase da iniciativa, de 1990 a 1995, os setores de saúde da América Centralapoiaram os esforços para o desenvolvimento e a democracia. Após os acordos de paz, a OPAS/OMS ajudou na desmobilização, reabilitação e reintegração social daqueles mais afetados peloconflito, inclusive as populações indígenas e fronteiriças. A saúde continuou a ser um fator deavanço para a consolidação democrática na terceira fase, entre 1995 e 2000.
Entre 1991 e 1997, programas semelhantes foram organizados em Angola, Bósnia-Herzegóvina,Croácia e Moçambique. Em cada programa, representantes dos escritórios regionais da OMStrabalharam em cooperação com o governo, organizações não governamentais locais e outrasagências das Nações Unidas. Todos esses programas foram úteis para a reconstrução do setor desaúde após o final dos conflitos. Em Angola e Moçambique, a Organização Mundial da Saúdeparticipou do processo de desmobilização, promoveu a reintegração ao sistema nacional de serviçosde saúde, anteriormente fora do controle do governo central e treinou novamente os profissionaisda saúde dessas regiões. Na Bósnia-Herzegóvina e Croácia, a Organização Mundial da Saúdepossibilitou intercâmbios entre grupos étnicos e propiciou contatos regulares e colaboração entreprofissionais da saúde de todas as comunidades.
Todas as experiências desse período foram consolidadas pela Organização Mundial da Saúdeem 1997, em um programa global, "Saúde como uma Ponte para a Paz". Desde então, novosprogramas foram estabelecidos na Região do Cáucaso, Bósnia-Herzegóvina, Indonésia, Sri Lankae República da Macedônia da antiga Iugoslávia. Na Indonésia, por exemplo, a Organização Mundial
mações atualizadas sobre países específicos e seusíndices de saúde, bem como orientação sobre asmelhores práticas e dados sobre vigilância sanitária.
Nas emergências, as organizações humanitáriastentam em um primeiro momento evitar a perda devidas e, em seguida, restabelecer um ambiente ondeseja possível a promoção da saúde. Muitasorganizações de ajuda vêem como sua funçãoprimeira a de salvar vidas que foram colocadas emrisco como resultado de acontecimentos atípicos,sem necessariamente estarem preocupadas se suasatividades podem ser repetidas ou sustentadas alongo prazo. As agências que adotam umaperspectiva especificamente relacionada aodesenvolvimento, por outro lado, tentam desde oinício levar em consideração questões comoeficiência, sustentabilidade, igualdade eenvolvimento local - todos eles fatores queproduzirão maiores benefícios em longo prazo. Essaabordagem enfatiza a criação de capacidade locale manutenção de custos baixos. No entanto, é difícilestender as respostas de curto prazo para tentarestabelecer sistemas de prazo mais longo.
Se pretendem maximizar o uso de seus recursos,manter o mínimo de duplicação de atividades emelhorar a eficiência das operações, asorganizações precisam trabalhar em colaboraçãomuito estreita. O Código de Conduta paraOrganizações Humanitárias, da forma como foicriado pela Federação Internacional dasSociedades Cruz Vermelha e Crescente Vermelho(International Federation of Red Cross and RedCrescent Societies) (62), estabelece uma série deprincípios básicos que muitas organizaçõeshumanitárias encaram como a formação de umabase para seu trabalho. Esse código é, no entanto,voluntário e não há medidas efetivas para aimposição de seus princípios ou para avaliar seesses estão efetivamente sendo implementados.
continuação
da Saúde organizou equipes de profissionais de saúde para operar em áreas de conflito real oupotencial. Um desses grupos, formado por profissionais muçulmanos e cristãos, está trabalhandonas ilhas Molucas, uma área de fortes conflitos religiosos em anos recentes.
Através do programa "Saúde Como Uma Ponte Para a Paz", os profissionais da saúde ao redordo mundo estão sendo organizados para contribuir para a paz, trazer estabilidade e reconstruçãoà medida que os conflitos terminam e ajudar na conciliação de comunidades divididas e destruídaspelas lutas.
Considerações éticas da prestação deajuda
Há problemas éticos referentes a intervenções emsituações de emergência e especialmente na formade distribuir a ajuda. Em alguns casos, como na criseda Somália, no início dos anos 90, agências deassistência contrataram guardas armados paraconseguir levar adiante suas operações, uma atitudeque é vista como eticamente questionável. No quetange à distribuição de ajuda, muitas vezes há aexpectativa de que uma parte será desviada para asregiões em guerra. Em geral, as agências de ajudaadotam o ponto de vista de que é aceitável algumgrau de "fuga" de recursos, desde que a maior parteainda chegue ao destino pretendido. Em algunslugares, entretanto, a proporção de alimentos e deoutras ajudas desviadas tem sido tão alta que asagências decidiram retirar seus serviços.
Outras preocupações éticas se concentram nofato de que trabalhar com facções em guerra confereindiretamente certo grau de legitimidade a elas e asuas atividades. Surgem indagações quanto àconveniência das agências se calarem sobre osabusos observados ou falar deles, e se elas deveriamcontinuar a prestar serviços à luz de abusoscontinuados. Anderson (72), entre outros, discuteas questões mais amplas de como a ajuda emergencialpode auxiliar a promover a paz ou, por outro lado,prolongar os conflitos.
Envolvimento da comunidadeDurante períodos de conflito, as estruturas e
atividades da comunidade local podem ficarseriamente prejudicadas. As pessoas podem ter medode debater ativamente questões como política socialou a luta a favor de grupos marginalizados ouvulneráveis. Isto pode ser ainda mais evidente sobregimes políticos antidemocráticos e em lugares ondea violência do Estado é uma ameaça contra os
CAPÍTULO 8. VIOLÊNCIA COLETIVA • 229
oponentes identificados do regime.Em alguns casos, no entanto, pode haver um
resultado positivo em termos de resposta dacomunidade, quando o desenvolvimento deestruturas sociais, inclusive serviços de saúde, é naverdade facilitado. Esse tipo de resposta parece sermais comum em conflitos causados por ideologias,como os que ocorreram na última parte do século XXem Moçambique, Nicarágua e Vietnã. No conflitoocorrido na Etiópia entre 1974 e 1991, movimentospolíticos baseados em comunidades, na Eritréia e naprovíncia de Tigre, envolveram-se fortemente nacriação de estruturas participativas locais paratomada de decisões e no desenvolvimento deestratégias de promoção da saúde (73).
Restabelecimento de serviços após osconflitos
Quando os países saem de períodos de conflitossérios, tem havido consideráveis discussões sobrecomo melhor restabelecer os serviços (74 -76).Quando áreas inacessíveis se abrem depois deemergências complexas, liberam uma enxurrada denecessidades de saúde pública que antes já não eramatendidas, tipicamente sinalizadas por epidemias desarampo. Além disso, os acordos de cessar-fogo,mesmo quando precários, precisam incluir apoioespecial à saúde para soldados em desmobilização,planos para retirada de minas e acertos para o retornode refugiados e de pessoas internamente desalojadas.Todas essas demandas provavelmente ocorrem nummomento em que a infra-estrutura do sistema desaúde local está gravemente debilitada e outrosrecursos econômicos estão esgotados.
Necessita-se de informações mais precisas sobreintervenções em vários locais, as condições em queocorrem e seus efeitos e limitações. Um problema nacoleta de dados referentes aos conflitos é a definiçãode um ponto final das noções. Em geral, a fronteiraentre o final de um conflito e o início de um períodopós-conflito está longe de ser nítida, já que elevadosníveis de insegurança e instabilidade geralmentepersistem por um tempo considerável.
A Tabela 8.5 descreve algumas das abordagenstípicas para a reconstrução dos sistemas deassistência à saúde no período posterior aos conflitos.No passado, dava-se considerável atenção àreconstrução física e a programas de controle dedoenças, mas relativamente pouca consideração àcoordenação de reações de doadores ou ao
estabelecimento de estruturas políticas efetivas.
Documentação, pesquisa edisseminação de informações
A vigilância e a documentação são áreas centraispara as atividades de saúde pública referentes aconflitos. Embora seja verdade, como mencionadoacima, que os dados sobre violência coletiva muitasvezes são insatisfatórios e imprecisos, geralmentenesse campo não se justifica uma preocupaçãodemasiado rígida quanto à precisão dos dados. Éessencial, no entanto, que os dados sejam válidos.
Fornecer dados válidos aos responsáveis pelaelaboração de políticas é um componente igualmenteimportante da ação de saúde pública. As NaçõesUnidas, os organismos internacionais, organizaçõesnão governamentais e os profissionais da saúde,todos desempenham papéis importantes nessa área.O Comitê Internacional da Cruz Vermelha - CICV(International Committee of the Red Cross - ICRC),por exemplo, através de pesquisa extensiva e trabalhode promoção, teve um papel importante na promoçãodo processo de Ottawa, que levou à adoção doTratado para o Banimento de Minas contra pessoas,que entrou em vigor em 1o de março de 1999. Ummembro da diretoria do Comitê Internacional da CruzVermelha envolvido nesse esforço fez a seguintedeclaração: "A observação e documentação dosefeitos das armas não produz mudanças nas crenças,no comportamento ou na lei, a não ser que sejamcomunicados forçosamente aos responsáveis pelaelaboração de políticas e ao público" (77).
Algumas organizações não governamentais comoa Anistia Internacional (Amnesty International) têmmandatos explícitos para denunciar abusos aosdireitos humanos. Assim também alguns organismosdas Nações Unidas como o Escritório do AltoComissariado das Nações Unidas para os DireitosHumanos (Office of the United Nations HighCommissioner for Human Rights). Alguns órgãos,no entanto, relutam em se pronunciar contra osenvolvidos em conflitos por recear que suacapacidade de prestar serviços essenciais possa ficarcomprometida. Nesses casos, os órgãos podem optarpor transmitir informações de maneira indireta,através de terceiros ou dos meios de comunicação.
Para que a disseminação de informações sejaeficaz, é necessário contar com dados de qualidade eque a experiência obtida a partir das intervençõesseja analisada adequadamente. A pesquisa é
230 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
fundamental para avaliar o impacto de conflitos nasaúde e nos sistemas de assistência médica, bem
como para estabelecer quais intervenções sãoeficazes.
CAPÍTULO 8. VIOLÊNCIA COLETIVA • 231
RecomendaçõesVárias medidas devem ser tomadas para evitar a
ocorrência de conflitos e, quando ocorrerem, parareduzir seu impacto. Essas medidas se encaixam nasseguintes categorias amplas:
— obter informações mais completas e uma melhor compreensão dos conflitos;— empreender ações políticas para prever e evitar conflitos e reagir a eles;— atividades de manutenção da paz;— reações do setor de saúde aos conflitos;— respostas humanitárias.
Informações e compreensãoDados e observações
Algumas importantes medidas que devem sertomadas com o intuito de gerar informações maisválidas e precisas sobre os conflitos e sobre comoreagir a eles incluem:
• Identificação de indicadores relativos à saúde pública e ao desempenho dos serviços de saúde em conjunto com formas eficazes de medir esses indicadores, de forma a poder detectar desvios das normas de saúde em grupos específicos, que podem ser sinais precoces de tensões entre grupos.• Aprimoramento de técnicas recentes de coleta e observação de dados que tratem das condições de saúde em populações afetadas por conflitos a fim de melhorar a compreensão do impacto de conflitos em outras populações - inclusive pessoas desalojadas internamente, refugiados que se integraram às comunidades onde se abrigaram e grupos especificamente vulneráveis como as crianças-soldados (ver Quadro 8.3).• Aperfeiçoamento dos métodos de análise do impacto de conflitos sobre os sistemas de saúde e o modo como esses sistemas respondem.
Pesquisas adicionaisEstá claro que há uma grande necessidade de
mais pesquisa, documentação e análise para evitarfuturos conflitos, reduzir a vulnerabilidade de gruposespecíficos e prestar os serviços mais adequados damaneira mais eficaz possível durante e após as crises
de violência. Dois aspectos em particular dadocumentação e análise que necessitam receberatenção são:
• O desenvolvimento de maneiras eficazes de registrar as experiências das populações afetadas por conflitos.• A realização de análises objetivas pós-
conflito, descrevendo o crescimento da violência, seu impacto e suas reações a ela. Realizaram-se algumas análises dentro desses parâmetros, especialmente após o genocídio em Ruanda em 1994 (74).
Uma pergunta específica, e que requer atenção, éo motivo pelo qual alguns países que apresentamuma série de sinais de risco de conflito violento sãocapazes de evitá-lo, enquanto outros evoluem paraconflitos ou, até mesmo, para o colapso virtual doEstado. Angola, Libéria, Serra Leoa, Somália e a antigaIugoslávia são alguns exemplos desta últimacategoria. Um caminho de pesquisa útil seriadeterminar um conjunto de indicadores pré-emergenciais que poderiam ajudar a prever se umacrise pode degenerar em emergência complexa e degrande porte.
Evitando conflitos violentosA prevenção total de conflitos deve ser uma
prioridade do ponto de vista da saúde pública.As principais medidas para os governos neste
terreno incluem:• O respeito aos direitos humanos, com adesão total ao espírito da Carta das Nações Unidas e a promoção da adoção total das leis que protegem os direitos humanos e leis humanitárias internacionais.• Promoção da adoção de tratados e outras medidas que restringem a produção, a distribuição e o uso de minas terrestres contra pessoas.• Promoção de esforços para reduzir a produção e disponibilidade de armas biológicas, químicas, nucleares e outros tipos de armamento. Especificamente, novas iniciativas relativas a armamento leve, incluindo o código europeu de conduta sobre a transferência de armas leves, devem ser bastante estimuladas.• Ampliação das medidas recentes para integrar a monitoração do movimento de pequenas armas com outros sistemas de
232 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
QUADRO 8.3
Crianças-soldados: problemas para os profissionais da saúdeO número de crianças-soldados em atividade no mundo todo, em qualquer tempo, foi considerado
como próximo de 300 mil, embora esse número esteja sendo certamente subestimado. A menos que ascrianças sejam recrutadas rotineiramente para as forças armadas, elas normalmente se envolvem apenasdepois que o conflito já está se desenvolvendo há algum tempo. Entretanto, uma vez que as criançascomecem a ser recrutadas, o número de crianças envolvidas nesta situação, em geral, cresce rapidamentee a idade média das crianças diminui.
Conseqüências para a saúdeEvidentemente, o envolvimento de crianças como combatentes em conflitos armados as expõe a
riscos de morte e lesões causadas pelo combate. Outros sérios efeitos na saúde são menos divulgados,como os aspectos de saúde mental e saúde pública.
Pesquisas (78) demonstram que as lesões relacionadas ao combate encontradas com mais freqüênciacrianças-soldados são:
- perda de audição,- perda da visão e- perda de membros.
Essas lesões refletem em parte a maior vulnerabilidade dos corpos infantis e as formas pelas quaiselas provavelmente são envolvidas nos conflitos, como na colocação e detecção de minas terrestres.Os recrutas infantis também estão sujeitos a riscos de saúde não diretamente relacionados ao combate,inclusive lesões causadas pelo porte de armas e outras cargas pesadas, subnutrição, infecçõesdermatológicas e respiratórias, bem como doenças infecciosas como a malária.
Meninas-recrutas e, em menor escala, jovens do sexo masculino, freqüentemente são obrigados,além de lutar, a prestar serviços sexuais. Tal situação os coloca em risco de contrair doenças sexualmentetransmissíveis, inclusive o HIV, bem como ficarem expostos, no caso das meninas, aos perigos associadosao aborto ou ao parto. Além disso, os recrutas infantis geralmente recebem drogas ou álcool paraencorajá-los a lutar, criando problemas de dependência dessas substâncias, além dos demais riscosassociados à saúde.
Adolescentes recrutados pelos exércitos oficiais regulares, em geral, estão sujeitos à mesmadisciplina militar dos recrutas adultos, incluindo ritos de iniciação, exercícios pesados, punições ehumilhações destinados a anular sua vontade. O impacto de tal disciplina nos adolescentes pode serextremamente danoso no que diz respeito ao aspecto mental, emocional e físico.
Aspectos do setor de saúdeOs profissionais da área médica devem compreender a necessidade de se realizar exames completos,
mas sensatos, em toda as ex-crianças-soldados na primeira oportunidade possível, o que poderia serfeito por ocasião da desmobilização formal, mas também pode ocorrer quando os são capturados,fogem ou, de algum outro modo, deixam o serviço. Pode haver necessidade de se fazer esses examespor etapas, cuidando primeiro dos problemas mais vitais e prosseguindo depois com os problemasmais delicados, como o abuso sexual.
Dev-e dar atenção especial à saúde mental e psicológica das crianças-soldados, bem como a suasaude física. Os problemas que podem afetar ex-crianças-soldados incluem:
— pesadelos, flashbacks e alucinações,— falta de concentração e memória,— ansiedade crônica,— regressão no comportamento,— aumento do abuso de substâncias prejudiciais como mecanismo de ajuda,— sentimento de culpa e recusa em aceitar o passado,— baixo controle da agressividade,
CAPÍTULO 8. VIOLÊNCIA COLETIVA • 233
Continuação
— pensamentos obsessivos de vingança e— sentimento de afastamento dos demais.
Adicionalmente, o "comportamento militarizado" infantil pode levar a um baixo nível de aceitaçãodas normas da sociedade civil. Como destacou a Organização Mundial da Saúde em sua contribuiçãopara o estudo das Nações Unidas sobre crianças-soldados (78):
"Crianças que passam pelos estágios de desenvolvimento de socialização e aquisição dejulgamento moral em um ambiente [militar] estão mal preparadas para sua reintegração em umasociedade não violenta. Elas adquirem uma auto-suficiência prematura, são privadas dosconhecimentos e habilidades para fazer julgamentos morais e distinguir comportamentos de riscoinadequados - estejam eles refletidos na violência, abuso de drogas ou agressão sexual. Suareabilitação se constitui em um dos maiores desafios sociais e de saúde pública no período apóso conflito armado".
Os profissionais da área de saúde também podem exercer um valioso papel educativo ajudandoa evitar que as crianças sejam recrutadas por exércitos (inclusive como voluntários), aumentandoa conscientização entre as crianças e adolescentes que estão em situação de risco, bem comoentre suas famílias e comunidades e destacando os perigos associados, inclusive os danos gravesà saúde psicológica e mental.
alerta precoce de conflitos (79). Desde 1992, por exemplo, as Nações Unidas mantêm um Registro de Armas Convencionais, que inclui dados sobre transferências internacionais de armas, bem como informações fornecidas pelos Estados Membros sobre seus ativos militares, aquisição através de produção doméstica e políticas relevantes.• Monitoramento dos efeitos adversos da globalização e promoção de formas mais justas de desenvolvimento e de assistência mais eficiente ao desenvolvimento.• Trabalho em prol de formas de governo responsáveis em todo o mundo.Boutros Boutros-Ghali, o antigo Secretário Geral
das Nações Unidas, declarou que a integração socialdeve ser encarada como uma prioridade dedesenvolvimento: "As manifestações de falta deintegração social são bem conhecidas: discriminação,fanatismo, intolerância, perseguição. Asconseqüências também são conhecidas: deslealdadesocial, separatismo, micronacionalismo e conflitos"(80).
Manutenção da pazA despeito do aumento maciço das atividades de
manutenção da paz empreendidas pelas NaçõesUnidas, a eficácia de tais operações muitas vezes
tem demonstrado ser questionável. Dentre osmotivos destacam-se: incerteza sobre os mandatospara tais intervenções, linhas de controle deficientesentre as várias forças que colaboram para os esforçosde paz e recursos inadequados para a tarefa. Emresposta a esses problemas, o Secretário Geral dasNações Unidas criou um Painel sobre as Operaçõesde Paz das Nações Unidas para avaliar as deficiênciasdo sistema existente e para fazer recomendaçõesespecíficas de mudanças. O Painel, composto deespecialistas em vários aspectos da prevenção deconflitos, manutenção e promoção da paz, fezrecomendações de melhorias, que abrangeram áreasoperacionais e organizacionais bem como políticas eestratégias. Essas recomendações foram resumidasem um relatório que é mais comumente conhecidocomo o "relatório Brahimi" (81).
Respostas do setor da saúdeO potencial, e as limitações, do setor de
assistência médica para auxiliar a evitar conflitos ereagir a eles deve ser pesquisado e documentado emmaior profundidade. É preciso haver maisdocumentação sobre práticas eficientes,particularmente aquelas referentes à prestação deserviços eficazes pós-conflitos, área em que estão
234 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
começando a surgir novas lições.Em um esforço global para criar políticas mais
eficazes de prevenção e resposta aos conflitos, osgovernos devem apoiar organizações como aOrganização Mundial da Saúde e outras agênciasdas Nações Unidas.
Repostas humanitáriasÉ preciso elevar tanto os padrões quanto o nível
de responsabilidade das organizações em resposta acrises violentas. O Projeto Esfera, com base emGenebra na Suíça, está buscando obter consensosobre padrões mínimos para assistência humanitáriae para agir dentro deles. Da mesma forma, o Projetode Responsabilidade Humanitária, uma rede tambémsediada em Genebra, que recebe o apoio de órgãosde doações e organizações não governamentais, estátrabalhando para elevar os níveis deresponsabilidade, especialmente entre beneficiáriosem potencial das atividades humanitárias. Governose organismos humanitários são instados a dar suportea esses dois esforços.das Nações Unidas.
ConclusãoEste capítulo concentrou-se no impacto causado
por conflitos violentos sobre a saúde pública e ossistemas de assistência médica e tentou descreveruma gama de respostas possíveis a tais crises. Existeclaramente uma necessidade de se colocar maiorênfase na prevenção básica, que busca, antes detudo, evitar a ocorrência de conflitos.
Em relação à prevenção da violência coletiva eao tratamento de suas causas latentes, existe muitoainda que precisa ser aprendido - e sobre o que épreciso agir. Em primeiro lugar, isso se aplica às formasde violência coletiva que se tornaram comuns nosúltimos cem anos ou mais - conflitos entre Estadosou envolvendo grupos organizados dentro de umaárea geográfica específica (como regiões em rebeliãocontra o Estado central), guerras civis e as váriasformas de violência patrocinadas pelo Estado contraindivíduos ou grupos.
No entanto, o formato da violência coletiva estámudando. No início do século XXI, estão surgindonovas formas de violência coletiva, envolvendoorganizações e redes de organizações estruturadas,mas altamente dispersas - grupos sem "endereçopermanente", cujos objetivos, estratégias epsicologia diferem radicalmente dos anteriores. Essesgrupos fazem pleno uso de altas tecnologias e
sistemas financeiros modernos criados pela ordemde um mundo globalizado. O armamento dessesgrupos também é novo, já que tentam explorar formastais como armas biológicas, químicas e possivelmentenucleares, além de meios mais convencionais, comoexplosivos e mísseis. Seus objetivos são não apenasfísicos mas também psicológicos, envolvendo adestruição em massa e criação do medo generalizado.
O mundo precisará aprender depressa comocombater a nova ameaça de terrorismo global emtodas as suas formas, demonstrando, ao mesmotempo, um alto nível de determinação para evitar eminorar o impacto das formas convencionais deviolência coletiva que continuam causando umaesmagadora quantidade de mortes, doenças, lesõese destruição. É necessária uma determinação forte,aliada a uma generosa alocação de recursos, não sópara se chegar a uma compreensão muito maisprofunda dos problemas do conflito violento, mastambém para encontrar soluções.
Referências1. WHA34.38. In: Handbook of resolutionsand decisions of the World Health Assembly andthe Executive Board, Volume II, 1973-1984. Geneva,Wrld Health Organization, 1985:397-398.2. Handbook for emergencies. Geneva, Office of theUnited Nations High Commissioner for Refugees,2001.3. Leaning J. Introduction. In: Leaning J et al., eds.Humanitarian crises: the medical and public healthresponse. Cambridge, MA, Harvard University Press,1999:1-11.4. Goodhand J, Hulme D. From wars to complexpolitical emergencies: understanding conflict andpeace-building in the new world disorder. Third WorldQuarterly, 1999, 20:13-26.5. Kaldor M. New and old wars: organized violencein a global era. Cambridge, Polity Press, 1999.6. Cornish P. Terrorism, insecurity andunderdevelopment. Conflict - Security -Development, 2001, 1:147-151.7. Zwi A, Ugalde A, Richards P. The effects of warand political violence on health services. In: Kurtz L,ed. Encyclopedia of violence, peace and conflict.San Diego, CA, Academic Press, 1999:679-690.8. Ball P, Kobrak P, Spirer H. State violence inGuatemala, 1960-1996: a quantitative reflection.Washington, DC, American Academy for the
CAPÍTULO 8. VIOLÊNCIA COLETIVA • 235
Advancement of Science, 1999.9. Roberts L et al. Mortality in eastern DemocraticRepublic of Congo: results from eleven mortalitysurveys. New York, NY, International RescueCommittee, 2001.10. International classification of diseases, ninthrevision. Geneva, World Health Organization, 1978.11. International statistical classification of diseasesand related health problems, tenth revision. Volume1: Tabular list; Volume 2: Instruction manual;Volume 3: Index. Geneva, World Health Organization,1992-1994 [Classificação Estatística Internacionalde Doenças e Problemas Relacionados à Saúde,Décima Revisão, Volumes 1 e 2: Lista de TabelasClassificatórias e Manual de Instruções; Volume 3:Índice Alfabético. São Paulo, Edusp, 2001].12. Sivard RL. World military and socialexpenditures, 14th ed. Washington, DC, WorldPriorities, 1991.13. Sivard RL. World military and social expenditures,16th ed. Washington, DC, World Priorities, 1996.14. Rummel RJ. Death by government: genocide andmass murder since 1900. New Brunswick, NJ, andLondon, Transaction Publications, 1994.15. Sheil M et al. Deaths among humanitarian workers.British Medical Journal, 2000, 321:166-168.16. Take a step to stamp out torture. London, AmnestyInternational, 2000.17. Burnett A, Peel M. Asylum-seekers and refugeesin Britain: health needs of asylum-seekers andrefugees. British Medical Journal, 2001, 322:544-547.18. Harris MF, Telfer BL. The health needs of asylum-seekers living in the community. Medical Journal ofAustralia, 2001, 175:589-592.19. British Medical Association. The medicalprofession and human rights: handbook for achanging agenda. London, Zed Books, 2001.20. 12-point program for the prevention of tortureby agents of the state . London, AmnestyInternational, 2000.21. Istanbul Protocol: manual on the effectiveinvestigation and documentation of torture andother cruel, inhuman or degrading treatment orpunishment. New York, NY, Office of the UnitedNations High Commissioner for Human Rights, 2001(available on the Internet at http://www.unhchr.ch/pdf/8istprot.pdf).22. Ashford MW, Huet-Vaughn Y. The impact of waron women. In: Levy BS, Sidel VW, eds. War andpublic health. Oxford, Oxford University Press,1997:186-196.
23. Turshen M, Twagiramariya C, eds. What womendo in wartime: gender and conflict in Africa. London,Zed Books, 1998.24. Stiglmayer A, ed. Mass rape: the war againstwomen in Bosnia-Herzegovina. Lincoln, NE,University of Nebraska Press, 1994.25. Ignatieff M. Virtual war: Kosovo and beyond.London, Chatto & Windus, 2000.26. Carnegie Commission on Preventing DeadlyConflict. Preventing deadly conflict: final report.New York, NY, Carnegie Corporation, 1997.27. Zwi AB, Fustukian S, Sethi D. Globalisation,conflict and the humanitarian response. In: Lee K,Buse K, Fustukian S, eds. Health policy in aglobalising world. Cambridge, Cambridge UniversityPress, 2002.28. Stewart F. The root causes of humanitarianemergencies. In: Nafziger EW, Stewart F, VäyrynenR, eds. War, hunger and displacement: the origin ofhumanitarian emergencies. Oxford, OxfordUniversity Press, 2000.29. Prunier G. The Rwanda crisis 1959-1994: historyof a genocide. London, Hurst, 1995.30. Dodge CP. Health implications of war in Uganda andSudan. Social Science and Medicine, 1990, 31:691-698.31. Children on the front line: the impact ofapartheid, destabilization and warfare on childrenin southern and South Africa, 3rd ed. New York, NY,United Nations Children's Fund, 1989.32. Mann J et al. Bosnia: the war against public health.Medicine and Global Survival, 1994, 1:130-146.33. Horton R. On the brink of humanitarian disaster.Lancet, 1994, 343:1053.34. Ugalde A et al. The health costs of war: can theybe measured? Lessons from El Salvador. BritishMedical Journal, 2000, 321:169-172.35. Garfield RM, Frieden T, Vermund SH. Healthrelatedoutcomes of war in Nicaragua. American Journal ofPublic Health, 1987, 77:615-618.36. Kloos H. Health impacts of war in Ethiopia.Disasters, 1992, 16:347-354.37. Cliff J, Noormahomed AR. Health as a target: SouthAfrica's destabilization of Mozambique. SocialScience and Medicine, 1988, 27:717-722.38. Goma Epidemiology Group. Public health impactof Rwandan refugee crisis: what happened in Goma,Zaire, in July 1994? Lancet, 1995, 345:339-344.39. Zwi AB, Cabral AJ. High-risk situations for AIDSprevention. British Medical Journal, 1991, 303:1527-1529.40. AIDS and the military: UNAIDS point of view.Geneva, Joint United Nations Programme on HIV/
236 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
AIDS, 1998 (UNAIDS Best Practice Collection).41. Mann JM, Tarantola DJM, Netter TW, eds. AIDSin the world. Cambridge, MA, Harvard UniversityPress, 1992.42. Khaw AJ et al. HIV risk and prevention inemergency-affected populations: a review. Disasters,2000, 24:181-197.43. Smallman-Raynor M, Cliff A. Civil war and thespread of AIDS in central Africa. Epidemiology ofInfectious Diseases, 1991, 107:69-80.44. Refugees and AIDS: UNAIDS point of view.Geneva, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, 1997 (UNAIDS Best Practice Collection).45. Stover E et al. The medical and socialconsequences of land mines in Cambodia. Journal ofthe American Medical Association, 1994, 272:331-336.46. The causes of conflict in Africa. London,Department for International Development, 2001.47. Getting away with murder, mutilation, rape: newtestimony from Sierra Leone. New York, NY, HumanRights Watch, 1999 (Vol. 11, No. 3(A)).48. Summerfield D. The psychosocial effects ofconflict in the Third World. Development in Practice,1991, 1:159-173.49. Quirk GJ, Casco L. Stress disorders of families ofthe disappeared: a controlled study in Honduras.Social Science and Medicine, 1994, 39:1675-1679.50. Bracken PJ, Giller JE, Summerfield D. Psychologicalresponses to war and atrocity: the limitations ofcurrent concepts. Social Science and Medicine, 1995,40:1073-1082.51. Pupavac V. Therapeutic governance: psychosocialintervention and trauma risk. Disasters, 2001, 25:1449-1462.52. Robertson G. Crimes against humanity: thestruggle for global justice. Harmondsworth, Penguin,1999. 238 . WORLD REPORT ON VIOLENCE ANDHEALTH53. Gururaj G et al. Suicide prevention: emerging fromdarkness. New Delhi, WHO Regional Office for South-East Asia, 2001.54. Silove D, Ekblad S, Mollica R. The rights of theseverely mentally ill in post-conflict societies. Lancet,2000, 355:1548-1549.55. Toole MJ, Waldman RJ. Prevention of excessmortality in refugee and displaced populations indeveloping countries. Journal of the AmericanMedical Association, 1990, 263:3296-3302.56. Toole MJ, Waldman RJ, Zwi AB. Complexhumanitarian emergencies. In: Black R, Merson M,Mills A. Textbook of international health.
Gaithersburg, MD, Aspen, 2000.57. Centers for Disease Control and Prevention.Famine-affected, refugee, and displaced populations:recommendations for public health issues. Morbidityand Mortality Weekly Report, 1992, 41(No. RR-13).58. Toole MJ, Waldman RJ. Refugees and displacedpersons: war, hunger and public health. Journal of theAmerican Medical Association, 1993, 270:600-605.59. Deacon B. Global social policy, internationalorganizations and the future of welfare. London,Sage, 1997.60. Reed H, Haaga J, Keely C, eds. The demographyof forced migration: summary of a workshop .Washington, DC, National Academy Press, 1998.61. Hampton J, ed. Internally displaced people: aglobal survey. London, Earthscan, NorwegianRefugee Council and Global IDP Survey, 1998.62. International Federation of Red Cross and RedCrescent Societies. World disasters report 1999.Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1999.63. Hodes RM, Kloos H. Health and medical care inEthiopia. New England Journal of Medicine, 1988,319:918-924.64. Brauer J, Gissy WG, eds. Economics of conflictand peace. Aldershot, Avebury, 1997.65. Cranna M, ed. The true cost of conflict. London,Earthscan and Saferworld, 1994.66. Kumaranayake L, Zwi A, Ugalde A. Costing thedirect health burden of political violence indeveloping countries. In: Brauer J, Gissy W, eds.Economics of conflict and peace . Aldershot,Avebury, 1997:292-301.67. Macrae J, Zwi A. Famine, complex emergenciesand international policy in Africa: an overview. In:Macrae J, Zwi A, eds. War and hunger: rethinkinginternational responses to complex emergencies.London, Zed Books, 1994:6-36.68. Lee I, Haines A. Health costs of the Gulf War.British Medical Journal, 1991, 303:303-306.69. Walt G, Cliff J. The dynamics of health policies inMozambique 1975-85. Health Policy and Planning,1986, 1:148-157.70. Addison T. Aid and conflict. In: Tarp F, ed. Foreignaid and development: lessons learnt and directionsfor the future. London, Routledge, 200:392-408.71. Banatvala N, Zwi A. Public health andhumanitarian interventions: improving the evidencebase. British Medical Journal, 2000, 321:101-105.72. Anderson MB. Do no harm. How aid can supportpeace - or war. Boulder, CO, and London, LynneRienner, 1999.
CAPÍTULO 8. VIOLÊNCIA COLETIVA • 237
73. Barnabas GA, Zwi AB. Health policy developmentin wartime: establishing the Baito health system inTigray, Ethiopia. Health Policy and Planning, 1997,12:38-49.74. Kumar K, ed. Rebuilding societies after civil war.Boulder, CO, and London, Lynne Rienner, 1997.75. Kumar K et al. The international response to conflict and genocide: lessons from the Rwandaexperience. Study 4: rebuilding post-war Rwanda.Copenhagen, Steering Committee of the JointEvaluation of Emergency Assistance to Rwanda,1996.76. Post-conflict reconstruction: the role of the WorldBank. Washington, DC, World Bank, 1998.77. Coupland RM. The effects of weapons and theSolferino cycle. British Medical Journal, 1999,
319:864-865.78. Machel G. Impact of armed conflict on children:report of the Expert Group of the Secretary-General.New York, NY, United Nations, 1996 (document A/51/306).79. Laurence EJ. Arms watching: integrating smallarms and light weapons into the early warning ofviolent conflict. London, Saferworld, 2000.80. Boutros-Ghali B. An agenda for development. NewYork, NY, United Nations, 1995.81. Report of the Panel on United Nations PeaceOperations. New York, NY, United Nations GeneralAssembly Security Council, 2000 (document A/55/305, S/2000/809).
238 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
CAPÍTULO 9. O CAMINHO A SEGUIR : RECOMENDAÇÕES PARA A AÇÃO • 241
AntecedentesA violência não deixa incólume nenhum
continente, nenhum país, e apenas algumas poucascomunidades conseguem escapar a ela. Mas, mesmoestando presente em todos os lugares, a violêncianão é parte inevitável da condição humana, tampoucoum problema intratável da "vida moderna", que nãopossa ser superado pela determinação e aengenhosidade humanas.
Os capítulos anteriores deste relatório fornecerammuitos detalhes sobre os tipos específicos deviolência, bem como sobre as intervenções de saúdepública que podem ser aplicadas, na tentativa de sereduzir tanto a ocorrência quanto as conseqüênciasda violência. Este capítulo final destaca diversospadrões e tópicos globais que são inerentes aosvários tipos de violência. Ele reitera ser o caso deuma abordagem de saúde pública e apresenta umconjunto de recomendações para os responsáveispela tomada de decisões e profissionais em todos osníveis.
Respondendo à violência: o que se sabeaté agora?Principais lições até hoje
Embora existam importantes lacunas nas basesde informações e ainda serem necessárias muitaspesquisas, lições importantes foram aprendidasacerca da prevenção e a redução das conseqüênciasda violência.
Previsível e evitávelA violência, muitas vezes, é previsível e evitável.
Como mostra este relatório, mesmo que às vezes, emdadas populações, seja difícil estabelecer uma relaçãodireta de causalidade, alguns fatores parecem serfortes sinalizadores de violência. Tais fatores vãodesde os individuais e familiares - tais como:impulsividade, depressão, pouca atenção esupervisão das crianças, papéis de gênero rígidos econflito marital - até aqueles em nível macro, comorápidas mudanças nas estruturas sociais e profundarecessão econômica, trazendo altos índices dedesemprego e deteriorando os serviços públicos. Hátambém os fatores locais, específicos para umdeterminado lugar e tempo, assim como a crescentepresença de armas ou a mudança nos padrões dotráfico de drogas em um bairro em particular. Aidentificação e a mensuração desses fatores podeavisar a tempo os responsáveis pela tomada de
decisões, de que há necessidade de ação.Paralelamente, à medida que a pesquisa voltada à
saúde pública se desenvolve, a variedade deinstrumentos para a ação está aumentando. Em cadacategoria de violência estudada neste relatório, foramcitados exemplos de intervenções promissoras paraa redução da violência e de suas conseqüências. Asintervenções que conseguiram reduzir a violênciavariam de esforços individuais e comunitários empequena escala até mudanças políticas em nível depaís. Ainda que a maioria dessas intervenções tenhasido documentada e formalmente avaliada nas partesmais ricas do mundo, também existem muitasintervenções inovadoras em países emergentes.
Investimento antes, resultados depoisAs autoridades mundiais tendem a agir somente
depois de ocorrem casos altamente visíveis deviolência e, só então tendem a investir recursos emprogramas de curto prazo para grupos populacionaispequenos e facilmente identificáveis. São exemplosclássicos disso as "batidas" periódicas da polícia emáreas com altos níveis de violência, geralmenteposteriores a algum incidente que tenha sido muitodivulgado. Por outro lado, a saúde pública enfatiza aprevenção, especialmente esforços de prevençãoprimária, que funcionam "antes" dos problemas -esforços para tentar, primeiramente, dar um fim aosincidentes violentos ou evitar que as situaçõesviolentas resultem em lesões graves. A base daabordagem de prevenção primária é que, mesmo ospequenos investimentos podem gerar benefíciosamplos e duradouros.
Compreendendo o contexto daviolência
Todas as sociedades vivenciam a violência, masseu contexto - as circunstâncias em que ela ocorre,sua natureza e sua aceitabilidade social - variabastante de um cenário para o outro. Onde quer queos programas de prevenção sejam planejados, ocontexto da violência deve ser entendido para modelara intervenção para a população almejada.
Os Capítulos 4 ("Violência perpetrada porparceiros íntimos") e 6 ("Violência sexual") fornecemricos exemplos em que o contexto cultural exacerbaas conseqüências da violência, criando enormesproblemas para a prevenção. Um exemplo é a crença,presente em muitas sociedades, de que os homenstêm direito a disciplinar suas esposas - inclusiveusando a força física - por motivos diversos, até
242 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
mesmo por elas se recusarem a fazer sexo. Ocomportamento resultante de tal crença coloca essasmulheres em risco não somente de violência física epsicológica imediata, mas também de gravidezindesejada e de doenças sexualmente transmitidas.Outro exemplo é a aprovação da severa punição físicana criação das crianças, que está altamente enraizadaem algumas sociedades. As intervenções não serãobem sucedidas a menos que levem em consideraçãoa força dessas crenças e atitudes, bem como a formacomo elas se relacionam com outros aspectos dacultura local.
Ao mesmo tempo, as tradições culturais tambémpodem ser protetoras; os pesquisadores e oselaboradores de programas devem estar preparadospara identificá-las e utilizá-las nas intervenções. Porexemplo, o Capítulo 7 ("Violência auto-dirigida")descreve a contribuição que a afiliação religiosaparece trazer para a redução do risco de suicídio, ediscute os motivos para acontecer isso, tais comoidentificação com uma religião e proibições religiosasespecíficas em relação ao suicídio
Explorando os vínculosDiferentes tipos de violência estão vinculados
de muitas formas importantes, em geral,compartilhando os fatores de risco semelhantes.Pode-se observar um exemplo no Capítulo 3 ("Abusoinfantil e negligência por parte dos pais e outrosresponsáveis"), onde uma lista de fatores comuns derisco apresenta ampla sobreposição à lista para outrostipos de violência. Alguns desses fatores incluem:
— Pobreza - vinculada a todas as formas deviolência.— Histórico familiar ou pessoal marcado pordivórcio ou separação - um fator associadotambém à violência juvenil, à violência degênero, à violência sexual e ao suicídio.— Abuso de álcool e substâncias - associado atodas as formas interpessoais de violência,assim como ao suicídio.— Um histórico de violência em família.— Vinculado à violência juvenil, à violência degênero, à violência sexual e ao suicídio.A sobreposição entre o conjunto de fatores de
risco para diferentes tipos de violência sugere umgrande potencial para parcerias entre grupos com uminteresse principal na prevenção primária esecundária. Parcerias essas entre o governo local,agentes comunitários, organizadores de abrigossociais, polícia, assistentes sociais, grupos de direitos
das mulheres e grupos de direitos humanos,profissionais da área médica e pesquisadores,trabalhando em cada área específica. A parceria podeser vantajosa em vários aspectos, inclusive:
— melhorando a efetividade das intervenções;— evitando a duplicação de trabalhos;— aumentando os recursos disponíveis medianteuma união de fundos e de pessoal em açõesconjuntas;— permitindo que a pesquisa e as atividades deprevenção sejam conduzidas de maneira maiscoletiva e coordenada.Infelizmente, em geral a pesquisa e os esforços
de prevenção para os vários tipos de violência têmsido desenvolvidos isoladamente uns dos outros.Se essa fragmentação puder ser superada, há muitoespaço para intervenções futuras mais abrangentese efetivas.
Visando aos grupos mais vulneráveisA violência, como muitos problemas de saúde,
não é neutra. Mesmo que todas as classes sociaisvivenciem a violência, a pesquisa constantementeaponta que as pessoas com a si tuaçãosocioeconômica mais baixa estão sob maior risco.Habitualmente, são os fatores relacionados à pobreza,mais do que a pobreza propriamente dita, queaumentam o risco de violência. O Capítulo 2, porexemplo, discute os papéis, na violência juvenil, dahabitação precária, da falta de ensino, do desempregoe de outras situações relacionadas à pobreza - etambém como esses fatores colocam alguns jovensem risco ainda maior de serem influenciados porjovens delinqüentes e para participar em atividadescriminosas. Também são importantes os índices emque as pessoas caem na pobreza - perdendo recursosque tinham antes - e a forma diferencial como elasvivenciam a pobreza (ou seja, sua relativa privaçãoem um dado cenário, mais do que seu nível absolutode pobreza).
O Capítulo 6 ("Violência sexual") descreve comoa pobreza exacerba a vulnerabilidade das mulheres edas jovens. Ao desempenhar tarefas diárias, taiscomo trabalhar nos campos, pegar água sozinha ouvoltar para casa tarde da noite, em áreas rurais oueconomicamente deprimidas, as mulheres e as jovenspobres geralmente correm risco de estupro. Ascondições de pobreza as tornam vulneráveis àexploração sexual em situações diversas, como aobuscar emprego, entrar no comércio ou obtereducação. A pobreza também é um dos principais
fatores que leva as mulheres à prostituição e força asfamílias a venderem as crianças para traficantessexuais. O Capítulo 8 ("Violência coletiva") expandeainda mais a discussão, mostrando que a pobreza e adesigualdade estão entre as forças motrizes emconflitos violentos e que longos períodos de conflitopodem aumentar a pobreza e, por sua vez, criar ascondições que dão origem a outras formas deviolência.
Negligenciar pessoas pobres não é uma novidade.Na maioria das sociedades, as pessoas mais pobresgeralmente são as que são menos atendidas pelosdiversos serviços de proteção e assistência doEstado. Contudo, o fato de a violência estar ligada àpobreza pode ser mais um motivo pelo qual oselaboradores de políticas e as autoridadesgovernamentais negligenciaram, ao tratar daviolência, as abordagens de saúde pública -abordagens que poderiam significar uma maior parcelade serviços e recursos direcionados a famílias ecomunidades pobres - em prol do policiamento e dasprisões. Tal negligência deve ser corrigida sequisermos evitar a violência.
Combatendo a complacênciaUma coisa que estimula muito a violência - e é um
enorme obstáculo para se responder a ela - é acomplacência. Esse fato é especialmente verdadeiropara a atitude em relação à violência - do mesmo modocomo o problema da desigualdade de gêneros, tãorelacionado a ela -, como algo que sempre estevepresente na sociedade humana e, conseqüentemente,sempre será assim. Geralmente, essa complacência ébastante reforçada pelo interesse próprio. A aceitaçãosocial, por exemplo, do direito dos homens de"corrigir" suas esposas beneficia claramente mais aoshomens do que às mulheres. Em sua situação ilegal,na qual a violência é uma forma aceitável para osenvolvidos resolverem suas disputas ou aumentaremsua parcela no mercado, o comércio de drogasprospera.
Ao descrever alguns dos elementos que criamuma cultura de violência, diversos capítulos desterelatório enfatizam que essa cultura costuma serapoiada tanto pelas leis quanto pelas atitudes. Ambaspodem estar influindo em fatores como a glorificaçãoda violência pela mídia, a tolerância da agressão sexualou da violência contra parceiros íntimos, a duradisciplina física das crianças por parte dos pais emcasa, o assédio moral nas escolas e nos parques, ouso de níveis inaceitáveis de força pela polícia e a
prolongada exposição das crianças e dosadolescentes ao conflito armado. Será difícil atingirsignificativas reduções tanto na violênciainterpessoal quanto na coletiva, a menos que sejaextinta a complacência que cerca tais questões.
Obtendo o comprometimento dos responsáveispela tomada de decisões
Enquanto as organizações estabelecidas pelopovo, pelas pessoas e pelas instituições podemconseguir muito, muito desse sucesso dos esforçosde saúde pública depende, no final das contas, docompromisso político. O apoio de líderes políticosnão só é necessário para garantir o financiamentoadequado e uma legislação efetiva, mas também paraprover os esforços de prevenção com legitimidade eum perfil mais ativo na consciência pública. Ocompromisso é tão importante no nível nacional -onde são tomadas as decisões políticas e legislativas- quanto nos níveis provinciais, distritais e municipais,onde é controlado o funcionamento diário de muitasintervenções.
Freqüentemente, a obtenção do compromissoresistente, necessário para lidar com a violência, éresultado de esforços sustentados por diversossetores da sociedade. Nesse processo, osprofissionais da área de saúde pública e ospesquisadores têm uma importante contribuição adar, fornecendo aos responsáveis pela tomada dedecisões informações sólidas sobre a predominância,as conseqüências e os impactos da violência, bemcomo documentando cuidadosamente as práticas quesejam comprovadas ou promissoras, que podem levarà prevenção ou à administração da violência.
Por que o setor de saúde deve seenvolver?
Na maioria das sociedades modernas, até bempouco tempo a responsabilidade de remediar ouconter a violência recaía sobre o sistema judicial, apolícia e os serviços correcionais e, em alguns casos,sobre as forças armadas. O setor de saúde, tantopúblico quanto privado, foi relegado ao papel de darassistência depois do evento, quando as vítimas deviolência procuravam por tratamento.
Benefícios e vantagens comparativasHoje em dia, o setor de saúde é um aliado ativo e
valioso na resposta global à violência e traz diversasvantagens e benefícios para esse trabalho. Um desses
CAPÍTULO 9. O CAMINHO A SEGUIR : RECOMENDAÇÕES PARA A AÇÃO • 243
244 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
benefícios é a proximidade e, conseqüentemente, afamiliaridade com o problema. Os funcionários doshospitais e das clínicas, bem como outros provedoresde assistência à saúde, dedicam bastante tempo àsvítimas da violência.
Para facilitar o trabalho de pesquisa e deprevenção, outro benefício muito importante é ainformação que o setor de saúde tem à sua disposição.A posse de dados significa que o setor está em umaposição única para chamar a atenção para a cargaimposta pela violência sobre a saúde. Quandoassociada significativamente às histórias humanasque o setor de saúde testemunha todos os dias, essainformação pode oferecer um instrumento potentetanto para defesa quanto para ação.
Uma responsabilidade especialO papel do setor de saúde na prevenção contra a
violência resulta de sua responsabilidade com opúblico - as pessoas que, no final das contas, pagampelos serviços e pelas estruturas governamentais queos organizam. Com essa responsabilidade e seusvários benefícios e vantagens, o setor de saúde temo potencial para adotar um papel muito mais proativona prevenção contra a violência - preferencialmente,em cooperação com outros setores - do que teve nopassado. Diariamente, os médicos, as enfermeiras eoutros funcionários da área de assistência à saúdeestão no lugar certo para identificar os casos de abusoe para encaminhar as vítimas para outros serviços,para acompanhamento ou proteção. Usando seusrecursos e infra-estruturas para atividades deprevenção, os hospitais e outros estabelecimentosde assistência à saúde podem ser cenários úteis paraas intervenções em nível de programa. Também é muitoimportante que a elaboração e a implementação dasintervenções possam ser fortalecidas pela estreitacooperação entre os profissionais e as instituiçõesda área de saúde e outras instituições ou setores quelidam com violência, inclusive organizações nãogovernamentais e órgãos de pesquisa.
Essas funções do setor de saúde já estão sendorealizadas em várias partes do mundo, apesar de, àsvezes, ainda de forma experimental ou fragmentária.Agora chegou a hora de uma ação mais decisiva ecoordenada, bem como de uma expansão dosesforços para lugares onde, apesar de muitonecessários, tais esforços ainda inexistem. Qualquercoisa a menos do que isso será uma falha do setor desaúde.
Estabelecendo responsabilidades e
prioridadesDada a natureza plurifacetada da violência e suas
complexas raízes, os governos e as organizaçõesrelevantes devem se engajar na sua prevenção emtodos os níveis da tomada de decisão - local, nacionale internacional. Ações multisetoriais complementarese coordenadas fortalecerão a efetividade dasatividades de prevenção contra a violência.
Além de trabalhar em seu próprio âmbito degoverno ou autoridade, os responsáveis pela tomadade decisões e os profissionais de diversas áreasdevem trabalhar juntos, nos diversos níveis, paraobter um significativo progresso. Os diferentescomponentes da sociedade civil - como a mídia, asorganizações comunitárias, as associaçõesprofissionais, as organizações trabalhistas, asinstituições religiosas e as estruturas tradicionais -podem ser possuidores de um grande volume deconhecimento e experiências relevantes.
Cada país tem sua própria estrutura governante,desde um Estado unitário altamente centralizado atéum sistema federal que divida o poder em governoslocais, regionais e nacional. Contudo,independentemente do tipo de estrutura, osprocessos de planejamento estratégico - geralmenteliderados por governos nacionais, mas que incluemoutros níveis e setores - podem ser úteis para criarconsenso, estabelecer objetivos e cronogramas edefinir as responsabilidades de todos os que tenhamalgo para dar em contribuição.Em planejamentoestratégico para questões de saúde pública em paísesemergentes, algumas organizações das NaçõesUnidas e algumas agências bilaterais dedesenvolvimento têm expertise o bastante para poderdar lucrativas contribuições para a prevenção contraa violência.
RecomendaçõesAs recomendações a seguir visam a mobilizar a
ação em resposta à violência. Todas as recomendaçõesprecisam ser tratadas por diversos setores einteressados, se quisermos que elas atinjam seusobjetivos.
Essas recomendações devem ser aplicadas comflexibilidade e com o devido entendimento a respeitodas condições e capacidades locais. Os países queatualmente vivenciam a violência coletiva, ou quetêm escassos recursos financeiros e humanos, vãoachar difícil ou impossível aplicar sozinhos algumasdas recomendações nacionais e locais. Sob taiscircunstâncias, eles podem trabalhar com organismos
internacionais ou organizações não governamentaisque operem dentro de seu país e que possam apoiarou implementar algumas das recomendações.
Recomendação 1.Criar, implementar e monitorar um planonacional de ação para prevenção contra aviolência.
O desenvolvimento de um plano nacional de açãomultissetorial é um dos principais elementos para osesforços sustentados de prevenção contra aviolência. Às vezes, devido às compreensíveisdemandas públicas de ações imediatas para lidar comos efeitos mais visíveis da violência, isso pode serdifícil de ser alcançado. Assim sendo, os líderesnacionais devem entender que os benefícios de umaabordagem sustentada de saúde pública serão maissólidos e duradouros do que políticas reativas, decurto prazo. Um plano de ação desse tipo exigirácomprometimento político visível e investimento deautoridade moral.
Um plano de ação nacional para evitar a violênciadeve incluir os objetivos, as prioridades, asestratégias e as responsabilidades estabelecidas,assim como um cronograma e um instrumento deavaliação. Ele deve se basear em um consenso,desenvolvido por um vasto conjunto de atoresgovernamentais e não governamentais, inclusive asorganizações interessadas pertinentes. O plano develevar em consideração os recursos financeiros ehumanos disponíveis e a serem disponibilizados parasua implementação. Deve incluir ainda elementos taiscomo revisão e reforma de legislação e de políticasexistentes, construção da coleta de dados e dacapacidade de pesquisa, o aprimoramento dosserviços para as vítimas, e o desenvolvimento e aavaliação de respostas de prevenção. Para assegurarque o plano não fique só nas palavras, mas se traduzaem ações, é essencial que seja designada umaorganização específica para, periodicamente,monitorar e fazer relatórios sobre o progressoalcançado nesses e em outros elementos do plano.
Vai ser necessário ferramental de coordenação,em nível local, nacional e internacional, parapossibilitar uma profícua colaboração entre setorescomo justiça criminal, educação, trabalho, saúde, bem-estar social e outros potencialmente envolvidos nodesenvolvimento e na implementação do plano.Mecanismos como forças-tarefa nacionais, comitêsinterministeriais e grupos de trabalho das NaçõesUnidas também podem facilitar essa coordenação.
No nível local, pode-se criar ou utilizar os conselhos,as forças-tarefa e as redes comunitárias para ajudar aconstruir e implementar o plano.
Recomendação 2.Aprimoramento da capacidade de coletade dados sobre a violência.
O plano de ação nacional para prevenção contraa violência deve incluir a criação ou o aprimoramentoda capacidade nacional de coleta e análise de dados,que cubram o alcance, as causas e as conseqüênciasda violência. Esses dados são necessários paraestabelecer as prioridades, orientar a elaboração doprograma e monitorar o desenvolvimento do planode ação. Conforme descrito no presente relatório,todos os países têm pelo menos algum trabalho decoleta de dados, mas a qualidade e ocompartilhamento dos dados precisam serfortalecidos.
Em alguns países, pode ser mais eficiente para ogoverno nacional designar uma instituição, umaagência ou uma unidade do governo para serresponsável pela reunião e comparação dasinformações provenientes das áreas de saúde, deaplicação da lei e de outras autoridades quemantenham contato regular com vítimas eperpetradores de violência. Essa instituição poderiaser um "centro de excelência", com a responsabilidadede documentar a extensão da violência no país,promovendo ou realizando pesquisas e treinandopessoas para essas funções. Ela deve estar ligada aoutras instituições e agências similares, a fim de trocardados, instrumentos e métodos de pesquisa. Nospaíses com recursos limitados, ela também podeassumir a função de monitoramento, conformedescrito na Recomendação 1.
A coleta de dados é importante em todos os níveis,mas é no nível local que serão determinadas aqualidade e a exatidão dos dados. Devem serelaborados sistemas que sejam simples e cujaimplementação tenha uma boa relação custo/efetividade, adequados para o nível de capacidadedos funcionários que os utilizam, e que estejam emconformidade com os padrões nacionais einternacionais. Além disso, deve haver procedimentospara compartilhar os dados entre as autoridadesrelevantes (como as responsáveis pela saúde, justiçacriminal e política social) e as partes interessadas,bem como a capacidade de realizar análisescomparativas.
CAPÍTULO 9. O CAMINHO A SEGUIR : RECOMENDAÇÕES PARA A AÇÃO • 245
246 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
O mundo, atualmente, no nível internacional, nãopossui padrões internacionalmente aceitos paracoleta de dados sobre violência, que aprimorem acomparação de dados entre nações e culturas. Isso ésério, não só porque as defasagens existentes nainformação dificultam a quantificação da magnitudeda violência no mundo todo mas, também, porprejudicar a realização de pesquisas em nível mundialou o desenvolvimento de intervenções. Mesmo quemuitos desses descompassos sejam resultantessimplesmente da falta de dados, outros resultam dediferenças na forma como os dados são classificadospelos diferentes países (e às vezes por diferentesagências dentro dos países). Essa situação pode, edeve, ser remediada pelo desenvolvimento e peladisseminação de padrões internacionalmente aceitospara coleta de dados. São passos nesse sentido aInternational classification for external causes ofinjuries [Classificação internacional de causasexternas de lesões] (1) e as Injury surveillanceguidelines [Diretrizes para vigilância de lesões],desenvolvidas pela Organização Mundial da Saúdee pelos United States Centres for Disease Controland Prevention [Centros Norte-Americanos deControle e Prevenção de Doenças] (2).
Recomendação 3.Definir prioridades para as causas, asconseqüências, os custos e a prevençãocontra a violência, e dar apoio a pesquisasnessas áreas.
Apesar de no relatório ter sido mostrado quehouve progressos em relação à compreensão daviolência entre diferentes grupos populacionais e nosdiversos cenários, ainda há urgência por maispesquisas. Há muitos motivos para se realizar essaspesquisas, mas uma das maiores prioridades é obterum melhor entendimento do problema em diferentescontextos culturais, de modo a possibilitar odesenvolvimento e a avaliação de respostasadequadas.
No nível nacional, e como parte do plano de ação,a política governamental pode preparar uma agendade pesquisa, mediante o envolvimento direto dasinstituições governamentais (muitos ministérios deserviço social ou do interior, assim como agências dejustiça criminal, têm programas de pesquisa internos)e financiamento de instituições acadêmicas epesquisadores independentes.
A pesquisa pode e deve ser realizada no nível
local. A pesquisa local não só é a primeira e a maisvaliosa para uso nas atividades locais de prevençãocontra a violência, mas também é um importantecomponente no esforço mais amplo de pesquisa queé necessário para atacar a violência em uma escalaglobal. Para ter o máximo de benefícios, asautoridades locais devem envolver todos os parceirosque tenham expertise suficiente, inclusive cursosuniversitários (tais como medicina, ciências sociais,criminologia e epidemiologia), estabelecimentos depesquisa e organizações não governamentais.
Apesar de haver necessidade que grande parteda pesquisa para evitar a violência seja realizada emnível local, em resposta às condições e necessidadeslocais, algumas questões prioritárias, de importânciamundial, necessitam de pesquisa em nívelinternacional, entre os países. Essas questõesincluem: a relação entre a violência e os diversosaspectos da globalização, inclusive impactoseconômicos, ambientais e culturais; fatores de riscoe de proteção comuns às diferentes culturas esociedades; e abordagens promissoras de prevençãoaplicáveis em diversos contextos.
Alguns aspectos da globalização são impactantesem diferentes tipos de violência em cenários distintos,mas pouco se sabe sobre precisamente quais fatorescausam a violência ou como eles podem ser mitigados.Ainda não foram feitas pesquisas suficientes sobreos fatores de risco que são compartilhados pordiferentes cenários e menos ainda foi feito em relaçãoà área potencialmente recompensadora dos fatoresde proteção. Além disso, apesar de haver umaquantidade considerável de informações acerca deintervenções individuais em diversos países (algumasdas promissoras são descritas neste relatório),poucas foram avaliadas.
Recomendação 4.Promover respostas de prevençãoprimária.
Uma constante em todo este relatório é o tema daimportância da prevenção primária. A pesquisa sugereque a prevenção primária é mais eficiente quandorealizada logo no estágio inicial - e entre pessoas egrupos conhecidos por estarem sob maior risco doque a população no geral -, apesar de esforçosdirigidos à população em geral poderem ter efeitosbenéficos. Como os vários capítulos deste relatóriomostraram, em qualquer nível, não tem sido dadasuficiente ênfase à prevenção primária. Essa situação
CAPÍTULO 9. O CAMINHO A SEGUIR : RECOMENDAÇÕES PARA A AÇÃO • 247
precisa ser revista.Algumas das intervenções importantes de
prevenção primária para reduzir a violência incluem:-assistência de saúde pré-natal e perinatalpara as mães, bem como programas de melhoriada pré-escola e de desenvolvimento socialpara crianças e adolescentes;-treinamento para boas práticas parentais emelhor funcionamento familiar;-melhorias na infra-estrutura urbana (tantofísica quanto socioeconômica)-medidas para reduzir as lesões por armas defogo e melhorar a segurança em relação a elas;-campanhas de mídia para mudar atitudes,comportamentos e normas sociais.As duas primeiras intervenções são importantes
para reduzir o abuso infantil e a negligência, bemcomo a violência perpetrada durante a adolescênciae a fase adulta.
A partir de melhorias nas infra-estruturas (tantofísicas quanto socioeconômicas), também é possívelhaver importantes contribuições. Especificamente,isso quer dizer lidar com fatores ambientais nascomunidades: identificar locais onde a violênciaocorre com freqüência, analisar os fatores que tornamperigoso um determinado lugar (por exemplo, máiluminação, isolamento ou estar próximo de umestabelecimento onde haja consumo de álcool), emodificar ou remover esses fatores. É necessária,ainda, uma melhoria na infra-estruturasocioeconômica das comunidades locais através demaiores investimentos e melhores oportunidadeseducacionais e econômicas.
Tanto para as intervenções nacionais quantolocais, outra questão é a prevenção contra ferimentospor armas de fogo e a melhoria das medidas desegurança a elas relacionadas. As armas de fogo sãoum importante fator de risco em muitos tipos deviolência, incluindo violência juvenil, coletiva esuicídio. As intervenções para reduzir as lesõescausadas por armas - sejam acidentais ou intencionais- incluem, por exemplo, legislação sobre venda epropriedade de armas, programas para coletar e deporarmas ilegais em áreas onde a violência causada porarmas é freqüente, programas para desmobilizarmilícias e soldados depois de conflitos, e medidaspara melhorar a armazenagem segura de armas. Aindaé necessário que se façam mais pesquisas paradeterminar a efetividade desses e de outros tipos deintervenção. Essa é uma área primordial em que éimportante a cooperação multisetorial entreautoridades legislativas, policiais e de saúde pública
para atingir o sucesso geral.Na prevenção contra a violência, a mídia tem um
potencial considerável, tanto como força positivaquanto negativa. Mesmo que ainda não hajaresultados de pesquisa conclusivos disponíveis arespeito de como a exposição à violência através damídia pode afetar muitos tipos de violência, háevidências de uma relação entre notícias de suicídioe suicídios posteriores. Mostrando ou disseminandoinformações contra a violência, ou incorporandomensagens anti-violência em formatos deentretenimento, como novelas, a mídia pode serutilizada para mudar atitudes e comportamentosrelacionados à violência, bem como normas sociais(ver Quadro 9.1).
Em locais específicos, dependendo dascondições, a maioria dessas intervenções primáriastambém pode ter importantes efeitos de reforçomútuo.
Recomendação 5.Fortalecer as respostas para as vítimas daviolência.
Em todos os países, devem ser fortalecidos osserviços de saúde, sociais e legais que são oferecidosàs vítimas da violência. Para tanto, é necessária umarevisão dos serviços atualmente prestados, treinandomelhor os funcionários, e uma melhor integraçãoentre os apoios de saúde, social e legal.
Para oferecer assistência de alta qualidade paraas vítimas de todos os tipos de violência, bem comoserviços de reabilitação e apoio necessários para seevitar complicações futuras, a meta nacional dosistema de saúde como um todo deve ser ofortalecimento da capacidade e do financiamento. Asprioridades incluem:
- melhorias nos sistemas de resposta deemergência, e na capacidade do setor deassistência à saúde em tratar das vítimas ereabilitá-las;- reconhecimento dos sinais de incidentesviolentos ou de situações violentas que estejamocorrendo, e encaminhamento das vítimas paraas agências pertinentes paraacompanhamento e apoio;- assegurar que os serviços jurídicos, sociais, desaúde e de policiamento evitem uma novavitimização das vítimas e que esses serviçosefetivamente impeçam os perpetradores decometerem o crime novamente;
248 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
QUADRO 9.1
Mídia, promoção de saúde e prevenção contra a violência: acampanha Soul City
Na África do Sul, o Institute for Health and Development Communication - IHDC [Instituto paraComunicação de Saúde e Desenvolvimento) tem sido aclamado pela forma inovadora com que se utilizado poder da mídia de massa para promover a saúde e o desenvolvimento. O projeto da organização nãogovernamental inclui questões sociais e de saúde nas programações de rádio e televisão, atingindoaudiência de milhões no país inteiro. Ao envolver seus espectadores e ouvintes no nível emocional, oformato dos programas pretende mudar atitudes e normas sociais básicas e, por fim, mudar ocomportamento. Uma série chamada Soul City tem como alvo o público geral, enquanto uma outra série,Soul Buddyz, é voltada para crianças na faixa etária de 8 a 12 anos. O Soul City é um dos programas maispopulares da televisão na África do Sul, atingindo cerca de 80% de seu público-alvo de aproximadamente16 milhões de pessoas, e o Soul Buddyz é assistido por dois terços das crianças na África do Sul.
Para acompanhar os programas, o IHDC produziu livretos que dão maiores informações sobre ostópicos discutidos, com ilustrações de personagens populares dos dramas da televisão. O projetotambém produziu fitas de vídeo e de áudio para serem utilizadas em diversos cenários educacionais,formais ou informais.
Na África do Sul, a violência é uma prioridade de saúde pública, e a maioria dos programas transmitidostrata desse assunto. Entre os tópicos específicos cobertos pela programação, podemos citar a violênciainterpessoal geral, o assédio moral, a violência de gangue, a violência doméstica, o estupro e o assédiosexual. O projeto pretende evitar a violência, através das seguintes medidas
-conscientizar o público sobre a extensão da violência em sua sociedade, bem como as conseqüências disso;
-convencer as pessoas que elas estão em condições de fazer algo em relação à violência, tanto como pessoas quanto como membros da comunidade;
-estimular uma melhor criação dos filhos, através da utilização de modelos de papéis e melhor comunicação e relacionamento entre os pais e os filhos
.O projeto IHDC também tem uma linha direta para o público dos programas, fornecendoaconselhamento para crises e encaminhando as pessoas, quando necessário, para serviços comunitáriosde apoio. Ele também desenvolve materiais de treinamento sobre violência contra as mulheres, dirigidosa conselheiros e trabalhadores da área de saúde, à polícia e aos agentes legais.
Atualmente, está sendo realizada uma avaliação da primeira série do Soul Buddyz. As avaliações dasérie para adultos Soul City revelaram a existência de um maior conhecimento e uma maior consciência,bem como mudanças nas atitudes e nas normas sociais que dizem respeito à violência doméstica e àsrelações de gênero. Além disso, tem havido um significativo aumento na vontade de mudar ocomportamento e encetar ações contra a violência, tanto em áreas urbanas quanto rurais, bem comoentre homens e mulheres.
- apoio social, programas de prevenção e outrosserviços para proteger as famílias sob risco deviolência e reduzir o estresse dos que cuidamdas crianças;- incorporação de módulos sobre prevençãocontra a violência nos currículos de estudantesde medicina e enfermagem.Cada uma dessas respostas pode ajudar a
minimizar o impacto da violência nas pessoas e o
custo para os sistemas sociais e de saúde. Os sistemasde resposta de emergência e assistência pré-hospitalar podem reduzir significativamente o riscode morte e invalidez resultante de trauma físico.Menos tangível, mas igualmente importante, sãomedidas tais como mudar as atitudes da polícia e deoutros agentes públicos, educá-los em relação àviolência de gênero e à violência sexual, e treiná-lospara reconhecerem os casos de violência eresponderem a eles.
Nos lugares em que os ministérios oferecemdiretrizes para os currículos das escolas de medicinae enfermagem, a política nacional deve assegurar quetodo o pessoal de saúde receba, ainda enquantoestudantes, treinamento sobre a violência, suasconseqüências e sua prevenção. Ao se graduar, opessoal de saúde deve ser capaz não só de reconheceros sinais de violência, como também de querer atuarnesse sentido. Essas medidas podem serespecialmente úteis para as pessoas que nãoconseguem relatar o que houve com elas, comocrianças pequenas ou idosos incapacitados, ou quetêm medo de fazê-lo, por exemplo, vítimas de violênciadoméstica, trabalhadores sexuais ou migrantes semdocumentação.
A aplicação prática dessas políticas deve sercuidadosamente implementada e avaliada para evitarque se crie uma nova vitimização das vítimas deviolência. Por exemplo, se os funcionários afirmamque um paciente sofreu violência, os procedimentospara se obter provas relacionadas ao fato não devemcolocar o paciente em risco de mais violência porparte do perpetrador, de censura por parte de suafamília ou comunidade, ou outras conseqüênciasnegativas.
Recomendação 6.Integrar a prevenção contra a violência àspolíticas sociais e educacionais e, assim,promover a igualdade de gêneros e social.
Muito da violência está ligado às desigualdadessociais e de gênero que ocorrem em grandes parcelasda população sob maior risco. Em países quemelhoraram a condição das mulheres e reduziram adiscriminação social, a experiência indica que vai sernecessária uma série de intervenções. No nívelnacional, tais intervenções incluirão reformaslegislativas e legais, campanhas de comunicaçãodirecionadas à conscientização do público sobre oproblema, treinamento e monitoramento dos agentesde polícia e públicos e incentivos educacionais oueconômicos para grupos em desvantagem. Seránecessária ainda uma pesquisa cultural e social paradesenvolver essas intervenções, de forma a torná-las viáveis e efetivas.
Ao mesmo tempo, precisam ser fortalecidos osprogramas sociais e as políticas de proteção, tantopara a população em geral quanto para os grupos emdesvantagem. Em algumas partes do mundo, essasmedidas estão em andamento como resultado de
diversos fatores, incluindo os impactos daglobalização, da dívida e de políticas de ajusteestrutural, da transformação de economias planejadasem economias de mercado, e o impacto de conflitosarmados. Muitos países estão vivenciando quedasreais nos salários, deterioração da infra-estruturabásica, especialmente em áreas urbanas, e constantesreduções na qualidade e na quantidade de serviçosde saúde, educação e social. Devido aos vínculoscriados entre essas condições e a violência, osgovernos devem fazer o seu melhor para manter emfuncionamento os serviços sociais de proteção,reordenando, se necessário, as prioridades em seusorçamentos nacionais.
Recomendação 7.Maior colaboração e troca deinformações relacionadas à prevençãocontra a violência.
Com o intuito de melhor se chegar aconhecimentos compartilhados, a um consensosobre as metas de prevenção e a uma melhorcoordenação da ação, devem ser avaliadas as relaçõesde trabalho e comunicação entre as agênciasinternacionais, as agências governamentais, ospesquisadores, as redes e as organizações nãogovernamentais engajadas na prevenção contra aviolência. Todos têm importantes papéis adesempenhar na prevenção contra a violência (verQuadro 9.2).
Diversas agências internacionais, instituiçõesregionais e organismos das Nações Unidas ou estãotrabalhando na prevenção contra a violência ou têmmandatos ou atividades altamente relevantes para aredução da violência, inclusive no que diz respeito aquestões econômicas, direitos humanos, direitointernacional e desenvolvimento sustentável. Atéhoje, a coordenação entre todas essas agências éinsuficiente. Esse fato deve ser remediado para evitarmuita duplicação desnecessária e para beneficiar-seda economia resultante da combinação de expertise,redes, financiamentos e instalações domésticas.Devem ser explorados os mecanismos para melhorara cooperação, possivelmente se iniciando em pequenaescala e envolvendo um pequeno número deorganizações com mandato e experiência prática emprevenção contra a violência (ver Quadro 9.3).
A tecnologia de comunicações, que teve inúmerosavanços nos últimos anos, é um aspecto positivo daglobalização, pois permitiu a criação de milhares de
CAPÍTULO 9. O CAMINHO A SEGUIR : RECOMENDAÇÕES PARA A AÇÃO • 249
250 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
QUADRO 9.2
Respondendo à ameaça da violência: a Aliança Interamericana para aPrevenção contra a Violência
Em países do continente americano, assim como no mundo todo, a segurança pública é uma questãourgente que preocupa os governos. Sob ponto de vista da economia nacional, a violência afeta oinvestimento externo e doméstico, impedindo o crescimento e o desenvolvimento em longo prazo. Aviolência também faz com que os cidadãos se sintam inseguros e percam a fé nos sistemas políticos e dejustiça criminal.
Como resposta a essa preocupação, cinco organizações internacionais e regionais, e uma organizaçãonacional uniram forças em junho de 2000 para criar a iniciativa denominada Aliança Interamericana paraa Prevenção contra a Violência (Inter-American Coalition for the Prevention of Violence). As organizaçõesparticipantes foram
- o Banco Interamericano de Desenvolvimento;- a Organização dos Estados Americanos;- a Organização Pan-Americana da Saúde;- a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura;- os Centros Norte-Americanos para Controle e Prevenção de Doenças;- o Banco Mundial..A Aliança acredita que pode dar um apoio efetivo às iniciativas nacionais - sejam elas provenientes
dos governos, da sociedade civil ou do setor privado - na prevenção contra a violência, especialmentemobilizando novos parceiros e recursos. Mesmo que a base de suas atividades seja o princípio dacooperação, ela respeita a liberdade dos países para tomarem suas próprias decisões acerca da prevençãocontra a violência
.As principais ações planejadas pela Aliança incluem:-patrocinar campanhas para aumentar a conscientização pública sobre a importância da prevenção
contra a violência;-apoiar os esforços para reunir e publicar dados confiáveis sobre violência e crime, em níveis local e
nacional;-criar um website sobre prevenção contra a violência, com uma base de dados contendo as melhores
práticas;-fornecer informações sobre a prevenção contra a violência para os responsáveis pela elaboração de
políticas e tomadas de decisões em todas as regiões;-organizar seminários e oficinas de trabalho regionais sobre prevenção contra a violência, bem como
viagens e iniciativas de estudo entre cidades que tenham características semelhantes; trabalhar com a mídia;
-trabalhar com ministérios governamentais, prefeituras municipais e outros agentes nacionais e locais;
-trabalhar com o setor privado, organizações não governamentais e comunidades étnicas e religiosas;-oferecer apoio técnico na elaboração, implementação e avaliação dos programas nacionais de
prevenção contra a violência..No continente americano, este é o primeiro esforço desse tipo de prevenção contra a violência e
pode vir a fornecer um modelo para iniciativas regionais semelhantes em outras partes do mundo.
redes em vários campos. Na prevenção contra aviolência e em campos correlatos, ao propor diversosmodelos de prevenção, discutir metodologias eexaminar criticamente os resultados da pesquisa, asredes de pesquisadores e profissionais têm fortalecido
bastante a base mundial de conhecimentos. A trocade informações e idéias é crucial para o progressofuturo, além do trabalho de autoridadesgovernamentais, provedores de serviços e gruposde defesa.
QUADRO 9.3
Esforços das Nações Unidas para evitar a violência interpessoalAtualmente, as agências das Nações Unidas têm trabalhado muito para evitar a violência interpessoal,
especialmente através de iniciativas direcionadas para tipos específicos de violência em determinadoscenários. Contudo, até recentemente, uma grande parte desse trabalho estava sendo realizadaisoladamente.
Em novembro de 2001, representantes de dez agências das Nações Unidas se reuniram em Genebra,Suíça, para discutir seus trabalhos sobre violência interpessoal e para descobrir formas de coordenaresforços futuros nessa área. Apesar de as agências das Nações Unidas terem anteriormente contribuídode maneira satisfatória em trabalhos sobre a violência relacionada a conflitos, pouco se tem feito emrelação ao trabalho interagencial para evitar atos diários de violência e crimes - incidentes que afetampessoas, famílias, comunidades e instituições como escolas e locais de trabalho. Se nesse problemacomplexo houvesse maior cooperação no interior das agências das Nações Unidas - e especialmenteentre elas -, poderiam ser obtidos benefícios consideráveis. A reunião foi o primeiro passo nessa direção.
Em uma mensagem para os representantes, o Secretário Geral das Nações Unidas, Sr. Kofi Annan,declarou: "Os homens e as mulheres em todos os lugares têm o direito a viver suas vidas e a criar seusfilhos livres do medo da violência. Devemos ajudá-los a desfrutar de tal direito fazendo com que fiqueclaro que a violência pode ser evitada, e trabalhando juntos para identificar suas causas subjacentes elidar com elas".
Os participantes elaboraram uma série de ações de colaboração com as quais se comprometeriam. Emcurto prazo, elas incluem a preparação de um guia para os recursos e as atividades das Nações Unidaspara a prevenção contra a violência interpessoal, enfatizando as principais competências de cada agênciana prevenção contra a violência interpessoal e na identificação de áreas que atualmente não são tratadaspelas organizações das Nações Unidas. Com base nesse guia, será desenvolvido um website para ajudaras agências participantes a trocarem informações e para servir como um recurso para outras agênciasdas Nações Unidas, governos, organizações não governamentais, pesquisadores e doadores. Em médioe longo prazo, os esforços de colaboração incluirão trabalho de defesa, coleta e análise de dados,iniciativas de pesquisa e prevenção.
Os grupos de defesa também são parceirosimportantes na saúde pública. Os grupos de defesapreocupados com a violência contra as mulheres ecom os abusos dos direitos humanos (especialmentea tortura e os crimes de guerra) são ótimos exemplos.Esses grupos mostraram sua capacidade de mobilizarrecursos, reunir e repassar informações sobreproblemas importantes e montar campanhas que têmprovocado um impacto nos responsáveis pelatomada de decisões. Nos últimos anos, também têmse tornado mais evidentes os grupos que têm comofoco outras questões, especificamente o abuso deidosos e o suicídio. O valor dos grupos de defesadeve ser reconhecido. Pode-se conseguir isso pormeio de medidas práticas, como conferir a essesgrupos a condição de grupos oficiais nas principaisconferências internacionais e incluí-los em gruposde trabalho oficiais.
evitar muita duplicação desnecessária e para
beneficiar-se da economia resultante da combinaçãode expertise, redes, financiamentos e instalaçõesdomésticas. Devem ser explorados os mecanismospara melhorar a cooperação, possivelmente seiniciando em pequena escala e envolvendo umpequeno número de organizações com mandato eexperiência prática em prevenção contra a violência(ver Quadro 9.3).
A tecnologia de comunicações, que teveinúmeros avanços nos últimos anos, é um aspectopositivo da globalização, pois permitiu a criação demilhares de redes em vários campos. Na prevençãocontra a violência e em campos correlatos, ao propordiversos modelos de prevenção, discutirmetodologias e examinar criticamente os resultadosda pesquisa , as redes de pesquisadores eprofissionais têm fortalecido bastante a basemundial de conhecimentos. A troca de informaçõese idéias é crucial para o progresso futuro, além do
CAPÍTULO 9. O CAMINHO A SEGUIR : RECOMENDAÇÕES PARA A AÇÃO • 251
252 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
trabalho de autoridades governamentais,provedores de serviços e grupos de defesa.
Os grupos de defesa também são parceirosimportantes na saúde pública. Os grupos de defesapreocupados com a violência contra as mulheres ecom os abusos dos direitos humanos (especialmentea tortura e os crimes de guerra) são ótimos exemplos.Esses grupos mostraram sua capacidade de mobilizarrecursos, reunir e repassar informações sobreproblemas importantes e montar campanhas que têmprovocado um impacto nos responsáveis pelatomada de decisões. Nos últimos anos, também têmse tornado mais evidentes os grupos que têm comofoco outras questões, especificamente o abuso deidosos e o suicídio. O valor dos grupos de defesadeve ser reconhecido. Pode-se conseguir isso pormeio de medidas práticas, como conferir a essesgrupos a condição de grupos oficiais nas principaisconferências internacionais e incluí-los em gruposde trabalho oficiais.
Uma outra área importante em que poderíamosobter progressos é no compartilhamento deinformações entre os especialistas que trabalhamcom diferentes tipos de violência. Os especialistasque trabalham com questões como abuso infantil,violência juvenil, violência contra parceiros íntimos,abuso de idosos ou prevenção contra o suicídio,em geral, têm estreita colaboração com especialistasque trabalham com o mesmo tipo de violência, mastêm muito menos sucesso com aqueles quetrabalham com outros tipos de violência. Conformedemonstrado pelo presente relatório, os diferentestipos de violência compartilham fatores de risco eestratégias de prevenção comuns a eles. Portanto,pode-se ganhar muito ao desenvolver plataformasque facilitem a troca de informações, bem como apesquisa conjunta e o trabalho de defesa.
Recomendação 8.Promover e monitorar a adesão aostratados, às leis e a outros mecanismosinternacionais para proteção aos direitoshumanos
Na última metade do século passado, osgovernos nacionais assinaram diversos acordoslegais internacionais que têm relevância direta paraa violência e sua prevenção. Esses acordosdeterminam padrões de legislação nacional e
estabelecem normas e limites de comportamento.No contexto deste relatório, alguns dos maisimportantes são:
· A Convenção para a Prevenção e a Punição deCrimes de Genocídio (1948).· A Convenção para Supressão do Tráfico dePessoas e da Exploração da Prostituição deOutros (1949).· A Convenção para a Eliminação de Todas asFormas de Discriminação Racial (1965).· A Convenção Internacional de DireitosEconômicos, Sociais e Culturais (1966).· A Convenção Internacional de Direitos Civis ePolíticos (1966).· A Convenção para a Eliminação de Todas asFormas de Discriminação contra as Mulheres(1979).· A Convenção contra Tortura e OutrosTratamentos ou Punições Cruéis, Desumanas ouDegradantes (1984).· A Convenção sobre os Direitos da Criança(1989) e seus dois Protocolos Opcionais sobre oEnvolvimento das Crianças em ConflitosArmados (2000) e sobre a Venda de Crianças,Prostituição Infantil e Pornografia Infantil (2000).· O Estatuto de Roma sobre a Corte CriminalInternacional (1998).Também há outros acordos importantes que são
altamente pertinentes para diversos aspectos daviolência, tais como a Carta Africana sobre DireitosHumanos e dos Povos (1981) e a ConvençãoInteramericana para a Prevenção, Punição eErradicação da Violência contra as Mulheres (1994).
Enquanto muitos governos nacionais têm obtidoavanços em harmonizar a legislação com suasobrigações e seus comprometimentos, outros aindanão conseguiram tal avanço. Alguns não têmrecursos ou expertise para colocar em prática asprovisões desses instrumentos internacionais.Onde o obstáculo é a escassez de recursos ouinformações, a comunidade internacional deve fazermais para dar assistência. Em outros casos, serãonecessárias campanhas para trazer à tona asmudanças na legislação e na prática.
Recomendação 9.Buscar respostas práticas, de consensointernacional, para o comércio mundial
CAPÍTULO 9. O CAMINHO A SEGUIR : RECOMENDAÇÕES PARA A AÇÃO • 253
de drogas e o comércio mundial dearmas.
Tanto nos países emergentes quanto nosindustrializados, o comércio mundial de drogas e ocomércio mundial de armas são parte da violência eexistem em nível nacional e internacional. A partirdas evidências fornecidas em várias partes desterelatório, avanços mesmo modestos em qualquerfronte vão contribuir para reduzir a quantidade e onível de violência que milhões de pessoas sofrem.Até hoje, contudo - e a despeito do perfil atuante naarena mundial - não parece haver soluções em vistapara esses problemas. As estratégias de saúde públicapodem ajudar a reduzir os impactos sobre a saúde emdiversos cenários e nos níveis local e nacional e,portanto, devem ter um papel muito maior nasrespostas de nível global.
ConclusãoA violência não é inevitável. Nós podemos fazer
muito para lidar com ela e evitá-la. As pessoas, famíliase comunidades cujas vidas a cada ano são dilaceradas
pela violência podem ser salvaguardadas e as causasraízes da violência podem ser atacadas com o intuitode se produzir uma sociedade mais saudável paratodos.
O mundo ainda não mediu totalmente a dimensãode tal tarefa e ainda não tem todas as ferramentasnecessárias para realizá-la. Contudo, a base doconhecimento global está crescendo e já se obtevemuita experiência útil.
Este relatório tenta contribuir com a base deconhecimento. Espera-se que o relatório inspire efacilite, no mundo todo, maior cooperação, inovaçãoe compromisso para evitar a violência.
Referências1. WHO Collaborating Centre on Injury Surveillance.International classification for external causes ofinjuries. Amsterdam, Consumer Safety Institute, 2001.2. Holder Y et al., eds. Injury surveillance guidelines.Geneva, World Health Organization (published incollaboration with the United States Centers forDisease Control and Prevention), 2001 (documentWHO/NMH/VIP/01.02).
ANEXO ESTATÍSTICAS • 257
AntecedentesTodo ano, mais de 100 países enviam à
Organização Mundial da Saúde - OMS informaçõesdetalhadas a respeito do número de óbitos resultantesde várias doenças, afecções ou lesões. Os dadosprovenientes dos Estados Membros da OMS sãocompilados a partir dos sistemas de registro deestatísticas vitais, utilizando-se os códigos daClassificação Internacional de Doenças - CID (1,2).Os sistemas nacionais de registro de estatísticasvitais captam cerca de 17 milhões dos óbitos queocorrem em todo mundo a cada ano. Os dadosprovenientes desses sistemas de registro, assim comoaqueles provenientes de levantamentos, censos eestudos epidemiológicos são analisados pelaOrganização Mundial da Saúde para determinarpadrões de causas de mortalidade segundo países,regiões e para o mundo como um todo.
A OMS também utiliza esses dados, juntamentecom outras informações, para avaliar o impacto dacarga global de doença [global burden of disease].Essas estimativas, publicadas pela primeira vez em1996, representam o estudo mais abrangente demortalidade e morbidade global já realizado (3). Estáem andamento uma nova avaliação da carga globalde doença para o ano 2000 (4). Aqui são apresentadasas estimativas da carga global de lesões [globalburden of injury] para o ano 2000. A seguir,encontram-se descrições das tabelas incluídas nosanexos e dos dados utilizados para calcular asestimativas para 2000 de mortes relacionadas a causasviolentas.
Tipos de tabelasO anexo de dados estatísticos contém três tipos
de tabelas:— estimativas globais e regionais de mortalidade;— as dez principais causas de mortalidade e anosde vida ajustados por incapacidade (DisabilityAdjusted Life Years - DALYs) para todos osEstados Membros da OMS em conjunto, e paracada uma das regiões da OMS;— coeficientes de mortalidade por país.
Estimativas de mortalidade regionais eglobal
A Tabela A.1 fornece uma visão geral dascontagens de população usadas para estimar oscoeficientes global e regional de mortalidade. AsTabelas A.2 a A.5 contém estimativas de morteviolenta para o ano 2000. A Tabela A.2 apresenta
estimativas de mortalidade para todas as lesõesintencionais, por gênero, faixa etária, região da OMSe nível de renda. As estimativas para homicídio,suicídio e guerra, por gênero, faixa etária, região daOMS e nível de renda, são apresentadasseparadamente nas Tabelas A.3 a A.5.
Causas de mortalidade e classificaçõesDALY
A Tabela A.6 apresenta as dez principais causasde mortalidade e DALYs para o ano 2000, assim comoa classificação das mortes violentas e DALYs. Essasclassificações abrangem todos os Estados Membrosda OMS em conjunto, e cada região em separado.
Taxas de mortalidade por paísAs Tabelas A.7-A.9, respectivamente, apresentam
os números e taxas de mortalidade por lesãointencional, homicídio e suicídio, enquanto a TabelaA.10 fornece os números correspondentes a mortespor arma de fogo, classificados por tipo de morte.Nessas tabelas, os números absolutos e taxas por100 mil indivíduos são apresentados por gênero efaixa etária para os países que enviam dados à OMS.
MétodosCategorias
Mortes e lesões não fatais são atribuídas a umacausa básica, utilizando-se as regras e convençõesda Classificação Internacional de Doenças (1,2). Alista de causas para o projeto Carga Global de Doençapara 2000 (project Global Burden of Disease - GBD2000) apresenta quatro níveis de desagregação einclui 135 doenças e lesões específicas (5). Ascategorias de lesão não intencional e intencional sãodefinidas em termos dos códigos de causas externas.Os códigos para lesões intencionais, por exemplo sãoos seguintes :
• Homicídio - CID-9 E960-E969 ou CID-10 X85-Y09.• Suicídio - CID-9 E950-E959 ou CID-10 X60-X84.• Lesões relacionadas a guerra - CID-9 E990-E999ou CID-10 Y36.• Intervenção Legal - CID-9 E970-E978 ou CID-10Y35.• Lesões intencionais - CID-9 E950-E978, E990-E999 ou CID-10 X60-Y09, Y35, Y36.Os números absolutos e taxas por 100 mil são
apresentados por gênero e região da OMS para seisfaixas etárias: 0-4 anos, 5-14 anos, 15-29 anos, 30-44
258 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
anos, 45-59 anos e 60 anos e mais.
Regiões da OMSOs Estados Membros da OMS estão agrupados
em seis regiões: Região Africana, Região dasAméricas, Região do Sudeste Asiático, RegiãoEuropéia, Região do Mediterrâneo Oriental e Regiãodo Pacífico Ocidental. Os países que compõem cadaregião estão indicados na Tabela A.1.
Os países que formam as seis regiões da OMSnas Tabelas A.1-A.5 foram ainda divididos por nívelde renda com base em estimativas de 1996 do produtonacional bruto (PNB) per capita (atualmentedenominado renda nacional bruta), compiladas peloBanco Mundial e utilizadas no World health report1999 [Relatório Mundial de Saúde 1999] (6). Com baseno PNB per capita, as economias são classificadasem renda baixa (US$785 ou menos), média (US$786-9635) ou alta (acima de US$9 636).
Estimativas Globais de mortalidadeO projeto GBD 2000 utiliza-se das estimativas mais
recentes de população para os Estados Membros daOMS, preparadas pela Divisão de População dasNações Unidas (7). Novas tabelas de anos de vidapara o ano 2000 foram construídas para todos os 191Estados Membros da OMS (8,9). Os resultados paralesões, aqui relatados, da Versão 1 do projeto GBD2000, baseiam-se em ampla análise dos dados demortalidade para todas as regiões do mundo,juntamente com revisões sistemáticas de estudosepidemiológicos e dados de serviços de saúde (4).Dados completos ou incompletos de estatísticasvitais, juntamente com sistemas de registro poramostragem, cobrem 72% da mortalidade global.Dados de levantamentos e técnicas demográficasindiretas fornecem informações sobre os índices demortalidade infantil e de adultos para os 28% restantesde mortalidade global estimada.
Dados referentes à causa de morte foramanalisados para suprir a cobertura incompleta dosregistros de dados de estatísticas vitais de algunspaíses e as prováveis diferenças nos padrões decausa de mortalidade esperadas para subpopulaçõesnão cobertas [uncovered] e freqüentemente maispobres (4). Os padrões de causas de mortalidade naChina e Índia, por exemplo, basearam-se nos sistemasexistentes de registro de mortalidade. Na China, foramusados o sistema de pontos de vigilância de doenças[disease surveillance points systems] e o sistema deregistro de dados de estatística vital do Ministérioda Saúde. Na Índia, os dados de mortalidade dos
registros de causa de óbito foram usados para áreasurbanas e o levantamento anual de causas de óbitofoi utilizado para as áreas rurais.
Para todos os outros países em que faltam registrosde dados de estatísticas vitais, os modelos de causade morte foram utilizados para uma estimativa inicialda maior probabilidade de distribuição de óbitos pelascategorias mais amplas de doenças infecciosas e nãoinfecciosas e lesões, com base em estimativas decoeficientes de mortalidade total e renda. Um modeloregional de causas específicas de mortalidade foientão construído com base no registro local de dadosde estatística vital e dados de necrópsia transmitidosverbalmente e a distribuição proporcional foi entãoaplicada, dentro de cada grupo mais amplo de causas.Finalmente, as estimativas resultantes foram ajustadascom base em evidências epidemiológicas de estudossobre doenças e lesões específicas.
Foi dada especial atenção aos problemas de errosde preenchimento ou codificação das causas demorte. A categoria "Lesão indeterminada, infligidaacidentalmente ou intencionalmente" (E980-E989 noscódigos CID-9 de 3 dígitos, ou Y10-Y34 no CID-10)pode freqüentemente abranger uma proporçãosignificativa de mortes por lesão. Exceto no caso deinformações mais detalhadas disponíveis em nívellocal, essas mortes foram alocadas de formaproporcional a outras lesões que levam a óbito.
Classificação global e regional dosDALYs
O DALY é utilizado para quantificar a carga dedoença (3,10). O DALY é uma medida de um hiato nasaúde [health-gap], que combina informação sobreo número de anos de vida perdidos devido à morteprematura com informação acerca da perda de saúdepor incapacidade.
Os anos vividos com incapacidade (YLDs) são ocomponente de incapacidade dos DALYs. O YLD medeo equivalente aos anos de vida saudável perdidoscomo resultado de uma seqüela incapacitante dealguma doença ou lesão. Requerem a estimativa deincidência, duração média de incapacidade, e pesosda incapacidade (entre os limites de 0-1).
Muitas fontes de informação foram utilizadas paraestimar os YLDs por doenças e lesões no projeto GBD2000. Este incluiu dados de vigilância e registros dedoenças internacionais e nacionais, dados delevantamentos de saúde, dados de uso de hospitaise serviços médicos e estudos epidemiológicosinternacionais e específicos de alguns países (4).
A análise da carga de lesão no projeto GBD 2000foi feita a partir de métodos desenvolvidos para asprojeções de 1990. Esses métodos definem como lesãotudo o que for grave o suficiente para precisar deatenção médica ou que leve a óbito. A estimativa deYLDs resultantes de lesões se baseou na análise debancos de dados de serviços de saúde queregistraram códigos tanto para o tipo quanto para anatureza da lesão. Bancos de dados nacionais daAustrália, Chile, Maurício, Suécia e Estados Unidosforam utilizados para desenvolver proporçõesmortalidade/incidência. Essas proporções foramentão aplicadas para extrapolar os YLDs por mortespor lesão para todas as regiões do mundo. Asproporções mortalidade/incidência foram bastanteconsistentes para países desenvolvidos e emdesenvolvimento. A proporção de casos novos queem longo prazo resultaram em seqüelas incapacitantesfoi estimada para cada categoria de natureza da lesãoa partir de uma revisão de estudos epidemiológicosde longo prazo de resultados de lesão.
Para produzir a classificação da Tabela A.6, mortese incapacidades foram primeiramente divididas emtrês grupos amplos:
— doenças infecciosas, causas maternas econdições advindas do período perinatal edeficiências nutricionais;— doenças não infecciosas;— lesões.A seguir, mortes e incapacidades foram agrupadas
em categorias. Lesões, por exemplo, foram divididasem não intencionais e intencionais. Seguindo essenível de desagregação, mortes e incapacidades foramainda divididas em subcategorias. Lesões nãointencionais, por exemplo, foram subdivididas emlesões por acidente de trânsito, envenenamentos,quedas, incêndios, afogamento e outras lesões nãointencionais, enquanto as lesões intencionais foramsubdivididas em lesões auto-infligidas, violênciainterpessoal e lesões resultantes de guerra. Asclassificações foram produzidas através doordenamento das subcategorias.
As dez principais causas de morte e DALYsencontram-se na Tabela A.6, que se refere a todos osEstados Membros da OMS em conjunto e a cadauma das seis regiões da OMS. Nas regiões onde asmortes por violência e DALYs figuram abaixo das dezprincipais causas, é fornecida uma classificaçãoespecífica. O DALY relatado na Tabela A.6 usa astaxas padrão de desconto de tempo (3%) e pesospadrão para idade (3).
Coeficientes de mortalidade por paísOs números e coeficientes de mortalidade por
violência relatados nas Tabelas A.7-A.10 se referemao ano mais recente entre 1990 e 2000 notificado àOMS pelos países com população acima de 1 milhãode habitantes. Para países com populações abaixo de1 milhão, é apresentado um coeficiente médio baseadonos últimos 3 anos em que dados foram enviados aOMS, entre 1990 e 2000.
Os coeficientes não foram calculadas quando onúmero de óbitos em uma determinada categoria eramenor do que 20, embora conste o número de óbitos.Os coeficientes apresentados estão padronizados porfaixa etária e por idade. Os coeficientes padronizadospor idade são calculados aplicando-se os coeficientespor faixa etária à População Padrão Mundial (11) epermitem a comparação de coeficientes de populaçõescom diferentes estruturas etárias.
Os dados de população utilizados para estimaros coeficientes de mortalidade para cada país nasTabelas A.7 -A.10 podem ser consultados no site daOrganização Mundial da Saúde no endereço http://www3.who.int/whosis/whsa/ftp/download.htm.
Referências1. International classification of diseases, ninthrevision. Geneva, World Health Organization, 1978.2. International statistical classification of diseasesand related health problems, tenth revision. Volume1: Tabular list; Volume 2: Instruction manual;Volume 3: Index. Geneva, World Health Organization,1992-1994 [Classificação Estatística Internacional deDoenças e Problemas Relacionados à Saúde, DécimaRevisão, Volumes 1 e 2: Lista de TabelasClassificatórias e Manual de Instruções; Volume 3:Índice Alfabético. São Paulo, Edusp, 2001].3. Murray CJL, Lopez AD. The Global Burden ofDisease: a comprehensive assessment of mortalityand disability from diseases, injuries and risk factorsin 1990 and projected to 2020. Cambridge, MA,Harvard School of Public Health, 1996 (Global Burdenof Disease and Injury Series, Vol. I).4. Murray CJL et al. The Global Burden of Disease2000 project: aims, methods and data sources.Geneva, World Health Organization, 2001 (GPEDiscussion Paper, No. 36).5. Murray CJL, Lopez AD. Progress and directions inrefining the global burden of disease approach:response to Williams. Health Economics, 2000, 9:69-82.6. World health report 1999 - making a difference.
ANEXO ESTATÍSTICAS • 259
260 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Geneva, World Health Organization, 1999.7. World population prospects: the 2000 revision.New York, NY, United Nations, 2001.8. Lopez AD et al. Life tables for 191 countries for2000: data, methods, results. Geneva, World HealthOrganization, 2001 (GPE Discussion Paper, No. 40).9. World health report 2000 - health systems:improving performance. Geneva, World HealthOrganization, 2000.
10. Murray CJ, Lopez AD. Global health statistics.Cambridge, MA, Harvard School of Public Health,1996 (Global Burden of Disease and Injury Series,Vol. II).11. Ahmad OA et al. Age standardization of rates: anew WHO standard. Geneva, World HealthOrganization, 2000 (GPE Discussion Paper, No. 31).internacionais ou organizações não governamentaisque operem dentro de seu país e que possam apoiarou implementar algumas das recomendações.
Recursos
A seguir encontra-se uma lista de recursos sobre tópicos relacionados à violência, principalmente endereçosna Internet, de organizações que realizam pesquisa, prevenção e defesa de direitos relacionados à violência. Aintenção na preparação desta lista foi oferecer uma amostra ilustrativa mais do que uma lista abrangente derecursos. Empenhamos esforços no sentido de garantir que os web sites incluídos na lista fossem seguros,atuais e ricos em conteúdo. A Seção I contém uma lista de metasites, a Seção II uma lista de web sitescategorizados por tipo de violência, e a Seção III uma lista geral de web sites que podem ser de interesse paraaqueles envolvidos na pesquisa, prevenção e defesa de direitos relacionados à violência.
Seção I. Metasites relacionados à violênciaAbaixo se encontram cinco metasites que, tomados em conjunto, oferecem acesso a centenas de web sites
de organizações relacionadas à violência no mundo todo. De cada um deles é fornecida uma breve descrição.
Departamento de Prevenção de Lesões e Violência da OMS: links externoshttp://www.who.int/violence_injury_prevention/externalinks.htm
O Departamento de Prevenção de Lesões e Violência da OMS oferece uma extensa lista de links externosde organizações no mundo todo que realizam pesquisa, prevenção e defesa de direitos relacionados à violência.Os web sites dessas agências estão listados por região geográfica e país e por tipo de violência e outrostópicos.
Economia de Guerras Civis, Crime e Violência: links relacionadoshttp://www.worldbank.org/research/conflict
Este link, hospedado no web site do Banco Mundial, oferece acesso a web sites dedicados ao estudo deconflitos. A lista inclui dados sobre variáveis políticas e econômicas de países que passaram por conflitosinternos violentos, informações sobre organizações e institutos que estão trabalhando na área de solução deconflito, e sites que fornecem históricos e análises de casos específicos de conflito interno.
Rede de Informações para o Controle de Lesõeshttp://www.injurycontrol.com/icrin
A Rede de Informações para o Controle de Lesões oferece uma lista dinâmica dos principais recursosrelacionados à pesquisa e controle de lesões e violência que podem ser acessados através da Internet. Os sitesestão listados por categorias, incluindo dados e estatísticas, pesquisas recentes, educação e treinamento. Emcontraste com a maioria dos sites de agências federais e estaduais dos Estados Unidos, aqui há vários sites deoutros países.
Rede de Prevenção de Lesõeshttp://www.injuryprevention.org
A Rede de Prevenção de Lesões contém mais de 1.400 links com web sites de prevenção de lesões eviolência no mundo todo. Os sites estão listados em ordem alfabética e por categorias, como prevenção deviolência e suicídio, guerra e conflito. O site também oferece atualizações semanais sobre artigos de revistasespecializadas, relatórios de agências, críticas de livros e listas de oportunidades de trabalho recentes na áreade pesquisa e prevenção de lesões e violência.
Centro contra Violência e Maus-Tratos de Minnesota: câmara de compensaçãoeletrônicahttp://www.mincava.umn.edu
A câmara de compensação eletrônica do Centro contra Violência e Maus-Tratos de Minnesota forneceartigos, registros de fatos e outros recursos de informação, assim como links para web sites sobre uma amplavariedade de tópicos relacionados à violência, incluindo maus-tratos em crianças, violência de gangues emaus-tratos em idosos. O site também possui bancos de dados para pesquisa com mais de 700 manuais detreinamento, vídeos e outros recursos educacionais.
Seção II. Web sites relacionados à violênciaA Tabela 1 contém uma lista de web sites, principalmente home pages de organizações envolvidas com
violência, categorizadas segundo o tipo de violência. Os web sites listados fornecem informações não apenas
326 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
sobre as próprias organizações, como também acerca de tópicos relacionados à violência em geral.
Seção III. Outros web sitesA Tabela 2 apresenta uma lista de outros web que podem interessar os envolvidos com pesquisa, prevenção
e defesa de direitos associados à violência. Estão principalmente relacionados a questões contextuais amplastais como desenvolvimento econômico e social, direitos humanos e crime, porém também contém algumasferramentas relevantes para melhorar a compreensão de lesões relacionadas à violência.
328 • RELATÓRIO MUNDIAL SOBRE VIOLÊNCIA E SAÚDE
Para os leitores sem acesso à Internet, o Departamento de Prevenção de Lesões e Violência da OMS tem asatisfação de fornecer o endereço postal completo das organizações listadas. Por gentileza, entrem em contatocom o Departamento no seguinte endereço:
Department of Injuries and Violence PreventionWorld Health Organization
20 Avenue Appia1211 Geneva 27
SwitzerlandTel.: +41 22 791 3480Fax: +41 22 791 4332Email:[email protected]
RECURSOS • 3 2 9
Índice RemissivoObs.: os números de página em negrito referem-se a entradas e definições principais.