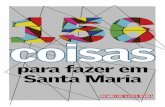reflexões sobre o fazer etnográfico em situações de confronto ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of reflexões sobre o fazer etnográfico em situações de confronto ...
Palestina entre bombas e pedras: reflexões sobre o fazer etnográfico em situações
de confronto com forças armadas1
Rafael Gustavo de Oliveira – UFPR / Paraná
Resumo
Este trabalho parte de reflexões acerca de etnografias em contextos de violência, a partir
de minha pesquisa de campo na Palestina, entre janeiro e junho de 2014. Na ocasião, fui
a campo para desenvolver uma pesquisa etnográfica acerca dos usos políticos das
práticas e produções musicais palestinas. Com isso, o trabalho de campo foi constituído
não apenas das relações com músicos, mas também, procurando compreender o
contexto em seu aspecto holístico, estive presente em manifestações e confrontos com o
exército israelense. Da mesma forma, presenciei incursões do IDF (Israeli Defense
Force) nos Territórios Palestinos, assim como a demolição de casas e outros eventos
que, comumente, ocorrem de forma quase “espontânea”. Com isso, para além de meu
contato com músicos, eventos em que palestinos arremessavam pedras contra um
exército munido de balas de borracha, bombas de gás e munição letal (não raro),
também constituíram minha pesquisa de campo. Desta forma, pensar o fazer etnográfico
e, principalmente seus critérios metodológicos, em situação de confronto e violência, se
torna o tema central deste trabalho. De forma mais específica, o que abordo é, para além
das reflexões acerca dos modos tradicionais das metodologias etnográficas, pensar seus
fazeres em meio a confrontos e, mais, em situações em que a violência se torna fator
constitutivo das práticas cotidianas.
Palavras-chave: Palestina; confronto; violência
Introdução
Pensar a Palestina, enquanto um tema geral de pesquisa, pode remeter, como
comumente acontece à ideias relacionadas a tópicos como conflito e violência. No
entanto, alguns apontamentos se fazem importantes. Em meu trabalho de campo, entre
janeiro e junho de 2014, busquei compreender os usos políticos das práticas e produções
1 Trabalho apresentado na 30ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre os dias 03 e 06 de agosto de 2016, João Pessoa/PB.
1
musicais palestinas, com músicos dos mais diversos gêneros (de rap e rock à música
“tradicional”) e em diferentes espaços, conhecidos localmente como Westbank
(Cisjordânia) e 48 Palestine (categoria nativa que aponta para expressões identitárias e
referências espaciais).2 Durante a realização de minha pesquisa, vários músicos, e
palestinos em geral, reclamaram dever apresentar em suas produções novas vias de
enfrentamento político, que não tratassem unicamente de temas como a ocupação
israelense ou política per se. Assim, frases como “precisamos mostrar nosso lado
bonito” eram acionadas em nossas conversas, apresentando uma intenção de demonstrar
um cotidiano “normal” (em suas palavras), nestas produções musicais (e artísticas em
geral) com conteúdos como amor, cotidiano, relações afetivas, entre outros, como um
tipo de enfrentamento frente aos estereótipos generalizantes que se relacionam com a
Palestina. No entanto, é importante observar que a ocupação israelense na Palestina,
onde se insere o contexto cotidiano de violência, se transforma em um tema dotado de
uma certa “força centrípeta” onde, seja para rejeitá-lo propositalmente para fins
políticos, ou enfatizá-lo evidenciando os conteúdos presentes na realidade social local,
faz com que o tema esteja sempre em evidência.
Assim, pensar a música sem considerar a violência decorrente da ocupação
militar israelense, não apenas no que diz respeito às narrativas, mas também às
observações empíricas, seria um erro bastante evidente, além de que, seria praticamente
impossível, posto a intensidade dos eventos (confrontos violentos, manifestações) e a
vivência das situações cotidianas (checkpoints, incursões do exército, mortes de
palestinos, controle da água, violência dos colonos israelenses, destruição de casas,
prisões administrativas, entre outros). Este ensaio pretende, desta forma, pensar o fazer
etnográfico neste contexto, onde pude estar presente e participar de várias
manifestações, confrontos com o exército, demolição de casas, entre outros.
Meu argumento, com isso, é apontar que existem determinados contextos
etnográficos (DAS, 1998) onde a ida a campo e o fazer etnográfico extrapolam qualquer
“manual” preestabelecido acerca de técnicas e metodologias específicas. Para dar corpo
ao argumento que apresento aqui, trabalharei em duas frentes distintas, mas que,
2 A categoria “48” se refere a três pontos principais, sendo: 1) o espaço que, perante a comunidadeinternacional, é compreendido como pertencente ao Estado de Israel (ou seja, em função de esteEstado ter sido construído em território palestino, os interlocutores com quem convivi não se referema este espaço como “Israel”, mas sim, como “Palestina 48”); 2) uma categoria identitária referenteaos sujeitos provenientes deste espaço, os “Palestinos de 48” ou “48 palestinians”; 3) uma categoriatemporal, referente ao ano de 1948, quando se dá a autoproclamação de independência do Estado deIsrael em território palestino.
2
importante salientar, são interconstitutivas; o “contexto de violência” e o que chamo
aqui de “eventos violentos”.
Contexto de violência
A maioria dos textos que encontrei, para uma breve pesquisa acerca do par
“etnografia e violência”, aponta para uma violência “contextual”, “conjuntural”, ou,
para uma palavra talvez mais apropriada, “cotidiana”. Em outras palavras, o “contexto
de violência” presente nestes trabalhos se relaciona quase que diretamente com uma
noção de “violência cotidiana”. Destaco algumas referências. Veena Das (1998), ao
trabalhar com violência e vida cotidiana nas famílias punjabi, na Índia, aborda o ponto
em um item intitulado “contexto etnográfico”. A autora, nesse sentido, afirma que em
seu contexto etnográfico, a violência não é atualizada apenas no registro familiar, mas
também nos grandes eventos da história política, no caráter carnavalesco das revoltas
populares, e na crua brutalidade dos assassinatos e estupros (DAS, 1998, p.32).
Como outro exemplo, Liliana Sanjurjo e Gabriel Feltran (2015) tratam da
questão da violência nas favelas de São Paulo, pensando este como constitutivo do
cotidiano local. Sandro Jiménez-Ocampo (2008), em Etnografía y crisis: algunos
debates y una práctica de investigación en contextos de violencia, aponta para reflexões
acerca de vítimas de violência e resposta de Estado na situação de conflito e guerra na
Colômbia. Rafael Alcadipani (2010) aborda a noção de violência simbólica nas relações
de trabalho cotidianas de uma empresa, onde uma série de grafismos começam a
aparecer pintados em máquinas e paredes.
Ainda, Lorenzo Macagno (2015) aborda as narrativas do jornalista sul-africano
Rian Malan, e afirma que seu livro apresenta uma crônica das violências cotidianas
decorrentes do apartheid (MACAGNO, 2015, p.133). Neste trabalho, Macagno
apresenta os trabalhos de Crapanzano e Rian Malan acerca do apartheid, em uma
perspectiva contraposta, ou, nas palavras do autor, visões que são simetricamente
opostas. Para Macagno, a visão de Rian Malan trata;
de uma versão veiculada, desta vez, não através do diálogo etnográfico[Crapanzano], mas da violência incorporada na própria subjetividade deagentes concretos. Se Crapanzano é um observador externo que, ao mesmotempo, abdica da sua autoria para dar a palavra ao Outro, a versão quedoravante apresentarei provém de um observador “participante”: um porta-
3
voz – um cronista – que mergulha, custe o que custar, na cena violenta doapartheid (ibid, p.147-148)
A partir destas breves referências, entendo que para que os referidos “contextos
violentos” possam ser definidos como tal, precisam ser compreendidos a partir de uma
certa concepção temporal de sua “estagnação”, e não em eventos pontuais (a exemplo
dos riots, que abordo na sessão seguinte). É desta forma que entendo que a Palestina
pode ser entendida enquanto um contexto de violência. A ocupação militar dos TPO
(Territórios Palestinos Ocupados), as políticas israelenses de restrição de movimento, o
controle dos recursos naturais, a implantação de colônias israelenses, o armamento dos
colonos, as incursões do exército, o uso de gás, balas de borracha e armas letais nas
manifestações, as políticas de apartheid (terminologia usada em uma analogia às
políticas segregacionistas do regime do apartheid na África do Sul), a subjugação
econômica, a demolição de casas, confisco de terras, entre outros, constituem uma
realidade social local em que o contexto se relaciona com práticas violentas,
principalmente no que diz respeito aos confrontos dos palestinos com as forças armadas
israelenses. Segundo Howel (2007), mais de 4.000 palestinos, em sua maioria civis
desarmados foram mortos pelas forças israelenses desde o ano de 2000.3 Para o autor,
ainda:
Israeli authorities routinely fail to investigate allegations of unlawful killingsand other abuses of Palestinians by the IDF and settlers. For mostPalestinians though, their personal experience of the IDF in their daily livesas they pass through checkpoints is one of random physical abuse, verbalinsults, deliberate delays and degrading treatment. (HOWEL, 2007, p.110)
Além disto, uma série de conflitos internos também se fazem presentes, como
tensões entre partidos políticos, dentre outros pontos inerentes à complexidade social
palestina. Com isso, como aponta Majdi Al-Malki (2011), da Universidade de Birzeit,
na Palestina, um número de fatores políticos, culturais e sociais têm impacto no
pesquisador e nos métodos e técnicas utilizados no processo da pesquisa. Tais fatores,
segundo o autor, seriam comumente negligenciados no ensino de métodos de pesquisa,
e isso acarretaria um impacto negativo na validade da pesquisa. Segundo Al-Malki;
3 Este número cresceu, de 2007 até a presente data. Segundo a agência PCHR (Palestinian Centre forHuman Rights), com a ofensiva israelense contra a Faixa de Gaza em 2014, após 50 dias de ataquespor ar, terra e mar, um número de aproximadamente 2.216 palestinos foram mortos. Segundo aagência: Moreover, widespread destruction was caused against civilian objects including houses,residential buildings, industrial and agricultural facilities, mosques, schools, educational facilities,hospitals, health care facilities, and infrastructure, including electricity, water and sanitation.Fonte:http://pchrgaza.org/en/?p=4680
4
Social science methodologies are not tested in laboratories; they simply interact with
many intertwining factors, which lend or reduce the credibility of the research process
(AL-MALKI, 2011, p.192). Ainda, o autor aponta que;
Israeli occupation and its control of the daily life of Palestinians, and thesubsequent ongoing confrontation between the Palestinians and Israel, haveplayed a direct role in the emergence of a plethora of political factions andconflicting ideologies which on occasion reached turned into militaryconfrontations. This has directly affected the work of researchersspecializing in Palestinian affairs. (ibid, 202).
Para o caso da minha pesquisa, entendo que os dados etnográficos construídos
começaram a ser pensados mesmo antes de minha chegada in loco. Para a realização do
trabalho de campo procurei contato com universidades locais, e terminei por cursar um
trimestre de um curso oferecido pela universidade de Birzeit, na Cisjordânia, localizada
na cidade de mesmo nome, onde residi pelos três primeiros meses. A universidade,
aproximadamente um mês antes da data prevista para a chegada, enviou uma cartilha
com recomendações sobre procedimentos no aeroporto. Este documento é um
componente bastante importante na etnografia, pois informa muito do contexto da
situação política local, além da própria posição da universidade com relação aos alunos
estrangeiros, ou seja, o próprio e-mail torna-se parte das reflexões acerca do PAS no
dado contexto, constituindo-se como parte dos dados construídos e aqui apresentados.
Com isso, cito aqui parte do conteúdo de dois documentos, que considero anexado ao
diário de campo e o tenho como dado etnográfico, referente à inserção no campo. Um é
referente a uma apresentação do curso, onde a parte citada refere-se aos apontamentos
acerca do cotidiano na Cisjordânia. O outro, sobre as recomendações dos procedimentos
no aeroporto. Trecho 1:
Internationals who come to study at Birzeit University will find that life oncampus and in the country is intrinsically different from life in their owncountry with regard to personal lifestyle, leisure activities and behaviorpatterns. These factors should be considered seriously and weighed againstpersonal motivation to discover a stimulating and different way of life beforedeciding to study in the West Bank. The life and freedom of Palestinians isseverely affected by the daily realities of military occupation and the currenttransfers of authority. Military-imposed measures include restrictions ofmovement within and/or leaving the West Bank, frequent identity checks,imprisonment, and abuse of the local population. International students arein general not subjected to the same restrictions. Nevertheless, when living inthe West Bank they may be affected indirectly by them, usually throughIsraeli curfews and closures of Palestinian areas. The Second Intifada, thePalestinian uprising that started in September 2000, influenced life in theOccupied Territories in many ways. Travel restrictions have made it difficult
5
for the people of the West Bank and the Gaza Strip to move from town totown. Curfews are sometimes imposed, which make even movement inside thecity impossible. For students, the university campus is a central place forsocializing. International students may expect that most of their social lifewill be centered on campus, where they can join in activities and events suchas music and dance performances, theater and films. Palestinian societycomprises a cultural variety incorporating Muslims and Christians,villagers, townspeople, refugees and a wide spectrum of political groupings,all bringing with them their own cultural and political expectations. [...]Visas and Study Permits: Depending upon nationality, foreigners arerequired either to obtain a visa to Israel in advance, or upon arrival at theairport. Check with your local Israeli Embassy. Generally, student visas arenot granted to internationals who study at Birzeit. Students are advised toenter the country on a 3-month tourist visa which may need to be renewedduring their stay.
Considerando, como colocado anteriormente, o trecho acima pode ser entendido
como um dado que aponta para uma determinada conjuntura. Assim, entendo que tanto
o trecho como esta conjuntura, servem de pano de fundo para uma melhor compreensão
do trecho que se refere aos procedimentos no aeroporto. Antes de citá-lo, explico que o
trecho está contido em um documento, enviado aproximadamente um mês antes da
chegada na universidade. Segundo a secretaria do programa na Universidade de Birzeit,
esse tempo é proposital, seguindo um protocolo acerca deste procedimento. Cito o
trecho abaixo, ressaltando que mantive os trechos em negrito e sublinhados, como no
original. Trecho 2:
Airport ‘security’These days, most individual travelers are questioned upon arrival at Tel Avivairport or at the bridges. A few of our students were denied entry when theymentioned their plans for coming to study at Birzeit. Since then we felt wehad no other choice but to advise our students not to volunteer informationregarding their plans to study at Birzeit. Most of our students followed thatadvice and had no problem entering the country. However, during recentsemesters some students actually did mention their plans of studying atBirzeit, which prompted some additional questioning, but they did receive a3-month visa. Furthermore, some students were denied entry for two mainreasons: when they mentioned they were going to study at Birzeit University,or they were known to be international solidarity movement activists. Israel’spolicy is not clear. Therefore, our advice remains that it will be the wisest notto mention Birzeit if you do not need to, or have to: this may jeopardize yoursituation. The way that you dress and present yourself is also likely to besignificant – those suspected of being part of activist organisations are likelyto have a much tougher time than those who look like smart profesionals ortourists en route to the beach. Further, it is widely known that the Israelboarder police use racial profiling in order to select who is likely to besubject to addtional questioning. If you are taken aside for additionalquestions the police may perform some background checks on google or evenon facebook. Thus, it is best not to deny what they may find out easily. Youcan explain your visit in a number of other ways: contact with friends inIsrael, interest in the holy sites, religion, the beaches, Eilat, the Red Sea, thekibbutzien and interest in archaeology are all examples of reasons for
6
coming to Israel which our students have used. It is not advisable to lieoutrightly as this is a criminal offence. Simply focus on things that you willlikely do during your trip that create the appearance that your visit hasnothing to do with Palestine, Palestinians or politics. However, if you must,19be prepared to prove it with phone numbers and names of whateverhotel, person or place where you would be staying, and expect them to callfor verification. If indeed, you have friends in Israel, then make sure that youhave their address and telephone number with you. It maybe advisable tobring with you the phone number of your home country’s embassy in Tel Aviv(including the emergancy number if you are likely to arrive outside officehours). You should also expect to be held up for several hours as theIsraelis go through their long and tedious “security” check; please bepatient – do not confront or shout at them because that may push them intodenying you entry completely. [...] NB: We also advise you not to bring anyBZU [Birzeit University] papers with you to avoid hassles if the Israelisecurity find them on you or in your bags. Find other means to rememberthe arrival information.
Com isso, pretendo abordar a questão da inserção no campo, levando em conta a
particularidade deste caso, considerando que estas observações e precauções apontadas
pela universidade podem ser compreendidas como constitutivas e constituídas pelo
contexto local. Desta forma, para que o próprio campo fosse possível, uma série de
estratégias foram pensadas, levando em consideração as especificidades da realidade
local e, com a mesma importância, as recomendações da universidade de Birzeit.
De todo modo, embora pensar a Palestina apenas pelo prisma do conflito, pode
contribuir para a construção de generalizações e estereótipos. Como colocado
anteriormente, é possível pensar este campo através de outras práticas que concernem
ao cotidiano local, como a vida noturna em bares, festas, entre outros. Todavia, em
função dos pontos também numerados anteriormente, relativos à ocupação israelense
dos TPO e disputas políticas “internas”, o “contexto de violência” deste campo acaba
por informar o trabalho de pesquisa etnográfica que ali se apresenta, irremediavelmente.
A seguir apresento o que chamo de “eventos violentos”, tomando-os como um
aporte etnográfico para pensar, metodologicamente, o trabalho do etnógrafo em eventos
que, com frequência, acometem a vida cotidiana na Palestina, sejam manifestações,
incursões do exército, demolição de casas, e confrontos com as forças armadas.
Eventos violentos
Em função da ocupação israelense dos Territórios Palestinos (aqui,
especificamente, a Cisjordânia), uma série de confrontos podem ser observados. Alguns
acontecem de maneira programada, a exemplo das manifestações semanais que ocorrem
7
toda sexta-feira na pequena vila de Bil’in,4outros acontecem sem a possibilidade de
previsão exata, como no caso das incursões do exército israelense, ou ainda,
comumente, confrontos acontecem em locais específicos, como em checkpoints e suas
proximidades. As possibilidades que listei aqui estão longe de serem as únicas, mas é a
partir de experiências a partir destas situações que discorro neste texto. De todo modo, o
que pretendo afirmar é que situações de confrontos envolvendo palestinos e soldados
israelenses são componentes cotidianos da realidade social local.
Estes eventos violentos poderiam ser analisados enquanto riots, pelo mesmo
prisma analítico de rituais trabalhados por Mariza Peirano (2000). Embora eu entenda
que, para os eventos na Palestina, alguns pontos sejam divergentes daqueles apontados
pela autora ao se referenciar ao trabalho de Tambaiah, esta abordagem seria bastante
frutífera. Contudo, os riots trabalhados pela autora parecem ter um contexto que os
informa, mas tem uma certa carga de “espontaneidade”, e características próprias dentro
de um certo padrão (construído, segundo Peirano, pela força ilocucionária [Tambaiah]
relacionada com a repetição dos exemplos pelo autor). No meu caso, todavia, embora
sejam eventos violentos “dentro” de um contexto violento, as manifestações não são tão
“espontâneas” assim (embora algumas sejam difíceis de prever), pois são cotidianas,
salvo se tomarmos as intifadas5 como exemplo. Segundo Peironano, Tambiah observa
que os riots, esses fenômenos aparentemente espontâneos, caóticos e orgiásticos,
apresentam feições organizadas, antecipadas, programadas, assim como traços e fases
recorrentes (PEIRANO, 2000, p.16). Assim, seria possível, como coloca a autora,
perceber um “padrão de eventos provocadores”, uma seqüência da violência, estabelecer
a duração rápida, verificar quem são os participantes, os locais onde se inicia e se
espalha, e como termina (ibid). Todavia, não é exatamente esta a abordagem proposta
para este trabalho.
De todo modo, como pensar a construção de uma etnografia onde a construção
dos dados de campo se dá, muitas vezes, a partir de situações inesperadas e violentas,
em que o etnógrafo se vê envolto? A seguir, apresento dois breves relatos etnográficos
em que me vi de súbito inserido.
4 Estas manifestações ocorrem em protesto ao muro erguido pelo governo israelense na vila, criandoum tipo de espaço em separado para a construção de uma colônia (settlement) israelense no local. Amanifestação é de cunho plenamente “popular”, e reprimida pelo exército israelense.
5 Intifada, que traduz-se como “revolta”. Houve duas intifadas, sendo a primeira com início – إنتفاضةem 1987 e fim em 1993, e a segunda com início em setembro de 2000 (quando Ariel Sharon faz umavisita à Explanada das Mesquitas, em Jerusalém. Ato entendido pela população palestina como deextrema “provocação”) e fim em 2006. De cunho plenamente popular, ficaram conhecidas pelosenfrentamentos com pedras, pelos palestinos, nos confrontos contra a ocupação israelense.
8
A incursão em Birzeit
O primeiro aconteceu na cidade de Birzeit, onde residia na ocasião. Embora a
cidade fosse relativamente calma, eventualmente (principalmente à noite e de
madrugada) se percebia a presença do exército israelense. No entanto, foi em uma
manhã, por volta das 6 horas, que fui acordado por barulhos de explosões. Em um
primeiro momento pensei que os barulhos vinham de uma construção que havia ao lado
do pequeno prédio em que morava, sem dar muita atenção. No entanto, enquanto os
barulhos continuavam e meu estado sonolento foi dando lugar à sensação de alerta, pude
constatar que, na verdade, os barulhos não vinham da direção da construção, mas sim
estava mais longe, e do lodo oposto. Nisto, ao olhar pela janela que ficava ao lado da
cama, percebi que jeeps do exército israelense entravam na cidade, se direcionando a
um ponto específico, uma casa de esquina que ficava a aproximadamente 500 metros de
onde eu morava com meus colegas de apartamento, um palestino que crescera nos
Estados Unidos, e um francês. Ao observar a cena, pude ver que o exército atirava
contra a casa que já havia sido cercada e, em dado momento, uma das janelas
“explodiu”, provavelmente em decorrência de alguma bomba que havia sido atirada
para dentro da casa, pois os estilhaços “voaram” para cima e para fora. Outro ponto a se
observar é que, ao mesmo tempo em que o exército ocupava a rua (e logo pôde-se
perceber que ocupou o entorno, em outras ruas, ficando no “centro” da pequena cidade),
a movimentação dos moradores locais se intensificava. A esta hora da manhã, naquela
rua, era comum o trânsito de crianças e adolescentes que iam para a escola, por aquele
caminho. Estes, ao verem a presença do exército, foram os primeiros a recuar, como
observei de minha janela, bloqueando a rua com containers e pneus, também
arremessando pedras contra os soldados e os jeeps. Em pouco tempo, pouco mais de 30
minutos, o comércio que mal tinha aberto, fechava suas portas, e muitos palestinos
moradores da cidade se juntavam nas ruas, jogando pedras, ateando fogo em pneus e
latas de lixo, confrontando o exército israelense que “revidava” com bombas de gás
lacrimogêneo e balas de borracha, enquanto mantinha o cerco em volta da casa.
Neste momento, minha reação foi acordar meus colegas de apartamento, para
alertá-los do evento que tomara a cidade já cedo. Como coloquei anteriormente, embora
seja algo cotidiano, ainda assim há uma carga sobre o “inesperado”, pois os eventos não
são previsíveis, no que diz respeito ao local, data, horário, motivo (pontual e não do
contexto) e intensidade. O palestino que morava no apartamento, assim que levantou da
9
cama, tomou sua câmera fotográfica (um equipamento bom, posto que fotografava
como hobbie) e começou a registrar o evento, da sacada de nosso apartamento.
Enquanto isso, eu e o colega francês cogitávamos a ideia de irmos para a rua, para nos
juntar à manifestação dos palestinos e acompanhar in loco as dinâmicas deste confronto
em específico. Não descartamos o perigo que isso acarretava, pois o exército israelense
não faria distinção entre palestinos e não palestinos na manifestação, e uma
aproximação maior dos soldados, neste caso, não seria nada aconselhável (embora em
outras manifestações isso aconteça de modos bastante específicos). Assim, resolvemos
finalmente descer, ao passo que o colega palestino preferira ficar no apartamento.
Pensando em registrar o evento, tomei um lenço para cobrir o rosto (para proteger-me,
embora fosse praticamente ineficaz, dos efeitos das bombas de gás), um sapato de
“botinha” para não escapar dos pés, uma jaqueta “a mais”, pensando em me proteger de
eventuais balas de borracha e, não menos importante, um gravador de voz que levava
sempre junto e meu telefone celular, para gravar vídeos e tirar fotos.
Quando descemos, nos juntamos a um grupo que havia ateado fogo em uma
lixeira. Descemos um pouco a rua em que estávamos, mas a proximidade com os
soldados nos fez voltar. Fomos para a rua paralela, e lá outras pessoas haviam colocados
fogo em pneus, bloqueando a rua, enquanto também atiravam pedras contra os soldados,
que respondiam com as bombas de gás e balas de borracha. Tirei algumas fotos, embora
alguns palestinos tivessem pedido para que não mostrasse seus rostos (imagem 1).
Imagem 1 – Confronto com o exército israelense em Birzeit, Cisjordânia.
Após, voltando em direção ao local em que estávamos antes, pudemos observar
um bulldozer (retroescavadeira) se direcionando para a casa que havia sido circunda.
Este, então, logo começou a, com a pá, destruir parte da casa. Mais tarde, após a retirada
10
do exército, com a casa parcialmente destruída, soubemos que as forças militares
israelenses estariam lá para prender dois residentes da citada casa. Um se entregara e foi
preso. O outro teria dito que não se entregaria, e que só sairia da casa “martirizado”
(morto em função do confronto), e fora morto pelo exército.
Este evento violento, embora bastante intenso, também não deixa de apresentar,
em suas dinâmicas, alguns tipos de “suspensão da tensão”, com momentos inclusive de
risadas e ironias. Enquanto nossos conhecidos palestinos estava mais à frente, inclusive
usando máscaras de gás, nós um pouco mais “ao meio”, acompanhávamos a
movimentação espacial da manifestação, que avançava e recuava, de acordo com as
investidas dos soldados. Em dado momento, um grupo de crianças (entre 7 a 12 anos,
estimo) nos “cercou”, perguntando, em inglês, de onde éramos. Fui o primeiro a
responder, “Brasil”, ao passo que as crianças, em alvoroço, sorriram e começaram a
gritar, em tom de “brincadeira”, os nomes “Neymar… Ronaldinho!!”. Meu colega, ao
responder “França”, foi respondido com murmúrios, algo como “hã.. ok...”. Neste
momento de suspensão da tensão, o exército inicia mais uma investida com balas de
borracha e bombas de gás. Nisto uma das crianças, que continuam nos circundando, me
puxa pela manga da jaqueta e grita, em um tom de “brincadeira séria”; “run, Neymar!!
run, run!!”, nos pedindo para correr.
Todavia, o evento bastante violento e a morte do palestino em Birzeit
instauraram um “clima” bastante pesado na cidade pelo resto do dia e nos que se
seguiram. No dia seguinte, uma “retalhação” popular fora organizada no checkpoint
mais próximo. Desta vez, me dirigi para lá com alguns amigos palestinos e uma amiga
francesa, com quem permaneci por quase todo o tempo. Desta vez não levei câmeras ou
gravador, pois fui alertado de que a manifestação ali não permitiria “espaço” para isso
(embora eu pudesse ter me mantido distante). Permanecemos no alto de um pequeno
morro, à frente do checkpoint que ficava em sua base. Em dado momento resolvemos
descer até um monumento, uma placa de pedra que ficava há poucos metros de onde os
soldados estavam. Meus colegas resolveram seguir, ao passo que eu, um pouco antes de
alcançar a placa, resolvi voltar. Em verdade, fiquei com medo de que algo pudesse
acontecer, dada a proximidade que estávamos e a intensidade da manifestação. Voltei
sozinho, mas pensando naquele momento no que seria mais perigoso. Ter ido junto mas
em grupo, ou voltar sozinho mas exposto. A vontade de “travar” foi grande, mas minha
intenção de acompanhar os eventos o mais “próximo” possível a superava, fazendo com
que eu continuasse meu trajeto de volta ao alto do morro.
11
Ao final, quando minha colega voltou após uma investida do exército,
resolvemos que seria melhor voltar para casa, e pedimos carona para um dos carros que
estava estacionado próximo a nós. Ao perguntar para o motorista se nos levaria embora,
ele responde, “claro, Rafael”. Ele sabia meu nome, mas eu tampouco lembrava de seu
rosto. Fui acometido por uma série de pensamentos, mas ao chegarmos, descobri que
era um frequentador e amigo dos donos de um bristrô, em Birzeit, que eu costumava
frequentar. A afetação (FAVRET-SAADA, 2005) a que fui acometido nesta
circunstância, em meu entendimento, produz um tipo de “alerta”, uma sensação de vigia
que, em certa medida, se relaciona a um tipo de paranoia momentânea que, diferente
dos palestinos com quem me relacionei, acionava em mim uma certa “vigilância” sobre
o inesperado, ao passo que tentava compreender as dinâmicas dos eventos violentos e
sua relação com o contexto da realidade social local.
A queda em Bil’in
Todas as sextas-feiras, em uma pequena vila chamada Bil’in, acontece uma
manifestação contra a construção de um muro e a instalação de uma colônica israelense
no perímetro da vila. Nas vezes em que acompanhei o evento (estes, programados), saí
do centro de Ramallah (um dos maiores centros urbanos na Cisjordânia) em uma vã (as
chamadas services), para me encontrar com o grupo organizador da manifestação em
sua sede. De lá, o grupo que participou das manifestações rumou para a frente de um
portão, no muro, por onde passam jeeps e soldados do exército israelense. Nestas
manifestações, o grupo de palestinos e apoiadores (a presença de “ativistas” estrangeiros
é frequente) entoa palavras de ordem como “one, two, three, four, occupation no more!”,
ou “from the river to the sea, Palestine will be free!”. Embora algumas pedras sejam
lançadas na direção de dentro do muro (a área entendida como reservada ao
assentamento israelense) e, algumas vezes contra os soldados que se posicionam em
cima do muro, as manifestações são “pacíficas”, como dizem os palestinos
organizadores presentes. No entanto, após um certo tempo, a resposta do exército
israelense à manifestação começa, com o uso de balas de borracha, bombas de gás e,
não raro, munição letal (embora não tenha presenciado, as narrativas apontam para esses
usos, além de que cartuchos de fuzil M16, usados pelos soldados israelenses, podem ser
encontrados pelo chão no local).
12
Foi em um uma destas manifestações que, certamente de maneira equivocada,
pensando compreender minimamente as dinâmicas do evento (em um sentido ritual,
como apontado por Peirano), me dirigi para a frente do portão, bastante próximo dos
soldados, com um grupo relativamente pequeno de outras pessoas que, embora
estivessem próximas umas das outras, não formavam efetivamente um “grupo”. Como a
resposta do exército começava, geralmente, com apenas algumas bombas de gás “aqui e
ali”, calculei, mal, que poderia ficar mais alguns minutos antes de me afastar para um
local mais seguro. No entanto, meu erro ao desconsiderar as dinâmicas dos eventos,
inclusive entre um e outro, fez com que eu estivesse em uma posição ruim no início da
investida mais “forte”. De súbito me vi em meio às bombas de gás que, neste momento,
são atiradas em grandes quantidades (por vezes 10 a 15 ao mesmo tempo). Na ânsia de
correr para longe do local, e com a respiração bastante comprometida pelo efeito da
concentração do gás, tropecei em uma das pedras do chão e caí, rende a uma cerca de
arames farpados, sem deixar de, em vão, tentar me agarrar em uma outra pessoa que
tentava correr também. Quando consegui me levantar e me afastar, bastante tonto, vi
que meu braço esquerdo e mão estavam ensanguentados, devido aos ferimentos que tive
em função da queda.
Um episódio um tanto inusitado aconteceu neste momento. Enquanto recuperava
meu fôlego, em sentindo uma sensação de desmaio iminente, um casal também
estrangeiro se aproxima e pergunta se estou bem. Ao responder que “mais ou menos”,
sua primeira reação foi perguntar, “podemos tirar uma foto de seus machucados?”.
Titubeei por um instante, mas respondi que sim e, pedindo um favor, lhes entreguei meu
próprio celular para que eu também tivesse algum registro. Pouco tempo depois um
grupo de crianças palestinas se aproxima de mim, e falando algumas palavras em inglês,
repetem “ambulance?”. Respondi que sim, que me levasse até a ambulância, pois não
estava me sentindo bem. Ao chegar na ambulância percebi que a manifestação se
movera espacialmente, para esta direção (a manifestação pode mudar de espaço em
função do vento, como coloco a seguir). O adolescente que estava do lado de dentro, na
poltrona do passageiro, disse que eu entrasse, mas neste exato momento, bombas de gás
estavam sendo atiradas naquela direção. Ele então subiu o vidro para se proteger e fez
um sinal para que eu esperasse do lado de fora. Assim que o gás baixou, ele abriu a
porta da ambulância para que eu esperasse, do lado de dentro, o enfermeiro, que estava
entre os manifestantes. Quando este voltou, fez os curativos e afirmou que ficaria tudo
bem, e que eu não precisaria de cuidados maiores. Ao final da manifestação, enquanto
13
esperava meu grupo para ir embora, encontrei um fotógrafo palestino, que trabalha com
registros em imagens das manifestações, e com quem tive uma boa relação. Ao ver meu
braço com generosos curativos, pediu, também, para tirar algumas fotos, antes do
almoço que me oferecera em sua casa.
Meu caso, embora algo dramático, não fica a par dos casos apontados nas
narrativas locais acerca de acidentes e mesmo mortes nestas manifestações. O fato de eu
ter me machucado, neste sentido, também serviu como um disparador de narrativas, de
histórias acerca dos casos que aconteceram com quem as narrava e com terceiros. Desta
forma, entendo estes eventos violentos, ou riots, não apenas pelo prisma de uma análise
enquanto ritual, mas também como um espaço privilegiado para observação de
dinâmicas imbricadas com a realidade social local.
Conclusão
A direção do vento: os “ensinamentos” de Qaram
Um dia após a manifestação em Bil’in, houve uma pequena festa no apartamento
onde residiam outros alunos estrangeiros do curso da universidade de Birzeit. Entre os
presentes estava Qaram, um palestino que se enturmara com os estrangeiros, e
frequentemente estava nas manifestações e confrontos. Embora não tenha sido o único,
suas “dicas” se tornaram centrais em minhas breves reflexões acerca da metodologia a
partir destes eventos. Para ele, meu problema com o “timing” equivocado não seria o
principal fator a se considerar, sobre meus machucados, mas sim, o que para ele é
fundamental, saber a direção do vento. Como explicou, quando se sabe a direção do
vento, e suas possíveis mudanças, é possível desviar a fumaça das bombas para o lado
oposto, e é por esta razão que, como no caso de Bil’in, a manifestação se “move”
espacialmente. Neste sentido, mesmo que eu tivesse me equivocado com o tempo,
poderia ter observado outros fatores que me ajudariam a sair daquela situação sem mais
problemas.
Desta forma, coloco que, para o caso das manifestações da Palestina, ou, se ouso
arriscar, quaisquer outros eventos violentos em locais com os quais o etnógrafo não está
suficientemente familiarizado, as metodologias tomadas como “padrão” da pesquisa
etnográfica, devem ser consideradas de maneira especial. Não me refiro com isso
apenas à segurança de quem esta nestas manifestações, mas sim atento ao fato de que é
14
preciso observar estas dinâmicas em suas especificidades. A exemplo do último relato
etnográfico, fatores como o conhecimento do solo, observação do tempo e do clima,
direção do vento, timing, conhecimento dos armamentos, entre outros, constituem,
segundo os interlocutores com quem me relacionei, o repertório necessário para a
presença em eventos violentos, manifestações, entre outros.
Além do que, as anotações, ao menos para mim, sempre aconteciam a posteriori,
muito embora fizesse registros em vídeo, áudio e imagens. Mas, durante os eventos, não
há exatamente espaço e tampouco tempo para entrevistas, anotações em caderno,
observações mais aguçadas de certos “detalhes”, entre outros.
Neste sentido, ao menos no meu entendimento, reforço que uma observação de
cunho etnográfico, consciente e proposital, se torna momentaneamente “suspensa” no
decorrer dos eventos violentos, pois a primazia da observação enquanto pesquisador dá
lugar a um sentimento de “alerta” em função do momento de violência em que esta se
insere. Isto faz com que o olhar etnográfico precise ser acionado mais a partir da
memória posterior ao evento do que em anotações, registros em áudio e imagem ou
tomadas de narrativas. Da mesma forma, outros fatores como os que chamei
anteriormente de “suspensão da tensão” se fazem presentes, onde, em meio à agitação
inerente às manifestações, podem surgir piadas, comentários, risadas e o acionamento
de “ações solidárias”.
De todo modo, e de maneira conclusoria, entendo que uma metodologia de
pesquisa etnográfica, em um contexto de violência como o da Palestina, onde eventos
violentos estão imbricados, demanda um acesso aos repertórios descritos localmente
como necessários para o acompanhamento dos eventos, ou mesmo necessários para a
própria entrada em campo (como nas cartilhas acerca do aeroporto). Repertórios estes
que, além de ocasionalmente mudarem de acordo com o contexto e localidade, não são
comumente abordados nos laboratórios ou manuais de etnografia.
15
Referências bibliográficas:
-AL-MALKI, Majdi. Researching in an Unsuitable Environment: The Palestinian Case.
In Critical Research in the Social Sciences: A Transdisciplinary East-West Handbook.
Ibrahim Abu-Lughod Institute of International Studies . Birzeit University , 2011
-ALCADIPANI, Rafael. Violência e masculinidade nas relações de trabalho: imagens do
campo em pesquisa etnográfica. CADERNOS EBAPE. BR, v. 8 , no 1 , artigo 6 , Rio de
Janeiro, Mar. Mar . 2010
-DAS, Veena. FRONTEIRAS, VIOLÊNCIA E O TRABALHO DO TEMPO: alguns
temas wittgensteinianos. RBCS Vol. 14 n o 40 junho/99. Conferência proferida no XXII
Encontro Anual da Anpocs, 27-31 de outubro de 1998, Caxambu, MG.
-FAVRET-SAADA, Jeanne. “Ser afetado”. (1990) Cadernos de Campo, vol. 13, n. 13,
2005.
-HOWEL, Mark. What Did We Do to Deserve This? Palestinian Life under Occupation
in the West Bank. Garnet Publishing Limited, UK, 2007.
-JIMÉNEZ-OCAMPO, Sandro. Etnografía y crisis: algunos debates y una práctica de
investigación en contextos de violencia. Em: Nómadas. No 29, Universidad Central,
Colombia, 2008.
-MACAGNO, Lorenzo. Etnografia e violência no país do apartheid: dois relatos sobre
África do Sul. História: Questões & Debates, Curitiba, volume 62, n.1, p. 133-162,
jan./jun. 2015. Editora UFPR
-PEIRANO, Mariza. A análise antropológica de rituais. Série Antropologia, Brasília,
2000.
-SANJURJO, Liliana; FELTRAN, Gabriel. Sobre Lutos e Lutas: violência de estado,
humanidade e morte em dois contextos etnográficos. Deslocamentos / artigos, 2015.
-Palestinian Centre For Human Rights. Visita ao site: http://pchrgaza.org/en/?p=4680
Visita em: 07/06/2016.
16