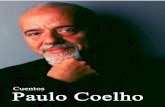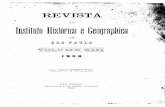PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC-SP
Públio Carlos de Azevedo
ENCARCERADOS DA FÉ:
Afinidades entre a discursividade doutrinal da CCB e o “proceder” do PCC
Doutorado em Ciência da Religião
São Paulo
2021
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC-SP
Públio Carlos de Azevedo
ENCARCERADOS DA FÉ:
Afinidades entre a discursividade doutrinal da CCB e o “proceder” do PCC
Doutorado em Ciência da Religião
Tese apresentada à Banca Examinadora da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
como exigência parcial para obtenção do título de
Doutor em Ciência da Religião, área de
concentração: Estudos Empíricos da Religião, sob a
orientação do Prof. Dr. Edin Sued Abumanssur.
São Paulo
2021
Sistemas de Bibliotecas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo -
Ficha Catalográfica com dados fornecidos pelo autor
A994
Azevedo, Públio Carlos
ENCARCERADOS DA FÉ - AFINIDADES ENTRE A
DISCURSIVIDADE DOUTRINAL DA CCB E O “PROCEDER” DO
PCC. / Públio Carlos Azevedo. -- São Paulo: [s.n.],
2021.
p. il. ; cm.
Orientador: Edin Sued Abumanssur. Tese
(Doutorado)-- Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, (Mestrado Profissional) -- Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, Programa de
Estudos Pós-Graduados em Ciência da Religião.
1. Capelania Prisional. 2. PCC. 3. Congregação
Cristã no Brasil. 4. Menor Infrator. I. Abumanssur,
Edin Sued. II. Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, Programa de Estudos Pós-Graduados em
Ciência da Religião. III. Título.
CDD
Autorizo exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou
parcial desta Tese de Doutorado por processos de fotocopiadoras ou eletrônicos.
Assinatura _________________________________________________
Data ________________
E-mail _________________________________________________________
Banca Examinadora
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
DEDICATÓRIA
Dedico este trabalho a todos capelães cristãos
evangélicos que repartem amor, graça e
compaixão a menores infratores e adultos
encarcerados, levando fé e esperança aos
ambientes carcerários do Brasil.
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior - Brasil (CAPES - PROSUC), número do processo 88887.199030/2018-00.
AGRADECIMENTOS
A gratidão não é uma virtude da pessoa feliz, antes, é a virtude que faz a pessoa grata
feliz. Gratidão não é a resposta de quem encontrou a felicidade nos poucos fortúnios que a vida
nos dá, antes, é o caminho em felicidade que nos permite viver, apesar dos tantos infortúnios
que a vida nos apresenta.
Ser grato não tem relação com o que se recebe, se tem ou se conquista na jornada da
vida, seria muito pequeno, gratidão é atitude, padrão e estilo de vida de quem reconhece a beleza
e o valor precioso, inegável, inegociável e intransferível de cada segundo de existência sua e
do outro. É o valorizar, perceber, se alegrar e se permitir viver com o outro, reconhecendo no
outro a imagem e semelhança do criador em suas diversas e múltiplas cores, aromas, sabores,
idiomas e características que nos diferem e nos completam em plenitude de vida.
No desejo mais sincero de cumprir o preceito bíblico cristão indicado pelo apóstolo
Paulo em sua carta aos tessalonicenses de “em Tudo dar graças” me faz feliz, me realiza e me
faz vivo demonstrar minha gratidão ao Deus Eterno, criador de todas as coisas, pelo que Ele é
em minha vida, muito antes e além do que Ele fez, faz ou possa fazer em ou por mim.
Sou grato Àquele que tudo fez, tudo formou em perfeição e formosura e tudo colocou
à disposição para O vermos e O descobrirmos, tanto na leitura, estudos e pesquisas, sejam
eruditas, científicas e/ou acadêmicas, nas bibliotecas e universidades, quanto na simplicidade,
singeleza e sinceridade de um sorriso de uma criança num parque em um dia livre e ensolarado.
Agradeço ao meu orientador, Edin Sued Abumanssur, que deu atenção à minha
experiência pessoal e incômodo existencial, indicou os caminhos possíveis e transformou em
Tese científica as inquietações pastorais dos cárceres, escolas, hospitais e cemitérios.
Agradeço ao Grupo de Estudos Protestantismo e Pentecostalismo (GEPP), além da
amizade, companheirismo de gente séria e comprometida em suas áreas, as leituras em Foucault
no ano de 2019 foram providenciais para costurar os pontos em aberto que a pesquisa tinha.
Agradeço ao corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião
(PPGCRE) da PUC-SP, em especial aos professores que compuseram minha trajetória entre
2018 e 2021, os doutores: Everton de Oliveira Maraldi, Ênio José da Costa Brito, Frank Usarski,
Maria José F. Rosado-Nunes, pelo acolhimento, pelo fomentar do pensamento crítico,
conduções harmoniosas de aulas em tempos bélicos e polarizados e indicações preciosas de
leitura, menção especial ao ilustre professor Dr. Wagner Lopes Sanchez pelas portas sempre
abertas, vivências no campo religioso, pelos bate-papos informais nos corredores, cafés e
almoços que foram construindo o arcabouço necessário para a escrita da pesquisa.
Agradeço aos professores doutores que qualificaram minha pesquisa, Marcel Mendes
e Vagner Marques, pela leitura e apontamentos críticos, pelo indicar de caminhos, sugestões
precisas, paciência e incentivo, agradeço ainda aos professores amigos que participaram
criticamente da leitura e escrita do texto, Dr. Magno Paganelli, Dr. Wasley Gonçalves e a amiga
professora Rachel Duque Estrada Amate.
Muitos outros mestres e doutores da lousa e da vida compõem a minha caminhada
acadêmica e ministerial, e, mesmo correndo o risco de esquecer alguns, quero registrar os
nomes e a minha gratidão aos doutores João Baptista Borges Pereira, Irland de Azevedo,
Gedeon Alencar, Emmanuel Athayde, Mariú Lopes, Carlos Antonio Carneiro Barbosa, aos
professores, mestres e pastores Ezequias Costa, Durvalina Bezerra, Itamir Neves, Luiz Sayão,
Samuel de Souza Ribeiro Filho, Mario Jorge Castelani, Mabel Garcia, Enedir Pessoa, Jair
Marcel, André Santana e Rock Mariano. Refletir a vida e tentar melhorá-la com vocês é um
sonho agradável e se torna um desafio possível.
Aos “filhos da PUC”, Carlos, Celeste, Cleberson, Gina, Juliana, Robert e Sergio Balin,
minha gratidão a vocês, amigos de classe da turma doutorando em CRE, pelo convívio, trocas,
brincadeiras, incentivos e amizade que em tempos de distanciamento social, pandemia, fobias
e cansaço tornaram possível o concluir desta pós-graduação.
Impossível conduzir os estudos sem o suporte financeiro, emocional e espiritual das
turmas mais que queridas dos: Colégio Batista da Penha e do Seminário Betel Brasileiro;
profissionais da secretaria, coordenação, manutenção, limpeza, cozinha, administração e,
lógico, aos professores, parceiros de giz, lousa, e em tempos de pandemia novos “youtubers”,
sonhadores e realizadores de um mundo melhor, vocês são fantásticos.
Aos alunos de ontem e hoje, que se tornam amigos de hoje e sempre, agradeço pelas
trocas de experiências, convivência fraterna e conhecimentos múltiplos desenvolvidos.
Aos membros queridos da Igreja Batista em Parada XV de Novembro (IBPXV), onde
aprendi que servir ao próximo é uma das formas de adoração ao Eterno, minha gratidão, em
especial ao querido amigo e capelão prisional Edilson Diniz, você é um exemplo de amor e
compaixão aos encarcerados da fé, aos demais voluntários da Capelania da IBPXV que atuam
na própria Igreja, Fundação, Escolas, Hospitais, Cemitérios, Casas de Recuperação e Casas de
Atendimento Especiais, Refugiados, minha admiração, carinho e gratidão: Acácia, Marques,
Alexandre Fragoso, Ana Paula Almeida, Carlos Pires, Daniel Holanda, Débora Correa, Eleazar
Porto, Esequiel Flausino, Euda Portela, Fabio Gomes, Felipe Damasceno, Gilmar Barbosa,
Ivone Mendes, Jádi Magalhães, Júlio Canuto, Meire Desidério, Michaella Melo, Quézia Xavier,
Randerson Alves, Raquel Lima, Romulo Silva, Valdecir Nunes, Vander Marques, Wilma Melo.
A minha linda, amada e querida esposa, Andreia, agradeço por sua existência e vida
ao meu lado, amor, paixão, amizade e cumplicidade. Aos meus filhos queridos, herança do
Senhor, Amanda, Pedro e Isabela, agradeço pelo amor, amizade, incentivo e pela zueira que
torna o estresse diário suportável e mais leve. Aos meus pais, Paulo Humberto e Maria Silvia,
a meu irmão Paulinho - pastor China -, meus cunhados e sobrinhos, sogro e sogra, tios e primos,
sou grato pelo amor de cada um de vocês.
A tantos amigos e familiares que direta e indiretamente apoiam em orações, doações,
palavras de incentivo, carinho e amizade, sou grato.
AZEVEDO, P. Encarcerados da fé: AFINIDADES ENTRE A DISCURSIVIDADE
DOUTRINAL DA CCB E NO “PROCEDER” DO PCC. 231 f. Tese de Doutorado em Ciência
da Religião – Área de Concentração: Estudos Empíricos da Religião, Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, São Paulo, Ano 2021.
RESUMO
Tendo em vista o notável crescimento da população juvenil encarcerada no Brasil, como se
demonstra pelos números oficiais, e, concomitantemente, o aumento numérico dos aderentes à
fé evangélica pentecostal, a presente Tese tem como objetivo analisar o paralelo histórico e
discursivo entre ambos os crescimentos no Brasil. Como se mostra na pesquisa, o fenômeno
indicado se desenvolve na coexistência entre os campos, tendo o seu ápice percebido no recorte
histórico entre os anos de 1980 e 2010, como exposto no Censo oficial realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). No desenvolver da pesquisa, tomamos como
referencial teórico Max Weber, com sua “afinidade eletiva”, identificando dentro do constructo
histórico a estrutura íntima da ordem discursiva de ambos os campos que gera aceitação, status
de pertencimento dentro da comunidade e sentido de salvação para o menor infrator pentecostal,
e a Tese comprova que essa ordem se desenvolve e se sustenta, tanto no campo religioso
pentecostal quanto no criminal, criando nova modalidade de afinidade eletiva: a Ordem do
Discurso Religioso e a Estrutura do Discurso da Criminalidade, percebida nas relações sociais
no ambiente livre das comunidades periféricas e no fechado das casas de detenção. O menor,
como objeto central, é o ponto de intersecção entre os campos e a problematização ocorre a
partir da compreensão que esse tem diante da dialética entre o discurso doutrinal religioso e o
proceder criminal. Tal tensão é identificada pelo prisma do Capelão, voluntário na assistência
religiosa prisional na Fundação Casa, em São Paulo, que, por meio de métodos próprios da
capelania confessional cristã, desenvolve relacionamento semanal, cria ambiente seguro e
fraterno com menores infratores de fé evangélica pentecostal em cumprimento de medidas
socioeducativas, excluídos e desassistidos pela Congregação Cristã no Brasil, a CCB, umas das
maiores e mais antigas denominações pentecostais com presença histórica no país. Quanto aos
menores excluídos, eles são aceitos e apadrinhados pelo Primeiro Comando da Capital, o PCC.
Tendo como base analítica a Ordem do Discurso e a Hermenêutica do Sujeito, de Michel
Foucault, a influência discursiva da problematização será investigada através do método
comparativo do uso de linguajar e verbetes próprios desenvolvidos na convivência espacial, no
trânsito livre e na intersecção entre os campos, e evidenciada no novo habitus cultural do menor,
ordenando uma estrutura psicossocial orientada pelo medo do não pertencimento, da exclusão
social e da danação eterna, conceitos explicados no corpo da presente pesquisa. Como solução
proposta para a hipótese do problema da exclusão, abandono, desassistência e desesperança do
menor infrator pentecostal, apresenta-se a capelania cristã prisional como resposta possível e
necessária à questão do abandono.
Palavras-Chave: Menor Infrator. Capelania Prisional. Congregação Cristã no Brasil
Pentecostalismo. PCC.
AZEVEDO, P. Prisoners of the Faith: Affinities between the doctrinal discursivity of the CCB
and and the “proceder” of the PCC. 231 p. Doctoral Thesis in Science of Religion – Area of
Concentration: Empirical Studies of Religion, Pontifical Catholic University of São Paulo, São
Paulo, Year 2021.
ABSTRACT
Considering the remarkable growth of the incarcerated youth population in Brazil, as shown by
official figures and, concomitantly, the numerical growth of adherents to the Pentecostal
evangelical faith, this Thesis aims to analyze the historical and discursive parallel between both
growths in Brazil. As shown in the research, the indicated phenomenon develops in the
coexistence between fields, having its apex seen in the historical cut between 1980 and 2010,
as demonstrated in the official CENSUS carried out by the Brazilian Institute of Geography and
Statistics (IBGE). During the development of the research, we took Max Weber as a theoretical
reference, with his "elective affinity", identifying within the historical construct the intimate
structure of the discursive order of both fields that generates acceptance, status of belonging
within the community and sense of salvation, the Thesis proves that this order develops and
sustains itself in both the Pentecostal and criminal religious fields, creating a new modality of
elective affinity: the Order of Religious Discourse and the Structure of the Criminality
Discourse, perceived in social relations in the free environment of peripheral communities and
in the closed of detention houses. The juvenile as the central object is the point of intersection
between the fields, the discussion brings the understanding that this one has in front of the
dialectic between the religious doctrinal discourse and the criminal procedure, such tension is
identified through the prism of the Religious Chaplain, a volunteer in religious assistance prison
at Fundação Casa, SP., which through the methods of the Christian confessional chaplaincy
develops weekly relationships, creates a safe and fraternal environment with delinquets of the
Pentecostal evangelical faith, in compliance with socio-educational measures, excluded and
unassisted by the Christian Congregation in Brazil, the CCB, one of the largest and oldest
Pentecostal denominations with a historical presence in the country. As for excluded juveniles,
they are accepted and sponsored by the First Command of the Capital, the PCC. Based on
Michel Foucault's Order of Discourse and Hermeneutics of the Subject, the discursive influence
the discussion of the problem will be investigated through the comparative method of the use
of language and specific entries developed in spatial coexistence, in free transit and in the
intersection between fields , and, evidenced in the new cultural habitus of the juvenile, ordering
a psychosocial structure oriented by the fear of non-belonging, social exclusion and eternal
damnation, concepts explained in the body of this research. As a solution proposed for the
hypothesis of the problem of exclusion, abandonment, lack of assistance and hopelessness of
the Pentecostal delinquent, the prison religious chaplaincy is presented, as a possible and
necessary answer to the issue of abandonment.
Keywords: Delinquent. Prison Chaplaincy. Christian Congregation in Brazil Pentecostalism.
PCC
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 31
1 O CONSTRUCTO HISTÓRICO DA CCB - PARALELO E AFINIDADES
COM A CRIMINALIDADE JUVENIL ..............................................................
47
1.1 Dados sobre religião e criminalidade no Brasil ........................................ 50
1.1.1 Dados da religião: o Brasil católico .................................................... 53
1.1.2 Os dados da criminalidade: o Brasil encarcerado ............................... 59
1.2 Dados da religião: o Brasil evangélico no Censo de 2010 ...................... 61
1.3 Constructo histórico: Congregação Cristã no Brasil ............................. 65
1.3.1 Pentecostalismo e Pentecostalidade ...................................................... 67
1.3.1.1 Primeira Onda ............................................................................. 68
1.3.1.2 Segunda Onda ............................................................................. 69
1.3.2 Pentecostalismo Expansionista ............................................................. 70
1.3.3 Pentecostalismo à brasileira .................................................................. 71
1.3.3.1 Ondas brasileiras ......................................................................... 73
1.3.3.2 Terceira Onda .............................................................................. 74
1.3.4 Congregação Cristã no Brasil: Início e Estabelecimento .................... 74
1.3.5 Congregação Cristã no Brasil: Exclusivismo e Danação Eterna ........ 94
1.3.6 Congregação Cristã no Brasil: Ausência na Assistência Religiosa ...... 103
2 O CONSTRUCTO HISTÓRICO DA MARGINALIZAÇÃO DO MENOR –
PARALELO E AFINIDADES COM A ASSISTÊNCIA RELIGIOSA ....
107
2.1 O menor e o infrator na história do Brasil ............................................... 109
2.1.1 (1726) Menores na Roda ....................................................................... 112
2.1.2 (1830) Casa para Menores .................................................................... 114
2.1.3 (1871) Ventre Livre Sim, o Menor Não ................................................ 119
2.1.4 (1875) O Menor Reformado ................................................................. 122
2.1.5 (1890 a 1930) Velha República, Velhas respostas ................................ 124
2.1.5.1 (1926) O Menino Bernardino ...................................................... 132
2.1.6 (1930-1945) O Menor na Era Vargas ................................................... 141
2.1.6.1 (1940) Decreto Federal nº 2.204 – Departamento Nacional da
Criança (DNCr)................................................................
143
2.1.6.2 (1941) Serviço Nacional de Assistência a Menores (SAM) ....... 143
2.1.6.3 (1942) Legião Brasileira de Assistência (LBA) .......................... 143
2.2 (1964 a 1985) O Regime Militar ................................................................. 144
2.2.1 (1964) O Menor e a Segurança Nacional .............................................. 145
2.2.2 (1964) Decreto Federal 4.513 – FUBABEM ........................................ 147
2.2.3 (1973) Decreto Estadual nº 185 – FEBEM – parte 1 ............................ 148
2.2.4 (1976) Projeto de Resolução da Câmara (PRC) 81 CPIMEN – CPI do
Menor ........................................................................................
150
2.2.5 (1979) 2º Código de Menores ............................................................... 154
2.2.6 (1985 a 2006) FEBEM – 2ª Parte e Fim ............................................... 156
2.3 Marginalização do menor: situação e discurso ........................................ 161
3 A ORDEM E A AFINIDADE ELETIVA NO DISCURSO DOUTRINÁRIO
DA CCB E NO PROCEDER CRIMINAL .......................................................... 165
3.1 A ordem do discurso ................................................................................... 171
3.2 Afinidade eletiva entre os discursos .......................................................... 182
3.3 Discurso pentecostal ................................................................................... 184
3.4 Discurso criminal ........................................................................................ 190
3.4.1 O PCC ................................................................................................... 194
3.4.2 O Proceder ............................................................................................. 200
3.5 Léxico Criminal ........................................................................................... 205
3.6 Léxico Pentecostal ....................................................................................... 208
3.7 Léxico CCB .................................................................................................. 211
3.8 Afinidade entre os campos ......................................................................... 213
4 O CONSTRUCTO HISTÓRICO DA CAPELANIA E A ASSISTENCIA
PRISIONAL EVANGELICA AO MENOR INFRATOR PENTECOSTAL ....
217
4.1 Secularização ............................................................................................... 218
4.2 Pluralismo .................................................................................................... 221
4.3 A Constituição: Constructo histórico da Assistência Religiosa ............ 222
4.4 Capelanias .................................................................................................... 229
4.4.1 Capelania Militar ................................................................................... 231
4.4.2 Capelania Hospitalar ............................................................................. 235
4.4.3 Capelania Escolar .................................................................................. 239
4.4.4 Capelania Prisional ................................................................................ 242
CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 257
REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 263
ANEXOS ..................................................................................................................... 275
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Quadros
Quadro 1 – População brasileira – 1776/1869 ...................................................... 52
Quadro 2 – CENSO 1991 – Grupo de Religiões ................................................... 59
Quadro 3 – Resumo Comparativo Religiões Cristã – Censo 2010 ....................... 62
Quadro 4 – Luigi Francescon – Parte 1 ................................................................. 76
Quadro 5 – Luigi Francescon – Parte 2 ................................................................. 80
Quadro 6 – Viagens em Missão Pentecostal ......................................................... 84
Quadro 7 – Luigi Francescon – Parte 3 ................................................................. 84
Quadro 8 – Principais Igrejas Pentecostais no século XX .................................... 87
Quadro 9 – Viagens de Luigi Francescon ao Brasil .............................................. 88
Quadro 10 – Luigi Francescon – Parte 4 ................................................................. 92
Quadro 11 – Linha do Tempo da Imputabilidade Penal ......................................... 140
Quadro 12 – Andamento da CPI Menor ................................................................. 153
Quadro 13 – Linha do Tempo PCC – Do interior de SP para o Mundo ................. 195
Quadro 14 – Verbetes do crime .............................................................................. 206
Quadro 15 – Verbetes pentecostais ......................................................................... 209
Quadro 16 – Verbetes específicos da CCB ............................................................. 212
Quadro 17 – Contribuições financeiras ................................................................... 213
Quadro 18 – Postura de membros ........................................................................... 214
Quadro 19 – Relacionamento entre membros ......................................................... 214
Quadro 20 – Disciplina aos membros ..................................................................... 215
Quadro 21 – Centralidade e comando ..................................................................... 215
Quadro 22 – Resumo histórico sobre a Espiritualidade como saúde primária ....... 236
Quadro 23 – Resumo Histórico da Capelania Prisional Evangélica ....................... 249
Quadro 24 – Instituições de Assistência ao Menor ................................................. 250
Figuras
Figura 1 – Assistência Religiosa Prisional – RJ 2002 ......................................... 104
Figura 2 – Adjetivos para crianças indesejadas ................................................... 110
Figura 3 – Roda dos enjeitados ............................................................................ 113
Figura 4 – Terras Quilombolas em processo de Titulação .................................. 117
Figura 5 – Capa do Código Criminal ................................................................... 118
Figura 6 – Projeto Arquitetônico da Casa de Correção da Corte ........................ 119
Figura 7 – Capa do Decreto 847 – Constituição de 1890 .................................... 125
Figura 8 – Jornal do Brasil .................................................................................. 132
Figura 9 – Os pequenos na prisão ........................................................................ 133
Figura 10 – Incentivo à repressão .......................................................................... 133
Figura 11 – Caso Bernardino ................................................................................. 134
Figura 12 – Jornal do Brasil, 1926 ........................................................................ 135
Figura 13 – Crianças presas ................................................................................... 137
Figura 14 – Parecer CPIMEN ................................................................................ 152
Figura 15 – Resolução do problema de Menores .................................................. 157
Figura 16 – FEBEM nos noticiários ...................................................................... 159
Figura 17 – FEBEM chega ao fim ......................................................................... 161
Figura 18 – O local do púlpito nas igrejas evangélicas ......................................... 185
Figura 19 – O local do púlpito nas igrejas evangélicas 2 ...................................... 185
Figura 20 – O Local do púlpito na CCB ................................................................ 186
Figura 21 – Mega Rebelião 2006 .......................................................................... 197
Figura 22 – Capelães Religiosos nas unidades penais do RJ ................................ 243
LISTA DE TABELAS OU GRÁFICOS
Tabela 1 – População infantojuvenil .................................................................. 54
Tabela 2 – Números absolutos de crescimento populacional ............................ 55
Tabela 3 – População Encarcerada na década de 80 .......................................... 56
Tabela 4 – Percentual infantojuvenil .................................................................. 57
Tabela 5 – Crescimento da População Carcerária Juvenil ................................. 57
Tabela 6 – População carcerária no recorte da pesquisa .................................... 60
Tabela 7 – Correlação crescimento pentecostal e menor infrator ...................... 61
Tabela 8 – Crescimento da população evangélica ............................................. 64
Tabela 9 – Crescimento entre os Cristãos – 1980 a 2010 .................................. 65
Tabela 10 – O Pentecostalismo Brasileiro do século XXI ................................... 67
Tabela 11 – População Infanto-Juvenil durante Regime Militar ......................... 150
Tabela 12 – As Dez Maiores Igrejas Evangélicas – 1991 – 2000 – 2010 ............ 187
Tabela 13 – Aumento da população carcerária 194
Gráfico 1 – Comparação de crescimento interno ................................................ 60
Gráfico 2 – Comparativo principais religiões no Brasil ...................................... 66
Gráfico 3 – População Infanto-Juvenil ................................................................ 147
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
AD Igreja Assembleia de Deus
CCB Igreja Congregação Cristã no Brasil
IARC Igreja Apostólica Renascer em Cristo
IEQ Igreja do Evangelho Quadrangular
IIGD Igreja Internacional da Graça de Deus
IPDA Igreja Pentecostal Deus é Amor
IURD Igreja Universal do Reino de Deus
OBPC Igreja O Brasil Para Cristo
SNT Igreja Sara Nossa Terra
AA Almeida Atualizada
ACC Assembleia Cristã de Chicago
ACF Almeida Corrigida Fiel
AD Análise do Discurso
ADIs Assembleias de Deus Independentes
AD's Assembleias de Deus
AEPS Assessoria Especial de Política Socioeducativa
AI's Ato Institucional
AMA Associação Médica Mundial
ARENA Aliança Renovadora Nacional
BEP Bíblia de Estudos Pentecostais
CCB Congregação Cristã no Brasil
CGT Confederação Geral dos Trabalhadores
CMC Conselho Médico Cristão
CNSS Conselho Nacional de Serviço Social
CP Condições de Produção
CPAD Casa Publicadora das Assembleias de Deus
CPI Comissão Parlamentar de Inquérito
CPIMEN CPI do Menor
CPP Prisão Provisória de Curitiba
CUT Central Única dos Trabalhadores
CV Comando Vermelho
DEIC Departamento Estadual de Investigações Criminais
DEPEN Departamento Penitenciário
DIAS Divisão de Assistência Social
DNCr Departamento Nacional da Criança
DPI Doutrina de Proteção Integral
DSI Doutrina de Situação Irregular
DSP Departamento de Sistema Penitenciário
EBD Escola Bíblica Dominical
ECA Estatuto da Criança e do Adolescente
FD Formação Discursiva
FEBEM Fundação para o Bem-Estar do Menor de São Paulo
FUNABEM Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor
Fundação CASA Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente
GEPP Grupo de Estudos Protestantismo Pentecostalismo
HABI Habitação Popular
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas
IHGB Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
IPI Igreja Presbiteriana Italiana
IRD Índice de Religiosidade de Duke
ISER Instituto de Estudos da Religião
JMN Junta de Missões Nacionais
KG Quartel General
LBA Legião Brasileira de Assistência
MC's Mestres de Cerimônia
MDB Movimento Democrático Brasileiro
MTV Music Television
NAA Nova Almeida e Atualizada
NVT Nova Versão Transformadora
OMS Organização Mundial da Saúde
PAR Programa de Assistência Religiosa
PCC Primeiro Comando da Capital
PCE Penitenciária Central
PDS Partido da Democracia Social
PIPI Primeira Igreja Presbiteriana Italiana
PJL (PCC) Paz, Justiça e Liberdade
PNBEM Política Nacional do Bem-Estar do Menor
PPC Prisão Provisória de Curitiba
PPGCRE Programa de Pós Graduação em Ciência da Religião
PRO-MENOR Fundação Paulista de Promoção Social ao Menor
PTB Partido Trabalhista Brasileiro
PUC Pontifícia Universidade Católica
RDD Regime Disciplinar Diferenciado
ROTA Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar
RPMs Recolhimento Provisório de Menores
SAM Serviço Nacional de Assistência a Menores
SBB Sociedade Bíblica do Brasil
SEAP Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
SEHAB Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano
SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SERES Secretaria de Ressocialização
SINASE Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
UAI Unidade de Atendimento Inicial
UDN União Democrática Nacional
UNE União Nacional dos Estudantes
UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
UNESP Universidade Estadual Paulista
VEP Vara de Execuções Penais
VMB Video Music Brasil
W2 Complexo Presidente Venscelau II
31
INTRODUÇÃO
Observa-se no Brasil, na virada do século XX para o século XXI, o crescimento
demográfico expressivo na população carcerária juvenil e, em paralelo, significativo aumento
da população evangélica pentecostal. Tal crescimento em concomitância percebido em ambos
os campos é ratificado nos números registrados oficialmente pelo IBGE nos quatro últimos
Censos divulgados: 1980, 1991, 2000 e 2010.
No campo criminal juvenil, discussões acerca do fenômeno concentraram-se na
questão da maioridade penal, ocupando o centro das atenções desde o Brasil Colônia até a
promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990) –, limitando-se a questionar qual a idade para culpabilização e detenção do menor. Diante
do aumento da criminalidade e o envolvimento cada vez mais prematuro dos menores nesta, a
resposta dada pelo Império, Monarquia, República e depois Estado era a detenção, prisão e
exclusão social da criança e do adolescente, não tratando o problema no todo e criando um
estereótipo para o termo menor.
A ausência de informações sociais, econômicas, educacionais, sanitárias e religiosas
da infância, somadas à ideia de que a criminalidade e a violência juvenil eram originárias de
nascimentos indesejados, raças misturadas e da condição social desses menores infratores,
restringia as pesquisas dos Censos oficiais à apresentação de um número final de prisões e nada
mais.
Os dados oficiais sobre a população carcerária careciam de transparência e amplitude
para real análise do problema, e o incômodo grito das ruas e das cadeias que esteve sufocado
em um período de censura se torna audível a partir da redemocratização, em que o Censo de
1991 registra um aumento de 596% quando comparado ao último Censo no período militar, de
1980, que, em números absolutos, sai de 16.425 para 114.300 presos no Brasil.
O aprisionamento de criminosos e infratores como a única política de segurança
pública provou-se insuficiente, o aumento da população carcerária teve seu ápice no recorte de
trinta anos na virada do século XX para o século XXI, quando atingiu 2921%, números que
refletiam um problema social, contudo, nas últimas pesquisas do século XX (1980 e 1991),
ainda não havia dados específicos sobre a população carcerária juvenil, não permitindo análise
aprofundada nem resposta correta sobre criminalização nessa faixa etária.
Simultaneamente a esse aumento, o país passa por transformação religiosa expressiva,
registrando crescimento de 436% do grupo denominado evangélicos entre os Censos de 1980 e
2010. No entanto, as pesquisas até então não reconheciam os pentecostais de maneira distinta,
32
e somente em de 1991 esses são classificados e identificados de maneira específica dos demais
cristãos – católicos e protestantes. Assim, dados completos sobre criminalidade juvenil e
pentecostalismo surgem apenas a partir do Censo de 2000, dois grupos de crescimento
concomitante no cenário nacional dos quais sabia-se oficialmente pouco, e o desenvolvimento
histórico que ocorre em paralelo gera um grupo “novo” não mensurado, não visto, não estudado
e até então não identificado, porém tangível e presente nas comunidades de periferia e nas casas
de retenção de menores, o grupo de menores infratores pentecostais.
O fenômeno do crescimento evangélico é percebido na diminuição da população de
confissão católica, de 99% na primeira pesquisa oficial do Brasil República de 1890, virada do
século XIX para o século XX, para 65% na primeira e, até então, única pesquisa do século XXI,
2010, no surgimento de novas denominações evangélicas, no ingresso no campo midiático, na
superação da teologia do sofrimento pela a da prosperidade, na inauguração de mega templos,
na influência no campo político, no trânsito religioso e na afinidade eletiva discursiva com o
campo criminal, tanto nas comunidades quanto no sistema carcerário.
Se o crescimento de ambos os campos ocorre em paralelo de seus constructos
históricos, a intersecção entre os distintos campos ocorre no livre trânsito espacial e no domínio
discursivo que o menor infrator pentecostal como cidadão, agente, operador e consumidor de
dois mundos tem. O constructo ideológico e cultural, o paralelo histórico e a afinidade eletiva
entre os discursos e as práticas disciplinares dentro de cada irmandade serão apontadas e
problematizadas a partir da interpretação vivencial, da hermenêutica, de um sujeito comum a
ambos os campos, o menor.
A intersecção do menor e a afinidade discursiva entre os campos pôde ser identificada
dentro do Complexo de Unidades da Vila Maria, São Paulo - SP, que agrega seis Unidades da
Fundação CASA – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente –, daqui por diante
“Fundação”, ambiente laico do Estado que nesta pesquisa servirá como referência espacial,
onde atuei na assistência religiosa voluntária como capelão prisional.
Na qualidade e no exercício da capelania religiosa voluntária o contato com histórias
de vida e fé são diversos e a relação de confiança desenvolvida na assistência emocional permite
estar próximo das pessoas em momentos de crises existenciais, situações nas quais questiona-
se não apenas o contexto social, emocional, econômico e familiar, mas também o significado
da fé professada diante das situações de perdas, dor, abandono e morte. Neste contexto, a
capelania apresenta-se como suporte e apoio ao soldado no campo de batalha, ao aluno nas
escolas, ao enfermo nos hospitais, ao preso e ao menor infrator em ambientes de reclusão social.
33
O trabalho da capelania é levar esperança, consolo, exortação e conforto para que o
indivíduo enfrente essa fase de sua vida com mais determinação, segurança e
confiança. O capelão, muitas vezes, é a única porta que ajudará a pessoa a sair
vencedora dessa batalha, sem desistir de lutar. Alguém já disse: ‘Desistir é uma
solução permanente para um problema temporário’ (SANTOS, 2008, p. 15).
No momento da assistência aos menores infratores, ao observamos especificamente a
questão religiosa, percebe-se que características de devoção, fé, esperança ou mesmo decepção,
trânsito e abandono religioso variam conforme a consciência ou compreensão da doutrina
adotada, frequência e participação na rotina religiosa de cada indivíduo. Além disso, suas
reações são pautadas em conformidade à cosmovisão do transcendental, do sobrenatural e, em
especial, do pós-morte que se deseje e se espere para si ou para seu ente querido. Ou seja, tanto
o conforto quanto o desespero existencial passam pela visão que o fiel tenha de um pós-morte
feliz (AZEVEDO, 2017a).
Uma ação determinada pelo sentido efetivamente, isto é, claramente e com plena
consciência, é na realidade apenas um caso-limite. Toda consideração histórica e
sociológica tem de ter em conta esse fato ao analisar a realidade. Mas isto não deve
impedir que a Sociologia construa conceitos mediante a classificação do possível
‘sentido subjetivo’, isto é, como se a ação, seu decorrer real, se orientasse
conscientemente por um sentido. Sempre que se trata da consideração da realidade
concreta, tem de ter em conta a distância entre esta e a construção hipotética,
averiguando a natureza e a medida desta distância (WEBER, 2009, p. 13, grifos do
autor).
A intensidade ou mesmo resposta da fé diante das diversas questões existenciais são
de fórum íntimo e profundamente subjetivas, e como capelão não cabe validar ou questionar
tais reações e respostas do fiel, contudo, não o questionamento, mas a validação se torna
possível pelo prisma do cientista da religião, como um empreendimento de fato científico e
acadêmico, como afirma Passos e Usarski (2013, p. 51):
Ciência da Religião refere-se a um empreendimento acadêmico que, sustentado por
recursos públicos, norteado por um interesse de conhecimento específico e orientado
por um conjunto de teorias específicas, dedica-se de maneira não normativa ao estudo
histórico e sistemático de religiões concretas em suas múltiplas dimensões,
manifestações e contextos socio culturais. A formulação ‘religiões concretas’ alude
ao fato de que a Ciência da Religião encontra seus objetos no mundo empírico.
O prisma do capelão como objeto formal não apenas registra o que está visível, ou
limita-se a criticar os dados estatísticos demonstrados, pois, a partir de relacionamentos com os
internos constroem-se novos sentidos, novas possibilidades de compreensão da realidade e da
fé observada, tornando a criminalidade juvenil de menores infratores de confissão religiosa
34
evangélica pentecostal um objeto material científico possível e, diante do quadro estatístico
aferido, também relevante.
A identidade religiosa é expressiva nos internos, contudo, percebe-se que existem
diferenças de composição, compreensão, frequência e relação entre a devoção pessoal, com a
instituição religiosa e com os dogmas sagrados entre os infratores que se apresentavam como
evangélicos pentecostais no momento da assistência da capelania e, a partir do relato de suas
experiências com a religião professada, identificam-se certos ressentimentos, angústias,
sensação de abandono e de não pertencimento, em especial àqueles que a instituição antes
seguida e reverenciada não presta assistência prisional.
Todavia, a percepção no contexto assistencial era insuficiente para o desenvolvimento
de um projeto científico e acadêmico, fazendo-se necessário transformar esta percepção em
dados empiricamente comprováveis.
É evidente que, por seu caráter subjetivo, dar números à fé de um indivíduo é uma
empreitada desafiadora e perigosa. Por isso, no intento de melhor compreender o papel desta fé
no constructo do menor infrator pentecostal, foi necessário identificar instrumentos seguros
para tal. Dentre os mecanismos ou instrumentos de pesquisas disponíveis o escolhido foi o IRD
– Índice de Religiosidade de Duke (DUREL).
O índice traduzido e adaptado para o contexto brasileiro descreve o envolvimento
religioso pessoal em dimensões, sendo que, de todas apresentadas, três tornam-se relevantes
para esta Tese:
1ª – Dimensão Organizacional – refere-se à identidade e fidelidade para com a
instituição, a igreja local.
A pergunta a ser respondida é: Com que frequência você vai à igreja?
2ª – Dimensão Pessoal – refere-se à identidade privada, às disciplinas espirituais
cristãs.
A pergunta a ser respondida é: Com que frequência você dedica o seu tempo a
atividades religiosas individuais, como por exemplo: orar, ler o texto bíblico, meditar?
3ª – Dimensão Existencial – refere-se ao sentido de vida e realização pessoal a partir
da fé.
A pergunta a ser respondida é: A minha maneira de viver é condizente e suportada
pelas minhas crenças religiosas?
Portanto, conclui-se que é possível relacionar sorte ou azar, sucesso ou insucesso,
benção ou maldição nas escolhas feitas e no modo de condução da própria vida a partir da
fidelidade ao discurso dogmático da religião professada.
35
Dentro do contexto de adversidades, busca-se respostas nas práticas religiosas
exercidas. O momento atual da vida, seus sucessos e fracassos são interpretados a partir da
crença religiosa vivida, contudo, na ausência do sentido existencial primário conferido na
tradição da religião professada, pode-se tomar a decisão de optar por um novo objeto orientador
da existência, mesmo que este seja concorrente e incompatível ao até então observado. Esta
possibilidade apresenta-se a partir de valores comuns e da urgência ponderada diante da
exclusão e do abandono, no caso do menor infrator pentecostal oriundo da Congregação Cristã
do Brasil – CCB – o fim que conduzia e orientava suas ações não lhe é mais possível, a
esperança de um porvir, pós-morte e eternidade num paraíso celeste lhe foi abruptamente
retirada. Há a necessidade de novo fim, o que lhe exigirá novos meios, concorrentes e
incompatíveis à vida religiosa anterior institucionalizada.
Age de maneira racional referente a fins quem orienta sua ação pelos fins, meios e
consequências secundárias, ponderando racionalmente tanto os meios em relação às
consequências secundárias, assim como os diferentes fins possíveis entre si: isto é,
quem não age nem de modo afetivo (e particularmente não emocional) nem de modo
tradicional. A decisão entre fins e consequências concorrentes e incompatíveis, por
sua vez, pode ser orientada racionalmente com referência a valores: nesse caso, a ação
só e racional com referência a fins no que se refere aos meios. Ou também o agente
sem orientação racional com referência a valores na forma de ‘mandamentos’ ou
‘exigências’, pode simplesmente aceitar os fins concorrentes e incompatíveis como
necessidade subjetivamente dadas e coloca-las numa escala segundo sua urgência
conscientemente ponderada, orientando sua ação por escala, de modo que as
necessidades possam ser satisfeitas nessa ordem estabelecida (princípio da utilidade
marginal) (WEBER, 2009, p. 17, grifo nosso).
Retornando a dimensão existencial do IRD, o ir à igreja e o pertencer a uma instituição
religiosa confere status de pertencimento, sensação de bem-estar e sentido de vida ao menor, e
isto não ocorre pela compreensão racional, teológica ou intelectual da religião professada e/ou
modo de aprendizagem, visão esta identificada por Bourdieu (2015) em análise comparativa à
resposta dada por Weber sobre o papel da mitologia como reflexo da estrutura e das relações
sociais.
Weber compreende que o ingresso e a sensação de pertencimento do indivíduo
religioso estão muito mais relacionados às operações afetivas e práticas cotidianas do que a
uma eventual compreensão racional, o que na assistência religiosa com menores infratores esta
teoria é confirmada, visto que o discurso da CCB não é suportado por conhecimento teológico,
e mesmo os menores não demonstram conhecimentos doutrinários específicos, contudo, a força
que o discurso religioso exercia conferia sentido e dava ordem à existência.
36
Neste ponto, Weber está de acordo com Marx ao afirmar que a religião cumpre uma
função de conservação da ordem social contribuindo, nos termos de sua própria
linguagem, para a ‘legitimação’ do poder dos ‘dominantes’ e para a ‘domesticação
dos dominados’ (BOURDIEU, 2015, p. 32).
O paralelo histórico aferido na simultaneidade do crescimento numérico proposto
ocorre entre campos distintos: crime e religião, todavia, esse ocorre em espaço geográfico
comum, vilas e comunidades periféricas, onde os valores e códigos próprios de cada campo
muitas vezes se entrelaçam, se confundem e se suportam em discurso próprio. Sobre este
entrelaçamento, temos no estudo de caso do professor Marques (2015) a descrição e análise do
trânsito e relações entre o campo da fé e o campo do crime, em que a afinidade nas formas do
ethos religioso da CCB se aproxima intimamente da estrutura interna do proceder criminal, o
que pode ser percebida na dialética entre o discurso do PCC e a mensagem religiosa, que neste
caso é inteligível, em especial aos pentecostais.
As igrejas evangélicas ganham relativo destaque na geografia da Vila Leste1 e na
linguagem de seus moradores; não é difícil encontrar tais igrejas nas ruas e vielas e se
deparar com uma linguagem inteligível somente aos pentecostais (MARQUES,
2015, p. 53, grifo nosso).
A força do discurso e a ordem que este mesmo dá ao menor foi ficando evidente a
partir dos encontros assistenciais da capelania prisional, bem como na conversa informal na
busca de melhor conhecer o menor, sua história e suas origens; a fé pentecostal era a realidade
da maioria daqueles internos que se diziam evangélicos.
Em relação ao contexto linguístico, fez-se necessário o desenvolvimento de um léxico
próprio introdutório, pois alguns termos ou gírias do contexto criminal precisavam ser
explicadas para o meu entendimento, e para minha surpresa, como capelão e teólogo, alguns
dos discursos religiosos também, visto que determinadas falas, gestos e expressões se repetiam
de maneira específica para os internos provindos da CCB. Este vocábulo que suporta o discurso
será apresentado em capítulo específico adiante.
Sobre a linguagem própria do crime, a influência e ordem que cumpre dentro do seu
contexto restrito, bem como a necessidade de um léxico específico para a correta interpretação,
Oliveira (2006), professora de Língua Portuguesa, em sua dissertação, descreve sua experiência
na docência a meninos infratores da Fundação para o Bem-Estar do Menor de São Paulo
1 Nome fictício criado pelo autor para bairro de seu estudo de caso, na periferia da Zona Leste da Cidade de
São Paulo.
37
(FEBEM), atual Fundação Casa, analisando as relações sociais, formações e identidades de
grupos marginais a partir de códigos linguísticos próprios.
Por ser a sociedade formada por diversos grupos, encontramos diferentes linguagens
que podem identificar cada grupo. Os grupos marginais, por exemplo, utilizam código
restrito que impede indivíduos não-iniciados de compreendê-los enquanto conversam.
O meio social em que o grupo está inserido pode ser um fato determinante para o
surgimento de diferentes códigos. [...] O grupo marginal, devido à situação de conflito
que estabelece com a sociedade, desenvolve estreitos vínculos entre seus integrantes,
verificável na maneira de comunicação específica, no conhecimento do código secreto
(OLIVEIRA, 2006, p. 24)
Ainda num universo de informalidade e conquista de confiança, surge a temática que
gerou o interesse à pesquisa quando um dos menores infratores de origem pentecostal da CCB,
em seu linguajar próprio, declara: Senhor, eu pequei. Pra mim já era! Sem entender muito a
fala do garoto, procurei explorar um pouco mais, e neste contexto percebi que havia uma reação
interpretativa do ouvinte – menor infrator – diante do discurso religioso ouvido em encontros
cultuais quando estava em liberdade.
Diante disto surge uma questão: Qual o papel do discurso religioso na vida infratora
deste garoto? Como capelão entendi que havia algo que valia à pena dar atenção, e como
cientista da religião identifiquei um tema a ser explorado.
Atuo na assistência religiosa voluntária há cerca de vinte anos, sendo que na prisional
foram dois anos de convivência semanal ininterrupta, e mais seis anos de atuação de
convivência periódica2 com internos da Fundação e também com capelães que atuam nas
assistências militar, hospitalar, escolar e prisional. Com base nestas experiências, constatei que
a questão acima confirma-se, ou seja, as ações discursivas a partir de certo local de fala exercem
força orientadora e podem motivar as ações sociais dos menores infratores, soldados, enfermos
e alunos.
A relação entre o discurso, seja ele religioso, criminoso, ideológico, político,
filosófico, entre outros, os símbolos que este produz nas relações humanas e, ainda, a influência
que pode ter na formação identitária do sujeito histórico-social percebido nas leituras de
Foucault, A ordem do Discurso, discurso célebre realizado na aula inaugural no Collège de
France, pronunciado em 02 de Dezembro de 1970, e a Hermenêutica do Sujeito, curso
ministrado entre 1981 e 1982 no referido Collège de France, clarificou o caminho e serviu de
base analítica e comparativa para esta pesquisa.
2 Estas entrevistas em formato não científico estão relacionadas à vivência pessoal do pesquisador, na
qualidade de Capelão, vivência esta que trouxe o interesse para o desenvolvimento da pesquisa e será
exemplificada no capítulo 4 desta pesquisa.
38
Através dos dados estatísticos oficiais revelados nos quatro últimos Censos nacional,
percebe-se que essa correlação torna-se mais tangível e pode-se afirmar que, no Brasil, em
paralelo ao aumento da criminalidade e de prisões, a doutrina evangélica que mais ganha espaço
na mídia, que inaugura os maiores e suntuosos prédios e detêm o maior número de seguidores
é a pentecostal3. Sobre este fato, em entrevista ao G1 (2012) o pesquisador do IBGE, Claudio
Dutra, afirmou: “No crescimento da população evangélica como um todo, os pentecostais
puxam o crescimento”.
O número de evangélicos no Brasil aumentou 61,45% em 10 anos, segundo dados do
Censo Demográfico divulgado nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Em 2000, cerca de 26,2 milhões se disseram
evangélicos, ou 15,4% da população. Em 2010, eles passaram a ser 42,3 milhões, ou
22,2% dos brasileiros. Em 1991, o percentual de evangélicos era de 9% e, em 1980,
de 6,6% (G1, 2012)4.
Dentre os pentecostais, destacamos as duas principais denominações conforme
divulgação do IBGE (2010, p. 143): as Assembleias de Deus, com 12,4 milhões de adeptos e a
CCB com 2,5 milhões.
É importante lembrar que apesar de o IBGE apresentar a Assembleia de Deus em uma
única linha, como sendo apenas uma denominação dentro do universo pentecostal, ela se
apresenta múltipla em território brasileiro, conforme Alencar (2012, p. 14):
Como o Brasil que não é apenas um, mas vários brasis; as Assembleias de Deus – Ads
(sigla no decorrer deste trabalho) também são várias. O Brasil, como unidade
federativa, é um só, mas na realidade são vários brasis. As Ads, da mesma forma, são
uma só, e, simultaneamente, várias. Muitas. São muitas as assembleias. Diversas,
distintas, plurais, contraditórias e concorrentes.
A importância de analisar a CCB, e não as Assembleias de Deus – ADs –, dá-se em
virtude de algumas especificidades no discurso doutrinário entre ambas e mesmo às demais
denominações pentecostais, tais como:
a) Perda da salvação ou pecado sem perdão;
b) Proibição em se relacionar com qualquer outra denominação evangélica, visitar ou
participar de evento, festa ou mesmo encontro familiar, como aniversários e
3 Segundo o Censo de 2010, protestantes de Missão ou históricos somam 7,6 milhões e os Pentecostais 25,3
milhões. 4 Cf. em: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/06/numero-de-evangelicos-aumenta-61-em-10-anos-aponta-
ibge.html
39
casamentos, onde haja ação religiosa, como oração, mesmo que evangélica e
pentecostal;
c) Ausência de material doutrinário, teológico ou de apoio ao estudo bíblico;
d) Não assistência religiosa a membros ou ex-membros em ambientes laicos.
Sobre esse último item inclui-se o ambiente carcerário, como no caso da capelania
prisional na Fundação, onde as ADs e outras denominações pentecostais se fazem presentes, e
a CCB não.
Diferente de outros grupos pentecostais, a CCB apresenta um discurso específico de
condenação eterna ainda em vida e impõe uma distância de relacionamento com outras
denominações evangélicas, incluindo as pentecostais, e não apresenta nenhuma alternativa de
comunhão com os seus membros, ou ex-membros, em situação de aprisionamento ou medidas
socioeducativas – o que foi percebido na fala do menor, identificado no constructo histórico da
CCB, que será apresentado no capítulo seguinte.
É importante ressalvar que dentro do recorte aqui proposto: menores infratores de
confissão evangélica, reconhece-se que não há apenas pentecostais. E ainda, dentro da relação
aqui analisada, as ações e discursos doutrinários disciplinares excludentes, não será apenas a
CCB, que utiliza tais práticas, pois citaremos outras manifestações evangélicas e suas práticas
disciplinares, quando necessário, para melhor compreensão do objeto principal.
Se o ponto de correlação inicial entre o campo pentecostal e o campo criminal será a
afinidade e simultaneidade demonstrada no crescimento numérico, a hipótese de dialética entre
o discurso religioso e criminoso será refletida na perspectiva foucaultiana da ordem do discurso
e na hermenêutica do sujeito, o menor infrator, em que:
a) A disciplina que exclui o menor da irmandade da fé, e a possibilidade da condenação
eterna;
b) A salvação que inclui o menor na irmandade do crime e a nova significação de vida;
Sobre a possibilidade de uma nova significância e realização social, Berger (2017a), a
partir do conceito de interiorização, sugere que as ações exteriores afetam a consciência e,
quando esta produção social é absorvida, determina novas estruturas, novas hierarquias, novos
conceitos, novos valores, enfim, nova consciência pessoal, deixando de ser apenas eventos
sociais externos (algo que diga respeito ao outro que difere de mim), tornando-se elementos
objetivos da própria subjetividade (diz respeito a si mesmo), em que há uma nova roupagem
social, apropriação de modelos e reconstrução de identidade.
40
A nova geração é iniciada nos sentidos da cultura, aprende a participar das suas tarefas
estabelecidas e a aceitar os papeis bem como as identidades que constituem a estrutura
social. Mas a socialização tem uma dimensão decisiva que não é adequadamente
aprendida se se fala de processo de aprendizado. O indivíduo não só aprende os
sentidos objetivados, como se identifica com eles e é modelo por eles. Atrai-os a si
fá-los seus sentidos. Torna-se não só alguém que possui esses sentidos, mas alguém
que os representa e exprime (BERGER, 2017a, p. 33, grifo nosso).
A fala do garoto ainda ressoava em meus ouvidos: Senhor, eu pequei, pra mim já era!
E no desenvolvimento do convívio assistencial pude explorar esta questão na tentativa de
melhor entender o que seria o pequei, qual mandamento em si fora quebrado, e o que de fato
ele queria dizer com a expressão já era.
Para minha surpresa, o pecado oculto na fala do sujeito adolescente não consta na lista
dos dez mandamentos. De forma simplista, ou mesmo preconceituosa, imaginei que o garoto
se referia a algum homicídio, e assim estaria se autocondenando ou se autopunindo segundo
padrões veterotestamentário pela quebra do sexto mandamento: “Não Matarás”. No entanto, o
pecado era de natureza sexual; o garoto havia engravidado uma menina fora da irmandade
religiosa.
Após entender minimamente a primeira parte da frase, sem emitir juízo ou valor
teológico, fui em busca do entendimento da segunda parte: pra mim já era, e de fato a surpresa
aumentou, visto que a conclusão da frase foi: Senhor, eu pequei, pra mim já era. Estou no
inferno, não tem perdão. Agora é o seguinte: Virei o “s”5!
Neste momento, pude perceber que as ações discursivas e a simbologia da CCB podem
produzir um produto direto no imaginário do adolescente membro da instituição, porém, agora
excluído. Não se limita a exclusão eclesiástica, não apenas a uma mudança de rotina, de agenda,
que aos finais de semana não tenha mais a alternativa de ir à instituição religiosa, contudo, uma
mudança radical de perspectiva de vida, ressignificação, uma transformação na própria
biografia.
A estrutura temporal da vida cotidiana não somente impõe sequencias
predeterminantes à minha ‘agenda’ de um único dia, mas, impõe-se também à minha
biografia em totalidade. Dentro das coordenadas estabelecidas por esta estrutura
temporal apreendo tanto a ‘agenda’ diária quanto minha completa biografia
(BERGER; LUCKMANN, 2017, p. 45).
A partir da leitura do simbolismo litúrgico praticado pelos membros ativos dentro ou
fora da CCB, pode-se interpretar como estes símbolos mediatizam significados de práticas que
5 Estas e outras terminologias próprias da doutrina da CCB e do proceder do PCC serão apresentadas adiante,
no capítulo 3.
41
são incorporadas na cultura do indivíduo, ordenando uma estrutura psicossocial orientada pelo
medo, pelo pavor do não pertencimento, da exclusão social e da danação eterna, os ouvidos
desses menores, ora exclusivos à fala cultual, abrem-se para um novo/velho discurso, o discurso
do crime.
O discurso de legitimação presente na fala desses sujeitos denota total ideologia, uma
violência massacrada, formulada por eles, como uma espécie de seita ou até mesmo
religião, motivo pelo qual possuem até simpatizantes, pessoas que não são integrantes,
mas admiram a facção, também chamados de companheiros do PCC ou população
(LAVOR, 2018, p. 39).
O discurso de aceitação, poder e riqueza do crime sempre esteve próximo dos menores,
de fato bate à porta do menino pentecostal nas periferias de São Paulo, em que o irmão da igreja
e o irmão do partido convivem em certa harmonia, adaptando ou mesmo confundindo papéis e
espaços sociais (MARQUES, 2015). Mesmo que houvesse – e em muitos casos observados
havia – certa simpatia pelos amigos de sucesso no crime, o fato é que enquanto o menor estava
ligado à igreja e dentro da rotina de sua comunidade da fé havia resistência, ou seja, diante da
força do discurso mágico e do pertencimento à religião, o acesso semanal à instituição,
conseguia manter-se distante do crime, fiel à comunidade da fé e seus princípios doutrinários.
Enfim, como diz a letra do cantor evangélico Thalles Roberto (2011)6 – um dos
cânticos mais pedidos pelos menores infratores na assistência prisional religiosa semanal –,
sobre resistir ao convite diário do crime, resistir ao convite do pecado:
Senhor, desde o ventre da minha mãe
Eu sou povo exclusivo Seu
Eu sou abençoado, se vivo obediente
Mas todo dia o pecado vem, me chama
Todo dia as propostas vêm, me chamam
Todo dia vêm as tentações, me chamam
Todo dia o pecado vem
Mas eu escolho Deus
Eu escolho ser amigo de Deus
Eu escolho Cristo todo dia
Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.
Contudo, em um contexto de exclusão, esta resistência e o discurso que a suportava
perde o sentido, a força e o poder que até então exercia. Sua biografia foi ressignificada no
linguajar dos menores: zerada; mais uma vez a fala do menor ressoava: Senhor, eu pequei, pra
mim já era!
6 Cf. em: https://www.youtube.com/watch?v=DsLePa3Szd8
42
Esta fidelidade à instituição religiosa e resistência ao crime já não fazem mais sentido
a este menor, o poder mágico já não exerce a cobertura espiritual que o sustente diante da
tentação que o universo do crime apresenta, não se sente mais protegido do mundo ao redor, e
mais, não tem mais a certeza de um pós-morte feliz; agora caí da graça, agora já era! Existe
um vazio, uma carência social e existencial a ser preenchida, um novo sentido.
O indivíduo não só começará a perder as suas posturas morais, com desastrosas
consequências psicológicas, como também se tornará inseguro quanto às suas
posições cognitivas. O mundo começa a vacilar no exato momento que a conversão
que o sustenta começa a esmorecer (BERGER, 2017a, p. 41, grifo nosso).
O não pertencimento que afeta não apenas suas relações religiosas, denominacionais,
eclesiásticas e sociais, mas que determina um abandono e insignificação da própria biografia e
existência, existência que até então tinha seus valores internos e externos baseados numa
promessa que lhe foi abruptamente tirada, a promessa de um pós-morte feliz, a promessa de
vida eterna.
A pesquisa demonstrará que tal insignificação existencial começa a esmorecer a vida
do menor infrator quando a certeza de sua conversão é retirada, quando não há mais o apoio e
a sustentação da fé, fato que está ligado diretamente à questão da danação eterna, doutrina não
descrita, porém praticada na CCB, que na hermenêutica do adolescente infrator surge da ordem
do discurso religioso no encontro cultual, homilia ou prédica praticada pelos anciãos no
momento e no local sagrado, assim sendo, sobrenatural e indiscutível, principalmente aos
menores e novatos na vida ou na fé.
E ainda, revelará que esta questão não avança à mera ação imaginativa do adolescente,
muitas vezes visto e tido meramente como menor, indouto e imaturo nas questões da fé, todavia,
tais práticas doutrinárias excludentes são identificadas nas falas, nos gestuais e comportamentos
dos membros adultos ativos da CCB, consolidado em estatutos, tópicos de ensinamentos e
circulares diretivas, observa-se o gerar e a manutenção de ações de caráter punitivo excludente
e definitivo aos membros fora do tipo ideal criado, fato este que identificamos como o conceito
da danação eterna ainda em vida.
Tomando por empréstimo a indagação que Sergio Miceli7 faz na introdução ao texto
de Bourdieu (2015), sobre a relação hierárquica entre ideias e representações sociais e o papel
7 Sergio Miceli Pessôa de Barros nasceu em 1945, no Rio de Janeiro. Graduou-se em Ciências Políticas e
Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) em 1967, concluiu mestrado em
Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP) em 1971. Em 1978, finalizou seu doutorado em
Sociologia pela Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales da Universidade de Paris - sob a orientação de
43
do agente social como personagem estruturante e reprodutor das representações, capaz,
inclusive, de torna-las práticas na sociedade, em analogia, é possível identificar o ancião como
este agente, que estrutura a ideia da exclusão do menor por meio do discurso cultual, tornando
tal ideia prática rotineira assumida por seus membros.
Do ponto de vista do agente, e tão-somente em certa medida, o mundo é o que consta
de seu universo de representações, as quais devem forçosamente ser incorporadas
à construção do objeto a cargo do observador. [...] Desde a caracterização do ato
social inspirado por um sentido [...] por uma representação o que aliás não está longe
da concepção de Weber. Mas, as representações possuem uma existência material e,
em geral, traduzem-se em atos e práticas (BOURDIEU, 2015, p. 10, grifo nosso).
O papel ou a ordem do discurso é o condutor determinante nas relações religiosas e
sociais dentro da CCB, de fato também o é em outras denominações protestantes, e de forma
panorâmica serão demonstrados a tradição histórica, a centralidade, poder e ordem que o
discurso religioso, prédica, homilia, pregação ou simplesmente a hora da Palavra exerce na
liturgia cultíca evangélica no Brasil.
A Tese será desenvolvida a partir da pesquisa e descrição do constructo histórico dos
campos analisados, contemplando, no primeiro capítulo, o conceito de afinidade eletiva
(WEBER, 2017) utilizado nesta pesquisa, a importância das pesquisas estatísticas sociais no
Brasil, a aferição e exploração dos dados numéricos que sustentam o crescimento concomitante
entre o pentecostalismo e a criminalidade juvenil no Brasil, a história da tradição de fé
pentecostal, o nascimento da CCB, seu estabelecimento em solo nacional, seus valores
distintivos e a confirmação da doutrina específica da condenação em vida, pecado sem perdão.
A importância do recorte escolhido, 1980 a 2010, se dá não apenas pela divulgação
oficial, mas também pelo impacto político, midiático e social que este período traz para os dois
campos relacionados, nítido quando o crescimento evangélico na primeira metade do século
(entre anos 40 e 70) era menos de 0,70% a cada década e no final do século salta para algo em
torno de 6%, visto que, apenas dentro do recorte proposto, o aumento é de 44%, sendo os
evangélicos 6,6% da população em 1980 e 22,2% em 2010, e quando o prisma é direcionado
ao campo criminal o aumento é mais expressivo no mesmo recorte, 88%, sendo 90 mil
Pierre Bourdieu - e pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente é professor titular da Universidade de
São Paulo (USP) e editor responsável da Tempo Social, Revista de Sociologia da mesma Universidade.
44
brasileiros que corresponde a 0,061% da população em 19908, para 496 mil ou 0,260% em
2010.
A afinidade entre a assistência religiosa voluntária de jesuítas e freiras, a criação das
casas de misericórdia e a questão do menor infrator, o deslizamento semântico do termo menor
e a conotação social que este assume serão apresentados de forma dialética e cronológica no
segundo capítulo, onde será possível perceber a contradição nas ações de Estado no acolhimento
à criança abandonada ou rejeitada que, desde o Brasil Colônia, demonstra-se excludentes. A
própria construção etimológica do termo, menor, passa a compor uma estrutura social que
marginaliza crianças e adolescentes no Brasil por questões étnicas, raciais, de classe e políticas,
antes de serem de fato infracionais ou criminosas.
Tema de discussões na Corte do Império e no Congresso Legislativo, medidas de
proteção, educação e alimentação se disfarçam num processo ideológico de segregação,
punição e alienação social para crianças e adolescentes indesejados socialmente, tendo sua noite
mais intensa e (ob) escura na gestão da Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor
(FUNABEM), 1964, e os primeiros raios de sol iluminando um dia a partir do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), 1990, que num processo de evolução e desenvolvimento
humano resulta no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), 2012, que
surge como política nacional para a segurança da criança e do adolescente suportado pela
Constituição Federal de 1988.
No capítulo três, a partir da Análise do Discurso (AD), em Foucault, a ordem
estruturante e a dialética existente entre os discursos do crime e da religião serão comparadas e
criticadas pela hermenêutica do menor infrator pentecostal em sua formação discursiva. As
semelhanças e diferenças na construção do eu serão descritas a partir da comparação entre os
desejos e decepções do jovem ateniense e o menor infrator, e o sentido existencial a partir da
exclusão e condenação de Sócrates e a exclusão e abandono do menor da CCB.
A ordem do discurso cúltico no local de fala, púlpito, a força de autoridade
inquestionável de quem fala, o ancião, a condição de subserviência de quem ouve, o menor, e
a irreversibilidade da exclusão, pecado sem perdão, serão comparados com a organização e
sentido de vida que o discurso criminal propõe.
O constructo histórico do PCC e a estrutura discursiva que orienta as relações sociais
dentro e fora do ambiente prisional, a afinidade entre seu código próprio e o discurso doutrinal
8 Ausência de dados oficiais e mudança no critério de aferição da população prisional brasileira não traz
segurança para, nesta introdução, indicar o índice a partir do censo de 1980, por isso, escolhi dentro do
recorte histórico proposto a comparação a partir dos dados divulgados em 1990.
45
e a correlação indivisa entre a irmandade da fé e a irmandade do crime, tanto no processo de
conversão e ingresso quanto na exclusão do menor em cada campo serão comparadas a partir
da apresentação de léxico introdutório com os principais verbetes e metáforas da gíria criminal
e jargões pentecostal.
Importante ressaltar que, diante do quadro pandêmico da COVID-19 no final de 2019,
China, e início de 2020, Brasil, até o depósito desta Tese, a proposta inicial da pesquisa sofreu
ajustes metodológicos significativos, tendo as ações de assistência religiosa presencial
suspensas a partir de 16/03/2020 com OS-AEPS 001/2020 – Ordem de Serviço da Assessoria
Especial de Política Socioeducativa.
O cronograma apresentado e aprovado no Programa de Estudos Pós-graduados em
Ciência da Religião da PUC-SP, PPGCRE, indicava que as entrevistas com os menores e as
visitas às CCB’s seriam realizadas em 2020 e 2021, sendo que a descrição destas entrevistas e
o detalhamento das prédicas dos encontros cúlticos comporia um capítulo em específico, e o
resultado seria a evidência empírica externa à visão e percepção do pesquisador. Contudo, o
distanciamento social exigido para sobrevivência da população carcerária não apenas restringiu
como de fato impossibilitou a realização destas entrevistas, e ainda, dentro de uma média de
um ano e três meses de medidas socioeducativas, período de encarceramento, a atividade
voluntária de capelania prisional perdeu um ciclo completo de convivência com menores, não
sendo possível manter contato com os menores do início do projeto de pesquisa, nem criar os
vínculos de confiança com os novos para a realização das entrevistas.
E a CCB tem em seu código interno de conduta que não é permitido atender a
pesquisadores ou comentar decisões dos anciãos, conforme circulares abaixo:
Pessoas pertencentes ao Seminário Teológico Evangélico, que fazem estudos sobre a
origem e o desenvolvimento das diversas Igrejas Evangélicas, tem vindo, muito
frequentemente, assistir aos nossos cultos. Desejam saber que segredo usamos para a
Obra progredir tanto. Temos respondido sempre que não é absolutamente segredo
algum, nem virtude e qualidade nossa. É porque esta Obra é de Deus. Pertence a Ele
e não a nós.
Temos sido convidados também a fazer parte de debates sobre a Bíblia. Temos
recusado, pois o que temos não é sabedoria nossa mas é dom concedido por Deus.
Não podemos exibir uma cousa que não é nossa
(CCB, 1965, tópicos de ensinamentos, 3º seminário teológico evangélico - perguntas
de sectários sobre como a obra de Deus cresce e progride tanto em nosso meio).
E ainda:
A fidelidade ao ministério manifesta-se a partir do absoluto sigilo sobre os assuntos
ministeriais. Quem faz parte do ministério é porque foi tido por fiel, tanto pelo Senhor
como por seus servos.
46
Sigilo quer dizer segredo - Quebrar o sigilo é grave falha de caráter. [...]
O que se trata nas reuniões ministeriais deve permanecer só entre os servos - Não deve
transpirar para fora das reuniões
(CCB, 1986, assembleia de 26 a 28 de março, tópicos de ensinamento 06 - sigilo
ministerial - é absoluto dever de cada servo).
Dentro da impossibilidade e com a consciência da importância destas entrevistas,
registro o intento de realizar estas a posteriori e apresentá-las em formato de artigo e seminário
para revistas e eventos acadêmicos afins.
No capítulo quatro, algumas vivências pessoais do capelão, pesquisador na prestação
da assistência religiosa prisional, serão detalhadas, o constructo histórico da capelania será
descrito a partir da ação informal de religiosos, ação institucional de algumas denominações, a
legislação vigente, os procedimentos suportados para o exercício das capelanias em espaço
laico, tais como: militar, hospitalar, escolar e a prisional, apresentando a participação dos
evangélicos pentecostais nos presídios e Fundações e o resultado destas ações na hermenêutica
de funcionários da Fundação e de menores que passaram pelo sistema socioeducativo.
47
1 O CONSTRUCTO HISTÓRICO DA CCB – PARALELO E AFINIDADES COM A
CRIMINALIDADE JUVENIL
A relação entre a criminalidade juvenil e o pentecostalismo terá o seu ápice aferido no
crescimento numérico acentuado na virada do século XX até a primeira década do século XXI
registrado no último Censo oficial, 2010, realizado até apresentação desta pesquisa. Essa
afinidade entre os campos não se apresenta em primeiro momento de forma natural e explícita,
por isso é importante verificar o conceito de afinidade que será usado nesta pesquisa.
O sociólogo brasileiro Michael Löwy9 (2011), em artigo para revista de sociologia da
USP, Plural, apresenta um quadro histórico do desenvolvimento da ideia de afinidade eletiva
até o seu ingresso como categoria nas ciências sociais, sendo que, antes desta tornar-se um
referencial teórico a cientistas da sociologia e da religião, passa pelas áreas da química –
alquimia, e da literatura, bem anterior a Weber.
A afinidade eletiva é um conceito importante na obra de Weber (2017) que faz
associações entre o modus vivendi, os valores materiais de uma sociedade e as influências
imateriais, tais como cultura, força, energia, espírito, imaginação etc., por ela herdadas, na
relação entre o capitalismo e a crença protestante calvinista.
Löwy identifica dez modalidades distintas do conceito de afinidade eletiva na
sociologia de Weber:
1. Interna ao campo religioso;
2. Interna ao campo econômico;
3. Interna ao campo cultural;
4. Entre formas estruturais da ação comunitária e formas concretas da economia;
5. Entre ética religiosa e ethos econômico;
6. Entre formas religiosas e formas políticas;
7. Entre estruturas econômicas e formas políticas;
8. Entre visões de mundo e interesses de classes;
9. Entre classes sociais e ordens religiosas;
10. Entre estilos de vida de uma classe social e certos estilos de vida religiosos.
Entre os itens classificados não identificamos uma relação direta entre a religião e o
crime, de maneira abrangente, nem entre o menor infrator e o pentecostalismo da CCB, de
9 Michael Löwy, nascido 1938, SP. Sociólogo (USP) radicado na França, membro titular do Centre d’Études
Interdisciplinaires des Faits Religieux (Ceifr) e pesquisador do Centre Nationale de Recherches Scientifiques
(CNRS). Realizou seu doutorado na Sorbonne, em Paris, sob a orientação de Lucien Goldmann, concluindo
sua tese em 1964.
48
maneira mais específica, todavia, encontramos suporte teórico para esta Tese na relação
proposta por Löwy nas seguintes modalidades: entre formas religiosas e formas políticas; entre
estruturas econômicas e formas políticas; entre visões de mundo e interesses de classes; formas
religiosas e suas relações de afinidade com interesses de classe e estruturas de poder permitem
a sugestão de uma nova modalidade de afinidade.
As referências desse tipo são raras. Um dos exemplos mais interessantes é a afinidade
eletiva entre o funcionamento das seitas religiosas e a democracia: ‘A íntima afinidade
eletiva com a estrutura da democracia aparece já nos princípios de estruturação
próprias à seita’, como, por exemplo, a gestão direta por parte da comunidade ou a
definição dos agentes eclesiásticos como ‘servidores’ do grupo (LÖWY, 2011, p.
134).
Assim como há relações entre a estrutura interna das seitas religiosas e a democracia,
mesmo que raras, também é possível identificarmos que a afinidade entre a estrutura do discurso
religioso e a forma de organização do crime não são tão raras assim. A irmandade que gera
aceitação e pertencimento, o status dentro da comunidade e o sentido de salvação são estruturas
íntimas que se desenvolvem e se sustentam, tanto no discurso religioso pentecostal da CCB
quanto no discurso do crime no PCC, e que serão apresentados no terceiro capítulo, surgindo
assim uma modalidade não apontada por Löwy: Entre a Ordem do Discurso Religioso e a
Estrutura do Discurso da Criminalidade.
Para um entendimento inicial, por ora, vale-nos a metáfora da afinidade que ocorre na
manipulação química e atração entre dois corpos estranhos (elementos sociais), e o encontro e
a união deles, apresentados no panorama histórico de Löwy, ação esta conhecida como
afinidade entre estes elementos distintos.
A fusão entre corpos distintos será utilizada de forma livre na literatura por metáfora,
para falar da atração física e emocional entre casais de amantes, por exemplo, sobre esse tipo
de afinidade temos o uso dessa força de linguagem por Goethe (2019, p. 11): “procuram um ao
outro, atraem-se, apoderam-se um do outro e, em seguida, em meio a essa união íntima,
ressurgem de forma renovada e imprevista”.
Este breve e resumido panorama histórico descreve a passagem da afinidade das fusões
químicas para os relacionamentos afetivos – e por que não espirituais? – entre amantes, e destes
para as relações sociais.
No romance tipificado, a atração entre amantes, a partir de uma afinidade entre eles,
gera-se um imediato rompimento e separação de seus cônjuges oficiais. Esta relação de um
novo amor e aceitação, rompimento e separação da ordem anterior, pode ser observada no
49
menor infrator ex-membro da CCB, agora excluído, que assume novo habitus, novo romance,
nova irmandade, a do PCC.
A afinidade eletiva como um instrumento que descreve elementos distintos que se
procuram, se atraem, se escolhem, rompem com padrões anteriores, combinam, criam novos e
imprevistos padrões de correlação na química e na literatura, gera, a partir de Weber, uma nova
visão, agora nas ciências sociais. É evidente que nas ciências sociais esses elementos não são
tão objetivos quanto na química, e nem tão livres quanto na literatura, sendo a subjetividade
dos elementos sociais, os influxos entre eles e o conteúdo cultural de cada época passíveis de
interpretação para a identificação de suas correlações ou afinidades.
Em face da enorme barafunda de influxos recíprocos entre as bases materiais, as
formas de organização social e política e o conteúdo espiritual das épocas culturais da
Reforma, procederemos tão só de modo a examinar de perto se, em quais pontos,
podemos reconhecer determinadas ‘afinidades eletivas’ entre certas formas da fé
religiosa e certas formas da ética profissional (WEBER, 2017, p. 83).
A afinidade é ação motriz pela qual elementos ou substâncias distintas se aproximam,
entrelaçam-se e se unem, como o casamento, termo utilizado pelo escritor, poeta, e cientista
alemão, Goethe (2019), em que a harmonia de um relacionamento bem-sucedido tem em sua
maturidade o reconhecimento de seus conflitos internos, negações, superações e persistência,
que serão localizados na correlação entre menores infratores e o cristianismo evangélico no
Brasil.
Os dados estatísticos oficiais, aferidos nos Censos de 1980 a 2010, confirmam este
recorte histórico como o momento do ápice, até aqui, na coexistência entre o evangelicalismo
e o aumento da marginalização juvenil, a afinidade entre o menor pentecostal da CCB e o crime
organizado será localizada na dialética de construção histórica de ambos os campos no cenário
nacional.
Na confluência (zusammenfliessen) de duas orientações de pensamento, a tarefa da
Sociologia do Conhecimento é localizar os momentos nas duas correntes que, antes
mesmo da síntese, revelem uma afinidade interna (innere Verwandtschaft) e, assim,
tornem possível a unificação (LÖWY, 2011, p. 132).
O constructo histórico que ocorre concomitantemente entre a marginalização do menor
infrator e o crescimento do pentecostalismo terá pontos de intersecção na discursividade da
CCB e do PCC, correlação geográfica nas relações cotidianas, negações, superações e
persistências. A afinidade temporal e o paralelo do crescimento numérico é aferido nos Censos
de 1980, 1991, 2000 e 2010, período de transição entre regime militar e democrático,
50
democracia indireta e direta, surgimento do PCC – capítulo 3 – virada do século XX e a primeira
fotografia nacional por meio do último Censo oficial, dados estes que serão apresentados e
explorados a seguir.
1.1 Dados sobre religião e criminalidade no Brasil
O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, e tem como missão
“Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício
da cidadania” (IBGE, 1937, np). Trata-se de uma entidade da administração pública federal,
vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que possui quatro
diretorias e dois outros órgãos centrais.
Sua história mais moderna aponta para uma linha do tempo quando a instituição nasce
do anteprojeto de um Instituto Nacional de Estatística, essa ação é creditada à iniciativa de
Juarez Távora, ministro da Agricultura do Governo Provisório (1930-1934) de Getúlio Vargas.
O referido anteprojeto se desenvolve numa comissão específica, sendo esta dirigida
por Leo de Affonseca, chefe do recém-criado Departamento Nacional de Estatística. Seu relator
foi Mário Augusto Teixeira de Freitas, o então Diretor-Geral de Informações, Estatística e
Divulgação do Ministério da Educação e Saúde Pública, que viria a ser o primeiro secretário-
geral do IBGE.
Contudo, a necessidade de se analisar o país e conhecê-lo de maneira mais precisa e
científica, surge muitos anos antes, mesmo antes da República. Trata-se de uma demanda ainda
do Brasil Império, no desejo visionário do culto imperador Dom Pedro II.
Sobre essa característica do imperador, temos, no testemunho do Rev. Daniel Parish
Kidder, comerciante de literatura americano e, para muitos, o primeiro Capelão em solo
brasileiro e seu amigo Rev. James Cooleu Fletcher (1823-1901), secretário da Legação
Americana no Brasil, que no exercício das atividades diplomáticas se tornou próximo ao
Imperador, a seguinte declaração:
D. Pedro II mostra grande inclinação para o estudo filológico. Eu já o ouvi falar em
três línguas diferentes e soube que conversa em mais três e traduz as principais línguas
europeias. Em sua biblioteca podem ser encontrados os melhores livros de história e
as melhores enciclopédias. É voz corrente que dificilmente um visitante do exterior
lhe fala de um assunto relacionado a seu país que ele não conhece muito bem. O
imperador é membro do Instituto Histórico Brasileiro e não falta às suas sessões
(KIDDER; FLETCHER, 1941, p. 271-272, grifo do autor).
51
Segundo Laurentino Gomes, em seu livro 1889 (2013), essa postura culta do
imperador, de certa forma, reverberou em meio à população, visto que nesta fase de nossa
história temos um destaque artístico e cultural, com literatura, poesia, música e pintura a partir
de nomes como José de Alencar, Machado de Assis, Carlos Gomes, Victor Meirelles, dentre
outros. Logicamente, para se escrever, encenar, pintar, representar e principalmente governar o
povo brasileiro, era exigível conhecê-lo.
O destaque cultural é percebido em movimentos históricos que surgiriam um pouco
mais tarde, e a pessoa do Índio, do Negro e do Mulato brasileiro seriam valoradas a partir da
primeira geração do Romantismo, com Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias, bem como
com o “poeta dos escravos”, Castro Alves, José de Alencar, Bernardo Guimarães, Aluísio de
Azevedo, Tobias Barreto, Di Cavalcanti entre outros.
Há nesta busca de um saber empírico o desenvolvimento de metodologias de pesquisa,
que só seriam suficientes para compreender o povo brasileiro muito à frente na história. O
intento de romper com o etnocentrismo europeu é nobre e desafiador ao que se refere à leitura
interpretativa do menor, em especial do negro, mulato, mestiço, pobre, órfão; tal intento só terá
seus capítulos de alforria a partir do ECA, 1990. De fato, apenas nos dados aferidos na virada
do século XX será possível se aproximar de uma visão realística do histórico de abandono,
desprezo, destrato e perdas deste importante recorte da população brasileira.
Mais uma vez, sem fiar-se no senso comum branco europeu, que apresentava o
brasileiro (negro, índio, mestiço) como inferior e preguiçoso, o culto e curioso Imperador D.
Pedro II cria, em 1838, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) com o objetivo de
conhecer o povo, seus súditos, e assim poder melhor regê-los e direcionar o futuro da nação.
Analisar o povo, suas características e seus valores sociais e confessionais a partir dos
dados estatísticos, demonstrou-se um exercício proveitoso para esta pesquisa, visto que os
dados do IBGE na virada do século XX para o XXI serão materiais utilizados para tomadas de
decisões políticas, eleitorais, religiosas, econômicas, sanitárias etc.
Impossível interpretar os dados atuais sem passar pela história estatística do Brasil,
todavia, o Brasil Colônia e Império não se preocupou em fazer um controle fidedigno, contudo,
há algumas estimativas sobre a população brasileira e suas características que nos interessam
no constructo histórico da marginalização do menor e do desenvolvimento confessional
pentecostal da população.
1776 – 1.900.000 - dados estimados por Abade Corrêa da Serra
1808 – 4.000.000 - dados estimados por D. Rodrigo de Souza Coutinho, Ministro
dos Negócios da Guerra.
52
Se considerarmos tais estimativas como reais, percebe-se um crescimento exponencial
de 300% em um período de 32 anos; a chegada da Corte Portuguesa explica esse número
exponencial no início do século XIX.
Apesar da ausência de interesse de Portugal, enquanto colonizador dominante, de
conhecer e desenvolver a população na Ilha de Vera Cruz, alguns personagens da história do
Brasil Colônia e Império realizaram tal intento.
Observe quadro abaixo de estimativas realizadas entre o século XVIII e XIX.
Quadro 1 – População brasileira – 1776/1869
Anos Autoridades População
1776 Abade Corrêa da Serra 1 900 000
1808 D. Rodrigo de Souza Coutinho 4 000 000
1810 Alexandre Humboldt 4 000 000
1815 Conselheiro Velloso de Oliveira 2 860 525
1817 Henry Hill 3 300 000
1819 Conselheiro Velloso de Oliveira 4 395 132
1825 Casado Giraldes 5 000 000
1827 Rugendas 3 758 000
1829 Adriano Balbi 2 617 900
1830 Malte – Brun 5 340 000
1834 Senador José Saturnino 3 800 000
1850 Senador Cândido Baptista de Oliveira 8 000 000
1856 Barão do Bom Retiro 7 677 800
1867 “O Império na Exposição etc.” 11 780 000
1868 Cândido Mendes 11 030 000
1869 Senador T. Pompeu de Souza Brazil 10 415 000
Fonte: IBGE – Memória e História
Essas informações iniciais são relevantes para esta pesquisa, pois o crescimento da
população traz consigo conhecidos e rotineiros problemas sociais de habitação, saúde e higiene,
segurança e educação etc., entre esses, a questão do abandono e da criminalidade juvenil, a
partir dos dados oficiais, pode-se fazer uma divisão histórica entre os diversos “brasis”, o
Católico, o Militar, o Encarcerado e o Pentecostal, sendo que nos dois últimos será identificado
a afinidade e simultaneidade temporal.
53
1.1.1 Dados da religião: o Brasil católico
O primeiro Censo realizado no Brasil, apesar de certa nobreza no intento do imperador,
demostra o tipo de país que se via, ou mesmo que se desejava: um país católico, elitizado e
escravocrata, visto que a pesquisa não se interessava sobre:
a) Religião
Apenas aferidos a população católica livre; desconsidera-se a disposição religiosa dos
estrangeiros que, desde a chegada da Corte, 1808, chegam oficialmente ao Brasil, trazendo em
sua bagagem a fé protestante, no caso de parte dos estrangeiros europeus.
A fé da população escrava não é considerada; há uma imposição evidenciada da fé
institucional e uma negação abusiva e histórica das confessionalidades oriundas da terra mãe,
do continente africano.
b) Escolaridade
Há o registro entre os que sabiam ler e os que não sabiam, tal diferença, em muitos
casos, significava apenas o saber escrever o próprio nome, lembrando que educação primária e
gratuita surge apenas na constituição de 1824, em teoria, pois o desenvolvimento prático da
educação pública a meninos e meninas percorreria um longo caminho.
Vale ressaltar que nos Censos oficiais realizados em 1872 e 1890 não se identifica na
sinopse a palavra religião, o que indica que se considerava, ou se impunha à população, a fé
necessariamente católica.
O Censo imperial apresenta os menores no recorte etário de 6 a 16 anos. Como
veremos adiante, há divergências na descrição e análise da população infantojuvenil até o censo
de 1991, quando, a partir da constituição de 1988, define-se a maior idade penal em 18 anos, e
no ECA a infância e a adolescência são indicadas entre 12 e 18 anos.
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade
incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. Ver tópico
(38715 documentos).
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto
às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.
Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-
se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de
liberdade e de dignidade (BRASIL, 1990, Lei nº 8.069).
54
Na tentativa de melhor se aproximar da compreensão do ser menor no constructo
histórico nacional, explorados os dados gerados a cada Censo oficial publicado, com a clara
divergência entre o recorte de faixa etária adotado na classificação da população menor entre
os regimes governamentais e leis vigentes, foi necessário identificar um denominador comum
entre os dados, valendo-se de publicações recentes e das denominadas séries históricas no
próprio site do IBGE. Com isso, o recorte mais possível para análise é o de 5 a 14 anos, no qual
temos:
Tabela 1 – População infantojuvenil
Ano População # Jovens Idade %
1872 10 112 061 2 446 728 5 A 14 24,20
1890 14 333 915 3 778 485 5 A 14 26,36
1940 41 165 289 11 086 896 5 A 14 26,93
1950 51 941 767 13 324 094 5 A 14 25,65
1960 70 070 457 18 735 168 5 A 14 26,74
1970 93 134 846 25 181 532 5 A 14 27,04
Fonte: Dados IBGE – Elaborado pelo autor
Dentro dessa pesquisa, a correlação entre os campos da pentecostalidade e
criminalidade juvenil inicia-se com o Censo de 1980, período de transição entre o regime militar
– recorte histórico de cerca de 21 anos entre 1964 a 1985 – e o democrático, sendo que a
população brasileira nesse período era composta por mais de ¼ (um quarto) de crianças e
adolescentes, e os evangélicos 5,2% no Censo 1970 e 6,6% em 1980; até esse momento da
história, pode-se afirmar que o Brasil era um país jovem e católico.
Sobre os evangélicos, teremos a classificação dos pentecostais somente a partir do
Censo de 1991, após o fim do regime militar, e o ápice do crescimento em 2010. Ao que se
refere à população infantojuvenil, os dados analisados para esse recorte precisam ser feitos a
partir da comparação dos números posteriores, será após a democratização e constituição de
1988 que estes serão vistos e percebidos pelo Estado.
Os dados oficiais no período democrático, no último Censo do século XX e nos
primeiros registros do século XXI, apresentam não apenas um crescimento acima da média do
crescimento populacional, como ainda um boom exponencial, tanto no crescimento pentecostal
quanto na população juvenil encarcerada, esse fenômeno não se repete em número e grau,
porém, o crescimento percentual de ambos os campos se mantém acima do da população geral,
com tendência de crescimento na época desta pesquisa, 2018 a 2021. Em números absolutos,
temos:
55
Tabela 2 – Números absolutos de crescimento populacional
Censo População Crescimento Evangélicos Crescimento Carcerária Crescimento
1980 119 061 470 25 926 624 7 885 846 3 071 118 16 425 901
1991 146 815 818 27 754 348 13 189 284 5 303 438 114 300 97 875
2000 169 872 856 23 057 038 26 184 941 12 995 657 232 755 118 455
2010 190 755 799 20 882 943 42 275 440 16 090 499 496 251 263 496
Fonte: Dados IBGE – Elaborado pelo autor
Chama à atenção a relação de crescimento da população carcerária entre os Censos de
1980 e 1991. A questão não está no alto número registrado em 1991, mas no baixo número,
quando comparado ao Censo de 1980.
Se não houve interesse na pesquisa anterior ao advento República em registrar o
número da população protestante, ao que parece, tampouco houve interesse em ser preciso nos
dados da população carcerária no período Militar, nem a população adulta, muito menos a
infantojuvenil, assim sendo, os números absolutos do crescimento da população carcerária até
os anos 80 são questionados por entidades, ONG’s e demais instituições de observação da
juventude e da violência.
Sobre a ausência de dados e a imprecisão dos demonstrados, segundo a Secretaria
Especial dos Direito Humanos, criada por meio da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, cerca
de 475 mil brasileiros, considerados militantes ao comunismo ou opositores ao regime
estabelecido, teriam sido mortos e tiveram como causa morte oficial situações simuladas, como
suicídios, atropelamentos, mortes acidentais entre outros. Conforme apontado pela Comissão
da Verdade, PUC-SP, o número de presos nesse período sem o devido registro passaria de
milhares.
No Brasil, a radiografia dos atingidos pela repressão política ainda está longe de ser
concluída, mas conforme levantamento da Comissão Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Políticos da SEDH-PR sabe-se que pelo menos 50 mil pessoas foram
presas somente nos primeiros meses da ditadura militar e cerca de 20 mil brasileiros
passaram por sessões de tortura. Além disso, existem 7.367 acusados e 10.034
atingidos na fase de inquérito em 707 processos judiciais por crime contra a segurança
nacional; sem falar nas milhares de prisões políticas não registradas, nas quatro
condenações à pena de morte, nos aproximadamente 130 banidos, nos 4.862 cassados,
nas levas de exilados e nas centenas de camponeses assassinados (COMISSÃO,
[201-], np).
Os dados registrados no Censo de 1980 ainda estão dentro de um regime militar, no
qual não houve a preocupação de analisar de maneira precisa a população carcerária. O
desconhecimento da população brasileira presa por parte dos governantes não gera condições
56
de interpretação concisa sobre homens, mulheres encarceradas, quais seriam suas condições
educacional, social, profissional, ou a confessionalidade religiosa pregressa, outro fato
importante refere-se à omissão da faixa etária, o que só ocorrerá a partir do Censo de 1991, e
essa ausência de interesse e conhecimento reflete na inexistência de políticas públicas de
segurança, de educação, lazer entre outros, tanto na ação preventiva quanto na ressocialização
do menor encarcerado.
Esse mesmo cômodo desconhecimento reflete em parte da sociedade civil inibindo
questionamentos ao poder público, o que em partes explica o aumento nos dados estatísticos
das próximas pesquisas.
Abaixo, apresentamos o número de presos durante todo e cada ano; o número final que
alimenta o Censo de 1980 refere-se ao total de condenados.
Tabela 3 – População Encarcerada na década de 80
Ano População Ano População
1980 122 337 1985 253 151
1981 120 099 1986 245 429
1982 167 886 1987 233 127
1983 243 958 1988 221 394
1984 258 505 1889 150 460
Fonte: Dados IBGE (1984) – Elaborado pelo autor
Percebe-se de maneira clara a diferença entre os números oficiais do Censo de 1980,
no qual a população carcerária é apresentada em apenas 16.425 pessoas, segundo IBGE, em
relação ao total de presos durante o mesmo ano, 122.337, de acordo com o Ministério da Justiça.
Não é possível responder a questão de quantos continuaram presos a cada ano, mas, a
título de pesquisa, apesar de não estarem condenados, o número oficial final é de 16.425, ou
13% do total de presos no período.
O abandono e destrato com a população infantojuvenil será descrito no próximo
capítulo, contudo, nessa exploração dos dados estatísticos oficiais, podemos, de forma
antecipada, perceber que o declínio percentual da população jovem não se reflete na
encarcerada.
57
Tabela 4 – Percentual infantojuvenil
Idade Ano População Jovem %
7 a 14 1980 119 061 470 22 981 805 19,30
7 a 14 1991 146 815 818 27 506 996 18,74
7 a 14 2000 169 872 856 27 124 709 15,97
7 a 14 2010 190 755 799 27 053 006 14,18
Fonte: Dados IBGE – Elaborado pelo autor
Ao compararmos a população infantojuvenil de 1872, que correspondia a 24,20%, e a
do último Censo oficial 2010, já no século XXI, com 14,18%, temos uma queda nesse recorte
populacional de 41%, quando comparado ao crescimento populacional geral.
A questão poderia ser tratada de forma natural num processo de desenvolvimento
social, considerando-se o crescimento populacional no período, diminuição da mortalidade
infantil, aumento da expectativa de vida e envelhecimento geral da população, contudo, a faixa
etária que diminui no Censo geral populacional tem aumento significativo, no mesmo período,
quando se classifica entre população livre e carcerária.
Tabela 5 – Crescimento da População Carcerária Juvenil
Carcerária
Ano Geral Juvenil
1980 16 425 Sem registro Crescimento
1991 114 300 5 855 %
2000 232 755 8 579 2 724 47
2010 496 251 17 703 9 124 106
Fonte: Dados IBGE – Elaborado pelo autor
Esse retrato que aponta para um Brasil Encarcerado é questionado na expressão
cultural, tanto na música quanto no cinema nacional, ainda dentro do Regime Militar com
“Pixote - A lei do mais fraco”, baseado no livro Pixote - A Infância dos Mortos, de José
Louzeiro que, junto com Héctor Babenco, dirigiu o longa, lançado em 1981, recebendo
indicação e prêmios de destaque nacional e internacional, como a indicação ao Globo de Ouro
nos Estados Unidos e o Leopardo de Prata, Festival de Locarno, na Suíça.
O filme retrata a infância de Pixote – personagem da ficção que se assemelha a tantos
menores do passado e presente –, que vive o abandono familiar e do Estado, e nas ruas desde
os 11 anos, depois de passar por reformatório – FEBEM –, tem seu batismo e desenvolvimento
58
no crime. Conforme resenha do Itaú Cultural, temos a seguinte análise do filme, incluindo o
tema menor infrator versus Estado:
Trata da infância marginalizada e da decadência de instituições regeneradoras em tom
de denúncia. [...] descreve a condição das crianças nas favelas da cidade [...] estas
crianças, ao serem relegadas (excluídas) pelos pais, terminam aliciadas por
criminosos.
A trajetória de Pixote é o eixo condutor da narrativa, dividida em duas partes. A
primeira é ambientada nos pavilhões de dois reformatórios. Babenco denuncia a
falência destas instituições, ao enfatizar as atrocidades que lá são cometidas –
estupros, agressões e homicídios. Ao mesmo tempo, trata-as como refúgios precários,
que oferecem cuidados e divertimento (PIXOTE, 2021, grifo nosso).
Já no regime democrático, pós Censo 1991, temos no “Diário de um Detento”, do disco
Sobrevivendo no Inferno, dirigido por Mauricio Eça e Marcelo Corpani, 1998, sem dúvidas, o
marco da carreira do grupo de RAP10 nacional Racionais MC’s.
Fazendo um registro a partir do prisma artístico de Mano Brown e de Josemir Prado,
ex-detento, a letra apresenta por meio de um quadro ficcionário o diário de um detento no dia
02/10/1992, dia que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru. O clipe se tornou um
sucesso à voz dos detentos, incluindo os jovens, ficando entre os clipes mais pedidos na
emissora MTV durante meses, além de receber o prêmio de melhor clipe VMB – Vídeo Music
Brasil – do ano de 1998.
O fenômeno do crescimento da população carcerária só poderá ser percebido e aferido
após o regime militar, período esse em que os dados demonstrarão, em paralelo, a
simultaneidade no crescimento da população evangélica pentecostal.
O regime militar se encerra e a democracia brasileira retorna em dois passos, eleições
indiretas de 1985 e eleições diretas de 1889, sendo o Censo nacional de 1991 o primeiro após
a democratização. O Brasil agora é democrático e sua população continua cada vez mais
encarcerada e cada vez mais pentecostal, sendo esse grupo 62% do total de evangélicos, que
nesse Censo correspondem a 8,56% da população.
10 Rhythm and Poetry, ou seja, opiniões em “ritmo e poesia”, em tradução livre.
59
Quadro 2 – CENSO 1991 – Grupo de Religiões
Fonte: Dados IBGE – Elaborado pelo autor
1.1.2 Os dados da criminalidade: o Brasil encarcerado
Com a Lei 6.683/79 sancionada em 28 de agosto de 1979, conhecida a posteriori como
Lei de Anistia, o Brasil começa um processo tardio e lento para sua redemocratização.
Em virtude da ausência ou mesmo mascaramento do número de menores no sistema
penal nacional, esse registro torna-se importante para esta pesquisa, na tentativa de uma
compreensão real da população carcerária juvenil do país, tendo nas ações de familiares e
sociedade civil da época e posterior sistematização pela Comissão Nacional da Verdade, criada
a partir da Lei 12528/2011 e instituída em 16 de maio de 2012, esforços conjuntos para
apresentação desse número.
O Brasil da redemocratização sofre grande transformação em sua população, o que é
percebido nos Censos de 1991 e 2000, transformações não apenas quantitativas como também
no seu perfil religioso e criminal, o que pode ser aferido adiante.
A população católica da última década do século correspondia a 8 em cada 10
brasileiros, e na primeira década do século XXI – o último Censo oficial – indica 6 a cada 10,
e a tendência aponta para 5 a cada 10 no período desta pesquisa, 2018 a 2021.
Retornando à simultaneidade temporal, destacamos o paralelo do crescimento da
população carcerária e da população evangélica pentecostal.
O quadro abaixo apresenta a relação em percentuais de crescimento interno entre os
períodos e os tipos de população aqui pesquisados, ficando claro a disparidade entre o Censo
de 1980, ainda no período de transição militar-democrático, e o Censo de 1991, primeiro após
eleições livres e diretas.
Total (1) 146 815 818 %
CATÓLICAS 122.366.690 83,35%
Católica Apostólica Romana 121.812.761 82,97%
Católica Brasileira 518.533 0,42%
Católica Ortodoxa 35.396 0,03%
EVANGÉLICAS 12.567.992 8,56%
Evangélicas Tradicional 4.013.679 31,94%
Tradicional não determinada 374.659 2,98%
Evangélicas de origem pentecostal 5.301.173 42,18%
Pentecostal não determinada 2.609.527 20,76%
Universal do Reino de Deus 268.954 2,14%
Grupos de religião
1
9
9
1
Total
60
Gráfico 1 – Comparação de crescimento interno
Fonte: Dados IBGE – Elaborado pelo autor
Na relação de paralelo, temos, nos dados dos encarcerados, a concomitância do
fenômeno do crescimento numérico, saindo de 0,01% da população geral em 1980 para 0,26%
em 2010.
Tabela 6 – População carcerária no recorte da pesquisa
Ano População Carcerária
1980 119 061 470 16 425
1991 146 815 818 114 300
2000 169 872 856 232 755
2010 190 755 799 496 251
Fonte: Dados IBGE – Elaborado pelo autor
Sobre o universo carcerário juvenil, o próximo capítulo apresenta o constructo
histórico da questão do menor infrator e a relação com o Estado, sociedade civil e assistência
religiosa, em que a falta de interesse, ausência de políticas públicas e o desenvolvimento social
de intolerância e discriminação explicam o porquê nos anos 80 o Censo oficial ainda não aferia
esse estrato de nossa sociedade.
Se não se sabia quantos menores estavam presos – de fato o processo à época era de
encarceramento e não de medidas socioeducativas – como esperar qualquer ação assertiva ou
mudança no quadro social?
O Censo de 1991 é o primeiro a trazer de forma detalhada a confessionalidade da
população livre e, após 100 anos da Proclamação da República, pela primeira vez na história
brasileira será possível analisar o grupo pentecostal e o perfil da população encarcerada adulta.
0%
200%
400%
600%
1 2 3 4
CRESCIMENTO POPULACIONAL
POPULAÇÃO EVANGÉLICOS CARCERÁRIA
1980 1991 2000 2010
61
Sobre o menor infrator, os dados terão o nível de informação e precisão necessários a partir
1999, não no IBGE, mas em mapas e anuários de observação de entidades da sociedade civil.
No Censo de 2000, vemos a afinidade temporal e o paralelo entre os campos em seu
momento de maior equilíbrio; comparando com os dados de 1991, o crescimento dos
evangélicos é de 12.995.657, 99%, e da população carcerária 118.455, 104%, ou seja, iguais
dentro de uma margem de erro aceitável de até 4 pontos percentuais.
Quando a análise é dentro do campo pentecostal e o paralelo com os números dos
menores em medidas socioeducativas, temos um quadro invertido de crescimento, sendo o pico
pentecostal aferido no Censo 2000, demonstrando queda na sequência, e o menor encarcerado
tendo seu pico em 2010, demonstrando tendência de crescimento no ano de defesa desta Tese.
Tabela 7 – Correlação crescimento pentecostal e menor infrator
Censo Pentecostal Juvenil Encarcerada
Ano Total Crescimento Total Crescimento
1991 5 301 173 # % 5 855 # %
2000 17 617 307 12 316 134 232 8 579 2 724 47
2010 25 370 484 7 753 177 44 17 703 9 124 106
Fonte: Dados IBGE – Elaborado pelo autor
Certamente, não é a precisão da exposição dos dados que fará com que os pentecostais
cresçam Brasil afora, ou ainda, que menores adentrem à delinquência, todavia, a apresentação
destes, com detalhamento sobre o tipo de fé, as denominações e a característica dos menores,
confirmam a hipótese inicial da afinidade temporal do crescimento paralelo dos campos
analisados. A estrutura da afinidade discursiva será analisada no terceiro capítulo.
1.2 Dados da religião: o Brasil evangélico no Censo de 2010
A realização de um levantamento como o Censo Demográfico 2010, último realizado,
representa o desafio mais importante para um instituto de estatística, sobretudo em um país de
dimensões continentais como o Brasil, com 8.514.215,3 km2, composto por 27 Unidades da
Federação e 5.507 municípios existentes na data de referência da pesquisa, abrangendo um total
de 54.265.618 de domicílios pesquisados.
62
O Censo 2010, último oficial11, compreendeu um levantamento minucioso de todos os
domicílios do país. Nos meses de coleta de dados e supervisão, 191 mil recenseadores visitaram
67,6 milhões de domicílios nos 5.565 municípios brasileiros, colhendo dados sobre quem
somos, quanto somos, onde estamos e como vivemos.
Os primeiros resultados definitivos, divulgados em novembro de 2010, apontaram uma
população formada por 190.755.799 pessoas.
Quadro 3 – Resumo Comparativo Religiões Cristã – Censo 2010
Fonte: Dados IBGE, 2010 – Elaborado pelo autor
Na análise do Censo de 2010, temos a confirmação de um quadro de transformação do
perfil religioso do povo brasileiro em que o crescimento acentuado evangélico, de forma ampla,
e vertiginoso dos pentecostais, em específico, é destacado por Mariano (2013) em artigo da
Revista Debates do NER, conforme abaixo:
Os dados do Censo 2010 sobre religião confirmam as tendências de transformação do
campo religioso brasileiro, mutação que se acelerou a partir da década de 1980,
caracterizando-se, principalmente, pelo recrudescimento da queda numérica do
catolicismo e pela vertiginosa expansão dos pentecostais e dos sem religião. Entre
1980 e 2010, os católicos declinaram de 89,2% para 64,6% da população, queda de
24,6 pontos percentuais, os evangélicos saltaram de 6,6% para 22,2%, acréscimo de
15,6 pontos (MARIANO, 2013, p. 119).
O Brasil evangélico pentecostal do Censo de 2010 inicia-se católico conquistado pelos
portugueses a partir de 22 abril de 1500, mantém a perspectiva europeia, ou seja, de separação
11 No ano de 2020 e 2021 houve o chamamento público para realização da pesquisa, contudo, em virtude de
divergências políticas, questões orçamentárias e a pandemia da COVID-19 ambos foram cancelados. Até o
depósito desta Tese não há previsão de novo Censo nacional, sendo o período sem aferição e análise de dados
socio, demográficos, econômicos, gêneros, raciais e religiosos superior a 10 anos.
Total (1) 190 755 799 %
CATOLICAS 123 972 524 64,99%
Católica Apostólica Romana 123 280 172 99,44%
Católica Apostólica Brasileira 560 781 0,45%
Católica Ortodoxa 131 571 0,11%
EVANGÉLICAS 42 275 440 22,16%
Evangélicas de Missão 7 686 827 18,18%
Evangélicas de origem pentecostal 25 370 484 60,01%
Evangélica não determinada 9 218 129 21,80%
2
0
1
0
TotalGrupos de religião
63
e conflito com a fé protestante, posterior evangélica e adiante pentecostal, essa relação
desenvolve-se da total proibição, perseguições, prisões e mortes ao proselitismo protestante –
que será controlado até a chegada da Corte e assinatura dos tratados de 1810 –, para a liberdade
plena apenas na Constituição de 1890.
Em virtude do exclusivismo exploratório comercial dos portugueses e religioso
católico, os portos brasileiros estavam fechados ao comércio internacional e à fé protestante,
assim, as datas da chegada das instituições religiosas e os nomes dos protestantes de forma não
oficial variam muito, e esses muitas vezes são questionados a favor desta ou daquela data, desta
ou daquela denominação, quando o desejo é de registrar a primazia da igreja protestante em
solo nacional. Essa variação fica clara abaixo, em duas listas:
AZEVEDO (2018) MENDONÇA (2005)
1810 Igreja Anglicana 1820 Igreja Anglicana
1836 Igreja Metodista 1824 Igreja Luterana
1845 Igreja Luterana 1858 Igreja Congregacional
1855 Igreja Congregacional 1862 Igreja Presbiteriana
1859 Igreja Presbiteriana 1881 Igreja Batista
1881 Igreja Batista 1886 Igreja Metodista
O desembarque da fé protestante – oficial para quem saía da Europa e clandestina ao
desembarcar em solo português, no mundo novo de cada uma dessas denominações – é
precedido por calvinistas, ainda no Brasil Colônia.
Todavia, a semente protestante é mais antiga, temos na visita Pedro Richier, João Du
Bourdel, Mateus Verneuil, Pedro Bourdon e Jacques Le Balleur os primeiros
missionários estrangeiros a pisarem em solo brasileiro em missão, eram calvinistas,
enviados pelo próprio Calvino. Em 21/03/1557 celebram o primeiro culto e a primeira
Ceia do Senhor, sua missão foi breve, visto que em 9/02/1558 todos os protestantes –
estrangeiros e nacionais recém convertidos, foram mortos às margens da Baía de
Guanabara (AZEVEDO, 2018, p. 90).
Voltando aos números oficiais, de forma organizada e sistemática, em 1872 ocorre a
realização do primeiro Censo nacional dentro de um império necessariamente católico; os
protestantes não são registrados, entretanto, há estimativas que apontam algo entorno de 50 mil
protestantes em solo brasileiro, cerca de 0,005% da população geral.
64
Após o advento da República, já no segundo recenseamento, teremos a inclusão de
informações sobre os evangélicos protestantes em 1890, ainda sem a classificação moderna
entre protestantes, evangélicos, pentecostais e neopentecostais.
Tabela 8 – Crescimento da população evangélica
Ano Total Evangélicos %
População
% Taxa
Crescimento
1890 143 743 1,0 sem registro
1940 1 074 857 2,6 648,00
1950 1 741 430 3,4 62,00
1960 2 824 775 4,0 62,20
1970 4 814 728 5,2 70,50
1980 7 885 846 6,6 63,80
1991 13 189 284 9,0 67,30
2000 26 184 941 15,5 98,50
2010 42 275 440 22,2 61,00
Fonte: Dados IBGE – Elaborado pelo autor
Desde a primeira aferição, os evangélicos nunca cresceram menos que 60% (sessenta
por cento) a cada pesquisa. No recorte analisado nesta pesquisa, a média fica em 72,50% e
crescendo. Nesse ritmo, em 2030, ou no mais tardar 2040, os evangélicos serão maioria no
Brasil.
A análise do crescimento pentecostal e da delinquência juvenil apresentou como
primeiro desafio a falta de interesse e de dados oficiais disponíveis, o que pôde ser parcialmente
superado a partir da comparação de dados gerados a posteriori dos observatórios civis. Não
havendo o detalhamento das denominações, o Censo de 1980 registra o total de 7.885.846
evangélicos, dados das principais denominações pentecostais (ALENCAR, 2012) apontam que
desse montante 3.863.320 seriam pentecostais, ou seja, 49%, ao observarmos os dados oficiais
de 2010, já em novo formato metodológico que classifica e descreve as denominações
pentecostais, temos, dentro do universo evangélico, o crescimento de mais 21 milhões de
adeptos, ou 557% apenas entre os pentecostais, contra 91% entre os protestantes e 16% entre
os católicos.
65
Tabela 9 – Crescimento entre os Cristãos – 1980 a 2010
Católicos % Evangélicos Protestantes % Pentecostais %
105 861 113 20 389 091 24 7 885 846 4 022 526 não consta - 3 863 320 não consta -
122 366 690 16 505 577 16 13 189 284 4 013 679 - 8 847 0 5 301 173 1 437 853 37
124 980 132 2 613 442 2 26 184 941 6 939 765 2 926 086 73 17 617 307 12 316 134 232
123 280 172 -1 699 960 -1 42 275 440 7 686 827 747 062 11 25 370 484 7 753 177 44
Fonte: Elaborado pelo autor
A população geral brasileira era de 119.061.470 em 1980 e de 190.755.799 em 2010,
o aumento de mais de 71 milhões de brasileiros entre as duas pesquisas representa crescimento
de 60% num recorte de 30 anos, quando a comparação é feita nos números dos evangélicos,
temos: 7.885.846 em 1980, 42.275.440 em 2010, aumento de 34.389.594 de adeptos ou 436%
de crescimento.
Os dados estatísticos até aqui observados confirmam a simultaneidade temporal no
crescimento estatístico entre a fé pentecostal e a criminalidade no Brasil, e na tentativa de
compreender o significado desta no recorte histórico proposto – 1980 a 2010 – e a afinidade
eletiva nos discursos próprios, desenvolveremos a historiografia da CCB e da Fundação, sendo
que, para melhor compreensão da CCB, será apresentado a seguir o contexto histórico do
movimento pentecostal, e, para entendimento do papel social e institucional da Fundação, o
segundo capítulo descreverá a história do menor infrator e as ações do Estado em resposta a
essa demanda.
Importante dizer nesse momento da pesquisa que, ao correlacionarmos a
simultaneidade do crescimento pentecostal e a criminalidade juvenil, não estamos afirmando
que o crescimento criminal está necessária ou obrigatoriamente relacionado com a fé
pentecostal, mas que os dados estatísticos indicam a concomitância temporal.
1.3 Constructo histórico: Congregação Cristã no Brasil
O crescimento da população evangélica pós República é acentuado por alguns motivos
objetivos, tais como a própria liberdade religiosa – que permite ao entrevistado responder sem
receio à respeito de sua profissão de fé –, a chegada das denominações evangélicas de missão
e a migração de trabalhadores europeus, quando a influência protestante já tinha cerca de 400
anos no velho mundo.
66
Gráfico 2 – Comparativo principais religiões no Brasil
Fonte: Elaborado pelo autor
Desde o tratado de 1810, protestantes ingleses, franceses, alemães, entre outros
imigrantes, desembarcaram no Brasil católico. Com a abertura dos portos nacionais, produtos
brasileiros começam a movimentar o mercado europeu, primeiro inglês e depois demais países
do velho continente, mercadorias saindo em paralelo à fé protestante entrando.
Pós advento republicano, novas etnias passam a migrar e compor a mão de obra
trabalhadora brasileira, principalmente na economia em expansão da província de São Paulo de
Piratininga, na virada do século XIX e início do século XX. A comunidade italiana tem
destaque, sendo Luigi Francescon um de seus mais ilustres representantes, pisando em solo
nacional no início do século XX, diferente de seus compatriotas não traz à mão o trabalho
italiano barato a seus contratantes, antes, traz em sua bagagem a nova fé cristã, distinta da fé
católica do período colonial, imperial e monárquico e da recém-chegada fé protestante do
tratado de 1810 e da constituição republicana, 1890. Após breve passagem pela Argentina,
Francescon apresenta a fé pentecostal iniciada nos movimentos de santidade nos EUA, que se
desenvolverá de forma peculiar no Brasil, primeiro à comunidade italiana, depois tornando-se
a segunda maior denominação pentecostal nacional.
67
Tabela 10 – O Pentecostalismo Brasileiro do século XXI
CENSO 2010 - Igrejas Pentecostais
Evangélicas de origem pentecostal 25 370 484 %
Evangélicas de origem pentecostal - Igreja Assembleia de Deus 12 314 410 48,54
Evangélicas de origem pentecostal - Igreja Congregação Cristã do Brasil 2 289 634 9,02
Evangélicas de origem pentecostal - Igreja o Brasil para Cristo 196 665 0,78
Evangélicas de origem pentecostal - Igreja Evangelho Quadrangular 1 808 389 7,13
Evangélicas de origem pentecostal - Igreja Universal do Reino de Deus 1 873 243 7,38
Evangélicas de origem pentecostal - Igreja Casa da Benção 125 550 0,49
Evangélicas de origem pentecostal - Igreja Deus é Amor 845 383 3,33
Evangélicas de origem pentecostal - Igreja Maranata 356 021 1,40
Evangélicas de origem pentecostal - Igreja Nova Vida 90 568 0,36
Evangélicas de origem pentecostal - Evangélica renovada não determinada 23 461 0,09
Evangélicas de origem pentecostal - Comunidade Evangélica 180 130 0,71
Evangélicas de origem pentecostal – outras 5 267 029 20,76
Fonte: Dados IBGE – Elaborado pelo autor
Para compreensão do fenômeno da pentecostalidade brasileira da primeira metade do
século XX ao seu ápice, no início do século XXI, é importante fazer um rápido e panorâmico
passeio histórico sobre alguns eventos pentecostais internacionais até o estabelecimento dessa
nova fé no Brasil.
1.3.1 Pentecostalismo e Pentecostalidade
O conceito da fé pentecostal é amplo, e, não sendo objeto direto desta pesquisa, não
será possível aprofundar-se nele, todavia, para compreensão do tipo de pentecostalismo que
será desenvolvido na CCB, de maneira meramente introdutória e panorâmica, temos na citação
de Romeiro (2005, p. 23) a indicação do Montanismo12 como ponto referencial para o que
adiante seria conhecido como movimento pentecostal: “Montano não tinha cargo eclesiástico e
percorria os lugares acompanhado de duas mulheres. Por meio da voz do paracleto,
manifestação profética que falava, na primeira pessoa, através das duas mulheres, promovia o
que chamou ‘nova profecia’”. A questão do paracleto já diz respeito a uma renovação do
Espírito Santo que faria de Montano uma novidade após o ministério de Jesus.
Analisando o movimento moderno pentecostal a partir do conceito “Ondas”
(FRESTON, 1993), temos a primeira onda como: Pentecostalismo Clássico, 1906 a 1960; a
segunda onda: Pentecostalismo Neoclássico, 1960 a meados 1970; e a terceira onda:
12 Montano, fundador do montanismo, surgiu como profeta itinerante por volta dos anos 155-160, afirmava ser
porta-voz do Espírito Santo e que, em sua própria pessoa, se encarnara o Paracleto prometido por Jesus
conforme João 14,16 e 16,7.
68
Neopentecostalismo, iniciando na segunda metade dos anos 70 até o período desta pesquisa.
Abaixo, um resumo do contexto internacional da primeira e segunda onda. A terceira onda,
porém, será contextualizada dentro do constructo histórico no Brasil, já com o título de maior
país pentecostal do mundo.13
1.3.1.1 Primeira Onda
Movimento de Santidade – Holiness –, em 1901, a partir do relato da Sra. Agnes
Ozman, que não apenas testemunha sobre certa ação extraordinária do Espírito Santo, como
pessoalmente passa a falar línguas estranhas, línguas angelicais, característica que se torna a
marca principal dessa onda.
Ainda no contexto da primeira onda, o impacto que irá reverberar nos EUA e ecoar em
todo mundo, passa pela Rua Azuza, 312, Los Angeles, onde reuniões acontecem com nível de
espontaneidade, movimento e barulho nunca antes percebido nos cultos evangélicos, que para
alguns vizinhos tal extravagância causou estranheza, sendo que em alguns casos houve a
necessidade de ações da polícia e dos bombeiros, fato registrado também por jornalistas da
época.
Por parte dos fiéis, há registros de curas divinas e milagres, todavia, a base norteadora
do movimento, para Charles Paham, pastor e um de seus principais líderes dos encontros, “falar
em línguas era a evidencia do batismo com o Espirito Santo, as verdades do Pentecoste da Igreja
Primitiva foram maravilhosamente restauradas” (LIARDON, 2015, p. 87).
Charles Paham (1873-1929), considerado como fonte teológica do movimento,
passando pelas igrejas Metodista e Assembleia de Deus antes de tornar-se idealizador de
movimentos independentes da nova fé protestante, fundou um instituto próprio de estudos
bíblicos, percursor aos cursos teológicos confessionais atuais. Figura controversa no meio
protestante e secular, movimentou páginas de jornais da época com notícias que transitavam
entre amor e ódio por sua pessoa. Como legado histórico, temos o registro do Centro Charles
F. Parham de Estudo Pentecostal-Carismático, no campus da South Texas Bible Institute, em
Houston, Texas, e a postura racista e separatista para com os irmãos de fé negros, sendo o caso
de William Seymour o mais conhecido.
William Seymor (1876-1922), é reconhecido como um representante dos direitos civis
dos negros americanos, antecessor a Martin Luther King e Malcom X. Cego de um olho, em
13 Cf. em: http://www.metodista.org.br/brasil-e-o-maior-pais-pentecostal-fsp
69
1905, inscreveu-se para os estudos bíblicos ministrados por Parham, mesmo após trinta anos da
libertação dos escravos americanos conviveu com as leis locais separatistas, fazendo com que
se sentasse fora da sala, no corredor externo, para assistir às aulas.
Em 09 de abril de 1906 recebeu o dom do Espírito Santo e começou a falar em línguas
sobrenaturais. Em 14 de abril, fazendo de caixas de sapato seu púlpito, iniciou uma jornada de
encontros pentecostais, que duraria três anos na Rua Azuza, 312, com reuniões sete dias por
semana, sendo que em alguns dias os cultos em revezamento duravam até 24 horas.
Seu legado é maior do que a própria fé pentecostal. Seymour conseguiu algo inédito,
criticado e perseguido na época, que foi a união étnica entre os cristãos protestantes. Dentro de
uma legislação separatista, seu movimento pentecostal uniu americanos e estrangeiros, negros
e brancos, debaixo de um mesmo teto, o teto do velho galpão da Rua Azuza, 312.
1.3.1.2 Segunda Onda
Renovação Carismática, viu a glossolalia chegar nas igrejas protestantes tradicionais,
tais como: batistas, presbiterianas, bem como na própria Igreja católica. Sobre o movimento
católico, temos o seguinte registro: “A Renovação Carismática Católica, ou o Pentecostalismo
Católico, como foi inicialmente conhecida, teve origem com um retiro espiritual realizado entre
os dias 17 e 19 de fevereiro de 1967, na Universidade de Duquesne (Pittsburgh, Pensylvania,
EUA)”14.
Dentro dessa fase, surgiram os telepregadores, que trocaram as homilias locais,
estruturadas e reflexivas, por sermões entusiasmados, mensagens triunfalistas e itinerantes. Tal
característica nasceu na primeira onda e teve expansão nessa fase do movimento. Sobre essa
característica, Liardon (2015, p. 129) relata:
Na reunião Sarah Thistlwaite ficou surpresa com o que viu. Parham parecia muito
diferente dos pregadores cultos e ricos com que ela estava acostumada lá na cidade de
Kansas. E quando ele subiu ao púlpito, não trazia escrito o sermão, como faziam os
outros pregadores que ela conhecia. Na verdade, Parham nunca escrevia o que ele iria
pregar, preferia confiar totalmente no Espírito Santo.
A busca por sonhos, visões, revelações de cunho pessoal passaram a ter a mesma
autoridade (ou maior?) do que a própria Bíblia, as Sagradas Escrituras.
14 Cf. em: https://www.rccbrasil.org.br/institucional/mais-lidas-quem-somos/901-o-nascimento-da-renovacao-
carismatica-catolica.html. Acesso em: 02 jun. 2017.
70
O estudo bíblico teológico passa a ser visto com desconfiança, por gerar certo
esfriamento da ação do Espírito Santo, afinal, Deus não precisa de escolas, seminários ou
universidades para falar, basta a dependência do Espírito Santo.
Sobre essa perspectiva, Romeiro (2005, p. 27) enfatiza: “a expressão ‘religiões
pentecostais’, portanto, busca representar todas as religiões que descaracterizam os fatos
fundadores cristãos e os substituíram pela centralidade do Pentecostes, constituindo a nova
referência fundadora”.
1.3.2 Pentecostalismo Expansionista
Voltando ao pentecostalismo, o termo relaciona-se primeiramente a uma das principais
festas do calendário judeu – a festa das semanas –, sendo em celebração ao período de
colheitas15, todavia, será no evento registrado por Lucas em seus Atos dos Apóstolos que as
igrejas e denominações que assim se intitulam sustentarão suas bases bíblicas, teológicas e sua
principal doutrina distintiva, a glossolalia.
Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar.
De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa
na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram
e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram
a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava (At 2,1-4)16.
Há uma separação mais objetiva entre as igrejas cristãs Católicas e Protestantes que
não analisaremos nesse texto, mas, para melhor compreensão do diálogo proposto sobre o
antagônico crescimento do evangelicalismo pentecostal e o encarceramento de jovens, nos
atentaremos ao fenômeno pentecostal e sua trajetória até o Brasil.
Segundo Synan (2009, p. 17): “a história dos pentecostais, no sentido moderno da
palavra, tem seu ponto de partida na escola bíblica de Parham, em Topeka, Kansas, em 1901”.
Parham teve seu papel embrionário em alto nível de importância como precursor do
movimento, contudo, foi na pessoa de William Joseph Seymour que houve a notoriedade e
expansão que afetou o mundo e chegou ao Brasil, em 1906, conhecido pelo seu endereço:
Movimento da Rua Azuza.
15 No antigo calendário israelita estão relacionadas as três festas principais (Ex 23,14-17; 34,18-23): a primeira
é a Páscoa, celebrada junto a dos Ázimos ou Asmos; a segunda é a Festa das Colheitas ou Semanas que, a
partir do domínio Grego, recebeu o nome de Pentecostes; finalmente, a festa dos Tabernáculos ou Cabanas. 16 BÍBLIA, 2003.
71
O movimento iniciado sem grandes pretensões, planejamento, sem uma teologia
própria definida, por homens e mulheres simples e indoutos, se espalhou pelos EUA e pelo
mundo agregando vários seguidores às novas denominações que surgiam, tais como: A igreja
de Deus – Cleveland, Tennessee –, Igreja Holiness Pentecostal, Igreja Holiness Batizada com
Fogo, Igreja Batista Pentecostal, e a Igreja Assembleia de Deus.
A Assembleia de Deus teve seu capítulo particular sendo escrito no Brasil a partir da
experiência e da visão recebida por Daniel Berg e Gunnar Vingren, que, saindo de South Bend,
Indiana, EUA, embarcaram para o Brasil em cumprimento – como afirmaram – a uma visão
profética recebida para tal propósito, chegando na região de Belém do Pará em 1911, data marco
dessa igreja no Brasil.
O continente africano foi impactado pela mensagem pentecostal por John Graham
Lake, que, após a cura miraculosa de sua esposa, deixou sua promissora carreira na área de
seguros nos EUA e se tornou pregador itinerante a partir da África do Sul, primeiro sob o nome
de Missão da Fé Apostólica e depois como Igreja Cristã Sião.
O continente asiático teve o pentecostalismo entrando principalmente da Coréia do
Sul, primeiro por intermédio do ministério de Mary Rumsey, participante da primeira onda da
Rua Azuza, e, depois das duas grandes guerras, e antes da divisão da Coreia, pelo ex-aluno da
escola bíblica das Assembleias de Deus em Seul, o recém-convertido Paul Yonggi Cho. Cho se
tornará o líder fundador da Igreja do Evangelho Pleno de Yoido, maior igreja local do mundo.
O fenômeno não deixou a Europa de fora, visto que o pastor metodista Thomas Ball
Barratt, conhecido como o “apóstolo pentecostal para Europa”, deixou sua terra natal – Noruega
– e viajou pregando e implantando o pentecostalismo em países como Suécia, Inglaterra, França
e Alemanha.
A América do Norte, berço do movimento nos EUA, fez outros heróis da fé
pentecostal, como William Durham, que saiu de Chicago a levar a novidade pentecostal ao
Canadá, e depois se permitiu investir na América do Sul, onde teve algum sucesso, todavia, no
Brasil e na Argentina o movimento tomou algumas características particulares e distintivas a
partir de personagens como Luigi Francescon, conforme será visto adiante.
1.3.3 Pentecostalismo à brasileira
À parte das ondas e da expansão internacional, tivemos no Brasil um episódio
embrionário, pouco reconhecido de fato, pitoresco e relevante da fé pentecostal.
72
Ainda no Brasil Colônia, muito antes do Tratado de 1810, houve a invasão holandesa,
ocorrida na região de Olinda - PE, em 1830. Os holandeses protestantes, após derrota em
Salvador – anos antes –, regressaram com maior poderio militar, invadiram e dessa vez
conquistaram o território de Pernambuco. Durante cerca de dez anos, estenderam seu domínio
territorial e sua fé no nordeste brasileiro, deixando legado cultural, linguístico e religioso.
Questões diplomáticas e econômicas levaram ao colapso o projeto político e
econômico holandês, contudo, mesmo sendo duplamente derrotados em Guararapes - PE, 1648
e 1649, e expulsos pelos portugueses em 1654, a raiz da fé protestante estava plantada.
Ao analisar a trajetória holandesa no nordeste brasileiro, a pesquisadora Viração
(2012) entende que a igreja protestante nacional surgiu nesse contexto bélico, em que a morte
do índio Poty17 – para ela, primeiro mártir protestante brasileiro – torna-se o ponto marcatório
e distintivo do início da fé protestante não europeia, mas de fato nacional: “Por isso, argumento
que foi só depois da expulsão dos holandeses que vimos aflorar a verdadeira Igreja Potiguara”,
ou seja, a primeira igreja brasileira protestante. Essa igreja analisada por Viração tem o modus
operandi de fé tradicional das igrejas de missão, todavia, a semente holandesa que propagou a
fé entre os índios pode ter caído também em solo africano.
O movimento pentecostal é identificado em grande parte com a cultura soulblack –
espiritual negro, em tradução livre norte americana –, que a partir dos eventos registrados na
Rua Azurza em 1906 impactaria o mundo. Poucos imaginam ou mesmo dariam crédito a um
pentecostalismo brasileiro sui generis, contudo, essa possibilidade é identificada por Azevedo
(2018) na história do pregador negro itinerante Agostinho José Pereira, denominado: “O Divino
Mestre”.
Em 1841, Agostinho Jose Pereira surge pregando pelas ruas de Recife, e a partir dele
surge a primeira igreja protestante brasileira, a Igreja do Divino Mestre, com seus
mais de 300 seguidores, negros e negras, todos livres e libertos.
Agostinho José Pereira surge nas páginas policiais de Pernambuco e não nos registros
religiosos, todavia, surge nas fontes policiais por motivos religiosos, ele é denunciado
e preso por estar pregando pelas ruas do Recife, em 1846. Sim, a semente protestante
dos holandeses gerou fruto, mas, não foi em solo branco nem tradicional (AZEVEDO,
2018, p. 90).
17 Em 1625, Pedro Poty, índio potiguar, embarca para os Países Baixos, onde recebe educação formal e
religiosa de ponta e logo se converte ao protestantismo. Cinco anos depois volta ao Brasil, em data que
coincide com o início da segunda invasão holandesa. Se torna um líder político e religioso e leva muitos
índios a se converterem à fé protestante. É capturado, torturado e, por não negar sua fé, morto na batalha dos
Guararapes.
73
Sua pregação se aproximava à tradicional da missão protestante, pois negava a
mediação dos santos católicos, declarava publicamente que as imagens não tinham nenhum
valor espiritual, e mais, de maneira incisiva proclamava o descumprimento da verdadeira fé aos
que se apegavam aos santos. Se a pregação pública contra as imagens poderia ser fruto da
cultura protestante holandesa, o Divino Mestre inovou ao declarar que “recebia visões e sonhos
do próprio Cristo”, que lhe aparecia na cor da sua própria pele; o Cristo do Divino Mestre era
negro.
A antropologia e arqueologia moderna confirmam a visão do Divino Mestre, de que a
cor da pele do Jesus histórico seria mais escura quando comparada ao estereótipo difundido nos
filmes norte-americanos e europeus, contudo, se ainda há dúvidas ou discussões sobre a cor da
pele do Jesus histórico, sobre a cor da pele dos evangélicos brasileiros os dados retiram todas
as dúvidas, e, segundo Oliveira (2015), o Brasil que se desenvolve evangélico na virada do
século XX para o XXI é pentecostal e negro.
1.3.3.1 Ondas brasileiras
Retornando ao conceito de Freston (1993), podemos fazer um paralelo aos
movimentos ou ondas do pentecostalismo no contexto nacional. A primeira onda ocorreu no
início do século num Brasil de característica agrícola ainda manual, política nacional de
característica bi regional conhecida como café com leite, abertura da mão de obra interna para
os estrangeiros, temos: Congregação Cristã no Brasil (1910), Assembleia de Deus (1911).
Assim como na primeira onda americana a ênfase esteve na glossolalia, que marcou
não apenas a renovação da Igreja, mas confirmou a salvação e o nível de maturidade do cristão
que recebeu o Dom.
A segunda onda pentecostal nacional ocorreu no período denominado Estado Novo,
após as grandes guerras, país vivendo certa expansão industrial, inclusive na comunicação
radiofônica, em que não apenas as radionovelas como os pregadores pentecostais alcançaram
os rincões mais distantes do país, destaque para o pernambucano Manoel de Mello, do programa
de rádio A voz do Brasil Para Cristo, primeiro pela emissora Piratininga de São Paulo e
posteriormente pela Rádio Tupi. Em meados dos anos 50 surgiram: Igreja do Evangelho
Quadrangular (1953), O Brasil para Cristo (1955), Deus é Amor (1962), entre outras de menor
expressão.
Manteve-se o destaque para a glossolalia e fortaleceu-se a doutrina da cura divina, a
mensagem da palavra da fé, palavra positiva que seria a base para a próxima onda.
74
1.3.3.2 Terceira Onda
O Brasil vivia um momento de euforia e efervescência, pós tricampeonato mundial de
futebol, chegada dos aparelhos de televisão coloridos, expansão rodoviária, início de uma nova
fase da ditatura, primeiras anistias anunciadas ao final dos anos 70, expectativa pelas eleições
diretas, e em paralelo o denominado milagre econômico permitia uma onda de certo otimismo
nacional que gerou uma nova postura nas pregações pentecostais.
A glossolalia e a cura divina perderam espaço nas prédicas para a prosperidade, e ainda
dentro do conceito da Palavra Positiva, surgiram termos como “determinar, colocar Deus na
parede, exigir, reivindicar” entre outros.
Nessa onda destacaram-se: Universal do Reino de Deus (1977), Internacional da Graça
(1980), Renascer em Cristo (1986), Comunidade Sara Nossa Terra (1994).
A expansão pentecostal brasileira registrada no Censo 2010 aponta 22% da população
como evangélica, sendo que dentro desse grupo 60% se identificam com o pentecostalismo.
Esse número é relevante quando compararmos com os dados apontados Pew Research Center
em 2011, no qual pentecostais e carismáticos correspondem a 27% de todos os cristãos no
mundo, sendo que 49% dos cristãos carismáticos vivem nas Américas; os Estados Unidos,
berço do pentecostalismo, com cerca de 6 milhões de pentecostais, algo em torno de 5% apenas
dos cristãos no país, estão bem aquém dos números pentecostais brasileiros.
Como pôde-se observar temos na união étnica, na glossolalia, na pregação leiga,
entusiasta pública e na visão expansionista – primeira e segunda Onda –, e na palavra positiva
e prosperidade – terceira onda –, características marcantes da Pentecostalidade em igrejas como
Assembleia de Deus, O Brasil para Cristo, Renascer em Cristo, Universal do Reino de Deus,
Internacional da Graça entre outras, características que não aparecem na Congregação Cristã
no Brasil, igreja expressiva em números de seguidores, sendo o segundo maior grupo
pentecostal no Brasil, porém bastante distante do modus operandi pentecostal identificado nas
demais denominações, em especial ao que se refere a assistência religiosa prisional, como será
demonstrado no terceiro capítulo.
1.3.4 Congregação Cristã no Brasil: Início e Estabelecimento
A Congregação Cristã no Brasil surge dentro do recorte histórico denominado
Primeira Onda, contudo apresenta características distintivas, tendo como fundador o ítalo-
americano Luigi Francescon. A primeira igreja pentecostal brasileira surge com algumas
75
características que se confundem com seu próprio fundador: nasce como uma comunidade de
fé étnica, exclusivista, italiana, controversa, e sem estrutura acadêmica, erudita, teológica e/ou
doutrinária.
Delimitar lastro histórico pessoal e institucional de Francescon e da CCB, demonstra-
se empreendimento dificultoso pela ausência de material histórico da instituição, pela postura
contrária aos escritos e letras humanas de seu fundador, pelo caráter exclusivista e separatista
de sua liderança ministerial e administrativa, como pode ser observado em algumas de suas
circulares anuais.
09 – SIGILO
O servo que não guardar sigilo do ministério não é sincero e Deus o esvaziará.
02 – SIGILO
É nosso dever guardar sigilo em todos os assuntos do ministério. Irmãs da Obra da
Piedade devem ser exortadas neste sentido, particularmente quando o Senhor não
confirma algum caso por elas apresentado (CCB, 1978, tópicos de ensinamentos para
anciães 9 e para diáconos 2).
E ainda:
08 – SIGILO ENTRE O MINISTÉRIO
O sigilo é um dever entre os componentes do Ministério - Respeitar o sigilo faz parte
da formação espiritual e também material de quem pertence ao Ministério da Obra de
Deus. Para merecer a confiança dos demais é necessário dar mostras de que sabe
manter o sigilo (CCB, 1982, tópicos de ensinamentos para anciães 8).
Essa dificuldade é apontada por outros pesquisadores que intentaram escrever sobre a
CCB, contudo, a biografia de Luigi Francescon pode ser introdutoriamente conhecida pelo
trabalho do pastor pentecostal da Assembleia de Deus Italiana (ADI), Francesco Toppi,
primeiro católico e depois, aos 16 anos, convertido ao evangelicalismo pentecostal, torna-se
presidente das ADIs de 1977 a 2007, entre muitos feitos por sua denominação, cria instituto de
estudos bíblicos e uma editora, e viaja aos EUA, onde tem contato com a comunidade
pentecostal italiana. Após a morte de Francescon, escreve a biografia sobre o, para ele,
percursor do pentecostalismo italiano.
Tentar escrever uma biografia de Luigi Francescon não é uma tarefa simples, tanto
pelas fontes históricas muito limitadas, quanto por sua personalidade, que no contexto
do Movimento Pentecostal italiano muitas vezes foi mal interpretado por suas
escolhas radicais18 (TOPPI, 2007, p. 9, tradução nossa).
18 Tentare di scrivere uma biografia di Luigi Francescon non è un impegno semplice, sia per il limitatissime
fonti storiche, si per il carattere del pesonaggio, che nell’ambito del Movimento pentecostale italiano è stato
troppo spesso incompreso per le sue scelte radicali.
76
Toppi adianta um dos temas que nos será importante nesta pesquisa: “a ausência de
registro histórico”, sendo a tradição oral determinante na fé da CCB, e a postura radical de
Francescon, o que gera inúmeras controvérsias doutrinárias e distanciamento das demais
denominações pentecostais.
De forma didática, podemos dividir a trajetória de Francescon em quatro fases, sendo
a primeira do seu nascimento e juventude na Itália até sua conversão ao cristianismo protestante
presbiteriano nos EUA, a segunda fase com a conversão ao cristianismo pentecostal, início da
pregação itinerante na américa do norte e Itália, a terceira fase com ações missionárias
expansionistas na américa latina e a igreja pentecostal italiana brasileira e, por fim, a fase de
estabelecimento da CCB, sua estrutura organizacional, bases doutrinárias distintivas e
distanciamento das demais denominações pentecostais brasileiras.
Quadro 4 – Luigi Francescon – Parte 1
Ano Acontecimento
1866 Nasce na região de Udine, Itália
1881 Vai para Hungria em busca de oportunidade de trabalho
1889 1885-1889 - Durante 3 anos serve o exército
1890 03/03 - Chega a Chicago, EUA
1891 Se converte ao cristianismo presbiteriano
1892 Funda IPI - Igreja Presbiteriana Italiana
1892 Consagrado diácono na PIPI
1894 Visão sobrenatural – “Batismo por Imersão”
1895 Casa-se com Rosina Balzano
1898 Giusepe Beretta se converte ao cristianismo
1901 Consagrado ancião na PIPI
1903 Insiste com o Batismo por Imersão a Beretta
1903 Apresenta o Batismo por Imersão a PIPI - na ausência do Pastor Filippo
1903 É batizado por imersão, junto com 18 dos 25 membros da PIPI
1903 Viaja à Itália – Missão Italiana
1903 Funda a ACC – Assembleia Cristã de Chicago
1904 Volta para Chicago, PIPI se divide
Fonte: Toppi (2007) – Elaborado pelo autor
Nasce em 29/03/1866, em Cavasso Nuovo, região agrícola da então província de
Udine, um dos 9 filhos de Pietro e Luisa Maria; herda o nome do primeiro filho do casal, Luigi,
que morrera muito cedo, e ainda perderia outros dois irmãos de maneira prematura.
77
Não se sabe muito de sua infância e adolescência, contudo, a vida simples e mesmo
pobre do campo é a marca dessa fase da vida, na qual a rotina dos meninos não era a escolar e
sim a do trabalho rural. Francescon não conhecia nem mesmo a língua italiana oficial, falando
o dialeto local, friulano, e a impossibilidade de estudo diante da necessidade de sobrevivência
é lembrada por sua filha, Helen Carrieri, que em uma entrevista afirma: “Quase não foi à escola
e aprendeu a ler e escrever quando foi para o exército19” (tradução nossa).
Antes da experiência militar que lhe apresentou aos 20 anos as desconhecidas letras,
história e cultura romana, Francescon tenta desenvolver carreira profissional na Hungria,
conforme carta pessoal destinada ao seu amigo Gregorio.
Aos quinze anos, fui para Budapeste, Hungria, com dois camponeses operários de
mosaico, onde também aprendi esse ofício e trabalhei até os 20 anos, depois voltei
para a Itália e passei 34 meses no exército (TOPPI, 2007, p. 13, tradução nossa)20.
As migrações em massa de europeus e asiáticos alimentam os campos e as novas
indústrias de norte a sul no continente americano, entre o final dos anos oitocentos e início dos
novecentos, cerca de 50 mil italianos desembarcam nos EUA, Luigi Francescon foi um destes,
e aos 24 anos, depois de cumprir o serviço militar, muda-se para Chicago – EUA, em março de
1890.
No mesmo ano, por meio de outro Italiano, Michele Nardi, pregador independente,
conhece a mensagem do evangelho protestante, e ao final de 1891, pouco mais de um ano e
meio em solo americano, converte-se ao presbiterianismo. Em março de 1892, junto com outros
italianos, funda a Primeira Igreja Presbiteriana Italiana (PIPI), tendo Filippo Grilli, de origem
de fé valdense, assumindo como primeiro pastor dessa comunidade de fé, na qual Luigi e outros
três irmãos são eleitos diáconos.
O desenvolvimento relacional, social, profissional e religioso em solo americano se
mantém no entorno da comunidade de fé italiana, sendo que apenas um mês depois do início
da PIPI, 29 pessoas são recebidas como membras, entre elas, Rosina Balzano, futura esposa de
Luigi.
Oito anos após sua conversão e início da igreja, Francescon é consagrado ancião da
comunidade local. Nas palavras do próprio, temos:
19 Quase non andò a scuola e imparò a leggere e scrivere quando andò militare. 20 A quindici anni, com due miei paesani lavoratori in mosaico andai a Budapest, Ungheria, ovi imparai anch’io
quel mestiere fino a 20 anni poi tornai in Italia e feci 34 mesi sotto le armi.
78
Em março de 1892, com o grupo evangelizado pelo irmão Michele Nardi e algumas
famílias de fé Valdense, foi criada nesta cidade (Chicago), a Primeira Igreja
Presbiteriana Italiana, sendo o servo Filippo Grilli, pastor. Eu fu eleito um dos três
diáconos e, após alguns anos, ancião (FRANCESCON, 1936. p.34).
Em 1894, em viagem a trabalho na cidade de Cincinati, Ohio, lendo a bíblia em um
momento devocional pessoal, ocorre o evento que muda e redireciona sua concepção de fé.
Francescon declara que ouviu, por duas vezes, uma voz sobrenatural que dizia: “Tu não
obedeceste a este meu mandamento”, o texto bíblico que lia está registrado na carta do apóstolo
Paulo à comunidade de Colossos.
“Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de
Deus, que o ressuscitou dentre os mortos” (Cl 2,12)21, diante da leitura do texto e da indagação
sobrenatural, responde: “Senhor, jamais alguém falou neste assunto”.
Em 1895, casa-se com Rosina, que, sendo mais estudada que Luigi, leciona estudos
bíblicos e dirige como superintendente a Escola Bíblica recém-formada, além de traduzir hinos
para a comunidade italiana.
Em 1898, Giuseppe Baretta se une à PIPI, tornando-se amigo próximo de Luigi, sendo
o batismo por imersão o principal assunto dessa amizade. No ano de 1901, Luigi é consagrado
a ancião, e em 1903, nove anos após o evento da voz sobrenatural e cinco anos após a conversão
de Baretta, estando ambos a trabalho em Elgin, Illinois, de maneira mais incisiva, questiona-o
sobre a observação do batismo, sendo primeiro Baretta batizado pelos irmãos de uma igreja
local e o próprio Luigi, alguns dias depois, pelas mãos de Baretta; batismo que seria no retorno
à sua comunidade, feito diante dos irmãos da PIPI, porém, na ausência do pastor Filippo.
Em 06 de setembro assume a direção do culto, visto que o pastor Filippo havia ido à
Itália em missão evangelística, anuncia sua decisão de se rebatizar, sendo agora por imersão, e
convida a todos para o ato que ocorreria no dia seguinte.
Na segunda feira, 07 de setembro de 1903, feriado local, no Lake-front de Chicago,
assistido por 25 irmãos da PIPI, Luigi Francescon é batizado por Barretta, que, ao fazer apelo,
outros 18 decidem e por ele são batizados. Sobre esses eventos, temos o registro de Francescon
(1936, p. 36):
Como o pastor se encontrava na Itália, competia a mim como ancião presidir o serviço
que se realizava no Domingo, dia 6. Assim tive oportunidade de dizer ao povo o que
eu sentia em meu coração e lhes falei: Após 9 anos que o Senhor me falou em obedecer
ao Seu mandamento, amanhã, com ajuda de Deus, terei a oportunidade em obedecê-
lo e se algum de vos quiser assistir venham ao (Lake-front, de Chicago) em tal lugar,
21 BÍBLIA, 2003.
79
às tantas horas. Vieram cerca de 25, dos quais 18 obedeceram juntamente comigo.
Fomos imersos pelo irmão G. Baretta.
No retorno do pastor Filippo, Luigi pede demissão como ancião e sai da PIPI junto
com o grupo de irmãos recém-batizados por imersão. Ainda nesse ano, funda a Assembleia
Cristã de Chicago (ACC).
Entre dezembro de 1903 e maio de 1904 volta à Itália para visitar seus familiares, e ao
retornar a Chicago tem divergências com os irmãos da nova comunidade, ACC; se com a
comunidade PIPI a questão foi o batismo por imersão, nessa nova divergência a questão está
relacionada ao Dia do Senhor, como observa Toppi (2007, p. 35).
Em pesquisa sistemática nas escrituras assume posição radical sobre a observância do
domingo como o “Dia do Senhor”, devendo o domingo ser considerado como o
Sábado no antigo testamento22 (tradução nossa).
Essa última separação gerou dois grupos que até meados de 1907 permaneceram
separados, sendo que o ponto de contato que trouxe unidade entre essas comunidades italianas
de fé foi o impacto do movimento pentecostal, percebido em meados de 1901, com grande
repercussão nacional e internacional a partir dos eventos de 1906.
De fato, em Seymour, o movimento pentecostal adquire uma característica teológica e
interracial, rompendo as barreiras do apartheid americano, sendo que os encontros da Rua
Azuza, 312, registram a participação de americanos e estrangeiros, negros e brancos, todavia,
as relações interraciais não ecoam na mensagem pentecostal de Francescon até meados de 1935,
e a questão do preparo e estudo teológico é demonizada na sua igreja até os dias atuais, não
apenas sendo proibido o estudo como mesmo ridicularizado.
Alguns membros da CCB dizem que a ‘comida’ servida em sua igreja é melhor,
porque sai na hora, pois Deus fala pela boca do ancião ou do cooperador. E, como
dizem, o alimento que recebem na hora é uma ‘quentinha do céu’, enquanto a ‘comida’
servida nas demais denominações é fria, amanhecida, requentada, porque seus
pastores precisam ficar estudando a Bíblia para, depois, poder lhes falar (FERREIRA,
2007, p. 137).
O ministério pastoral reconhecido nas demais igrejas cristãs – tanto católica com seus
padres, como protestantes e pentecostais com seus pastores e pastoras, e neopentecostais com
seus bispos – não é reconhecido na CCB, que entende que o único pastor é Jesus Cristo, e
22 Nella sua sistemática ricerce dele Scritture, assunse uma posizione radicale sull’osservanza del “Giorno del
Signore”, sostenendo “che la domenica dovesse essere considerata quase come il Sabato dell’Antico
Testamento (bisognava astenersi da qualsiasi forma di lavor).
80
qualquer humano que se dedique ao exercício sacerdotal, estude a bíblia para o ensino e
pregação e dependa do sustento da irmandade é visto como usurpador, alguém não inspirado
pelo Espírito Santo que propaga pensamentos e filosofias meramente humanas.
Quadro 5 – Luigi Francescon – Parte 2
Ano Acontecimento
1906 Rua Azuza - Seymour e o impacto americano
1907 William Durham recebe o batismo espiritual. Francescon e Durham se encontram
1907 25/08 – Francescon recebe o dom de línguas espirituais
1907 Revelação sobrenatural – “Pregar aos Italianos”
1907 Inicia a igreja Assembleia Cristiana Italiana
1908 1ª semana de abril - Início da “Obra Missionária” - EUA e Itália
1909 Retorna aos EUA e viaja propagando a nova fé em diversas cidades
1909 04/09 - Revelação sobrenatural – “Viaja à Argentina”
1909 Retorna aos EUA, onde terá nova visão, o destino agora será o Brasil
Fonte: Toppi (2007) – Elaborado pelo autor
Sobre o início do movimento pentecostal e o impacto da Rua Azuza, já mencionamos
acima, na Primeira Onda, apesar de Paham e Seymor serem nomes protagonistas desse
movimento, a pessoa que irá impactar Luigi Francescon e lhe apresentar a nova fé pentecostal
será William Durham.
Natural de Kentuky, 1873, de origem denominacional Batista, convertido ao
cristianismo em 1891, Durham terá sua experiência sobrenatural em 1898, quando afirma ter
visto o próprio Cristo crucificado enquanto viajava pela região de Minnesota, evento que marca
o início do seu ministério de pregação integral.
Em 1901, funda a Missão da Avenida Norte, em uma região de muitos imigrantes de
Chicago, sua própria igreja com característica similar aos movimentos holyness. Diante da
efervescência dos noticiários, vai até a Rua Azuza, conhece e apoia o movimento, sendo ele
mesmo batizado com fogo do Espírito Santo, falando em novas línguas, em 01/03/190723.
Retorna a Chicago e atua de maneira ativa e incansável na propagação da fé
pentecostal, onde muitos passam a receber o mesmo dom e a falar em línguas sobrenaturais,
23 Há divergência entre o ano do batismo com o Espírito Santo em Durham, sendo o ano 1901 apontado em
alguns textos e 1907 por Toppi, porém, percebendo o contexto da rua Azuza, tendo como data marco 1906,
entende-se que o registro de Toppi e o ano 1907 está mais adequado e coerente aos fatos históricos.
81
como também há registro de curas, sua igreja não comporta a quantidade de visitantes vindos
não apenas de Chicago, mas de outras regiões dos EUA.
Em 1911, William Durham vai em definitivo para Los Angeles, após conflitos
doutrinários com a nova e ainda não descrita doutrina pentecostal, a divergência referia-se sobre
a santificação e o batismo com o Espírito Santo, que para o movimento holyness estão
relacionados a um segundo momento, ou segunda benção, e para Durham não.
Controvérsias doutrinárias farão com que Durham rompa não apenas com o grupo
holyness, mas com o próprio Francescon. Antes disso, porém, o primeiro encontro e os
primeiros meses de convivência são marcantes e direcionadores à Francescon, conforme
declaração do próprio:
No final de abril de 1907, o Senhor me fez conhecer um irmão americano, um dos
primeiros a receber a promessa do Espírito Santo em Los Angeles no ano de 1906, e
por meio dele conheci a Missão da Av. West North, onde se pregava a promessa do
Espírito que o próprio pastor Durham recebera24 (TOPPI, 2007, p. 42, tradução nossa).
No sábado, dia 24/08/1907, Luigi se aproximou de um encontro público, um culto ao
ar livre, onde Durham estava pregando, e conforme seu registro, o testemunho pessoal do
Durham lhe foi impactante, fazendo-o sentir que de fato havia uma obra de Deus na vida
“daquele irmão americano”, e no dia seguinte foi pessoalmente ao encontro na Avenida Norte,
943. Sobre esse encontro, Toppi (2007, p. 43) registra a percepção de Francescon sobre o
desenvolvimento e evolução da sua pregação em comparação a dos pregadores pentecostais.
Não temos visto progresso nestes três últimos anos de cultos em nossas casas, ouvi
testemunho de que o Senhor está batizando os crentes com a Graça de Seu filho, como
no tempo dos apóstolos no dia de pentecostes na avenida em Chicago. Isto se repetiu
muitas vezes naquela semana, com o desejo de saber sobre o que tinha ouvido estudei
a Bíblia durante uns 20 minutos e decidi ir com ele no dia seguinte, assim foi.25
24 Negli ultimi d’Aprile 1907, il Signore mi fece incontrare um fratello americano, uno dei primi che ricevette
la promessa dello Spirito Santo in Los Angeles I’anno 1906, e per mezzo de lui seppi che al n. 943 West
North Ave., vi era uma missione che predicava la promessa dello S. e che il pastore stesso (W. S. Durham) ne
era fato partecipe. 25 In questi ultimini tre anni mentre abbiamo tenuto le riunioni nelle nostre case non abbiamo visto alcun
progresso... Ho sentito la testimonianza presso la Chicago Ave... Che il Sgnore battezza i credenti nel Suo
Figliuolo, con la santa grazia, como fece al tempo delgli apostoli il giorno di Pentecoste.
Io sono andato a vedere. Mi ripete molte volte questo fatto durante quella settimana con il desiderio di
accertarsi su quello che aveva udito.
Percio prendemmo le nostre bibbei e consultammo alcuni passi e dopo circa tre quarti d'ora gli dissi:
Domani, domenica, andiamo insieme, e cosi facemmo.
82
Cumprindo o propósito dito no sábado, ao amanhecer do domingo, às 10h da manhã,
esteve presente no culto em que recebeu o mesmo Dom testemunhado por Durham e pelos
irmãos da Rua Azuza. Em 25/08/1907, Luigi teve sua experiência pentecostal falando em
línguas estranhas, um mês depois de sua esposa.
Francescon caminhou por um período muito curto com a comunidade da Avenida do
Norte, contudo, assim como acontecera com a PIPI e ACC, surgiu divergência doutrinária com
Durham sobre batismo com o Espírito Santo.
Ainda que a experiência pentecostal pessoal de Luigi tenha ocorrido em 25/08, a data
marco para a comunidade pentecostal italiana é 15/09/1907, o “dia da memória sagrada”, no
qual o evento sobrenatural é registrado como novo pentecoste e o nascimento não apenas do
novo ministro, Francescon, mas também da nova igreja, a pentecostal italiana.
Dia da memória sagrada, definido por Francescon como o ‘inesquecível 15 de
setembro’, o culto começou às 10h e um novo pentecoste se manifestou de forma
generalizada, enquanto João fora batizado com o Espírito algumas horas antes na
comunidade de Durham, levantou-se oração ao Senhor e o poder de Deus desceu sobre
a comunidade e os presentes foram cheios do Divino Consolador. Os dois grupos
italianos independentes se uniram e nomearam os anciãos, sobretudo L. Francescon
como o ministro da Palavra. Assim foi constituída a primeira igreja evangélica
pentecostal italiana26 (TOPPI, 2007, p. 51-52, tradução nossa).
Os dois grupos da antiga ACC buscam a experiência pentecostal nos cultos de Durham,
o que de fato acontece, sendo impactados pelo novo pentecostes, adiante se unirão sob liderança
do novo ministro pentecostal, Luigi Francescon, formando uma nova comunidade a Assembleia
Cristã Italiana (ACI).
Dentro do contexto dos cultos da Avenida Norte, temos o registro da primeira pregação
pública pentecostal de Francescon:
Quando voltei a congregação da W. Grand Ave. O imrão P. Ottolini abria o serviço e
P. Menconi presidia. No terceiro serviço que tivemos, sucedeu que enquanto o irmão
P. Menconi subia ao púlpito, o irmão P. Ottolini (guiado pelo Espírito Santo), deu um
salto e falou em alto voz: ‘Irmão Menconi! Pare; o Senhor me disse que enviou em
nosso meio o irmão Louis Francescon para nos exortar’. E o irmão P. Menconi foi
confirmado pelo Senhor para ficar sentado no momento, depois também Deus servir-
se-ia dele. E foi assim que, novamente, ocupei o lugar de ancião nessa igreja até 29
de junho de 1908 (FERREIRA, 2007, p. 44).
26 “Giorno di sacra memoria” e Francescon la defini: la defini: L'indimenticabile 15 set. il culto era inizato alle
ore 10,00 e si manifesto in modo generalizzato una nuova pentecoste. Mentre Giovanni Perrou, il quale era
stato battezzato nello Sipirito alcune ore prima nella Comunità del Durham, innalzava una preghiera al
Signore, la potenza di Dio scese sulla comunità ed i presenti furono pervasi dal divino Consolatore. I due
gruppi italiani indipendenti si riunirono e frono nominati degli anziani, ma soprattutto Luigi Grancescon fu
designato ad esercitare il “miniterio della Parola”. Fui così costituita la prima Chiesa evagelica pentecostale
italiana.
83
A nova comunidade se fortalecia com antigos e novos adeptos, cadeiras foram doadas,
o espaço ficou pequeno e em poucos meses Luigi viu a necessidade de abandonar sua profissão
para dedicar-se exclusivamente à pregação pentecostal.
Em nova revelação sobrenatural Francescon é direcionado a pregar aos italianos, não
apenas em Chicago, e no ano de 1908 faz viagens missionárias à Itália e por várias cidades dos
EUA, começando por Filadélfia, California, Nova York, Illinois.
Conforme registro pessoal, foi de Durham que lhe veio a confirmação da nova missão,
a de pregar à colônia italiana:
Naquele mesmo tempo enquanto se espera a Promessa, o Senhor fez saber ao irmão
W. H. Durham e outros que Ele me havia chamado e preparado para levar Sua
mensagem à colônia italiana; após, fui eu mesmo também confirmado por Deus
(FRANCESCON, 1936, p. 38).
Sua esposa, Rosina, que não apenas recebeu o dom sobrenatural primeiro que Luigi
como também será a primeira em “missão”, a partir de visão sobrenatural, em meados de
outubro vai a Los Angeles, California, onde dá o seu relato pessoal dos últimos acontecimentos
à família Moles, e depois deles outros foram alcançados pela nova pregação naquela cidade.
Em dezembro do mesmo ano, Francescon recebe sua chamada sobrenatural pessoal e
assim a registra:
[...] o Senhor falou pela minha boca, dizendo: ‘Eu, o Senhor, permaneci no meio de
vós e se Me obedecerdes e fordes humildes Eu mandarei convosco todos os que devem
ser salvos. Vos terei unidos por um pouco de tempo a fim de vos prearar, para depois
mandar alguns de vós em outros lugares para recolher outras minhas ovelhas’
(FRANCESCON, 1936, p. 41).
Ainda em Chicago, a nova comunidade cresce e se desenvolve e em janeiro de 1908
cerca de 70 pessoas foram batizadas ou rebatizadas por imersão.
Entre os eventos de 15 de setembro de 1907 até março de 1910, quando desembarca
em São Paulo, a obra expandiu e impelidos pelo sucesso local e pelas visões sobrenaturais a
nova mensagem era levada a amigos italianos e familiares em outras cidades e na terra natal,
não apenas por Luigi, mas começando por Rosina e envolvendo outros irmãos da nova fé a obra
de Deus se espalhou.
84
Quadro 6 – Viagens em Missão Pentecostal
Data Pessoa Destino
Out, 1907 Rosina Los Angeles
Jan, 1908 P. Ottolini New York
Fev, 1908 A. Lencioni Hulberton, NY
Abr,1908 4 irmãos (??) Itália
Jun, 1908 L. Francescon St. Loius
Jun, 1908 L. Francescon California
Set, 1908 Lombardi Roma, Itália
Set, 1908 S. Arena Sicilia, Itália
Abr, 1909 L. Francescon Filadéfia
Jun, 1909 L. Francescon Chicago
Set, 1909 L. Francescon Buenos Aires, Argentina
Jan, 1910 L. Francescon Chicago
Mar, 1910 L. Francescon São Paulo, Brasil
Fonte: Toppi (2007) – Elaborado pelo autor
Depois de algumas viagens, Luigi retorna a Chicago em 22 de julho de 1909, ficando
até setembro, quando, por nova revelação sobrenatural, no dia 04 viaja para a Argentina, onde
batiza onze pessoas e declara que esses seriam “as primícias da grande obra de Deus naquele
país”, contudo, apesar do início animador, não há grande avanço de sua mensagem entre os
hermanos e em princípios de janeiro de 1910 retorna a Chicago.
Em 08 de março, após nova revelação sobrenatural, parte para São Paulo, Brasil, onde
os primeiros passos da fé pentecostal italiana seriam dados e a semente da futura Congregação
Cristã no Brasil seriam lançadas.
Quadro 7 – Luigi Francescon – Parte 3
Ano Acontecimento
1910 Primeiras semanas de janeiro, volta a Argentina
1910 08/03 - Revelação sobrenatural – “Viaja ao Brasil”
1910 10/03 - 1º convertido: Vicenzo Pievani - Brás, SP.
1910 20/04 - 1º comunidade: Sto Antonio da Platina, SP
1910 05/06 - 1º batismos nas águas - Felício Antonio Mascaro.
1910 20/06 - Prega (testemunha) na Igreja Presbiteriana do Brás
1910 Conversão de Presbiterianos, Batistas e Católicos nasce a Ass. Cristã do Brasil
1910 Conversão do barbeiro presbiteriano Felipe Pavan, 1ª Ancião da futura CCB
1910 Primeiras reuniões da Ass. Cristã acontecem na casa de Felipe Pavan
1910 Rebatismo de Felipe Pavan e família nas águas do rio na Ponte Grande, SP.
85
Quadro 7 – Luigi Francescon – Parte 3
(Continuação)
1910 ?/09 - Viaja ao Canal do Panamá
1911 Primeira divisão das Ass. Cristã no Brasil. Grupo segue Pavan outro Ernesto
1918 1918-1920 - Expansão da nova fé pentecostal entre os Italianos
1925 Nova divisão na Ass. Cristiana, funda: “Congregazione Cristiana”
1927 Participa da 1ª Conferência Pentecostal - EUA/Canadá
1928 Nova divisão, agora entre os irmãos no Brasil, alguns voltam às ADs.
1928 1º Encontro das Igrejas Pentecostais Italianas. Roma, Itália.
1929 2ª Conferência Pentecostal
1931 29/11 - CCB na rua Uruguaiana, 163 - esta unidade funciona até 04/04/1954
1932 1ª vez uso do nome Congregação Christã do Brazil - unidade Bom Retiro
1935 09/04 - Circular Fascista proíbe a fé pentecostal na Itália - revogada em 1955
1936 20-25/02 - 1ª Convenção das Congregações Cristãs Brasileiras.
1936 18/10 - 1ª Convenção de Jovens das Congregações Cristãs Brasileiras
Fonte: Toppi (2007) – Elaborado pelo autor
Luigi Francescon fez parte do movimento migratório italiano aos EUA, todavia, as
questões sociais, culturais e principalmente econômicas vividas na Itália em processo de
unificação no final do século XIX e início do século XX transformou o Brasil também em
destino desejado a esse grupo, primeiro vindo para as fazendas de café, ainda sob a monarquia
portuguesa, e depois ocupando as fábricas de São Paulo em um Brasil republicano.
A comunidade italiana chegou a ser responsável pela ocupação de cerca de 90% das
vagas da nova indústria brasileira em São Paulo, segundo o site do governo do Estado algo em
torno de 50 mil italianos, numa população estimada na ordem de 200 mil pessoas, considerando
os descendentes africanos pós escravidão e os demais estrangeiros, vindos desde o tratado de
1810, pode-se afirmar que era mais fácil trombar com um italiano no centro do que encontrar
um brasileiro nato.
No início de março de 1910, Francescon chega na região central estendida composta
pelos bairros do Brás e Mooca – principal geografia utilizada por essa comunidade estrangeira
– reduto dos trabalhadores italianos, conhece um transeunte chamado Vicenzo Pievani, italiano,
ateu, provindo da região de Santo Antônio da Platina, Paraná. Vicenzo estava em São Paulo
com objetivo de comercializar sua mercadoria na rua Florêncio de Abreu, centro, SP.
Luigi apresenta a mensagem pentecostal a Vicenzo, que aceita o testemunho de
Francescon e leva a nova fé para sua cidade, no estado do Paraná.
86
Poucos dias depois, já em abril, Luigi vai para a cidade de Vicenzo e apresenta a fé
pentecostal a outro italiano, Felício A. Mascaro, sendo que essas duas famílias formam o
primeiro grupo de pentecostais em solo brasileiro.
Assim, fui recebido em sua casa e poucos dias depois, o Senhor comprazeu-se (sic)
em abrir seus corações e de mais 9 pessoas. Foram batizados na água 11 pessoas e
confirmados com sinais do altíssimo.
Estas foram as primícias da grande Obra de Deus naquele país (FRANCESCON,
1936, p. 46).
Primeiros grupos pentecostais no Brasil surgem da comunidade italiana em Santo
Antônio da Platina, Paraná, onde Luigi permaneceu até o dia 20 de junho, e em São Paulo a
partir de seu retorno.
Ao retornar à cidade de São Paulo, sem falar a língua portuguesa, busca contato com
a comunidade italiana e a partir de uma barbearia de uso de trabalhadores italianos, faz contatos
com cristãos italianos presbiterianos, Ernesto Finotti e Felipe Pavan.
Felipe Pavan era presbítero da Igreja Presbiteriana que ficava na Rua Alfandega, 64,
região central da capital, e em 25 de junho aceita a mensagem pentecostal de Luigi. Sendo
presbítero de sua comunidade, dá oportunidade para que Francescon fale à igreja no culto, fato
que traz certo desentendimento com o pastor local, o português presbiteriano Carvalhosa, que
proíbe Francescon e a nova pregação pentecostal em sua igreja, no entanto, isso não inibe a
ação de Luigi, que passa a dirigir seus encontros na casa de outra família italiana, a Finotti.
O presbítero Felipe Pavan, que em primeiro momento acata a decisão de seu pastor,
volta atrás em sua decisão e procura a Francescon, pede-lhe perdão por ter ficado ao lado de
Carvalhosa, e juntos, pós saída de Carvalhosa – que leva todos os utensílios do local –, assumem
o salão da igreja presbiteriana, realizando cultos três vezes por semana.
Não apenas os cultos na Rua Alfandega, como também cultos públicos ao ar livre
fizeram com que a doutrina pentecostal rapidamente se espalhasse pela comunidade italiana,
sendo que em um desses eventos as famílias Mazzei, Peruchi e Piro aceitaram a mensagem e
se decidiram pelo batismo por imersão.
Em meados de agosto de 1910 ocorreram os primeiros batismos por imersão no bairro
da Ponte Grande, onde Francescon imergiu no rio Felipe Pavan e sua esposa, Angela Pavan,
seus filhos Germilio e Paulo, como também a família Finotti, sendo o casal Ernesto e Esterina,
seu filho João e os tios Santo Pontalti e Isabela Pontalti. Surge assim a Assembleia Cristã, tendo
em Felipe e Ernesto a primeira liderança eclesiástica dessa nova comunidade, que, logo depois
87
de rebatizados – já possuíam o batismo por aspersão presbiteriano –, foram consagrados anciãos
por Francescon.
Nova controvérsia doutrinária ocorre após viagem de Francescon ao Panamá, e o grupo
é divido, parte seguindo Ernesto e parte a Felipe, em virtude dessa questão Francescon envia
Agustinho Lanchone para tratar o assunto. Lanchone fica na casa de Felipe por cerca de seis
meses, o atrito é resolvido e a comunidade volta a se reunir de maneira unificada. O endereço
da Rua Alfandega é usado como local de encontros até meados de 1915, quando, por questões
de negócios imobiliários entre Felipe e seu irmão, que não aderiu à mensagem de Francescon,
são obrigados a deixar o espaço.
A comunidade que inicia o que adiante seria conhecido como CCB até se estabelecer
se reúne nas ruas: Anhaia, da Graça e Tenente Pena, perímetro de cerca de 1.200 metros na
região central de São Paulo.
Enquanto a comunidade pentecostal de italianos começa a se estabelecer na região
central de São Paulo entre os anos de 1910 e 1936, nos EUA, Francescon tem nova controvérsia
doutrinária, agora com Giuseppe Petrelli, ocorre nova divisão, e em 1925 a Assembleia
Cristiana e seu endereço de culto ficam com Petrelli, o grupo que segue Francescon se retira,
compra novo prédio e passa a se reunir com novo nome, Congregazione Cristiana.
Se Francescon era um líder leigo, indouto e carismático, Petrelli se apresenta como
verdadeiro erudito, talvez o primeiro teólogo pentecostal, mesmo quando comparado a Parham.
Giuseppe Petrelli, apesar de não ser mencionado no histórico de Louis Francescon,
publicado pela CCB, foi o primeiro e, talve, o único teólogo do movimento pentecostal
italino inicial, sendo um dos anciães mais influentes de sua época. Petrelli exerceu as
funções de jornalista, advogado e juiz. Foi, também, pastor batista e escritor. Falava,
além do italiano, inglês, espanhol, português, hebraico e grego. Publicou cerca de
trinta livros (FERREIRA, 2007, p. 70).
Francescon nunca estabeleceu residência fixa no Brasil, contudo, fez um total de dez
visitas entre 1910 e 1948; somando-se todo e cada período que esteve no Brasil, o fundador da
CCB permaneceu mais de doze anos no que se tornaria rapidamente o maior país pentecostal
do mundo.
Quadro 8 – Principais Igrejas Pentecostais no século XX
Ano Sigla Instituição UF
1910 CCB CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL SP
1911 AD ASSEMBLEIAS DE DEUS PA
1951 IEQ IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR SP
88
Quadro 8 – Principais Igrejas Pentecostais no século XX
(Continuação)
1956 OBPC O BRASIL PARA CRISTO SP
1962 IPDA DEUS É AMOR SP
1977 IURD UNIVERSAL DO REINO DE DEUS RJ
1980 IIGD INTERNACIONAL DA GRAÇA RJ
1986 IARC RENASCER EM CRISTO SP
1994 SNT SARA NOSSA TERRA DF
Fonte: Elaborado pelo autor
No período das visitas, Luigi pôde acompanhar presencialmente o crescimento das
AD’s, inclusive com contato pessoal em São Paulo com um de seus fundadores, Gunnar
Vingren, em sua sexta viagem, em 1920. À distância, observou o surgimento das Igrejas do
Evangelho Quadrangular (IEQ), Igreja Pentecostal o Brasil para Cristo (OBPC).
Quadro 9 – Viagens de Luigi Francescon ao Brasil
Ano Chegada Saída Dias Meses
1910 12/mar 22/set 194 6
1912 02/out 16/mai 226 8
1913 22/out 15/set 328 11
1915 17/ago 09/out 419 14
1918 09/fev 01/ago 538 18
1920 02/ago 23/fev 570 19
1923 18/mar 27/dez 650 22
1931 01/jan 25/mai 510 17
1935 03/ago 25/mai 661 22
1947 27/out 18/out 357 12
Fonte: Toppi (2007) – Elaborado pelo autor
Alguns fatores observados permitem compreender o porquê da dedicação e ênfase de
Francescon ao expansionismo de sua pregação entre a comunidade italiana em solo brasileiro,
em que:
a) Controvérsias e Divisões distanciam Luigi de seus primeiros parceiros de liderança
pentecostal;
b) Expansão das demais correntes pentecostais nos EUA com pregadores de língua
inglesa;
c) Proibição do proselitismo pentecostal na Itália pelo movimento Fascista, 1935;
89
d) Ausência de estudos e preparo pessoal;
e) Não domínio da língua inglesa nem da língua portuguesa;
f) Exclusivismo salvífico e étnico cultural.
As questões étnicas e xenofóbicas são um registro da intolerância, avareza, crueldade
e demonstram a face mais desprezível da humanidade, e muitos são os mecanismos usados para
sobrevivência das minorias. Com isso, o separatismo religioso proposto inicialmente por
Francescon pode ser explicado como instrumento de autodefesa, diante do fato apontado por
Toppi (2007, p. 17):
Irlandeses de fala inglesa se tornavam chefes na construção, italianos que não falavam
o inglês usavam as pás e picaretas, se quisessem trabalhar, o confronto étnico causava
consequências na relação com a religião católica, visto que a maioria dos padres eram
de origem irlandesa.27
Ao que parece, essa experiência pessoal, somada à dificuldade de comunicação na
língua inglesa (EUA) e portuguesa (Brasil), irá orientar as relações da CCB com outras
denominações cristãs, tanto protestantes quanto pentecostais, e com outras etnias, distanciando
o ancião da CCB de celebrações e festas, mesmo que familiares, como o casamento.
15 – SERVOS DE DEUS ORAREM EM CASAMENTOS OU NOIVADOS
Na obra de Deus não há cerimônia religiosa para casamentos.
Por conseguinte, não é função ministerial do ancião diácono ou cooperador orar em
casamentos ou noivados.
Nessas ocasiões, qualquer irmão pode orar. Se houver servos presentes, um deles ora.
Mas não por dever ministerial.
A função ministerial dos servos de Deus é atender à obra.
Não podem assumir compromissos de se achar presentes em datas determinadas,
devido a festas de casamento ou noivado.
Os servos tem (sic) que estar sempre livres para atender assuntos da obra de Deus,
quando e onde for necessário (CCB, 1977, tópicos de ensinamento para anciães, 15).
E ainda:
13 – CASAMENTOS – NOIVADOS
Os servos de Deus não devem orar em noivados, pois muitos noivados depois são
desfeitos. Que os próprios familiares orem. Quanto a orar em casamentos, os servos
devem estar bem acertados da parte de Deus. Têm surgido muitas coisas
desagradáveis nesse assunto de casamentos, que implicaram na tomada de medidas
enérgicas por parte dos servos. Portanto os servos devem ter muita prudência no
27 Era uma scontrarsi ma non alla pari. Gli irlandesi parlavano inglese e fornivano i capimastri agli
imprenditori. La maggionranza degli italiani “non aveva altra viad’uscita, se voleva lavorare, che difare i
badilanti”, cioè maneggiare piccone e pala, “non fosse altro per l’ignoranza dell’iglese”. Lo scontro tra le due
diverse etnie provocò delle conseguenze negative sul rapporto degli italiani con la chiesa catolica-romana, i
cui sacerdoti erano constituiti prevalentemente da irlandesi.
90
aceitarem convites para orar em casamento. Os jovens entre o povo de Deus convém
casarem pelo regime da comunhão de bens, embora não damos mandamento. A união
matrimonial é símbolo da união entre Cristo e a Igreja. E Ele deu sua vida pela Igreja,
prometendo-lhe herança eterna nos céus. Para viúvos é aconselhável o regime de
separação de bens devido a problemas que envolvem os filhos e heranças. A separação
de leito é procedimento contrário à Palavra de Deus. Casais que estão nessa situação
devem ser aconselhados. A separação é admissível, com consentimento mútuo, por
algum tempo para que ambos se apliquem a oração, juntando-se depois, a fim de que
satanáz (sic) não os venha a tentar (CCB, 1979, tópicos de ensinamentos para anciãs,
13).
Enquanto as AD’s, falando a língua e interagindo com os costumes, festas e tradições
locais, têm sua expansão entre os brasileiros na região Norte e entra no Sudeste pelo estado do
Rio de Janeiro, o pentecostalismo de Francescon avança entre os italianos por São Paulo e
Paraná, sendo que na primeira conferência das CCB’s, realizada em 1936, já havia o registro
oficial de 78 congregações, sendo:
a) 69 em São Paulo;
b) 4 no Paraná;
c) 3 no Rio de Janeiro;
d) 1 em Minas Gerais;
e) 1 no Rio Grande do Sul.
Entre 1910 e 1947, Luigi Francescon fez dez viagens ao Brasil, ficando 4.453 dias –
cerca de 148 meses ou doze anos – em solo nacional, propagando a fé pentecostal italiana e
estabelecendo as bases doutrinárias da CCB.
A CCB começa sua trajetória no Brasil totalmente leiga, separatista e italiana. Somente
em 1935, mediante uma revelação, adota a língua portuguesa em sua liturgia de culto, ou seja,
durante os primeiros 25 anos de atuação, com cerca de 80 congregações em funcionamento, e
mesmo após nove viagens de Luigi ao Brasil, tendo mais de quatro mil dias em solo brasileiro,
Francescon não leva as boas novas pentecostais aos nativos e demais moradores da futura maior
cidade do Brasil e América Latina em sua língua materna, se estes desejassem participar dos
cultos deveriam ouvi-los na língua estrangeira.
Em paralelo à revelação de Luigi temos o fascismo Italiano proibindo o proselitismo
pentecostal na Itália (1935) e as ações nacionalistas da Alemanha, que não apenas movimentam
a Europa, como geram reações políticas contrárias ao imigrante italiano no Brasil:
Entre as medidas tomadas por Vargas está a campanha de nacionalização, que tinha
como objetivo integrar os imigrantes e seus descendentes à cultura brasileira. Nas
escolas, os professores deveriam ser brasileiros natos ou naturalizados, as aulas
deveriam ser ministradas em português e era proibido o ensino de outras línguas
estrangeiras [...] medidas mais drásticas foram adotadas: houve a proibição de falar
91
uma língua estrangeira em público - inclusive durante celebrações religiosas - e o
fechamento de diversas instituições de caráter étnico dirigidas pelos imigrantes
alemães e seus descendentes (ginástica, corais, tiro ao alvo, bolão e outras
agremiações consideradas perigosas) (MOMBACH, 2012, p. 32).
A questão da repressão cultural inicia-se contra os imigrantes alemães e, depois,
quando o Brasil entra oficialmente em guerra, estende-se aos Italianos, contudo, apesar de
repressões culturais contra os países pertencentes ao Eixo, a população local via diferenças
entre os imigrantes teutos e os italianos, sendo que, ao referir-se ao Perigo Alemão, destaca-se
a integração de italianos e portugueses ao povo e cultura local.
– Onde é que você vê o perigo alemão? – O perigo alemão é esta nucleação dum
corpo estranho dentro da nossa nacionalidade a produzir fatalmente no futuro a
heterogeneidade da raça. Vi os italianos em São Paulo: como os portugueses do
Rio, eles ao fim da segunda geração estão assimilados. O alemão não. Moro agora
numa pensão de teutos e faço observações diárias. Esta gente ao fim de não sei quantas
gerações é tão alemã como os antepassados que para cá vieram: não se amalgamam,
não se absorvem na nacionalidade; conservam a língua, os hábitos, as idéias (sic), os
costumes, tudo que lhes foi transferido no sangue (COARACY, 1924 apud
MOMBACH 2012, p. 15, grifo nosso).
Conforme Coaracy (1924 apud MOMBACH 2012), os italianos assimilaram a cultura
local, suas agremiações interagiam com os brasileiros e se permitiam o assimilar da brasilidade,
contudo, isto não acontece com Luigi e a CCB até os eventos pré-guerra, limitando-se ao uso
da língua portuguesa após leis estabelecidas, sem outras interações culturais.
Durante o século XIX e XX, a imigração de italianos para o Brasil foi muito grande.
Transitar entre os colonos foi de certo modo uma grande vantagem para Francescon
por conta da língua e dos costumes, nos quais ele fora criado. Durante os primeiros
anos, os cultos eram celebrados integralmente em italiano, mesmo com a
presença de brasileiros. O primeiro hinário utilizado pelo grupo foi impresso em
Chicago, em 1912, todo ele em italiano. Chamava-se ‘inni e Salmi Spirituali’
(RODRIGUES, E., 2011, p. 54, grifo nosso).
E mais, nunca desenvolveu nem permitiu o uso de qualquer material teológico e/ou
doutrinário, as controvérsias doutrinárias marcam o relacionamento de Francescon com seus
líderes, pastores, incentivadores e parceiros religiosos, gerando uma postura de distanciamento
da futura Congregação Cristã no Brasil diante das demais denominações protestantes e
pentecostais, exclusivismo este registrado pelo próprio Luigi ao declarar: “Este é o Caminho
do Céu aprovado do Eterno Senhor”.
Nessa segunda parte de seu testemunho, ele está-se referindo ao crescimento e à
organização da Congregação Cristã no Brasil. Ou seja, quando diz: ‘Este é o caminho
92
do céu aprovado por Deus’, podemos, com algum esforço, acreditar que ele estaria
chamando de ‘Caminho do Céu’, a conduta e atitude da CCB como igreja
(FERREIRA, 2007, p. 93).
A quarta e última fase de Luigi no Brasil estabelece a organização institucional e as
bases doutrinárias distintivas, exclusivistas e separatistas da CCB, conforme registro do irmão
Spina:
O Senhor iniciou Sua Obra no Brasil por um Seu servo, em Junho de 1910, sem
denominação alguma, propagando-se, todavia, rapidamente, por intermédio de Seus
crentes, desde então são chamados por fé, em Nosso Senhor Jesus Cristo (CCB, 1942).
Quadro 10 – Luigi Francescon – Parte 4
Ano Acontecimento
1946 Proibição das mulheres de tocar instrumentos individuais na orquestra, exceto órgão
1947 Sexta e última viagem de Francescon ao Brasil
1947 Fundada a Assembleia de Deus em Napoli, por americanos, após fim da Segunda Guerra
1848 18/10 - Retorno aos EUA
1952 Morrem Stephen (filho) e Rosina (esposa). Adm. das igrejas é passada a Nick De Gregorio
1954 Em Abril, primeiros batismos na nova sede CCB central de São Paulo, Brás.
1962 Novo estatuto. De Congregação Cristã do Brasil, para Congregação Cristã “no” Brasil
1963 A partir da Assembleia Cristiana americana do Conselho Geral das igrejas pentecostais surge
abertura multiétnica e racial
1964 07/09 - Morre Louis Francescon em Oak Park, Illinois, EUA, aos 98 anos de idade
Fonte: Toppi (2007) – Elaborado pelo autor
A postura leiga e antiteológica de exclusivismo salvacionista gera uma característica
muito particular na CCB quando comparada às demais denominações pentecostais, a oralidade,
sendo que toda sua perspectiva e prática de fé são seguidas e transmitidas por prédicas
revelacionais dos anciãos – na CCB denomina-se anciães –, e reverberadas na rotina da
irmandade fora do ambiente cultíco, a partir de um vocabulário próprio carregado de
simbolismos que, não tendo registro em materiais doutrinários e ou teológicos, permite
interpretações subjetivas diversas de seus fiéis, em especial do público infantojuvenil periférico,
de vulnerabilidade social e defasagem educacional que compõem boa parte dos menores
infratores da Fundação.
Na década de 40, essas características exclusivistas tomam vulto na Congregação
Cristã no Brasil. Então, em 1942, foi publicado, por Irmão Spina, o primeiro histórico
da CCB, sob o título: Resumo de uma ramificação na obra de Deus pelo Espírito Santo
93
no século atual. Nessa obra, que nada mais era do que um testemunho pessoal,
Francescon faz uma declaração como características exclusivistas. Vejamos: ‘Eis
como o benigno Deus começou Sua obra: Pelo batismo da água, segundo o
mandamento do Senhor Jesus, fomos tirados das seitas humana e de suas teorias’
(FERREIRA, 2007, p. 91, grifo nosso).
A seita humana da qual Francescon alega ter sido resgatado era a protestante e as
teorias das quais se vê liberto são os escritos teológicos humanos, apesar de Luigi ter iniciado
sua missão especial saindo da igreja presbiteriana, não era apenas essa igreja considerada por
ele como seita, nem apenas os escritos de João Calvino28 como teorias mortas, a este
pensamento estão tanto as igrejas protestantes históricas anteriores a CCB, como as Batistas,
Presbiterianas, Luteranas etc., quanto as pentecostais, como as Assembleias de Deus e as que
vêm posteriormente à sua mensagem particular. Importante ainda destacar a questão étnica
junto à visão exclusivista doutrinária, visto que, para Francescon, o verdadeiro ressurgimento
espiritual estava com o povo italiano, conforme apontamento feito por Evandro Rodrigues
(2011, p. 55) “... Francescon entendia que grupos religiosos fora do movimento pentecostal
representariam as ‘seitas humanas’. Igrejas onde prevaleceria a filosofia Humana”.
A aversão ao estudo bíblico é ratificada na 36º Assembleia, na qual um tópico
específico é dedicado ao tema:
46 – NÃO DEVEMOS PREGAR CONTRA O ESTUDO
Há servos que interpretam como uma proibição de estudo a parte da palavra que diz:
‘e o muito estudar enfado é da carne’. - NÃO É PROIBIDO ESTUDAR. Nesta reunião
é dado esclarecimento a todos: O QUE NÃO PODEMOS FAZER É ESTUDAR A
PALAVRA DE DEUS. Quanto a estudar para ampliar os conhecimentos na parte
material, em nossa profissão ou outras atividades, é coisa boa e proveitosa. Quem tem
oportunidade de estudar, deve aproveitá-la. Atualmente, com o grande
desenvolvimento de nossa Nação, o estudo tornou-se indispensável, tanto para a
obtenção de colocações como para mantê-las e conservá-las. Portanto, que ninguém
pregue conta o estudo. Deixemos a nossa mocidade e a irmandade em geral livre nesta
parte. Mesmo que o irmão que estuda seja músico e falte nos cultos os dias da semana.
Não o impeçamos de estudar. O que temos a fazer é aconselhá-lo a guardar-se no
temor de Deus, não perdendo os cultos em dias em que não há aula.
Quanto ao estudo de advocacia, não é conveniente para os irmãos do ministério (CCB,
1971, 36ª assembleia, tópico 46, grifo nosso).
Francescon tem questões pessoais diante das doutrinas estabelecidas na tradição cristã
protestante e demonstra desconhecimento aos escritos teológicos e à história da igreja
protestante, porta pela qual entrou para o cristianismo. As controvérsias registradas no
desenvolvimento de sua fé pentecostal, diante da ausência de estudo pessoal e inabilidade de
entendimento e argumentação teológica, podem ser a explicação racional mais lógica, contudo,
28 Considerado o pai do presbiterianismo.
94
na tradição da CCB essa postura apresenta-se como distintiva desta igreja diante das demais,
tornando-a verdadeiramente uma instituição divina que não depende, não se sustenta e nem se
desenvolve sob direção nem pensamentos humanos; a este respeito, ao encerrar o seu
testemunho pessoal sobre a obra de Deus que recebera, Francescon (1936, p. 50) conclui que a
CCB é “O Caminho do Céu aprovado do Eterno Senhor”, e ainda: “Sabendo vós também que
não há outro caminho que conduza à glória eterna, além deste o qual nós achamos”
(FERREIRA, 2007, p. 93, grifo nosso).
Sendo a única e verdadeira instituição divina, aquela que detém o único e verdadeiro
caminho que conduz ao pós-morte feliz, à glória eterna, não havendo materiais doutrinários e/ou
teológicos para estudo, o fiel que aceita essa doutrina está sujeito única e exclusivamente à fala
da autoridade divina, o ancião, que é a verdadeira fala de Deus, visto que não há, e não pode
haver, estudos humanos para suportá-la ou questioná-la. Essa ordem discursiva terá seus pontos
de afinidade e tensão com as formas discursivas do crime, no terceiro capítulo.
1.3.5 Congregação Cristã no Brasil: Exclusivismo e Danação Eterna
Sobre o tipo de fala desenvolvida nas prédicas cúlticas da CCB e na rotina de seus
membros, veremos, no terceiro capítulo, a relação de afinidade eletiva no constructo da
discursividade, tanto no discurso doutrinário da CCB quanto no discurso do proceder do crime,
PCC. Analisando o contexto exclusivista da comunicação da CCB, pode-se afirmar que:
Ao longo de seus 100 anos de existência em território nacional, expandindo-se por
diversos países e continentes, desenvolveu um modo particular de comunicação. Se
no universo evangélico brasileiro pode ser constatado um modo de falar – o conhecido
‘evangeliquês’ (sic) – e um comportamento bastante peculiar, pode-se afirmar que a
comunicação na CCB seria um ‘particular dentro do particular’ (RODRIGUES,
E., 2011, p. 48, grifo nosso).
Não havendo pregações públicas externas, programas de rádio, televisão, internet e/ou
literatura própria que possa ser distribuída, além da imposição do sigilo aos anciães, a pessoa
que se achega à CCB o faz sem ação de escolha própria, antes, foi escolhida por Deus, e a
confirmação desta escolha se dá pelo batismo por imersão – onde se diz: “Este obedeceu a
Deus”, e ratificado na manifestação da glossolalia, aqui se diz: “Este foi selado na promessa”.
Uma vez batizado nas águas e no Espírito Santo, sem nenhum treinamento ou ensino,
será exigido deste novo fiel um comportamento específico, particular dentro das
particularidades evangélicas pentecostais.
95
Ao novo convertido da CCB não é oferecido nenhum curso preparatório antes do
batismo. Não lhe é fornecida qualquer instrução por parte da liderança com relação ao
seu comportamento nos cultos ou fora deles. O que ocorre é um processo de
aculturação por observação e convívio. A comunidade exigir-lhe-á o
comportamento aceitável nas reuniões (RODRIGUES, E., 2011, p. 69, grifo nosso).
Havendo dúvidas ou questões sobre os ensinamentos proferidos pelos anciãos, estes
não devem ser questionados, também não deve ser buscado tal conhecimento em livros de
história, teologia ou comentários bíblicos de pastores, visto que são consideradas “Leituras
Estranhas”.
O povo de Deus não tem necessidade de frequentar outros cultos e nem de ler leituras
religiosas de diferentes princípios. Na Sagrada Escritura existe tudo o que se precisa,
individual e coletivamente, se alguém precisa de sabedoria para entender o que Deus
tem já revelado em Sua Palavra, como filho deve recorrer a Ele para alcançar o
necessário entendimento (CCB, 1936, Resumo da Convenção, p. 12).
Como já observado, não há material didático e o novo convertido à doutrina da CCB
aprende os valores doutrinários a partir da oralidade, na interpretação simbólica da liturgia de
culto e das práticas e relacionamentos sociais com membros mais antigos, que no universo da
CCB são muito específicos e impositivos, não limitando-se à pregação no ato e ambiente
religioso, como também o sentido pode ser construído a partir de símbolos não falados em que
o desenvolvimento e
[...] a evolução genética da espécie humana mostra como uma parte do sentido
linguístico pode emergir de níveis de organização subsimbólicas não verbais. Não
é mais o pensamento que fala sua linguagem – o mentalês de Fodor (TAMBA, 2005,
p. 42, grifo nosso).
A partir da força que o discurso tem no constructo religioso e organizacional da CCB,
torna-se relevante para esta Tese fazer leitura do simbolismo litúrgico da CCB, e como esses
símbolos mediatizam significados de práticas que são incorporadas na cultura do indivíduo,
ordenando uma estrutura psicossocial orientada pelo medo, pelo pavor do não pertencimento,
da exclusão social e da danação eterna. Um não pertencimento que afeta não apenas suas
relações sociais, mas que determina um abandono e insignificação da própria existência. Alguns
destes símbolos referem-se à moda cúltica, na qual...
As mulheres não devem usar calças compridas, roupas com decote, adereços ou
enfeites, sendo a elas o uso de um véu sobre a cabeça requisito obrigatório em
qualquer atividade cúltica. Também é vedada às mulheres a indicação ao ministério e
a participação na Orquesta. Os homens precisam mantar a barba constantemente
aparada e, nos cultos, devem usar terno. Os membros da CCB devem se
96
cumprimentar, nos cultos e nas casas, com o ‘ósculo santo’, [...] A saudação correta é
a ‘A paz de Deus’ (RODRIGUES, E., 2011, p. 60).
Dentro desta força há um discurso nas entrelinhas doutrinárias não escritas da CCB
que merece atenção, o discurso do pecado para a morte espiritual, pecado sem perdão ou
danação eterna. Na 36ª Assembleia de 1971, temos no tópico 59 a seguinte observação a título
de “apenas de orientações”:
HAVENDO QUEBRA DA FIDELIDADE MATRIMONIAL (ADULTÉRIO,
PROSTITUIÇÃO), a parte ofendida é livre para se separar de quem pecou,
desquitando-se. E em tal caso a pessoa pode casar-se novamente, pois perante Deus
o que pecou morreu espiritualmente. E morto um dos cônjuges o outro está livre
para casar novamente. É por esta razão doutrinária que a Congregação aceita como
irmão ou irmã pessoa desquitada ou que casa de novo, após o desquite, QUANDO
OCORREU INFIDELIDADE MATRIMONIAL (CCB, 1971, 36ª Assembleia, tópico
59).
O que não é descrito de maneira objetiva é percebido nas entrelinhas e vivenciado
objetivamente nas práticas relacionais entre os membros, em que aqueles que são considerados
infratores e estão mortos espiritualmente perante Deus, assim são tratados socialmente, pois
não recebem mais a saudação pública oficial: A Paz de Deus, antes, são desconsiderados no
contexto social e excluídos no cúltico, visto que perderam a liberdade ou caíram da graça, o
que significa indignidade para o convívio na irmandade e que estão condenados à danação
eterna.
A questão da danação eterna não é algo que figura apenas o imaginário simbólico,
todavia, é consolidado nas circulares diretivas, conforme o tópico “frequentar seitas” da
Assembleia de 28 de março a 1° de abril de 1961.
FREQUENTAR SEITAS
Tem existido no meio da irmandade irmãos que não se satisfazendo, aliás, acham
talvez, que o que o Senhor envia pelo Espírito Santo nas congregações não é suficiente
para saciar suas almas buscando assim ser alimentados pela sabedoria humana,
freqüentando seitas onde predomina o saber e a ambição do homem. Até no
espiritismo tem ido irmãos nossos; aquele que iluminado pelo Espírito Santo deve
saber discernir a moeda falsa da verdadeira. Sabemos por quem somos guiados e quem
opera em nosso meio; todavia, não é possível ser admitido que nossos irmãos
freqüentando seitas e denominações extranhas a nossa fé possam ser considerados
nascidos da água e do espírito como um fiel que tem aceito o Senhor nosso Jesus
Cristo como o seu único e Pessoal Salvador. Assim devem taes irmãos serem
exortados com veemência e, si porventura não renunciarem a taes hábitos (sic passim),
não serão mais considerados como irmãos e impedidos assim da comunhão da
Igreja (CCB, 1961, grifo nosso).
97
E ainda, conforme tópico 22 abaixo, extraído da Assembleia Geral de 1971, referindo-
se a mera visita, encontro e reunião Espírita ou de alguma seita cristã – toda e qualquer
denominação que não a CCB é considerada seita.
22 – IRMÃOS QUE VÃO A SEITAS E ESPIRITISMO
As medidas não podem ser iguais para todos os casos. Há pessoas novas no caminho
que ainda não entenderam a graça de Deus; nos apertos da vida são induzidas a
recorrer a tais coisas. Compete-nos chamar e orientar a essas pessoas, advertindo-as a
não incorrer mais em tais erros diante de Deus. Se são pessoas antigas na fé, temos
que usar de medidas severas. Quem errou e depois mostra arrependimento, terá que
se levantar perante toda a irmandade, pedir perdão a Deus e à irmandade, para nunca
mais cair em tais males. Quem recusar fazer isso não terá mais liberdade alguma
em nosso meio (grifo nosso).
A respeito dessa doutrina, a leitura de seus ex-membros e ex-frequentadores ecoa na
fala de Evandro Rodrigues29 (2011, p. 61):
Na CCB [...] adultério e fornicação, bem como deixar a CCB para frequentar outra
igreja ou religião são ações consideras como ‘pecado de morte’, sem possibilidade
de perdão (grifo nosso).
E no registro de outro ex-membro, temos ainda:
Muitos membros da CCB que cometem o pecado de adultério ou prostituição
entendem que não tem mais perdão, porque ‘blasfemaram contra o Espírito Santo’
(FERREIRA, 2007, p. 60).
Sobre o medo da exposição social, pode-se citar uns dos tópicos regulados na 36ª
Assembleia, realizada entre os dias 23 e 27 de março de 1970, a respeito do ato de conversar
ou simplesmente cumprimentar um ex-membro da CCB na rua – ato que denomina-se: Saudar
a quem ficou sem liberdade –, em que registra-se:
‘Se não é caso de muita gravidade e a pessoa está refazendo seu testemunho, podemos
saudar. Temos a Paz de Deus em nós e disse Jesus: ‘Em toda a casa que entrardes,
direis a Paz seja nesta casa, si a casa for digna a paz repousará sobre ela e si não for
voltará para vós’ (CCB, 1970, p. 39).
A CCB estabelece em seu modus operandi particular um tipo ideal (WEBER, 2017)
exclusivo para seus fiéis, quando comparado às demais igrejas pentecostais, no qual aquele que:
a) Tiver relações sexuais fora do casamento;
29 Foi membro da Congregação no Brasil por mais de 20 anos.
98
b) Estudar a bíblia com outros protestantes, evangélicos ou pentecostais;
c) Questionar a decisão tomada pela Igreja;
d) Duvidar da fala do ancião;
e) Sair da igreja.
Perante Deus está morto, perdeu sua liberdade, perdeu seu testemunho, caiu da graça,
não é considerado mais irmão, perdeu a comunhão da igreja ou simplesmente está em vida
condenado à morte eterna, pois praticou pecado sem perdão.
A simbologia da CCB cria um objeto de ideal de vida, ideal superior não somente aos
pecadores comuns, mas superior também diante de todas as demais confissões evangélicas, por
eles chamadas de seitas e teorias humanas. Somente quem está “na graça30” – pertencente à
CCB –, é de fato salvo da ira vindoura. Estar fora da CCB torna-se um peso insustentável, e
como não há caminho de retorno para alguns casos – pecado sem perdão –, tal condição é
insuportável a muitos, e o caminho da criminalidade tem sido uma resposta objetiva para alguns
adolescentes.
REJEIÇÃO À PREGAÇÃO EM LUGARES PÚBLICOS
Os membros da CCB não pregam o evangelho publicamente e discordem de todos
aqueles que fazem isso (FERREIRA, 2007, p. 213).
O pertencer à CCB não depende de ação humana, como as demais seitas e teorias
humanas que pregam nas ruas, praças, escolas e presídios, haja vista que a ação é exclusiva do
próprio Deus que escolhe, como escolheu Francescon, e envia à CCB os que devem ser salvos.
Em princípios de Dezembro o Senhor falou pela minha boca, dizendo: ‘Eu o Senhor,
permaneci no meio de vós e se me obedecerdes e fordes humildes Eu mandarei
convosco todos que devem ser salvos’ (CCB, 2002, p. 40, grifo nosso).
E ainda:
20 – DEFUNTO NAS CONGREGAÇÕES – CREMAÇÃO E SERVIÇO FUNERAL
– O serviço de funeral fazemos quando a liberdade é concedida somente a nós, afim
de não haver mistura com doutrinas extranhas (sic) a nossa fé;
– Não temos por costume pregar a Palavra em cemitérios (CCB, 1976, tópico 20).
30 Terminologia utilizada para identificar o membro pertencente à CCB, que significa, estar salvo, estar dentro
da vontade única de Deus, ser reconhecida pública e espiritualmente como filho de Deus direito a heranças.
99
Assim sendo, a assistência religiosa31 a membros excluídos no ambiente militar,
hospitalar, escolar, cemiterial ou carcerário, como da Fundação, não é recomendada, não é
incentivada, não é realizada e de fato pode ser considerada insubordinação, desobediência,
rebeldia e pecado aos que fazem. Sobre a afirmação divina que enviará os que devem ser salvos
é possível dizer que esta...
nortearia definitivamente os princípios missionários da denominação. Para a CCB,
não seria necessário utilizar nem um veículo ou meio para comunicar seus princípios
doutrinários, já que Deus enviaria à igreja aqueles que deveria a ele pertencer. [...] De
certo modo, para a CCB utilizar meios de comunicar sua mensagem que não sejam os
cultos regulares nos templos seria o mesmo que desobedecer a Deus (RODRIGUES,
E., 2011, p. 56).
Não se faz assistência religiosa em ambientes externos porque o próprio Deus enviará
os que devem unir-se à CCB, e sobre os que foram enviados por Deus e agora são ex-membros
que estejam hospitalizados ou encarcerados, pode-se compreender que de maneira lógica e
objetiva a ideia de pecado sem perdão justifica a negativa da instituição em prestar qualquer
assistência a estes, uma vez excluídos e condenados em vida à danação eterna, torna-se inútil
acompanhar, assistir ou tentar reconduzir à igreja.
Diante da perda da identidade construída no convívio da irmandade, sem
possibilidades de orientação de vida e futuro que de fato sejam significativas, o adolescente
excluído da CCB, legado ao quadro da danação eterna, pode encontrar no discurso do crime
afinidades perdidas na estrutura religiosa, não como uma regra universal, mas como uma...
[...] constituição das subculturas criminais representa, portanto, a reação das minorias
desfavorecidas e a tentativa, por parte delas, de se orientarem dentro da sociedade,
não obstante as reduzidas possibilidades legítimas de agir, de que dispõem. [...] Estas
razões são individualizadas (de maneira diferente, mas complementar em relação à
teoria de Merton), reportando a atenção às características da estrutura social. Esta
última induz nos adolescentes da classe operária, a incapacidade de se adaptar aos
standards da cultura oficial, e, além disso, faz surgir neles problemas de status e de
autoconsideração. Daí, deriva uma subcultura de ‘negativismo’, que permite, aos que
dela fazem parte, exprimir e justificar a hostilidade e a agressão contra as causas da
própria frustação social (LAVOR, 2018, p. 42).
O menor infrator pentecostal desenvolveu sua vida e perspectivas de futuro a partir da
estrutura proposta e sustentada no discurso cúltico da CCB e no relacionamento fraterno com a
irmandade local, ao ser excluído esta estrutura de fato desmorona e, como não há possibilidade
31 Não há por parte da instituição CCB a organização de grupos de assistência religiosa, ou seja, a igreja não
fomenta, não prepara, não organiza e não envia em seu nome capelães aos presídios, hospitais, escolas,
batalhões policiais etc.
100
de retorno, o discurso que trazia ordem gerou verdadeira desorientação psíquica, emocional,
social, religiosa, carecendo de uma nova forma legítima de atuação de vida em sociedade,
contudo, sem instrução bíblica, doutrinária e teológica para questionar o discurso separatista,
sem instrução profissional ou acadêmica para desenvolvimento social, tal qual o fundador da
CCB, se faz necessário buscar novas formas para sobrevivência. Para Francescon foi o
rompimento com a PIPI e a tradição presbiteriana, já para o menor infrator...
Percebe-se, neste constructo da CCB, que a tradição e o habitus (BOURDIEU, 2015)
se impõe coletivamente à consciência do indivíduo – principalmente o adolescente em formação
intelectual e moral, e no caso da quebra do tipo ideal concebido no imaginário simbólico da
CCB – no evangeliquês da CCB – acarretará no agora “caído”, não apenas distúrbios no sistema
fechado – eclesiástico local –, como também na vida socioeconômica e emocional do
adolescente, que uma vez excluído não tem direito a réplicas ou defesa.
27 – JONAS PEREIRA DE OLIVEIRA – MONTES CLAROS-MG –
RELEMBRAR O PLENÁRIO SOBRE SUA EXCLUSÃO DE NOSSO MEIO E
SOBRE A CIRCULAR A RESPEITO DE SUAS CARTAS
Este elemento continua a emitir cartas tipo circular para as congregações em todo o
Brasil, maldizendo do Ministério. Não é mais nosso irmão - Foi excluído de membro
da Congregação Cristã no Brasil - Nenhuma atenção deverá ser dada às suas cartas
(CCB, 1988, 53ª Assembleia, tópico 27, grifo nosso).
Após oito anos de convivência com internos da Fundação, pode-se afirmar que o
discurso e a simbologia da CCB produzem um produto direto de medo no adolescente membro
da instituição. Esse medo de não pertencimento é a moeda da dominação exercida pelos anciães.
Essa dominação é mantida através da ininteligibilidade teológica da punição, do
exemplo daqueles que saíram da graça no passado e hoje estão em perdição, e ainda, das ações
opressoras e repressoras do discurso e das práticas eclesiásticas.
JORNAIS E PROPAGANDA
Não possuímos jornais de propaganda religiosa e nem literaturas religiosas, assim
como não nos correspondemos com os que os editam. Não devemos, portanto,
colaborar de espécie alguma. Outras luzes não precisamos, nem queremos. O
tempo muda sempre, porém a Palavra de Deus é imutável; mudam os homens porém
o Senhor é o mesmo, Eterno e Fiel (CCB, 1998, p. 26, grifo nosso).
Não é a ausência de um compendio teológico ou de um regimento interno que faz falta
ao entendimento do adolescente. Ele sabe que está em desgraça pelos olhares, por não poder
sentar-se no mesmo banco dos demais jovens, por não ser saudado com a paz de Deus, por não
101
poder puxar um hino, não ter acesso à pratica da Ceia do Senhor – na CCB denomina-se “Santa
Ceia”.
Se fizermos a seguinte pergunta aos membros da CCB: ‘Alguém pode chegar ao céu
sem obedecer às doutrinas (tais como o ‘ósculo santo’, o ‘uso do véu’, o batismo de
acordo com a CCB) que a Congregação ensina?’, no pensamento de muitos, não!
(FERREIRA, 2007, p. 131).
A manutenção de valores estabelecidos, privilégios e dominação exercida através do
castigo aplicado em nome de Deus. A simbologia da força mágica da tradição, do ancião na
determinação inquestionável, irrevogável e imperdoável, que exclui cirurgicamente o indivíduo
e mantém unificado o poder e o sistema estabelecido. Não há exceções! O ato de questionar já
é em si confirmação de danação eterna, visto ser considerado pecado para a morte.
SOBRE O PECADO
Por maior que seja o pecado cometido antes de receber o Senhor, se a pessoa crer em
Jesus Cristo e aceita-Lo, ser-lhe-à-perdoado. O pecado cometido após haver aceito o
Senhor deve ser julgado pela Igreja sempre de acordo à Palavra de Deus, a não se o
pecado de morte; um desses pecados de morte é o que é cometido por aqueles que
se levantam contra a Obra do Espírito Santo.
AOS CRENTES
A palavra de Deus ensinada à Sua Igreja não é para ser discutida, porém obedecida;
só assim se honra ao Senhor (CCB, 1998, Reuniões Gerais, 23; 27, grifo nosso).
Este registro circular é de 1998, material que é um resumo histórico das convenções
de 1936 e 1948, trazendo, no final do século XX, a manutenção das diretrizes estabelecidas
ainda no período de vida de Francescon, o que confirma que a CCB preserva originalidade de
suas práticas, mesmo diante das transformações históricas – só no Brasil, 110 anos quase sem
alterações, sendo esta imutabilidade uma das estruturas que geram força em seu discurso aos
fiéis quando compara-se às demais igrejas pentecostais – e a respeito destas, afirmam: o “mundo
que entrou nas demais igrejas”.
A CCB passou quase de maneira incólume por todas as grandes transformações
sociais que aconteceram durante o século XX. Vivenciou a eclosão de duas grandes
guerras mundiais. Presenciou a revolução da comunicação, com o surgimento do
rádio, televisão e internet. Passou pela ditadura miliar, pelos ideais dos movimentos
estudantis e para redemocratização no Brasil. Sua postura equidistante co relação (sic)
à politica proporcionou-lhe uma espécie de blindagem frente às ideologias politicas
que poderiam se infiltrar entre os membros, provocando questionamentos com relação
às suas estruturas (RODRIGUES, E., 2011, p. 62).
Há um grande contrassenso e uso indevido de alguns termos no intuito de manter o
membro excluído sem direito à defesa e retorno à irmandade. Apresenta-se a argumentação
bíblica e teológica como formalismo humano que inibe e mesmo impede a ação sobrenatural, e
102
a humildade como aceitação muda diante do que foi decidido e determinado pelo ancião. A
simples tentativa de argumentação e defesa seria uma quebra de honra do dom dado por Deus,
anarquia, e a busca de direitos pessoais, ato da modernidade que vai contra os princípios
divinos, visto que o fiel precisa aceitar tudo com modéstia, ou seja, submissão.
HÁBITOS MUNDANOS
Na Igreja não pode existir anarquia, nem hierarquia, nem formalismo e nem
modernismo. Os crentes necessitam honrar os dons do Espírito Santo, ministério de
Cristo e todo o operar de Deus em sua Igreja para edificação, estando assim dentro da
ordem. Os crentes necessitam compreender que todos foram salvos pela graça de
Deus, não para sair fora da humildade que Ele nos determinou, que é de sempre
considerar os outros superiores a si próprios, não havendo assim hierarquia na Igreja
de Deus. O formalismo impede seguir a revelação pela qual vem manifestar a Justiça
de Deus [...] Quanto ao modernismo, compreendemos que somos chamados a andar
com modéstia e honestidade, não imitando o mundo em seus costumes [...] contrários
à Palavra de Deus (CCB, 1998, p. 25).
O membro da CCB desenvolve relação muito tímida e limitada diante da modernidade,
com raciocínio, argumentação e autonomia da própria fé, conforme Foerster (2009, p. 29) em
estudo de caso sobre a tradição e transmissão religiosa da CCB pondera:
Hervieu-Léger (1999) considera, a partir de dados de pesquisa da França, que o
indivíduo religioso moderno é marcado por duas características principais: a
valorização do mundo e a autonomia do sujeito crente. Estas considerações têm, ao
meu ver, um valor limitado para o caso da América Latina e especificamente quando
se trata da Congregação Cristã no Brasil.
A subjetividade, a opinião e a experiência pessoal diante do sagrado não são
permitidas, e para a CCB as interações sociais são a fonte de toda a contaminação das demais
igrejas.
A Congregação Cristã no Brasil não admite certos costumes como em alguns lugares
se principia a praticar, como seja, a vigília do 1º dia do ano em cantos e orações, assim
como outras solenidades para comemorar festas materiais (CCB, 1998, p. 15).
Muitas e significativas são as divergências em relação às teorias e práticas da fé entre
os membros da CCB e demais evangélicos no Brasil; dentre estas características distintivas,
percebe-se:
a) Ausência de texto teológico sistemático ou mesmo de um código doutrinário original
que eduque e regule as práticas religiosas;
b) Exclusivismo salvífico e separação das demais denominações protestantes e
pentecostais;
103
c) Exclusão definitiva da membresia da CCB – O cair da graça, o pecado sem perdão, o
afastamento das relações eclesiásticas e sociais;
d) Ausência e negação à assistência prisional a membros e ex-membros.
Sobre o item ‘d’, o último capítulo apresentará o constructo da assistência religiosa
prisional entre os protestantes e os pentecostais, dentro de uma lógica de pecado sem perdão e
proibição do proselitismo externo ao ambiente cúltico da Igreja, a ausência da CCB nesta ação
assistencial é autoexplicada.
Retornando à questão do exclusivismo, temos na liturgia musical um capítulo à parte,
o hinário que chega ao Brasil em língua estranha, não a dos anjos, mas a dos italianos. Apesar
de originalmente os cânticos serem em inglês, no Brasil permanecem em língua italiana até
1934, quando parcialmente é traduzido para o português. Os hinos da CCB não são para os
estranhos da fé, e a mensagem revelada a Luigi Francescon não deve ser lançada aos porcos,
ou seja, não deve ser pregada em mecanismos humanos de comunicação, visto que a
responsabilidade de salvar os fiéis é do próprio Deus, e de maneira única e sobrenatural o
próprio Deus enviará à irmandade os que devem se unir a essa.
Analisando o constructo histórico da CCB, a pregação, o ensino, a oração e mesmo o
cantar de hinos em ambiente externo se configuram em pecado. Conforme Evandro Rodrigues
(2011, p. 56), “de certo modo, para a CCB, utilizar meios de comunicar sua mensagem que não
sejam os cultos regulares nos templos seria o mesmo que desobedecer a Deus”.
HINOS
Nossos livros de hinos são organizados e confeccionados para uso exclusivo da
Congregação Cristã no Brasil; não são vendáveis a estranhos a fé
(CCB, 1998, 16).
[...] Eu o Senhor, permaneci no meio de vós e se me obedecerdes e fordes humildes
Eu mandarei convosco todos que dever ser salvos. Vos terei unidos por um pouco de
tempo a fim de vos prepara, para depois mandar alguns de vós em outros lugares para
recolher outras minhas ovelhas (CCB, 2002, p. 40-41 - grifo nosso).
1.3.6 Congregação Cristã no Brasil: Ausência na Assistência Religiosa
O pentecostalismo da virada do século XIX para o século XX inicia-se em solo norte-
americano a partir de reuniões informais, pregadores formados e leigos, sem restrição étnica,
alegria no partilhar e divulgar publicamente a nova fé, sendo esta pregação suportada pelos
sinais sobrenaturais de línguas estranhas e curas divinas; estabelece-se a partir de pregações
104
entusiásticas, domiciliares, públicas e tele transmitidas, envio de missionários e
desenvolvimento teológico próprio da nova denominação.
Chega ao Brasil no início do século XX e expande-se a partir de duas origens
protestantes históricas, gerando propostas de desenvolvimento e práticas confessionais
divergentes, a de origem Batista e Sueca se torna a maior denominação do Brasil, AD’s, e a
CCB, de origem ítalo-americana presbiteriana, a segunda maior.
As AD’s desenvolvem sua denominação iniciando pelo Norte brasileiro, abre-se
para o povo e cultura local, descentraliza seu ministério, multiplicando-se em regionais, cria
seminários e faculdades de estudo teológico, além de uma editora própria, a Casa
Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD), nascida em 1948, maior editora evangélica
brasileira, com faturamento de cento e vinte milhões de reais (2009), mais de 600 títulos
publicados, com milhões de livros, revistas, CDs, DVDs etc, vendidos por ano.
As Revistas da Escola Bíblica Dominical (EBD), material próprio de estudo bíblico
pentecostal, chega a distribuir mais de dois milhões e meio de exemplares por trimestre
Brasil afora; dos diversos títulos publicados, 52% de seus autores são brasileiros. A Bíblia
de Estudos Pentecostais (BEP), já vendeu mais de um milhão de exemplares (ARAUJO,
2010 apud ALENCAR, 2012).
Sobre a assistência à população geral, membros e ex-membros, as AD’s atuam de
forma presencial, rotineira e missional na assistência religiosa externa, exercendo capelania
hospitalar, escolar, militar e prisional. A respeito da assistência religiosa em presídios no Estado
do Rio de Janeiro, segundo o ISER (2006, p. 19), a presença pentecostal representa 41% do
total dos agentes religiosos, sendo 18% de capelães das diversas AD’s, e nenhum representante
das CCB’s.
Figura 1 – Assistência Religiosa Prisional – RJ 2002
105
Fonte: ISER, 2006
As atividades de assistência religiosa são bem-vistas pelos agentes penitenciários,
visto que, a grosso modo, pacificam o ambiente. A capelania pentecostal tem um modus
operandi simples:
Os cultos pentecostais nos presídios acontecem diariamente. Para realizá-los, os
agentes religiosos se revezam de acordo com a denominação a qual pertencem.
Também os que ali se converteram tornam-se agentes religiosos internos. Após um
período de aprendizado da fé, através dos estudos bíblicos e freqüência (sic) assídua
às atividades religiosas, tornam-se detentores do ‘capital religioso’ e passam a atuar
como ‘multiplicadores da fé’. Vale citar aqui o Grupo de Evangelismo e Visitação da
Congregação Lemos de Brito composto por três ou quatro internos munidos de Bíblia
que percorrem os espaços do cárcere, distribuindo folhetos evangelísticos1 e, surgindo
a oportunidade, proferem uma oração ou leitura da ‘Palavra’ (LOBO, 2006, p. 22).
A mudança no perfil religioso brasileiro, identificado nos últimos quatro censos
oficiais, também gerou mudanças no perfil da população carcerária, gerando uma demanda de
atendimento e assistência aos encarcerados oriundos da fé pentecostal. Para organizar a resposta
dada pelas igrejas evangélicas no envio crescente de agentes religiosos, o Departamento de
Sistema Penitenciário (DSP-RJ), por meio da Portaria DG nº 770 de 19 de abril de 2000,
normatiza e estabelece o cadastramento das instituições religiosas, e no período pesquisado por
Nascimento32 (2006) não havia nenhuma CCB cadastrada.
A CCB desenvolve sua denominação iniciando pelo Sudeste brasileiro, de origem
presbiteriana ítalo-americana, inicia-se e mantém-se necessariamente leiga e exclusivista,
restrita ao universo italiano até 1935, permite o uso da língua nativa tardiamente e não se
relaciona com a cultura local, não desenvolve estudos teológicos e doutrinários, não permite a
32 Membra do Movimento Inter-Religioso do Rio de Janeiro – MIR.
106
comunicação da fé em espaço laico, não presta assistência religiosa à população, a seus
membros ou ex-membros em situação de aprisionamento, e não se encaixa na atuação de
encontros cúlticos fora do templo, estudos bíblicos e pregação de leigos.
De forma separatista, não se veem participantes do evangelicalismo brasileiro, usam o
termo protestante sem identidade com a Reforma de 1517, apenas para atender a uma
classificação legal.
TÓPICO 56 – RECENSEAMENTO
Informamos os irmãos que no dia primeiro deste ano será realizado o recenseamento
abrangendo todo o país. Os servos de Deus devem ensinar a irmandade atender com
toda a prontidão e cordialidade aos recenseadores que os visitarão em suas casas,
colaborando com eles em tudo. Na parte de religião devem responder: ‘Protestantes’
porque a lei assim nos classifica (CCB, 1971, 35º Assembleia, tópicos de
ensinamentos para anciães 56).
E mais, não se veem pentecostais, nem desejam ter afinidade com qualquer igreja
evangélica nacional em espaço livre, muito menos em espaço fechado.
22 – A CONGREGAÇÃO NÃO É PENTECOSTAL – A CONGREGAÇÃO NÃO
SE ORIGINOU DE DISSIDENTES DA ASSEMBLÉIA DE DEUS – A
ASSEMBLÉIA DE DEUS NÃO SURGIU DA CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO
BRASIL
As entidades que analisam o movimento evangélico em nosso País costumam nos
classificar entre as igrejas pentecostais, devido ao fato de estes também crerem na
manifestação do Espírito Santo com evidências de novas línguas. Não somos
pentecostais, nem temos afinidades com quaisquer outros ramos evangélicos (CCB,
1988, tópicos de ensinamento para anciães 22).
E ainda:
Ninguém, dentre a irmandade, está autorizado a se manifestar ou a se pronunciar à
imprensa ou às outras vias de comunicação acerca da Congregação, mesmo que seja
para defendê-la. Esse é um assunto que deve ser atendido somente pelo Ministério e
pela Administração, e com muita cautela. Em artigo publicado pela Revista Veja a
Congregação foi arrolada como pertencente ao grupo pentecostal e cobradora de
dízimos. Não somos pentecostais e nada temos a ver com o movimento
pentecostalista. de Deus e da irmandade (CCB 1991, tópicos de ensinamentos para
anciães 23).
107
2 O CONSTRUCTO HISTÓRICO DA MARGINALIZAÇÃO DO MENOR –
PARALELO E AFINIDADES COM A ASSISTÊNCIA RELIGIOSA
A relação entre a questão do menor marginalizado na sociedade e a assistência
religiosa remonta aos tempos de Colônia. O Brasil era uma nação católica – por meio de um
sistema conhecido como padroado –, tendo o primeiro momento de abertura religiosa com a
chegada da Corte (1808), e de forma ampla somente após o advento da República (1889), sendo
que apenas a partir da Constituição de 1890 o país de fato será um Estado laico, suportando o
credo individual de seus cidadãos como um direito garantido e causa pétrea.
SECÇAO II
DECLARAÇÃO DE DIREITOS
Art. 72. A Constituição assegura a brazileiros e a estrangeiros residentes no paiz a
inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança individual e á
propriedade nos termos seguintes
§ 1º Ninguem póde ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, sinão em
virtude de lei.
§ 2º Todos são iguaes perante a lei.
§ 3º Todos os individuos e confissões religiosas podem exercer publica e livremente
o seu culto, associando-se para esse fim adquirindo bens, observadas as disposições
do direito comum.
§ 7º Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção official, nem terá relações de
dependencia, ou alliança com o Governo da União, ou o dos Estados (sic passim)
(BRASIL, 1890).
No período Colônia e Império os brasileiros não tinham seus direitos definidos ou
assegurados, onde a imposição do estrangeiro branco sobre os nativos e a violência sobre os
negros escravizados encontrava poucas vozes de resistência, não propriamente à questão de
exploração de terras e corpos, mas, diante dos deficientes físicos, pobres e menores
abandonados serão as irmandades religiosas, as casas de misericórdia e os capelães que surgirão
como alternativa de atenção, cuidado e assistência aos menos favorecidos da Colônia e Império
e terão suas atividades orientadas constitucionalmente no Brasil República.
A criminalidade juvenil desenvolve-se em paralelo aos eventos históricos na Colônia,
Império e República brasileira, e a assistência religiosa apresenta-se como um braço voluntário
estendido ao menor infrator durante toda história brasileira, sendo reconhecida na Constituição
Federal de 1934.
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934.
Nós, os representantes do Povo Brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, reunidos
em Assembleia Nacional Constituinte para organizar um regime democratico, que
assegure á Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social ... decretamos
e promulgamos a seguinte [...]
CAPITULO II
108
DOS DIREITOS E DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS
Art 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no paiz a
inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á subsistencia, á segurança
individual e á propriedade, nos termos seguintes:
1) Todos são iguaes perante a lei. Não haverá privilegios, nem distincções, por motivo
de nascimento, sexo, raça, profissões proprias ou dos paes, classe social, riqueza,
crenças religiosas ou idéas politicas.
5) É inviolavel a liberdade de consciencia e de crença e garantido o livre exercicio dos
cultos religiosos, desde que não contravenham á ordem publica e aos bons costume.
As associacções religiosas adquirem personalidade juridica nos termos da lei civil.
6) Sempre que solicitada, será permittida a assistencia religiosa nas expedições
militares, nos hospitais, nas penitenciarias e em outros estabelecimentos officiaes,
sem onus para os cofres publicos, nem constrangimento ou coação dos assistidos. Nas
expedições militares a assistencia religiosa só poderá ser exercida por sacerdotes
brasileiros natos (sic passim) (BRASIL, 1934, grifo nosso).
O quadro de crescimento evangélico pentecostal, aferido no capítulo anterior, e a
tendência apontada de expansão para o século XXI, nem sempre foi assim. A terra brasileira,
descoberta e ocupada no século XVI, era oficial e exclusivamente católica, onde o Estado
deveria proteger a Igreja oficial, inclusive de outras manifestações religiosas, e se apresentava
ao Novo Mundo como a serviço desta, a serviço do próprio Deus, e a missão principal era
conquistar os infiéis e converter essas almas a Cristo ou à igreja oficial.
As relações entre os índios nativos, brancos europeus e negros africanos geraram
inúmeros conflitos sociais, e muitos perpetuam até hoje, entre esses, a questão dos menores
indesejados e infratores, que será apresentada neste capítulo.
O início da colonização brasileira é registrada por Pero Vaz de Caminha com certo
nível de encantamento ao que se refere a natureza e seus habitantes:
[...] papagaios vermelhos, muito grandes e formosos, e dois verdes pequeninos e
carapuças de penas verdes, e um pano de penas de muitas cores, maneira de tecido
assaz formoso [...] Águas são muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa que,
querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém o melhor
fruto, que dela se pode tirar me parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a
principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar [...] (EDUCAÇÃO, 2010).
Do encantamento para a exploração, de uma chegada pacífica e fraterna – no texto de
Caminha – a invasões e combates, num período curto temos o registro do início da escravidão,
invasão francesa (1550) e invasão holandesa (1630), o surgimento dos menores abandonados,
enjeitados e marginalizados. Em paralelo, a presença dos religiosos registrada nos diários de
bordos das embarcações e, no processo de colonização do Brasil, a ação dos primeiros capelães,
assistentes religiosos, conforme Priori e Venâncio (2010, p. 29):
Os primeiros religiosos a desembarcar entre nós forma oito franciscanos, membros de
importante ordem estabelecida, há tempos, em Portugal. Sua presença como capelães
de bordo na navegação portuguesa era comum, mas, sua participação na
109
evangelização do gentio ou nas práticas religiosos de colonos só ganhou envergadura
a partir de 1580.
Em 1534, Inácio de Loyola funda a Companhia de Jesus para evangelização das
Américas, os jesuítas chegam ao Brasil em 1549 junto com o representante de D. João III, o
governador Tomé de Souza. A irmandade destaca-se na evangelização e educação dos colonos,
demonstra interesse pelas crianças nativas, organiza a primeira escola em solo brasileiro,
aprende a língua local, evangeliza os menores, protege os nativos adultos da violência da
escravidão, além de atender aos filhos dos colonos.
Durante o período controverso de ação dos jesuítas há um acolhimento aos órfãos dos
colonos e a tentativa de proteção aos indígenas, talvez um prelúdio da ideia do bom selvagem
que surgiria adiante com Rousseau (1712-1778), contudo, não há ação ou assistência protetora
aos negros e miscigenados, que diante dos conflitos sociais ficam à própria sorte; esse
acolhimento parcial dos jesuítas ocorre até a expulsão do próprio grupo religioso, em 1759.
Para os menores negros, filhos de escravizados, a primeira infração era o próprio
nascimento, visto que, os que tinham o infortúnio de sobreviver, teriam desde cedo o destino
bem conhecido dos adultos ao trabalho, tronco e chicote. Ainda muito pequenos, eram tratados
e tidos como animais domésticos, literalmente, animaizinhos de estimação, objeto pitoresco de
diversão para os filhos dos senhores.
O castigo físico em crianças não era nenhuma novidade no cotidiano colonial.
Introduzido, no século XVI, pelos padres jesuítas, para horror dos indígenas que
desconheciam o ato de bater em crianças [...] vícios e pecados deveriam ser
combatidos com açoites e castigos (PRIORI, 2016, p. 321).
Humilhações, maus-tratos e abusos sexuais faziam parte de suas rotinas, algumas
dessas crianças conseguiam fugir, outras eram abandonadas, contudo, não há dúvidas que estas
eram tratadas como “propriedade individual, como patrimônio e mão-de-obra” (FALEIROS,
1995, p. 224).
2.1 O menor e o infrator na história do Brasil
O termo menor infrator é composto por duas palavras, a saber: Menor, adjetivo que
descreve inferioridade em número, extensão, intensidade, duração; e Infrator, adjetivo que
indica aquele que infringe, desrespeita.
Ao observarmos o uso do termo na relação entre o Estado e a criança brasileira,
percebe-se que este passa a ser usado com determinada conotação social, que inclui juízo de
110
valor e caráter (FALEIROS, 1995). Assumindo ação discriminatória no Brasil ainda Colônia,
o seu uso referia-se não necessariamente aquele que infringiu, transgrediu ou desobedeceu a
ordem social, mas era sinônimo a qualquer crioulinho, qualquer moleque de rua, enfim, à
criança pobre.
Uma vez que, independente de se cometer de fato uma infração, crianças e
adolescentes são assim classificados, o que se pode esperar do futuro destes? Para Cabral e
Sousa (2004, p. 83) a resposta é mais do que óbvia: “infância curta [...] está destinado, através
do trabalho precoce e desqualificado, a reprodução da situação de exclusão vivida pelos pobres
no Brasil desde a Colônia”.
A figura abaixo, de um quadro elaborado por Pinheiro (2003), destaca como alguns
personagens da sociedade (1ª coluna), qualificam os menores em suas relações políticas,
administrativas e judiciárias (3º coluna).
Os menores crescem sendo vistos e declarados chagas da sociedade, vadios,
vagabundos e desgraçados pelas autoridades e instituições que deveriam acolhê-los, orientá-los
e propiciar a estes a oportunidade de futuro. O futuro da nação é comprometido em seu passado
e confirmado em um presente com números exacerbados de menores infratores em
cumprimento de medidas socioeducativas.
Figura 2 – Adjetivos para crianças indesejadas
Fonte: PINHEIRO, 2003.
Menor ou menoridade como recorte de inimputabilidade civil e/ou criminal é um termo
técnico que surge no meio jurídico no Brasil Império, todavia, a conotação discriminatória
111
mantém-se e é percebida no vocabulário dos higienistas (TORRES-LONDOÑO, 1995), grupo
este que, no contexto pré-republicano, surge no final do século XIX na sociedade paulistana e
que diante da questão dos sepultamentos intramuros nas paróquias católicas, o risco anunciado
de doenças locais e o medo propagado de eventuais pestes em virtude do contato com o terreno
da morte, ganham status e força política na escolha do local para o primeiro cemitério público
da cidade, o Cemitério da Consolação, em 1858 (AZEVEDO, 2017a), bem como em outras
esferas políticas e sociais.
Não apenas em relação ao menor indesejado socialmente, mas também para a questão
racial, buscou-se por meio da ciência legitimar determinados padrões de limpeza urbana e
embranquecimento populacional.
A população mista do Brasil deverá ter pois, no intervalo de um século, um aspecto
bem diferente do atual. As correntes de imigração europeia, aumentando a cada dia
mais o elemento branco desta população, acabarão, depois de certo tempo, por sufocar
os elementos nos quais poderia persistir ainda alguns traços do negro (SCHWARCZ,
2011, np.).
O discurso científico se apresenta como resposta à desordem social, política e sanitária
diante do medo da morte causada por pestes e doenças transmissíveis que a religião não podia
combater.
A aplicação desses três atos é essencial para a ciência. Em seu corpo devem-se conter
estruturas que validem a base do pensamento científico, o de romper e da
diferenciação quando relacionado aos demais saberes (religioso, artístico, senso
comum etc.). Esse processo, característica própria do discurso científico, com sua
própria linguagem e assim produz um conjunto de regras que determinam o que é
verdade e o que não é verdade (FOUCAULT, 2007, p. 13).
Diante do cenário de incertezas e mortes, a ciência, com sua linguagem própria e
metodologia, sobrepõe-se a religião, sendo capaz de descrever as doenças, apresentar curas,
explicar ou adiar a morte, e assume um posto determinante na sociedade, passando a prescrever
o lugar e o papel social dos personagens sociais, inclusive dos menores.
Através do Conselho de Saúde Pública, atua no controle sanitário da população,
inspecionando casas, verificando o uso correto da água, o descarte de esgoto e lixo, como
também na organização e manutenção de espaços públicos. Sua atuação era abrangente, tendo
dentro de suas rotinas e funções o policiamento sanitário dos diversos espaços da cidade, dando
atenção especial aos pobres, considerados perigosos e propagadores de doenças, conforme
Rocha (2010, p. 66-67).
112
Podemos considerar então que o Serviço Sanitário se configurava em uma tentativa
no sentido de normalizar e regular a sociedade de maneira geral e o comportamento
de seus habitantes, ‘policiando’ as mais diversas esferas sociais. Em relação a essa
questão, Ribeiro comenta que o conceito de ‘polícia’, na legislação sanitária do final
do século XIX, ‘prendia-se às idéias (sic) de fiscalizar e vigiar a população em geral,
mas em especial os pobres, as classes consideradas perigosas pois eram
disseminadoras das doenças’.
Percebe-se duas correlações importantes neste contexto: por um lado, higienistas e
positivistas pré-republicanos, que atuam para limpar das praças os menores e da administração
pública os religiosos, de outro lado, os indesejados menores e os religiosos, que desenvolvem
certa afinidade improvável, todavia possível diante do quadro social. O espaço vazio deixado
pelo Estado no cuidado com os menores será ocupado pela assistência religiosa e filantrópica,
que começa no início da colonização e ganhará espaço e visibilidade ao final do século XX,
conforme debates do 4º seminário mineiro de assistentes sociais analisado na mesa conduzida
por Brito e Silva (2016, np), na qual aponta-se que, neste período, “A maioria das iniciativas
referentes à infância no Brasil foi de natureza religiosa, partindo de duas perspectivas:
assistência e repressão, pois o Estado interferia de maneira caritativa”.
2.1.1 – (1726) Menores na Roda
Crianças rejeitadas eram colocadas às escondidas em um suporte dentro de um
cilindro, conhecida como Roda dos Enjeitados, construídas em 1726, na Bahia. Em 1738, Rio
de Janeiro, literalmente uma roda, com mecanismo que permitia o movimento ser iniciado de
fora para dentro, do exterior para o interior, na qual o adulto chegava à calada da noite, sem se
identificar e sem a necessidade de interação pessoal com as pessoas do lado de dentro,
depositava a criança rejeitada, fazia o movimento de giro e a abandonava aos cuidados da igreja.
A criação de tal instrumento para uso em sociedade demonstrava de maneira
indiscutível a desvalorização que a criança sofria no Brasil Colônia, não apenas as que eram
enjeitadas, como também as que eram exploradas “... expostos, recolhidos e assistidos eram
conduzidos precocemente ao trabalho e explorados, para que pudessem ressarcir aos ‘seus
criadores’ ou ao Estado os gastos feitos com sua criação” (FALEIROS, 1995, p. 235).
113
Figura 3 – Roda dos enjeitados
Fonte: http://ainfanciadobrasil.com.br
‘[…] rogo a Vossa Mercê queira ter a bondade de mandar criar este menino com todo
o cuidado e amor […]; é este menino filho de Pais Nobres e Vossa Mercê fará a honra
de lhe criar em casa que não seja muito pobre e que tem escravas que costumam criar
essas crianças […] Bilhete deixado junto a uma criança enjeitada, 1760’ (AGUIAR,
2017, p. 36).
Questões morais como adultério e prostituição, orfandade e pobreza extrema geraram
o problema das crianças abandonadas e/ou rejeitadas nas vilas e províncias da Colônia, e mesmo
sendo as Câmaras Municipais responsáveis pelas questões administrativas das vilas e cidades,
eram as Igrejas, através das irmandades de misericórdia, que atendiam as demandas sociais,
inclusive dando assistência aos menores marginalizados.
Em relação às demais populações católicas, um importante espaço de praticas
religiosas para homens e mulheres coloniais eram as irmandades ou confrarias.
Associações de caráter local, tais instituições auxiliavam a ação da Igreja e
promoviam a vida social, desempenhando tarefas que, muitas vezes, deveriam caber
ao ausente governo português: fundação e manutenção de abrigos de meninos pobres,
recolhimento de meninas órfãs e hospitais, denominados Santas Casa de Misericórdia
(PRIORI; VENANCIO, 2010, p. 34).
No caso de pequenos furtos e delitos ou mesmo fuga de crianças escravas, as que não
conseguiam abrigo entre os religiosos sofriam penas de açoite, varadas e confinamento como
adultos, não havia nenhuma regra, código ou lei que trouxesse alento ou proteção ao menor.
114
O quadro de abandono ia se agravando com a expansão territorial e econômica do
Brasil Colônia, os escravos adultos eram levados de um lado a outro para cumprir a sina
imposta, entre muitos deslocamentos temos, na virada do século XVII para o século XVIII, as
expedições de Entradas e Bandeiras.
A identificação dos minérios e o início da exploração trazem mudanças abruptas nas
rotinas e relacionamentos sociais, gerando uma nova característica na formação das cidades,
em especial na atual Minas Gerais. Após um primeiro período de desenvolvimento na economia
açucareira, em que os escravos permaneciam com suas famílias por mais tempo em
determinadas fazendas, a exploração de minérios trouxe certo êxodo escravo em territórios
nacionais, além do desinteresse já percebido no cuidado dos menores; neste momento, estes se
tornam verdadeiro estorvo às atividades de entradas e bandeiras, sendo deixados nas fazendas
ou abandonados pelo caminho.
Outro fato determinante para o aumento dos menores abandonados nesse recorte
histórico diz respeito à mortalidade dos adultos na nova, rudimentar e perigosa atividade de
extração mineral; os ferimentos e mortes dos escravos adultos são diversos, muitos morrem e
outros são abandonados à própria sorte, quando gravemente feridos, não voltando para suas
famílias, não voltando para os seus menores.
No cativeiro, muitas mães preferiam impedir ou abortar uma concepção, a fim de não
exporem os filhos à escravidão. As crianças menores eram consideradas expendiosas
(sic) e, por isso, os senhores preferiam escravos maiores, especialmente entre 15 e 35
anos de idade. Entretanto, devido às precárias condições de trabalho e sobrevivência
a que eram submetidos, poucos chegavam à idade adulta (MARINO, 2013, p. 59).
As vilas e províncias eram organizadas de forma que esse menor não encontrava
espaço, não apenas se sentia, mas de fato era indesejado, não sendo útil ao novo tipo de
exploração, e sem o retorno de seus pais, coube a este buscar um novo lugar para sobrevivência,
uma nova casa em uma comunidade longe da civilização branca exploratória.
2.1.2 – (1830) Casa para Menores
Os menores que infringiam a sociedade por nascimento, os órfãos, enjeitados e
também os desajustados sociais, em sua maioria, não tinham casas de referência para vivência
e construção de suas próprias histórias. Com seus genitores mortos, separados pelo serviço
escravo em casas, fazendas ou vilas distintas, ou ainda, tendo um genitor branco que se valia
115
da força do estupro para aumentar suas posses, cabia aos menores a busca de um novo local de
sobrevivência, um abrigo, uma casa, e é nesse contexto que surgem os Quilombos.
O Conselho Ultramarino, em 1740 denominou quilombo, toda habitação de negros
fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos
levantados. Após a repressão aos quilombolas, na guerra dos balaios, no Maranhão,
a Lei Provincial nº 236 de 20 de agosto de 1847 elabora um novo parâmetro para
conceituar e/ou identificar quilombo, a referida lei em seu artigo 12, nos traz a
seguinte redação: Reputar-se-a (sic) escravo aquilombado, logo que esteja no interior
das matas, vizinho ou distante de qualquer estabelecimento em reunião de dois ou
mais, com casas ou ranchos (BRAGA; FERREIRA, 2010).
A palavra que tem origem no idioma banto33 significa guerreiro da floresta, onde de
fato a luta pela vida era travada, visto que além das questões escravocratas aos poucos que
tinham acesso à liberdade, o acesso à terra e sobrevivência era negado.
Já a primeira Lei de Terras, escrita e lavrada no Brasil, datada de 1850, exclui os
africanos e seus descendentes da categoria de brasileiros, situando-os numa outra
categoria separada, denominada ‘libertos’. Desde então, atingidos por todos os tipos
de racismos, arbitrariedades e violência que a cor da pele anuncia – e denuncia –, os
negros foram sistematicamente expulsos ou removidos dos lugares que escolheram
para viver, mesmo quando a terra chegou a ser comprada ou foi herdada de antigos
senhores através de testamento lavrado em cartório. Decorre daí que, para eles, o
simples ato de apropriação do espaço para viver passou a significar um ato de luta, de
guerra (LEITE, 2000, p. 335).
Os quilombos eram comunidades formadas por escravos foragidos, e desde o início do
século XVII há evidências destes assentamentos, onde ocorreram perseguições por parte dos
senhores de terra com seus capitães do mato.
Segundo Goés e Florentino (1999), a mortalidade infantil entre as famílias de escravos
representava algo em torno de 80% para crianças de até 5 anos de idade, sendo que a orfandade
era o destino de 50% das que sobrevivessem. Para as crianças que passassem dos 10 anos, a
orfandade era a realidade de quase 80% dos casos, e destas, os quilombos eram a única
esperança de chegar à vida adulta.
A Coroa Portuguesa conduziu ataques organizados que objetivavam o extermínio de
tais agrupamentos, sendo o mais sangrento e famoso localizado em Palmares, esta ação
sistemática ocorre a partir do entendimento que estes grupos eram aliados ou suportados pelos
holandeses. Contudo, os holandeses também tinham suas questões com os quilombos, não
confiavam neles e os viam com certo perigo às suas intenções. A despeito da posição dos povos
33 Grande conjunto de línguas do grupo nigero-congolês oriental faladas na África, do quinto paralelo da
latitude norte (altura de Cabinda) até o Sul, reunidas basicamente por critério morfossintático e lexical.
116
europeus e suas disputas territoriais, os quilombos se tornaram fortes e organizados neste
período e viraram a nova casa dos menores fugitivos.
Baro comandou um ataque holandês, em 1644, que teria vitimado cem pessoas e
capturado 31 quilombolas, de um total de seis mil que viviam no principal
acampamento. A rivalidade entre portugueses e holandeses seguramente contribuiu
para o crescimento de Palmares e, com a retirada desses últimos, os ataques aos
assentamentos, que já eram nove, intensificaram-se no período entre 1654 e 1667. A
partir de 1670, ofensivas quase anuais visavam destruir o Estado rebelde, governado
por Ganga Zumba, entre 1670 e 1687. Acusado de colaboracionismo, Ganga Zumba
foi morto e sucedido por seu sobrinho Zumbi, rei entre 1687 e 1694, iniciando um
período de guerras mais intensas, que culmiram (sic) com a expedição comandada
pelo paulista Domingos Jorge Velho. Em fevereiro de 1694, após um sítio de 42 dias,
Macaco foi tomada e Domingos Jorge Velho reivindicou o motim, tendo vitimado 200
quilombolas e aprisionado 500, a serem vendidos fora da capitania. Duzentos teriam
fugido, entre os quais Zumbi, capturado e morto em 20 de novembro de 1695
(FUNARI, 95/96, p. 8).
Os quilombos não acabaram com o genocídio em Palmares, e tiveram papel importante
durante os séculos XVIII e XIX, servindo de escape e alternativa para os menores infratores da
Colônia e Império.
[...] igualmente fizeram os cativos em Iguaçu, no recôncavo de Guanabara, Província
do Rio de Janeiro, no século XIX. Ali resistiram às repetidas tentativas de
reescravização (sic). Já em Vassouras em 1838, por meio de organização interétnica
urdida nas senzalas e nas gangs de trabalho das plantações, centenas de escravos
fugiram para as matas. Iam juntos com seus familiares [...] Tentavam escapar
definitivamente para os quilombos (GOMES, 2005, p. 31).
Sobre a luta pelo direito à terra dos povos quilombolas, vale a menção que somente
294 anos após a invasão de Palmares e 100 anos após a assinatura da Lei Aurea é que o
reconhecimento à titulação dessas comunidades de fato se tornou oficial, isto por meio do artigo
68 dos Atos das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988, no qual o trabalho
de entidades civis se unem à assistência religiosa representada na pastoral da terra na luta por
esse reconhecimento, por essa conquista ainda inconclusa no século XXI.
Atualmente as comunidades quilombolas têm apenas cerca de 10% de suas terras
tituladas e mais de 1.400 em processo de reconhecimento no Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (INCRA).
Por força do Decreto nº 4.887, de 2003, o Incra é a autarquia competente, na esfera
federal, pela titulação dos territórios quilombolas. As terras ocupadas por
remanescentes das comunidades dos quilombos são aquelas utilizadas para a garantia
de sua reprodução física, social, econômica e cultural. Como parte de uma reparação
histórica, a política de regularização fundiária de Territórios Quilombolas é de suma
117
importância para a dignidade e garantia da continuidade desses grupos étnicos
(INCRA, 2020).
Figura 4 – Terras Quilombolas em processo de Titulação
Fonte: INCRA (2014)
Os quilombos eram constantemente invadidos pelos oficiais da coroa ou fazendeiros,
e o menor sem família, fugido das vilas e províncias, também era colocado em trabalhos
forçados, não sendo este segundo endereço tão melhor do que o primeiro, o que não poucas
vezes levava alguns a fugirem dos quilombos e retornarem às vilas de origem.
Não havia espaço para esses menores na casa grande, nem nas praças, e apesar de
menores, já eram grandes para as casas de misericórdia. Sendo os quilombos combatidos e
destruídos, era necessário uma nova casa para receber e resolver o problema do menor infrator,
a resposta do Império foi a criação das Casas de Correção.
Sancionado em 13 de dezembro de 1830, o Código Penal substitui o livro V das
Ordenações Filipinas (1603), código penal usado pela Coroa portuguesa para orientar o Brasil
Colônia e Império, e que continuou em vigor mesmo depois da Independência (1822), conforme
determinação da Assembleia Nacional Constituinte de 1823.
Reconhecido como o primeiro Código Penal da América Latina, surge como resposta
parcial ao disposto na Constituição do Império do Brasil, de 1824, que determinava que
“organizar-se-á o quanto antes um Código Civil, e Criminal, fundado nas sólidas bases da
118
justiça e equidade” (BRASIL, 1894, Art. 179). Parcial, pois apenas o Código Criminal é
sancionado e o Civil será implementado apenas no Brasil República, em 1916.
Sobre a questão do menor infrator, inspirado no critério biopsicológico34 do código
francês de 1803, é imputado culpa ao indivíduo a partir de catorze anos considerando sua
capacidade de discernimento, critério que continuará em vigor no Brasil República.
Art. 13. Se provar que os menores de catorze anos, que tiverem cometido crimes,
obraram com discernimento, deverão ser recolhidos ás casas de correção, pelo tempo
que ao Juiz parecer, com tanto que o recolhimento não exceda á idade de dezessete
anos (BRASIL, 1894).
Figura 5 – Capa do Código Criminal
Fonte: Domínio público - Biblioteca Nacional Digital35
Para os comprovadamente capazes de compreender o delito praticado, as Casas de
Correção foram instauradas com o objetivo de reeducar o menor infrator nos costumes morais
e religiosos, onde os menores ficavam reclusos e divididos em duas categorias, a saber:
34 É a regra geral do nosso direito penal, art. 26, caput - primeira parte (biológico), segunda parte (psicológico).
Sistema biológico: leva-se em conta exclusivamente a saúde mental do agente, isto é, se o agente é, ou
não, doente mental ou possui, ou não, um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Sistema
psicológico: leva-se em consideração unicamente a capacidade que o agente possui para apreciar o caráter
ilícito do fato ou de comportar-se de acordo com esse entendimento. 35 Cf. em: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_obrasraras/bndigital0297/bndigital0297.pdf.
119
1ª – Vadios
Pegos pela polícia indicados como vagabundos, abandonados por má índole e que não
podiam ser corrigidos por seus pais, sendo recebidos na casa a pedido dos próprios.
2ª – Órfãos
Menores pobres, sem família e que não tinham outro lugar para ficar.
Entre as casas criadas pelo decreto nº 2.745, de 13 de fevereiro de 1861, a Casa de
Correção da Corte teve o seu projeto arquitetônico divulgado.
Abaixo, é possível identificar a separação dos pavilhões e o pátio central.
Figura 6 – Projeto Arquitetônico da Casa de Correção da Corte
Fonte: BRASIL, 2020.
As Casas de Correção não cumprem o seu objetivo, tornando-se um lugar de fomento
de criminalidade, não de correção ou recuperação social, e a questão do menor infrator se torna
uma bomba relógio social que terá sua explosão pouco mais de um século adiante, nas
FEBEMs.
2.1.3 – (1871) Ventre Livre Sim, o Menor Não
Meio século da independência já decorridos, mais de trinta anos das primeiras casas
de correção, os antigos menores já são adultos, e os novos menores continuam à própria sorte
no Brasil, que inicia lenta, desorganizada e burocraticamente a abolição da escravatura, os
menores filhos de escravos ganham atenção especial, até então não percebida.
120
As referências aos filhos dos escravos começam a aparecer na legislação a partir da
Lei Euzébio Queiroz (1850), e em 1871, envolta na conjuntura das transformações que se
processavam no mundo, é promulgada no Brasil a Lei nº 2.040, conhecida como Lei do Ventre
Livre.
A Princeza Imperial Regente, em nome de Sua Magestade o Imperador e Senhor D.
Pedro II, faz saber a todos os subditos do Imperio que a Assembléa Geral Decretou e
ella Sanccionou a Lei seguinte:
Declara de condição livre os filhos de mulher escrava que nascerem desde a data desta
lei, libertos os escravos da Nação e outros, e providencia sobre a criação e tratamento
daquelles filhos menores e sobre a libertação annaul de escravos (sic passim)
(BRASIL, 1871).
Assim como as casas de correção, o ventre livre não cumpre um papel de resolução à
questão do menor, e o que se apresenta como uma evolução humana, uma porta de saída da
escuridão civil e moral da última sociedade escravocrata do mundo, torna-se mais uma página
de terror para órfãos, abandonados e menores enjeitados da sociedade.
O século XIX é marcado por intenso e conflituoso processo de transição nas relações
sociais ao que se refere à mão de obra de trabalho, como o início da migração de trabalhadores
brancos ocorrendo em paralelo às leis Euzébio de Queiroz (1850), Ventre Livre (1871),
Sexagenário (1885) e Áurea (1888), fatos que interferem, reescrevem e determinam não apenas
as relações econômicas como também sociais e familiares.
Se até 1871 os menores abandonados, órfãos, pobres, escravos e os infratores eram um
problema, de repente, tornaram-se solução, e agora o que não falta são benfeitores, pessoas
interessadas em acolher, cuidar, enfim, tutelar estes.
Negociações envolvendo mães e filhos, ausência de registros de nascimento,
imprecisão no detalhe sobre cor nos registros, alterações de idade, indenizações pecuniárias
pagas por liberdades não conferidas, acordos pecuniários para liberdade com datas incompletas,
prazos dúbios etc., subterfúgios utilizados pelos senhores que não queriam ver seus bens
preciosos sair sem alguma compensação.
O menor filho de escravos perde seu valor comercial, não o seu valor de trabalho.
Quando o filho da escrava completava oito anos a lei permitia ao senhor, que tinha
prazo de um mês para fazê-lo, escolher a modalidade de ‘libertação’ que lhe convia
(sic). Isso acontecia, porque aos seus 8 anos a criança já mostrava as suas capacidades.
Sem dúvida, poucos foram os senhores que não prenderam pelo trabalho os filhos de
suas escravas. Até os 21 anos, são treze anos de trabalho, que nenhuma indenização
oferecida pelo governo poderia compensar.
Finalmente, nenhuma das crianças da Lei do Ventre Livre teria 21 anos em 1888, o
destino, mais clarividente que a lei, neles teria reconhecido os escravos disfarçados
121
que foram, e que são liberados da mesma forma e no mesmo tempo que os outros
escravos. Para os redatores da lei de 28 de setembro, atrás do ‘menor’ a proteger
escondia-se o bom trabalhador, útil ao seu senhor (ZERO, 2004, p. 141).
Os menores abandonados, órfãos, enjeitados, pobres e filhos de escravos se tornaram
menina dos olhos para muitos adultos exploradores.
A tutoria era um processo de rotina na monarquia brasileira, havendo regimentos legais
que a direcionavam. Uma vez que o menor possuísse bens, teria seus cuidados legados
prioritariamente à tutela testamentária, logo, caso o pai falecido não tenha deixado esse registro
em vida a mãe teria prioridade. Entretanto, em um recorte histórico em que o papel da mulher
na sociedade não era reconhecido, para que a mãe pudesse cuidar de seus filhos menores na
ausência do pai era necessário a aprovação de um Juiz de Órfãos, abrindo mão de alguns
direitos, inclusive econômicos. Esse e outros casos são registrados em ambiente público virtual
pelo arquivista do Arquivo Público de Paracatu, Lima (2020, np).
A viúva Joanna de Araújo Ferreira é notificada pelo advogado e curador João de Pina
Vasconcelos de que para a necessária habilitação dela como tutora dos seus 6 filhos
menores ‘é mister = 1º renunciar o benefício dos Senatos Consultos Veleiano, e assim
todos os mais direitos, e privilégios introduzidos em favor das mulheres – 2º Quando
não renunciar também o segundo casamento, deve prometer que antes de se recasar
requererá a este Juízo para nomear novo tutor aos orfaons (sic passim) – 3º
Finalmente deve prestar fiança segura, e abonada as quotas dos seis orfaons cuja tutela
pede, não devendo a fiança ser menor ou inferior a 1.500$000 reis pelo menos,
declarando-se isto mesmo ao fiador’.
Quando não havia indicação testamentária e a mãe não desejasse ou não conseguisse
legalmente a guarda, o juiz era responsável por lançar pregão público sobre os órfãos
disponíveis para adoção, cuidando para que nomes e posses dos menores não fossem
conhecidos até o final do processo de adoção, o que nem sempre ocorria.
O tutor que conseguisse a guarda de órfãos era responsável pelos cuidados, educação
e por garantir o desejo do pai falecido para o futuro do menor, e diante do juiz era necessário
jurar a intenção de fielmente cumprir o descrito no testamento e, por vezes, prestar contas a
respeito da administração dos bens e cuidados do menor.
O interesse no cuidado dos menores brancos, filhos de colonos fazendeiros, é
facilmente compreendido, logo, a pergunta que cabe neste momento é: Qual interesse em tutelar
um menor pobre, rejeitado, abandonado, infrator? O ventre era livre, o menor não.
Com objetivo de burlar a lei alguns fazendeiros “contratavam” o serviço braçal de
menores junto aos seus tutores legais, não pagando a este menor como um trabalhador,
122
semelhante ao praticado aos imigrantes brancos, contudo, a estes era definido direto com o seu
tutor um valor de locação; o ventre era livre, o menor continuava escravo.
Essa prática ilegal, de contratar-se órfãos com os seus próprios tutores, era uma forma
de o locatário não cumprir os deveres de um tutor, e por outro lado, o tutor que locava
o seu tutelado, deixava de cumprir os deveres de sua função. Nesse caso, o locatário
está requerendo a tutela do menor, para não pagar o aluguel de cinco mil réis para o
tutor que locou o menor, e por outro lado o tutor deixa de responder pelos os seus
deveres de tutor (ZERO, 2004, p. 9).
2.1.4 – (1875) O Menor Reformado
Em 1808 dá-se a chegada da Corte Portuguesa Católica no Rio de Janeiro, não de
forma ordenada e/ou planejada, antes, ocorre em virtude do movimento e da força militar
napoleônica na Europa, abrindo caminho para o comércio, trabalho, cultura e religião inglesa,
que faz a escolta da Corte Portuguesa até o Brasil.
O Brasil, até então Colônia, agora Império, era uma nação fechada ao comércio
estrangeiro e a qualquer religião que não fosse a Católica Romana, e sendo os ingleses
protestantes, além do acordo comercial que abre os portos a esta nação, era necessário incluir
nos tratados algo sobre a confissão religiosa.
Os portos são abertos, produtos saem do Brasil para a Inglaterra, trabalhadores ingleses
saem da Europa para o Brasil, e além de conhecimentos e habilidades técnicas, trazem em suas
bagagens a fé protestante, que carecia de orientações para uma convivência mínima junto aos
católicos do Império que iriam recebê-los, o que será descrito no tratado de 1810.
Sua Alteza Real O Príncipe Regente de Portugal declara e se obriga no seu Próprio
Nome, e no de Seus Herdeiros e Sucessores, a que os Vassalos de Sua Majestade
Britânica residentes nos Seus Territórios, e Domínios não serão perturbados,
inquietados, perseguidos, ou molestados, por causa de Sua religião, mas antes terão
perfeita liberdade de Consciência, e licença para assistirem, e celebrarem o Serviço
Divino ao Todo Poderoso Deus, quer seja dentro de suas Casas particulares, quer nas
suas particulares Igrejas e Capelas, que Sua Alteza Real agora, e para sempre,
graciosamente lhes Concede a permissão de edificarem e manterem dentro dos Seus
Domínios (LELLIS; HEES, 2013, p. 100, grifo nosso).
Com a abertura dos portos, os ventos da industrialização europeia sopram em terras
brasilis na velocidade das estradas de ferro que cortam as províncias do Rio de Janeiro e São
Paulo, e assim, surge um promissor mercado de trabalho, ainda no Brasil Império, sendo o
menor mão de obra barata e disponível. Passamos das casas de correção (1830) para as casas
profissionalizantes, asilos para menores mantidos pelas administrações provinciais.
123
Entre os súditos da Majestade Britânica encontram-se os trabalhadores de confissão
reformada. Como a confissão pública da fé protestante, bem como o proselitismo eram
proibidos e passíveis de multas e prisões, estes religiosos utilizam a estratégia da educação para
se aproximar das crianças e levar sua fé aos menores.
Desde bem jovem, o Ver. Ashbel Green Simonton, pioneiro presbiteriano no Brasil,
demonstrou interesse pela educação, tendo trabalho por algum tempo como professor
no Sul do seu país. Cinco messes após sua chegada ao Brasil, ele registrou em diário:
‘O plano de ser ter aqui [Rio de Janeiro] uma escola protestante, de grau elevado, para
ingleses e brasileiros que queira frequentá-la, tem ocupado muito os meus
pensamentos ultimamente’ (21/01/1860). (RIBEIRO; MATOS; MENDES, 2019, p.
274).
O desejo do reverendo concretiza-se com a primeira escola presbiteriana inaugurada
em 1867 na atual praça da República do Rio de Janeiro, apenas para meninos, e no educandário
para meninas, em São Paulo, em 1879.
Não apenas os presbiterianos, como também as demais confissões protestantes
investiram no proselitismo a partir dos menores, valendo-se de instituições particulares de
educação para tal objetivo; de fato, um grande desafio.
Sobre a continuidade da escravização dos ingênuos, Lage e Venâncio seguem como
referência o trabalho de Robert Conrad, apesar de considerarem necessário, ao invés
de uma ‘avaliação global’ da lei como, segundo os autores, realizou Conrad, uma
análise que dê conta das ‘variações regionais e dos diferentes impactos’ daquele
preceito nas diferentes regiões brasileiras. Em relação ao aumento quantitativo de
crianças negras abandonadas no Rio de Janeiro depois do Ventre Livre, argumentam
os historiadores que ‘entre 1864 e 1881, o número de crianças entregues à Santa Casa
praticamente dobrou no caso de pardos (de mais ou menos 130 para 260 por ano) e
triplicou no caso de negros (de mais ou menos 30 para 90 por ano)’ (PINHEIRO,
2003, p. 38).
Apesar da ação dos reformados na segunda metade do século XIX, o fato é que os
menores continuavam sendo um problema para o Império e indesejados na sociedade que se
via positivista e intelectual, todavia, na qualidade de trabalhadores eram bem-vindos, em
especial por representarem baixo custo em comparação à mão de obra estrangeira e adulta local.
O ‘perigo social’ representado por inúmeros meninos e meninas pobres, ditas
abandonadas, nas ruas da Corte era uma ameaça aos planos dos políticos e intelectuais
brasileiros que vislumbravam a organização de um mercado de trabalho disciplinado
e de uma nação civilizada, empreitada da qual dependia o futuro do Brasil
(PINHEIRO, 2003, p. 43)
124
O Asilo de Meninos Desvalidos surge num recorte interessante, estando exatamente
no meio do caminho do processo de libertação dos menores, prazo de oito anos estipulado na
Lei 2.040 de 1871, ou seja, quatro anos após a assinatura e a quatro anos do término do prazo
determinado para que os senhores escolhessem entre usar os menores como mão de obra
trabalhadora (até 21 anos) ou libertá-los, mediante uma indenização de 600 mil réis que seria
paga pelo Estado.
O primeiro regulamento aprovado pelo decreto n. 5.849, de 9 de janeiro de 1875,
definiu que o Asilo de Meninos Desvalidos, instalado na Chácara dos Macacos, no
bairro de Vila Isabel, era um internato destinado a recolher e educar meninos de 6 a
12 anos de idade conforme o art. 62 do decreto n. 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854.
A instrução primária foi ampliada, constando do primeiro e segundo graus, e seriam
instituídos os ofícios de encadernador, alfaiate, carpinteiro, marceneiro, torneiro e
entalhador, funileiro, ferreiro e serralheiro, surrador, correeiro e sapateiro (BRASIL,
2020).
Dez casas foram criadas logo após a promulgação da lei, contudo, apesar da urgência
em profissionalizar os meninos e meninas, o fato é que, com exceção das oficinas de alfaiates
e sapateiros, que funcionaram regularmente, as demais oficinas de trabalho não ficaram prontas
para atuarem com o início das atividades das casas, algumas tampouco funcionaram, deixando
os meninos e meninas reclusos e ociosos, e ao saírem, incompetentes para o mercado de
trabalho e – ainda – indesejados à sociedade.
Nesse período, os menores indesejados na sociedade transitavam entre a assistência
religiosa dos reformadores (sociedade civil) e os reformatórios profissionalizantes (Estado).
O período colonial e imperial do Brasil termina, o problema do menor não.
2.1.5 – (1890 a 1930) Velha República, Velhas respostas
Compreende o período de 1889 a 1930, no qual temos o fim da monarquia imperial,
com a declaração da República em 15 de novembro de 1889 e sua certidão de nascimento
registrada em 24 de fevereiro de 1891 com a promulgação da constituição de 1890.
Dividido na perspectiva dos historiadores em dois ciclos, temos: entre 1889 a 1894, a
denominada República da Espada, termo que faz alusão ao uniforme militar tradicional e ao
domínio dos marechais na presidência da nova república proclamada; e entre 1895 a 1930, a
ascensão das antigas províncias traz ao cenário nacional os representantes dos Estados
chamados de presidentes ou governadores, sendo este segundo período o da República
Oligárquica.
125
No ano seguinte ao evento da República, em 11 de Outubro 1890, é promulgado pelo
Presidente Deodoro da Fonseca o Decreto 847, que determina penalização de menores. Neste
código penal, crianças entre 9 e 14 anos são imputáveis diante de seus crimes, contudo, a partir
de análise da compreensão destas diante do delito cometido, mantém-se o critério
biopsicológico e a proposta de casas profissionalizantes para os menores infratores.
Diferente do período de Colônia e Império, não há alternativa para fugas, espaços de
acolhimento a menores fugitivos, como os Quilombos, que já não os acolhiam como antes, e
medidas de reclusão e cumprimento de trabalhos em estabelecimento industrial são indicados
por juízes, sendo que a pena não poderia exceder a idade de 17 anos.
Figura 7 – Capa do Decreto 847 – Constituição de 1890
Fonte: Biblioteca Nacional Digital Brasil36
Art. 27. Não são criminosos:
§ 1º Os menores de 9 annos completos;
§ 2º Os maiores de 9 e menores de 14, que obrarem sem discernimento; [...]
36 Cf. em: https://bndigital.bn.gov.br/
126
Art. 28. A ordem de commetter crime não isentará da pena aquelle que o praticar,
salvo si for cumprida em virtude de obediencia legalmente devida a superior legitimo
e não houver excesso nos actos ou na fòrma da execução.
Art. 29. Os individuos isentos de culpabilidade em resultado de affecção mental serão
entregues a suas familias, ou recolhidos a hospitaes de alineados, si o seu estado
mental assim exigir para segurança do publico.
Art. 30. Os maiores de 9 annos e menores de 14, que tiverem obrado com
discernimento, serão recolhidos a estabelecimentos disciplinares industriaes, pelo
tempo que ao juiz parecer, comtanto que o recolhimento não exceda á idade de 17
annos (sic passim).
Art. 31. A isenção da responsabilidade criminal não implica a da responsabilidade
civil (BRASIL, 1890).
Vimos que no Brasil Colônia a Roda dos Enjeitados das casas de misericórdia era um
destino de acolhimento, assistência religiosa voluntária às crianças órfãs, abandonadas e
enjeitadas37, e que estas crianças tinham destino incerto ao saírem destas casas, tornando-se
problema político e social nas províncias. A questão do menor indesejado cresce junto ao
crescimento populacional, tendo a chegada da Corte (1808), a Lei do Ventre Livre (1871) e a
chegada dos trabalhadores imigrantes, após a Lei Aurea (1888), potencializando ainda mais
estes números. O crescimento populacional desorganizado agrava as crises sociais já
percebidas, além de questões políticas, sanitárias, étnicas e religiosas, destaca-se os menores
excluídos e marginalizados, que passam, também na República, a serem vistos como obstáculo
à nova sociedade que se criava.
[...] o aumento do contingente humano – imigrantes, ex-escravos e os próprios
migrantes – resultado, principalmente, do crescimento do capital acumulado pela
economia cafeeira, serviu para agravar as diferenças sociais, gerando uma massa de
homens, mulheres e crianças, desvalidos, pobres, miseráveis, acentuando ainda mais
as contradições que se estabeleciam no meio urbano. Ocupando o lugar dos
‘excluídos’, dos ‘marginalizados’, as crianças abandonadas e as amas de leite
contratadas pela Santa Casa para cuidar delas ajudavam a compor, efetivamente, essa
parcela da população pauperizada. No caso das crianças que viviam nas ruas, eram
representadas como perigos em potencial e possíveis obstáculos para a constituição
dessa sociedade (ROCHA, 2010, p. 50).
O perigo em potencial que os menores excluídos representavam estava relacionado ao
tipo ideal proposto e ao padrão social que se buscava a partir dos valores sociais higienistas,
todavia, estes valores não dizem respeito à segurança, à saúde pública, à demografia ou mesmo
à estética social, perspectiva desenvolvida por Candiotto (2010) em seu texto: Foucault e Crítica
a Verdade, há nesta ação o desejo de controlar o futuro da sociedade; além do crime de
37 Na antiguidade clássica, em Esparta, Atenas e Roma, as crianças que nasciam disformes eram expostas. Esta
prática consistia em levar as crianças a um lugar secreto fora da cidade para deixá-las morrer ou afogar-se.
127
nascimento, que leva às rodas da misericórdia no Brasil Colônia, agora há o crime da
sobrevivência social, que leva menores à Roda da Exposição Pública.
[...] passa a ser um controle, não tanto sobre se o que fizeram os indivíduos está em
conformidade com a lei; mas ao nível do que podem fazer, do que são capazes de
fazer, do que estão sujeitos a fazer, do que está na iminência de fazer [...] ‘não ao nível
de seus atos, não ao nível das infrações efetivas a uma lei efetiva, mas das
virtualidades de comportamento que elas representam’ (FOUCAULT, 1999, p. 85).
O Asilo de Expostos de São Paulo foi aberto em 1824, a data de referência de 1896 se
dá em virtude de sua remoção do edifício adjunto à Santa Casa de Misericórdia para um
endereço e estrutura própria no bairro do Pacaembu, onde permanece ativa por cerca de 100
anos até sua desativação, em 1997.
[...] a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, por meio de suas instituições, como
o Asilo dos Expostos, também fez parte deste processo histórico, já que milhares de
crianças abandonadas ali encontravam abrigo ao longo de suas vidas. Local onde eram
alimentadas, recebiam tratamento médico, instrução escolar e profissional, entre
outros cuidados. Essas crianças eram, em sua maioria, filhos de mães solteiras ou
abandonadas pelos maridos, de moradores pobres residentes nos bairros mais
afastados, ou mesmo de imigrantes, sendo recolhidas, num primeiro momento, por
meio da Roda dos Expostos, utilizada pela Santa Casa de Misericórdia para acolher
crianças abandonadas na cidade de São Paulo, no período entre 1825 e 1951 (ROCHA,
2010, p. 9).
Até o ano de 1896 a Roda recebia crianças de diversas idades, porém as menores, até
dois anos, eram destinadas a amas de leite, e após o período de aleitamento retornavam ao asilo
e eram institucionalizadas.
Não apenas mudança geográfica e estrutural, o asilo sofrerá as mudanças da sociedade
e a assistência ao menor abandonado vivenciará os reflexos das iniciativas cientificas, políticas,
judiciais da época em tirar o problema do menor das vistas da sociedade.
A partir da transferência, a permanência de menores enjeitados, abandonados, órfãos
e infratores no asilo após o cumprimento das disciplinas dadas pelo Juiz de Menores será até os
18 anos.
Muitas são as ações de controle social para os menores indesejados da época, entre
estas citamos a promulgação do Código Sanitário de 1892, a partir do Decreto 233, de 2 de
Março 1894, que estabelece novas e rígidas regras para a convivência e uso do espaço público.
O código estabelece regras para construções domésticas, públicas e privadas, proíbe os cortiços
e moradias pobres nos grandes centros, delimita o uso dos espaços públicos, inclusive com a
128
determinação de horários para limpeza e conservação de ruas e praças para que os menores e
os desempregados não pudessem lá ficar.
CAPITULO I
RUAS E PRAÇAS PUBLICAS
Artigo 17. A limpeza das ruas e praças deverá ser feita diariamente nas grandes
cidades. Nas cidades e villas secundarias este serviço deverá ser feito 3 vezes por
semana pelo menos.
Artigo 18. A varredura das ruas deverá estar terminada ás 5 horas da manhan no verão
e ás 6 horas no inverno.
Artigo 19. Os encarregados deste serviço deverão humedecer as ruas praças para
evitar o incommodo produzido pela poeira.
Artigo 20. A remoção do lixo não deverá ir além das 9 horas da manhan.
Artigo 180. Creanças menores de 12 annos não deverão ser admittidas aos trabalhos
communs das fabricas e officinas. As auctoridades competentes poderão entretanto
determinar certa ordem de trabalho accessivel ás creanças de 10 a 12 annos.
Artigo 181. O trabalho nocturno, além das 9 horas, é terminantemente prohibido aos
meninos menores de 15 annos e ás mulheres até 21 annos (sic passim) (BRASIL,
1894).
Os menores não podiam ficar nas praças públicas, no entanto poderiam exercer certas
atividades de trabalho a partir dos 10 anos de idade.
A restrição iniciada, de certa forma e em até certo ponto, velada no Capítulo 1, ficará
descrita às claras no Capítulo 13, onde a desocupação, inclusive dos menores – a partir de 14
anos –, e a capoeira são consideradas ofensivas à moral e bons costumes públicos, cabendo aos
infratores a prisão.
CAPITULO XIII
DOS VADIOS E CAPOEIRAS
Art. 399. Deixar de exercitar profissão, officio, ou qualquer mister em que ganhe a
vida, não possuindo meios de subsistencia e domicilio certo em que habite; prover a
subsistencia por meio de occupação prohibida por lei, ou manifestamente offensiva
da moral e dos bons costumes:
Pena – de prisão cellular por quinze a trinta dias.
§ 1º Pela mesma sentença que condemnar o infractor como vadio, ou vagabundo, será
elle obrigado a assignar termo de tomar occupação dentro de 15 dias, contados do
cumprimento da pena.
§ 2º Os maiores de 14 annos serão recolhidos a estabelecimentos disciplinares
industriaes, onde poderão ser conservados até á idade de 21 annos.
Art. 400. Si o termo for quebrado, o que importará reincidencia, o infractor será
recolhido, por um a tres annos, a colonias penaes que se fundarem em ilhas maritimas,
ou nas fronteiras do territorio nacional, podendo para esse fim ser aproveitados os
presidios militares existentes.
Paragrapho unico. Si o infractor for estrangeiro será deportado.
Art. 401. A pena imposta aos infractores, a que se referem os artigos precedentes,
ficará extincta, si o condemnado provar superveniente acquisição de renda bastante
para sua subsistencia; e suspensa, si apresentar fiador idoneo que por elle se obrigue.
Paragrapho unico. A sentença que, a requerimento do fiador, julgar quebrada a fiança,
tornará effectiva a condemnação suspensa por virtude della.
Art. 402. Fazer nas ruas e praças publicas exercicios de agilidade e destreza corporal
conhecidos pela denominação capoeiragem; andar em correrias, com armas ou
129
instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou
desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal:
Pena – de prisão cellular por dous a seis mezes.
Paragrapho unico. E’ considerado circumstancia aggravante pertencer o capoeira a
alguma banda ou malta.
Aos chefes, ou cabeças, se imporá a pena em dobro.
Art. 403. No caso de reincidencia, será applicada ao capoeira, no gráo maximo, a pena
do art. 400.
Paragrapho unico. Si for estrangeiro, será deportado depois de cumprida a pena.
Art. 404. Si nesses exercicios de capoeiragem perpetrar homicidio, praticar alguma
lesão corporal, ultrajar o pudor publico e particular, perturbar a ordem, a tranquilidade
ou segurança publica, ou for encontrado com armas, incorrerá cumulativamente nas
penas comminadas para taes crimes (sic passim) (BRASIL, 1894).
A Lei da Vadiagem mantém-se por um longo período em nosso código penal, sendo
reafirmada no Decreto Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 – sendo retirada do Código
Penal apenas no ano de 2012 –, conforme artigo 59 abaixo:
CAPÍTULO VII
DAS CONTRAVENÇÕES RELATIVAS À POLÍCIA DE COSTUMES
Art. 59. Entregar-se alguem (sic)habitualmente à ociosidade, sendo válido para o
trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover à
própria subsistência mediante ocupação ilícita:
Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses.
Parágrafo único. A aquisição superveniente de renda, que assegure ao condenado
meios bastantes de subsistência, extingue a pena (BRASIL, 1941).
Quando os menores não eram presos por vadiagem, o flagrante de crimes comuns
eram frequentemente noticiados nos periódicos da época.
Em julho de 1915, o jornal carioca A Noite noticiou: ‘O juiz da 4ª Vara Criminal
condenou a um ano e sete meses de prisão um pivete de 12 anos de idade que penetrou
na casa número 103 da Rua Barão de Ubá, às 13h, e da lá furtou dinheiro e objeto no
valor de 400$000’ (SENADO, 2015).
Os menores pobres não podiam trabalhar, não tinham acesso a rotina escolar, não
podiam viver em comunidade, não podiam praticar a capoeira, não podiam ser reclusos às casas
de recuperação até os 14 anos, não podiam brincar ou ficar agrupados na cidade, nem nas casas
nem nas praças, e ao transferir o Asilo da região central, desejava-se transferir o problema,
como o ditado popular diz: “O que os olhos não veem o coração não sente”.
Em 1º de Janeiro de 1916, o então presidente Wenceslau Braz P. Gomes (o 9º a
governar, entre 15 de novembro de 1914 à mesma data de 1918), promulga o primeiro Código
Civil brasileiro, com 1807 artigos, 140 capítulos, 31 títulos e 6 livros. O código traz diretrizes
sobre direito de posses, bens e objetos, obrigações financeiras e legais, sucessões e heranças,
casamentos, divórcios, também sobre direitos e responsabilidades pessoais, e a nova idade
130
mínima de culpabilidade sobe de 9 para 16 anos, sendo que para a faixa etária entre 16 e 21
anos havia a indicação de inimputabilidade para certos casos.
O texto demonstra a já mencionada incompetência do Estado em lidar com a questão,
que desde 1830 as duas únicas alternativas propostas ao menor enjeitado resumem-se ao
trabalho – inclusive militar (art. 49 do Decreto de 21 de fevereiro de 1832, Portaria de
23/08/1835, e o Decreto de 29 de dezembro de 1837) – ou a reclusão.
O fato é que, passado um quarto de século desde a República, o Brasil ainda não sabia
como lidar com a questão do menor abandonado e enjeitado, e a delinquência juvenil era uma
realidade cada vez mais certa aos menores indesejados da sociedade.
O trabalho infantil era comum no Brasil do século XX, isto posto, lembremos que a
ociosidade a partir de 14 anos era tida como crime de desocupação e/ou vadiagem. À vista
disso, tanto na zona rural quanto na urbana, temos crianças trabalhando ou crianças
desocupadas sendo detidas pela polícia.
A sociedade brasileira aspira mudanças, e eventos internos como o declínio do
comércio cafeeiro, início da industrialização, êxodo rural e a urbanização, a Semana da Arte
Moderna de 1922, e externos como a Primeira Guerra Mundial e a grande depressão afetam
direta e indiretamente nossa sociedade nas primeiras décadas do século XX; esta passa a
questionar a ação e participação do Estado na questão do menor abandonado e infrator.
Sendo essa lacuna da sociedade de suma importância, e a afinidade entre os menores
e as entidades religiosas e filantrópicas ter sido acentuada com os eventos pré-republicanos,
estas assumem esse papel de assistência e cuidado a despeito da responsabilidade estatal, em
que a...
[...]‘parcial solução’ do ‘magno problema da proteção e assistência aos menores’ é
exatamente aquela das organizações privadas, à frente em número e presença na
assistência à infância quando comparadas com as ações estatais na cidade de São
Paulo. Desde o século XIX, o número, o tipo e a motivação confirmam o amparo à
infância pobre e abandonada como realização quase sempre produzida por pessoas e
organizações particulares, por sua vez, inspiradas por ideários humanitário-cristãos
ou, quando aparentemente despidos de impregnação religiosa, assumidamente
humanitário-filantrópicos (FONSECA, 2012, p. 81)
Em 20 de dezembro de 1923, a Lei 16.272 é assinada pelo presidente Arthur da Silva
Bernardes, criando o Juizado de Menores do Distrito Federal, estabelecendo assim a figura do
Juiz de Menores para a assistência e proteção aos menores abandonados e delinquentes.
Com 6 capítulos e 105 artigos, o decreto é um grande avanço, fazendo distinção entre
menores que sofrem maus-tratos de seus pais, menores órfãos, abandonados e delinquentes.
131
Além disso, determina e destina recursos para criação de casa abrigo, casa educacional e casa
de custódia, determina sanções e penas para genitores, cuidadores e tutores que infligirem
maus-tratos aos menores, bem como sanções e penas aos delinquentes, que, conforme Capítulo
V, art. 25, a partir de 14 e inferior a 18 anos, teriam processo penal especial.
A questão do menor indesejado da sociedade não tem alterações significativas, o que
de fato só será percebida no século XXI com a promulgação do ECA. Contudo, quando este
torna-se efetivamente infrator, percebe-se alguma evolução na condução do processo, tal como
tratar as infrações do menor de maneira especial, preservando o sigilo, separação dos adultos e
com acompanhamento familiar no processo de ressocialização.
Art. 31. O processo a que forem submettidos os menores de 18 annos será sempre
secreto. Só poderão assistir ás audiencias as pessoas necessarias ao processo e as
autorizadas pelo juiz. § 1º O jornal ou individuo, que, por qualquer forma de publicação, infringir este
preceito, incorrerá na multa de 1:000$ a 3:000$, além de outras penas em que possa
incorrer. § 2º No processo em que houver co-réos menores e maiores se observará tambem esta
regra, e para o julgamento se procederá á separação dos menores. § 3º Os menores de 18 annos não podem assistir ás audiencias e sessões dos juizes e
tribunaes, nem ás do juizo de menores, senão para a instrucção e o julgamento dos
processos contra elles dirigidos, quando houverem sido intimados a comparecer, ou
quando houverem de depor como testemunhas, e sómente durante o tempo em que
sua presença fôr necessaria. Art. 32. O menor internado em escola de reforma poderá obter liberdade vigiada,
concorrendo as seguintes condições: a) se tiver 16 annos completos; b) se houver cumprido metade, pelo menos, do tempo de internação; c) se não houver praticado outra infracção; d) se fôr julgado moralmente regenerado; e) se estiver apto a ganhar honradamente a vida, ou tiver meios de subsistencia, ou
quem lh'os ministre; f) se a pessoa, ou familia, em cuja companhia tenha de viver, fôr considerada idonea,
de modo que seja presumivel não commetter outra infracção (sic passim) (BRASIL,
1923).
A proposta teórica não corresponde às ações práticas, o senso de urgência que o tema
exige não gera a resposta necessária do poder público e o caso do menino Bernardino surge
como um símbolo do submundo que os menores indesejados viviam e que o coração da
sociedade fazia questão de não sentir e os olhos do poder público de não ver.
132
2.1.5.1 – (1926) O Menino Bernardino
Antes de adentrarmos ao caso do menino Bernardino, é importante registrar que muitos
menores indesejados eram detidos, e como já observamos, muitos não tinham famílias e/ou
tutores e suas ausências e/ou sumiços não eram percebidos nem registrados.
O registro de alguns casos se tornam públicos e a partir destes é que a atenção da
sociedade será chamada, como o caso do menor identificado como Alfredo Lima, destaque na
matéria do Jornal Brasil, seção “Na Polícia e Nas Ruas”, de 11/03/1920: “Menor victima de
uma violencia (sic)”,
Figura 8 – Jornal do Brasil
Fonte: Biblioteca Nacional Digital Brasil38
Mesmo sendo informado às autoridades que o menor não participou do furto, ele é
detido por vadiagem e fica à mercê dos bandidos, adultos presos por crimes diversos.
Neste momento de nossa história, já avançado quase um terço do século XX, o Brasil
não tinha uma política pública de assistência ao menor e ainda prendia suas crianças, não
cumprindo os decretos anteriores que, mesmo sendo falhos e limitados, indicavam casas, asilos
e reformatórios aos infratores; ainda assim, os menores eram presos com adultos criminosos e
sofriam abusos e maus-tratos diversos.
38 Cf. em: https://bndigital.bn.gov.br/
133
Figura 9 – Os pequenos na prisão
Fonte: SENADO, 2015.
Não há dados estatísticos dedicados à questão do menor em nível nacional, todavia,
tomando como referência os dados da Capital, em que mais de 15% da população carcerária
era menor de 20 anos, é possível inferir pelo desenvolvimento histórico até aqui observado,
considerando o aumento da miséria social, o desemprego, o êxodo à Capital e cidades e –
principalmente – a ausência do Estado, que o número de menores que sofriam com abandono e
miséria e tinham como destino à detenção, era maior, muito maior do que o registrado na capital
do país.
A ação de prender os menores não recebia apenas instruções veladas, de fato, havia
certo incentivo e motivação para tal ação policial, como observado no Jornal o Globo.
Figura 10 – Incentivo à repressão
Fonte: Acervo Jornal O Globo39
39 Cf. em: https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/lei-de-1941-considera-ociosidade-crime-pune-
vadiagem-com-prisao-de-3-meses-14738298
134
Como o que os olhos não veem o coração não sente, não bastava o sentimento ou a
inferência, necessitou-se que algo trágico viesse à tona social para que mobilização popular
ocorresse, e o fato que tirou os discursos das gavetas e movimentou a caneta presidencial foi o
triste, trágico, inaceitável e horrendo caso Bernardino.
Registra-se que um menino negro, engraxate, trabalhador ambulante foi preso e
enviado, aos 12 anos, para uma sala penitenciária com cerca de 20 adultos.
O Caso:
Bernardino teria reagido ao fato de um cliente adulto e branco sair sem pagar pelo seu
serviço, jogando graxa na roupa deste, e por tal crime hediondo foi lançado ao cárcere onde,
durante quatro semanas, foi terrível e odiosamente abusado.
Tal caso tornou-se público por ter sido registrado pelos reporteres do Jornal O Globo
ao identificarem a história quando Bernardino era socorrido na Santa Casa de Misericórdia do
Rio de Janeiro.
Figura 11 – Caso Bernardino
Fonte: SENADO, 2015 – Elaborado pelo autor
Apesar de no site do Senado constar a informação sobre o estarrecedor caso como
tendo sido divulgado pelo Jornal Brasil, a notícia foi publicada de fato pelo Jonal O Globo, em
20 de março de 1926, no caderno A Última Hora, Ano II, nº 234, tendo como editor-chefe
responsável o jornalista Eurycles de Mattos, conforme imagem colhida no acervo nacional do
referido Jornal.
135
Figura 12 – Jornal do Brasil, 1926
Fonte: Acervo Nacional – O Globo40
Conforme citado na reportagem, o menino Bernardino era “uma creança de doze
annos, um pequeno engraxador de botas e vendedor de jornais, humilde auxiliar desta
imprenssa” (sic).
Sendo morador de Niterói, tinha rotina de trabalhador adulto, indo à Capital Federal
para engraxar sapatos e vender jornais, passando a semana na casa de seu empregador.
Bernardino e sua história são relembrados quando se discute a questão da diminuição
da maior idade criminal, e este infeliz episódio serviu de inspiração para o ECA, como veremos
adiante.
Na Revista Brasileira de Direito, os juristas Waquim, Coelho e Godoy (2018) fazem
um suscinto, porém preciso, resumo histórico do tratamento jurídico dado ao menor indesejado
no Brasil. Identificam...
[...] quatro fases ou sistemas na transformação histórica do tratamento jurídico
conferido à população infanto-juvenil: a fase da absoluta indiferença, em que não
existiam normas relacionadas a essas pessoas; a fase da mera imputação criminal, em
que as leis tinham o único propósito de coibir a prática de ilícitos por aquelas pessoas;
a fase tutelar, conferindo-se ao mundo adulto os poderes para promover a reintegração
sociofamiliar do infanto-juvenil, com tutela reflexa de seus interesses pessoais; e a
40 Cf. em: https://acervo.oglobo.globo.com/busca/?busca=menino+de+12+annos+brutalizado
136
fase da proteção integral, em que as leis reconhecem direitos e garantias às crianças,
considerando-as como pessoas em desenvolvimento (p. 92).
Ao encerrarmos esse episódio do menino Bernardino, classificamos que o seu caso
ocorre na transição da fase da absoluta indiferença para a fase da mera imputação criminal,
sendo o interesse pela questão do menor de forma coletiva, e do Bernardino, de maneira pontual,
legada ao acaso.
Apesar do indizível que foi esse caso, o menino Bernardino tem seu nome associado
tanto ao primeiro Código de Menores (1927) quanto ao ECA (1990).
O seu sofrimento não era necessário, contudo, sua dor não foi em vão.
Em 12 de outubro de 1927, o presidente Washington Luiz assina o Decreto nº 17.943-
A, contendo 231 artigos. A lei que ficaria conhecida como o 1º Código de Menores foi um
trabalho capitaneado pelo jurista José Cândido de Albuquerque Mello Mattos, nascido em
19/03/1864 em Salvador, no estado da Bahia.
José Mello Mattos não apenas idealiza como também se torna o primeiro juiz de
Menores do Brasil, tendo sido nomeado em 02/02/1924, e exerce a inédita e nobre função na
cidade do Rio de Janeiro, a então capital do país. O distinto e digno cargo foi criado em 20 de
dezembro de 1923 por meio da Lei 16.272, e José Mello exerce essa função até a data de seu
falecimento, no ano de 1934.
No dia 5 de novembro de 1924, o então presidente Bernardes assina o decreto nº 4.867
e instituiu 12 de outubro como data oficial para comemoração do Dia das Crianças, data
escolhida em 1927 pelo presidente Washington Luiz para assinatura do novo e inédito Código
de Menores.
Antes de chegar nesta data, a mobilização da sociedade civil gerou embates políticos,
alguns destacados no site oficial do Senado.
a) 1896 – Senador Federal Lopes Trovão discursa no Palácio Conde dos Arcos, antiga
sede do Senado Nacional, no Rio de Janeiro, então Capital do país, em tom de
cobrança e indignação a respeito da ausência do Estado diante dos órfãos, enjeitados
e abandonados.
b) 1906 – Deputado Federal pelo Rio de Janeiro, Alcindo Guanabara propõe em seu
texto o que ficaria conhecido como pré-projeto do Código de Menores de 1927; na
época seu texto não foi aprovado, sendo arquivado.
c) 1912 – O segundo texto preparatório para o Código de Menores foi apresentado pelo
deputado federal pelo Pará, João Chaves; arquivado.
137
d) 1917 – O agora senador Alcindo Guanabara sobe à tribuna e retoma 11 anos depois o
seu projeto, discursando a seus colegas parlamentares sobre a urgência de um Código
específico para atender à questão dos Menores:
São milhares de indivíduos que não recebem senão o mal e que não podem produzir
senão o mal. Basta de hesitações! Precisamos salvar a infância abandonada e preservar
ou regenerar a adolescência, que é delinquente por culpa da sociedade, para
transformar essas vítimas do vício e do crime em elementos úteis à sociedade, em
cidadãos prestantes, capazes de servi-la com o seu trabalho e de defendê-la com a sua
vida (SENADO, 1917)41.
Apesar de seu entusiasmo e indignação o texto é arquivado mais uma vez.
Os menores continuam a ser presos, muitos colocados em selas junto com adultos, e
somente após o caso do menino Bernardino é que surge o 1º Código de Menores do Brasil.
Figura 13 – Crianças presas
Fonte: SENADO, 2015
A nova lei promulgada em 1927 determinava ao governo, à sociedade e à família que
cuidassem bem dos menores, tendo como nova referência a idade de 18 anos. Alguns avanços
podem ser destacados:
a) Assistência e Proteção
O texto do novo código apresenta termos iniciais que dignificam a criança e
adolescente vulneráveis, tanto o infrator quanto o órfão e/ou abandonado devem ser tratados
pelas autoridades públicas com: “medidas de assistencia e protecção (sic) contidas neste
Código”. O caráter meramente excludente e punitivo começa a ser substituído pela visão de
assistência e proteção, ao menos na letra fria da lei.
41 Cf. em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/07/07/criancas-iam-para-a-cadeia-no-brasil-ate-
a-decada-de-1920
138
E inclui de maneira objetiva a obrigatoriedade do Estado em proteger a vida e a saúde
do menor.
b) Proibição da roda dos expostos
Em uso desde o período Colonial, a roda dos expostos permitia o abandono do recém-
nascido enjeitado de maneira anônima. Esta prática foi extinta e criminalizada. Com o novo
código, a doação – não mais abandono – deveria ocorrer após o registro de nascimento, ou seja,
primeiro providenciar a certidão, incluir a criança num processo de cidadania e depois,
formalmente, fazer a doação.
Agora os expostos não são os menores e sim os infantes, e o processo deve ser feito de
maneira direta, presencial e não mais à calada da noite, e mesmo que haja anonimato, o histórico
da entrega deveria ser mantido para acesso futuro da justiça, caso necessário.
Art. 14. São considerados expostos os infantes até sete annos de idade, encontrados
em estado de abandono, onde quer que seja.
Art. 15. A admissão dos expostos á assistencia se fará por consignação directa,
excluido o systema das rodas.
Art. 16. As instituições destinadas a recolher e crear expostos terão um registro
secreto, organizado de modo a respeitar e garantir o incognito, em que se apresentem
e desejem manter os portadores de creanças a serem asyladas.
Art. 17. Os recolhimentos de expostos, salvo nos casos previstos pelo artigo seguinte,
não podem receber creança sem a exhibição do registro civil de nascimento e a
declaração de todas as circumstancias que poderão servir para identifical-a; e deverão
fazer a descripção dos signaes particulares e dos objectos encontrados no infante ou
junto deste (sic passim) (BRASIL, 1927).
c) Proibição do Trabalho Infantil (?)
O trabalho infantil era fartamente explorado desde a Lei do Ventre Livre (1871) e se
desenvolve como prática comum e aceitável na sociedade brasileira do início do século XX. O
novo código evolui lentamente na retirada dos menores como mão de obra barata para a
indústria; lenta e timidamente, tendo a idade do menino Bernardino como referência para o
trabalho infantil, ou seja, 12 anos.
A criança que trabalha não é descrita como criança ou infante, mas denominada menor,
e essa condução etimológica dentro do texto demonstra que, apesar do evento hediondo do
menino Bernardino, não apenas aceitava-se o trabalho infantil como essa condição era o destino
moral e civilmente aceito para uma parte da sociedade.
Alguns itens demonstram a abertura de precedentes para que menores de 12 anos e
crianças sem escolaridade pudessem trabalhar. No linguajar dos menores da Fundação essa
atitude incoerente e consciente do Estado é conhecida como: “meter o louco”; o léxico do crime
será desenvolvido em capítulo próprio.
139
O decreto que determina a proibição em todo território nacional para o trabalho de
menores de 12 anos e para menores de 12 a 14 anos que não tenham completado o ensino
primário – artigos 101 e 102 –, também indica a legalidade do trabalho de menores a partir de
11 anos em determinadas condições, incluindo quando o estabelecimento seja familiar, artigo
103.
CAPITULO IX
DO TRABALAHO DOS MENORES
Art. 101. é prohibido em todo o territorio da Republica o trabalho nos menores de 12
annos.
Art. 102. Igualmente não se póde ocupar a maiores dessa idade que contem menos de
14 annos. e que não tenham completando sua instrucção primaria. Todavia. a
autoridade competente poderá autorizar o trabalho destes, quando o considere
indispensavel para a subsistencia dos mesmos ou de seus paes ou irmãos, comtanto
que recebam a instrucção escolar, que lhes seja possivel.
Art. 103. Os menores não podem ser admittidos nas usinas, manufacturas, estaleiros,
minas ou qualquer trabalho subterraneo, pedreiras, officinas e suas dependencias. de
qualquer natureza que sejam, publicas ou privadas, ainda quando esses
estabelecimentos tenham caracter profissional ou de beneficencia, antes da idade de
11 annos.
§ 1º Essa disposição applica-se no aprendizado de menores em qualquer desses
estabelecimentos.
§ 2º Exceptuam-se os estabelecimentos em que são empregados sómente os membros
da familia sob a autoridade do pae, da mãe ou do tutor.
§ 3º Todavia, os menores providos de certificados de estudos primarios, pelo menos
do curso elementar, podem ser, empregados a partir da idade de 12 annos.
Art. 104. Sao prohibidos aos menores de 18 annos os trabalhos perigosos á saude, á
vida, á moralidade, excessivamente fatigantes ou que excedam suas forças.
Art. 105. Nenhum menor de idade inferior a 18 annos póde ser admittido ao trabalho,
sem que esteja munido de certificado de aptidão physica, passado gratuitamente por
medico que tenha qualidade official para fazel-o. Si o exame fôr impugnado pela
pessoa legalmente responsavel pelo menor, poder-se-ha. a seu requerimento, proceder
a outro.
Art. 106. As autoridades incumbidas da inspecção do trabalho, em seus delegados,
podem sempre requerer exame medico de todos os menores empregados abaixo de 18
annos, para o effeito de verificar si os trabalhos, de que lhes estão encarregados,
excedem suas- forças; e têm o direito de os fazer abandonar o serviço, si assim opinar
o medico examinador. Cabe ao responsavel legal do menor o direito do impugnar o
exame e requerer; outro (sic passim) (BRASIL, 1927).
d) 18 anos como maior idade penal
A grande evolução ocorre com a proibição da criminalização de menores de 18 anos,
lembrando que no início da República a idade era de apenas 9 anos, sendo que nenhuma pena
deveria ser imposta ao menor até 14 anos, mas sim, no caso de infratores, medidas de alocação
em asilos educacionais e a responsabilidade para adultos, pais e tutores.
Art. 68. O menor de 14 annos, indigitado autor ou cumplice de facto qualificado crime
ou contravenção, não será submettido a processo penal de, especie alguma; a
autoridade competente tomará sómente as informações precisas, registrando-as, sobre
140
o facto punivel e seus agentes, o estado physico, mental e moral do menor, e a situação
social, moral e economica dos paes ou tutor ou pessoa em cujo guarda viva.
§ 1º Si o menor soffrer de qualquer forma de alienação ou deficiencia mental. fôr
apileptico, surdo-mudo, cego, ou por seu estado de saude precisar de cuidados
especiaes, a autoridade ordenará seja elle submettido no tratamento apropriado.
§ 2º Si o menor fôr abandonado, pervertido ou estiver em perigo de o ser, a autoridade
competente proverá a sua collocação em asylo casa de educação, escola de
preservação ou confiará a pessoa idonea por todo o tempo necessario á sua educação
comtando que não ultrapasse a idade de 21 annos.
§ 3º si o menor não fôr abandonado. nem pervertido, nem estiver em perigo do o ser,
nem precisar de tratamento especial, a autoridade o deixará com os paes ou tutor ou
pessoa sob cuja guarda viva, podendo fazel-o mediante condições que julgar uteis.
§ 4º São responsaveis, pela reparação civil do damno causado pelo menor os paes ou
a pessoa a quem incumba legalmente a sua vigilancia, salvo si provarem que não
houve da sua parte culpa ou negligencia (sic passim) (BRASIL, 1927, Arts. 1.521 e
1.623.)
O quadro abaixo apresenta breve resumo sobre o histórico da maior idade penal no
Brasil.
Quadro 11 – Linha do Tempo da Imputabilidade Penal
Decreto Título Data Idade
V – CXXXV Ordenações Filipinas 1603 7
121 – Art. Constituição Império 1824 18
10 – Art. 1º Código Penal 1830 14
27 – Art. Constituição 1890 9
3 071 1º Código Civil 1916 16
4 242 Código de Menores 1921 14
16 272 Juizado de Menores 1923 14
17 943 1º Código de Menores 1927 18
22 213 Decreto 1932 14
2 848 Decreto 1940 18
6 697 Código de Menores 1979 18
228 – Art. Constituição Cidadã 1988 18
8 069 ECA 1990 18
Fonte: Elaborado pelo autor
O Código de Ordenações Filipinas, ou Afonsinas, era um código de referência para
questões levadas à Coroa Portuguesa, quase nunca utilizado para questões do menor negro,
índio, miscigenado, enfim, indesejado.
O artigo 121 da Constituição Imperial, de 1824, na verdade refere-se a maior idade do
imperador, não há um item específico para maior idade penal.
O código civil de 1916 tinha processos especiais para menores entre 14 e 16 anos.
No regime militar, a partir de 1969, com base em critérios avaliativos permitia-se a
penalização de menores entre 16 a 18 anos.
141
2.1.6 – (1930-1945) O Menor na Era Vargas
Após a lei de 1927, teremos como segundo Código de Menores o promulgado em
1979, dentro do regime militar, período este que a FEBEM será instaurada.
Neste interim o Brasil sai do período denominado República Velha e entra na Era
Vargas (1930-1945), com maior intervenção do Estado em todos os setores, e, ainda mantendo
a visão econômica como referência para responder à questão do menor, dentro das leis
trabalhistas será regulamentada a jornada de trabalho, no caso para menores de em até 8 horas
por dia, porém, podendo ser estendida até 10 horas com pagamento extra; considerando que
neste período histórico o ensino público era de acesso limitado e não havia cursos primários
noturnos, o trabalho de até 10 horas diárias aniquilaria a possibilidade de estudo desta criança
e ou adolescente.
Entre o primeiro e o segundo código de menores, temos ações ocorrendo em âmbito
federal e distrital.
Em 14 de dezembro de 1932, o Presidente Getúlio Vargas realiza grande reforma no
Código Penal Brasileiro por meio do Decreto Federal nº 22.213, entre as alterações destaca-se
a mudança da maioridade penal para 14 anos, retrocesso em relação à conquista de 1927, que
indicava 18 anos.
Em 24 de dezembro de 1935, o Governador do Estado de São Paulo, Armando Salles
de Oliveira, assina o Decreto Estadual nº 2.497 – Departamento de Assistência Social e o
Serviço Social de Menores –, que estabelece detalhes da ação do Estado, como ações privadas,
parcerias, orçamento, gerenciamento de doações, cargos e salários, conselho deliberativo,
eleições para Conselho, atendimento a mendigos, idosos e outros vulneráveis da sociedade,
sendo que, ao que se referia à rotina de assistência e proteção ao menor, deveria atender a
requisitos científicos, médicos e pedagógicos. A assistência religiosa a encarcerados é facultada
e orientada no artigo 102.
A Constituição de 1934 não trouxe mudanças significativas, e também, diante do
quadro de instabilidade política da época, teve duração curta e prática quase que nula.
Tendo em vista o quadro político e social da época, e considerando que a carta da
Constituição de 1937 não foi desenvolvida a partir de uma assembleia constituinte, alguns
juristas não a consideram uma constituição de direito, entretanto, ela de fato existiu e manteve
o trabalho a menores a partir de 14 anos, indicou medidas de proteção da infância e da
juventude, e ainda, no Título Da Família, dispôs obrigações ao Estado, ao que se refere o dar
garantias e cuidados especiais à infância e à juventude.
142
Considerando a disposição totalitarista vivida à época, cabia ao Estado garantir a
disciplina moral e o adestramento físico da juventude.
Art. 15 – Compete privativamente à União:
IX – fixar as bases e determinar os quadros da educação nacional, traçando as
diretrizes a que deve obedecer a formação física, intelectual e moral da infância e da
juventude
Art. 127 – A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias especiais
por parte do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a assegurar-lhes
condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso desenvolvimento das suas
faculdades.
O abandono moral, intelectual ou físico da infância e da juventude importará falta
grave dos responsáveis por sua guarda e educação, e cria ao Estado o dever de provê-
las do conforto e dos cuidados indispensáveis à preservação física e moral.
Art. 132 – O Estado fundará instituições ou dará o seu auxílio e proteção às fundadas
por associações civis, tendo umas; e outras por fim organizar para a juventude
períodos de trabalho anual nos campos e oficinas, assim como promover-lhe a
disciplina moral e o adestramento físico, de maneira a prepará-la ao cumprimento, dos
seus deveres para com a economia e a defesa da Nação (BRASIL, 1937).
Surge, em 1938, o Decreto Federal 525 – Conselho Nacional de Serviço Social (CNSS)
– como primeiro ato em nível nacional de regulação da assistência social. O novo órgão atuaria
em cooperação com os já existentes Ministérios da Saúde e Educação e o Juiz de Menores
Federal, tendo como desafio gerenciar e organizar as diversas iniciativas e obras sociais
públicas e privadas já existentes, bem como promover ações nas demais áreas vulneráveis da
sociedade ainda sem assistência.
No âmbito distrital temos algumas ações ocorrendo em paralelo, aqui citamos o Estado
de São Paulo, que em 19 de novembro publica o Decreto Estadual nº 9.744/1938, criando o
Serviço Social de Menores Abandonados e Delinquentes, com objetivos e atribuições
semelhantes ao da União, no qual o interventor do Estado, Adhemar Pereira de Barros,
determina que o novo órgão fiscalizará os estabelecimentos de assistência e proteção às
crianças, incluindo a abertura de novas casas de abrigo provisório, e um diferencial importante,
ao menos na teoria, diz respeito à exigência de execução de matrículas em escolas técnicas para
a liberação de vagas nos abrigos, e ainda o reconhecimento das atividades de assistência
religiosa.
Decreto Federal nº 2.848, assinado em 07 de dezembro de 1940, atualiza o código
penal vigente, estabelecendo diretrizes sobre tipificação de crimes, agravantes, atenuantes,
regimes, fixação de penas e multas, casualidades e, dentro das responsabilidades, a idade penal
em 18 anos; conforme artigo 23, os menores são inimputáveis, ficando sujeitos a normas
estabelecidas em legislação especial.
143
2.1.6.1 – (1940) Decreto Federal nº 2.204 – Departamento Nacional da Criança (DNCr)
De caráter mais observatório, o departamento tem como missão realizar pesquisas,
estudos e inquéritos populares, científicos e sanitários que interpretem a questão, bem como
estimular e orientar a opinião pública sobre a proteção, assistência e cuidado da maternidade e
infância. Além disso, responsável pelo Fundo Nacional para proteção à criança e pelo
desenvolvimento de parcerias com entidades privadas.
O Decreto também indica uma nova data para a celebração do Dia das Crianças, 25 de
março, também com objetivo de promover conscientização nacional da problemática. Esta data
comemorativa vigora até 1960.
2.1.6.2 – (1941) Serviço Nacional de Assistência a Menores (SAM)
Em 5 de novembro, por meio do decreto-lei nº 1.797, de 23 de novembro de 1939,
institui-se o SAM, primeiro órgão federal a se responsabilizar pelo controle da assistência aos
menores em escala nacional, objetivando dar respostas à questão dos menores abandonados e
desvalidos.
Abaixo da estrutura hierárquica do Ministério da Justiça, sendo ainda vigente a Lei da
Vadiagem e tendo o Estado a responsabilidade moral, intelectual e física da infância e da
juventude, é possível evidenciar o viés penal acentuado mesmo diante do descritivo
assistencial.
2.1.6.3 – (1942) Legião Brasileira de Assistência (LBA)
Fundada em 28 de agosto, pela primeira-dama Darcy Vargas, a LBA era uma entidade
coletiva, órgão assistencial público brasileiro. Inicialmente, tinha como objetivo principal a
assistência às famílias dos soldados enviados à Segunda Guerra Mundial, contando com apoio
e parcerias privadas, como da Federação das Associações Comerciais e da Confederação
Nacional da Indústria.
Pela Portaria nº 6.013, de 1º de outubro de 1942, do Ministro da Justiça e Negócios
Interiores, foi autorizado a sua organização definitiva e o seu funcionamento. Sua instalação se
deu em 2 de outubro daquele mesmo ano.
I. 1944 – Inauguração da sede da organização, no Rio de Janeiro;
II. 1969 – Transforma a sociedade civil em fundação;
144
III. 1977 – Subordinada ao Ministério da Previdência e Assistência Social;
IV. 1990 – É vinculada ao Ministério da Ação Social;
V. 1991 – Sofre diversas denúncias de esquemas de desvios de verbas;
VI. 1992 – Extinta por meio do artigo 19, inciso I, da Medida Provisória nº 813, de 1º de
janeiro de 1995.
Também em 1942, é criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI),
objetivando preparar o jovem para o mercado industrial em expansão.
A consolidação das Leis do Trabalho passa a regulamentar a proteção ao trabalho do
menor, e neste mesmo ano o Código de Menores é revisado, sendo adaptado às novas leis,
concretizando-se no dia 24 de novembro, por meio do Decreto-Lei nº 6.026/1943, estabelece
em 18 anos a idade da imputabilidade, conforme o Código Penal vigente.
Em 1946, criou-se o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), por
meio do Decreto-Lei nº 8.621. Esta, assim como o SENAI, tem por objetivo central o
treinamento de menores pobres, porém, com o passar dos anos, passa a atender à população em
geral.
Após a Era Vargas, apesar de períodos de intensas transformações políticas,
econômicas e sociais, não houve alterações significativas na ação do Estado para cuidado,
acolhimento e educação dos menores indesejados, contudo, o número destes continuava a
crescer e uma nova e sombria fase se iniciará a partir do Regime Militar.
2.2 – (1964 a 1985) O Regime Militar
A 4ª República Brasileira (1946-1964) inicia, pós Era Vargas, abrindo o cenário
político nacional para uma democracia popular de dissenso, ainda limitada e cheia de problemas
chega ao seu último governo democrático, antes do Golpe, agonizando em seu momento mais
conturbado.
Tendo a abertura para a criação de partidos políticos concedida ainda com Vargas
(1945), a polarização do pós-guerra é estereotipada na relação entre os novos partidos, sendo
que os partidos da Democracia Social (PDS), de Leonel Brizola, e o Trabalhista Brasileiro
(PTB), de João Goulart – cunhado de Brizola –, recebem a chancela de comunistas pelos
militares e empresários ligados aos EUA; esse enredo de polarização que nasce 1945 culmina
na ação de 1964.
Sendo os militares derrotados pela chapa PTB de Vargas (1950) por Kubistchek em
aliança PSD/PTB (1955), tinham em Jânio e na primeira vitória da União Democrática Nacional
145
(UDN) a esperança de um governo nacionalista e conservador, contudo, diante de um quadro
econômico desestruturado, endividamento externo e desvalorização da moeda, Jânio faz acenos
comerciais a países do bloco socialista como Cuba e a então União Soviética, o que acende
sinal de alerta aos militares derrotados na eleição.
Entre outras controvérsias, a concessão da Grã-Cruz do Cruzeiro do Sul – ato
simbólico que homenageava o guerrilheiro e líder do movimento socialista nas américas, Che
Guevara –, gerou não apenas críticas como também reações e articulações insuportáveis, como
o próprio Jânio declara em sua carta de renúncia: “Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis
levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa de colaboração”42; sete
meses após assumir o poder executivo, deixa o cargo.
A saída abrupta de Jânio eleva à cadeira do Planalto Central Jango – João Goulart –
(de 1961 a 1964), que era visto com desconfiança pela elite, setores mais conservadores da
nação e parte dos militares.
Jango, diante de uma crise política interna que põe o Brasil às portas de uma guerra
civil, assume o Governo a partir de manobras como a instauração do Parlamentarismo, que dura
apenas até 1963, seu projeto de Reformas de Base é visto como um projeto comunista, em
especial ao que se referia à Reforma Agrária, perde apoios, é isolado e retirado do poder.
Em 9 de abril de 1964, com a assinatura do Ato Institucional nº 1 (AI-1), os militares
assumem o Poder Executivo, cassam direitos de políticos do Legislativo e, com os atos
institucionais 2 e 3, passam a gerir as ações judiciais do país.
2.2.1 – (1964) O Menor e a Segurança Nacional
Os partidos políticos são reduzidos a apenas dois, Aliança Renovadora Nacional
(ARENA), situação, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), oposição consentida,
movimentos sociais são visto como controversos ou mesmo criminosos, atos institucionais
(Ais) fortalecem o poder autoritário e servem de instrumento legal à repressão instaurada,
torturas e mortes são instrumentos de Estado, a comunicação e arte censuradas, movimentos
sociais, incluindo estudantis como a União Nacional dos Estudantes (UNE), são criminalizados
e as atividades sociais e econômicas passam a fazer parte de um Ideal de Segurança Nacional,
exigindo assim o controle centralizado.
42 Cf. em: https://ensinarhistoria.com.br/linha-do-tempo/renuncia-de-janio-quadros-brasilia/
146
[Esta] chamada Ideologia da Segurança Nacional seria a retórica governamental de
documentos e planos que conservaram o Estado como indutor do processo econômico,
mas que tenderam a favorecer grupos privados por meio de relações privilegiadas com
as cúpulas militares e inseridas em estruturas legislativas e judiciárias com margens
de manobra restritas ou simplesmente comprometidas com o Estado autoritário
(LOHN; BRANCHER, 2014, p. 13).
Apesar do denominado Milagre Econômico Brasileiro, o período registra o
distanciamento social mais acentuado desde a Proclamação da República, repressão à classe
trabalhadora e os baixos salários geram um verdadeiro boom na miséria social e são fatores
determinantes para o surgimento de muitas comunidades periféricas nas principais capitais, à
época, denominadas favelas.
O menor continua a ser um problema de ordem pública e para o novo governo, o
Militar, torna-se questão de segurança nacional.
No Regime Militar brasileiro, destaca-se a confusão paradoxal de perspectiva
paternalista entre atitudes ora assistenciais ora opressoras, o jovem marginalizado precisa ser
tutelado, amparado e educado pelo Estado, e ao mesmo tempo, os menores precisam de
disciplina, correção e carecem de políticas duras, que corrijam o estado de permissividade moral
e delinquência, visto que os órgãos anteriores como DNCr e SAM e outras iniciativas com
participação privada não deram resultado, tal situação, diante do perigo do comunismo e das
drogas – inimigos escolhidos pelo regime –, exigem ações enérgicas para controle da juventude.
E apesar do baixo a nulo investimento financeiro, de fato, não se economizou na energia para
coibição do que o Regime interpretava por desvio moral.
A preocupação dos militares em relação ao perigo que os menores representavam é
um construto herdado desde o Brasil Colônia, contudo, não o perigo, mas o crescimento
populacional era real. Neste período temos o maior crescimento demográfico registrado para a
população entre 5 e 14 anos dos últimos 100 anos.
147
Gráfico 3 – População Infanto-Juvenil
Fonte: Dados do IBGE – Elaborado pelo autor
2.2.2 – (1964) Decreto Federal 4.513 – FUBABEM
Dentro do ideal proposto, a ação lógica que o regime aplica parte do pressuposto que:
Se a família não consegue cuidar do menor, o Estado o fará. Assim, em 1º de dezembro de
1964, por meio do Decreto Federal 4.513, o Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco
extingue o SAM, criando em seu lugar a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor
(FUNABEM) e a Política Nacional do Bem-Estar do Menor (PNBEM), ficando sob a
representatividade do Ministério da Justiça.
Estes órgãos tinham como perfil de atuação o controle autoritário e centralizado, sendo
a política para o bem-estar, não ao bem do menor, antes, para a sociedade. O menor continua a
ser visto e tratado como objeto e não como sujeito, e as infrutíferas e cruéis ações vistas até este
momento da história nacional se repetem e mais uma vez a grande ação tomada pelo regime foi
a exclusão do menor indesejado da sociedade, da educação e da infância por meio do trabalho
e do cárcere.
A FUNABEM nada mais é do que a perpetuação da exclusão, repressão, aniquilação
da infância e juventude, invasão ao eu mais íntimo do sujeito ainda em formação e a tentativa
de massificação técnica de mão de obra barata e obediente, e isto se multiplicará pelos Estados
através das FEBEMs.
148
2.2.3 – (1973) Decreto Estadual nº 185 – FEBEM – parte 1
Em 12 de Dezembro de 1973, o Governo Federal autoriza a criação da Fundação
Paulista de Promoção Social ao Menor (PRO-MENOR), e em seu 2º artigo estabelece que: “À
Fundação que se destinará a aplicar em todo território do Estado, as diretrizes e normas da
política nacional do bem-estar do menor, em harmonia com a legislação federal”. Não há
dúvidas que o objetivo de estar alinhado e em harmonia com a política nacional foi cumprido,
e mesmo a posteriori, a marca da repressão e violência ficou e é identificada nos discursos dos
funcionários da FEBEM, como registra Brito (2002):
Temos o viés de ex-presidiários, o viés do antigo DOI-CODI, pessoas que trabalharam
durante o regime militar na repressão, e o viés de ex-internos também. Então, nós
temos aí um conjunto de pessoas que foram sendo agregadas e que pela sua formação,
pela sua história de vida, não tinham muito a ver com educação, não tinham muito a
ver com proteção. Eram pessoas que, sim, conheciam, na palma da mão, o que era
contenção e repressão. A FEBEM nasce em 1976 debaixo da contenção e da
repressão. Então, ao longo dos anos a FEBEM foi formando seus quadros a partir
dessa origem que permeou todo um espírito dentro da fundação. Essas pessoas hoje
não estão mais na fundação, mas elas deixaram uma cultura, elas se encarregaram de
escrever uma história e essa história se perpetuou com as outras pessoas que vieram
depois delas, porque trabalhar com contenção e repressão é mais fácil do que trabalhar
com educação e proteção (p. 205, grifo nosso).
Com 20 artigos, o decreto descreve ações orçamentárias, constituição e dissolução de
patrimônio, composição diretiva e administrativa, rotinas, conselhos, simpósios, intercâmbios
entre órgãos afins, contudo, não há um único artigo que de forma objetiva trate do presente e
do futuro do menor, que continua sendo objeto do Estado e não sujeito. Dentro desse quadro é
possível verificar que a FEBEM nasce em harmonia com o ideal doutrinário de segurança
nacional.
Considerado o período mais obscuro de nossa história, a Era do Chumbo não nos dá
clareza nem precisão nos números de investigados, presos, torturados e mortos.
Dentro do universo de presos políticos, jornalistas, artistas e adultos de diversas áreas
de atuação, esse número até hoje é questionado, logo, o que imaginar dos menores enjeitados
da sociedade?
De fato, não é possível precisar o número de menores assistidos pela FEBEM, no
entanto, a partir do processo de anistia (1979) algumas ações da sociedade civil começam a
ocorrer e a clarificar essa página obscura da história dos menores, dentre elas destacamos o
papel da impressa e do jornalismo investigativo, criação de institutos de pesquisas etc.
149
A real situação do menor encarcerado aos poucos será apresentada à sociedade na
virada dos anos 70 para os anos 80, período em que, com a diminuição gradativa da censura, o
número de menores encarcerados, a má gestão, a violência e os abusos comporão as manchetes
dos principais jornais do país. E análise feita por Boeira, Machieski e Ribeiro (2017, p. 467)
sobre as manchetes do jornal Folha de São Paulo, aponta que:
[...] as Febems pouco se preocuparam em rearranjar as crianças e adolescentes dentro
de suas próprias comunidades e famílias. Entre 1967 e 1972, mais de 50 mil
“menores” foram recolhidos e internados em todo o Brasil. A internação nas Febems,
com o passar do tempo, pouco recorria à abordagem terapêutica ou pedagógica. A
intenção era retirar das ruas jovens e crianças considerados pela sociedade
improdutivos, embora a desigualdade social fosse (e ainda é) um dos principais
geradores da situação de meninos e meninas vivendo em condições consideradas
desumanas.
Em reportagens analisadas no acervo do jornal impresso da Folha de São Paulo, num
recorte de 10 anos, a FEBEM foi alvo de investigação jornalística 95 vezes, tendo apenas 3
reportagens que citaram propostas de melhoria e 76 vezes as manchetes estavam relacionadas
a má gestão, violência e/ou fugas.
Os problemas não se encerraram com o fim do Regime Militar (1985), nem as
reportagens, e em entrevista com o Prof. Dr. Roberto Silva43, ex-interno da Febem, temos em
2001 o seguinte registro de suas memórias:
O professor lembra que a Febem é uma herança do regime militar (a Funabem, que
originou os orgãos estaduais, é de dezembro de 1964). Hoje, a instituição só cuida de
infratores - já teve 16 mil internos, quando abrigava também menores carentes e
abandonados-, mas mantém, segundo ele, ‘a mesma estrutura gigantesca e
centralizada’, com a média de um funcionário por adolescente.
Para mantê-la, contou no ano passado com um orçamento de R$ 172 milhões, a um
custo de R$ 1.300 mensais por interno. [...] ‘Não é por falta de dinheiro, de recursos
humanos ou de espaço que a Febem tem tantos problemas. É preciso mudar o modelo
criado na época do regime militar’ (FOLHA, 2001)44.
Mesmo dentro do Regime Militar, assim como no caso Bernardino nos anos 20, a
indignação pública movimenta a classe política e o tema vai para discussão parlamentar, na
43 Morador das ruas de São Paulo, foi destinado à FEBEM aos 2 anos, quando sua mãe foi levada à força para
casa psiquiátrica do Estado. Das 24 instituições que ficou confinado, 14 foram unidades da Febem, além de 7
Casas de Detenção. Na prisão, estudou Direito para advogar a própria causa. Em 1984, já em liberdade, se
torna missionário por 12 anos, faz Teologia em curso livre. Aos 33 anos conclui o ensino médio, forma-se em
Pedagogia (UFMT), Mestre em 1996 (USP) e conclui o seu doutorado em 2001 (USP), defendendo a tese “A
Eficácia Sócio pedagógica da Pena de Privação de Liberdade”. 44 Cf. em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u37487.shtml
150
qual surge a primeira Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para tratar a questão do menor
no Brasil.
2.2.4 – (1976) Projeto de Resolução da Câmara (PRC) 81 CPIMEN – CPI do Menor
A retomada da democracia e a restauração dos direitos civis foi um processo longo,
lento e sofrido à sociedade brasileira. Alguns pequenos lampejos surgiam e logo eram
estagnados, e entre a eleição de Jânio Quadros até a de Fernando Collor o povo ficou ausente
do processo democrático por 30 anos.
Os Censos Oficiais que ocorrem nas décadas do Regime Militar apontam um
crescimento de 70% na população, em números absolutos 48.991.013, entre 1960 e 1980. A
população infanto-juvenil chega a mais de um terço nos anos 70, e cresce em maior velocidade
quando comparada à população adulta ativa economicamente.
Tabela 11 – População Infanto-Juvenil durante Regime Militar
Ano População Jovem %
1960 70.070.457 25.877.611 37
1970 93.134.846 35.303.220 38
1980 119.061.470 36.470.301 31
Fonte: Dados IBGE – Elaborado pelo autor
Lembremos que o termo Menor traz um construto discriminatório (TORRES-
LONDONÕ, 1995), e que esse era visto como um perigo social (ROCHA, 2010). E diante de
uma sociedade polarizada, surge um sentimento de vingança (BOEIRA, 2017) entre o
denominado cidadão de bem, trabalhador, de família, religioso e o menor marginalizado,
perigoso, propagador de doenças. Esse sentimento pode ser percebido no relato abaixo, do
periódico que traz o seguinte Título: Batalha Campal.
A frágil senhora de 45 anos, vestido branco de rendas na gola e nos punhos, reluzentes
sapatos e bolsa pretos, gritava, transfigurada: ‘Temos que matar esses cachorros,
antes que eles nos matem’. Pelo extenso do Vale do Anhangabaú, no coração de São
Paulo, correu na manhã de terça-feira da semana passada uma aragem de ódio mortal,
capaz de transformar quase quinhentas pessoas, a maioria ricamente enfeitada como
a senhora de vestido rendado, em carrascos dispostos a todas as violências para
castigar o mal. Infelizmente não se tratava de cachorros. Derrubado por dois
meninos de menos de 15 anos, Francisco Soares da Conceição, 62 anos, ergueu-se
gritando: ‘Pega ladrão, pega ladrão’. E, gritando, saiu em perseguição aos assaltantes,
numa cena que se repete várias vezes por dia no centro da cidade.
Surpreendentemente, dessa vez o brado de alerta produziu efeitos: homens de aspecto
grave largaram suas pastas de documentos para ajudar na perseguição; motoristas
151
abandonaram seus carros, ainda com o motor funcionando, para apertar o cerco; no
alto do Viaduto do Chá, homens e mulheres interromperam o frenético vaivém de
todos os dias para torcer pela justiça, finalmente em movimento (VEJA, 1973, p. 30,
grifo nosso).
Outro fator que merece atenção diz respeito ao desordenado desenvolvimento urbano.
O regime que gerou o Milagre Econômico a uns, levou muitos outros à pobreza e
miséria, e um fenômeno arquitetônico, até então desconhecido dos Censos Oficiais, surge no
processo de urbanização das metrópoles, as favelas.
As moradias pobres e o ajuntamento de populares eram proibidos por lei no Brasil já
republicano, conforme Código Sanitário de 1892, no entanto, as comunidades carentes surgem
como única alternativa a pobres, desempregados e desassistidos em geral. A expansão que
ocorre no final dos anos 70 é aferida e estudada após o Regime Militar.
O presente documento expõe as primeiras informações do Censo das Favelas do
Município de são Paulo, realizado pela Secretaria da Habitação e Desenvolvimento
Urbano - SEHAB, através da superintendência de Habitação Popular - HABI.
o Censo das Favelas visa fornecer elementos para a elaboração e reformulação de
diretrizes e programas habitacionais da PMSP, bem como subsídios para a ação de
diversos órgãos e entidades que intervêm na questão habitacional.
Este trabalho compreendeu, em um primeiro momento, o registro de toda as favelas
do Município de São Paulo, apresentando a localização, o número de barracos, as
características físicas, espaciais e urbanísticas de cada aglomerado, e as formas
organizacionais da população moradora. [...] Para efeito deste Censo entendeu-se
Favela como um conjunto de unidades domiciliares, construídas de madeira, zinco,
lata, papelão ou mesmo alvenaria, em geral distribuídas desorganizadamente em
terrenos cuja propriedade individual do lote não é legalizada para aqueles que os
ocupam (IBGE, 1988, p. 6).
O Censo das Favelas, realizado em 1987, traz à luz o cenário que teve início dentro do
Regime Militar, porém não era visto nem tratado, e continua a ser desafio para os governantes
no presente. Considerando os dados dos dois primeiros Censos, 1987 e 1993, a população total
residente em favelas era algo em torno de 2 milhões de pessoas ou, aproximadamente, 19% do
total da população.
A importância de citarmos a questão das favelas neste momento se dá em virtude da
combinação entre o aumento da população jovem, a precariedade urbana, o descaso e a
repressão do Estado, fatos sociais que, combinados, oportunizaram aumento da marginalização,
resultado esse reconhecido e tratado na CPIMEN e que resultou no 2º Código de Menores do
Brasil.
152
Figura 14 – Parecer CPIMEN
Fonte: BRASIL, 1976
A CPI tem seus trabalhos iniciados em 29 de abril de 1975, e a partir do requerimento
nº 22 é composta mesa diretora bipartidária, com deputados titulares, suplentes e depoentes
diversos, incluindo sociedade civil:
Presidente: Deputado Carlos Santos
Vice-presidente: Deputado Ruy Codo
Relator: Deputado Manoel de Almeida
Relator-substituto: Deputada Lygia Lessa Bastos
Titulares ARENA
Deputados: Alcides Franciscato, Cleverson Teixeira, Inocencio Oliveira, Nelson
Marchezan
Titulares MDB
Deputados: J. G. de Araujo Jorge, Antonio Morais
Trinta depoentes, entre ministros e secretários de Estado, senadores e deputados,
militares, professores, sociólogos, juristas, advogados, funcionários e conselheiros da Febem e
outras personalidades da sociedade civil.
Em 09 de Junho de 1976, o trabalho concluído em 14 dias apresenta relatório em 669
páginas com:
153
a) Diagnóstico situacional;
b) Aproximação Quantitativa do problema do Menor;
c) Considerações e Recomendações ao Presidente da República;
d) Considerações e Recomendações à entidade Civil;
Quadro 12 – Andamento da CPI Menor
Data Andamento
09/06/1976 Leitura e remessa a publicação do relatório e conclusões da ‘CPI do menor’.
23/06/1976 Discussão única.
Aprovação do projeto.
23/06/1976 Despacho a promulgação DCN1 24 06 76 pag. 5956 COL 01.
Fonte: Dados Senado – Elaborado pelo autor
Em seu discurso de conclusão de trabalho e abertura do relatório, o Deputado Federal
por Minas Gerais, Manoel de Almeida (ARENA), trata a questão do menor como “calamidade
nacional”, destaca o crescimento populacional, indica que o papel do Legislativo está se
cumprindo ao capacitar o Executivo à tomada de decisões básicas que a sociedade exige para o
momento, e que, diante do quadro informativo apresentado, espera reação da sociedade civil
contra os fatores da marginalização infantojuvenil, e encerra o discurso declarando que...
O que importa assinalar, finalmente, não é a orientação inovadora, arrojada e realista
da CPI do Menor, mas, fundamentalmente, a responsabilidade do Poder Executivo da
União em atender, agora e já, às exigências prioritárias de sobrevivência da infância
e da juventude desassistidas do Brasil. Sala das Reuniões, em 19 de abril de 1976
(BRASIL, 1976, p. 2).
O trabalho da CPIMEN demonstra-se criterioso, abrangente, conciso e aponta
diretrizes em seu diagnóstico. Após a introdução, destaca os seguintes pontos, que serão
explorados ao longo do relatório:
1- A marginalização do Menor;
2- Quantificação do Problema:
a. Migrações Internas;
b. Urbanização;
c. Crescimento Demográfico;
d. População Jovem;
e. População Economicamente Ativa.
3- Causas da Marginalização:
a. Desagregação Familiar;
154
b. Pobreza;
c. Poder Aquisitivo nas Regiões Metropolitanas.
4- Educação;
5- Profissionalização;
6- Ação Governamental;
7- Atualização do Código de Menores.
Mais uma vez merece o registro que o trabalho foi feito de forma abrangente,
apresentando diagnóstico preciso da realidade do Menor e propôs ações. No entanto, dos 7
itens destacados, apenas a atualização do Código de Menores teve resposta.
2.2.5 – (1979) 2º Código de Menores
O final da década de 70 é marcante e determinante para os rumos políticos, sociais e
econômicos do Brasil. Surge um novo movimento sindical, abafado e reprimido durante todo o
regime, e da insatisfação da classe metalúrgica nasce o movimento grevista de 1978 no ABC,
e 1979 em Guarulhos e Osasco, deste movimento dos trabalhadores à criação dos sindicatos de
classe como Central Única dos Trabalhadores (CUT), em 1983, e da Confederação Geral dos
Trabalhadores (CGT), em 1986, e com a Lenta, Gradual e Segura abertura política anunciada
por Geisel (1974-1979), surgem novos partidos políticos, como o Partido dos Trabalhadores,
em 1980.
Este cenário é favorável à conciliação entre os setores políticos e militares, e em 28 de
agosto de 1979 é assinado pelo General e Presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo o
Decreto Lei nº 6.683, dando anistia a políticos e militares.
Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de
setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com
estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos
servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder
público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos
dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais
e Complementares.
§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza
relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política.
§ 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de
crimes de terrorismo, assalto, seqüestro (sic) e atentado pessoal.
§ 3º - Terá direito à reversão ao Serviço Público a esposa do militar demitido por Ato
Institucional, que foi obrigada a pedir exoneração do respectivo cargo, para poder
habilitar-se ao montepio militar, obedecidas as exigências do art. 3º (BRASIL, 1979).
155
Nesse contexto de abertura surgem os movimentos sindicais, há o retorno ao Brasil da
classe artística e política opositora ao Regime Militar, bem como a criação de novos partidos e
abertura política. Esperava-se que o material gerado pela CPIMEN (1976) tivesse a execução e
a abrangência, conforme apresentado pelo Legislativo, contudo, de todos os itens apontados,
apenas ocorre a promulgação de um novo Código de Menores, o segundo na história do país,
por meio da Lei 6697, de 10 outubro de 1979.
A constituição em vigência era a Militar (1967), na qual não faz referência de cuidado
e assistência à criança e adolescência, não há indicação de direitos para essa faixa etária da
população brasileira, e desde o Código de 1927 a criança e adolescente continuava sem
identidade reconhecida, sendo objeto do Estado, que, apesar de iniciar com termo “assistência
e proteção”, o que de fato se desenvolve é o Vigiar e Punir (FOUCAULT, 1997) a partir de
situação irregular.
Art. 1º Este Código dispõe sobre assistência, proteção e vigilância a menores:
I - até dezoito anos de idade, que se encontrem em situação irregular;
II - entre dezoito e vinte e um anos, nos casos expressos em lei.
Parágrafo único - As medidas de caráter preventivo aplicam-se a todo menor de
dezoito anos, independentemente de sua situação.
Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o menor:
I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória,
ainda que eventualmente, em razão de:
a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável;
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las;
II - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável;
III - em perigo moral, devido a:
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes;
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes;
IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou
responsável;
V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária;
VI - autor de infração penal (BRASIL, 1979).
O menor privado de condições essenciais à própria subsistência é apontado como em
“Situação Irregular”; sua condição de maus-tratos, abandono, entre outros, o coloca em posição
de perigo social; de vítima o menor torna-se réu, e o segundo código leva o menor indesejado
à condição observada antes do Ventre Livre (1871), quando o seu primeiro e maior ato de
infração era o nascimento.
O segundo código retira os termos “delinquente” e “abandonado”, incluindo a já
mencionada “situação irregular”; a maior idade penal manteve-se em 18 anos, a despeito da
tentativa de retrocesso sugerida do artigo 33 do Código Penal (1969), que objetivava resgatar o
critério do discernimento e gerar penalização criminal para menores a partir dos 16 anos.
156
Como indicado no relatório da CPIMEN, o novo código inclui o Estado e a Sociedade
Civil como responsáveis pelos menores, mantendo o papel da família já existente no código
anterior.
Trocou-se os regimes e os governos, atualizou-se leis e decretos, contudo, a situação
de descaso, abandono e miséria dos menores continuava a mesma, e o novo código reflete o
modus operandi do Regime Militar. A repressão e a correção física como resposta do Estado
ao cenário de abandono será um espetáculo de horrores testemunhado pela sociedade entre os
anos 90 e 2000, em cartaz no seu palco principal: a FEBEM de São Paulo.
2.2.6 – (1985 a 2006) FEBEM – 2ª Parte e Fim
No constructo histórico da marginalização, pôde-se observar que a delinquência
juvenil estava diretamente atrelada à exclusão e abandono do menor, e também foi demonstrado
que as questões raciais e sociais geraram o desvio semântico, tornando menor o menino negro,
pobre, abandonado e órfão.
Dentro desse imaginário, a questão da delinquência e criminalidade transita no Estado
a partir de uma lógica minimizada, racista e preconceituosa, limitando o problema social para
os menores carentes, esperando que, em recolher os abandonados e carentes das ruas, a
delinquência juvenil naturalmente findaria. Todavia, como é sabido e veremos adiante, o
desenvolvimento e o fim da FEBEM demonstra que essa lógica era completamente infundada,
incompetente e pífia.
De fato, um século após a Lei do Ventre Livre (1871), a primeira ação que objetivava
atender ao menor em situação de vulnerabilidade, a situação da criança e adolescente no país,
ainda estava à deriva. A FEBEM surge no contexto histórico de transição entre o militarismo e
a nova democracia brasileira, e à modus operandi de repreensão “soluciona”, enfim, o problema
do menor infrator, promovendo o menor infrator a jovem adulto infrator, recebendo o mesmo
nível de reclusão e punição dos adultos.
157
Figura 15 – Resolução do problema de Menores
Fonte: Folha de S.Paulo, 198045
Com ausência de liberdade de imprensa, o distanciamento do ambiente carcerário da
autodenominada sociedade de bem, não é nenhum exagero dizer que inúmeras, incontáveis e
inimagináveis ações de violência, privações e torturas ocorreram no período obscuro da
FEBEM, onde a massificação dos menores pobres encheu as celas da fundação oficial do Estado
que objetivava o “bem-estar do menor”.
Superlotação, má administração, rebeliões, torturas, abusos físicos, morais e sexuais,
suicídios e mortes provocadas por brigas entre os próprios menores e entre menores, guardas e
policiais fizeram parte de um cenário sombrio e macabro da relação entre Estado e menores, o
que só é percebido na transição para a democracia, ou seja, nos anos finais da FEBEM.
Das mais de 600 unidades que o Estado de São Paulo administrou até abril de 2006,
as 18 unidades que compunham o complexo do Tatuapé, na região leste da capital, eram as
mais superlotadas e mais conhecidas nos noticiários, e se diretores, administradores ou qualquer
outro funcionário denunciasse seus horrores internos, “cabeças rolavam”.
Além de as próprias internas terem mostrado indignação contra a considerada má
gestão da entidade, a diretora da unidade em Vila Maria, Maria Tosin, igualmente se
manifestou contrária à Fundação e relatou à imprensa que a principal preocupação da
Febem pouco estava relacionada à solução do ‘problema do menor’ e sim à contenção
e ao isolamento social do ‘menor’ por meio de práticas ‘imediatistas e manipuladoras’
(Folha de São Paulo, 1980, p. 10). Após essa explanação pública de
descontentamento, Maria Tosin foi afastada da direção da instituição em Vila Maria
e seu cargo foi passado a Humberto Martini Neto, anteriormente acusado de abusar
das internas e de violenta-las (BOEIRA; MACHIESKI; RIBEIRO, 2017, p. 471).
Essa antiga unidade da FEBEM, reconhecida como uma das mais violentas da Capital,
tornou-se o complexo da Vila Maria, unidade da FUNDAÇÃO CASA onde exerço a Capelania.
45 Cecilia Alves Pinto (Ciça) – Caderno Ilustrada, p. 36. Cf. em:
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=7208&anchor=4229815&origem=busca&originURL=&pd=78
89eed3d076e847a14dd33e4f83f560
158
Essas intensas transformações pelas quais passa o Complexo – que, além de ter sido
um dos primeiros do país, chegou a se tornar, neste início de século XXI, o maior e
mais problemático conglomerado de adolescentes internados em conflito com a lei no
Brasil – abre interessantes possibilidades de pesquisa (ALVAREZ et al, 2009, p. 13).
O objeto formal desta Tese ocorre num relacionamento amistoso e fraterno da
assistência religiosa em um espaço com histórico de abusos e violência, registrado por ex-
funcionários, ex-internos e pelas...
[...] mães de menores internos da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem)
denunciaram novas sessões de tortura contra os garotos na Unidade Vila Maria. No
Complexo Tatuapé, os jovens fizeram mais uma rebelião, ao que tudo indica facilitada
por monitores. E o sindicato que representa os funcionários da entidade prometeu
greve, piquetes e ações na Justiça contra as mudanças que o Estado planeja fazer na
fundação. Essa seqüência (sic) de fatos repete outras tantas ocorridas nos últimos
anos. A diferença é que, desta vez, o secretário da Justiça, Alexandre de Moraes, que
acumula o cargo de presidente da Febem, tomou as medidas que há muito eram
esperadas para o início de uma reforma efetiva da entidade.
Em relação às denúncias de tortura, 23 funcionários foram presos, após visita do
secretário à Unidade Vila Maria, onde constatou que os menores foram maltratados e
feridos e encontrou instrumentos usados no espancamento. Enquanto acompanhava a
prisão dos monitores, Moraes foi informado sobre o início de um motim no Complexo
Tatuapé. Não se tratava de coincidência. Era apenas a repetição de uma estratégia
freqüentemente (sic) usada pelo sindicato da categoria para acuar o governo. O
secretário e presidente da Febem seguiu para o Tatuapé e em duas horas a rebelião
estava debelada. Segundo ele, menores revelaram que, às 12 horas, começaram a
apanhar e a sofrer ameaças de funcionários que insuflavam a rebelião (SENADO,
2005, p. A3).
No processo de extinção da FEBEM, o saldo de prejuízo humano, tanto individual
quanto coletivo, é gigantesco; não geram o bem-estar prometido ao menor, não cuidam dos
abandonados, não educam os desassistidos, não capacitam os inaptos, enfim, não os devolvem
à sociedade em condições de convívio social, antes o...
[...] despropósito da política de proteção ao menor neste País que a ‘Folha’ já a
comparou a um verdadeiro genocídio. Não é que sejam apenas desassistidos e
desprotegidos os menores carentes da proteção da sociedade e do Estado. O destino
daqueles que caem sob a tutela do Estado é, com demasiada frequência, a vida do
crime, a prisão e a morte, como indica a recente denúncia de um cemitério
clandestino para menores infratores ‘desaparecidos’. [...] Diante desse quadro,
alertar a opinião pública para o descalabro da Febem, onde as denúncias se acumulam,
as fugas se sucedem e os indícios de desmazelo se somam, pode ser fastidioso, mas é
inevitável [...] A atitude da Sra. Tosin, diretora da unidade [Vila Maria], praticamente
sacrificando seu cargo para não sacrificar suas ideias e para preservar o trabalho
realizado, é outro indício que leva a crer que as demissões não foram fortuitas, mas
visaram a uma equipe que incomoda a Febem porque corre o risco de trazer à tona
seus descaminhos [...] Nisso tudo, a nomeação de um funcionário, posto em
disponibilidade devido às acusações de violência, para repor ordem na unidade, é um
verdadeiro repto à opinião pública e um desafio às autoridades governamentais (Folha
de S.Paulo, 1980, p. 2, grifo nosso).
159
As rebeliões tornam-se rotina, tanto na FEBEM quanto nos noticiários.
Figura 16 – FEBEM nos noticiários
Fonte: Folha de S.Paulo, Primeiro Caderno, 1ª Março de 1984.46
Ainda em 1984, com os eventos públicos de retorno à democracia levando 300 mil
pessoas ao Vale do Anhangabaú e Praça da Sé, em São Paulo, dados estatísticos apresentados
pela Folha de São Paulo indicavam que o estado de São Paulo possuía 630 unidades de
internação (ou seria de repressão?), com cerca de 46 mil menores, entre meninos e meninas, o
que ratifica a detenção como principal, talvez única, medida para resolver a questão da
delinquência e criminalidade juvenil.
O ideal proposto no Decreto n. 5.849, de 9 de janeiro de 1875, que estabelecia um
internato que recolhesse e educasse menores desassistidos com arte, educação e
profissionalização não se realiza, e de forma concreta, 100 anos depois a FEBEM se transforma
numa escola do crime para tantos meninos e meninas que, após anos de reclusão, ao completar
18 anos eram colocados em liberdade, literalmente expulsos, pois não havia nenhuma ação
46 Cf. em:
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=8698&keyword=Febem&anchor=4306284&origem=busca&or
iginURL=&pd=19093455402fe897b21660465ea04657
160
preparatória para a sociedade, nenhum acompanhamento social, tornando-os inúteis,
indesejados e mesmo mortos socialmente.
Ao preconceito em relação ao ex-interno, confirmado pela pedagoga e supervisora da
área de colocação profissional da Febem, Matilde Almeida Camargo, soma-se a
questão do desemprego. ‘Nosso menor não tem experiência e é colocado em
competição com quem já está trabalhando’, diz, lembrando, ainda, que o mercado está
cada vez mais seletivo. ‘Do menino, exige-se que tenha 18 anos, escolaridade até 8ª
série, que saiba datilografia e que atenda telefone. Isso para a função de office-boy’.
Quanto às meninas, é mais complicado. ‘Para elas restam as profissões de doméstica
ou de recepcionista e querem que seja bonita. Mas, como vai ser bonita se é pobre,
carente e tem fome?’ A cor da pele é outro obstáculo. Matilde revela que não são raros
os pedidos de ‘menina jeitosinha, boa apresentação e branquinha’ (Folha de S.Paulo,
1984, p. 9).
O ex-interno da FEBEM recebe um rótulo, estigma social que lhe fecha portas, sendo
essa verdade não apenas um sentimento social, mas uma tese registrada pelo então presidente
da Fundação, Nélson Alves de Aguiar, que em entrevista declara: “[a Funabem tornou-se] mero
repassador de recursos para as Febems [...]. [A política de atendimento ao menor] é paliativa e,
se não for municipalizada, o problema do menor vai piorar, pois a estrutura é falida, ineficaz,
cara, viciada, estigmatizadora, errada enfim” (Folha de São Paulo, 1986, p. 22, grifo nosso).
O problema da FEBEM se torna pior do que o problema do menor. Ao final de 1986,
já respirando ares democráticos, estatísticas não oficiais apontam cerca de 500 mil menores
encarcerados no país. Em reportagem da Folha de São Paulo, noticiando o término da votação
na Câmara e o envio para o Senado do projeto do novo Estatuto da Criança e Adolescente,
denuncia que os confinamentos até então eram executados de maneira subjetiva pela
determinação de um juiz, e que não havia espaço para defesa por parte do menor, que não havia
uma limitação de prazo, sendo que a partir do ECA o máximo seria de 3 anos, incluindo a
punição para pais e responsáveis, para funcionários, carcereiros e policiais. O menor agora pode
questionar, pode se defender, terá direito a um representante legal, um advogado.
161
Figura 17 – FEBEM chega ao fim
Fonte: Folha de S.Paulo, Caderno Cidades, 29 de Junho de 1990.47
O fim é anunciado, mas, como cantado pelos Racionais MC’s (2002) o barato é louco
e o processo lento, somente 16 anos depois, em 2006, a Fundação Centro de Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente (FUNDAÇÃO CASA) é inaugurada e substitui definitivamente
a FEBEM.
Nesse interim, milhares de menores com idade inferior a 12 anos são libertos, além de
outros com idade até 18 anos que estavam reclusos por situações de abandono, orfandade e/ou
sem moradia, e não por criminalidade. Em ambos os grupos, muitos saem sem referência
familiar, sem endereço domiciliar, e principalmente, sem esperança. Estigmatizados pelo
sistema, serão aliciados por criminosos maiores, alguns inclusive haviam conhecido na própria
instituição, grupo que adianta fará parte da primeira geração do PCC.
2.3 Marginalização do menor: situação e discurso
O período de maior crescimento pentecostal correlaciona-se com o fim da FEBEM e
início da FUNDAÇÃO, com propostas de atenção e assistência diferenciada ao menor em
medidas socioeducativas, incluindo a assistência religiosa, tema desenvolvido no capítulo final.
47 Cf. em:
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=11009&keyword=FEBEM&anchor=4911364&origem=busca
&originURL=&pd=e19603d93479a05fee139c23f1566731
162
O constructo histórico, ideológico e semântico “do menor” na sociedade brasileira
apresenta afinidade de situação e discurso com o menor disciplinado na CCB.
De situação, ao observarmos que a exclusão da convivência em sociedade inicia-se
com crianças geradas a partir de adultério, prostituição e abandono, sendo essas deixadas na
Roda dos Enjeitados, serão assistidas pelos religiosos, adiante capelães, e os pecados
relacionados a relações sexuais fora do casamento também geram exclusão e condenação ao
menor da CCB, que não terá assistência da instituição quando em situação de cárcere, sendo
abandonado na roda da vida.
Dentro deste cenário em que a violência urbana mobiliza as pessoas e orienta as
políticas públicas, uma população específica parece ser o grande foco das atenções: o
jovem pobre, negro, do sexo masculino constitui um ‘tipo ideal’ de criminoso no
imaginário social da sociedade contemporânea (ALMEIDA, 2008, p. 1)
De discurso, pois aquele que cai da graça e perde a liberdade na CCB é visto como
um que delinque, como alguém que está fora da lei, neste caso, lei divina estabelecida pela
instituição. Mesmo que os termos como delinquente e abandonado sejam substituídos na
relação do Estado com o Menor, ao inserir-se o termo em “situação irregular”, a terminologia
jurídica e social se aproximará da discursividade litúrgica e disciplinar da CCB, que o menor
infrator, excluído da irmandade por um dos pecados sem perdão, está em situação irregular,
afastado e morto perante Deus.
A quebra do tipo ideal estabelecido pela CCB condena em vida o membro que, entre
outros, tem relacionamentos fora do casamento, assim como num tipo ideal de uma sociedade
que se quer branca, limpa, culta e erudita, não há espaço nem perdão para o jovem pobre, negro,
periférico que tenha cometido o erro de questionar o sistema.
A semântica, como estudo da evolução das significações das palavras, indica que
fenômenos culturais, morais, religiosos, entre outros, podem gerar transformações nos sentidos
das palavras, assim pode-se afirmar que as “palavras têm pernas”, vão e levam os que
participam do discurso a lugares outros, mesmas palavras novas significações.
Ora, constata Meillet, a evolução das significações atesta a coexistência de três
espécies de mudanças. Mudanças de ordem linguística decorrentes, entre outras, das
leis fonéticas de modificações das formas. Mudanças de ordem histórica,
provocadas por contatos interculturais. Por fim, mudanças de ordem social,
tributarias da evolução das instituições humanas (direito, moral, religião)
(TAMBA, 2005, p. 19, grifo nosso).
163
Se na semântica as palavras têm pernas, na religião as palavras têm poder, poder de
direcionar a vida daqueles que aderem, que aceitam o discurso. Alguns discursos são para a
liberdade e vida, outros, condenação e morte, e isso está relacionado ao que e a quem fala, ao
que e a quem ouve. Segundo Foucault (1996, p. 7), o poder do discurso está no ouvinte, o sujeito
é quem confere, ou não, autoridade ao discurso; e a esse respeito declara: “[sobre o lugar do
discurso] foi preparado um lugar que o honra mas o desarma, e que, se lhe ocorre ter algum
poder é de nós, só de nós, que ele lhe advém”.
O discurso litúrgico da CCB orientou, sustentou e ordenou a vida pregressa do menor
infrator, porque esse dava àquele um lugar de honra. Uma vez excluído, tanto o discurso quanto
seu sistema psíquico, social e emocional precisam ser ressignificados, e para tal, busca-se novas
significações em velhos contatos interculturais, busca-se aceitação em outra irmandade que
sempre esteve próxima, geograficamente, porém longe, ética e moralmente, a irmandade do
crime.
O discurso do crime e os seus códigos de conduta (ética?) no proceder da irmandade
podem fazer e dar sentido ao menor infrator, e mudanças de ordem moral podem ocorrer, e
essas surgem como alternativa para o enjeitado, excluído, enfim, para quem está em situação
irregular social e espiritualmente.
O bloqueio que existia para o discurso do crime não existe mais, para a fronteira ética
e moral o passaporte foi carimbado com a exclusão e a desassistência religiosa que, numa
afinidade discursiva, permite uma dialética em uma nova instituição, uma nova doutrina, um
novo batismo, uma nova irmandade.
165
3 A ORDEM E A AFINIDADE ELETIVA NO DISCURSO DOUTRINÁRIO DA CCB
E NO PROCEDER CRIMINAL
O discurso religioso cria disposições e motivações que excedem,
em muitos casos, a intenção original de seus fundadores, e tomam
caminhos que deixariam estes estarrecidos, a religião organiza e
reorganiza a existência do indivíduo, e lhe dá significado a partir
das próprias realidades. Inquietação diante do que é o discurso
de coisa pronunciada ou escrita; inquietação desta existência
transitória destinada a se apagar sem dúvida, mas segundo uma
duração que não nos pertence; inquietação de sentir-se sob essa
atividade, todavia cotidiana e cinzenta, poderes e perigos que mal
se imagina.
Michel Foucault
Refletir a religião, seus significados e apropriações no cotidiano de fiéis a partir da
linguagem e suas modificações, bem como o problema doutrinário entre o discurso original
fundador e os caminhos adotados por seus discípulos, não traz novidade em si, visto que outros
pesquisadores assim já analisaram, contudo, não o fazê-lo neste trabalho representaria ruptura
com parte integrante e determinante da composição do ser aqui analisado, o menor infrator
pentecostal, inclusive, negando ao leitor visão de parte da base que sustenta o universo da fé
protestante e pentecostal, o discurso de coisa pronunciada, a teologia do discurso, prédica,
pregação, homilia ou simplesmente: “A Palavra”.
O objeto formal surge do relacionamento de confiança construído na assistência
religiosa prisional, onde o capelão identifica controvérsia e ambiguidade na interpretação que
o menor faz do discurso cúltico da CCB e do processo de sua exclusão ao afirmar: “Senhor, eu
pequei, pra mim já era. Estou no inferno, não tem perdão...”, e na dialética48 que este faz com
o discurso criminal ao concluir a frase: “agora é o seguinte: Virei o ‘S’!” A averiguação de
eventual correlação entre estes campos no contexto juvenil – pentecostal e criminal – e as
correlações destas falas, apresentaram-se como situação de conflito, e ainda tema incômodo –
em especial aos evangélicos pentecostais, gerando uma indagação controvérsia sem resposta
satisfatória até o presente (GIL, 2002, p. 5).
Tal controvérsia está sendo problematizada a partir do olhar do capelão, na vivência
da assistência religiosa exercida no complexo da Fundação Casa, unidade Vila Maria - SP.
A relação de confiança desenvolvida nas atividades de assistência religiosa gerou
alguns pontos de questionamentos sobre a afinidade e simultaneidade identificadas entre os dois
48 A dialética é um termo comum nos ciclos de estudos filosóficos, tendo diferentes significações conforme a
corrente filosófica que a utilize. Neste trabalho, por dialética queremos dizer: A arte do diálogo e da
correlação lógica entre opostos.
166
campos, e ao mesmo tempo, algumas controvérsias, palpites e mesmo suposições, que na
sequência se tornariam problematização e hipóteses neste trabalho, e a questão da simbologia
discursiva e a força da linguagem religiosa e criminal nas ações sociais do menor serão
analisadas neste capítulo.
Ainda valendo-se da terminologia de Gil (2002), as fontes que geraram elaboração das
hipóteses ocorreram a partir do conhecimento próprio do pesquisador sobre o objeto, a relação
direta com a problematização, a observação do objeto in loco, conhecimento pessoal e o
partilhado com outros cientistas da religião, sociólogos, historiadores, teólogos – entre outros
saberes –, no Grupo de Estudos Protestantismo e Pentecostalismo (GEPP)49, e ainda,
desenvolvimento pessoal em temas e estudos correlatos, como a teologia e filosofia, e o
exercício da capelania escolar em ambiente juvenil confessional protestante.
A ordem discursiva que suporta os diversos sistemas de relacionamentos sociais,
incluindo o religioso, tem símbolos próprios que geram disposições e motivações que dão
sentido à existência humana, inclusive criminal. No caso de sistema religioso, para o ouvinte
fiel a interpretação destes símbolos ordena a sua realidade de tal maneira que suas ações sociais
(WEBER, 2008), orientadas pelo discurso, serão motivadas por sentimentos e valores, não pela
racionalidade. No caso do menor infrator oriundo da CCB, isto ocorrerá até o ponto do
rompimento com a instituição, ou seja, até a sua exclusão eclesiástica.
A relação social do menor infrator para com o discurso da CCB, apresenta-se como
uma relação de anuência e subserviência, que pode ser percebida nas relações simbólicas no
contexto interno – eclesiástico e litúrgico – e externo, na relação com a irmandade e a sociedade
em geral, há concordância e mesmo um contrato não escrito nem verbalizado, todavia forte,
abrangente e real entre as partes, gerando promessas de convivência e modelos
comportamentais assumidos pelo menor e cobrados pela instituição e pela irmandade.
Diferente da ação social do menor, enquanto fiel da CCB, diante do discurso do crime
que se apresenta racional orientada por valores, sendo que, apesar do convívio espacial o
menor pentecostal mantém-se moralmente distante do crime, pois orienta-se pelos valores
éticos, religiosos e mesmo estéticos da fé pentecostal da CCB, ao que se refere a sua relação
com o discurso doutrinal da CCB, a força coerciva da tradição, o sentimento e paixão são os
condutores da orientação de suas ações sociais.
Uma vez que essa relação é rompida, unilateral e sumariamente pela instituição, a força
afetiva que sustentava tal relação se torna, na mesma proporção ou até maior, em vingança, não
49 GEPP – Grupo de estudos formado em 2011, com rotina de encontros, estudos e debates quinzenais, sob a
condução dos doutores Edin Sued Abumanssur e Gedeon Freire de Alencar.
167
no sentido pessoal de vingar-se de alguém, antes, no sentido existencial e moral, vingar-se do
sistema de valores que orientavam sua conduta, visto que diante da exclusão o menor declara:
“pra mim já era, virei o ‘S’!”.
Virar o “S” = significa a vida ao avesso, assumir publicamente os valores
antagônicos à relação afetiva anterior é, ao mesmo tempo, ato de vingança contra a instituição
e ato de sobrevivência para o menor na sua quebrada; deixar de ser cordeirinho ou piolho para
assumir protagonismo, força e autoridade diante da vizinhança.
Quando em situação de cárcere, sabendo-se excluído da irmandade, em situação
irregular diante da sociedade e morto espiritualmente diante de Deus, leva o menor a agir:
[...] de maneira racional referente a fins que orientam sua ação pelos fins, meios e
consequências secundárias, ponderando racionalmente tanto os meios em relação às
consequências secundárias, assim como os diferentes fins possíveis entre si: isto é,
quem não age nem de modo afetivo (e particularmente não-emocional) nem de modo
tradicional. A decisão entre fins e consequências concorrentes e incompatíveis, por
sua vez, pode ser orientada racionalmente com referência a valores: [inclusive novos
e antagônicos] nesse caso, a ação só é racional com referência a fins no que se refere
aos meios (Weber, 2009, p. 16, grifo nosso).
A criminalidade que sempre esteve perto dos olhos, mas longe do coração, torna-se
uma alternativa racionalmente viável para a sobrevivência e ressignificação do ser.
Há afinidades eletivas na discursividade da ordem doutrinária da CCB e na estrutura
do proceder do crime, onde a convivência espacial contínua com ambos os discursos faz do
menor, primeiro pentecostal e depois infrator, um intérprete em movimento, o que lhe permite
não apenas transitar, mas também dialogar entre os dois campos ao estilo platônico da diálogo
(PAVIANI, 1996), abandonando a argumentação lógica e desenvolvendo processos dialéticos
próprios da investigação conjunta entre dois interlocutores.
O desafio do capelão na construção de relacionamento de confiança e fraternidade
passa por compreender que estes dois interlocutores, na verdade, são apenas um: um menino,
um menor. Primeiro, apenas pentecostal, com aversão ao crime e às coisas do mundo; depois,
pentecostal e infrator, num processo dialético próprio; e por último, não mais que menor
infrator, excluído da igreja e lançado no mundo.
A relação do fiel pentecostal com a modernidade, até o recorte aqui proposto, era uma
relação de distanciamento, de negação e mesmo de criação de estereótipo de malignidade para
o que é moderno, em que a relação com as coisas do mundo – estudo, moda, maquiagem,
revistas, jornais, cinema, times de futebol e, logicamente, o crime – caracteriza falta de fé ou
infantilidade espiritual.
S
168
O crente pentecostal que correspondia a menos de 3% da população até o Censo de
198050, até então relaciona-se com a sociedade e os avanços da modernidade a partir de uma
visão escatológica que estigmatiza o mundo como mau e que este será iminentemente destruído.
Essa oposição à modernidade e a relação conflituosa com a sociedade é uma resposta da fé da
teologia assumida pelo grupo, a teologia do sofrimento.
Sofrimento não é um ideal, mas uma prática e uma práxis com função ideológica, ela
dá a veracidade do grupo; a legitimação da verdade do mesmo, pois é esse sofrimento
quem constrói a identificação com o Atos dos Apóstolos. Esse conceito é uma palavra-
chave na história dos primeiros anos, lá e cá. Primeiro, é na igreja reunida que surgem
as línguas; segundo, imediatamente veio a perseguição. O fenômeno interno da
glossolalia e as reações externas dos inimigos vão moldar o grupo (ALENCAR, 2012,
p. 120).
A condição do pentecostal, em larga escala, era de pobreza, miséria, analfabetismo e
falta de status social, sendo a igreja pentecostal e a irmandade do bairro o único espaço de
aceitação e ascensão social, onde o jovem analfabeto pode ser líder de outros jovens ou músico,
o negro pode liderar o branco, a mulher fazer uso do púlpito e da Palavra tal qual o homem,
onde o pedreiro, operário, encanador e marreteiro pode ser ordenado a obreiro ou tesoureiro e
cuidar dos recursos da igreja, local no qual o não formado e o iletrado pode se tornar pastor e
ser reconhecido como autoridade máxima dentro de uma comunidade de fé.
O rompimento com o mundo e a modernidade tem relação direta com a condição social
do fiel pentecostal até o advento da terceira onda, período de transição discursiva, saindo do
discurso da pobreza e da teologia do sofrimento para o discurso enfático, entusiasmado e de
empoderamento da teologia da prosperidade. Com isso, o pentecostal – neo – verdadeiramente
fiel tem acesso às bençãos de Deus na terra, a sociedade não pode ser mais demonizada, a
teologia escatológica do período das três grandes guerras – incluindo a fria – já não faz mais
tanto sentido assim, o mundo não precisa ser destruído, antes, precisa ser tomado, possuído, e
os crentes fieis devem tomar posse do que lhes é dado por herança como filhos de Deus, o dono
do mundo; a riqueza, o status e o poder político não são inimigos a serem opostos, mas heranças
a serem tomadas, o discurso não é mais de condenação às coisas do mundo e aceitação ao
sofrimento, e sim de restituição, restituição de bens, posses e status.
Restitui!
Tudo aquilo que foi consumido pela dor
Traz de volta a alegria dos meus sonhos
50 Até o Censo de 1991 não havia a distinção entre Pentecostais e Protestantes, o percentual de pentecostais é
uma estimativa dentro do universo de 5% de evangélicos em 1970 e 4% em 1960.
169
Aba pai, minha salvação!
Restitui!
Não importa minha luta, eu confio em Ti
Deus do impossível, Deus da minha vida
Sim, Tu és fiel e jamais me frustrará!
(Sonia Hernandes, Renascer Praise, gravado ao vido em Israel, 2013)51.
E ainda,
Restitui eu quero de volta o que é meu
Sara-me e põe Teu azeite em minha dor
Restitui
E leva-me a águas tranquilas
Lava-me
E refrigera minha'alma
Restitui. (Davi Sacer, Ministério Apascentar, Nova Iguaçu, 2003)52.
As igrejas pentecostais assumem a modernidade e as novas tecnologias como
instrumentos de Deus para a salvação do mundo perdido, e tornam-se presentes nos principais
canais e horários da rádio e televisão nos anos 1980 e 1990, e na internet e redes sociais nos
anos 2000 e 2010. Os filhos dos pastores, obreiros, diáconos, enfim, os filhos dos crentes
pentecostais da periferia estão no mundo, um mundo globalizado, de novos acessos e
possibilidades, de novos modelos de sucesso na fé. O sonho do menino agora não é apenas ser
jogador de futebol rico e famoso – que neste recorte histórico muitos destes estão nas igrejas –
, mas de gravar um CD Gospel, fazer sucesso nacional e, lógico, ficar rico e famoso.
Os ternos e as bíblias não se limitam mais ao básico da cor preta, a estética cúltica é
mais livre e despojada, os pastores não são apenas os mais velhos, anciãos, e surge uma geração
de pastores jovens, de calça jeans e tênis de marca, estudados, alguns vindos do mundo do
marketing53 ou dos esportes radicais54, a música na igreja não é mais conduzida somente pelo
órgão ou piano, e o período musical dos cultos passa a ser conduzido por bandas eletrônicas,
efeitos sonoros e visuais, o RAP da quebrada faz sucesso nas igrejas, na rádio e na televisão.
Enfim, muitas e significativas são as transformações do ambiente cúltico e no ethos e no
discurso pentecostal, apesar desta modernização ocorrer em níveis diferentes entre as igrejas
pentecostais da primeira e segunda onda, como AD’s e OBPC, e da terceira onda, como IURD,
IARC e BNC. Pode-se afirmar que:
51 Cf. em: https://www.youtube.com/watch?v=c6YDJWW6Msc 52 Cf. em: https://www.youtube.com/watch?v=IPL1McTNNhg 53 Como a história do Pastor, depois Bispo e Apóstolo Estevam Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo,
fundada em 1986, que mais tarde tornou-se Igreja Apostólica Renascer em Cristo. 54 Como a história do Pastor, depois Bispo e Apóstolo Rinaldo Luis de Seixas Pereira, o Rina, da Bola de Neve
Church, fundada em 1999.
170
Os dispositivos de regulamentar o crer que as instituições religiosas têm, foram
enfraquecidos na modernidade. À desregulação institucional corresponde o
enfraquecimento da tradição regulada. Os sujeitos reconstroem identidades religiosas
temporais e parciais a partir de sua experiência religiosa (FOERSTER, 2009, p. 25).
O recorte de 1980 a 2010, os últimos quatro censos do IBGE – aqui utilizados como
referência temporal – coincidem com o estatuto do PCC, a globalização econômica e
tecnológica, e a secularização e pluralidade religiosa, características da modernidade que em
formas e níveis diferentes modificaram o ethos e o discurso pentecostal, que:
Durante décadas, o pentecostalismo foi associado (e continua sendo) a uma
cosmogonia ascética e de profunda distância com comportamentos e valores que
sempre foram comuns a sociedade brasileira. Acreditou-se, na facilidade de
identificação de indivíduos evangélicos a partir de suas vestimentas: homens com a
tradicional calça social, camisa e gravata [...] mulheres com sais longas, blusas de
cores neutras e sóbrias, sem decotes [...]. A partir desse momento histórico [anos 90],
o ethos pentecostal vem passando por profundas e constantes transformações
(MARQUES, 2015, p.88)
Ou seja, o discurso da CCB de que o mundo entrou nas igrejas fica mais tangível,
objetivo e persuasivo diante de sua irmandade, e se havia um distanciamento inicial da
confissão de fé entre a CCB e outras confissões evangélicas pentecostais, este se solidifica neste
período, mesmo a despeito do crescimento inferior quando comparados as AD’s. Pode parecer
algo apenas institucional, disputa de campo de poder religioso dentro de um cenário nacional
(o que de fato também o é), contudo, essa postura é utilizada no discurso cúltico, no ato
revelacional e profético, no local e no momento sagrado do culto – da Palavra – o que leva o
menor infrator excluído da CCB a ter certa aversão por outras igrejas evangélicas, fato que fica
evidenciado na assistência religiosa em ambiente prisional.
Estando excluído da CCB, este menor não se vê, não se permite e não acredita ser
possível reconciliar-se com a graça através de qualquer outra denominação evangélica
pentecostal, pois:
Desde a década de 20, a Congregação Cristã no Brasil não mantinha uma comunhão
próxima com as demais denominações evangélicas. Mas será nos anos 40 e 50 que irá
adotar atitudes exclusivistas que a levarão um total isolamento das igrejas
evangélicas brasileiras. Isso porque passou a entender que somente ele é única igreja
que esta mais próxima da doutrina apostólica (FERREIRA, 2007, p. 92, grifo nosso).
O menor está desamparado não apenas da irmandade de fé, muitas vezes também a
família o exclui, tanto pelo ingresso no crime quanto pela exclusão da igreja, estando em
condenação eterna já em vida, a CCB não lhe fornece assistência prisional, e – conforme
171
discurso profético – não adianta buscar guarida em outro aprisco evangélico, pois “são seitas,
filosofias humanas” e lobos vestidos de ovelhas. Neste contexto de abandono, onde buscar
suporte, apoio, acolhimento e amparo?
[...] leva-se a crer que as facções, a exemplo do PCC, de fato, possuem grande poder
de convencimento de indivíduos fragilizados, decorrente do descaso que se apresenta
o atual sistema penitenciário brasileiro. A falta de estrutura e de amparabilidade, por
parte do Estado, abre margem para que as facções possuam, cada vez mais, força, uma
vez que é esse ‘Partido’ que acolhe e supre as carências não só dos presidiários, mas
também da família destes, extramuros (LAVOR, 2018, p. 48).
A ordem disciplinar na discursividade e simbologia que conduz à exclusão tem
afinidades com a estrutura e proceder da discursividade criminal, e a ação social, outrora
motivada por sentimentos e valores, valores estes que orientavam e significavam uma existência
de vida, após o rompimento e exclusão passa a ser motivada pela necessidade de
ressignificação. O discurso conhecido e próximo do crime torna-se uma válvula de escape
próxima, atraente, acolhedora e racionalmente viável para quem está morto para Deus.
3. 1 A ordem do discurso
O que é discurso? Uma linha contínua que representa a concatenação de determinados
objetos, conceitos, modalidades enunciativas ou temáticas? É exatamente batalhando
contra essas noções que Foucault inicia sua Arqueologia do Saber: fugindo das
unidades e repousando nas rupturas, olhando a novidade dos acontecimentos em vez
de buscar por uma estrutura.
O discurso é uma analítica própria do nível dos enunciados.
Vinicius Siqueira55
Senhor, eu pequei, pra mim já era. Estou no inferno, não tem perdão. Agora é o
seguinte: Virei o “s”.
O que é este enunciado? O que significava esta fala? Em qual base discursiva está
suportada? Qual o poder de ordem que este discurso tem na construção e concepção do eu do
menor infrator? Qual a força orientadora que este discurso confere às escolhas daquele menino?
Em quais unidades e rupturas está inserido?
Sendo um personagem real de dois mundos, compreendi que a concatenação não
estava na fala, no discurso em si, mas na interpretação, no sujeito, na hermenêutica do sujeito,
e que o discurso provou-se condutor de suas ações sociais motivadas por sentimentos e valores.
55 SIQUEIRA, Vinicius. Foucault e a Arqueologia do Saber. São Paulo: Ed. Colunas Tortas, 2016, p. 13.
172
Ao fugir das unidades convencionais propostas pela tradição discursiva pentecostal,
identifiquei no discurso específico de exclusão da CCB afinidade eletiva nas (não tão) novas
estruturas do discurso criminal. Essa dialética ocorre na correlação espacial na ‘igreja da
quebrada’ e na simultaneidade da convivência, até certo ponto pacífica, entre a irmandade da
fé e a irmandade do crime (MARQUES, 2015).
O enunciado verbalizado pelo menor infrator no encontro da assistência prisional:
“Senhor, eu pequei, pra mim já era...” não estava claro a princípio, contudo, apresentava-se
dentro de uma discursividade pentecostal como singular à CCB e, diante do quadro discursivo
individual, com força de ordem existencial para o menor infrator pentecostal excluído.
O constructo histórico dá força e gera a ordem que o discurso exerce na constituição
do sujeito, no processo individual de subjetivação, em suas tomadas de decisões pessoais e na
ordem de vida em sociedade, estando intimamente relacionadas à situação e à relação que o
indivíduo tem para com o discurso.
Quem dá a força ao discurso é o ouvinte (FOUCAULT, 1996). A maneira como o
adolescente da CCB se vê diante do local da fala (o púlpito) e da autoridade de quem fala (o
ancião) é relevante na formação discursiva e na hermenêutica pessoal frente ao discurso
doutrinário de exclusão.
As formas de se construir um discurso estão relacionadas ao sujeito e a situação em
que ele se encontra, levando-se em consideração tanto o contexto imediato como o
contexto sócio-histórico e ideológico. Isto é, considerando a formação discursiva do
sujeito. Além disso, deve-se pensar o lugar que esse sujeito ocupa, a imagem da sua
posição social no discurso constituída pela sociedade. (CARMO; MELIAN, 2018, p
40)
O sujeito menor pentecostal em situação de menoridade social, intelectual e doutrinária
não tem força representativa de dialogar e/ou questionar o discurso de exclusão, pois sua
imagem social foi construída diante do desvio semântico histórico do termo ‘Menor’, e o lugar
que ocupa e lhe é imposto é um lugar de exclusão e subserviência, de não fala e de não
protagonismo.
A análise do discurso (AD), como representação do pensamento, produção ideológica
e social histórica, desenvolve processo de interpretação a partir do prisma socioestrutural
(estruturas externas) ou sociosimbólica (estruturas internas) como ferramenta da comunicação,
apresenta-se como forma de ação do sujeito, força orientadora da ação social, reconhecendo
aqui a completude e abrangência do tema. Não cabe o desenvolver do constructo da AD e suas
correntes analíticas, visto que este não é objeto estrito deste trabalho, todavia, de maneira
173
introdutória, simplista e rasa, pode-se afirmar que a AD, em Foucault, desloca-se
historicamente do estruturalismo para a hermenêutica do sujeito.
A AD, estruturada a partir de um formato científico e metodológico de leitura, era
suportada por dispositivos fixos e estruturais, como a própria linguagem escrita com seus
sistemas, regras e leis das instituições sociais com seus edifícios arquitetônicos, como as
instituições religiosas e outros agentes tradicionais da sociedade, concepção esta que em nada
privilegia a subjetividade, em nada considera o ouvinte, seu histórico e lugar social.
Já a AD que tem como leitura a construção discursiva a partir do ouvinte, da construção
do eu do sujeito, do seu histórico sociocultural e de seus valores e sentimentos particulares, que
no processo de busca pela verdade aponta o cuidado pleno de si mesmo antes da limitação
técnica do conhecimento de si, é uma abordagem do prisma da hermenêutica do sujeito.
Foucault enxerga no estruturalismo, com seus dispositivos estruturantes e seus
edifícios estáticos, uma estrutura de poder. A arquitetura e a máquina estratégica para
submissão do outro, identifica dispositivos que criam atitudes de disposição e fazem
manutenção das relações de poder e saber, e saber e poder. O estruturalismo tem “domínios,
por exemplo, da linguística, da etnologia, da economia, da análise literária, da mitologia”
(FOUCAULT, 2008, p. 12). Este domínio define quais saberes, quais falas e discursos são
validos, e quais permanecem historicamente diante de outros que são preteridos e esquecidos
na história. A questão apontada é: Dentre tantas falas, discursos e saberes, por que estes
chegaram a nós e permaneceram na história em detrimento a outros?
Em seu processo arqueológico do saber, ao escavar em busca de vestígios de saberes
perdidos na história das ciências humanas, Foucault tenta, ao identificar estes saberes, recriar
contextos que permitam novas interpretações históricas da formação do sujeito e sua relação
com a verdade, não a verdade técnica, contudo, a verdade estruturante e condutora de vida, a
verdade que gera as motivações e ações sociais.
No nascimento e estruturação da cidade Grega, pólis, percebe-se que o acesso a
verdade existencial estava condicionado à estrutura política e religiosa representada na figura
dos anciãos, sendo este conhecimento acessível ao jovem que negasse as inquietudes da sua
juventude, o cuidado de si mesmo, e se portasse abaixo deste edifício de poder. Fora desta
estrutura, com suas regras e valores estabelecidos, o indivíduo não é reconhecido, sendo legado
ao ostracismo, à exclusão social, o que é percebido por Foucault em sua análise ao diálogo de
Sócrates com o jovem Alcibíades e na caracterização que ele faz sobre a figura do louco.
174
De todo modo, porém, é do interior do conhecimento que são definidas as condições
de acesso do sujeito á verdade. As outras condições são extrínsecas. Condições tais
como “não se podem conhecer a verdade quando se é louco” (importância deste
momento em Descartes) Condições culturais também, para ter acesso à verdade é
preciso ter realizado estudos, ter uma formação, inscrever-se em algum consenso
científico. E condições morais. Para conhecer a verdade é bem preciso esforçasse-se,
não tentar enganar seus pares, é preciso que os interesses financeiros, de carreira ou
de status ajustem-se de modo inteiramente aceitável como as normas da pesquisa
desinteressada, etc. como vemos dentre todas estas condições, algumas são intrínsecas
ao conhecimento, outras bem extrínsecas ao ato de conhecimento, mas, não
concernem ao sujeito no seu ser, só concerne ao indivíduos na sua existência concreta,
não à estrutura do sujeito enquanto tal (FOUCAULT, 2006, p. 22).
É possível identificar afinidade eletiva na relação do menor infrator com a CCB e o
louco com a modernidade a partir do discurso estruturado e os edifícios que por estes são
suportados, onde ambos não podem ter acesso – não conseguem ou não são dignos – a verdade
contida em seus edifícios de relacionamento próprio. O louco é assim descrito pela estrutura do
saber científico, suportada pelos edifícios da medicina psiquiátrica, novidade da modernidade,
enquanto o menor, na estrutura doutrinária da CCB e no edifício da religião. Assim, o louco
não pode frequentar as instituições de ensino e se formar com os tidos ou ditos normais, e o
menor que pecou perdeu a condição moral de acesso ao conhecimento; para um não há consenso
científico e para o outro não há misericórdia religiosa.
O estruturalismo, como corrente da AD, torna-se forte e evidente no mesmo recorte
histórico do exclusivismo da CCB – décadas de 1950 e 1960 –, que constrói o seu edifício, a
sua relação de poder e saber, não sobre a estrutura científica dos saberes humanos, como a
Teologia, mas sobre o edifício revelacional dentro de uma estrutura própria de gerontocracia.
A ausência de linguagem formal, estruturada, teológica é exatamente a força estruturante do
discurso cúltico da CCB, que se apresenta diferente das outras – Seitas – justamente por não ter
sabedoria, conhecimento, filosofia e estrutura humana.
FREQUENTAR SEITAS
Tem existido no meio da irmandade irmãos que não se satisfazendo, aliás, acham
talvez, que o que o Senhor envia pelo Espírito Santo nas congregações não é suficiente
para saciar suas almas buscando assim ser alimentados pela sabedoria humana,
freqüentando seitas onde predomina o saber e a ambição do homem. Até no
espiritismo tem ido irmãos nossos; aquele que iluminado pelo Espírito Santo deve
saber discernir a moeda falsa da verdadeira. Sabemos por quem somos guiados e quem
opera em nosso meio; todavia, não é possível ser admitido que nossos irmãos
freqüentando seitas e denominações extranhas a nossa fé possam ser considerados
nascidos da água e do espírito como um fiel que tem aceito o Senhor nosso Jesus
Cristo como o seu único e Pessoal Salvador. Assim devem taes irmãos serem
exortados com veemência e, si porventura não renunciarem a taes hábitos (sic passim),
não serão mais considerados como irmãos e impedidos assim da comunhão da
Igreja (CCB, 1961, grifo nosso).
175
O discurso que gera a exclusão do menor é revelacional, pronunciado a partir de um
local de fala inquestionável, da força coerciva do papel social do ancião, e que não havendo
suporte literário, etnográfico, econômico, social e mesmo teológico para aqueles que buscam
validar o discurso fora de seu lugar de fala, fora de sua tradição e estrutura, “não serão mais
considerados como irmãos e impedidos assim da comunhão da Igreja”. Para o menor,
verdadeira loucura intentar fazê-lo.
O problema da descontinuidade na AD na teoria estruturalista, identificado por
Foucault, é respondido através da ‘Formação Discursiva’ (FD), na qual Foucault (2008) transita
da, até então, (des)estrutura do discurso tradicional, até certo ponto fechado em sim, para o
conceito do interdiscurso, da exterioridade, da influência de agentes externos na constituição
da discursividade, em que a limitação tradicional do estruturalismo é contraposto pela
hermenêutica do sujeito, não podendo limitar ou delimitar o discurso às formas linguísticas e
ao lugar da fala, antes, sendo exigível compreender as ‘Condições de Produção’ (CP) do
discurso a partir do contexto sócio-histórico-ideológico – e em nossa pesquisa religioso –, as
relações entre os interlocutores e, como já observado acima, o lugar da fala num papel
dominante e o lugar do ouvinte num papel de dominado.
Na concepção da AD, a linguagem verbal surge e ao mesmo tempo suporta as
ideologias e as simbologias produzidas – numa perspectiva freudiana – passam a compor o
inconsciente do menor, inclusive gerando neuroses psicossociais.
Por isso, ao analisar a frase do menor: Senhor, eu pequei, pra mim já era. Estou no
inferno, não tem perdão. Agora é o seguinte: Virei o “s”, procuramos identificar, não nas
estruturas linguísticas, teológicas e doutrinárias, mas na hermenêutica do menor, as
possibilidades de sentidos assumidos por este a partir do seu lugar, reconhecendo que o lugar
de ouvinte, no caso o menor, é um lugar de subserviência, de obediência muda, de menoridade
social, intelectual e, dentro da estrutura doutrinária da CCB, também espiritual, visto que não
há espaço para que faça uso do discurso, já que ele não tem o poder da palavra revelacional,
pois, dentro da estrutura, esta é legada aos mais velhos, aos anciãos.
A Congregação Cristã no Brasil constrói a sua hierarquia, de maneira bem específica,
como gerontocracia. Na gerontocracia, o sistema político está nas mãos dos membros
mais velhos da comunidade. A sua liderança se apoia no fato de serem os mais velhos,
seja de idade, seja de tradição (FOERSTER, 2009, p. 26).
A ordem que o discurso, primeiro religioso e depois criminal, na concepção e no
sentido pessoal de existência do menor é desenvolvido em sua história, história de convivência,
176
trânsito e diálogo entre dois mundos, que no imaginário da sociedade externa à quebrada são
antagônicos e impossíveis de convivência pacífica, mas no dia a dia do menor são corriqueiros,
necessários e de certa forma até naturais, não se apresentando como ato de resistência, antes,
de sobrevivência.
Falar em produção de sentidos implica necessariamente falar em constituição de
sujeitos. Esses dois pontos são indissociáveis, “sujeito e sentido” se constituem ao
mesmo tempo, na articulação da língua com a história, em que entram o imaginário e
a ideologia (ORLANDI, 2001, p. 99).
Tanto Foucault como Orlandi entendem que a construção da subjetividade do eu passa
pela articulação da língua – discursividade – com a história. O indivíduo é afetado pelo discurso,
as relações simbólicas por este produzidas geram transformação no eu, produzindo novos
sentidos, resultando mesmo em um outro indivíduo, que passa a ter outra orientação e
motivação para suas ações sociais. Logo, o indivíduo se constrói, se subjetiva na sua relação de
obediência, subserviência e fé ao discurso.
A força, poder e ordem que o discurso estabelece relaciona-se a algumas questões de
estrutura objetivas e subjetivas na relação entre o sujeito e o indivíduo na busca da verdade,
verdade própria, sustentada pelo discurso doutrinário a partir do contexto pessoal, sócio-
histórico, ideológico e religioso, construído na subserviência à instituição e na relação com a
irmandade, sendo essa verdade a sua verdade existencial, motivadora e orientadora da vida.
Ao assumir a cadeira de seu mestre, Hyppolite, Michel Foucault, em 02 de dezembro
de 1970, discursa em sua aula inaugural do Collège de France sobre a Ordem do Discurso,
expondo a relação histórica entre o sujeito e a verdade. Em sua aula de 06 de janeiro de 1982,
reinterpreta a noção filosófica do ‘gnôthi seautón’, saindo do conheça-te para o cuidado de si
mesmo – epiméleia heautoû – do princípio délfico da prudência, reverência, subserviência e
autonegação diante dos deuses e da mediação dos anciãos para o protagonismo do cuidado
consigo mesmo.
No contexto social em que o adolescente de família simples, não pertencente aos ciclos
doutos e acadêmicos e sem posses ou propriedades não tem acesso ao oráculo divino, Sócrates
surge como alguém que incomoda um sistema político e mítico estabelecido e é acusado de
corromper a juventude ao incentivar esta a pensar e questionar as decisões unilaterais dos
anciãos, indicando uma nova cultura, uma nova práxis de vida, a askesis de atenção e cuidado
de si, possibilitando a livre construção do ser do indivíduo em oposição a estrutura religiosa e
política estabelecida de subserviência muda.
177
A askesis, longe de designar a renúncia a si mesmo, implica a consideração
progressiva de si, o domínio de si — um domínio ao qual se chega não renunciando a
realidade, mas adquirindo e assimilando sua verdade. O objetivo final da askesis não
é de preparar o indivíduo para outra realidade, mas permitir-lhe chegar à realidade
deste mundo […] A askesis é um conjunto de práticas pelas quais o indivíduo pode
adquirir, assimilar a verdade e transformá-la em um princípio de ação permanente. A
aletheia se torna o ethos. É um processo de intensificação da subjetividade
(FOUCAULT, 2014, p. 282).
Da vida sem verdades e sem significados cognitivos profundos, diante de domínio
político do saber divino, valorado pela comunidade, que garante o status aos anciãos de
autoridades inquestionáveis, sendo eles os únicos que podem mediatizar a relação com o saber
divino para o cuidado consigo e autonomia de vida, o grande crime de Sócrates não estava
relacionado à negação dos deuses, mas no discurso contra o silêncio, quietude e subserviência
muda dos jovens.
Sobre o entendimento estrito da epiméleia heautoû, Foucaul (2006, p. 14) declara: “é
uma atitude – para consigo, para com os outros, para com o mundo [...] é também uma certa
forma de atenção, de olhar. Cuidar de si mesmo implica que se converta o olhar”.
A conversão de olhar e de atitude para consigo, que Sócrates esperava da juventude
ateniense diante dos anciãos, diz respeito a deixar a menoridade intelectual dogmática para o
exercício de protagonismo, atitudes de valoração do ser, de se assumir, se modificar, se permitir,
se construir, enfim, sair de uma condição que impunha limitação e inferiorizava aquele que
buscava o saber diante do Oráculo, visto que o que se esperava daquele que fosse consultar os
deuses era que:
[...] não coloques questões demais, não coloques senão questões uteis, reduzi ao
necessário as questões que queres colocar... quando vens consultar os deuses não faças
promessas, não te comprometas com coisas ou compromissos que não poderás horar
(FOUCAULT, 2006, p. 6).
A contradição do conhecer com o cuidar de si ocorria em: o que busca o conhecimento
através da mediação dos anciãos aceita sua condição inferior, não questiona e aceita o destino
que lhe é imposto, inclusive o de exclusão e ostracismo, já o que cuida de si era tido, de certa
forma, como alguém de atitude egocêntrica e avarenta, um prestar de serviço e culto a si mesmo.
Dentro da estrutura vigente, tal atitude era imprópria para quem busca o elevado nível da
verdade, da sabedoria suprema.
Essa atitude de dependência dos deuses, através da mediação incontestável dos anciãos
e o controle da sexualidade, demonstra afinidades com a estrutura doutrinária da CCB, e assim
como Sócrates é excluído e condenado ao ostracismo diante de sua irmandade ateniense, o
178
menor infrator que questiona o sistema ou rompe com o padrão sexual estabelecido pelo
discurso doutrinal é excluído da CCB.
Digamos muito grosseiramente que esta conversão pode ser feita sob a forma de um
movimento que arranca o sujeito de seu status e de sua condição atual. Chamemos
este movimento, também muito convencionalmente, em qualquer que seja seu sentido,
de movimento do éros (amor). Além desta, outra grande forma pela qual o sujeito
pode e deve transformar-se para ter acesso á verdade é um trabalho, trabalho de si
para consigo, elaboração de si para consigo, transformação progressiva de se para
consigo em que o se é o próprio responsável por um longo labor que é o da ascese
(áskesis). Éros e áskesis são, creio, as duas grandes formas com que, na espiritualidade
ocidental, conhecemos as modalidades segundo as quis o sujeito deve ser
transformado para, finalmente, tornar-se sujeito capaz da verdade (FOUCAULT,
2006, p. 21).
A AD não é uma análise do pensamento, nem da teologia, a hermenêutica feita pelo
menor pentecostal não busca o que estaria oculto na fala, pois esta é revelada ao ancião, e uma
vez apresentada em forma de homilia, no lugar sagrado atribuído, na hora da Palavra, é recebido
como real e verdadeiro, o que direciona e dá sentido de vida, visto que:
Para a espiritualidade, a verdade não é simplesmente o que é dado ao sujeito a fim de
recompensá-lo, de algum modo, pelo ato de conhecimento e a fim de preencher este
ato de conhecimento. A verdade é o que ilumina o sujeito, a verdade é o que lhe dá
beatitude, a verdade é o que dá tranquilidade de alma. Em suma na verdade e no acesso
à verdade há alguma coisa que completa o próprio sujeito (FOUCAULT, 2006, p. 21).
A verdade buscada na espiritualidade, na reunião cúltica, a verdade transmitida na
homilia no momento “Da Palavra”, diferente da verdade buscada no academicismo, objetiva
iluminação e tranquilidade, não propriamente conhecimento, ao menos não conhecimento
técnico, erudito ou acadêmico, o sujeito busca identidade, sentido existencial,
complementariedade, motivação e orientação para suas ações e relações sociais, a algo que
ilumina o ser, que dá sentido e completa o próprio sujeito, e todo esse processo desmorona
quando o menor é excluído da CCB e condenado em vida ao ostracismo eterno.
Sócrates é disciplinado e excluído da irmandade ateniense por questionar não os deuses
em si, mas a quietude da juventude diante da mediação dos anciãos, quietude diante do desejo
do saber que é próprio do ser humano pensante.
Aquele que se desidentifica de uma dada ideologia, porque passa a se identificar a
outra formação ideológica, ou que se contra-identifica (sic) com uma ideologia,
porque passa a ocupar outra posição, oposta à primeira; e é também o sujeito singular
que se manifesta nos lapsos do inconsciente, movido pelo desejo (CARMAGNANI;
GRIGOLETTO, 2013, p. 26).
179
Contudo, esse desejo e vontade de saber é subordinado a história na tradição
institucionalizada. Foucault (1996, p. 18) indica que o discurso passa a ser controlado,
organizado, sistematizado e distribuído pela instituição que exerce força de ordem diante de
outros discursos e, parafraseando Durkheim, declara: “exerce sobre outros discursos [...] uma
espécie de pressão e como que um poder de coerção”.
[...] uma vontade de saber que impunha ao sujeito cognoscente (e de certa forma antes
de qualquer experiencia) certa posição, certo olhar e certa função ver, em vez de ler,
verificar, em vez de comentar); [...] ora, essa vontade de verdade [...] apoia-se sobre
um suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por todo um
compacto conjunto de práticas (FOUCAULT, 1996, p. 17).
Retornando à afinidade entre a ordem e a estrutura do discurso, a análise crítica que
Foucault faz ao diálogo entre Sócrates e Alcibíades nos serve de analogia em relação à crise do
adolescente ateniense de encontrar seu espaço no sistema político local e do menor pentecostal
que se permite à delinquência e vida criminal. Sócrates demonstra a má sorte do jovem diante
de seus sonhos de glória e poder: como tornar-se governante de Atenas se é inferior em
educação, riqueza e força?
Alcibíades de fato não sabia o que não sabia a respeito de si, da vida e da sociedade,
logo, como ocupar-se – cuidar de si mesmo –, se não se sabe realmente quem é o eu a ser
cuidado?
[...] olha um pouco o que és em face daqueles que queres afrontar e então descobrirás
tua inferioridade. E esta inferioridade não consiste apenas em que não és mais rico e
não recebeste educação, mas também em não seres capaz de compensar estes dois
defeitos (riqueza e educação) com aquilo que, unicamente, poderia permitir-te
afronta-los sem demasiada inferioridade: um saber, uma tékhne (FOUCAULT, 2006,
p.47).
Apesar de Alcibíades ser um jovem de nascimento privilegiado em família nobre,
diante de suas ambições, Sócrates apresenta-lhe uma outra realidade. Alcibíades era inferior
aos seus concorrentes, tanto em riqueza quanto em educação, e o que poderia lhe fazer a
diferença seria o domínio técnico, que também não o tinha, assim sendo, o filósofo recomenda
ao jovem que cuide de si antes de pensar em cuidar da cidade, da política, do governo, do
exército.
Se trouxermos a questão socrática do cuide de si mesmo ao adolescente antes
pentecostal institucional, agora excluído, porém ainda crente pentecostal, antes eleito para a
eternidade, agora caído da graça, antes estudante, agora fichado, antes livre nas ruas do bairro,
agora cumprindo medidas socioeducativas na FUNDAÇÃO, este menor teria sérias dúvidas em
180
definir-se como cristão, evangélico, pentecostal, salvo, perdido, criança, adulto, trabalhador,
criminoso, e poderia se questionar: De qual eu devo cuidar?
O desejo de poder da juventude ateniense é o mesmo desejo de poder da juventude
periférica:
Jovens que, desde a mocidade, são devorados pela ambição de prevalecer sobre os
outros, sobre seus rivais na cidade, assim como sobre seus rivais de fora da cidade,
em suma, de passar a uma política ativa, autoritária e triunfante (FOUCAULT, 2006,
p. 55).
A questão de dar um sentido triunfante à vida – muitas vezes até em detrimento ao
outro – não limita-se à adolescência, nem aos jovens da periferia, ela permeia a história humana
de um indivíduo que nasce mau e deseja satisfazer os seus desejos de liberdade dominando o
outro (HOBBES, 1588-1679), contudo, é na adolescência que a busca de sentido de vida
demonstra força e paixão, e a dialética percebida entre os discursos doutrinários, CCB, e do
proceder, PCC, encontram ecos na mente e no coração deste adolescente. Sobre esse momento
e a busca existencial, Foucault declara que:
[...] é o momento em que o jovem deixa de estar nas mãos dos pedagogos e de ser, ao
mesmo tempo, objeto de desejo erótico, momento em que deve ingressar na vida e
exercer seu poder, um poder ativo. Todos sabemos que, certamente em todas as
sociedades o ingresso do adolescente na vida, sua passagem à fase que denominamos
“adulta”, é problemática e que a maioria das sociedades ritualizou fortemente esta
difícil e perigosa passagem da adolescência à idade adulta (FOUCAULT, 2006, p.
107).
O rito de passagem da infância para a vida adulta é interrompido na FUNDAÇÃO, no
recorte dos 12 aos 21 anos56, sonhos de formatura do ensino médio, ingresso em alguma
faculdade, tirar a carteira de habilitação, dar um rolê numa nave, ou simplesmente o primeiro
trampo registrado foram interrompidos. A ausência, o desconhecimento ou mesmo abandono
dos pais compõe a nova verdade deste menor, e a exclusão da irmandade da fé se torna a última
pá de terra em cima do caixão daquele que agora é morto, “pois perante Deus o que pecou
morreu espiritualmente” (CCB, 1971, 36º assembleia, tópico 59).
O rito de passagem que a escola proporciona através da formatura foi interrompido, o
discurso padrão dos adultos do “vai estudar pra ser gente” já não fazia sentido antes, pois não
56 O período máximo de exclusão social ao menor infrator no atual sistema é de até 3 anos. Um adolescente que
seja direcionado ao período máximo de cumprimento de medidas socioeducativas aos 17 anos, 11 meses e 29
dias, poderá ficar recluso até os 21 anos.
181
via em sua quebrada exemplos de sucesso social e econômico nos adultos que passaram pela
escola. Agora, excluído da igreja, também abandona a escola.
O alto nível de evasão escolar, que ao final de 2010 apontava cerca de 3.6 milhões de
crianças e adolescentes fora das escolas, com cerca de 21% de abandono e/ou reprovação,
apenas no ensino médio57, explica a impossibilidade técnica de sucesso àqueles que não foram
afortunados de nascimento. O adolescente não é incentivado, motivado nem assistido pelo
Estado, sendo que a ação deste ocorre a partir da lógica discriminatória do constructo social do
menor – negro, pobre, periférico, marginal –, que “foca unicamente no que há de mais negativo
nas regiões periféricas, que é a ação sobre a questão da criminalidade, deixando de lado todas
as demais necessidades” (MARQUES, 2015, p. 45). A escola da periferia não atrai o menor e
assim como a...
[...] crítica da pedagogia ateniense como incapaz de assegurar a passagem da
adolescência à idade adulta, de assegurar e codificar este ingresso na vida, parece-me
constituir um dos traços constantes da filosofia grega. Podemos até dizer que foi aí –
a proposito deste problema, neste vazio institucional, neste déficit da pedagogia, neste
momento político e eroticamente conturbado do fim da adolescência e de ingresso na
vida – que se formou o discurso filosófico, ou pelo menos a forma socrático-platônica
do discurso filosófico (FOUCAULT, 2006, p. 107).
Tanto no trabalho de Foerster quanto no de Marques a questão da vulnerabilidade
social é destacada, e em um país de dimensões geográficas continentais, desigualdades e
distanciamento sociais ficam ainda mais evidentes.
É fato que crianças, adolescentes, jovens e adultos moradores das periferias das
grandes capitais convivem com insuficiência da ação do poder público, em que a precariedade
ou mesmo ausência total de serviços de saúde, transporte, educação e cultura são parte da
realidade de desesperança do menor, e tais temas insolúveis aparecem resolvidos num passe de
mágica por ilusionistas políticos em meses que antecedem as eleições.
Moradores das periferias, incluindo os menores, acostumam-se a ir e vir diante dos
perigos de ruas sem asfalto e sem iluminação, córregos e sistemas improvisados de esgotos a
céu aberto, e não apenas a violência, mas também a assistência social continuam sendo
praticadas por um poder paralelo que assume o espaço deixado pelo poder público, com seu
discurso e códigos próprios, são percebidos e reconhecidos pelos moradores e admirados pelos
menores.
57 Cf. em: https://academia.qedu.org.br/censo-escolar/evasao-escolar/ Acesso em: 04 jun. 2021.
182
Essas condições levam a população local a desenvolver mecanismos próprios de
sobrevivência, incluindo redes sociais não oficiais, que assim como a doutrina da CCB não são
descritos em compêndios, porém são conhecidos, assumidos e praticados pelos moradores.
As pessoas vivem em redes de dependência, difíceis de serem rompidas. Essas redes
são diferentes em cada sociedade. O modo como o indivíduo se comporta é
determinado por suas relações passadas ou atuais com as outras pessoas. E a
interdependência das funções humanas sujeita e molda, de forma profunda, o
indivíduo. As redes humanas têm uma ordem e leis diferentes daquelas planejadas e
desejadas pelos indivíduos que a compõem (MARTELETO; SILVA, 2004, p. ??).
Longe do discurso do crime não há casos de sucesso que inspirem o menor da periferia
à vida adulta, com exceção à música e ao futebol. Os meninos da periferia ausentes da escola
não chegarão à fase adulta com possibilidades de sucesso social, para os pentecostais ainda há
o sonho de se tornar cantor ou pregador gospel, para os excluídos não.
Neste contexto real e cruel de abandono social vivido pela juventude brasileira, a
transição para a vida adulta ocorre dentro de suas principais, talvez únicas, redes de
relacionamento local, a igreja e o crime, sendo que, das duas, o menor acaba de ser excluído
sumariamente de uma.
No diálogo entre Sócrates e Alcibíades, ecoa a dúvida do adolescente pentecostal
excluído da CCB: “supondo que tivesses que escolher entre morrer hoje ou continuar a levar
uma vida sem brilho, o que preferirias?” (FOUCAULT, 2006, p. 43).
O mundo sem brilho e desorganizado do menor a partir do discurso doutrinário de
exclusão da CCB pode ser reestruturado, a dialética entre conversão e salvação e exclusão e
condenação tem afinidade com outro discurso, outra fala, a fala do crime:
Essa fala do crime teria a função de reorganizar o mundo desorganizado pela
experiência do crime, para isso simplifica o mundo criando preconceitos, estereótipos
e caricaturas, dividindo o mundo entre bem e mal. A autora comenta: ‘a ordem
simbólica engendrada na fala do crime não apenas discrimina alguns grupos, promove
sua criminalização e os transforma em vítimas da violência, mas também faz o medo
circular através de histórias e ajuda a deslegitimar as instituições da ordem e legitimar
a privatização da justiça e uso de meios violentos e ilegais’ (CALDEIRA, 2003, p. 43
apud ALMEIDA, 2008, p. 11586)
3.2 – Afinidade eletiva entre os discursos
[...] os adolescentes de determinadas Unidades de Internação conhecidas como
unidades dominadas, encontram-se conectados às instituições prisionais do estado de
São Paulo, bem como às áreas urbanas controladas por membros do PCC. Em tais
espaços institucionais, os roubos, assim como as frequentes agressões entre os
adolescentes, deixaram de ser práticas corriqueiras. Atualmente, os ideais de Paz,
183
Justiça, Liberdade e Igualdade, que segundo meus interlocutores constituem o lema
do Primeiro Comando da Capital, fazem parte do léxico mobilizado pelos internos
(MALLART, 2011, p. 61).
A simultaneidade nas relações com o Estado (FUNDAÇÃO), com o crime organizado
(PCC), e com a fé pentecostal (CCB), exige do menor a capacidade de interlocução aprofundada
com o léxico de cada universo, e não apenas isto, mas a confecção de um dicionário próprio
que permita o trânsito inteligível entre os campos ideológicos dentro de um mesmo espaço, o
que explica a afinidade entre os enunciados próprios da CCB e do crime, criado e desenvolvido
no ambiente doméstico, comunitário, cúltico e prisional. Sem essa correlação o menor excluído
não transita, não interage, não sobrevive.
A dialética entre a discursividade doutrinal da CCB e do proceder do PCC ocorre a
partir da pessoa do menor infrator pentecostal, cidadão de dois mundos, agente emissor e
receptor do discurso, consumidor e operador de dois sistemas de capitais e valores simbólicos
próprios (BOURDIEU, 2015). Essa dialética tem correlação espacial na vila, na comunidade,
na quebrada onde vive, e temporal no recorte aqui analisado, visto que a partir dos anos 80
temos, no boom da criminalidade juvenil sentido nas ruas, a evidenciação nos Censos oficiais.
Em virtude disto, buscamos, por meio da hermenêutica do sujeito – menor infrator pentecostal
–, identificar as afinidades eletivas na discursividade doutrinal da CCB e criminal do PCC.
As igrejas pentecostais, assim como o PCC, fazem parte desse cenário social,
juntamente com os bares e outras redes de engajamento ativas, que são influências direta e
indireta como empreendedores morais. A adesão a um desses espaços de sociabilidade não
significa a ruptura com os outros; e nesse sentido, percebemos, no interior das relações travadas
na Vila Leste, aproximações e uma “coexistência pacífica” entre os diversos atores e redes de
engajamento existentes (MARQUES, 2015, p. 24).
As dificuldades de aproximação e apropriação da hermenêutica do sujeito menor
infrator pentecostal foram indicadas acima, e quando o objeto é o coletivo, a comunidade, a
vila, a favela ou a quebrada, a tarefa transforma-se em verdadeira utopia e assumidamente
impossível, pois não existe uma identidade de favela, antes, várias, diversas e múltiplas
identidades, contudo, se muitas são as características que distinguem a pluralidade das
comunidades de periferia, algumas lhe são comuns, entre estas, a presença das igrejas
pentecostais.
Na correlação espacial, de acordo com o último Censo Demográfico (2010), tínhamos
11,4 milhões de pessoas residindo nas comunidades carentes que, segundo o órgão oficial, são
classificados em:
184
Um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais (bairros, casas,
etc.) carentes, em sua maioria de serviços públicos essências, ocupando ou tendo
ocupado, até o período recente, terreno de propriedade alheira (pública ou particular)
e estando disposta, em geral, de forma desordenada e densa (IBGE, 2010).
Tal qual a utopia de classificar as comunidades em um único perfil, em uma única
identidade, assim seria utópico no universo eclesiástico. A visão de mundo de uma coletividade
religiosa, como a irmandade da CCB, não pode ser teorizada, sistematizada e organizada de
maneira restrita pela ciência, não é possível, ou não seria recomendável racionalizá-la, nem
mesmo quando feito dentro de um recorte fechado, pois, mesmo dentro de contexto específico,
há de se considerar a experiência de cada indivíduo diante do mesmo contexto, de cada ouvinte
diante do mesmo discurso, discurso que no contexto evangélico pentecostal é central, orientador
e estrutural nos encontros cúlticos, e para o menor infrator da CCB pode ser determinante,
inquestionável e excludente.
3.3 Discurso pentecostal
Após a saudação inicial, cantam-se três hinos, escolhidos por integrantes da
assembléia (sic) e cuja escolha é confirmada pelo ancião ou dirigente do culto. Segue
o momento da oração, em que o êxtase, a emoção e a palavra são liberados; há pessoas
que oram em línguas (glossolalia). No fim deste momento, uma voz se levanta e se
impõe sobre as outras. Encerra-se este momento com um hino, e o dirigente anuncia
que as pessoas têm a liberdade de dar o seu testemunho, louvando e dando glórias a
Deus pelas maravilhas que Deus operou em suas vidas. O dirigente dá os avisos e
chama mais um hino. É o momento do recebimento da palavra, destacado pelo
dirigente e talvez o mais festivo de todo o culto. O dirigente ou uma pessoa
convidada faz a leitura da Bíblia e em seguida o discurso (FOERSTER, 2009, p. 23,
grifo nosso).
Uma observação mínima e superficial da história das igrejas, tanto protestantes
tradicionais quanto evangélicas pentecostais, nos permite inferir que o discurso público, a
homilia, pregação, sermão ou simplesmente o “momento da Palavra”, consiste em sua maior
fonte de captação e manutenção de fiéis, e ainda, sustentação, apologia e padronização das
práticas doutrinárias.
A homilia pode ser compreendida por diferentes prismas, gerando diferentes impactos
dentro da história e prática da fé protestante e evangélica. Para esta pesquisa adotamos o
significado dado por Broadus (1870, p. 23): “O grande meio apontado para se divulgar as boas
novas da salvação através de Cristo é a pregação – palavras proferidas ao indivíduo ou à
assembleia. E nada pode superá-la” (grifo nosso).
185
A discursividade cúltica, a pregação ou as palavras proferidas na assembleia solene,
fazem parte da liturgia protestante, evangélica e pentecostal, e no seu contexto cúltico ocupa
lugar de destaque “E nada pode superá-la”, não apenas pelo tempo dedicado a cada encontro
para o discurso da fé, quanto pela sua estética, tendo o púlpito – local da pregação – como
imagem central das igrejas, o que pode ser observado nas imagens das igrejas pentecostais
abaixo:
Figura 18 – O local do púlpito nas igrejas evangélicas
Fonte: Imagens públicas de redes sociais – Elaborado pelo autor.
Pode até ocorrer divergências doutrinárias, e de fato ocorrem, diversas entre os
discursos apresentados, contudo, a arquitetura interna mantém o padrão de destaque à pregação,
tanto nas igrejas tradicionais (Batistas, Presbiterianas), quanto nas pentecostais (Assembleia de
Deus, O Brasil Para Cristo, Deus é Amor), bem como nas denominadas Neopentecostais
(Universal, Renascer e Bola de Neve).
Figura 19 – O local do púlpito nas igrejas evangélicas 2
Fonte: Imagens públicas de redes sociais – Elaborado pelo autor.
186
Um passeio panorâmico sobre a teologia do discurso, ou simplesmente homilética,
pode trazer uma compreensão melhor sobre a força que o discurso tem nos encontros semanais
das igrejas pentecostais e a influência que este tem na vida dos menores infratores da Fundação
Casa, visto que também na CCB o púlpito é lugar e o discurso o momento de destaque de suas
reuniões.
Figura 20 – O Local do púlpito na CCB
Congregação Cristã do Brasil, Brás, São Paulo - SP
Fonte: Imagens públicas de redes sociais
Sendo um tema de relevância e direcionamento na história da fé cristã protestante e
evangélica pentecostal, muitos são os textos e os cursos que ensinam a arte da pregação. Sobre
sua importância, Stott (2003, p. 15) assevera:
A pregação é indispensável para o cristianismo. Sem a pregação, ele perde algo
necessário que confere autoridade. Isso porque o cristianismo é, essencialmente, uma
religião da Palavra [...] foi dada pelo meio mais direto de comunicação que nos é
conhecido, a saber por uma palavra ou palavras.
Broadus (1870, p. 21), ao comparar a força do discurso da pregação cristã e outras
formas de fé, afirma que:
No mundo greco-romano do primeiro século a.d., o filósofo pregador, empregando o
instrumento finamente polido da retórica grega, não era uma figura desconhecida. Mas
nem a religião judaica, nem a filosofia grega deram à pregação a significância que ela
possui no cristianismo, onde ela constitui a função primária da igreja [...]
A simbologia do púlpito, a força e centralidade do discurso, o carisma dos pregadores
e a expansão do discurso, como nas rádios (anos 50 a 70), televisão (anos 80 a 2000) e mídias
sociais (a partir dos anos 2000), serviu de mola propulsora para o crescimento dos evangélicos
187
no Brasil, saltando de 3% nos anos 50 para 22% no Censo de 2010, gerando um fenômeno
inédito no século passado, a construção das megas igrejas evangélicas.
Tabela 12 – As Dez Maiores Igrejas Evangélicas – 1991 – 2000 – 2010
Igreja Membresia 1990 Membresia 2000 Membresia 2010
ADs 2.439.763 (1) 8.418.140 (1) 12.314.410 (1)
Batista 1.532.676 (3) 3.162.691 (2) 3.723.853 (2)
CCB 1.635.984 (2) 2.489.113 (3) 2.289.634 (3)
IURD 268.956 (8) 2.101.887 (4) 1.873.243 (4)
IEQ 303.267 (7) 1.318.805 (5) 1.808.389 (5)
Adventista 706.407 (5) 1.209.842 (6) 1.561.071 (6)
Luterana 1.029.679 (4) 1.062.145 (7) 999.498 (7)
Presbiteriana 498.207 (6) 981.064 (8) 921.209 (8)
Deus é Amor 169.341 (9) 774.830 (9) 845.383 (9)
Maranata - 356.021 (10)
Metodista 138.885 (10) 340.963 (10)
Fonte: Dados do IBGE – Elaborado pelo autor
Enquanto as igrejas da segunda onda brasileira (1953 a 1976), IPDA e OBPC
expandem seus discursos e suas membresias através dos pregadores radialistas, Manoel de Melo
e David Miranda, as AD’s avançam territorialmente através da migração, identidade cultural
interna e da descentralização ministerial, diferente da CCB, ainda vista como igreja étnica e de
liderança centralizada, que neste ínterim perde a liderança no crescimento entre as igrejas
evangélicas.
Simultaneamente a esses movimentos denominacionais nacionais, temos o pluralismo
religioso e a secularização58 (BERGER; LUCKMANN, 2004) avançando na Europa e EUA,
que não apenas questiona como desacredita no conhecimento “auto evidente”, mundo,
sociedade, vida e identidade são problematizados sempre com mais vigor.
O discurso religioso deve ser submetido a várias interpretações, e cada uma delas está
ligada com suas próprias perspectivas de ação. No mundo religioso, secular e plural, nenhuma
interpretação ou perspectiva pode ser assumida como única, em validade, ou serem
consideradas inquestionavelmente corretas, o que, como já apresentado, torna-se um problema
dentro da discursividade da CCB, visto que o estudo das sagradas escrituras é proibido, tanto
ao menor quanto ao ancião.
58 Temas a serem abordados no capítulo quatro.
188
‘Há servos que interpretam como uma proibição de estudo a parte da palavra que diz:
“e o muito estudar enfado é da carne.’ - não é proibido estudar. Nesta reunião é dado
esclarecimento a todos: o que não podemos fazer é estudar a palavra de Deus
(CCB, 1971, tópicos ensinamento anciãos, 46, grifo nosso).
Não havendo material teológico, o debate é proibido e o ato de questionar o lugar ou
a fala doutrinal a partir da figura do ancião se torna em si um pecado, na interpretação do menor
infrator excluído, sem perdão.
Na verdade, nem o próprio ancião pode questionar as oportunidades sociais,
econômicas e profissionais a ele ofertadas, dentro das diversas situações que a modernidade
propõe, ou impõe, ao ser humano globalizado, como transferências de local de trabalho,
promoções, oportunidade de estudo aos filhos, entre outros.
4 - MUDANÇAS DE LOCALIDADE
Deus não erra quando levanta um ancião, diácono ou cooperador para determinada
localidade. E, como é que a pessoa não encontra condições materiais e se muda? Si
Deus até então o tem ajudado, não o poderá continuar ajudar? Assim é deliberado que
quando o servo for transferido para outra localidade pela firma em que trabalha, ele
deve obedecer; porém, quando muda por ambição de querer melhorar a situação
material que até então era boa, ou visando a comodidade de filhos que estudam,
perderá o ministério. Quem milita deve militar legitimamente. Alguns mudam para
melhorar a situação financeira e colocam substitutos em seus lugares querendo de
longe atender a Obra, isto não está certo, devendo assim deixar o ministério. Si
transferidos pela firma em que trabalha, quando aposentados devem voltar a sua
comum Congregação. Não se pode impedir que mudem, porém que fiquem sentados.
(CCB, 1970, tópicos de ensinamentos 4).
A CCB não adere à modernidade, o indivíduo fiel não tem opinião própria sobre o
discurso, o culto não busca a racionalidade, o modismo Gospel e a tecnologia midiática dos
anos 90, que leva a expansão à outras igrejas, inclusive às AD’s, são apontadas como “entrada
do mundo nas igrejas”. A CCB mantém, talvez aumente, sua separação, exclusivismo e rigor
moral através e a partir do discurso cúltico, de onde também aplica sua disciplina e exclusão.
Sobre o rigor moral e a disputa de mercado interno entre as ADs e CCB, Alencar (2012, p. 179)
entende que:
A concorrência com a CCB é menor, como já falado no capítulo anterior, mas ela
acontece no mesmo front; a questão da “santidade” no rigorismo moral, das
vestimentas, da pureza litúrgica, da leitura mística da Bíblia. E espaços geográficos
antes somente ocupados pelas ADs, agora também são alcançados pela CCB. Em um
momento em que as ADs estão se urbanizando e, lentamente, estão se adequando aos
novos modelos, a CCB se abrasileiriza reafirmando uma postura extremamente
dogmática.
189
O ancião, sem estudo ou preparação humana racional, é o agente da revelação do
divino, sua autoridade é inquestionável e suas falas determinantes e irrevogáveis. Nada mudou
na CCB; os debates teológicos e doutrinários não interessam, pois são filosofias humanas, o
ancião é a autoridade, pois seu discurso não é próprio, não é humano, não é teológico, mas
transcendente.
A busca por uma “essência” transcendente é praticamente uma pedra filosofal
epistemológica, pois quem é possuidor do conhecimento da essência possui também
o conhecimento universal e, assim, não precisa mais investigar a coletividade, seja ela
de qual ordem for. Dito de uma forma mais direta, quem possui a essência não precisa
ouvir mais ninguém, pode retirar-se do diálogo e elaborar teorias a partir de suas ideia
[...] Com essa chave ideal, o lugar de fala deixa de ser a determinação das inúmeras
relações sociais que oprimem grupos e pessoas e passa a ser a condição única e
privilegiada do emissor do discurso, ou seja, deixa de ser um lugar social para ser um
lugar individual e, dito claramente, egocêntrico (GOMES, 2019, p. 165).
Diante da não racionalização da fé, da impossibilidade ao estudo e da negação ao
debate bíblico, o discurso é imposto ao fiel, e na condição de agente único do púlpito e detentor
da força do discurso em sua fala, o ancião “... procura incluir o auditório institucionalmente e
em termos lingüísticos (sic), revestindo seu discurso com certa não-reversibilidade para
‘conduzir os fiéis à conclusão institucionalizada [CCB]’” (FOERSTER, 2009, p. 180).
A não reversibilidade diante do pecado sem perdão é certa, não há espaço ou
oportunidade para discussões ou debates, a ausência da possibilidade ao diálogo é tão
condenatória quanto a exclusão da membresia. Fazer parte de uma irmandade em que sua visão
e experiência com a palavra sagrada lhe seja negada já é uma condenação em si; impõe-se a
inexistência do eu antes da condenação do sujeito.
O diálogo é o encontro entre os homens, mediatizados pelo mundo, para designá-lo.
Se, ao dizer suas palavras, ao chamar ao mundo, os homens o transformam, o diálogo
impõe-se como o caminho pelo qual os homens encontram seu significado enquanto
homens, o diálogo é, pois, uma necessidade existencial (FREIRE, 1980, p. 82).
O discurso cúltico, valorado pelos termos linguísticos de um léxico próprio da CCB,
conduz o menor infrator à conclusão irreversível da condenação, o que fica evidenciado em sua
fala: “Senhor, eu pequei, pra mim já era. Estou no inferno, não tem perdão. Agora é o seguinte:
Virei o ‘S’”.
Ao considerarmos o discurso disciplinador e excludente da CCB diante dos pecados
considerados sem perdão, a interpretação deste pode não representar o coletivo, a irmandade,
visto que não há um raciocínio coletivo único, a experiência pessoal do indivíduo diante do
190
sagrado muitas vezes o distancia do coletivo dentro do mesmo contexto sagrado, e ao que se
refere ao discurso doutrinário de exclusão...
[...] alguns aspectos do objeto a interpretar só são acessíveis a certos tipos de
raciocínio – a razão de ser de tal fato é precisamente o da compreensão histórica não
ser intemporal como o conhecimento matemático ou científico, mas, antes em si
mesmo moldada pelo processo histórico de autorreflexão filosófica (MANNHEIM,
2008, p. 87).
No caso do menor pentecostal, acrescenta-se o molde e a autorreflexão teológica.
Importante entender, neste momento da pesquisa, que a afinidade do discurso entre a
doutrina da CCB e do proceder da criminalidade não corresponde a uma relação direta de causa
e efeito, o constructo histórico que demonstrou a concomitância temporal não registrou
intencionalidade, assim sendo, o discurso é moldado no processo histórico de cada ouvinte.
Para Mannheim (2008, p. 87), há uma relação interpretativa diante do espírito de uma época e
o nosso espírito, e esta ainda é moldada a partir da experiência e relação temporal de existência
social, “isso só quer dizer que a cada nível etário compreendemos o traço ou aspecto de caráter
que é acessível a esse nível”. Dentro desta concepção é possível inferir que no recorte etário
infantojuvenil e dentro do nível de conhecimento que o menor tem das questões transcendentes,
vida e morte, salvação e condenação à mensagem doutrinária que exclui e o coloca em
condenação eterna ainda em vida, gera afinidade com a mensagem criminal.
3.4 Discurso criminal
É no meio da primeira década o século XXI que o PCC se estabelece como movimento
presente no cotidiano de periferias paulistas: citações a um proceder se tornam parte
do vocabulário de membros e não membros, notícias sobre debates para resolver
conflitos se tornam cada vez mais frequentes e o vocabulário de posições como
disciplina, vapor, gerente, patrão, disciplina, piloto e correria atravessam as paredes
das prisões e se tornam cada vez mais comuns nas ruas (SILVA, 2017, p. 19).
A estrutura do discurso do crime permite a reorganização do mundo desorganizado do
menor ex-membro da CCB, excluído e condenado em vida a uma vida de ostracismo diante do
sistema que estava inserido. A aceitação na nova irmandade, a legitimação após novo batismo
e o respeito adquirido na comunidade não apenas deslegitimam o discurso doutrinal anterior de
exclusão como confere nova condição existencial e social ao menor infrator, excluído na CCB
e agora convertido ao PCC.
191
Digamos muito grosseiramente (trata-se aqui também de um sobrevoo muito
esquemático) que esta conversão pode ser feita sob a forma de um movimento que
arranca o sujeito de seu status e de sua condição atual (FOUCAULT, 2006, p. 20).
O sujeito convertido é arrancado de certa condição, cultura e autopercepção de si
mesmo, do eu ainda inconcluso dentro de sua juventude, do eu que outrora não era uma
construção discursiva própria, mas definido por discursos externos, e diante da vida regrada de
negações e dos sacrifícios feitos para permanecer na irmandade de fé, ao ser preterido, excluído
e condenado, questiona toda a prática sacrificial exercida até então.
Lembremos que o eu apresenta-se como um valor universal, mas, de fato, acessível
apenas a alguns. E este só pode ser efetivamente atingido como valor sob a condição
de certas condutas regradas, exigentes e sacrificiais, sobre as quais voltaremos. E
enfim o acesso ao eu esta associado a certas técnicas, praticas relativamente bem
constituídas, relativamente bem refletidas, e, de todo modo, associadas a um domínio
teórico, a um conjunto de conceitos e noções que integram realmente a um modo de
saber (FOUCAULT, 2006, p. 221).
O menor pentecostal estava inserido em um edifício religioso que lhe impunha uma
estrutura que não lhe era clara, não compreendia em sua totalidade, que não lhe gerava acesso
ao saber nem lhe permitia o cuidado de si, e ainda, os exemplos de continuidade e manutenção
da fé se tornaram fardos insuportáveis, onde o discurso não se dava pelo sucesso de jovens que
se tornam anciãos na instituição, antes, no medo da exclusão dos jovens que saíram, hoje estão
condenados à danação eterna, ao ostracismo social e não se deve com estes ter contato, nem
mesmo cumprimentar.
09 - CASO LEVY DE SOUZA LIMA
Esta pessoa não é mais considerada cooperador e nem nosso irmão. Cometeu atos que
feriram a moral, tendo confessado, o mal que praticou. Foi feito circular para toda a
irmandade do Brasil, avisando que não recebam tal criatura (CCB, Assembleia de 07
e 08 de abril de 1966, tópico 9).
“Pra mim já era”
‘Cláudio me perguntava sobre a vida na faculdade, expliquei pra ele que ganhava uma
bolsa de quase dois salários-mínimos pra estudar e fazer uma pesquisa, ele me disse
que dois salários era muito pouco, que isso dava pra ganhar numa noite boa no corre.
Cláudio estava sentado no degrau da escada que levava até a sala de oficinas do
Núcleo São Judas, eu estava em pé, encostado em uma parede. Eu brinquei cogitando
uma possível troca de profissões, ele riu e me disse: que isso professor, você tá com a
vida ganha, a gente tá fodido’ (Diário de Campo, Março de 2015) (SILVA, 2017, p.
40)
192
Ao assumir para si o discurso doutrinal de exclusão como verdade estruturante, o
menor infrator pentecostal se inclui, mesmo que inconscientemente, na estatística de tantos
meninos periféricos que não chegaram e tantos outros que não chegarão à vida adulta, converte-
se a uma nova estrutura, adere a um novo código de procedimento e conduta e direciona suas
ações sociais não mais por emoções e sentimentos, mas racionalmente, objetivando os fins.
O fim que se objetiva já não é mais a longevidade; a vida adulta e o envelhecimento
saudável são conceitos ultrapassados, que ficaram dentro do procedimento e do relacionamento
com a irmandade anterior, a pentecostal, da qual está excluído. No desenvolvimento da
assistência prisional, ao se propor reflexão sobre o futuro, vida após medidas socioeducativas,
a vida adulta, formação de família etc., o menor identifica e relaciona estes a um código de vida
que não lhe comporta mais, afinal: “Pequei, pra mim já era, a casa caiu”. Ainda nesse contexto
assistencial, refletindo sobre o futuro incerto da vida criminal, a violência, prisão adulta e morte
prematura, a resposta comum entre os internos é: “tem que curtir o hoje, ninguém no crime fica
velho”.
Ela diz pra mim: seja um bom rapaz
Pratique algum esporte, tenha bons ideais
Afinal de contas o fim do mundo
Não é nenhum fim de mundo
E se for... descance em paz
E no final da madrugada
Perambulando pelos bordéis
Decadence - é melhor viver
Dez anos a mil, do que mil anos a dez (Lobão, 1985).
Retornando ao relato do menor Claudio, que entende que: “quem estuda tá com a vida
ganha, quem está na Fundação tá fodido”, o que vale é o aqui e o agora, “Deve-se consumar a
vida antes da morte, deve-se completar a vida antes que chegue o momento da morte”
(FOUCAULT, 2006, p. 137). A nova irmandade é orientada por outro discurso que o menor
infrator excluído da CCB rapidamente assume.
“Virei o S”
Em sua aula de 20 de janeiro de 1982, Foucault analisa a crítica de Seneca para
compreensão da velhice como mero termo ou fim de vida, e ainda, a concepção grega de fases
existenciais, em que a vida é repartida em diferentes idades, tendo cada qual um modo próprio
de se portar, de se conduzir, de proceder para o desenvolvimento de seu pensamento. Seneca
propõe uma metáfora de perseguição e fuga:
193
[...] fazei como se fosseis perseguido, vivei apressado, senti (sic) que durante toda a
vossa vida há pessoas atras de vós, inimigos que vos perseguem... diante destes
inimigos deveis fugir [...] apressai-vos em direção ao lugar que vos oferecerá um
abrigo seguro (FOUCAULT, 2006, p. 136).
O menor infrator excluído da CCB não tem mais a segurança da instituição religiosa,
não encontra segurança presente nem sentido de futuro na escola, é perseguido pelas estatísticas
que indicam que “As taxas de mortes por agressão entre jovens de 15 a 19 e de 20 a 29 anos
são muito superiores à taxa média da população” (Fórum Brasileiro de Segurança Pública59,
2010). Dentro das redes de apoio, o que lhe sobra e pode lhe dar segurança, sentido e status de
vida? O crime é a resposta que lhe sobra.
Moleque corpo fechado (sic) é disposição pior que veneno de escorpião, mas segue o
seu caminho sem vacilação e me diz que quando crescer quer fazer parte da facção...
Moleque corpo fexado (sic) é disposição pior que veneno de escorpião, mas segue o
seu caminho sem vacilação e me diz que quando crescer quer fazer parte da facção...
Respeitado pela comunidade pode crer, respeito si dar para você obter ninguém
atravessa seu caminho pois tá ligado moleque é guerreiro e nunca foi derrotado.
Comando ordenou moleque obedeceu, representou na missão os monstro agradeceu...
Chamado de terrorista criado na maldita é o menor revoltado mas tem a voz ativa (MC
Primo, PCC Contra Ataca, 2009)60.
A conversão ao partido salvou o menor excluído da CCB do ostracismo social e lhe
conferiu um novo sentido existencial, o novo eu será “associado a certas técnicas, práticas
relativamente bem constituídas”, no linguajar do partido, será associado ao proceder.
Dentro da nova irmandade não precisa esperar pela vida adulta para ter direito a fala,
para liderar, oposto do que ocorre na CCB, mesmo fiel à instituição, dentro das regras e padrões
doutrinários não é possível assumir o púlpito aos 15 anos, enquanto no proceder, o poder da
fala é alcançado se o moleque caminhar no correto.
Isso aí (o contato mais próximo com o Comando) foi quando eu virei gerente. Isso aí
eu lembro, já um pouquinho antes de eu vir pra cá (Pinheiros) o parcerinho que tava
(sic) lá na gerência rodou, pegou 7 ano de prisão. Já era de maior e tal...aí os cara (sic)
começou: ‘porra coloca o Eduardo e tal’. E o pessoal lá ficava assim: ‘É , mas é muito
novo... sei lá’. Aí eu fui lá e falei que queria ser.
– Mas você só chegou e se apresentou?
– É, fui com um parceiro que eu ajudava antes...antes de ser vapor, ele que me levou.
Eu fui lá e falei: 'se é pra ser, eu sou! Tranquilo, faço a do gerente!'
– E eles?
– Eles ficaram meio pá com o negócio de eu ser menor... 15 anos e tal... mas aí eu
disse que já tinha uns gerente menor na quebrada. Que eu sabia que idade num diz
nada, o bagulho é seguir no certo e tal. Aí virou, eu fui fazer a de gerente, 15 pra 16
anos isso... faz um tempo, foi tipo... fim de 2013’ [SILVA, Transcrição de Entrevista:
16 de setembro de 2015].
59 Cf. em: https://forumseguranca.org.br/
60 Cf. em: https://www.youtube.com/watch?v=7_U6AN9fpc8.
194
De fato, a nova irmandade não possui uma classe de catecúmenos ou de integração,
não há um compêndio de procedimento e moralidade, não há um cursinho preparatório para o
seu batismo, todavia, seus códigos de conduta são específicos, claros e objetivos, e dentro de
um contexto social e do Estado de Direito são ilegais, contudo, dentro do seu contexto próprio
são legítimos, justos e morais, tal qual verdadeira constituição, legisla e define o certo, tal
padrão de conduta é exigido a partir de um discurso interno que burocratiza, sistematiza e
organiza a facção, a facção se apresenta como PCC e seu código moral é denominado
“Proceder”.
3.4.1 O PCC
O Primeiro Comando da Capital (PCC), é a facção criminosa paulista que surge no
início dos anos 90 unindo presos em torno de um tema comum: “Maus tratos e abandono do
sistema carcerário”, sucedendo, unindo e – quando necessário – aniquilando grupos anteriores.
Inicia seu projeto de poder no interior de São Paulo, em 1993, e assume protagonismo nacional
menos de dez anos depois, parando a maior cidade do país, em Maio de 2006, durante cerca de
quinze dias.
O PCC seria uma continuidade, espécie de filho do grupo “Serpente Negra”, que no
final dos anos 80 evocava ser a voz dos presos no interior de SP, um grupo pensante dentro da
penitenciária, que questionava a falta de médicos, remédios, a ausência de assistência jurídica,
a não liberação de presos com sentenças já cumpridas, superlotação, enfim, o grupo criticava a
postura do Estado denunciando este como o primeiro a descumprir o sistema penal, e assim
sendo, o Estado não “tem moral” para cobrar um procedimento dos presos.
Tabela 13 – Aumento da população carcerária
População
Ano Geral Encarcerada Aumento
1980 119 061 470 16 425 Quantidade %
1991 146 815 818 90 000 73 575 448
2000 169 872 856 232 755 142 755 159
2010 190 755 799 496 251 263 496 113
Fonte: Dados do IBGE – Elaborado pelo autor
195
Com aumento de 159% na população carcerária entre o Censo de 1991 e 2000, e de
479.826 ou 2,921% no período desta pesquisa (1980 a 2010), é fácil compreender que as vozes
internas dos presídios aumentaram e que o ambiente estava pronto para algo que ainda não se
sabia ao certo o que seria, todavia, o combustível estava cheio, o fósforo aceso, bastando alguém
que ateasse o fogo.
Num contexto prisional de superlotação, insatisfação e violência, o surgimento de uma
liderança só seria possível também com violência e força, os discursos internos dos grupos
existentes e as falas externas dos que ecoavam aqui e ali eram inconclusos, de certa forma
vazios, sem força e não inspiravam a população carcerária até que o algo esperado e não previsto
acontecesse, o evento de 02 de outubro de 1992: “O massacre do Carandiru”, a fagulha que
ateou fogo na população carcerária, a insatisfação ecoa e ganha força nas delegacias, cadeias,
casas de custódia, presídios e FEBEM’s Brasil afora. De fato, o massacre torna-se o grande
estopim, gerando dois sentimentos na população carcerária:
a) Medo de novos massacres – sentimento de desassistência e abandono;
b) Revolta – sentimento de ódio, desprezo pelo Estado e desejo de vingança.
Este cenário favorece o movimento e a proposta de unir os presos e de lutar contra o
sistema ganha a simpatia de toda a carceragem e menos de um ano após o massacre do
Carandiru, o PCC nasce no “Piranhão” – presídio de segurança máxima de Taubaté, SP – os
eventos entre 1992 e 2006 indicam os motivos, início, organização, expansão, estabelecimento
e definição ideológica da facção.
Quadro 13 – Linha do Tempo PCC – Do interior de SP para o Mundo
02/10/1992 Massacre do Carandiru – SP 111 mortos
31/08/1993 Declaração Fundação PCC 2 mortos
28/10/1997 Rebelião – Presídio Taubaté 27 reféns
31/12/1997 Rebelião – Casa Detenção Sorocaba 670 reféns
13/07/2000 Rebelião – Presídio Pres. Bernardes 5 mortos
28/07/2000 Rebelião – 3 Penitenciárias Hortolândia 480 integrantes PCC
07/08/2000 Governo do Estado "Cita" PCC 1ª vez que reconhece
24/10/2000 Governo do Estado Inicia mapeamento 3 anos pós 1ª rebelião
25/11/2000 Rebelião – Casa de Custódia Taubaté 3 mortos
17/12/2000 Rebelião – Casa de Custódia Taubaté 0 mortos
25/12/2000 Fuga - Penitenciária Hortolândia 22 escaparam
18/01/2001 PCC atinge 7 mil integrantes Reportagem Folha SP
22/01/2001 Rebelião - Casa Custódia Avaré 4 mortos
26/01/2001 Divisão – Presídio do Carandiru "repartido" 3 Facções dominam
196
Quadro 13 – Linha do Tempo PCC – Do interior de SP para o Mundo
(Continuação)
29/01/2001 Resgate – Penitenciaria de Araraquara 5 presos resgatados
11/02/2001 Secretário “PCC NÃO é inusitado” Marco V. Petrelluzzi
11/02/2001 Primeiras reportagens sobre Origem PCC Reportagem Folha SP
18/02/2001 MEGA Rebelião 32 presídios 6 mil reféns
27 mil presos rebelados 19 Mortos
19 Cidades - Faixas e Cartazes "1533-PJL" PCC – Paz, Justiça e Liberdade
19/02/2001 Secretaria ADIMITE a existência PCC Nagashi Furukawa
19/02/2001 Divulgação do Estatuto do PCC Reportagem Folha SP
21/02/2001 GOVERNO faz acordo com PCC Transferência 381 Presos
22/02/2001 Rebelião – São José Rio Preto
23/02/2001 PCC faz propaganda – Faixas pela cidade Reportagem Folha SP
24/02/2001 200 Batismo do PCC Antes de transferências
25/02/2001 PCC em expansão – Facção em 8 Estados SP, ES, PR, RD, MT, MS, CE, AL.
27/02/2001 PCC faz churrasco de comemoração PCC em cadeia Nacional
01/03/2001 Manifesto do PCC Se não trocar a diretoria do Taubaté haverá guerra
23/10/2002 Assassinato – Dra. Ana Olivatto H. Camacho Mulher de Marcola
Cezinha e Geleião expulsos do PCC Marcola assume o comando geral
12/05/2006 Transferência 765 presos Venceslau 2
12 a 21/05/06 MEGA Rebelião – 74 em Presídios SP 59 agentes penitenciários mortos
21/05/2006 ATAQUE à Cidade – 90 ônibus incendiados 564 assassinatos – em 15 dias
22/05/2006 Acordo (?) Estado x PCC – Fim do ataque Lembo e Marcola
13/08/2006 Guilhermen Portanova – jornalista sequestrado PCC comunicado em Rede Nacional
Fonte: Reportagens do Acervo Folha de SP – Elaborado pelo autor
O início do partido é narrado por José Marcio Felício, o Geleião, ex-membro fundador
do partido:
[...] 1993 estava preso em Taubaté, lugar horrível e massacrante, eu estava disposto
em mudar o sistema, no Piranhão havia entre nós os presos da capital e do interior, o
diretor autorizou que a gente criasse um campeonato de futebol, uma chance de pegar
aqueles caras, dei o nome do nosso time de PCC – Primeiro Comando da Capital, mas
não deu certo porque eles não jogavam com nóis (sic), estavam em outra galeria, então
eu tive uma ideia colocamos outros sentenciados para sair em nosso lugar, ficamos
esperando para sair com a turma da galeria debaixo os caras que a gente queria pegar,
e ai chegou o dia, quarta-feira, uma da tarde, 31/08/1993, saímos para o pátio, primeiro
sou eu, segundo Misa, Da Fé, Bicho Feio, Dudu, Cezinha, Zé Cachorro e Esquisito ,
depois soltaram Severo e Garcia chefes da turma debaixo, quando eles viam nóis (sic)
os outros não entraram, assim que Severo e Garcia entram no pátio nós ficamos em
posição e ai começou a matança, com um soco eu estourei a cabeça do Garcia,
colocaram linhas no pescoço do Severo e o enforcaram no meio do pátio, quando tudo
acabou chamei todos no meio do pátio e ali com as mãos sujas de sangue falei: ‘Aqui
197
neste momento está fundado o PCC – primeiro comando da capital; vamos combater
os corruptos e os opressores do sistema prisional!’61 (Uol Notícias, 08/11/201962).
A partir da declaração de início, 1993, ações de violência e morte internas e externas
fortalecem o grupo dos 8, a entrada, saída e transferência de presos cumpre o papel de
multiplicação e comunicação no ambiente prisional, primeiro no Estado de São Paulo, passando
pelo Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, chegando à região Norte, em
Rondônia e no Nordeste com Ceará e Alagoas, e o partido já conhecido e difundido entre os
presos se apresenta ao Mundão – sociedade externa – em sua primeira rebelião em Taubaté,
era o ano de 1997, 27 reféns, algumas execuções, imagens captadas por helicópteros,
transmissão em rede nacional e a primeira reportagem de jornalismo investigativo indica um
suposto crime organizado, suposto PCC.
Em 2000, novas rebeliões no interior de São Paulo, reféns, acertos de contas internas,
aniquilação de grupos anteriores e rivais, mortes violentas ocorrem e pela primeira vez o
Governo do Estado assume a possibilidade de uma “Organização Criminosa”, e após três anos
do nascimento desta, informa que fará um mapeamento nos presídios, contudo, nada efetivo
acontece.
Figura 21 – Mega Rebelião, 2006
Fonte: Estadão - Durante os ataques de maio de 2006, o PCC tomou o controle de 94 presídios em São Paulo.
Na foto, Penitenciária de Junqueirópolis. Alex Silva/ESTADÃO63
61 Esse relato é parte do documentário “PCC - Primeiro Cartel da Capital”, lançado em novembro de 2019 pelo
selo MOV.doc do UOL: https://www.uol.com.br/play/reportagens-especiais/pcc.htm. 62 Cf. em: https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/jose-marcio-vulgo-geleiao-fundador-do-pcc-
revisita-surgimento-da-faccao/ 63 Cf. em: https://infograficos.estadao.com.br/cidades/dominios-do-crime/poder-geografico/
198
Após novas rebeliões, fugas em massas e resgates cinematográficos, o partido estende
seu braço e, segundo reportagem da Folha de 18 de janeiro de 2001, atinge o número de 7 mil
integrantes na facção, contingente que atua dentro e fora dos presídios. Para aqueles que na
época ainda duvidavam – em especial o Governo do Estado de São Paulo, um mês depois da
reportagem o grupo mostra sua força com a primeira “Mega Rebelião” da história do sistema
carcerário, envolvendo presídios, casas de custódia e FEBEM’s, 27 mil presos envolvidos, o
Brasil e o mundo conhecem o slogan 1533-PJL – PCC Paz, Justiça e Liberdade –, pintado no
chão e nos muros dos presídios e em faixas e cartazes nas ruas de São Paulo, neste mesmo mês
o Estatuto do PCC é divulgado, e o Proceder é iniciado dentro e fora das cadeias de maneira
oficial, o proceder trará mudanças no relacionamento entre presos no sistema fechado e entre
criminosos nas vilas e comunidades, pacificando as relações e burocratizando as rivalidades,
desavenças e os homicídios, o que será percebido nos índices de segurança pública após o
“Ataque” de 2006, a partir desta data não se mata por qualquer um motivo isolado, nem dentro
das cadeias nem nas comunidades, para tirar a vida de alguém, exige-se um debate, a “Palavra”
de ordem vem do comando, dos líderes fundadores, dos anciãos do PCC, mesmo à distância –
por celular –, e a palavra dada não volta vazia.
O PCC é um sentimento, antes de ser uma facção, de ser um movimento político
partidário contra o Estado Democrático de Direito, ele é um sentimento de ser
humano, e eles [O Estado] não combateram por quê? Porque sentimento é igual a
Palavra: ‘Não volta vazia’. Depois que você solta ela (sic) alguém vai se identificar
(Kaskão – documentário MOV.doc – Uol tv, grifo nosso)64.
Ao analisarmos o documentário, percebe-se que quando Kaskão cita “A Palavra” seu
dedo aponta para cima e sua expressão facial tem leve mudança, indicando algum tipo de
reverência para com a própria citação que acaba de fazer. A ideia de que alguém se identifica
com o discurso proferido, concorda com a Ordem do Discurso de Foucault (1996), que
compreende que quem dá força ao discurso é o ouvinte.
A mudança facial, tom de voz e o gestual percebido no relato do ex-presidiário ao
relacionar sentimento humano e palavra proferida quando afirma: “Porque sentimento é igual a
Palavra: “Não volta vazia”, indica autoridade de quem profere, obediência de quem ouve e fé
no discurso.
Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que
primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador
64 Documentário “PCC - Primeiro Cartel da Capital”, lançado em novembro de 2019 pelo selo MOV.doc do
UOL: https://www.uol.com.br/play/reportagens-especiais/pcc.htm.
199
e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca: não voltará para
mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei (Is
55,10-11, grifo nosso)65.
O movimento iniciado por Geleião tem proposta muito radical, torturas e decapitações
de opositores e rivais, atentados a bomba, invasões de prédios públicos, sequestro e morte de
familiares de políticos, advogados, promotores e juízes, tal postura não cabe no mundo business
do crime, e o movimento que inicialmente era de protesto político e antagônico ao Estado, se
permite a acordos e conchavos com outros grupos criminosos no Brasil e exterior, e mesmo
com o próprio Estado, tendo como ponto marco deste relacionamento o acordo com o famoso
assaltante de bancos da época, Marcos H. Camacho e o assassinato de sua advogada; este
incidente mudou não apenas a ideologia e o comando do PCC, mas o discurso.
O discurso inicial de vingança e terror é substituído por um discurso burocrático e
financeiro, e foi assim narrado por Geleião:
Quando estávamos no Deic, fazendo a negociação com o promotor, sobre como seria
nosso banho de sol, como seria o tratamento lá, entre outras coisas, Marcola estava
presente. Mal sabíamos que tudo era uma trama, contada depois pelo promotor Márcio
Christino. Ele lançou um livro chamado Laço de Sangue, no qual conta que Marcola
passava informações. O doutor Ruy, delegado de Roubo a Bancos, não quis ouvir
apenas a doutora Ana Olivatto. Ele colocou no papel que ela era informante do Deic
e lá estava tudo: todas as ordens que eu mandava, planos de ataque e de resgate...
O Deic era informado assim, o delegado vinha tomando conhecimento da organização
e ia prendendo os integrantes.
Porém o Deic queria mais: tirar Geleião e Cesinha do poder, porque nós dois éramos
os ‘loucos’, os líderes máximos.
O documento do depoimento de Ana Olivatto foi vendido a nós pelo valor de R$ 30
mil por um investigador da equipe do doutor Ruy, um homem da lei!
O investigador marcou um encontro com a mulher de Cesinha para vender a delação
de Ana Olivatto. A esposa de Cesinha comprou por R$ 30 mil, porém foi vista pela
doutora Ana, que imaginou que ela estava traindo Cesinha.
O que Ana fez? Foi para Bernardes e falou que a mulher do Cesinha tava traindo ele.
Cesinha ficou louco e disse: ‘Vou matar essa vagabunda!’
Dias depois, em um horário de visita, chegaram a esposa de Cesinha e a minha. As
duas iam juntas.
Ela mal chegou e Cesinha já a xingava. Ela não entendia nada, até falei:
‘Cesinha, deixa ela explicar.’ Ela foi no banheiro e lá tirou o papel e mostrou o que
era.
Quando Cesinha acabou de ler, a única palavra que saiu da sua boca foi: ‘Ana tem
compromisso com a polícia, ela tem que morrer’.
‘Por quê?’, perguntei.
‘Leia o papel’, Cesinha disse.
E lá estava a confissão dela.
Ana foi decretada e o salve foi passado para o cunhado de Cesinha, o falecido ‘Ceará’
(UOL notícias. São Paulo. 08/11/2019)66.
65 BÍBLIA, 2003. 66 Cf. em: https://noticias.uol.com.br/reportagens-especiais/jose-marcio-vulgo-geleiao-fundador-do-pcc-
revisita-surgimento-da-faccao/#cover
200
Com o salve dado, Ana Olivatto Camacho, advogada e esposa de Marcos H. Camacho
– Marcola – foi executada, após sua morte os primeiros anciãos do partido são expulsos e o
modelo terrorista dá lugar ao empresarial, o uso da força e a violência na facção dentro e fora
dos presídios ficam sujeitos ao código moral da facção, o proceder passa a legislar de fato e de
direito.
O PCC nasce em 1993 com oito membros, e no período desta pesquisa estima-se 33
mil membros – 8 mil só em São Paulo – colaboradores que, debaixo do discurso do proceder,
mantêm-se fiéis ao partido, mandando suas contribuições mensais, sustentando, propagando,
defendendo e expandindo dentro e fora dos presídios a irmandade criminosa.
3.4.2 O Proceder
Por proceder, entende-se: Regulação moral dos membros do PCC, conduta interna, e
avaliação ou julgamento da sociedade, conduta externa.
Proceder é o conjunto de regras e valores, códigos de procedimento, modo de conduta
aceito pelo membro do partido após batismo, instrumento de avaliação em casos de conflito
entre membros, modus operandi do membro, tanto dentro quanto fora do partido. O Estatuto da
facção criminosa foi divulgado na íntegra em reportagem67 da Folha de São Paulo, em 19 de
fevereiro de 2001. Abaixo apresentamos o texto na íntegra, sem correções ortográficas e
gramaticais, mantendo a originalidade do material, conforme produção dos seus idealizadores.
ESTATUTO DO P.C.C.
Lealdade, respeito, e solidariedade acima de tudo ao Partido.
1. A Luta pela liberdade, justiça, e paz.
2. A união na Luta contra as injustiças e a opressão dentro da prisão.
3. A contribuição daqueles que estão em Liberdade com os irmão dentro da prisão,
através de advogados, dinheiro, ajuda aos familiares e ação de resgate.
4. O respeito e a solidariedade à todos os membros do Partido, para que não haja
conflitos internos, pro que aquele que causar conflito interno dentro do Partido,
tentando dividir a irmandade será excluído e repudiado do Partido.
67 Cf. em: https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u22499.shtml
201
5. Jamais usar o Partido para resolver conflitos pessoais, contra pessoas de fora.
Porque o ideal do Partido está acima de conflitos pessoais. Mas o Partido estará
sempre Leal e solidário à todos os seus integrantes para que não venham à sofrerem
nenhuma desigualdade ou injustiça em conflitos externos.
6. Aquele que estiver em Liberdade ‘bem estruturado’ mas esquecer de contribuir com
os irmãos que estão na cadeia, será condenado à morte sem perdão.
7. Os integrantes do Partido tem que dar bom exemplo à serem seguidos e por isso o
Partido não admite que haja: assalto, estupro e extorsão dentro do Sistema.
8. O partido não admite mentiras, traição, inveja, cobiça, calúnia, egoísmo, interesse
pessoal, mas sim: a verdade, a fidelidade, a hombridade, solidariedade, e o interesse
comum ao Bem de todos, porque somos um por todos e todos pro um.
9. Todo integrante tem que respeitar a ordem e a disciplina do Partido. Cada um vai
receber de acôrdo com aquilo que fez por merecer. A opinião de Todos será ouvida
e respeitada, mas a decisão final será dos fundadores do Partido.
10. O Primeiro Comando da Capital – P.C.C. fundado no ano de 1993, numa luta
descomunal e incansável contra a opressão e as injustiças do Campo de
Concentração “anexo” à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, tem como tema
absoluto “a Liberdade, a Justiça e a Paz”.
11. O Partido não admite rivalidades internas, disputa do poder na Liderança do
Comando, pois cada integrante do Comando sabe a função que lhe compete de
acôrdo com sua capacidade para exercê-la.
12. Temos que permanecer unidos e organizados para evitarmos que ocorra novamente
um massacre, semelhante ou pior ao ocorrido na Casa de Detenção em 02 de
outubro de 1992, onde 111 presos, foram covardemente assassinados, massacre este
que jamais será esquecido na consciência da sociedade brasileira. Por que nós do
Comando vamos sacudir o Sistema e fazer essas autoridades mudar a prática
carcerária, desumana, cheia de injustiça, opressão, torturas, massacres nas prisões.
13. A prioridade do Comando no montante é pressionar o Governador do Estado à
desativar aquele Campo de Concentração “anexo” à Casa de Custódia e Tratamento
de Taubaté, de onde surgiu a semente e as raízes do Comando, no meio de tantas
lutas inglórias e a tantos sofrimentos atrózes.
14. Partindo do Comando Central da Capital do KG do Estado, as diretrizes de ações
organizadas e simultâneas em todos os estabelecimentos penais do Estado, numa
guerra sem tréguas, sem fronteiras, até a vitória final.
202
15. O importante de tudo é que ninguém nos deterá nesta luta porque a semente do
Comando se espalhou por todos os Sistemas Penitenciários do Estado e
conseguimos nos estruturar também do lado de fora, com muitos sacrifícios e
muitas perdas irreparáveis, mas nos consolidamos à nível estadual e à médio e longo
prazo nos consilidaremos à nível nacional. Em coligação com o Comando
Vermelho – CV e PCC iremos revolucionar o país de dentro das prisões e o nosso
braço armado será o Terror ‘dos Poderosos’ opressores e tiranos que usam o Anexo
de Taubaté e o Bangú I do Rio de Janeiro como instrumento de vingança da
sociedade, na fabricação de monstros.
O proceder enquanto signo de uma moralidade assume, basicamente, duas formas
cotidianas: a primeira diz respeito a construção e avaliação de condutas pessoais que
tem o próprio proceder como signo positivo e a segunda diz sobre um exercício
político do Primeiro Comando da Capital de espalhamento da sua concepção dos
valores de paz, justiça, liberdade e igualdade em determinados territórios (SILVA,
2017, p. 30).
O proceder não é um código oculto, místico, gnóstico, que fique acessível a poucos,
aos líderes, fundadores ou anciãos do Partido, antes, é divulgado, difundido, pregado entre os
membros do partido – denominados irmãos ou fiéis – e reverbera entre os amigos e vizinhos do
partido, é palavra discursada e também palavra cantada entre a irmandade.
Vocês devia (sic) agradecer, nós do pan da capital
Que deixamos todas vilas e cadeias na moral
Já não morre mais ninguém, nós que fez acontecer
Essa música faz parte, assim, assim, de um dossiê
Que denuncia as mazelas do sistema prisional
No interior paulista falo aqui de Venceslau (Trilha Sonora do Gueto, Cascão, W2
Proibida, 2015)68.
Acredita-se que a música W2 Proibida foi um pedido da facção criminosa vindo de
dentro do sistema prisional com objetivo de dar um salve geral à irmandade e mandar um recado
ao Governo do Estado e da União. Valendo-se de uma nova linguagem, de maneira inédita,
alcança cerca de 150 mil visualizações nas duas primeiras semanas de exibição no Youtube. A
letra faz menção direta ao complexo penitenciário Presidente Venceslau II, Venceslau, SP,
sendo: “W” de Wenceslau, “2” de complexo II e “Proibida” de segurança máxima, e ainda
critica Regime Disciplinar Diferenciado – RDD.
68 Cf. em: https://www.youtube.com/watch?v=D9S72snUGO0
203
No período final de nossa pesquisa, temos anúncio e propaganda política apontando
exponencial diminuição dos homicídios no Estado de São Paulo, números estes utilizados como
sendo ação do Estado, contudo, conforme letra “W2 Proibida”, não foram as políticas de
segurança pública que diminuíram os homicídios e trouxeram a paz na quebrada, mas o
proceder da facção que trouxe ordem dentro do sistema carcerário – Presídios e FEBEM –, e
nas comunidades.
Segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, em fevereiro de 2012,
comparado com fevereiro do ano passado, o indicador apresentou redução de 2,17%
nos homicídios. “São Paulo já teve uma queda nesses últimos dez anos de 70%
praticamente”, destacou o governador (BRASIL, 2012).
Não apenas a segurança pública e a quebrada, também a vida desorganizada do menor
pentecostal excluído encontra possibilidade de ordem numa estrutura discursiva e
comportamental denominada “Proceder”.
Em contrapartida, quando das minhas conversas com sujeitos mais jovens
(majoritariamente os adolescentes em medida) o proceder aparecia com grande
estima e parecia ser um organizador constante de suas vidas cotidianas. Tal
impressão frente a jovens que tenham relação com o Comando aparecem também na
etnografia empreendida por Fabio Mallart (2011) [...] entre adolescentes internados
na Fundação Casa (SILVA, 2017, p. 34, grifo nosso).
Na nova organização de vida e existência, e nas ações sociais orientadas pelos fins, o
menor não precisa mais esperar a vida adulta para exercer autoridade, para ser visto e
reconhecido, não é mais vítima silenciada de um discurso de exclusão, mas protagonista,
executor, operador e mesmo legislador de um novo código, um novo proceder e um novo
discurso.
É a partir da perspectiva de sujeitos periféricos nascidos entre a segunda metade da
década de 90 e a primeira metade dos anos 2000 no estado de São Paulo que se dá
esta pesquisa. São estes jovens que aparecem como estética imediata do ‘crime’ na
cidade ao ocupar e circular por ruas e esquinas, e são também estes jovens que
aparecem como responsáveis pela resolução dos conflitos cotidianos nas quebradas
(SILVA, 2017, p. 25).
A questão discursiva demonstra afinidade eletiva entre os campos, onde o domínio do
linguajar próprio faz diferença na relação do menor com a irmandade, tanto pentecostal quanto
criminal.
No proceder criminal, a resolução dos conflitos ocorrerá através dos debates, e o uso
correto dos termos e das palavras para se defender diante de uma situação de conflito podem,
204
literalmente, gerar vida ou morte, salvar ou condenar o menor, e ainda, dominar a língua própria
do crime identifica o menor diante da vizinhança, conferindo-lhe status de adulto no crime,
abrindo espaço na condução dos negócios da facção e dando oportunidades para crescer na
hierarquia em que as...
[...] posições de trabalho carregam consigo uma certa ordem etária: em sua maioria os
adolescentes lidavam com as posições de olheiros e vapores, enquanto adultos
ocupavam cargos de gerente e patrão. Em minha experiência de campo pude observar
uma sensível mudança: o fato de cada vez mais jovens de 15 a 17 anos ocuparem
cargos de gerência em biqueiras e de sujeitos entre 11 e 14 anos ocuparem cargos de
olheiros e vapores. A primeira impressão que tive era a de que as oportunidades
estavam sendo oferecidas e aproveitadas por pessoas cada vez mais jovens (SILVA,
2017, p. 49).
No universo evangélico, o falar em línguas estranhas, língua dos anjos ou línguas
sobrenaturais, é o distintivo do proceder religioso pentecostal desde o início do movimento,
visto que: “Em consequência ao Pentecostes que eclodia em Topeka, Parham formulou a
doutrina de que as línguas eram a evidencia bíblica do batismo no Espírito Santo” (SYNAN,
2009, p. 18). Falar em línguas confere status dentro da instituição religiosa, o membro é visto
e reconhecido como alguém “mais espiritual” que os que não falam, e permite a este participar
das ações cúlticas, afinal de contas: “Todos os que temos nascido no Senhor Jesus temos
recebido o Espírito Santo, na nova regeneração que então se evidência de línguas” (CCB. -
Assembleia de 31 de março a 04 de abril de 1969, tópicos de ensinamento 28). O batismo nas
águas somado ao batismo na promessa – falar em línguas – confirma o ingresso, de fato e de
direito, nas relações internas da CCB, inclusive aos menores.
[...] aos 12 anos de idade, se batiza: ‘Eu comecei a congregar assim nos cultos, né. Aí,
veio aquela alegria assim, aí logo eu me batizei’. Em 2005, ele é ‘batizado na
promessa’ e começa a falar em línguas. Hoje, ele toca violino na Reunião de Jovens e
Menores e no culto da noite, mas ainda não é oficializado. Desde 2005, ele é auxiliar
de jovens. Tanto na Congregação Cristã como no bairro da Vila Moraes, Laércio
possui uma estima elevada (FOERSTER, 2009, p. 245).
Dentro da simultaneidade espacial da quebrada, os dois códigos demonstram caráter
dinâmico, sendo constantemente atualizados na entrada e saída das cadeias, presídios e
Fundação, e no ir e vir, abrir e fechar das igrejas da periferia, sendo os ...
[...] adolescentes em medidas socioeducativas, [principais interlocutores] Malvasi
descreve como a gramática do crime enquanto instância moral cotidiana formata uma
certa apropriação de mundo destes sujeitos a partir de seus valores morais [...] quando
olhamos para ambientes juvenis de internação provisória como é o caso da Fundação
205
Casa, vemos o aparecimento de uma maior cristalização dos códigos e formas de
organização do PCC entre os adolescentes internados (SILVA, 2017, p. 23-24).
O menor pentecostal já conhecia e interagia com o linguajar do crime, contudo, dentro
da FUNDAÇÃO o discurso é mais vivo e intenso, as gírias da quebrada não são apenas
conversas paralelas, das esquinas e becos, agora compõe vocabulário único em sua nova rotina,
os termos se tornam mais claros e o menor se apropria destes e organiza seu mundo a partir
deste.
3.5 Léxico Criminal
A gíria pode ser um modo de fala cotidiana e espontânea, ou um código linguístico
fechado de determinados grupos sociais.
Dentro de um contexto específico, é a forma de comunicação e relação social entre
iniciados de um grupo fechado, expressão de forma, de cultura e mentalidade de um grupo.
O grupo pode ser definido e fechado a partir de:
a) Gostos e afinidades – Musicais, esportivas, moda;
b) Crenças e doutrinas – Irmandades e Igrejas;
c) Profissões – Sindicatos e entidades profissionais;
d) Conduta marginal – Transgressões a valores e tradições sociais;
e) Associação Criminal – Facções, Comandos, Famílias.
Ao que se refere à comunicação marginal, a gíria objetiva identificação de seus
membros, a não compreensão dos não membros – principalmente da polícia –, como também
gerar identidade, unidade e proteção de seus membros, quando em cárcere, e ainda:
Espécie de autobiografia da má vida, constituída de agressividade, ironia mordaz,
exasperada visualidade, secreta melancolia, cujo protagonista é uma linguagem capaz
de uma relação total com a realidade apresentada, dotada de uma tensão e de um
impacto que não é arriscado definir como subversivo (FERRERO, 1972, apud
OLIVEIRA, 2006, p. 26).
O dicionário a seguir foi colhido na revisão bibliográfica e no cotidiano da assistência
prisional religiosa, e não pretende esgotar o assunto, são 100 verbetes que apresenta parte da
linguagem que o menor precisa conhecer para transitar e sobreviver nos dois campos.
206
Quadro 14 – Verbetes do crime
Verbete Significado
1 171 Mentiroso, contador de história, enrolador;
2 1533 PCC;
3 Abastecer a caveira Se alimentar;
4 Aliviar a Mente Masturbação;
5 Animal - Cadela Prostituta, puta;
6 Animal - Canguru Se agachar para exame íntimo;
7 Animal - Cão Ânus;
8 Animal - Gato Pênis;
9 Animal - Mula Quem leva e traz drogas;
10 Animal - Rato Policial;
11 Arma - Balaço Tiro bem executado, atingiu o alvo, matou alguém;
12 Arma - Ferro Arma de fogo;
13 Arma - Máquina Arma automática;
14 Arma automática Revolver calibre 38;
15 Aviãozinho Entregador do tráfico;
16 Caibrada Surrar, bater, torturar alguém;
17 Casa Caiu Deu tudo errado, a polícia chegou, preso em flagrante;
18 Casa virou Rebelião na unidade prisional;
19 Cordinha Pão duro, não empresta o que tem;
20 Corre junto com Estar em concordância com alguém. Funcionário, Polícia, Irmandade
etc.;
21 Dá o papo Falar o que sabe, entregar alguém;
22 Dar as caras Aparecer, chegar no lugar;
23 Dar o serviço Entregar o esquema, falar, delatar;
24 Dar um back/Tapa Uso compartilhado de maconha;
25 Debate Julgamento dos líderes de causa entre membros do partido em oposição;
26 Decidir a vida Sentença de morte;
27 Decretado, jurado Sentenciado a morte;
28 Descabelar o palhaço Ter relação sexual;
29 Desenrolar Resolver questões;
30 Deu de cara De frente com a polícia;
31 Entrando de juca Sem noção completa do que está acontecendo;
32 Farmácia/Lojinha Ponto de venda de entorpecentes;
33 Faz uma Dividir algo: Comida, cigarro, etc.;
34 Fazer a ponte Ser intermediário entre algo ou alguém;
35 Fazer ou dar pião Dar uma volta, um rolê;
36 Fazer um Ficar em silencio, parar de falar;
37 Fazer um corre Estar na atividade - o Corre pode ser um crime, um trabalho etc.;
38 Fazer um dez Dar um tempo, esperar algo ou alguém;
39 Fazer um pano Apoiar alguém, interceder ou defender alguém fisicamente;
40 Ficar de cristo Amarrado de braços abertos para apanhar;
207
(Continuação)
41 Ficar de morcego Ser pendurado para apanhar;
42 Ficar de valete Dormir em dupla, uma de cabeça para cada ponta da cama;
43 Ficar Churrasqueira Banho de sol no pátio;
44 Firmão, belê Tudo certo, tudo bem – pode ser pergunta, cumprimento, ou afirmação;
45 Fita Evento criminoso, roubo;
46 Fluxo Movimento de compra e venda de drogas;
47 Gororoba, xepa Alimentação;
48 Ir de bonde Ser transferido, camburão;
49 Ir na bota Ir com alguém, estar seguro com alguém, ser suportado por alguém;
50 Ir no corre Estar na atividade - o Corre pode ser um crime, um trabalho etc.;
51 Larica Fome;
52 Lock Lento, louco, perdido no assunto, lerdo;
53 Malaca Malandro, alguém esperto no meio;
54 Meter o Loco Fingir que não sabe o que esta acontecendo de fato;
55 Moleque seguro Menor de confiança na função (atividade criminosa);
56 No maior veneno Situação difícil, sofrendo;
57 Nóia ou bate-nave Viciados, não controlam o uso da droga;
58 O Bíblia Crente, evangélico, pentecostal;
59 O Cabeça Líder, chefe, patrão;
60 O Disciplina Supervisor, responsável pela ordem no bairro;
61 O Gerente Líder imediato dos olheiros e vapores;
62 O Japa Parceiro com traços orientais;
63 O Olheiro Observadores de movimento, pessoas estranhas, policiais;
64 O Padrinho Membro que indica novato e se responsabiliza por ele no proceder;
65 O Patrão Dono de biqueiras;
66 O Responsa Quem está à frente ou no comando da situação;
67 O Vapor Vendedor direto de drogas;
68 Papo reto Conversa franca, objetiva, sem rodeios;
69 Parça, Pai Amigo de confiança na facção ou na comunidade;
70 Passar um pano Perdoar algo leve, deixar pra lá;
71 Pente Fino Revista geral na unidade feita por Policial e/ou Agentes penitenciários;
72 Pesando na Estar incomodando alguém;
73 PJL Paz, Justiça e Liberdade – Slogan do PCC;
74 Põe no micro-ondas Queimar alguém até a morte;
75 Praia Espaço interno do chão entre as beliches;
76 Presunto Morto;
77 Proceder Código de conduta a ser observado nas relações sociais;
78 Quem dá as cartas Manda, decide;
79 Rodou Foi preso;
80 Salve Comunicado do comando do PCC informando diretrizes;
81 Satisfa Prazer em conhecer;
82 Se esconder atrás da bíblia Fingir de crente para não sofrer sanções, principalmente apanhar;
208
(Conclusão)
83 Suave na nave Momento tranquilo, lazer;
84 Sugesta Dar uma ideia ou sugestão;
85 Tá (sair) de bonde Transferido;
86 Tá bonado Estar cheio de dinheiro;
87 Tá na bota Estar com ou depender de alguém;
88 Tá na febre Desejo incontrolável de fazer algo, normalmente sexo;
89 Tá na função Estar oficialmente na incumbência de uma atividade dentro da hierarquia
do crime;
90 Tá na nóia Estar sob efeito de entorpecentes;
91 Tá no corres Fazendo algo, realizando um crime, trabalhando;
92 Tá Osso Difícil de fazer ou realizar;
93 Talarico - fura zóio Dar em cima da mulher do outro;
94 Tomar a nave e dar um rolê Roubar um carro para ir a uma festa, balada etc.;
95 Tomou um flagra Preso em flagrante;
96 Vai ferver Confusão na certa;
97 X9 Dedo duro, fofoqueiro - vulgo “cagueta”;
98 Zerar a casa Revista geral na unidade feita pelo Polícia e ou Agentes penitenciários;
99 Zóio ou Zoião Quem cobiça as coisas;
100 Virar o S Mudança radical de vida, viver de maneira contrária e opositora ao
sistema anterior.
Alguns dos verbetes acima romperam o uso do grupo fechado do crime e passaram a
compor o cotidiano de outros grupos, de amigos, escolares, torcedores e também religiosos,
visto que não é incomum encontrar nos diálogos de membros de igrejas da periferia gírias como
“tô na febre” de chegar na igreja, de cantar, de ministrar, ou, hoje saí do culto na “maior larica”,
esse irmão aí é o maior “171” e, por fim, referindo-se a situações disciplinares da própria
membresia, comenta-se: ficou sabendo que “irmão fulano rodou”?
Se na gíria do crime temos a apropriação de termos em uso livre pelos falantes para
gerar novos significados, como “presunto” para defunto, a adaptação de termos ou uso
assumido de metáforas, como “aliviar a mente” para masturbação, e ainda o diminutivo ou
aumentativo de palavra ou expressão para comunicar algo próprio dentro de um contexto
específico, como “balaço” para tiro certeiro, de maneira similar percebemos o desenvolvimento
dos jargões do evangeliquês.
3.6 Léxico Pentecostal
Sobre o linguajar próprio dos pentecostais, os jargões do “evangeliquês” se valem de
características similares às gírias do crime, apropriando-se de termos bíblicos, adaptando
209
palavras de línguas estrangeiras originais do texto sagrado, grego e hebraico, e ainda, a
aplicação direta a partir de metáforas, como chamar alguém pelo nome de um personagem das
histórias bíblicas, por exemplo: “espírito de Acã”. No registro veterotestamentário, Acã foi um
soldado de Josué que desobedece ao comando divino direto após vitória militar, escondendo
despojos da guerra em sua tenda, característica identificada como roubo, cobiça, avareza,
mesquinharia e desobediência.
Assim sendo, pode-se afirmar que:
Os jargões evangélicos surgiram a partir do uso do texto sagrado da Bíblia, escrita em
outra cultura, num outro tempo e por outro povo. O uso frequente faz com que se
utilizem tais expressões como identidade do grupo. São formas vernaculares que boa
parte da população desconhece. É necessário cuidado no uso recorrente desse tipo de
vocábulo, pois abuso no emprego de jargões cria uma barreira entre cristãos e não
cristãos, inclusive com um vocabulário que identifica aqueles que dominam e os que
não dominam o falar “espiritual” (GOMES, 2003, p. 5).
Tal qual o dicionário do crime, o léxico abaixo não pretende esgotar o assunto, são 70
verbetes que apresentam parte da linguagem pentecostal.
Quadro 15 – Verbetes pentecostais
Verbete Significado
1 Boca no pó Atitude de humilhação, arrependimento ou pessoa de oração;
2 Cajado de fogo Irmão que revela erros – pecados – dos outros;
3 Canela de fogo Pessoa ungida. Pular, girar, correr no culto. Pessoa exagerada;
4 Colocar Deus na parede
Exigir, cobrar algo de Deus, típico das igrejas neopentecostais.
Postura - geralmente - não aceita entre protestantes e
pentecostais;
5 Dar brecha Se colocar em situação de pecado estar vulnerável ou em perigo
espiritualmente;
6 Dar um brado Quando a comunidade reunida grita na hora do culto;
7 Decreta, irmão! Fala positiva para que algo que se queira aconteça;
8 Deixa Deus agir Positiva – crer em mudança, que algo bom irá acontecer;
Negativa – perdeu a esperança, desistiu de fazer algo em prol;
9 Deixa rodar! Incentivo para a dança e o frenesi no momento do culto;
10 Descer do altar Sair do controle, sair da devoção ou reverência;
11 Desviou / desviado Abandonou a igreja;
12 Determina, irmão! Fala positiva para que algo que se queira que aconteça, o mesmo
que “decretar”;
13 Deus pesou a mão Foi castigado;
14 Deus tirou a mão Foi abandonado;
15 Devorador Inimigo espiritual que ataca as finanças;
16 Do maligno Situação, circunstância, evento que se opõe a fé cristã;
17 Do mundo Situação, circunstância, evento que não é permitido ao fiel;
210
(Continuação)
18 É de Deus Situação, circunstância, contexto favorável, palavra de
incentivo;
19 Eis que te digo Fala inicial antes de declarar uma revelação divina sobre a vida
pessoal de alguém;
20 Em espírito de oração Momento introspectivo, oração pessoal e silenciosa;
21 Entrar no espírito Atitude devocional, reverencia, busca de espiritualidade pessoal;
22 Esfriou Afastou-se dos encontros e da irmandade, desanimou na fé;
23 Espírito de Acã Que cobiça as coisas do mundo, pessoa mesquinha, que esconde
as coisas;
24 Espírito de Ananias e Safira Pessoa mentirosa, avarenta; que não dá os 10% - dízimo;
25 Espírito de Dalila Mulher enganadora, que trai o namorado ou marido;
26 Espírito de Jezabel Mulher vulgar, caráter duvidoso;
27 Estar na brecha
Postura de defesa, estar em alerta, cuidado consigo ou outro
alguém, dar suporte espiritual e emocional a outro, ou, estar em
oração;
28 Estar no Manto Falar línguas espirituais, rodar, girar, atitudes expressivas diante
da comunidade local; entrar em êxtase espiritual;
29 Este é Atribulado Membro da igreja que bebe cerveja, ouve músicas seculares;
fala palavras chulas e de baixo calão, irreverente no culto;
30 Este é berço cristão Seus antecessores são cristãos, família tradicional cristã;
31 Este é Ímpio Pessoa descrente, rebelde, desobediente as práticas da fé;
32 Este é Profeta Deus fala por ele, tem revelação divina;
33 Este é de Baal Pessoa rebelde às práticas da fé, falso profeta;
34 Este é um fariseu Membro de igreja mentiroso, duas caras;
35 Este é um filisteu Pessoa descrente, que não crê, incrédulo, opositor a fé cristã;
36 Este é Vaso Homem crente, fiel, bom testemunho;
37 Gafanhoto Inimigo espiritual que ataca as finanças;
38 Incircunciso Incrédulo, opositor, inimigo da fé;
39 Labareda Culto em que “todos” falam em línguas estranhas. Momento do
culto em que o “fogo desce” e há ação de avivamento coletivo;
40 Laço
Trabalho de ocultismo, magia negra etc. Ou ainda, indica
alguém que é usado para tirar outro do testemunho, da fé, da
reverência. Homem ou mulher que assedia alguém casado;
41 Levita do Senhor Músico ou cantor na igreja;
42 Marchar na terra Rotina, cotidiano, dia-a-dia de lutas do crente;
43 Me tirou do espírito Pessoa que tira a paz ou a reverência do outro;
44 Meu Isaque Meu esposo, prometido ou namorado;
45 Minha Rebeca Minha esposa, prometida ou namorada;
46 Ministrar Pregar ou ensinar a Palavra – a Bíblia;
47 Nadando no azeite Pessoa em evidencia no culto, falando em línguas estranhas
e trazendo revelações, “cheia do Espírito Santo”;
48 Nasceu na igreja Está na igreja desde a tenra infância;
49 O homem de branco Referência a alguma visão sobrenatural de Jesus Cristo;
50 Passar pelo Deserto Lutas e dificuldades na vida ou provação espiritual;
51 Passar pelo Vale Estar perdido, ou em provação espiritual;
211
(Conclusão)
52 Pés de fogo Pessoa que dança e roda no momento do culto;
53 Queima ele! Palavra positiva de força e determinação contra alguma situação
ou alguém, ou ainda, repreensão contra espíritos malignos;
54 Reboliço
Ação sobrenatural positiva – culto alegre, festivo, cheio de
pessoas; um grande milagre, uma grande cura divina;
Ação sobrenatural negativa – tragédia, desastre, mortes, um
grande castigo;
55 Receba! Fala positiva que determina cura, vitória, libertação etc.;
56 Reteté
Estilo de culto, com muitas manifestações espirituais - profecias
e revelações, ou ainda, pessoas dançando, rodando, girando e
revelando;
57 Sair do espírito Sair do controle, sair da devoção ou reverência;
58 Sapatinho de fogo Pessoa que dança e roda no momento do culto;
59 Saúdo a Igreja com a Paz do Senhor Comum nas igrejas assembleias de Deus;
60 Ser ministrado Receber o ensino de outrem;
61 Shalom Saudação inicial de cultos e cumprimento entre membros
mais comum em Igrejas neopentecostais autônomas;
62 Tá amarrado Não quero, não aceito isto em minha vida; declaração de prisão
a espíritos malignos;
63 Tá na prova Passando dificuldades;
64 Tá nas mãos do Senhor
Positiva – crer em mudança, que alguma ação divina ocorrerá de
forma favorável;
Negativa – desistiu de fazer algo; que alguma ação divina
ocorrerá em forma de castigo;
65 Tá no Fogo Estar cheio do Espírito Santo;
66 Terra Aviso, alerta de perigo, algum sinal irá acontecer;
67 Tremendo Uma grande conquista (benção), um culto espetacular;
68 Ungido
Pessoa de destaque no culto, alguém usado por Deus, ou ainda,
membro ligado à liderança, mas, que não tem cargo
necessariamente;
69 Vigia, irmão! Chamando a atenção de alguém que está em situação que possa
levar ao erro;
70 Você é cabeça e não calda Nasceu para liderar e não para servir, para estar acima, em
destaque na sociedade.
Os 70 verbetes acima fazem parte do jargão pentecostal popular, contudo, não fazem
parte do discurso da CCB, que se apresenta exclusivista, tendo o seu léxico próprio.
3.7 Léxico CCB
A CCB com seu perfil exclusivista tem em sua produção discursiva histórica um léxico
próprio, distintivo das demais denominações pentecostais. A seguir 30 verbetes introdutórios
da linguagem específica da CCB.
212
Quadro 16 – Verbetes específicos da CCB
Verbete Significado
1 A Paz de Deus Saudação tradicional e exclusiva da CCB, dentro e fora da
igreja;
2 Atender Liderar, conduzir, presidir, estar à frente do culto;
3 Buscar a palavra
Ir à igreja para buscar revelação antes de fechar algum negócio;
escolha de namorado(a), cônjuge, compra de algo de valor.
Quando convicto declara: “Deus confirmou”;
4 Cair da Graça Pecado sem perdão;
5 Chamar um hino
Quando um membro pede ao dirigente que se cante determinado
hino no momento do culto destinado a isso; Distinção apenas
para as crianças ou pessoas não batizadas que não podem
chamar um hino nos cultos, apenas nas reuniões para “jovens e
menores”, que geralmente ocorrem na parte da manhã;
6 Cobre com Teu sangue Fala protetora diante de situações de medo, perigo, aflição;
7 Colocar nas mãos de Deus Abrir mão da ação humana - inclusive justiça, esperar resposta
divina;
8 Comida fria ou requentada
Mensagem preparada a partir do estudo bíblico e teológico;
Palavra considerada sem revelação, ou ainda, qualquer pregação
ou ensino bíblico que não seja no púlpito da CCB;
9 Comum Congregação Expressão que indica a unidade da CCB que o membro
frequenta;
10 Deus abençoe Grato, obrigado, “Deus lhe pague”;
11 Doméstico na fé Pessoa membra atuante na CCB;
12 Esta Graça A própria CCB;
13 Este caiu Membro que teve relação sexual fora do casamento;
14 Este é criatura de Deus Todo e qualquer pessoa não membra da CCB;
15 Este foi levantado para o Ministério
Membro que assume algum posto ou cargo de Anciãos
(chamados anciões), diáconos, e cooperadores de adulto. O
cooperador de jovens e menores, é tido muito mais como um
auxiliar do cooperador de adultos dos que um ministério
propriamente dito;
16 Este foi selado com a promessa Membro que fala em línguas estranhas pela primeira vez;
17 Este obedeceu a Deus Visitante (não membro) que aceita a mensagem e se batiza nas
águas, ou seja, que se torna membro da CCB;
18 Este é primo Demais evangélicos, os não membros da CCB;
19 Fica na comunhão! Chamando a atenção de alguém que esteja conversando no
momento do culto;
20 Irmandade Comunidade de membros da CCB;
21 Leituras estranhas Comentários bíblicos, esboços bíblicos, estudos teológicos;
22 Na obra de Deus homem não aparece Destaque ao caráter divino e sobrenatural e não humano;
23 Nascido na Graça Filho de membro da CCB;
24 Obra de Deus A própria CCB;
25 Pecado de morte Indica membro ou ex-membro que tenha cometido pecado
de adultério;
26 Primitivos da fé Referência a Luigi Francescon e os primeiros anciãos da CCB;
27 Se Deus preparar Resposta padrão para qualquer convite para ir ou fazer algo;
28 Testemunhados Não membro que frequenta regularmente a CCB;
213
(Conclusão)
29 Testemunhança
Momento do culto para falar de algum milagre recebido, ou
mesmo de sua conversão à CCB. Entre os solteiro há momento
especial quando um casal de namorados com data de casamento
marcado, usam o tempo da testemunhança para se despedirem
como solteiros. A partir desse momento eles não podem mais
participar dessas reuniões com “liberdade de solteiro”;
30 Vir para Graça Convite a um não membro - principalmente se já for evangélico,
para vir – e se tornar membro - para a CCB;
3.8 Afinidade entre os campos
Como já identificado, não encontramos relação objetiva de causa e efeito entre a
discursividade doutrinal da CCB e o Proceder do PCC, contudo, dentro do convívio espacial a
partir da hermenêutica do menor infrator, identifica-se afinidades entre alguns códigos do
proceder e circulares da CCB.
No quadro PCC o número corresponde ao item do Estatuto divulgado em 2001, no
quadro CCB o número corresponde a um tópico de ensinamento de circular anual, conforme
indicação, exceção ao Art. 37, que refere-se a 11ª reforma de estatuto de 10 de abril de 2004.
Quadro 17 – Contribuições financeiras
Contribuições à irmandade - PCC Contribuições à irmandade - CCB
3 – A contribuição daqueles que estão
em Liberdade com os irmão dentro da
prisão,
através de advogados, dinheiro, ajuda
aos familiares e ação de resgate.
TÓPICOS DE ENSINAMENTOS - 1964
RESSALVA QUANTO A FALAR DA OBRA DA PIEDADE
Ficou dito anteriormente que não convém dar publicidade ao
povo quanto deu a coleta em benefício da Obra da Piedade;
porém não é por isso que não se pode falar mais desta Obra na
Congregação. Temos obrigação de falar admoestando o povo a se
esforçar para colaborar na Obra da Piedade, expondo a todos a
necessidade de que a irmandade abra o coração ao Senhor e Ele o
mova para contribuir nessas coletas. O que se não deve falar é
quanto rendeu, quanto entrou, quanto saiu.
6 – Aquele que estiver em Liberdade
‘bem estruturado’ mas esquecer de
contribuir com os irmãos que estão na
cadeia, será condenado à (sic) morte
sem perdão.
TÓPICOS - ASSEMBLÉIA DE 01 E 02 DE NOVEMBRO DE
1967
2.13 – TESTEMUNHO A CRIATURAS SÓ DEVE SER DADO
APRESENTADO A SALVAÇÃO - NÃO OFERECER
AUXÍLIOS DA OBRA DA PIEDADE NEM PROMETER
Não devemos dar esperanças a testemunhados de que o Senhor
os curará de enfermidades se batizarem, ou que a Obra da
Piedade os socorrerá. Temos que apresentar somente a salvação
em Cristo Jesus. Nunca prometemos curas, pois isto está nas
mãos de Deus, não é cousa nossa. E não podemos prometer
aquilo que não nos pertence
214
CCB e PCC incentivam suas irmandades a cuidarem, assistirem financeiramente seus
membros, contudo, a contribuição na CCB é voluntária e deve ser feita com descrição e sigilo,
a contribuição no PCC é obrigatória, tanto dentro quanto fora da cadeia, a falta de atenção à
irmandade da facção é uma falta imperdoável, um pecado para a morte.
Quadro 18 – Postura de membros
Postura dentro do PCC Postura dentro da CCB
7 - Os integrantes do Partido tem que
dar bom exemplo à serem seguidos e
por isso o Partido não admite que haja:
assalto, estupro e extorsão dentro do
Sistema.
TÓPICOS DE ENSINAMENTOS - 1964
7 - CONSTRUÇÃO
Não se obriga nem se manda o povo fazer isso ou aquilo; leva-
se a irmandade com boas maneiras e com bom exemplo. Se o
ancião ou cooperador pede a colaboração da irmandade ele
mesmo não se esforça para também dar, Deus endurece o
coração da irmandade e esta não dá nada. Não é preciso que
sejamos ricos, damos segundo nossas forças e o Senhor operará
no coração de todo o povo a quem ajudará nas coletas.
CCB e PCC esperam de seus membros, em especial seus líderes, bons exemplos.
Quadro 19 – Relacionamento entre membros
Relacionamento dentro do PCC Relacionamento dentro da CCB
8 – O partido não admite mentiras,
traição, inveja, cobiça, calúnia,
egoísmo, interesse pessoal, mas sim:
a verdade, a fidelidade, a hombridade
(sic), solidariedade, e o interesse
comum ao Bem de todos, porque
somos um por todos e todos pro um.
TÓPICOS – Assembléia (sic) de 14 a 16 de abril de 1965.
PREGAÇÃO
= 1ª Palavra: Salmos, 74 - 3 a 7 e 21 a 22.
... Quando os servos de Deus estão cheios de virtude, e de graça
ministram os dons ao povo, o Senhor colabora com sinais,
respostas e maravilhas. Mas quando em uma Congregação um
Ancião ou Cooperador permitem que em seu coração se instale a
inveja ou a presunção de que um é maior do que o outro, surge o
assolamento na Obra e os sinais, maravilhas e respostas
desaparecem naquela Igreja. E quando desaparecem isto, logo
surgem os sinais de nosso adversário. Esses sinais são
conhecidos: dissenção, divisão, inveja, ódio, malícia,
murmuração. Que ninguém se engane a si próprio
CCB e PCC não admitem divisões, contendas e discórdias entre seus anciãos e líderes.
215
Quadro 20 – Disciplina aos membros
Disciplina dada pelos fundadores
do PCC Disciplina dada pelos anciãos da CCB
9 – Todo integrante tem que
respeitar a ordem e a disciplina do
Partido. Cada um vai receber de
acôrdo (sic) com aquilo que fez por
merecer. A opinião de Todos será
ouvida e respeitada, mas a decisão
final será dos fundadores do
Partido.
Art. 37 – É terminantemente vedado à Administração:
a) intervir no Ministério da CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO
BRASIL, não podendo instituir, destituir nem afastar seus
integrantes, atribuição essa que é de exclusiva competência do
Conselho de Anciães, nos termos do art. 9º deste Estatuto.
TÓPICOS DE ENSINAMENTOS - 1964
APÓSTATAS DA FÉ - MARINGÁ, ESTADO DO PARANÁ
O servo de Deus que atende a esta Congregação trouxe-nos a notícia
sobre a rebelião promovida por um pequeno grupo de pessoas que
eram nossos irmãos, porém se deixaram iludir pelo adversário. [...]
Tendo sido chamados e admoestados diversas vezes pelos irmãos
anciães, não acataram e não se humilharam; antes continuam a
promover a dissolução no meio da irmandade. Em reunião do
Conselho de irmãos Anciães realisada (sic) a 25 de março de 1964,
deliberou fazer-se uma circular excluindo essas pessoas, nome por
nome, de membro da irmandade, aliás da Congregação. Que ninguém
os receba [...] escapemos nossas almas evitando tais criaturas
corrompidas.
As disciplinas e exclusões de membros são dadas pelos anciãos, o decreto é dado
nominalmente e não há margem para defesa ou argumentação pós sentença de morte espiritual
ou física dada pela CCB ou pelo PCC.
Quadro 21 – Centralidade e comando
Centralidade e comando DO PCC Centralidade e comando DA CCB
14 – Partindo do Comando Central da Capital,
do KG do Estado, as diretrizes de ações
organizadas e simultâneas em todos os
estabelecimentos penais do Estado, numa
guerra sem tréguas, sem fronteiras, até a
vitória final.
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA... A 17 DE ABRIL
DE 1965.
Art. 15 – A fim de conservar a unidade de Espírito entre o
povo de Deus, far-se-á realizar ANUALMENTE NA
CAPITAL DE SÃO PAULO, UMA REUNIÃO DE
ENSINAMENTO PARA TODAS AS
CONGREGAÇÕES EXISTENTES NO BRÁS,
devidamente representada pelos irmãos Anciães,
Cooperadores e Diáconos e que será presidida pelo
ANCIÃO LOCAL mais antigo no Ministério.
O menor infrator pentecostal, como cidadão e operador de dois mundos, dois sistemas
de valores e códigos específicos, transita entre eles através do domínio das regras e do linguajar,
e entre os verbetes e jargões pode-se indicar as seguintes afinidades:
Pecado pra morte x Decretado
Irmandade x Irmandade
Saudar a Igreja x Dar um salve
216
Fica na comunhão x Fazer um
Este caiu x Este rodou
Estar na brecha por alguém x Fazer um pano por alguém
Reboliço x Casa virou
A afinidade eletiva entre a ordem do discurso doutrinal e a estrutura do discurso
criminal é percebida na comunicação própria, em gírias e jargões dentro de cada grupo. A força
do discurso, a relação de respeito e fidelidade para com a irmandade fechada, a assistência entre
os irmãos do partido e a obra de piedade entre os irmãos da CCB e, principalmente, pela
estrutura de exclusão, ausência de debate e irreversibilidade em determinados erros,
configurando em pecado para a morte ou pecado sem perdão no discurso doutrinal, e em
castigos, torturas e execuções no discurso criminal, onde “tal código não escrito é conhecido
por todos os que passaram ou fazem parte do sistema prisional e por meio de linguagem gíria
falada, própria do grupo, é que a lei do cão é divulgada” (STELLA, 2003, p.115).
217
4 O CONSTRUCTO HISTÓRICO DA CAPELANIA E A ASSISTENCIA PRISIONAL
EVANGELICA AO MENOR INFRATOR PENTECOSTAL
A falta de sentimentos do prisioneiro [...] é precisamente um dos reflexos da
desvalorização de tudo aquilo que não serve ao interesse mais primitivo da
preservação da vida. [...] Isso dá origem a um retraimento ante todas as questões
intelectuais e culturais de todos os interesses mais elevados. De um modo geral,
prevalece uma espécie de hibernação cultural. À parte desse fenômeno mais ou menos
geral, existem apenas duas áreas de interesse. Em primeiro lugar, a política (o que não
é de surpreender) e, em segundo, a religião.
Viktor E. Frankl69
No desenvolvimento das relações sociais brasileiras, a pesquisa identificou o paralelo
histórico entre os campos do pentecostalismo e da criminalidade, em que a afinidade eletiva
entre a ordem discursiva doutrinal da CCB e a estrutura do proceder do PCC, de forma eficaz,
desorganiza e organiza, desordena e ordena, dá sentido e esvazia o eu do menor infrator
pentecostal, ponto de intersecção, receptor, operador, emissor e intérprete da dialética e tensão
discursiva entre ambos os discursos. Na reificação e materialização assumida dos símbolos
discursivos, traduz em novas práticas existenciais (BOURDIEU, 2015), em novas orientações
que determinam as ações sociais (WEBER, 2009), e ainda, no processo de interiorização de
novas estruturas externas à consciência individual, identifica e assume novos sentidos
(BERGER, 2017a), o novo eu do menor, ex-membro da CCB interno na Fundação, está
estruturado no crime, contudo, ainda se vê evangélico, sua fé permanece em si, apesar da
exclusão institucional, mantém interesses pela religião, enfim, ainda é pentecostal.
Ao prestar a assistência religiosa em ambiente prisional, o capelão precisará interpretar
o menor infrator em suas necessidades e crises existências, respeitar as suas escolhas de fé, e,
no caso dos menores pentecostais advindos da CCB, ao ofertar a assistência religiosa, resgatar
a motivação de vontade do sentido de vida (FRANKL, 2015), visto que, conforme a Tese
comprovou, a partir da ordem do discurso doutrinal, que gerou a exclusão eclesiástica, o
sentimento de abandono social, morte espiritual e insignificação existencial, passa a orientar as
ações sociais desse menor.
Em Ciências Penais tenho pesquisado sobre os elementos religiosos nos presídios.
Intrigava-me – e ainda intriga – como pessoas que cometem crimes e são lançadas nos
cárceres brasileiros poderiam experimentar algum tipo de recuperação ou noutros
termos, sair da prisão e não voltar a delinquir. Teria a religião algum papel nesse
processo? (SILVA JUNIOR, 2015, p. 31)
69 Viktor E. Frankl. M.D.Ph. D. Sobrevivente ao holocausto, professor de Neurologia e Psiquiatria na
Universidade de Viena, fundador da Logoterapia. Lecionou em Havard, Stanford, Dallas e Pittsburgh.
218
A resposta que a religião pode dar para as questões existenciais aos encarcerados passa
pela instrumentalização do Capelão, não como cientista ou pesquisador das ciências sociais,
este não se vale de técnicas e metodologias destas, não tem como procedimento a análise
processual, não compreende o processo judicial a respeito da infração cometida, não assiste
nem deixa de assistir em virtude desta ou daquela infração, deste ou daquele delito.
O capelão não poderá interpretar o menor após o cumprimento de suas medidas
socioeducativas, depois de ressocializado, depois de inserido – ou não – na sociedade de direito,
o seu desafio é compreender o menor enquanto interno, enquanto recluso, no ápice de seu
sentimento de abandono e exclusão.
Ao que se refere à exclusão, abandono e desassistência religiosa da CCB e à relação
de distanciamento, desconfiança e até certa repulsa que o menor oriundo da CCB tem para com
os demais discursos da fé evangélica, para a condução harmoniosa dos encontros confessionais
no ambiente carcerário, faz-se necessário ao capelão reconhecer e interpretar os valores
religiosos e culturais que formam a identidade do ser humano moderno, um ser globalizado,
conectado, secular, plural e religioso.
4.1 Secularização
A secularização da sociedade pode ser definida a partir de suas origens históricas e
etimológicas, e ainda, a partir de correntes religiosas, filosóficas e ideológicas, entre as muitas
possibilidades existentes, para compreendermos o fenômeno atual, neste trabalho, nos
atentaremos ao conceito aplicado por Berger (2017a, p. 144), quando esboça: “Por
secularização entendemos o processo pelo qual setores da sociedade e da cultura são subtraídos
à dominação das instituições e símbolos religiosos”. E de forma mais direta:
O termo ‘secularização’ tem tido uma história um tanto aventurosa. Foi usado
originalmente, na esteira das Guerras de Religião, para indicar a perda do controle de
territórios ou propriedades por parte das autoridades eclesiásticas. No direito
Canônico, o mesmo termo passou a significar o terno de um religioso ao ‘mundo’. Em
ambos os casos, quaisquer que sejam as discussões a respeito de determinados
exemplos [...] num sentido puramente descritivo e não valorativo (BERGER, 2017a,
p. 142).
Secularização é a retirada da Igreja institucional da gestão da ciência e da cultura, bem
como das questões comerciais, e não a negação da religiosidade de seu povo.
219
O Estado secular é o Estado Laico, onde a vida técnica, profissional, acadêmica,
científica, entre outras esferas de uma nação, é orientada e suportada por um Estado que age
como se “Deus não existisse”, porém, a ação prática do cidadão comum, dos grupos aderentes
e mesmo dos grupos marginais aos valores desse Estado, incluindo os menores infratores,
ocorre considerando os seus valores de fé pessoal, que esse mesmo Estado reconhece e
oportuniza.
A modernidade trouxe mudanças profundas, inclusive no mundo religioso
(SANCHEZ, 2015). Na transição entre as eras Medieval e Modernidade, vimos os primeiros e
mais sangrentos embates entre a Ciência e a Religião, e depois de certo esfriamento e prejuízos,
tanto para a igreja quanto para a academia, retomamos neste tempo o calor e a tensão do debate.
O mundo medieval é estruturado na relação imperial entre Igreja e Estado, em que não
apenas o monopólio da salvação, extra ecclesiam nulla salus, mas também o da cultura e ciência
estão na gestão da religião, que se isola em si mesma na defesa e manutenção de sua cosmovisão
resistindo com toda força às mudanças, principalmente à liberdade de consciência. O medo que
a Igreja tem da modernidade alterar o seu status é combatido com o medo da danação eterna a
todos que não se sujeitem à sua doutrina e ao seu líder, visto que ser submisso [...] “ao pontífice
romano é, para qualquer criatura necessário à salvação” (SANCHEZ, 2015, p. 35).
A resistência à modernidade, com suas propostas de diversidade cultural, política,
econômica e religiosa, é sustentada na ideologia da “infabilidade papal70”, a quem a consciência
do indivíduo medieval é subordinada. A crise da igreja diante da perda de sua hegemonia leva
à tomada de ações mais restritivas, exclusivistas e repressivas, incluindo a fogueira santa para
opositores às doutrinas cientificas (?) da Santa Sé, como Copérnico, e ao ostracismo, Galileu
Galilei, diante da questão do geocentrismo, a Igreja Romana recua e, talvez interpretando
melhor o mundo secular, busca aproximação através do Vaticano II (1962-1965), onde além da
aproximação com outras manifestações de fé, como judeus, ortodoxos e protestantes, traz algo
surpreendente e inédito em sua história com o termo “liberdade religiosa”. Abaixo, recortes do
texto original.
Os homens de hoje tornam-se cada vez mais conscientes da dignidade da pessoa
humana e (1), cada vez em maior número, reivindicam a capacidade de agir segundo
a própria convicção e com liberdade responsável, não forçados por coacção (sic) mas
levados pela consciência do dever. Requerem também que o poder público seja
delimitado juridicamente, a fim de que a honesta liberdade das pessoas e das
associações não seja restringida mais do que é devido. Esta exigência de liberdade na
sociedade humana diz respeito principalmente ao que é próprio do espírito, e, antes
de mais, ao que se refere ao livre exercício da religião na sociedade. Considerando
70 Termo infabilidade não consta no texto de Sanchez, a citação é a visão interpretativa do autor.
220
atentamente estas aspirações, e propondo-se declarar quanto são conformes à verdade
e à justiça, este Concílio Vaticano investiga a sagrada tradição e doutrina da Igreja,
das quais tira novos ensinamentos, sempre concordantes com os antigos.
I. DOUTRINA GERAL ACERCA DA LIBERDADE RELIGIOSA
Sujeito, objecto (sic) e fundamento da liberdade religiosa
2. Este Concílio Vaticano declara que a pessoa humana tem direito à liberdade
religiosa. Esta liberdade consiste no seguinte: todos os homens devem estar livres de
coacção, quer por parte dos indivíduos, quer dos grupos sociais ou qualquer
autoridade humana; e de tal modo que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a
agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma, em
privado e em público, só ou associado com outros, dentro dos devidos limites.
Declara, além disso, que o direito à liberdade religiosa se funda realmente na própria
dignidade da pessoa humana, como a palavra revelada de Deus e a própria razão a dão
a conhecer (2). Este direito da pessoa humana à liberdade religiosa na ordem jurídica
da sociedade deve ser de tal modo reconhecido que se torne um direito civil71 (grifo
do autor)
A formação identitária do menor que busca a assistência religiosa prisional se
desenvolve no constructo histórico vivido na relação paralela, simultânea entre a ordem do
discurso da criminalidade e a pentecostalidade, no trânsito espacial entre a igreja e a lojinha,
no código moral doutrinal e do proceder, e no cumprimento de medidas socioeducativas essa
dualidade se amplia para as relações entre a laicidade do Estado e a sua própria religiosidade,
que, independente da exclusão da instituição religiosa e da sociedade, manifesta-se dentro dele.
Sobre essa questão real da era secular – Laicidade e Religiosidade –, ainda valendo-se
dos conceitos de Berger e Luckmann, percebe-se a transição e a tensão constante entre esses
dois campos:
Reconheço meus semelhantes com os quais tenho de tratar no curso da vida diária
como pertencendo a uma realidade inteiramente diferente da quem tem as figuras
desencarnadas que aparecem em meus sonhos. Os dois conjuntos de objetos
introduzem tensões inteiramente diferente em minha consciência e minha atenção
com referência a eles é de natureza completamente diversa [...]. Dito de outro modo,
tenho consciência de que o mundo consiste em múltiplas realidades (BERGER;
LUCKMANN, 2017, p. 37-38).
A ideia de Estado laico e o ideal republicano retira a instituição religiosa das decisões
públicas, não os seus valores, visto que estes não dependem do Estado, mas estão arraigados na
história, na formação e no coração do povo brasileiro, que em 2010 apresentava-se 92% crente
pertencente a alguma religião, sendo deste universo 88% cristã – católica e evangélica –, cerca
de 7,0% crente sem religião e apenas 0,03% ateus (sem religião).
71 Cf. em: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_po.html
221
A assistência religiosa prisional em ambiente laico precisa transitar, dialogar e servir
aos encarcerados, apesar dos embates e perigos de ruptura que essa tensão gera, não podendo
se isentar ou se omitir.
O menor infrator excluído da CCB, em posse e sob a tutela do Estado dentro da
Fundação – uma instituição laica –, carrega todo o constructo histórico religioso nacional, ou
seja, faz parte de sua brasileiridade – e de 99,97% da população – o crer. Contudo, apesar da
referência ao cristianismo – histórico e atual – na composição do povo brasileiro, este menor
além de secular é plural, e o assistente religioso prisional moderno deve ter isso muito claro e
definido em sua mente para exercer com excelência o seu papel e sempre criar espaços para que
a confusão e/ou a tensão entre estes dois mundos – Laico e Plural Religioso – gere um
aprendizado transformador e uma sociedade harmoniosa, ainda dentro do ambiente carcerário
e depois em sociedade livre.
4.2 Pluralismo
A respeito da Pluralidade, pode-se afirmar que, diferente da Secularização que é a
ausência da religião nas decisões do Estado, a Pluralidade é a possibilidade de convivência
harmônica, fraterna, livre de uma sociedade em meio às diferenças. Entre muitas diferenças, as
de confissão e credo.
O termo ‘secularização’, e mais ainda seu derivado ‘secularismo’, tem sido
empregado como um conceito ideológico altamente carregado de conotações
valorativas, algumas vezes positivas, outras negativas. Em círculos anticlericais e
progressistas tem significado a libertação do homem moderno da tutela da religião, ao
passo que, em círculos ligados às igrejas tradicionais, tem sido combatido como
‘descristianização’, paganização e equivalentes. (Berger, 2017a, p. 142, grifo do
autor).
Fica assim evidenciado que não basta ao assistente religioso moderno valer-se de um
dicionário para interpretar o pluralismo – fenômeno social –, no tempo presente há de se
interpretar a história de construção do ser nacional, o brasileiro religioso, e olhar para o futuro,
que, ao que nos parece, será de um ser cada vez mais conectado, virtual, interativo, secular,
plural e religioso.
O número de pessoas sem filiação religiosa deve cair. Segundo a análise, 16% das
pessoas do planeta hoje se descrevem como ateias, agnósticas ou dizem não se
identificar com nenhuma religião. Em 35 anos, este grupo corresponderá a 13% da
222
população mundial. O país com o maior número de cristãos será os Estados Unidos,
seguido do Brasil e da Nigéria72 (grifo do autor).
Como já observado e ratificado na Constituição Federal e nos dados do Censo
nacional, o Brasil é um Estado Laico e o seu povo um povo religioso, que deseja ser religioso,
que precisa ser concebido como religioso, respeitado como religioso e que, ao que tudo indica,
se manterá religioso, livre ou encarcerado.
Um Estado que valoriza sua laicidade não despreza os valores e a tradição histórica do
seu povo, é justamente sua capacidade de imparcialidade que dará protagonismo à sua
população, ou seja, quanto mais laico um Estado, mais liberdade o seu cidadão terá, quanto
mais liberdade o indivíduo tiver, mais religioso será! Observe o que assevera Berger (2017b, p.
97).
Um sistema confessional surge quando dois desenvolvimentos coincidem – o
pluralismo religioso e a liberdade religiosa. Pode-se ter um sem ou outro, mas o
pluralismo religioso está espalhando mundialmente, mesmo em lugares onde os
governos querem reprimi-lo ou pelo menos conte-lo, por exemplo na Rússia e na
China. A liberdade religiosa, por razões obvias, intensifica a tendência pluralista.
Inversamente – em minha opinião, a pluralização cria pressões no sentido da liberdade
religiosa, por razões práticas de manter a estabilidade, quando não como um
reconhecidamente desta liberdade enquanto direito humano básico.
A liberdade humana, que é tema caro à laicidade, também o é para religião cristã, e se
o cristianismo católico institucional romano teve mais dificuldades e “resistiu insistentemente”
(SANCHEZ, 2015, 21) em admitir isto, e só se posiciona de forma oficial no século XX –
Concílio Vaticano II –, o cristianismo protestante nasce, cresce e se desenvolve com essa
premissa.
O desejo da laicidade do Estado deve refletir no ser e no fazer da assistência religiosa
em prisões, fundações para menores, escolas, hospitais, bem como em ambientes privados,
confessionais ou não, e mais, a assistência religiosa pode ser confessional num Estado Laico de
direito e a sua constituição pode e deve orientar essa relação.
4.3 A Constituição– Constructo histórico da Assistência Religiosa
Entre os períodos do Império, República, governos provisórios, golpes, intervenções
militares e eleições populares, temos na história das leis brasileiras um indicativo comum,
72 Cf. em: https://exame.abril.com.br/mundo/15-previsoes-sobre-o-futuro-da-religiao-no-mundo/.
223
permitir ao povo brasileiro desenvolver sua vida particular, preservando uma de suas maiores
características, sua espiritualidade pessoal e sua religiosidade coletiva.
A Constituição do Império (1824), promulgada por Dom Pedro I, mantém a postura e
o caráter religioso do período de conquista sendo outorgada em nome da “Santíssima Trindade”,
traz a religião católica romana como religião oficial do Império, contudo, surge os primeiros
sinais de liberdade de expressão e credo, visto que permite aos seguidores das demais religiões
o realizar de seus cultos, desde que em local restrito – culto doméstico, e sem proselitismo.
Dom Pedro Primeiro, por graça de Deus, e unânime aclamação do povo, Imperador
Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil: Fazemos saber a todos os nossos
súditos que, tendo-nos requerido os povos deste Império, juntos em câmaras, que nós
quanto antes jurássemos e fizéssemos jurar o projeto de Constituição [...], como
Constituição, que de ora em diante fica sendo deste Império, a qual é do teor seguinte:
Em nome da Santíssima Trindade.
Art. 5o A Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a religião do Império.
Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico, ou particular, em
casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo (BRASIL, 1824, p.
1).
De acordo com Celso Ribeiro Bastos73, havia, no Brasil Império, liberdade de crença
sem liberdade de culto. Segundo ele, “na época, só se reconhecia como livre o culto católico.
Outras religiões deveriam contentar-se com celebrar um culto doméstico, vedada qualquer
forma exterior de templo”.
Com a Proclamação da República, Ruy Barbosa redige o texto da Constituição de
1890, promulgado por meio do Decreto 119-A, de 7 de janeiro de 1890, separando
definitivamente o Estado e a Igreja Católica Romana no Brasil, o que de fato tornou o Estado
Laico, não o seu povo!
Tanto a separação do Estado quanto o direito à fé do cidadão podem ser percebidos no
recorte abaixo.
SECÇAO II
DECLARAÇÃO DE DIREITOS
Art. 72. A Constituição assegura a brazileiros e a estrangeiros residentes no paiz a
inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á segurança individual e á
propriedade nos termos seguintes
§ 1º Ninguem póde ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, sinão em
virtude de lei.
§ 2º Todos são iguaes perante a lei.
73 Celso Ribeiro Bastos (1938-2003), doutor e livre docente em Direito, jurista e constitucionalista. Foi
professor de Direito Constitucional e Direito das Relações Econômicas Internacionais do curso de pós-
graduação, coordenador do programa de pós-graduação em Direito Constitucional e Direito das Relações
Econômicas Internacionais PUC-SP.
224
§ 3º Todos os individuos e confissões religiosas podem exercer publica e livremente
o seu culto, associando-se para esse fim adquirindo bens, observadas as disposições
do direito comum.
§ 7º Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção official, nem terá relações de
dependencia, ou alliança com o Governo da União, ou o dos Estados (sic passim)
(BRASIL, 1891, np.).
A constitucionalização do novo regime republicano consolidou, através da
Constituição de 1890, a separação entre a Igreja e o Estado, fazendo do Brasil um estado laico.
Vale recordar que sendo chefe do Governo Provisório, com a Revolução de 30, Getúlio
convocou a Constituinte que, ao fim de seus trabalhos, em julho de 1934, o elegeu Presidente
por quatro anos. Entretanto, com golpe e a Constituição outorgada, de 11 de novembro de 1937,
prorrogaram seu mandato até 1945.
Sobre o texto da Constituição de 1934, em resumo, é possível afirmar que se mantém
a relação à fé popular, ao indicar ou se remeter a Deus no preâmbulo. Ou seja, se o povo é
religioso e confia em Deus, o governante que representa um povo que em quase sua totalidade
crê, precisa refletir essa postura mínima e lhe ser de fato representante.
Essa questão de confiar em Deus os atos do homem governante, e não o Estado em si,
é um entendimento do homem moderno, globalizado, secular, plural e religioso, e mais, esta
menção pode ser percebida desde D. Pedro I (1824). Ainda nesta constituição, temos o
reconhecimento da liberdade de culto, desde que não contrariasse a ordem pública e os bons
costumes, mantendo o pensamento iniciado com Ruy Barbosa.
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1934.
Nós, os representantes do Povo Brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus, reunidos
em Assembleia Nacional Constituinte para organizar um regime democrático, que
assegure á Nação a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social ... decretamos
e promulgamos a seguinte [...]
Art. 17. É vedado á União, aos Estados, ao Districto Federal e aos Municípios:
I - crear distinções entre brasileiros natos ou preferencias em favor de uns contra
outros Estados;
II - estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercicio de cultos religiosos;
CAPITULO II
DOS DIREITOS E DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS
Art. 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no paiz a
inviolabilidade dos direitos concernentes á liberdade, á subsistencia, á segurança
individual e á propriedade, nos termos seguintes:
1) Todos são iguaes perante a lei. Não haverá privilegios, nem distincções, por motivo
de nascimento, sexo, raça, profissões proprias ou dos paes, classe social, riqueza,
crenças religiosas ou idéas politicas.
5) É inviolavel a liberdade de consciencia e de crença e garantido o livre exercicio dos
cultos religiosos, desde que não contravenham á ordem publica e aos bons costumes.
As associacções religiosas adquirem personalidade juridica nos termos da lei civil.
6) Sempre que solicitada, será permittida a assistencia religiosa nas expedições
militares, nos hospitais, nas penitenciarias e em outros estabelecimentos officiaes, sem
onus para os cofres publicos, nem constrangimento ou coação dos assistidos. Nas
225
expedições militares a assistencia religiosa só poderá ser exercida por sacerdotes
brasileiros natos (sic passim) (BRASIL, 1934, np.).
Pôde-se observar o caráter facultativo da assistência religiosa, mais uma vez, vemos a
ação laica de um Estado que respeita, reconhece a fé de seu povo, bem como o papel da
assistência religiosa.
Dentro do recorte histórico, que a posteriori fica conhecido como “Estado Novo”,
temos, na Constituição de 1937, a manutenção dos ideais de liberdade religiosa percebido nas
anteriores, prevendo que o Estado não estabelecerá, subvencionará ou embaraçará o exercício
de cultos religiosos, e reconhece a liberdade de culto.
Art. 32. É vedado á União, aos Estados e aos Municipios:
a) crear distinções entre brasileiros natos ou discriminações e desigualdades entre os
Estados e Municipios;
b) estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercicio de cultos religiosos;
DOS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAES
Art. 122. A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no paiz o
direito á liberdade, á segurança individual e á propriedade, nos termos seguintes:
4 - todos os individuos e confissões religiosas podem exercer publica e livremente o
seu culto, associando-se para esse fim e adquirindo bens, observadas as disposições
do direito commum, as exigencias da ordem publica e dos bons costumes (sic passim)
(BRASIL, 1937, np.).
A tendência republicana mantém-se com a Constituição de 1946, em que a proibição
de a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estabelecerem, subvencionarem ou
embaraçarem cultos religiosos, assegurando, entretanto, o exercício destes, “salvo os dos que
contrariem a ordem pública ou os bons costumes”.
É nessa fase de nossa história de república laica e povo religioso que as organizações
religiosas adquirem a personalidade jurídica dos termos da lei civil. E para o educador religioso,
será no texto da constituição de 1946 que surge a previsão do Ensino Religioso Facultativo, o
que adiante oportunizará a capelania escolar. Mais uma vez, o Estado mantém sua laicidade,
contudo, a religião e fé do povo são consideradas, respeitadas e oportunizadas, todavia, não
sustentada e/ou gerida pelo Estado.
O destaque da assistência religiosa, como rotina em ambientes militares e como
resposta à demanda de estabelecimentos de internação, como os ambientes hospitalares e
prisionais, registra-se de maneira clara na Constituição de 1946.
Art. 31. À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado:
CAPÍTULO II
Dos Direitos e das Garantias individuais
226
§ 7º É inviolável a liberdade de consciência e de crença e assegurado o livre exercício
dos cultos religiosos, salvo o dos que contrariem a ordem pública ou os bons costumes.
As associações religiosas adquirirão personalidade jurídica na forma da lei civil.
§ 9º Sem constrangimento dos favorecidos, será prestada por brasileiro (art. 129, nº s
I e II) assistência religiosa às fôrças (sic) armadas e, quando solicitada pelos
interessados ou seus representantes legais, também nos estabelecimentos de
internação coletiva (BRASIL, 1946, np.).
Para o trabalhador, o direito de descansar e manter sua remuneração nos feriados,
inclusive os religiosos, como descrito no Art. 157, inciso VI, “[...] nos feriados civis e
religiosos, de acôrdo (sic) com a tradição local”74.
Para a família, o direito e dever de participar da educação dos filhos, para o educando
e o educador, o direito de oferecer e de aceitar ensino religioso.
CAPÍTULO II
Da Educação e da Cultura
Art. 166. A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola. Deve inspirar-
se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana.
Art. 168. A legislação do ensino adotará os seguintes princípios:
I - o ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional;
V - o ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, é de
matrícula facultativa e será ministrado de acôrdo com a confissão religiosa do aluno,
manifestada por êle, se fôr capaz, ou pelo seu representante legal ou responsável (sic
passim)75.
A Constituição de 1967/69 – Regime Militar –, mantém o ideal republicano, desde
1890, e proíbe o Estado de estabelecer, subvencionar ou embaraçar o exercício de cultos
religiosos, inclusive com a previsão expressa de colaboração entre o Estado Laico e as
organizações religiosas, no interesse público, interesse do povo, povo brasileiro que, mesmo
após a separação entre o Estado e a Religião, apresenta-se 99% religioso, contudo,
especificando seus limites de atuação, especialmente nos setores educacional, assistencial e
hospitalar.
Art. 9º - A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é vedado:
II - estabelecer cultos religiosos ou igrejas; subvencioná-los; embaraçar-lhes o
exercício; ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou
aliança, ressalvada a colaboração de Interesse público, notadamente nos setores
educacional, assistencial e hospitalar (BRASIL, 1967, np.).
74 BRASIL, 1946, np. 75 Ibidem.
227
Vale o destaque para o Capítulo “Dos Direitos e Garantias Individuais”, no qual consta
de maneira explicita e afirma-se que todos são iguais perante a lei, sem distinção de credo
religioso.
E mais uma vez a liberdade de consciência e o exercício de cultos religiosos são
assegurados, desde que “não contrariem a ordem pública e os bons costumes”.
CAPÍTULO IV
Dos Direitos e Garantias Individuais
§ 1º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção, de sexo, raça, trabalho, credo
religioso e convicções políticas. O preconceito de raça será punido pela lei.
§ 5º - É plena a liberdade de consciência e fica assegurado aos crentes o exercício dos
cultos religiosos, que não contrariem a ordem pública e os bons costumes.
§ 7º - Sem constrangimento dos favorecidos, será prestada por brasileiros, nos termos
da lei, assistência religiosa às forças armadas e auxiliares e, quando solicitada pelos
interessados ou seus representantes legais, também nos estabelecimentos de
internação coletiva (BRASIL, 1967, np.).
O ensino religioso também aparece no texto de forma clara e objetiva.
Art. 168 - A educação é direito de todos e será dada no lar e na escola; assegurada a
igualdade de oportunidade, deve inspirar-se no princípio da unidade nacional e nos
ideais de liberdade e de solidariedade humana.
§ 3º - A legislação do ensino adotará os seguintes princípios e normas:
IV - o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários
normais das escolas oficiais de grau primário e médio (BRASIL, 1967, np.).
Mesmo em nossa página mais obscura, e aqui reconhecendo que nem sempre a
constituição era cumprida em seu detalhe e que direitos garantidos não foram respeitados – e
tantas vezes não o são –, temos, de forma oficial, a laicidade do Estado e a religiosidade de seu
povo assegurada, e o ponto de intersecção mínimo mantido para a assistência religiosa em
ambientes públicos em situações específicas, bem como a oferta do Ensino Religioso, mantido
a decisão facultativa àquele que a receberá.
Com o fim da Era de Chumbo e a redemocratização, os direitos e deveres do cidadão
brasileiro precisavam ser resgatados, e em 05 de outubro de 1988 é promulgada aquela que
ficaria conhecida como a Constituição Cidadã, e de maneira objetiva traz referência à fé e/ou
religiosidade de seu povo, em que termos como “culto”, “religião” e “crença” aparecem em seu
texto de maneira favorável às práticas religiosas diversas do povo brasileiro.
A primeira referência da Constituição a um destes termos encontra-se no Art. 5, inciso
VI, que dispõe ser “inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas
liturgias”.
228
Seguindo a tradição consagrada desde 1890, a Constituição de 1988 impõe ao Estado
Laico a proibição de estabelecer, subvencionar ou embaraçar o funcionamento de cultos
religiosos ou igrejas, todavia, indica pontos de intersecção comuns, respeitando a decisão
individual e particular de cada brasileiro.
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...] nos
termos seguintes:
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre
exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias;
VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades
civis e militares de internação coletiva;
Da Organização Político-Administrativa
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o
funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou
aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;
CAPÍTULO III
Da Educação, da Cultura e do Desporto SEÇÃO
I Da Educação
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos [...] assegurar formação básica comum e
respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.
§ 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários
normais das escolas públicas de ensino fundamental (BRASIL, 1988, np.).
Mais uma vez, destaca-se a laicidade do Estado e respeita-se a história de
espiritualidade e religiosidade de seu povo. Contudo, apesar da laicidade, o Estado, como
agente regulador e organizador da vida pública de um povo comprovadamente religioso,
permite-se certa “colaboração de interesse público”, reconhecendo como interesse e
responsabilidade do Estado Laico o atender às diversas características de seu povo, no caso do
brasileiro, inclui-se as de fé.
Reforça-se a previsão de ensino religioso de matrícula facultativa, além do casamento
religioso de efeitos civis, sepultamento em locais confessionais e assegura-se a prestação
religiosa nas entidades de internação coletiva, aqui inclui-se a Fundação e demais casas de
detenção e custódia. Todos os direitos ressalvados e mantidos desde as constituições anteriores.
A Fundação como um ambiente secular e seus atores, funcionários e internos como
seculares e plurais, não pode se omitir desta dialética, de ser agente ativa na construção de uma
sociedade humana, respeitosa e plural.
A humanidade e a animalidade são constituídas pelas dimensões biológica,
psicológica e social, todavia, o homem difere dos animais por possuir também a
dimensão noética. Apesar das três dimensões, a essência da existência do homem
229
reside na dimensão espiritual. Sendo assim, a existência propriamente humana é
existência espiritual. A inclusão das demais dimensões inferiores garante a totalidade
do homem (MOREIRA; HOLANDA, 2010, np.).
A assistência religiosa nos diversos ambientes coletivos do Estado Laico surge na
abertura para exercício pessoal de fé diferente do próprio Estado em 1824, na liberdade de
expressão individual de credo em 1890, na assistência religiosa oportunizada para ambientes
coletivos, como batalhões, hospitais e penitenciárias em 1934, e no ensino religioso facultativo
em 1946, na ressalva de interesse público em 1967 e 1969, sendo assegurada nos termos da lei,
tanto para entidades civis e militares de internação coletiva, em 1988.
Assistir fiéis das diversas confissões religiosas em ambientes de educação e internação
é facultado a toda e qualquer religião no Brasil desde 1934, todavia, nenhuma outra confissão
assumiu este papel como missão institucional como os cristãos, sendo os evangélicos o grupo
mais atuante. A assistência religiosa desenvolve características próprias que vão além das
missões proselitistas, atendendo, suportando e assistindo aqueles que, em situação de reclusão,
distanciamento familiar e enfermidade, desejam uma palavra de consolo, esperança e fé, e os
que atendem a nobre missão não são reconhecidos como missionários, evangelistas, sacerdotes
ou pastores, mas como capelães.
4.4 Capelanias
Reconhece que a dimensão espiritual tem um papel importante na motivação das
pessoas em todos os aspectos de sua vida. Afirma que essa dimensão não somente
estimula atitudes saudáveis, mas também deve ser considerada como um fator que
define o que seja saúde. Convida todos seus Estados-membros a incluírem essa
dimensão em suas políticas nacionais de saúde, definindo-a conforme os padrões
culturais e sociais locais (OMS, 1984, p. 1).
O convite de 1984 da OMS para que todos os Estados signatários incluam em suas
políticas sanitárias a dimensão espiritual, reconhecendo o papel estrutural desta na construção
de uma vida saudável, abre caminho para a ação das capelanias, visto que, diante das
adversidades maiores da vida, não será a condição física, social e/ou econômica que sustentará
o indivíduo, mas a força espiritual desenvolvida em seu interior.
A observação psicológica dos reclusos, no campo de concentração, revelou que
somente sucumbe às influências do ambiente no campo, em sua evolução de caráter,
aquele que entregou os pontos espiritual e humanamente. Mas somente entrega os
pontos aquele que não tinha mais em que se segurar interiormente. (FRANKL, 2015,
p. 93).
230
A espiritualidade do menor infrator excluído da CCB foi desenvolvida dentro da
religiosidade de uma instituição centenária que, através de igrejas locais, “Comum
Congregação”, fez parte da evolução do seu caráter, fortalecia e orientava suas ações sociais.
Num contexto de prisão, a manutenção da fé e o pertencer à verdadeira igreja poderia dar o
sentido e a vontade de vida para suportar o encarceramento, contudo, diante da abrupta, sumária
e unilateral ruptura, o período de reclusão dentro de um contexto de exclusão e abandono pode
conduzir o menor a “entregar os pontos” ou, no léxico do crime, Virar o ‘S’. Neste momento e
no local em que o menor se encontra, a capelania cumpre a “[...] a função de orientar e encorajar,
nos momentos de crise, buscando reavivar a fé e a esperança” (VIEIRA, 2011, p. 13).
Sobre o significado da palavra, o termo capelania carrega ao menos duas histórias,
sendo a primeira de caráter histórico, em que:
[...] o termo ‘capelania’ foi criado na França, em 1700 porque, em tempos de guerra,
o rei costumava mandar para os acampamentos militares, uma relíquia dentro de um
oratório, que recebia o nome de ‘Capela’. Essa capela ficava sob a responsabilidade
do sacerdote, conselheiro dos militares. Em tempos de paz, a capela voltava para o
reino, ainda sob a responsabilidade do sacerdote, que continuava como líder espiritual
do rei, e assim ficou conhecido por capelão. Com o tempo, o serviço de capelania se
estendeu aos parlamentos, colégios, cemitérios e prisões (GENTIL; GUIA; SANNA,
2011, p. 163).
A outra história é mais folclórica, mas não menos relevante, e refere-se a um ato de
misericórdia do soldado romano Martinho de Tours, o pequeno Marte, filho de um soldado
romano e recebe este nome em homenagem a Marte, deus da guerra, no ensejo de ver o filho
trilhando uma carreira militar de sucesso. Nasce na antiga Panônia, em 316 (?317) d.C., e aos
quinzes anos assume posto militar obrigatório, período que teria durado algo em torno de 25
anos. A tradição católica descreve assim o evento:
[...] como membro da guarda imperial, o jovem soldado era muito requerido para as
rondas noturnas. Em uma delas, durante o inverno, Martinho deparou-se, a cavalo,
com um mendigo seminu. Movido de compaixão, tirou seu manto, o cortou em duas
partes e deu a metade ao pobre. Na noite seguinte, Jesus apareceu-lhe em sonho,
usando a metade do manto, dizendo aos anjos: ‘Este aqui é Martinho, o soldado
romano não batizado: ele me cobriu com seu manto’. O sonho impressionou muito o
jovem soldado, que, a festa da Páscoa seguinte foi batizado.76
Martinho de Tours se torna Bispo em 371, primeiro santo não mártir da igreja católica,
morre de causas naturais em 397, com cerca de 81 anos, tornando-se o patrono dos Militares e
76 Cf. em: https://www.vaticannews.va/pt/santo-do-dia/11/11/s--martinho--bispo-de-tours-.html
231
Pedintes. Oração de São Martinho destaca uma das principais virtudes professadas do
cristianismo, a misericórdia.
Glorioso São Martinho, nosso amigo e protetor, que ao dividir vosso manto com o
mendigo que padecia de frio na neve encontrastes o próprio Senhor Jesus, ajudai-nos,
a saber, partilhar o que temos com os mais empobrecidos que encontramos em nosso
caminho, principalmente as crianças mais abandonadas, reconhecendo nelas a
imagem de nosso divino mestre.
Ó bom Jesus, por intercessão de São Martinho dai-nos os dons da caridade e do amor
fraterno que nos fazem servir com desprendimento aos vossos filhos mais excluídos
dessa terra. Amém. São Martinho, rogai por nós.77
A espiritualidade não se limita ao lugar e ao contexto religioso, faz parte da rotina, dos
relacionamentos e fazeres diários do ser humano, como apontado por TORRES78 (2013).
A espiritualidade, apesar de estar cotidianamente presente na experiência humana, por
muito tempo foi rejeitada, e historicamente ignorada por muitos psicólogos [...].
Atualmente, a relação entre espiritualidade e saúde vem sendo explorada por estudos
desenvolvidos de forma a levantar como as experiencias de caráter espiritual ajudam
a melhora a qualidade de vida das pessoas (TORRES, 2013, p. 184).
Iniciado na tradição de São Martinho, que divide parte do seu próprio manto para
atender a um necessitado, a lógica que orienta a capelania cristã consiste em compartilhar o que
se tem com empatia e atender com fraternidade aos excluídos e desassistidos.
A capelania, como assistência religiosa e resposta às necessidades espirituais do ser
humano, surge no contexto militar, desenvolve-se em outros espaços públicos e privados de
relacionamentos sociais, intra e interpessoais, tendo o seu reconhecimento e prática orientada
por leis municipais, estaduais e pela constituição federal.
4.4.1 Capelania Militar
Assistência religiosa e espiritual militar tem tradição muito antiga, considerada como
“a mãe de todas as capelanias” (VIEIRA, 2011), sendo o papel dos líderes religiosos de diversas
religiões, diante de suas tropas, o de garantir, em nome dos deuses, a vitória no campo de
batalha.
77 Cf. em: https://www.encontrocomcristo.com.br/oracao-a-sao-martinho/ 78 Doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo (USP), mestre em Ciências da Religião pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), com formação plena em Psicologia (UPM). Membro do
laboratório de psicologia Anomalística e Processos Psicossociais (InterPsi – USP).
232
O envio de sacerdotes à frente dos batalhões para abençoar o exército e garantir a
vitória pelo poder da fé, em muitos casos, passa pela ideia de luta sagrada e guerra santa, de
invasão e conquista em nome e pela vontade de um ou mais deuses, assim, de liberação do povo
invadido por influências ocultas de deuses malignos e antagônicos ao deus representado. O
sacerdote exercia força positiva no moral da tropa com palavras de incentivo e de esperança de
vitória, contudo, nem sempre a vitória em nome de um deus era garantida; feridos, mortos e a
derrota iminente precisavam de respostas, e mais uma vez o sacerdote que acompanhava a tropa
se fazia necessário.
Uma vez no campo de batalha, diante de soldados feridos, cercos e baixas, o papel do
sacerdote religioso muda, e se a vontade do deus inicial apresentada não se cumpria em vitórias
no campo de batalha, era necessário recuperar o moral da tropa ferida, inclusive garantindo o
pós-morte feliz de quem partiu, dando sentido aos soldados vivos para a continuidade da
batalha.
Na era da exploração marítima e das conquistas territoriais, os sacerdotes católicos
faziam parte da tripulação, além de abençoar os marinheiros e guiá-los espiritualmente para o
Mundo Novo, competindo a estes o dever de assistir em terra estranha os colonizadores em sua
fé natal, educar os filhos destes e converter os nativos à católica, ou seja, a presença de
religiosos portugueses “... como capelães de bordo na navegação portuguesa era comum”
(PRIORI, 2010, p. 29). Uma vez em terra firme, o papel dos religiosos demonstrou-se dubio na
assistência dos povos, fazendo vista grossa à escravidão, torturas, trabalhos forçados e toda
sorte de atos desumanos contra os povos oriundos da África, e protegendo os nativos, índios
locais, conforme carta do padre Antônio de Vieira enviada à Portugal em 1655, em que se
registra: “Para acudir às injustiças que em todo o estado do Brasil se usavam no cativeiro dos
índios naturais da terra, tomaram por último remédio o senhores reis destes reinos declarar a
todos por forros e livres” (PRIORI, 2010, p. 33). No entanto, o pedido de forro não se estendia
aos escravizados da África.
Já no Brasil República:
[a] capelania se iniciou no exército brasileiro, tendo prestado relevantes serviços
especialmente no tempo da 2ª Guerra Mundial. Era chamada de capelania castrense,
por se referir ao que é próprio da vida na caserna (alojamento dos soldados no quartel)
à vida militar (VIEIRA, 2011, p. 17).
A atuação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) é reconhecida e celebrada no
Brasil e na Itália por sua coragem e determinação diante do inimigo e fraternidade diante do
233
povo italiano. Entre os mais de vinte cinco mil soldados que atuaram em solo europeu, destaca-
se o Pastor João Filson Soren79, denominado Combatente de Cristo, capelão do Exército
Brasileiro que teve o seu trabalho de tal forma reconhecido que em memória de seus feitos, na
data de seu aniversário “... foi instituído no dia 21 de junho, pela Lei Municipal número
3983/2005, o Dia do Capelão Evangélico” (VIEIRA, 2011, p. 17).
Em território nacional, os capelães serão importantes e protagonistas na educação,
saúde e assistência social, como apresentado adiante, e em tempos de paz assumem a assistência
religiosa no exército nacional, conforme regulamentação por meio da Lei nº 6.923, de 29 de
junho de 1981, que dispõe sobre o Serviço de Assistência Religiosa nas Forças Armadas.
CAPÍTULO I
Da Finalidade e da Organização
Art. 1º - O Serviço de Assistência Religiosa nas Forças Armadas - SARFA será regido
pela presente Lei.
Art. 2º - O Serviço de Assistência Religiosa tem por finalidade prestar assistência
Religiosa e espiritual aos militares, aos civis das organizações militares e às suas
famílias, bem como atender a encargos relacionados com as atividades de educação
moral realizadas nas Forças Armadas.
Art. 3º - O Serviço de Assistência Religiosa funcionará:
I - em tempo de paz: nas unidades, navios, bases, hospitais e outras organizações
militares em que, pela localização ou situação especial, seja recomendada a assistência
religiosa;
II - em tempo de guerra: junto às Forças em operações, e na forma prescrita no inciso
anterior.
Art. 4º - O Serviço de Assistência Religiosa será constituído de Capelães Militares,
selecionados entre sacerdotes, ministros religiosos ou pastores, pertencentes a
qualquer religião que não atente contra a disciplina, a moral e as leis em vigor
(BRASIL, 1981, np.).
Importante atentar que a capelania militar presta assistência religiosa e espiritual,
sendo facultado assistência confessional de ministros de qualquer religião, agindo ainda na
educação moral das tropas.
A Capelania Militar Cristã Evangélica também atua voluntariamente, assistindo às
forças policiais no Estado de São Paulo, tendo como referência inicial o ano de 1992. De forma
voluntária e espontânea, 74 policiais militares de diferentes denominações evangélicas criaram
a Associação dos Policiais Militares Evangélicos do Estado de São Paulo, conhecida como PMs
de Cristo.
79 Estudou no Colégio Batista Shepard, EUA, formando-se em Letras, Artes e Teologia nos EUA, onde concluiu
o Mestrado em 1932. Em 1934 é eleito pastor da Primeira Igreja Batista do RJ, nomeado Capelão Militar em
13 de julho de 1944 e classificado no 1º Regimento de Infantaria (Regimento Sampaio). Embarca dia 20 de
setembro para a Europa, atua durante 341 dias como capelão militar junto às Forças Expedicionárias Brasileira
(FEB). Como capelão, organiza o primeiro Coro Militar Evangélico do Brasil, é condecorado com inúmeras
medalhas, entre estas destaques para: a do Esforço de Guerra, a da Campanha da FEB, a da Cruz de Combate
Primeira Classe e a Silver Star, condecoração do exército americano.
234
Os PMs de Cristo se organizam a partir de Núcleos nas unidades policiais, espaço
aberto para capelães voluntários, militares ou civis prestarem assistência aos soldados antes de
saírem para realizar o seu turno, levando mensagem de fortalecimento emocional e espiritual,
esperança e fé ao soldado, criando ambiente harmonioso no espaço de trabalho, oportunizando
atendimento a cônjuges e demais familiares, também promovem eventos, como cultos e ações
de graças, vigílias, campanhas de oração, encontros temáticos, dentre outras ações, em parceria
com as igrejas e lideranças evangélicas, tendo como Missão, Visão e Valores:
MISSÃO
Valorizar a figura humana do policial, assistindo emocional e espiritualmente a
família Policial Militar com base na mensagem, princípios e valores cristãos. Em
harmonia com a missão da Polícia Militar do Estado de São Paulo e em parceria com
a comunidade cristã evangélica e com os associados.
VISÃO
Ser referência dentre as demais associações no Brasil pela representatividade e
interlocução com as comunidades cristãs evangélicas, difusão de ações policiais
baseadas na ética e valores cristãos, gestão pela excelência e serviço de capelania.
VALORES
Amor - Paz - Esperança - Fé Cristã - Ética - Perdão - Ousadia - Integridade - Liberdade
- Respeito às Escrituras - Tolerância - Serviço voluntário - Justiça - Unidade - Defesa
da Vida.80
Como capelão voluntário, tive a oportunidade de assistir policiais em seus batalhões,
visitar familiares e participar de velórios de policiais, alguns mortos em serviço, outros não.
Um caso que pode ilustrar a ação da capelania no consolo e conforto de soldados ocorreu em
2008, quando um Sargento Militar das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA), membro
de nossa comunidade de fé, foi executado na rua detrás de sua casa com cinco tiros no rosto.
Sendo o dia do aniversário de sua mãe, parou no mercado da rua anterior à sua moradia para
comprar um bolo e fazer surpresa para sua família, e ao descer do carro foi abordado por dois
criminosos em uma moto, que o atingiram frontalmente, e ao cair levou outros tiros no rosto.
Tal ação gerou tristeza na vizinhança local, família, membros da comunidade de fé e revolta na
comunidade policial. A ação da capelania em levar conforto aos companheiros de farda, que
diante de tal atrocidade poderiam nutrir um sentimento de vingança e represaria, ocorre no dia
posterior ao assassinato, no Cemitério da Vila Alpina, com cerca de 300 policiais militares
presentes, além de guardas civis e familiares, onde o texto lido foi:
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito:
Minha é a vingança; eu recompensarei, diz o Senhor.
80 Cf. em: https://www.pmsdecristo.org.br/site/conteudo.php?p=missao-visao-valores
235
Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber;
porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça.
Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem (Rom 12,19-21)81.
Pude dizer à tropa presente que a morte do Juninho não exigia vingança, pois, apesar
de toda a violência que o evento representava, a fé testemunhada por ele em vida apontava para
a Eternidade sem dor, sofrimento e morte, antes, em alegria, paz e vida plena em Jesus. Assim
sendo, podíamos chorar e nos entristecer diante do ocorrido, mas não vingar a morte de um
soldado que cria na vida e jamais se deixara vencer pelo mal. Nem o mal, nem os bandidos,
nem a morte venceram o Juninho, pois em sua crença em vida tantas vezes declarou: “tragada
foi a morte pela vida” (2Cor 15,54)82. Por fim, desafiei os soldados presentes a honrarem a
memória do companheiro de farda morto, agindo conforme o testemunho deste e do juramento
que todos fizeram à sociedade diante de Deus.
Foi um dos momentos mais marcantes no exercício da capelania militar, mas tenho
convicção que esta ação de conforto e consolo, naquele momento de dor e ódio, pacificou as
ações policiais.
4.4.2 Capelania Hospitalar
Diferente da legislação da assistência militar, não há um reconhecimento oficial para
a assistência religiosa em ambiente hospitalar no Brasil, não identificando o tipo de pessoa que
possa exercer, quais qualificações são imprescindíveis, remuneração etc. Contudo, a atividade
em si é reconhecida e orientada – minimamente – por meio dos Conselhos de Ética locais, que
direcionam os capelães a atuarem próximo a enfermos, a enlutados e aos profissionais diretos
da saúde, como enfermeiros, médicos e demais profissionais da rotina hospitalar. A convivência
com a dor e o sofrimento, próprio ou do outro, e a rotina de morte exige suporte emocional e
espiritual que a capelania pode auxiliar.
A constituição federal garante a assistência religiosa de maneira ampla aos ambientes
públicos e privados, de maneira específica para o contexto hospitalar, temos, na promulgação
do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 14 de julho de 2000, a Lei nº 9.982, as seguintes
disposições sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e
privadas:
81 BÍBLIA, 2003. 82 BÍBLIA, 2003.
236
Art. 1o Aos religiosos de todas as confissões assegura-se o acesso aos hospitais da
rede pública ou privada, bem como aos estabelecimentos prisionais civis ou
militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo
com estes, ou com seus familiares no caso de doentes que já não mais estejam no gozo
de suas faculdades mentais.
Art. 2o Os religiosos chamados a prestar assistência nas entidades definidas no art.
1o deverão, em suas atividades, acatar as determinações legais e normas internas de
cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do
paciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou prisional (BRASIL, 2000, np., grifo
nosso).
Mais uma vez o Estado Laico oportuniza a assistência religiosa confessional ao
cidadão em situação de restrição, reclusão e internação por enfermidade, entendendo a
característica de fé do seu povo e as necessidades da assistência espiritual dentro de uma visão
holística de saúde do ser humano. Importante ressaltar que o paciente tem o direito tanto de
receber quanto de recusar conforto espiritual.
A capelania hospitalar ainda não atingiu o status da militar no Brasil, entretanto, já
adquiriu reconhecimento e procedimentos oficiais para sua atuação em hospitais em outros
países, como nos EUA, onde:
[...] a progressiva legitimação do par espiritualidade/saúde foi uma das principais
justificativas para que o status dos ‘capelães’ em contextos de saúde fosse alterado de
‘especialistas limitados a assistência religiosa’ para ‘profissionais treinados para
compor equipes de saúde’ ou ‘experts no tratamento da dimensão espiritual da saúde’
(TONIOL, 2017, p. 290).
A capelania religiosa em hospitais vem conquistando o seu espaço e ampliando sua
rotina de atuação à medida que a espiritualidade do indivíduo passa a ser compreendida como
saúde primária, conforme resumo histórico abaixo:
Quadro 22 – Resumo histórico sobre a Espiritualidade como saúde primária
Espiritualidade Saúde Primária – ESP
1948 Criação da OMS Organização Mundial da Saúde
1968 Criação do CMC Conselho Médicos Cristãos
1974 1ª Ação Conjunta – OMS & CMC Discussões sobre Espiritualidade na saúde
1978 OMS – Reconhece Medicinas Alternativas e Complementares
1979 OMS – 1ª Ação reconhecimento – ESP Espiritualidade Saúde Primária
1984 OMS – reconhece – ESP Espiritualidade Saúde Primária
2005 UNESCO - declaração – ESP Espiritualidade Saúde Primária
2008 AMA – Declaração – ESP Associação Médica Mundial
2004 Código de Ética Médica Canadá
2005 Código de Ética Médica EUA
237
Quadro 22 – Resumo histórico sobre a Espiritualidade como saúde primária
(Continuação)
2008 Código Deontologico Portugal
2009 Código de Ética Médica México
2009 Código de Ética Médica Brasil
Fonte: Toniol, 2017 – Elaborado pelo autor
No Brasil, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) aprova a Carta dos Direitos dos
Usuários da Saúde em sua 198ª reunião ordinária, de 17 de junho de 2009, e em seu 4º artigo,
inciso XIV, orienta o atendimento religioso de qualquer credo:
X – a escolha do local de morte; XI – o direito à escolha de alternativa de tratamento,
quando houver, e à consideração da recusa de tratamento proposto; XII – o
recebimento de visita, quando internado, de outros profissionais de saúde que não
pertençam àquela unidade hospitalar, sendo facultado a esse profissional o acesso ao
prontuário; XIII – a opção de marcação de atendimento por telefone para pessoas com
dificuldade de locomoção; XIV – o recebimento de visita de religiosos de qualquer
credo, sem que isso acarrete mudança da rotina de tratamento e do estabelecimento e
ameaça à segurança ou perturbações a si ou aos outros.83
O vazio existencial percebido no menor infrator encontra ecos de afinidades com o
conceito de neurose noogênica apontado por FRANKL (2015), em que “as neuroses (surgem)
de problemas existenciais. Entre esses problemas, a frustração da vontade de sentido
desempenha papel central”. No menor infrator excluído da CCB, tal frustração vem à tona
diante da perda de e da vontade de sentido, assumido na interiorização do discurso de exclusão
da CCB, tal neurose é identificada pelo capelão que, na rotina assistencial, por meio de
metodologias próprias da capelania cristã, como também no ambiente hospitalar, procurará
responder às questões mais profundas da existência humana, questões estas que não são
respondidas pela ciência médica, mesmo que:
[...] o hospital seja moderno, o tratamento seja o mais eficaz e os profissionais da
saúde sejam os melhores, isso não oferece respostas às questões últimas da vida: de
onde vim? Para onde vou? O que faço aqui neste mundo? (SILVA JUNIOR, 2018, p.
92).
A capelania hospitalar exige habilidades emocionais, postura higiênica e rigor ético
diferenciado do capelão, quando comparado a outros ambientes assistenciais, não apenas em
virtude da questão sanitária e demais cuidados procedimentais que o ambiente hospitalar exige,
83 Cf. em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1820_13_08_2009.html
238
como também profunda empatia, resiliência e sensibilidade diante de um contexto de dor,
sofrimento, morte e luto de pacientes, familiares e de enfermeiros, médicos e demais
profissionais da saúde.
Para o capelão cristão há o imperativo proposto pelo apóstolo Paulo de: “chorai com
os que choram” (Rom 12,15)84, e ao cumprir este mandamento o desafio consiste em prestar a
assistência sem se sobrecarregar, sem adoecer junto, sem perder a dimensão de si mesmo diante
do cuidado do outro. Vassão (2013), capelã hospitalar, propõe 48 normas para a assistência
religiosa em ambiente hospitalar, entre estas destacamos:
3 – Tente se colocar no lugar do paciente;
5 – Não entre em qualquer quarto sem antes bater à porta;
7 – Obedeça a todas as normas do hospital;
9 – Evite esbarrar na cama ou sentar-se nela;
17 – Não dê água ao paciente sem permissão da enfermagem;
21 – Não pense que você sabe o que ele está sentindo;
30 – Dê prioridade ao atendimento de médicos e enfermeiros. Ceda a sua vez;
44 – Se estiver visitando áreas infectadas, lave o jaleco separado de outras roupas.
Use paramentação adequada conforme recomendações da enfermaria do hospital.
48 – Termine a vista de maneira agradável. Diga ao paciente que foi bom estar com
ele, ouvi-lo e conhecê-lo melhor. Diga que espera visitá-lo (VASSÃO, 2013, apud
SILVA JUNIOR, 2018, p. 93).
Dentre muitas experiências vividas no ambiente hospitalar, uma das mais marcantes
ocorreu no ano 2000, em que um adolescente de nossa comunidade de fé foi assistir a um jogo
de seu time do coração, o Santos, pela primeira vez no estádio da Vila Belmiro. Não sendo
torcedor organizado e sem cultura de estádio, para não ir sozinho aceitou convite de amigos,
também menores, e desceu à baixada Santista com o ônibus da Torcida Jovem Santista do
Aricanduva. Após assistir ao empate de 1x1, retorna com o mesmo ônibus, desce com seus três
amigos, caminhando do barracão da torcida para o ponto de ônibus. Longe da aglomeração, o
grupo de adolescentes é abordado por cerca de quinze torcedores são paulinos que estavam
escondidos com barras de ferro, paus, socos inglês e correntes, e atacam. Dos quatro menores,
três correm, um cai e é agredido brutalmente. A família do jovem já havia perdido a mãe para
o câncer fazia pouco tempo, e tinha no pai um homem emocionalmente fragilizado, e três
meninas. Como capelão, atendi primeiro a família em sua casa e depois, em nome desta, fui ao
hospital, onde o menor já havia sido declarado morto. Tive que fazer o reconhecimento do
corpo e junto a outro familiar atuar na burocracia que este tipo de morte carrega, atender
policiais e imprensa, protegendo a família de perguntas invasivas e da exposição explorada por
84 BÍBLIA, 1994.
239
certos reportes sensacionalistas. Após a liberação do corpo, fiz a celebração funeral levando a
mensagem da ressurreição de Lázaro, amigo de Jesus.
E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com ungüento (sic), e lhe tinha
enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo.
Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu
amas.
Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar.
Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia.
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja
morto, viverá;
E todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? (1Jo 11,2-3; 23-
26)85.
Lembrei a família que os amigos e amados de Jesus também sofrem, que a dor e o
sofrimento não significam distância ou desinteresse do Filho de Deus, antes, o Cristo se faz
presente, é o Consolo de Deus encarnado entre os homens e vive em nossos corações. Lázaro
era querido e amado por Jesus, e o menor – filho, irmão e amigo – assassinado também. As
irmãs de Lázaro choraram e buscaram a Jesus, assim como as irmãs do menor e toda a família
deviam fazer o mesmo. Jesus chorou com Marta e Maria, e chorava com a família neste
momento, e que a promessa da vida Eterna confirmada a Lázaro é garantida neste momento
também. Jesus chorou, choremos, Jesus morreu e ressuscitou, Marta e Maria acreditavam no
poder da ressurreição, acreditemos nós também, e nos consolemos mutuamente.
Foi um momento de muita dor e comoção da família, da comunidade de fé e de um
grupo grande de torcedores santistas, e a mensagem da ressurreição do amigo de Jesus trouxe
esperança a todos nós a respeito do menor, nosso amigo que partira.
4.4.3 Capelania Escolar
Dentro da sua peculiaridade, o ambiente estudantil – desde as creches até as
universidades – é um espaço de desenvolvimento e de tensões sociais, ambiente de diversidade
e pluralidade, de conhecimentos, disputas e competições, algumas saudáveis outras predatórias,
e ao descrever os desafios e oportunidades que a escola apresenta, Vieira (2011, p. 21) lista sete
tipos diferentes de escolas, a saber: “públicas, comunitárias, particulares de donos não
religiosos, particulares com donos com responsabilidade religiosa, confessionais abertas e
85 BÍBLIA, 2003.
240
religiosas”. Assim sendo, é possível pensar em ao menos sete modelos diferentes de projetos
de atuação da capelania.
A capelania escolar pode contribuir de forma direta para o convívio amigável, tolerante
e fraterno entre alunos, fomentando o respeito pelo indivíduo em sua integralidade, mediando
situações de tensão e conflito, suportando os diversos profissionais pedagógicos nos
relacionamento interpessoais, levando conforto, incentivo e motivação aos professores, abrindo
espaço para ouvir e aconselhar, desenvolvendo em suas práticas um clima organizacional
profissional e agradável, e ainda propondo e executando projetos solidários que, a partir dos
alunos, envolvam toda a comunidade escolar.
A discriminação, intolerância e violência percebidos na sociedade se fazem presente
também no ambiente estudantil. O fenômeno que ficou conhecido como bullying86 tem sido
grande desafio para alunos, pais, pedagogos e coordenadores em geral, e pode ser antecipado
por meio da ação do capelão, sendo a capelania uma resposta rápida no identificar os sinais de
dor, tristeza, medo, ansiedade no relacionamento informal (corredores e pátio) e formal
(atendimentos aos alunos).
O bullying é a conduta de humilhar ou constranger intencionalmente alguém,
mediante repetidas intimidações, ridicularizações e agressões físicas ou psicológicas.
A característica principal do bullying é a ação repetitiva de humilhar, discriminar,
aterrorizar, perseguir, isolar, intimidar, excluir ou agredir (SCHELB, 2012, p. 28).
Na capelania escolar, o suporte emocional ocorre no momento de descobertas, de
autocompreensão, de conflitos físicos, emocionais, existenciais, entre outros dilemas e tensões,
conforme...
[...] Marcelo Knobel aponta que os adolescentes passam por diversos desequilíbrios e
instabilidades, e são exatamente essas manifestações semipatologicas que podem ser
constituintes do que ele denomina ‘síndrome da adolescência normal’ (TORRES,
2013, p. 187).
As crises e tensões, que para a psicologia são normais da adolescência, geram conflitos
e inquietações anormais no ambiente escolar. Os conflitos são de natureza múltiplas e podem
ocorrer no relacionamento entre os próprios alunos, alunos e professores, profissionais da
educação e familiares.
A partir da ação cotidiana da capelania, relacionamentos fraternos de confiança são
desenvolvidos, podendo o capelão identificar, antes das autoridades escolares e policiais, até
86 Do inglês bullying, sinônimo de ameaça, opressão, perseguição, tirania, intimidação e humilhação.
241
mesmo antes da própria família, situações de abusos e violências, baixa estima, síndromes e
pânicos, e assim antecipar ocorrências de automutilações e suicídio, entre outros.
O tamanho do desafio foi mensurado em uma pesquisa realizada em 2005, apontada
por Rodrigues, C. (2011, p. 23).
Demonstrou os seguintes dados: 350 milhões de crianças são vítimas de violência
escolar por ano, ou seja, a cada dia aproximadamente 1 milhão de crianças sofrem
algum tipo de violência nas escolas em todo o mundo.
Ainda dentro de um contexto de suporte que a capelania pode dar aos estudantes,
mesmo sem aprofundamento, é importante citar outras questões de conflitos e tensões que
ocorrem no ambiente escolar, tais como: abusos sexuais, gravidez indesejada e precoce,
consumo e tráfico de drogas. Muitos alunos se veem abandonados dentro de suas casas, diante
de um quadro de famílias desestruturadas, com histórico de violência e abandono doméstico, e
não tem com quem dividir crises existenciais, sendo o capelão uma figura adulta que, com
responsabilidade, empatia e afeto, pode suprir parcialmente essa ausência.
O ambiente escolar não pode limitar-se ao cientificismo, erudição e academicismo,
sem dúvidas estes compõem sua responsabilidade, mas não se resume a estas. Como ambiente
de relacionamentos humanos, é imprescindível o fomentar da fraternidade, empatia,
solidariedade e fé, valores desenvolvidos nas atividades da capelania escolar que, em parceria
com a coordenação pedagógica, pode levar para a sala de aula e para a lousa exemplos
extracurriculares de solidariedade, compaixão, misericórdia. Enfim, todos que fazem parte do
fazer escolar precisam compreender que de fato:
[...] a escola passou a ter outras responsabilidades, além de promover os conteúdos
educacionais tradicionais. É nas escolas que milhares de crianças aprendem a se
relacionar umas com as outras, adquirem valores e crenças, desenvolvem senso
crítico, autoestima e segurança. Esse papel tem ainda maior peso quando não há
na comunidade uma rede de serviços de proteção social que dê um atendimento
suplementar a essas crianças e jovens, naqueles intervalos entre o término do período
escolar e a volta de seus pais para casa (RUOTTI; ALVES; CUBAS, 2006, p. 14, grifo
nosso).
Toda criança e adolescente carece de estrutura saudável e segura para desenvolvimento
de sua autoestima e tem direito garantido de ser criado e educado em ambiente familiar estável,
seguro, respeitoso e fraterno (Cap. III, Art. 19. ECA, Lei. no 8.069/1990), todavia, a pesquisa
demonstrou no constructo histórico do menor que este direito passa ao largo da infância de um
percentual significativo do povo brasileiro, e que para os menores pentecostais da periferia, em
242
muitos casos, a rede de apoio limita-se à igreja e ao crime, uma vez excluídos da CCB, e se não
houver o acolhimento da capelania nas escolas, restará apenas o discurso do crime.
Como capelão escolar, o caso de um menino com disfemia do 6º ano do ensino
fundamental exemplifica a ação de atenção e acolhimento que a capelania pode dar.
Numa turma com cerca de 25 alunos (crianças), inúmeras são as possibilidades de
tensões e conflitos que o professor precisa administrar enquanto ministra sua aula, preenche
formulários e relatórios de classe, escreve na lousa, corrige equívocos, soluciona dúvidas, entre
outros.
O aluno, de cerca de dez anos, tinha uma gagueira muito forte, e quando ficava tenso,
nervoso, a dificuldade de fala aumentava consideravelmente, e assim sendo, não se expunha e
não apresentava suas dúvidas, apenas observava, mais silencioso e muitas vezes cabisbaixo.
Com isso, o seu processo de desenvolvimento pessoal, relacional, educacional, ficando
comprometido diante deste quadro.
Nas atividades da capelania, propomos uma encenação teatral, uma peça simples que
tinha papeis com falas e outros não, alguns de destaque à frente e outros que ficariam mais atrás
no palco, mais discretos, além de uma coreografia. A ideia era que todos participassem, cada
um dentro do próprio gosto, e para minha surpresa o aluno gago pediu para fazer o papel
principal, o que teria mais fala e mais exposição.
Como a turma havia sido preparada para o acolhimento durante todo o ano, todos
aceitaram, e não apenas isso, apoiaram e vibraram com a decisão do aluno em se expor.
Os ensaios deram confiança aos atores, atrizes, coreógrafos e coreógrafas mirins, a
dificuldade do aluno foi atenuada e nos anos seguintes tornou-se um verdadeiro tagarela, no seu
jeito e ritmo de fala. A capelania incluiu o gago entre os falantes.
4.4.4 Capelania Prisional
A vivência em ambiente carcerário foi o motivador principal desta pesquisa, sendo a
capelania prisional uma das frentes missionárias mais atuantes dos cristãos evangélicos.
Não há números oficiais consolidados da assistência religiosa em prisões no Brasil,
contudo, a partir da experiência pessoal, em mais de oito anos de atuação na Fundação Casa, e
no convívio com internos, presos, agentes penitenciários e capelães, é possível inferir que o
exercício da capelania prisional, em sua ampla maioria, é realizado por capelães evangélicos.
Pesquisas isoladas confirmam esse sentimento vivencial, onde, por exemplo:
243
[no] sistema socioeducativo, os evangélicos estão em 94% das unidades do país,
representando 73,4% de todas as instituições religiosas que nelas atuam. Ademais,
ainda que não haja o mesmo levantamento em relação à presença religiosa nos
presídios comuns, já há inúmeros casos de unidades prisionais que contam com as
chamadas “celas evangélicas” que abrigam reclusos dessa vertente e servem, também,
para a proteção de estupradores e outros detentos jurados de morte (SILVA JUNIOR,
2015, p. 36).
Se nas unidades para menores os evangélicos representam 73,4% da assistência
religiosa, no ambiente prisional para adultos a representatividade não fica atrás. Os números de
agentes religiosos nas unidades do Rio de Janeiro em 2002 confirmam 80% como cristãos,
sendo 61% dos capelães como cristãos evangélicos, 19% cristãos católicos e 8% espíritas.
Interessante observar que, segundo o Censo de 2000, a população declarada católica era de
74%, contra apenas 15% de evangélicos – protestantes e pentecostais –, contudo, tal
proporcionalidade não reflete o interesse da Igreja Católica pela assistência religiosa dentro dos
presídios cariocas.
Figura 22 – Capelães Religiosos nas unidades penais do RJ
Fonte: ISER, 2006
No encontro semanal, o capelão cristão evangélico irá assistir pessoas de crenças
diversas, inclusive não cristãs, que desejem e busquem na capelania o suporte espiritual que
eventualmente sua religião pregressa não ofereça neste local; atenderá também internos de
244
confissões evangélicas distintas, com visões teológicas e doutrinárias divergentes e às vezes
conflitantes entre si, não cabendo ao capelão resolver tais conflitos; precisará, em suas
atividades semanais, criar ambiente harmonioso para agregar e suportar a todos que busquem o
atendimento.
Em suas atividades o capelão busca relembrar valores de vida esquecidos, propiciar
reflexão sobre o fato criminoso ou infracional que levou ao encarceramento, elevar a
autoestima, buscar sentido ao sofrimento experimentado, não permitir ao que busca a
assistência confessional que “entregue os pontos”, trazer à memória o discurso de fé que lhe dê
esperança e a importância de pagar a dívida com a sociedade, retornar a sua família de cabeça
erguida, transformado, regenerado.
Esta tarefa é facilitada na relação com aqueles que mantém laços com suas instituições
de fé anteriores ao confinamento, mesmo que suas igrejas não estejam presentes no ambiente
prisional, mas o fato de saber que há um vínculo institucional, que os irmãos estão orando por
mim, etc., mantém o sentimento de pertença e fé aprendida e interiorizada em sua história, sendo
este sentimento um “outro recurso para escapar do vazio, da desolação e da pobreza espiritual
de sua existência atual” (Frankl, 2015, p. 57), para o menor infrator excluído da CCB não, visto
que este não encontra suporte em seu passado, que lhe foi abruptamente arrancado, não tem
esta força de vontade, este sentido em seu interior.
A capelania cristã evangélica tem objetivos claros para com o encarcerado e para com
a sociedade. Para o interno, menor ou adulto, o objetivo é o resgate dos valores de vida e fé que
possibilitem, ainda no cumprimento de medidas socioeducativas ou prisão, a regeneração do eu
anterior, possibilitando a ressignificação do sujeito. Para a sociedade, é a ressocialização, o
retorno pleno de um cidadão recuperado, consciente do peso e arrependido do seu delito, que
desenvolva vida social e cidadania digna e útil.
A palavra regeneração no contexto cristão, de maneira simplista, significa: gerado
novamente; uma nova vida a partir de valores éticos elevados, resultando em novas práticas e
ações sociais. Na fala do apóstolo Paulo: “Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova
criação. A velha vida acabou, e uma nova vida teve início” (2Cor 5,17)87. No dicionário laico
de diretores, agentes prisionais e outros profissionais do ambiente carcerário, a palavra que se
aproxima a este ideal é recuperação, e para o relator especial da ONU sobre crimes de tortura,
o argentino Juan Ernesto Méndez88, é exatamente o que falta ao Brasil, o ideal de recuperação
87 BÍBLIA, 2018. 88 Juan E. Mendez, argentino, nascido em 11/12/1944. Formando em Direito pela Faculdade Stella em 1970 se
exila nos EUA em 1977 após perseguição política local. É um político ativista dos direitos humanos, em
245
moral do encarcerado, conforme resposta dada ao jornalista e blogueiro Leandro Colon, da
Folha de S.Paulo:
O senhor citou medidas para regenerar o preso. É possível a essa altura avançar nesse
sentido?
É fundamental e isso faz parte da regra mínima de tratamento dos prisioneiros, de
necessidade de restabelecê-los. Muitos países, como o Brasil, abandonaram a ideia
de recuperação. Todos deveríamos pensar que é um grande erro abandonar a ideia
de recuperação social e moral deles. Há esperança, não podemos perdê-la, senão mais
tragédias como essa do Maranhão vão ocorrer89 (grifo nosso.)
Diante do quadro de violência dentro do ambiente carcerário e do alto nível de
reincidência, a sociedade está descrente e desesperançada da ressocialização de seus cidadãos
confinados. Esse sentimento de irreversibilidade é materializado no menor infrator excluído da
CCB, que, uma vez condenado em vida à danação eterna, decide pela vida marginal. Virar o
‘S’ é a resposta para a perda da possibilidade de perdão, do retorno à fé em vida, e
principalmente, a perda de esperança do pós-morte feliz. Enfim, quando perde o sentido e
vontade de vida, não há motivação dentro ou fora do sistema carcerário, e tal sentimento é
identificado pelo capelão em algumas atitudes e gestos, bem como na interpretação das frases
ouvidas: para mim já era; estou no inferno; a casa caiu; caí da graça; entre outras.
A reincidência é um problema crônico, o que explica o sentimento de descrédito da
sociedade em geral para com o sistema prisional, e precisa ser combatido. Além das questões
estruturais conhecidas, a perda do sentido e vontade de vida pode explicar o bate e volta de
menores entre a rua e a Fundação.
[...] sistema prisional (em dezembro de 2013, por exemplo, se somarmos as pessoas
em prisão domiciliar, tínhamos mais de 715.000 presos), ocasionando um índice de
reincidência entre 70% e 85%. Por isso mesmo, a ressocialização do infrator, uma das
principais funções da pena, não é minimante cumprida: o encarceramento se ajusta
mais a uma ‘escola do crime’ e é potencializador. (SILVA JUNIOR, 2015, p. 32).
Resgatar primeiro no interno e depois na sociedade a fé na ressocialização dos menores
é o grande desafio da capelania, e para tal é necessário desmistificar a ideia de bandido bom é
bandido morto90, slogan político de sucesso criado por José Guilherme Godinho, o Sivuca,
especial em defesa da população carcerária no mundo. Diretor da Open Society Foundations, observador da
ONU. Esteve no Brasil em 2014 após os eventos de torturas, mortes, decapitações ocorridas nos presídios do
Maranho em dezembro de 2013. 89 Cf. em: https://leandrocolon.blogfolha.uol.com.br/2014/01/12/brasil-abandonou-ideia-de-recuperar-presos-
diz-relator-da-onu-leia-integra/. 90 Cf. em: https://emporiododireito.com.br/leitura/bandido-bom-e-bandido-morto-uma-frase-da-decada-de-80-
que-renasce-como-ditado-popular.
246
Delegado de Polícia do Rio de Janeiro, candidato a deputado estadual em meados dos anos 80,
dentro do Regime Militar, e que ecoa até o presente. A ideia polarizada de duas cidades, duas
sociedades, do homem e do cidadão de bem versus o homem e o cidadão do mal, apesar de em
alta no século XXI, nasce e se desenvolve no constructo histórico do desvio semântico do
menor.
De um lado, a (velha) proposta de limpar a cidade – dos menores, dos indesejados, dos
desempregados –, de excluir do convívio social, aprisionar, trancafiar, lançar no xadrez e jogar
a chave fora, enfim, matar o desajustado social; do outro, a ação de resgatar a esperança, na
regeneração do eu e a recuperação do sujeito através das práticas e disciplinas da religião é de
fato um grande desafio, contudo, tal desafio é atenuado quando profissionais do meio enxergam
na ação religiosa um instrumento social efetivo para a recuperação de encarcerados, visto que
para alguns diretores de presídios, casas de custódia e Fundações, a ação da religião no processo
de ressocialização do interno e/ou do preso é mais do que facultativo, é essencial.
Segundo a direção do CPP, a ação religiosa é essencial. ‘Já tive experiencia de
conhecer indivíduos que haviam mergulhado de cabeça no crime, se converteram, e
tiveram uma mudança radical. Existe esperança. Uma possibilidade de mudança’,
afirmou o diretor Eduardo Vila Boas. Perto de completar 5 anos à frente da unidade,
Eduardo é agente penitenciário há quase 25 anos (JUNIOR, Chico, 2018, p. 8).
Na visão de juízes, como o então Juiz de execuções penais Adeíldo Nunes, que aprova
e estimula o direito da assistência religiosa dentro dos presídios, reconhecendo nesta o trabalho
e a força na diminuição da reincidência criminal.
Através da Religião apontada por psicólogos como um dos agentes ressocializadores
mais fortes, diversos grupos trabalham dentro das unidades para diminuir a
reincidência criminal. A atitude é aprovada e estimulada pela secretaria de
ressocialização (SERES) PE, e pela Vara de Execuções Penais (VEP). O acesso a
orientação religiosa não é um privilégio do detento e, sim, um direito, diz o Juiz
Adeíldo Nunes, contando que, em Pernambuco, a participação de grupos religiosos é
uma das mais fortes do país (ANDRADE, 2010, p. 44).
Sobre a postura e a diferença entre um preso comum e um convertido na cadeia à
mensagem cristã evangélica, o Dr. Rogério Greco91 afirma:
Raramente os presos convertidos causam algum problema durante a execução de sua
pena. Não se rebelam, atendem a todas as autoridades e otimizam seu tempo com
trabalho, lazer e, principalmente, com o conhecimento diário das Sagradas Escrituras
(SILVA JUNIOR, 2015, p. 24).
91 Procurador da Justiça do MPMG, mestre e doutor em Direito.
247
Os funcionários das unidades do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná
(DEPEN /PR) percebem diferença na postura do preso convertido, identificando efeito positivo
no ambiente prisional.
De acordo com funcionários, independente da conversão religiosa falsa ou verdadeira,
ela produzia, sempre, mudanças no comportamento dos detentos [...] o efeito que a
conversão religiosa produzia neste universo era tido como benéfico em geral. Não
apenas porque trazia ‘estabilidade’ – ou seja, minimizava as dificuldades (materiais
ou não) existentes neste universo e diminui tensões – mas porque, em última instancia,
a religião era concebida com benéfica (SCHELIGA, 2000, p. 74).
E por fim, no entendimento...
[...] dos diretores, advogados, pedagogas e agentes penitenciários sobre a conversão
religiosa foi semelhante ao dos profissionais da Divisão de Assistência Social (DIAS)
[...] estes funcionários sempre que questionados sobre o comportamento dos
convertidos ao pentecostalismo afirmaram que os ‘crentes’ eram, em sua maioria,
‘equilibrados e responsáveis’ (representações que se opõem àquelas comumente
associadas à condição de presidiário: ‘agressivo’ e ‘desinteressado’) (SCHELIGA,
2000, p. 84).
Importante destacar que em sua pesquisa Scheliga (2000, p. 31) identifica entre os
grupos religiosos a atuação da CCB nas unidades de Prisão Provisória de Curitiba (PPC) e a
Penitenciária Central do Estado do Paraná (PCE), através de – para a pesquisadora – um
representante oficial da instituição, o pastor por nome Ademir.
A estratégia dos ‘plantões’ para contactar os agentes religiosos não foi totalmente
eficaz. Mesmo tendo realizado contato com a maior parte dos pastores, obreiros e
voluntários cadastrados para visitar os detentos na PPC, não consegui entrevistá-los
posteriormente, pois alguns forneceram telefones e endereços nos quais não foram
localizados - como por exemplo, o Pr. Jorge, da IURD, e o Pr. Ademir, da CCB. Tal
atitude foi interpretada como uma recusa em falar sobre o assunto, apesar de alguma
insistência minha.
A pesquisadora não conseguiu avançar em suas entrevistas com o pastor Ademir, e
assumindo a falta de retorno deste como recusa, desiste de evoluir, contudo, ocorre que de fato
a CCB não tem pastores e entende que “Só existe um pastor da igreja: Jesus Cristo; os demais
pastores são homens carnais” (FERREIRA, 2007, p. 128).
Um servo de Deus do Estado do Paraná preveniu a todos os presentes a esta reunião
sobre a distribuição de folhetos de propaganda e convite a um batismo que se iria
realisar (sic) na cidade de Pitanga, daquele Estado. O servo de Deus declara a todos
que tais folhetos não foram impressos pelos irmãos responsáveis pela Obra de Deus,
porém por irmãos novos na graça sem entendimento, entretanto movidos pela boa
vontade. Estes irmãos foram admoestados e ensinados a não repetirem tal cousa; a
248
Obra de Deus é Ele Quem a realisa (sic). Não temos necessidade de propaganda, nem
publicações em jornais e revistas, nem de programa de rádio ou televisão. Não
fazemos também pregações em praças públicas; Deus é Quem manda as almas em
nosso meio (CCB, 1962, tópicos de ensinamentos “Panfletos e Propagandas”).
Se o Ademir de fato fosse membro da CCB, este fazia suas ações na PPC por vocação
e opção pessoal, não representando a igreja, e mais, se eventualmente for interpelado por esta
poderia mesmo ser excluído por estar em pecado, visto que: “pastor é um título humano que
leva a vaidade da carne” (FERREIRA, 2007, p. 194).
Retornando à questão do papel da religião no processo de ressocialização dos que
acreditam e atuam na recuperação de internos e presos, os evangélicos são a maioria,
infelizmente a CCB não faz parte deste percentual. Dentre os pentecostais, as AD’s assumem
essa missão desde o seu nascimento em solo nacional, a partir da figura de Frida Vingren.
Registrando esta história, Alencar (2012, p. 96) indica que a matriarca da maior igreja
pentecostal do Brasil “[...] dirigia cultos na Praça Onze, em presídios, nas casas e nos templos”.
Apesar de não ter o reconhecimento devido por seu pioneirismo nas pregações, escrita e redação
em revistas e jornais da segunda igreja pentecostal em solo nacional, Frida planta uma semente
de fé que continua dando frutos nas AD’s, a ressocialização de presos por meio da capelania
prisional, o que é apontado por Andrade (2010) em sua dissertação sobre o papel das AD’s na
ressocialização de presos, e ao entrevistar encarcerados dos presídios pernambucanos,
identifica que:
Essas pessoas que outrora aterrorizavam, passam a estar fora das paradas de crimes;
e de uma forma bem sui generis, o sujeito que tinha o crime como forma de
sobrevivência, passa agora a usar as memórias do crime como instrumento para
combater a criminalidade (ANDRADE, 2010, p. 41)
De todas as capelanias, sem dúvidas, a prisional é a que tem o apelo bíblico mais claro,
direto e objetivo, fazendo parte das disciplinas da fé cristã o ir visitar, assistir, atender e acolher
os encarcerados.
Sendo estrangeiro, não me recolhestes; estando nu, não me vestistes; e enfermo, e na
prisão, não me visitastes.
Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou
com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos?
Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes
pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim (Mt 25,43-45)92.
E ainda:
92 BÍBLIA, 1994.
249
Lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos.
Lembrem-se dos que são maltratados, como se sofressem os maus-tratos em seu
próprio corpo (Hb 13,3)93.
A assistência cristã evangélica dentro dos presídios passa pela ação fraterna, ousada e
misericordiosa de pessoas comuns, homens e mulheres que assumem o sofrer do outro como se
fosse o próprio sofrer e desenvolvem ministérios pessoais de misericórdia. Essas ações
anônimas e isoladas repercutem e, algum tempo depois, as instituições religiosas criam
estratégias, treinamentos e grupos de ação em presídios e fundações Brasil afora. Entre estes
heróis da fé moderna, temos no missionário Paul Vandoros94 uma referência para os da
denominação Batista.
Em 1968, com o jubileu do Pr. José Furtado de Mendonça, passou a ser liderada física
e espiritualmente pelo Pastor SILAS DA SILVA MELO, recém chegado (sic) do
Estado da Paraíba onde, no Nordeste, liderou a Campanha Nacional de Evangelização
em Recife, transferindo-se para a Junta de Missões Nacionais em São Paulo e
assumindo o pastorado da Igreja Batista Betel. Ocasião em que a igreja pôs em prática
o ide de Jesus, buscando almas e adentrando presídios com o Missionário Paul
Vandoros, da J.M.N. e membro de Betel. A Casa de Detenção de São Paulo, localizada
próxima da igreja passou a ter uma congregação onde centenas de presidiários tiveram
um encontro com Jesus e libertaram-se do cárcere do pecado.95
A ação anônima e muitas vezes isolada de cristãos evangélicos, protestantes e
pentecostais de assistir aos que estão aprisionados, não permite, nesta pesquisa, fazer uma
cronologia precisa do constructo histórico da capelania prisional entre as instituições religiosas.
Os dados abaixo são introdutórios e nos servem como referencial temporal.
Quadro 23 – Resumo Histórico da Capelania Prisional Evangélica
Data Pessoa – ministério Igreja - organização
193-(?) Frida Maria Strandberg Vingren CGADB AD's
1970 Junta Missões Nacionais – Batistas JMN Batistas
1980 Assoc. Proteção e Assistência ao Condenado APAC Inter denominacional
1980 Sociedade Bíblica do Brasil SBB Inter denominacional
1981 Ministério Jesus Ama o Menor JEAME Inter denominacional
1990 Universal Nos Presídios UNP IURD
2016 Escola Teológica Deus é Amor ETDA IPDA
Fonte: Elaborado pelo autor
93 BÍBLIA, 2018. 94 Paul Vandoros, falecido em 12/03/2005. Pioneiro entre os Batistas na evangelização em presídios. Atual por
cerca de 30 anos no atendimento a encarcerados, sendo que no Carandiru mais de 15 anos. 95 Cf. em: http://www.findglocal.com/BR/S%C3%A3o-Paulo/349347558496178/Igreja-Batista-Betel
250
Dos pentecostais, temos as ADs da primeira onda, IPDA da segunda onda, IURD da
terceira onda, e algumas instituições não denominacionais cumprindo, em momentos diferentes,
o preceito indicado por Jesus no texto neotestamentário; já a CCB, enquanto instituição, não se
faz presente e não se lembra “dos que estão em prisão”.
Na voz de presos e internos, temos a esperança da ressocialização como interpretação
da ação missional e da capelania prisional:
“Vocês são uma esperança para nós96” – Alexandre B. Melo – CPP Franco da Rocha;
“Eu estou preso fisicamente, mas liberto espiritualmente97. – Mauricio M. Silva –
Penitenciária Avaré II;
“Já me fizeram muitas propostas para trocar Jesus pelas armas. Mas o que Deus me
deu vale muito mais do que um caminhão de ouro98. – Deoclécio L Silva – Presídio Professor
Anibal Bruno (PE);
“Foi preciso muitos irmãos apenados caírem numa cela para poder conhecer a palavra
de Deus e o caminhar da fé. Isso nos liberta espiritualmente e nos faz crer que o delito que
cometemos lá fora foi um erro que dificilmente cometeremos novamente.99” – Leonardo Silva
Nunes – Presídio de Igarassu (PE).
Não apenas a ação dos religiosos, era necessária uma mudança de postura do Estado
no entendimento e cumprimento de seu papel no cuidado e proteção da criança e do adolescente,
e não somente o afastamento social e confinamento de menores em situação de desajuste e
conflito social. Instituições se sucedem, trocam de nomes e mantém a prática de violência e
repressão, aglomeração e confinamento de órfãos e abandonados com criminosos, inclusive
adultos, policiais militares fazendo a monitoria, orientação e o cuidado pedagógico dos
menores. O constructo histórico apresentado demonstra que as iniciativas anteriores falharam
em não reconhecer a individualidade do menor.
Quadro 24 – Instituições de Assistência ao Menor
Ano Instituição Sigla
1935 Departamento de Assistência Social de Menores DAS-SP
1938 Conselho Nacional de Serviço Social CNSS
1940 Departamento Nacional da Criança DNCr
1941 Serviço Nacional de Assistência a Menores SAM
96 JUNIOR, 2018, p. 9. 97 Liberdade atrás das grades? A palavra de Deus transforma a vida de detentos. Rev. A Bíblia no Brasil, nº
196, jun./set. 2002, ano 54. p. 13. ISSN 1518-7136. 98 Ibidem. 99 ANDRADE, 2010, p. 45.
251
Quadro 24 – Instituições de Assistência ao Menor
(Continuação)
1942 Legião Brasileira de Assistência LBA
1942 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
1946 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC
1964 Fundação Nacional do Bem-estar do Menor FUNABEM
1973 Fundação Paulista de Promoção Social ao Menor PRO-MENOR
1976 Fundação Estadual do Bem-estar do Menor FEBEM
2006 Fund. Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente Fundação CASA
Fonte: Elaborado pelo autor
De todas as iniciativas frustrantes, a mais degradante e duradora, sem dúvidas, foi a
FEBEM, que já nasce superlotada, registra as primeiras rebeliões e mortes em seu primeiro ano
de funcionamento e durante seus 40 anos de existência troca de presidência mais de 60 vezes,
acumula o registro de incontáveis rebeliões, em que violência, estupros e mortes compõem sua
rotina interna e populam as páginas nacionais e internacionais jornalísticas, sendo os seus
grandes complexos – como Franco da Rocha e Tatuapé – conhecidos como verdadeiras fábricas
do crime.
A Febem nascia superlotada. ‘A superlotação começava já nos antigos RPMs
[Recolhimento Provisório de Menores]. Onde a capacidade era 100, havia 600
internos’, afirma Marques, que diz sentir-se magoado com o atual estado da fundação.
Em agosto deste ano, o Ministério Público Estadual denunciava a superlotação na
Unidade de Atendimento Inicial (UAI) do Brás, onde 700 internos eram literalmente
espremidos em salas com capacidade para 62 pessoas.100
As mudanças necessárias surgem a partir de alguns fatores como a CIPEM em 1976,
o processo de redemocratização, diretas já em 1983-1984, as ações da sociedade civil, a
participação da religião com a Ação Social em Presídios da JMN em 1970, e SBB em 1980,
dos evangélicos. A Campanha da Fraternidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) dos católicos em 1987, com o tema A Fraternidade e o Menor, o ideal de cidadania
plena proposto na Constituição de 1988, o resgate da infância e da adolescência com a
promulgação do ECA em 1990 e do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo101
(SINASE) em 2012.
100 Cf. em: https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Direitos-Humanos/Ha-30-anos-Febem-SP-encarcera-e-nao-
recupera/5/745 - consultado 22 julho de 21. 101 BRASIL, 2012.
252
O processo que questiona a Doutrina de Situação Irregular (DSI) de repressão e
confinamento do menor, tão bem executado pela FEBEM, propõe sua extinção e nova
metodologia, agora de atenção, assistência e cuidado da criança e adolescente com a Doutrina
de Proteção Integral (DPI), fim dos aglomerados, ajuntamentos e superlotação, fim do
confinamento de órfãos e abandonados, fim dos castigos físicos e torturas, fim do
aprisionamento de menores com criminosos. A partir disso, o tratamento do menor, enquanto
individuo, conforme Art. 1º, inciso II do SINASE, que indica “a integração social do
adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais” (BRASIL, 2012).
O processo de descentralização inicia-se em 2010, a assistência à criança e adolescente
ocorrerá em âmbito municipal, objetivando, entre outros, melhor gestão de recursos técnicos e
financeiros, inclusive destinando valores em proporções que atendam tanto os grandes centros
quanto as regiões mais longínquas do país, permitindo ao menor cumprir as medidas
socioeducativas próximo de sua família, saindo da cultura dos grandes aglomerados.
Em 2005, 82% dos adolescentes do Estado estavam em grandes complexos na Capital.
Com a descentralização, a equação se inverteu: cerca de 43% estão no Interior, 38%
na Capital e os restantes distribuídos na Grande São Paulo (13%) e no Litoral (6%).
Esta distribuição foi possível por conta dos novos centros socioeducativos que, junto
com uma proposta de trabalho mais humanizada, têm permitido à Fundação CASA
escrever uma nova história.
Nasce a Fundação CASA, com proposta de descentralização, resgate da
individualidade, assistência e proteção, ampliação de unidades e diminuição de capacidade
interna, novo recorte etário de atendimento, proposta de ação educativa e não apenas punitiva,
preferência para ações e tratamento em meio aberto. As medidas de semiliberdade ou internação
plena, com tempo máximo de restrição a três anos, sendo apenas para casos graves.
A Fundação CASA presta assistência a jovens de 12 a 21 anos incompletos em todo
o Estado de São Paulo. Eles estão inseridos nas medidas socioeducativas de privação
de liberdade (internação) e semiliberdade. As medidas — determinadas pelo Poder
Judiciário — são aplicadas de acordo com o ato infracional e a idade dos adolescentes
(SÃO PAULO, 2006, np.).
A medida de Liberdade Assistida (LA) é preferencial e deve ser indicada com o
acompanhamento, auxílio e orientação ao adolescente. A LA é fixada sempre pelo Juiz de
Menores, com prazo mínimo de seis meses, e pode ser prorrogada, revogada ou substituída.
A internação é a restrição plena de liberdade, cumpre-se as medidas em regime
fechado, devendo ser reavaliada a cada seis meses e o período de internação, em nenhuma
hipótese, excederá a três anos (BRASIL, 1990, Art. 121).
253
A Portaria Interministerial nº 340, de 14/07/2004, estabelece diretrizes detalhadas para
atendimento a saúde do adolescente em situação de conflito com o Estado e a sociedade, um
conjunto de ações socioeducativas que contribua na sua formação, de modo que venha a ser um
cidadão autônomo e solidário, capaz de se relacionar melhor consigo mesmo, com os outros e
com tudo que integra a sua circunstância e sem reincidir na prática de atos infracionais; indica
também a composição técnica de recursos humanos que suportarão o menor enquanto cumpre
as medidas indicadas, sendo indicada a ação de profissionais como médicos, enfermeiros,
dentistas, psicólogos, assistentes sociais, entre outros, a fim de garantir os cuidados de atenção
à saúde do adolescente.
Esta portaria não segue de maneira objetiva a recomendação da OMS e do CNS ao que
se refere à assistência religiosa, contudo, através dos princípios e marcos legais do sistema de
atendimento socioeducativo da SINASE102, a Fundação organiza o cadastro e direciona a
atuação de assistentes religiosos em seu Programa de Assistência Religiosa (PAR). Os capelães
atuam seguindo esse programa.
Além do PAR, a Fundação CASA desenvolve programas educacionais, esportivos,
línguas estrangeiras e técnicos profissionalizantes, em parceria com empresas privadas. A
esperança e o desejo de sentido de vida que o estudo pode dar é resgatado, e o que não se via
na FEBEM passa a ser noticiado com a mudança para a Fundação.
Um interno da Fundação Casa Anhanguera (a antiga Febem), em Campinas, foi
aprovado no curso de geografia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em
Ourinhos, no interior de São Paulo. T.A.C., de 19 anos, também conseguiu uma vaga
no curso técnico de química e agora enfrenta um dilema: qual dos dois escolher.103
Dentro das unidades que atuei – Bom Retiro e Vila Maria –, muitas e marcantes
experiências foram vividas no exercício da capelania prisional, dentre estas a assistência a um
menor no seguro se destaca.
Cumprindo a rotina semanal de encontros na Casa São Paulo, dentro do Complexo
Vila Maria104 com outros dois capelães, fomos interrompidos pela coordenadora pedagógica de
plantão, que questionou se um de nós poderia atender a um menor na outra Casa, Vila
Guilherme. Sem pedir detalhes, prontifiquei-me e, deixando os dois capelães, fui sozinho.
Passei pelos portões de checagem novamente, pela revista e, chegando na outra unidade, não
102 Cf. em: http://www.conselhodacrianca.al.gov.br/sala-de-imprensa/publicacoes/sinase.pdf 103 Cf. em: http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL731231-5604,00-
INTERNO+DA+FUNDACAO+CASA+E+APROVADO+NA+UNESP.html 104 O Complexo da Vila Maria possui 6 unidades. Casa São Paulo, Vila Guilherme, Bela Vista, Onix, Mario Covas e Belém.
254
fomos ao pátio central que eu conhecia, nem na ala onde ficam as salas (celas) de educação que
usamos normalmente para os encontros da capelania. Entramos por outro corredor, onde um
agente de segurança abriu uma grade e a coordenadora pediu para que eu entrasse na “sala”. A
princípio, olhando de fora parecia um local de atendimento médico ou mesmo um escritório
administrativo, no entanto, ao entrar na sala, o agente fechou-a com um grande cadeado por
fora, olhou para mim e disse: Você tem uma hora.
A primeira sensação foi de pânico, olhei ao redor para ver se tinha janelas ou portas,
enfim, alguma saída, mas não havia. A sala tinha algo em torno de 3m por 4m, ou 5 metros
quadrados, toda branca, uma maca médica, uma divisória, um biombo, uma pia pequena, e no
canto, separado com cortina, o que parecia um banheirinho, uma mesa de escritório e duas
cadeiras, um colchão no chão com alguns pertences pessoais em cima. Nesse momento
identifiquei o garoto, que se levantou e veio até mim.
Alto, magro e muito pálido, fisionomia amarelada, como se estivesse com anemia,
dirigiu-se a mim com respeito, cabeça baixa e certo medo; não sei dizer quem estava mais
receoso, ele ou eu. Apresentei-me, perguntei-lhe o nome, quanto tempo estava na Fundação, se
era a primeira vez em processo de internação, e assim quebrei o gelo. Passado o primeiro susto
e os primeiros momentos de interação, perguntei a ele por que estava separado, por que estava
no seguro.
Mesmo depois de alguns anos no convívio com as regras do crime, o proceder, algumas
coisas ainda me surpreendem. Em resposta, o garoto disse que estava jurado de morte, pois
havia pegado um pedaço de bolo no dia da visita familiar. Pedi que me desse detalhes, e ele
disse: “Então, senhor, era dia de visita, final de semana de dias das mães, todo mundo fica no
maior agito a semana toda, de quem vem, quem não vem, o que vai rolar e coisa e tal, mas eu
sou do interior e ninguém vinha me visitar; eu já sabia, nem fiquei animado, fiquei mais na
minha mesmo. No dia, a galera vai chegando, entrando e ocupando o refeitório, o pátio e a
quadra, tem moleque que nem desce, mas eu, mesmo sem visita, resolvi descer. Havia algumas
senhoras que sentaram com uns moleques, tinha uns que estavam numas cadeiras, outros
estavam no refeitório, mas a maioria estava em rodinhas no chão da quadra mesmo, tava
fazendo um dia de sol, até umas crianças tinham também. Eu fiquei de canto, na minha, perto
das torneiras ali embaixo (neste momento apontou o dedo em direção), uma das mulheres viu
que eu tava tristão e bolado e me ofereceu um pedaço de bolo, e eu, na maior inocência, peguei
e agradeci na sinceridade, só que o moleque que era daquele família não gostou, fez um sinal
pra mim e me jurou. Na hora entendi que a casa tinha caído pra mim”.
255
Perguntei se ele tinha pegado o pedaço na malandragem, e ele disse que não, a senhora
ofereceu, só que ele não poderia ter aceitado da mão dela, teria que esperar o outro menor (que
era da família) dar ou não a ele.
Ele já estava há cerca de três meses no seguro, sem churrasqueira (banho de sol),
fazendo suas refeições na sala, sem televisão, sem esporte, sem relacionamento social nenhum,
e estava pensando em se matar.
De fato, quando saí da outra Casa, às pressas, sem perguntar nada à coordenadora, não
imaginava essa cena, não me preparei para essa situação. Ficaria uma hora com aquele garoto
e precisava auxiliá-lo a resgatar o sentido e a vontade de vida. Neste momento, perguntei a ele
de seu passado, se tinha família, onde morava, se estudava e se tinha fé.
Ele contou sobre sua vida e disse que sua família era das AD’s. Vi aí uma
oportunidade, fui até a mesa e havia um bloco de papel, parecia aqueles blocos de receituário
médico, peguei algumas folhas e a caneta e pedi que ele escrevesse um resumo de sua vida até
aquele momento. A princípio, ele não queria fazer, incentivei e disse que explicaria o motivo
depois; ele gastou uns quinze minutos e fez um resumo de sua vida até a Fundação. Li a carta
em voz alta, para ele ouvir. Fiz uma leitura interpretativa, com alternância de tom de voz, e ele
ficou emocionado em alguns momentos da própria vida. Após a leitura, disse a ele que a sua
vida era como um livro, e que muitas histórias dos livros, teatro e cinema têm páginas e cenas
de guerra, drama, suspense e mesmo terror, e se alternam com romance, comédia e aventura,
tudo dentro de um mesmo livro, um mesmo filme, e que as primeiras páginas não
necessariamente indicam o que será o final da história e algumas de fato são surpreendentes.
Lembrei a ele de sua esperança de fé, da história do seu batismo nas águas da igreja AD’s de
sua vó, que ainda há muitas páginas a serem escritas e que a história dele podia ser
completamente diferente da que ele havia escrito até ali.
Perguntei a ele sobre sonhos e desejos, e pedi a ele autorização para escrever a próxima
página, a continuação de sua história. Ele autorizou, então escrevi uma página indicando que
ele cumpriria sua medida socioeducativa, que zeraria sua conta com a sociedade, que retornaria
para casa, escola e igreja, que se formaria, arrumaria um bom emprego, uma namorada, que se
casaria e, mesmo passando por novas lutas e desafios, seria reconhecido como um homem de
valor. Dei o bloco com as folhas em branco para ele e disse que apesar do passado ter sido de
erros todo o futuro estava em aberto.
Por fim, fiquei quase uma hora e meia com aquele garoto na cela, chamei o agente de
segurança para abrir o cadeado, orei com ele e me despedi.
256
Fiquei sabendo que ele foi transferido, naquela semana, para uma unidade do interior,
perto de sua família.
É certo que a Fundação CASA não zerou a conta do Estado para com a vida de tantas
crianças e adolescentes que por suas instituições passaram, e mais, não há ingenuidade no
destacar as mudanças entre a FEBEM e a FUNDAÇÃO, como se um passe de mágica tivesse
ocorrido, pois é certo que ainda há focos de violência e desrespeito aqui e ali, contudo, a
resposta dada a estes abusos também mudou.
Com o fim da censura e a promulgação do ECA os Censos oficiais passam a descrever
de forma mais transparente a situação do menor nacional, a ação próxima de observadores de
entidades civis minimiza a cultura de repressão e violência consagradas na gestão da FEBEM,
o perfil curricular dos servidores que atuam na FUNDAÇÃO também mudou.
A ação fraterna da capelania cristã evangélica resgata no menor infrator pentecostal
valores de fé esquecidos, ressignificando a existência, permitindo o cumprimento de medidas
socioeducativas de maneira consciente e pacífica, resgatando a esperança de ressocialização,
reinserção social e um novo e diferente futuro.
257
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa investigou e comparou o constructo histórico dos campos pentecostal e
criminal, explorando criticamente o paralelo e a simultaneidade do crescimento aferido,
apontando afinidades, tensões e conflitos na discursividade da CCB e do PCC, identificando o
menor infrator pentecostal como ponto de intersecção entre estes campos.
O referencial temporal observado permitiu identificar que as transformações políticas,
econômicas e sociais ocorridas no campo religioso alteraram o ethos pentecostal, separando as
duas primeiras e maiores igrejas desta denominação, a CCB e as AD’s.
O pentecostalismo, analisado em ondas, no Brasil, nasce imigrante, pobre e analfabeto
na primeira onda, início do século XX, e se relaciona com a sociedade a partir do prisma da
teologia do sofrimento (ALENCAR, 2012), para a qual a simplicidade da pobreza, ausência de
ambição acadêmica, o desapego e certa repulsa para com as coisas do mundo era sinal de
maturidade e autoridade espiritual dos que aguardavam a destruição iminente do mundo.
Contudo, diante do aumento exponencial da população pentecostal, virada do século XX para
o XXI, a relação com a tecnologia, mídias, status e poder gera um novo habitus (BOURDIEU,
2015) e um novo discurso é assumido: o triunfalista da teologia da prosperidade, no qual as
bençãos materiais não são mais negadas ao fiel, antes, comprovam o seu caráter de sucesso
religioso.
Tal postura desenvolvida pelas igrejas pentecostais nacionais, principalmente da
terceira onda, não reverberam na CCB, que, institucionalmente, mantém-se sem mudanças e
identifica neste novo habitus pentecostal a entrada do mundo nas igrejas, o que permite reforçar
seu caráter distintivo e exclusivista, dando ainda mais força ao seu discurso doutrinário de
exclusão.
Concomitantemente ao ápice do crescimento numérico e das mudanças do campo
religioso pentecostal, nasce o PCC, como resposta dos presos à desassistência, violência e
descumprimento do código do sistema penal por parte do Estado. O massacre do Carandiru,
como evento marcatório, une a irmandade prisional diante de um mesmo discurso de
sobrevivência. A estrutura organizacional é centralizada na autoridade inquestionável de seus
fundadores, que detém o poder da fala, em afinidade com os anciães da CCB, que orienta e
organiza a vida de seus fiéis/membros. Isto é, a palavra dada é irreversível, tanto no discurso
doutrinário da CCB quanto no proceder do PCC.
258
A descrição histórica de cada campo buscou interpretar o papel estruturante que o
discurso exerce no sentido de vida, partindo da hermenêutica do menor infrator pentecostal
agente, consumidor e operador destes dois mundos.
A problematização surge no prisma do capelão perante a crise existencial percebida na
fala de menores infratores pentecostais em medidas socioeducativas na Fundação Casa,
desassistidos pela CCB, que, frente ao discurso de exclusão e do abandono da instituição,
buscam e encontram ressignificação em outro discurso que sempre esteve próximo, o do crime.
De maneira informal, a partir dos encontros semanais em grupo e algumas conversas
direcionadas, literalmente bate-papos individuais, o conceito IRD é desenvolvido na assistência
religiosa, buscando-se compreender o eventual envolvimento que o menor pentecostal excluído
da CCB mantinha para com a fé antes da reclusão.
Dentre as dimensões propostas por DUREL (IRD), três foram exploradas: a relação de
identidade do menor excluído para com a organização (CCB), as disciplinas pessoais (oração e
leitura bíblica) e, por fim, dimensão existencial (o sentido e a vontade de vida).
A identidade religiosa dos menores oriundos da CCB não foi identificada na
quantificação de participação destes nos cultos desta igreja, mas na força orientadora que o
discurso doutrinário exercia em suas vidas, mesmo após exclusão. A ausência das disciplinas
pessoais – como estudo do texto sagrado – não diminui a expressão identitária da fé nem a
dimensão para com a organização, ao contrário, visto que o estudo do texto sagrado lhes é
considerado prática das seitas humanas que não possuem a revelação divina, a aceitação da fala
revelacional do ancião, inclusive a fala de exclusão, confirma a força orientadora e, de fato,
direciona as decisões de vida do menor.
O discurso doutrinário que exclui o menor da CCB tem caráter de irreversibilidade
(FOERSTER, 2009), confirmando a hipótese identificada pelo capelão quanto a insignificação
existencial e perda do sentido e vontade de vida (FRANKL, 2015) do menor que, ao ver-se
desassistido e excluído, busca ressignificação e realização social (BERGER, 2017a) em outro
discurso que lhe próximo e legível, o do crime.
A afinidade eletiva entre o discurso doutrinário da CCB e o proceder do PCC foi
comparada a partir das dez modalidades identificadas por Michel Löwy (2011) na teoria de
Weber (2017), surgindo uma modalidade própria, a Ordem do Discurso Religioso e a Estrutura
do Discurso da Criminalidade.
A fala que chama atenção do capelão e oportuniza a investigação analítica
comparativa, com base na análise do discurso foucaultiana, é: Senhor, eu pequei, pra mim já
era. Estou no inferno, não tem perdão. Agora é o seguinte: Virei o “s”!
259
Para tanto, o capitulo um descreveu o constructo histórico do pentecostalismo e a
história de conversão, conflitos, tensões e rompimentos de Luigi Francescon até o
estabelecimento da CCB, sendo que os fundamentos básicos da doutrina pentecostal são
refutados pelo próprio fundador, que rompe com inúmeras lideranças evangélicas nos EUA e
no Brasil, com proposta inicial de caráter étnico, de não erudição, de liderança leiga,
separatismo doutrinário, eleição incondicional e exclusivismo salvífico institucional, determina
um modus operandi de fé particular à CCB, idealizando um tipo ideal insuportável para muitos
fiéis e irreversível para o menor infrator excluído, resultado este que confirmou a hipótese
inicial de pecado sem perdão e danação eterna em vida.
A ausência de assistência a ex-membros em situação de aprisionamento ocorre dentro
da lógica de eleição incondicional, exclusiva para membros da CCB. Isto é, como o membro é
eleito divinamente para pertencer a esta igreja, não deve existir nenhuma iniciativa, esforço ou
ação humana nisso, tornando assim qualquer ação religiosa em ambiente externo à igreja ato de
incredulidade e rebeldia. A pregação pública, panfletagem e assistência religiosa das demais
igrejas são consideradas estratégias e filosofias humanas, e se o ingresso na CCB ocorre tão
somente por ação divina, nesta lógica, não há um porquê de assistir ao membro excluído em
situação de aprisionamento.
No capítulo dois é identificado que a exclusão social da criança e do adolescente está
enraizada no desenvolvimento histórico, social e político do desvio semântico que o termo
menor carrega, passando a ser sinônimo de problema, praga, doença, vadiagem, delinquência,
vagabundagem, viciosos, viciados, pervertidos, abandonados, desassistidos, desajustados e
excluídos. O ideal higienista e o imaginário racista, intolerante e preconceituoso de uma
sociedade que se quer elitizada (des)orienta as políticas públicas em que as leis são promulgadas
para afastar o menor das praças, ruas, enfim, do olhar da sociedade. A exclusão, confinamento,
castigos e o trabalho são as respostas dadas pelos Governos brasileiros durante quatro séculos.
A ciência é utilizada para culpabilizar o menor cada vez mais cedo, as instituições
governamentais se sucedem no insucesso de suas práticas e as leis, que deveriam proteger e
assistir a criança e o adolescente, demonstram seu caráter discriminatório e punitivo desde o
Ventre Livre e os Reformatórios até o segundo código de menores e as FEBEM’s.
A FEBEM se configura como a página mais escura, degradante, desumana e cruel das
ações governamentais, gerando um saldo incalculável de torturas, desaparecimentos e mortes,
formando o perfil social da geração que funda o PCC.
260
Em paralelo a este ideal, temos, nos primeiros capelães portugueses, nas casas de
misericórdia e nos abrigos protestantes, o desenvolvimento histórico da assistência religiosa
voluntária aos menores excluídos, rejeitados e em desajustes para com a sociedade.
No capítulo três, a afinidade discursiva entre a ordem doutrinária da CCB e a estrutura
do proceder do PCC descreve-se como ponto de intersecção no domínio linguístico e no trânsito
livre e harmonioso que o menor infrator pentecostal tem entre a igreja e a lojinha.
A hipótese de dialética entre o discurso religioso e criminoso é confirmada na rotina
da assistência religiosa, que identifica no discurso criminal assumido pelo menor infrator
pentecostal uma resposta objetiva, possível e viável à exclusão da CCB, em que a aceitação e
pertencimento à nova irmandade supre o vazio e perda de sentido que a exclusão religiosa
gerara, um novo vocábulo se faz necessário e a ação social passa a ser orientada pelos valores
do proceder.
As inquietudes e aspirações sociais do menor e o sentimento de ostracismo social são
comparados criticamente na análise da relação CCB-ancião versus menor pentecostal e o
sistema mítico ateniense versus Sócrates e o jovem Alcebíades.
Pequeno dicionário do proceder do PCC e jargões do evangeliquês pentecostal com
100 verbetes de cada campo são descritos e traduzidos. A comparação de alguns termos
confirma a afinidade eletiva entre os campos, visto que o falar estas línguas na rotina do menor
permite o trânsito livre e bem-sucedido entre os campos e, quando aprisionado, possibilita sua
sobrevivência.
O capítulo quatro apresenta o constructo histórico da capelania, a legislação que
suporta suas práticas em ambiente militar, hospitalar, escolar e prisional, estatal ou privado,
laico ou confessional.
O caráter religioso do povo brasileiro é apresentado na evolução histórica de suas
constituições, a importância da espiritualidade no desenvolvimento pessoal e nos
relacionamentos sociais do ser humano é confirmado nos estudos da OMS e nas ações de
conselhos médicos de diversos países.
A atuação dos evangélicos na capelania prisional no resgate do sentido de vida, na
conscientização de responsabilidade dos presos e a esperança de ressocialização é confirmada
nos relatos de procuradores, diretores e demais profissionais de penitenciarias, presídios e casas
de custódia.
Registros vivenciais do capelão são apresentados como evidência do consolo e
conforto que a assistência religiosa pode ser e oferecer em situações de conflitos existenciais
nos diversos ambientes em que atua.
261
Por fim, a pesquisa comprovou que o menor ao ser excluído da CCB e internado na
Fundação CASA é abandonado pela instituição religiosa, entretanto, ele mesmo não abandona
sua fé. O menor perde o sentido, e não suas referências existenciais. Ele se vê encarcerado, mas
sua fé permanece livre.
263
REFERÊNCIAS
AGUIAR, Jose. A Infância do Brasil. Porto Alegre: Ed. AVEC, 2017.
ALENCAR, Gedeon. Assembleias brasileiras de Deus: teorização, história e tipologia –
1911-2011. 2012. Tese (Doutorado em Ciência da Religião) Pontifícia Universidade Católica,
São Paulo, 2012. Disponível em: https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/1883. Acesso em:
out. 2020.
ALMEIDA, Bruna Gisi Martins de. Medo do crime e criminalização da juventude. VIII
Congresso Nacional de Educação da PUCPR e III Congresso Ibero-Americano sobre
violências nas escolas - CIAVE, 2008, Curitiba. Formação de professores. Curitiba: Editora
Champagnat, 2008. p. 11582-11594. Disponível em:
https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2008/464_634.pdf. Acesso em: 19 de junho de 2021.
ALVAREZ; Marcos Cesar et al, 2009. Rev. Bras. Adolescência e Conflitualidade, 1 (1): xi-
xxxii, 2009. Adolescentes em conflito com a lei: pastas e prontuários do “Complexo do
Tatuapé” (São Paulo / SP, 1990-2006). Disponível em:
https://seer.pgsskroton.com/adolescencia/article/view/200/187. Acesso em: out. 2020.
ANDRADE, Moisés Germano de. Uma Historia social da Assembleia de Deus: a conversão
religiosa como forma de ressocializar pessoas oriundas do mundo da criminalidade.
Dissertação (mestrado) PPG Ciência da Religião. Universidade Católica de Pernambuco.
2010. Disponível em:
http://tede2.unicap.br:8080/bitstream/tede/926/2/dissertacao_moises_germano_andrade.pdf.
Acesso em: 20. Jul. 2021.
ANTONIAZZI, Alberto. et al. Nem anjos nem demônios - Interpretações sociológicas do
pentecostalismo. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994.
ASSEN, Wagner Pavarine. Evangeliquês: Observações sobre os jargões religiosos utilizados
na Comunidade cristã El Shaddai, em Campo Grande / MS. Dissertação (mestrado) PPG em
Letras, Universidade Estadual de Mato Grosso, Campo Grande, 2017. Disponível em:
http://www.uems.br/assets/uploads/biblioteca/2019-05-20_11-24-02.pdf. Acesso em: 12 jul.
2021.
AZEVEDO, Públio C. Terra Santa. A Confessionalidade religiosa no cemitério da
Consolação em São Paulo. São Paulo: Ed. Reflexão, 2017a. VER SE HÁ OUTRO 2017a.
AZEVEDO, Públio C. Pentecostalismo Encarcerado. In: BARBOSA (Org.) Discursividade
Pentecostal I: Vozes da Propagação chamado à repressão. São Paulo: Ed. Reflexão, 2017b.
AZEVEDO, Públio C. Rodovia Principal e Vias Marginais. In: BARBOSA (Org.) O Povo
Pentecostal: Histórias do Cárcere Memórias do Gueto, vol. 1. São Paulo: Ed. Reflexão, 2018.
BERGER, Peter. O Dossel Sagrado. Elementos para uma teoria sociológica da religião. São
Paulo: Ed. Paulus. 2017a.
BERGER, Peter. Os Múltiplos Altares da Modernidade. Rumo a um paradigma da religião
numa época pluralista. São Paulo: Ed. Vozes. 2017b.
264
BERGER, P.; LUCKMANN, T. A Construção Social da Realidade. São Paulo: Editora
Vozes, 2017.
BÍBLIA Sagrada. Tradução: João Ferreira de Almeida. Edição revista e atualizada (AA). São
Paulo: Ed. SBB, 2003.
BÍBLIA de Estudo. Nova Versão Transformadora (NVT). São Paulo: Ed. Mundo Cristão,
2018.
BÍBLIA de Estudo Plenitude. Edição revista e atualizada (RA). SP: SBB, 2002.
BÍBLIA Comparativa. Edição revista e corrigida (RC). São Paulo: Ed. Geográfica, 2007.
BÍBLIA Almeida Corrigida Fiel (ACF). São Paulo: Ed. SBTB, 1994.
BOEIRA, Daniel Alves; MACHIESKI, Elisangela da Silva; RIBEIRO, Juliana Bender.
Castigos, revoltas e fugas: a fundação do bem-estar do menor retratada nas páginas da folha
de São Paulo 1980-1990. AEDOS revista do corpo discente do PPG História da UFRGS,
Porto Alegre, v. 9, n. 20, p. 456-480, Ago. 2017. Disponível em:
https://seer.ufrgs.br/aedos/article/view/69435. Acesso em: 18 nov. 2020.
BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2015.
BRAGA, Francinete Santos; FERREIRA, Luiz Alves. Formação dos quilombos urbanos:
uma análise dos deslocamentos da população negra da África para o brasil. 62ª Reunião anual
da SBPC, 2010, Natal. Grupo de Ciências Humanas - 5. História - 6. História Moderna e
Contemporânea. Universidade Federal do Maranhão-Nuruni, 2010. Disponível em:
http://www.sbpcnet.org.br/livro/62ra/resumos/resumos/3645.htm. Acesso em 20 out. 2020.
BRASIL. [Constituição (1824)]. Constituição politica do Imperio do Brazil: de 25 de
março de 1824. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm. Acesso em: 23 nov.
2020.
BRASIL. Lei nº 2.040, de 28 de setembro de 1871. Ventre Livre. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim2040.htm. Acesso em 23 out. 2020.
BRASIL. Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890. Código Penal dos Estados Unidos do
Brazil. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/d847.htm.
Acesso em 10 out. 2020.
BRASIL. [Constituição (1891)] – Constituição da República dos Estados Unidos do
Brasil. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1824-1899/constituicao-
35081-24-fevereiro-1891-532699-publicacaooriginal-15017-pl.html. Acesso em 10 out. 2020.
BRASIL. Decreto nº 233, de 2 de março de 1894. Codigo Sanitario. Disponível em:
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1894/decreto-233-02.03.1894.html.
Acesso em 04 de nov.2020.
265
BRASIL. Decreto nº 16.272, de 20 de Dezembro de 1923. Regulamento da assistencia e
protecção aos menores abandonados e delinquentes. Disponível em:
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-16272-20-dezembro-1923-
517646-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 10 out. 2020.
BRASIL. Decreto nº 17.943-A, de 12 de outubro de 1927. Leis de assistencia e protecção a
menores. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-
1929/D17943Aimpressao.htm. Acesso em 10 out. 2020.
BRASIL. [Constituição (1934)]. Constituição da república dos Estados Unidos do Brasil,
de 16 de julho de 1934. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm. Acesso em: 16 de jul.
de 2021.
BRASIL. [Constituição (1937)]. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 10 de
novembro de 1937. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm. Acesso em: 10 out.
2020.
BRASIL. [Constituição (1946)]. Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de
setembro de 1946. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1940-
1949/constituicao-1946-18-julho-1946-365199-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 10
jul. 2021.
BRASIL. Decreto-lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941. Lei das Contravenções Penais.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3688.htm. Acesso em: 04
de nov.2020.
BRASIL. [Constituição (1967)]. Constituição da República Federativa do Brasil, de 17 de
outubro de 1969. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm. Acesso em: 15 jul. 2021.
BRASIL. Mostra Virtual da Câmara. 1976 a 1983. Disponível em:
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=0679D883F82F0
4AE84603BEE4DADD0A4.proposicoesWebExterno1?codteor=1234241&filename=Dossie+
-PLP+78/1983
BRASIL. Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979. Anistia a crimes políticos e/ou eleitorais.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683compilada.htm. Acesso em:
23 out. 2020.
BRASIL. Lei no 6.697, de 10 de outubro de 1979. Código de Menores. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697impressao.htm. Aceso em: 23 out.
2020.
BRASIL. Lei no 6.923, de 29 de junho de 1981. Serviço de Assistência Religiosa nas Forças
Armadas. Disponível em: https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=6923&ano=1981&ato=de3ATQE50Mr
RVTb96. Aceso em: jul. 2021.
266
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de
outubro de 1988. Disponível em: https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=CON&numero=&ano=1988&ato=b79QTWE1EeFpW
Tb1a. Acesso em: 15 jul. 2021.
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 16 de jul. de
2021.
BRASIL. Lei nº 9.982, de 14 de julho de 2000. Sobre Prestação de Assistência Religiosa nas
entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais civis e
militares. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9982.htm. Acesso em: 16
de jul. de 2021.
BRASIL. Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Sobre Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo (Sinase). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12594.htm. Acesso em: 16 de jul. de 2021.
BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Arquivo Nacional. 2017. Disponível em:
https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/canais_atendimento/imprensa/copy_of_noticias/lei-
do-ventre-livre. Acesso em: 16 de jul. de 2021.
BRASIL. Memória da administração pública brasileira (MAPA). Asilo dos Meninos
Desvalidos. 2020. Disponível em : http://mapa.an.gov.br/index.php/menu-de-categorias-
2/256-asilo-dos-meninos-desvalidos. Acesso em 24 out. 2020.
BRITO, Angela E. C; SILVA, Karla K. A trajetória das protoformas brasileiras de
atendimento à infância e adolescência: do código de menores ao estatuto da criança e do
adolescente - 4º Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais. Ano 2016. Disponível em:
http://www.cress-mg.org.br/. Acesso em: jun. 2021.
BRITO, Fábio Bezerra de; MEIHY, José Carlos Sebe Bom. Ecos da Febem: história oral de
vida de funcionários da fundação estadual de bem-estar do menor de São Paulo. Dissertação.
PPG História, 2002. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002. Disponível em:
https://repositorio.usp.br/item/001259647. Acesso em: 16 de julho de 2021.
BROADUS, John A. Sobre a preparação e a entrega de Sermões. São Paulo: Ed. Custom
Ltda, 2003.
CABRAL, Suzie Hayashida; SOUSA, Sonia Margarida Gomes. O histórico processo de
exclusão/inclusão dos adolescentes autores de ato infracional no Brasil. Psicologia em
Revista, Belo Horizonte, vol. 10, nº 15, p. 71-90, jun. 2004. Disponível em:
http://periodicos.pucminas.br/index.php/psicologiaemrevista/article/view/198. Acesso em: 16
de julho de 2021.
CANDIOTTO, Cesar. Foucault e a crítica da verdade. 2a ed. Belo Horizonte: Ed.
Autêntica, 2010.
CARMAGNANI, Anna Maria Grammatico; GRIGOLETTO, Marisa. Língua, discurso e
processo de subjetivação na contemporaneidade. SP: Ed. Humanitas, 2013.
267
CARMO, Andréia Nascimento; MELIAN, Valdivina Telia Rosa de. Uma abordagem sobre
discurso e a discursividade “Araguaína, a capital do boi gordo”. Revista de Letras da
Universidade do Estado do Pará – UEPA. Nº 15, out./dez., 2018. ISSN Eletrônico: 2318-
974639. Disponível em: https://periodicos.uepa.br/index.php/ribanceira/article/view/2134.
Acesso em: jun. 2021.
CARVALHO, Marcus J.M. Fácil é serem sujeitos, de quem já foram senhores: o abc do divino
mestre. Rev. Afro-Ásia, UFBA, vol. 31, 327-334, 2004.
CCB. Tópicos de ensinamentos. Circulares internas exclusivas da CCB. (1936 / 1942 / 1961 /
1965 / 1970 / 1971 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 / 1982 / 1986 / 1988 / 1991 / 1998 / 2002).
COMISSÃO da Verdade. PUC-SP. [201-]. Disponível em:
http://www4.pucsp.br/comissaodaverdade/mortos-e-desaparecidos-contextualizacao.html.
Acesso em: 06 de outubro de 2020.
COSTA, Greciely Cristina da. Linguagens em funcionamento: sujeito e criminalidade.
Dissertação (mestrado) Linguística. Universidade Estadual de Campinas. 2008. Disponível
em: http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/270679. Acesso em: 12 jul. 2021.
EDUCAÇÃO Uol – História do Brasil. Brasil Colônia: Documentos (1) - Carta de
achamento do Brasil. 2010. Disponível em: https://educacao.uol.com.br/disciplinas/historia-
brasil/brasil-colonia-documentos-1-carta-de-achamento-do-brasil.htm?cmpid=copiaecola.
Acesso em: 16 out.2020.
FALEIROS, Eva Silveira. A criança e o adolescente: objetos sem valor no Brasil Colônia e no
Império. In: PILOTTI, Francisco; RIZZINI, Irene (Org.). A arte de governar crianças: a
história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil, Rio de
Janeiro: Instituto Interamericano del Niño/USU/Amais, 1995. p. 221-236.
FERREIRA, Marcelo. Por trás do Véu. Revelando os bastidores da Congregação Cristã no
Brasil - A Primeira Denominação pentecostal brasileira. São Paulo: Ed. Betesda, 2007.
FOERSTER, Norbert Hans. A CCB numa área de vulnerabilidade - Aspectos de sua tradição
e transmissão religiosa. Defesa Tese 2009. Universidade Metodista – SP. Disponível em:
http://tede.metodista.br/jspui/bitstream/tede/1940/2/Norbert%20H%20C%20Foerster.pdf.
Acesso em: out. 2020.
FONSECA, Sérgio C. A interiorização da assistência à infância durante a primeira
república: de São Paulo a Ribeirão Preto. Educ. em Rev., vol. 28, nº 1, p. 79-108, mar./2012.
Disponível em:
https://www.scielo.br/j/edur/a/Qh38Rt3vH8NH9v8FkHRTcrM/abstract/?lang=pt. Acesso em:
16 de julho de 2021.
FOUCAULT, Michel. A Ordem do discurso: Aula inaugural no Collège de France,
pronunciada em 2 de Dezembro de 1970, São Paulo: Ed. Loyola, 1996.
FOUCAULT, Michel __________. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France
(1975-1976). São Paulo: Martins Fontes, 1999.
268
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir - história da violência nas prisões. Petrópolis: Ed.
Vozes, 1997.
FOUCAULT, M. 2006. A Hermeneutica do Sujeito. Curso dado no Collège de France (1981-
1982). São Paulo: Ed. Martins Fontes, 2006.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. São Paulo: Ed. Graal, 2007.
FOUCAULT, M. 2008. A arqueologia do saber. 7ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense
Universitária, 2008.
FOUCAULT, Michel. Ditos e Escritos, volume IX: Genealogia da ética, subjetividade e
sexualidade. Tradução de Abner Chiquieri. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2014.
FRANCESCON, Luigi. Histórico da Obra de Deus revelada pelo Espirito Santo, no século
passado, parte 1. CCB, 1936. Nova edição, 1998.
FRANKL, Viktor E. Em busca de Sentido. São Leopoldo – RS: Ed. Sinodal, 2015.
FRESTON, Paul. Protestantes e política no brasil: da constituinte ao Impeachment. Tese
(doutorado) Departamento Ciências Sociais do instituto de filosofia e ciências humanas.
Universidade Estadual de Campinas. 1993. Disponível em:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/279821. Acesso em: 16 de jul. de 2021.
FUNARI, Pedro Paulo A. A “República de Palmares” e a arqueologia da Serra da Barriga.
Revista USP, São Paulo, n. 28, dez./fev.95/96, p. 6-13. Disponível em:
https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i28p6-13. Acesso em: jul. 2021.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª edição, 7ª tiragem. São Paulo:
Ed. Atlas, 2002.
GENTIL, Rosana Chami; GUIA, Beatriz Pinheiro da; SANNA, Maria Cristina. Organização
Serviços de Capelania Hospitalar: estudo bibliométrico. Rev. Esc. Anna Nery (impr.) jan-
mar, 2011; 15 (1): p. 162-170. Disponível em:
https://pdfs.semanticscholar.org/279f/ec19eafc78d14bb5c2fe81c3e1b87daaae9a.pdf. Acesso
em: jul. 2021.
GÓES, José Roberto de; FLORENTINO, Manolo. Crianças escravas, crianças dos escravos.
In: Mary Del PRIORE (Org.). História das Crianças no Brasil (p.177-191). São Paulo: Ed.
Contexto, 1999.
GOETHE, Johann Wolfgang. As afinidades eletivas. Tradução: Tercio Redondo. São Paulo:
Companhia de letras, 2019.
GOMES, Flávio dos Santos. A Hidra e os Pântanos. Mocambos, quilombos e comunidades
de fugitivos no Brasil (século XVII-XIX). SP: Ed. UNESP, 2005.
269
GOMES, Nataniel dos Santos. Sociolinguística: análise e descrição do falar de funkeiros
dentro da comunidade da Rocinha. Circulo Fluminense de Estudos Filológicos e Linguísticos.
Rev. Philologus, 2003. Disponível em: http://www.filologia.org.br/rph/ANO09/27/010.pdf.
Acesso em: 12 jul. 2021.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Institucional. 1937. Disponível em:
https://www.ibge.gov.br/acesso-informacao/institucional/o-ibge.html. Acesso em: 05 out.
2020.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Ministério da Justiça, Secretaria de
Planejamento, Divisão de Estatística. Anuário estatístico do Brasil - 1983. Rio de Janeiro: v.
44, 1984. Disponível em:
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/20/aeb_1986.pdf. Acesso em: 06 de
outubro de 2020.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo das favelas do município de São
Paulo – 1987. Catálogo/Biblioteca 1988. Disponível em:
https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=223993&view=detalhes. Acesso em
23 out. 2020.
IBGE. Censo Demográfico 2010 - População residente, por situação do domicílio e sexo,
segundo os grupos de religião, tabela 1.4.1, 2010. Disponível em:
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf
Acesso em: 05 jun. 2019.
INCRA. Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 2020. Disponível em:
http://www.incra.gov.br/pt/quilombolas. Aceso em 20 out. 2020.
JUNIOR, Chico. No caminho da Liberdade. Rev. Batistas de SP, Ano 2. Edição 8. 2018.
Disponível em: https://cbesp.org.br/images/flipbook//batistas_sp/2018/edicao8/edicao8.pdf.
Acesso em: jul. 2021.
KIDDER, D.P; FLETCHER, J.C. O Brasil e os Brasileiros. Rio de Janeiro: Cia. Editora
Nacional, 1941.
LAVOR, Isabelle Lucena. Análise do discurso à luz da subcultura criminal: Primeiro
comando da capital – PCC. Revista Diálogos Acadêmicos, Fortaleza, v. 7, n. 1, P. 39-39,
jan./jun. 2018. Disponível em: http://revista.fametro.com.br/index.php/RDA/article/view/174.
Acesso em: 06 de outubro de 2020.
LEITE, Ilka B. Os quilombos no brasil: questões conceituais e normativas. CEAS – Centro de
Estudos de Antropologia Social. Rev. Etnográfica, Santa Catarina, Vol. IV (2), 2000, p. 333-
354. Disponível em: http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_04/N2/Vol_iv_N2_333-354.pdf.
Acesso em: 16 de julho de 2021.
LELLIS, Lélio M; HEES, Carlos A. (Orgs.). Manual de Liberdade Religiosa. Engenheiro
Coelho – SP: Ed. Ideal Unaspress, 2013.
LIARDON, Roberts. Generais de Deus os Evangelistas de Cura. Minas Gerais: Bello
Publicações, 2015.
270
LIMA, Carlos. A mulher como tutora no século XIX: Alguns casos de Paracatu. 2020.
https://paracatu.net/view/9278-a-mulher-como-tutora-no-seculo-xix-alguns-casos-de-
paracatu. Acesso em: 24 out. 2020.
LOBO, Edileuza Santana. Religiões e Prisões. Católicos e evangélicos em prisões do Rio de
Janeiro. Comunicações do ISER, n. 61, 2006.
LOHN, Reinaldo L.; BRANCHER, Ana. Histórias na ditadura: Santa Catarina: 1964 -
1985. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2014.
LOWY, Michael. Sobre o conceito de “afinidade eletiva” em Max Weber. PLURAL, Revista
do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da USP, São Paulo, v.17.2, 2011, p.129-142.
Disponível em: https://www.revistas.usp.br/plural/article/view/74543. Acesso em: 05 out.
2020.
MALLART, Fábio. Cadeias dominadas: dinâmicas de uma instituição em trajetórias de
jovens internos. Dissertação ao PPG em Antropologia Social – Universidade de São Paulo.
2011. Disponível em: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-15062012-153941/pt-
br.php. Acesso em: 12 jul. 2021.
MARIANO, Ricardo. Neopentecostais - Sociologia do novo pentecostalismo no Brasil. São
Paulo: Loyola, 1993.
MANNHEIM, Karl. Sociologia da cultura. São Paulo: Editora Perspectiva, 2008.
MARIANO, Ricardo. Mudanças no campo religioso Brasileiro no censo 2010. Debates do
NER, Porto Alegre, ano 14, n. 24, p. 119-137, jul./dez. 2013. Disponível em:
https://seer.ufrgs.br/debatesdoner/article/view/43696/0. Acesso em: out. 2020.
MARINO, Adriana. Do infans ao ‘menor’ à concepção de criança e adolescente como sujeitos
de direitos. Rev. Mnemosine, Rio de Janeiro, vol. 9, nº 2, 2013, p. 54-79. Disponível em:
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/mnemosine/article/view/41527. Acesso em: 15
de outubro de 2020.
MARQUES, Vagner A. Fé & Crime. Evangélicos e PCC nas periferias de São Paulo. SP:
Fonte Editorial, 2015.
MARTELETO, Regina Maria; SILVA, Antonio Braz de Oliveira e. Redes e capital social: o
enfoque da informação para o desenvolvimento local. Rev. IBICT - Ciência da Informação,
v. 33, nº 3, p. 41-49. Brasília, set./dez. 2004. ISSN Eletrônico: 1518-8353. Disponível em:
http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/1032/1093. Acesso em: 12 jul. 2021.
MENDONÇA, A. G. O protestantismo no Brasil e suas encruzilhadas. Revista USP, São
Paulo, n. 67, p. 48-67, 01 nov. 2005. Disponível em:
https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/13455. Acesso em: 10 mai. 2021.
MOMBACH, Clarissa. Literatura e Autoritarismo. Dossiê: Estudos de Literatura Comparada -
O governo Vargas e suas implicações na produção literária teuto-brasileira. Rev. Eletrônica
Literatura e Autoritarismo, nº 10, set./2012 – ISSN 1679-849X. Disponível em:
http://w3.ufsm.br/grpesqla/revista/dossie10. Acesso em: 06 de outubro de 2020.
271
MOREIRA, Neir; HOLANDA, Adriano. Logoterapia e o sentido do sofrimento:
convergências nas dimensões espiritual e religiosa. Rev. Psico-USF. 15 (3), dez. 2010.
Universidade Federal do Paraná. Curitiba-PR. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1413-
82712010000300008. Acesso em: jul. 2021.
NASCIMENTO, Maria das Graças de Oliveira. Religiões e Prisões, o ciclo de debates sobre
religiões e prisões. Comunicações do ISER, n. 61, 2006.
Disponível em: https://www.iser.org.br/publicacao/comunicacoes/61/ Acesso em: 06 de
outubro de 2020.
OLIVEIRA, Maria Luciana Teles de. A Gíria dos Internos da FEBEM. 2006. Dissertação
(mestrado) em Língua Portuguesa. PUC-SP, 2006. Disponível em:
https://tede.pucsp.br/bitstream/handle/14382/1/Maria%20Luciana%20Teles%20de%20Oliveir
a%20com%20protecao.pdf. Acesso em: 06 de outubro de 2020.
OLIVEIRA, Marco Davi. A Religião Mais Negra do Brasil - Por que os negros fazem opção
pelo pentecostalismo? Minas Gerais: Ed. Ultimato, 2015.
OMS. Organização Mundial da Saúde. Assembleia Mundial da Saúde, 37. (1984). A
dimensão espiritual na estratégia global de saúde para todos até o ano 2000. Disponível em:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/160950/WHA37_R13_eng.pdf?sequence=1&
isAllowed=y. Acesso em: jul. 2021.
ORLANDI, Eni Puccinelli. Discurso e Texto. Formulação e circulação dos sentidos.
Campinas, SP: Ed. Pontes, 2001.
PAEGLE, E. G. de M. A “mcdonaldização” da fé – um estudo sobre os evangélicos brasileiros.
Protestantismo em Revista, São Leopoldo, v. 17, p. 86-99, set.-dez. 2008. ISSN 1678 6408.
Disponível em: http://est.com.br/periodicos/index.php/nepp/article/view/2047/0. Acesso em:
10 mai. 2021.
PASSOS, J. D.; USARSKI, F. (org.). Compêndio de Ciência da Religião, Parte I. São Paulo:
Ed. Paulinas/Paulus, 2013.
PAVIANI, Jayme. A gênese da dialética em Platão. Rev. Veritas, vol. 41, nº 164, p. 629-635.
Porto Alegre, dez. 1996. DOI: https://doi.org/10.15448/1984-6746.1996.164. Disponível em:
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/veritas/article/view/35914/18858. Acesso
em: jun. 2021.
PINHEIRO, Luciana de Araujo. A civilização do Brasil através da infância: propostas e
ações voltadas à criança pobre nos anos finais do Império (1879-1889). 2003. Dissertação,
Pós-Graduação em História, Univ. Federal Fluminense, 2003. Disponível em:
https://www.historia.uff.br/stricto/teses/Dissert-2003_PINHEIRO_Luciana_de_Araujo-S.pdf.
Acesso em: 15 de outubro de 2020.
PIXOTE, a Lei do mais Fraco. In: Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura
Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-
060-7. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra67645/pixote-a-lei-do-mais-
fraco. Acesso em: 21 mar. 2021.
272
PRIORI, Mary del. Histórias da gente brasileira: volume 1: colônia. São Paulo: Ed. LeYa,
2016.
PRIORI, Mary del; VENANCIO, Renato. Uma Breve História do Brasil. SP: Ed. Planeta,
2010.
RIBEIRO, Lidice; MATOS, Alderi; MENDES, Marcel. Dicionário Enciclopédico de
Instituições Protestantes no Brasil Instituições Educacionais. São Paulo. Ed. Mackenzie.
2019.
ROCHA, José Fernando Teles da. Do asilo dos expostos ao berçário à assistência e
proteção à criança abandonada na cidade de São Paulo (1896-1936). Tese (PPG em
Educação) Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2010. Disponível em:
http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/251322. Acesso em: 04 nov.2020.
RODRIGUES, Carla Daniela Peixoto. Bullying - Confrontando a face ingênua da maldade.
São Paulo: Ed. Ixtlan, 2011.
RODRIGUES, Evandro. 2011. Comunicação na Congregação Cristã no Brasil sob a
perspectiva da escola de Paulo Alto. In: SOUSA, R.; BORNHOLDT. S (Orgs). Ciências da
religião, teologia e sociedade. Novas perspectivas. São Paulo: Ed. Reflexão, 2011.
ROMEIRO, Paulo. Decepcionados com a graça: esperanças e frustrações no Brasil
neopentecostal. São Paulo: Mundo Cristão, 2005.
RUOTTI, Caren; ALVES Renato; CUBAS, Viviane. Violência na Escola: Um guia para pais
e professores. São Paulo: Ed. ANDHEP, 2006.
SANCHEZ, Wagner Lopes. Vaticano II e o diálogo inter-religioso. São Paulo: Ed. Paulus,
2015.
SANTOS, Márcio A. M. Manual de Instrução do Capelão Escolar. São Paulo: Ed. RTM,
2008.
SÃO PAULO. Fundação Casa - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente.
2006. Disponível em: https://fundacaocasa.sp.gov.br/index.php/a-fundacao-casa/. Acesso em:
21. Jul. 2021.
SCHELB, Guilherme. Manual do Professor. Tudo o que a Escola precisa saber sobre as leis
e a Justiça. Brasília: B&Z Editora, 2012.
SCHELIGA, Eva Lenita. “E me visitastes quando estive preso”: sobre a conversão religiosa
em unidades penais de segurança máxima. Dissertação (mestrado) PPG em Antropologia
Social, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina.
Florianópolis, 2000. Disponível em:
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/78979/187566.pdf?sequence=1
&isAllowed=y. Acesso em: jul. 2021.
273
SCHWARCZ, Lilia Moritz. História, Ciências, Saúde - Manguinhos. 18 (1), mar./2011.
Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0104-59702011000100013. Acesso em: jul. 2021.
SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloísa Murgel. Brasil: Uma Biografia. São Paulo:
Companhia das Letras, 2015.
SENADO Federal. Biblioteca digital. 19 jan. 2005. Disponível em:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/314650. Acesso em: 30 nov. 2020.
SENADO Federal. Notícias. Crianças iam para a cadeia no Brasil até a década de 1920. 2015.
Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/07/07/criancas-iam-para-
a-cadeia-no-brasil-ate-a-decada-de-1920. Acesso em 10 out. 2020.
SILVA, Evandro Cruz. Molecada no corre: comércio, experiência geracional e moral no
Primeiro Comando da Capital. Dissertação ao PPG em Sociologia da Universidade Federal de
São Carlos. 2017. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/9433?show=full.
Acesso em: 12 jul. 2021.
SILVA JUNIOR, Antonio Carlos da Rosa. DEUS na prisão. Uma análise jurídica,
sociológica e teológica da capelania prisional. 2ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Betel, 2015.
SILVA JUNIOR, Antonio Carlos da Rosa. O que você precisa saber sobre Capelania. São
Paulo: Ed. RTM, 2018.
SOUZA E SILVA, J. N. de. Investigações sobre os recenseamentos da população geral do
império e de cada província de per si tentados desde os tempos coloniaes até hoje. Rev.
Relatório do Ministério dos Negócios do Império, Anexo D, Rio de Janeiro: Typ. Nacional,
1870. Reimpresso em edição fac-similada, São Paulo, IPE/USP, 1986. Disponível em:
https://memoria.ibge.gov.br/historia-do-ibge/historico-dos-censos/censos-demograficos.html.
Acesso em: 06 de outubro de 2020.
STELLA, Lea Poiano. “Tá tudo dominado”: a gíria das prisões. Dissertação (mestrado) PPG
em Língua Portuguesa, PUC-SP. Campinas/SP, 2003. Disponível em:
https://sapientia.pucsp.br/handle/handle/14565. Acesso em: 12 jul. 2021.
STOTT, John. Eu creio na pregação. São Paulo: Ed. Vida, 2003.
SYNAN, Vision. O século do Espírito Santo – 100 anos do avivamento pentecostal e
carismático. São Paulo: Ed. Vida, 2009.
TAMBA, Iréne. A Semântica. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.
TONIOL, Rodrigo. Atas do espírito: a Organização Mundial da Saúde e suas formas de
instituir a espiritualidade. Rev. Anuário Antropológico. Brasília, UnB, 2017, vol. 42, nº 2: p.
267-299. Disponível em:
https://periodicos.unb.br/index.php/anuarioantropologico/article/view/7411. Acesso em: jul.
2021.
TOPPI, Francesco. Luigi Francescon. Antesignato del Risveglio pentecostale Evangelico
Italiano. Roma, ITA: ADI Media, 2007.
274
TORRES, Camila Mendonça. Aproximação entre o crer e o não crer: avaliação de
qualidade de vida em jovens evangélicos, ateus e sem-religião. In: GOMES, Antonio M. de
Araujo; BARBOSA, Carlos A. Carneiro (Orgs.). Religião e Psique Piscolocia Social: Estudos
de religião e protestantismo. 1ª edição. São Paulo: Ed. Reflexão, 2013.
TORRES-LONDOÑO, Fernando. A origem do conceito menor. In: PRIORE, Mary del
(Org.). História da Criança no Brasil. (3a ed.), p. 129-145. São Paulo: Contexto, 1995.
VEJA, 1973. Batalha Campal. 1973. Disponível em: https://veja.abril.com.br/acervo/. Acesso
em: 30 nov. 2020.
VIEIRA, Valmir. Capelania Escolar. Desafios e oportunidades. São Paulo: RTM, 2011.
VIRAÇÃO, Francisca Jaquelini de Souza. Igreja Reformada Potiguara (1625 1692): a
primeira igreja protestante do Brasil. 2012. 99 f. Dissertação (Mestrado em Religião) -
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2012. Disponível em:
http://tede.mackenzie.br/jspui/handle/tede/2662. Acesso em: jun. 2021.
WAQUIM, Bruna Barbieri; COELHO, Inocêncio Mártires; GODOY, Arnaldo Sampaio de
Moraes. A história constitucional da infância no Brasil à luz do caso do menino
Bernardino. Rev. Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 14, n. 1, p. 88-110, abr. 2018.
Disponível em: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito/article/view/1680. Acesso
em: 30 nov. 2020.
WEBER, MAX. Conceitos Básicos da Sociologia. SP: Centauro Editora. 2008
WEBER, Max. Economia e Sociedade. Fundamentos da sociologia compreensiva. Vol.1. 4ª
edição. Brasília: Ed. UNB. 2000. Reimpressão: 2009.
WEBER, Max. A Ética Protestante e o “Espírito” do Capitalismo. São Paulo: Ed.
Companhia das Letras, 2017.
ZERO, Arethuza Helena. O preço da liberdade: caminhos da infância tutelada - Rio Claro
(1971-1888). Dissertação (PPG Economia) Universidade Estadual de Campinas, São Paulo,
2004. Disponível em: http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/286249. Acesso
em: 23 out. 2020.
276
ANEXO A — Relatório de frequência PAR e NARCÓTICOS ANÔNIMOS
Servid
or R
efe
ren
cia: Pau
lo Tad
ashi Y
uku
hiro
- Age
nte
Edu
cacion
al
ENTID
AD
ES RELIG
IOSA
S CRED
ENCIA
DA
qui
sex
sab
dom
seg
ter
qua
qui
sex
sab
dom
seg
ter
qua
qui
sex
sab
dom
seg
ter
qua
qui
sex
sab
dom
seg
ter
qua
qui
sex
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
2122
2324
2526
2728
2930
IUR
DSH
ALO
MC
CR
ISTAM
UN
DIA
LID
EUS
IUR
DSH
ALO
MC
CR
ISTAM
UN
DIA
LID
EUS
IUR
DSH
ALO
MC
CR
ISTAM
UN
DIA
LID
EUS
IUR
DSH
ALO
MC
CR
ISTAM
UN
DIA
LID
EUS
IUR
DSH
ALO
M
CO
NG
REG
AÇ
ÃO
CR
ISTÃ
MU
ND
IAL
PA
RÓ
QU
IA IN
STRU
MEN
TO D
E DEU
S
UN
IVER
SAL
BA
TISTA SH
ALO
M
NA
RC
ÓTIC
OS A
NO
NIM
OS
CA
LEND
ÁR
IO SEM
AN
AL - P
AR
CA
LEND
ÁR
IO M
ENSA
L - NA
RC
ÓTIC
OS A
NÔ
NIM
OS
CEN
TRO
PA
ULISTA
PR
EENC
HER
: A - A
USEN
TE / P - P
RESEN
TE
RELA
TÓR
IO D
E FREQ
UEN
CIA
- PA
R e
NA
RC
ÓTIC
OS A
NO
NIM
OS
277
ANEXO B — Agenda Pedagógica
CASA DATA ATIVIDADE
HO
RÁ
RIO
CONTEÚDO DESENVOLVIDO
RE
SP
. P
EL
A A
TIV
IDA
DE
Nº
DE
AD
OL
ES
CE
NT
ES
MATERIAL UTILIZADO
CASA VILA
GUILHERMEquinta-feira, 5 de agosto de 2021 BIBLIOTECA VOLANTE E COMPOSIÇÃO 10:00 - 12:00
LEITURA DE MATERIAL PARADIDÁTICO, INTERPRETAÇÃO TEXTUAL POR MEIO DE
RELEITURAS E DESENHOS EZEQUIEL 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEquinta-feira, 5 de agosto de 2021 PROJETO LER E ESCREVER - A 10h40-11H45
TRABALHOS PEDAGÓGICOS PARA READEQUAÇÃO DA APRENDIZAGEM, AQUISIÇÃO DA
COMPETÊNCIA LEITORA E ESCRITAMIRIAN 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEsexta-feira, 6 de agosto de 2021 OFICINA DE CARTAS 10:00 - 12:00 ELABORAÇÃO DE CARTAS, AUXÍLIO PEDAGÓGICO, ADEQUAÇÕES ORTOGRÁFICAS EZEQUIEL 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEsexta-feira, 6 de agosto de 2021 BIBLIOTECA VIRTUAL 09:00 - 12:00
SALA DE INFORMÁTICA, MATERIAL PARADIDÁTICO DESPONIBILIZADO NAS
BIBLIOTECAS VIRTUAISJOSI 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEsexta-feira, 6 de agosto de 2021 BIBLIOTECA ITINERANTE 10:00 - 12:00
LEITURA DE MATERIAL PARADIDÁTICO, INTERPRETAÇÃO TEXTUAL POR MEIO DE
RELEITURAS E DESENHOS APOIO AAS 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEsegunda-feira, 9 de agosto de 2021 PROJETO LER E ESCREVER - A 10:30-11H45
TRABALHOS PEDAGÓGICOS PARA READEQUAÇÃO DA APRENDIZAGEM, AQUISIÇÃO DA
COMPETÊNCIA LEITORA E ESCRITAMIRIAM 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEsegunda-feira, 9 de agosto de 2021 OFICINA DE MUSICA - A 10:40 - 12:00 TRABALHA COMPOSIÇÃO E MUSICALIZAÇÃO EZEQUIEL 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEsegunda-feira, 9 de agosto de 2021 PROJETO DE VIDA - B 10:40 - 11:40 TRABALHA ESTIMULO AOS JOVESN A TRAÇARAEM METAS E PLANOS PARA SEU FUTURO VALERIA 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEterça-feira, 10 de agosto de 2021 PROJETO LER E ESCREVER - A 8:30 - 10:00
TRABALHOS PEDAGÓGICOS PARA READEQUAÇÃO DA APRENDIZAGEM, AQUISIÇÃO DA
COMPETÊNCIA LEITORA E ESCRITAMIRIAM 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEterça-feira, 10 de agosto de 2021 PROJETO LER E ESCREVER - A 10H30 - 11:45
TRABALHOS PEDAGÓGICOS PARA READEQUAÇÃO DA APRENDIZAGEM, AQUISIÇÃO DA
COMPETÊNCIA LEITORA E ESCRITAMIRIAM 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEquarta-feira, 11 de agosto de 2021 PROJETO LER E ESCREVER - A 09:00 - 10:30
TRABALHOS PEDAGÓGICOS PARA READEQUAÇÃO DA APRENDIZAGEM, AQUISIÇÃO DA
COMPETÊNCIA LEITORA E ESCRITAMIRIAM 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEquarta-feira, 11 de agosto de 2021 OFICINA DE MUSICA - A 10:00 - 12:00 TRABALHA COMPOSIÇÃO E MUSICALIZAÇÃO EZEQUIEL 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEterça-feira, 10 de agosto de 2021 PROJETO DE VIDA - A 10:40 - 11:40 TRABALHA ESTIMULO AOS JOVESN A TRAÇARAEM METAS E PLANOS PARA SEU FUTURO VALERIA 7 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEquinta-feira, 12 de agosto de 2021 BIBLIOTECA VOLANTE E COMPOSIÇÃO - MÓDULO B 10:00 - 12:00
LEITURA DE MATERIAL PARADIDÁTICO, INTERPRETAÇÃO TEXTUAL POR MEIO DE
RELEITURAS E DESENHOS
FABIANA/EZEQ
UIEL10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEsexta-feira, 13 de agosto de 2021 OFICINA DE CARTAS- B 10:00 - 12:00 ELABORAÇÃO DE CARTAS, AUXÍLIO PEDAGÓGICO, ADEQUAÇÕES ORTOGRÁFICAS EZEQUIEL 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEsexta-feira, 13 de agosto de 2021 BIBLIOTECA VIRTUAL 09:00 - 12:00
SALA DE INFORMÁTICA, MATERIAL PARADIDÁTICO DESPONIBILIZADO NAS
BIBLIOTECAS VIRTUAISJOSI 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEsegunda-feira, 16 de agosto de 2021 PROJETO LER E ESCREVER - A 09:00 - 10:30
TRABALHOS PEDAGÓGICOS PARA READEQUAÇÃO DA APRENDIZAGEM, AQUISIÇÃO DA
COMPETÊNCIA LEITORA E ESCRITAMIRIAM 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEsegunda-feira, 16 de agosto de 2021 BIBLIOTECA VOLANTE DE COMPOSIÇÕES 10:00 - 12:00
LEITURA DE MATERIAL PARADIDÁTICO, INTERPRETAÇÃO TEXTUAL POR MEIO DE
RELEITURAS E DESENHOS
JOSI/EZEQUIE
L10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEterça-feira, 17 de agosto de 2021 BIBLIOTECA VOLANTE E COMPOSIÇÃO 10:00 - 12:00
LEITURA DE MATERIAL PARADIDÁTICO, INTERPRETAÇÃO TEXTUAL POR MEIO DE
RELEITURAS E DESENHOS
JOIS/EZEQUIE
L10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
1
CASA VILA
GUILHERMEquarta-feira, 18 de agosto de 2021 PROJETO LER E ESCREVER - A 09:00 - 10:30
TRABALHOS PEDAGÓGICOS PARA READEQUAÇÃO DA APRENDIZAGEM, AQUISIÇÃO DA
COMPETÊNCIA LEITORA E ESCRITAMIRIAM 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEquarta-feira, 18 de agosto de 2021 BIBLIOTECA VOLANTE DE COMPOSIÇÕES 10:00 - 12:00
LEITURA DE MATERIAL PARADIDÁTICO, INTERPRETAÇÃO TEXTUAL POR MEIO DE
RELEITURAS E DESENHOS
JOSI/
EZEQUIEL10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEquinta-feira, 19 de agosto de 2021 BIBLIOTECA VOLANTE E COMPOSIÇÃO 10:00 - 12:00
LEITURA DE MATERIAL PARADIDÁTICO, INTERPRETAÇÃO TEXTUAL POR MEIO DE
RELEITURAS E DESENHOS
JOSI/
EZEQUIEL10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEsexta-feira, 20 de agosto de 2021 OFICINA DE CARTAS 10:00 - 12:00 ELABORAÇÃO DE CARTAS, AUXÍLIO PEDAGÓGICO, ADEQUAÇÕES ORTOGRÁFICAS EZEQUIEL 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEsexta-feira, 20 de agosto de 2021 BIBLIOTECA VIRTUAL 09:00 - 12:00
SALA DE INFORMÁTICA, MATERIAL PARADIDÁTICO DESPONIBILIZADO NAS
BIBLIOTECAS VIRTUAISJOSI 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEsegunda-feira, 23 de agosto de 2021 BIBLIOTECA VOLANTE E COMPOSIÇÕES 10:00 - 12:00
LEITURA DE MATERIAL PARADIDÁTICO, INTERPRETAÇÃO TEXTUAL POR MEIO DE
RELEITURAS E DESENHOS
JOSI/
EZEQUIEL10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEsegunda-feira, 23 de agosto de 2021 PROJETO LER E ESCREVER - A 09:00 - 10:30
TRABALHOS PEDAGÓGICOS PARA READEQUAÇÃO DA APRENDIZAGEM, AQUISIÇÃO DA
COMPETÊNCIA LEITORA E ESCRITAMIRIAM 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEterça-feira, 24 de agosto de 2021 BIBLIOTECA VOLANTE E COMPOSIÇÃO 10:00 - 12:00
LEITURA DE MATERIAL PARADIDÁTICO, INTERPRETAÇÃO TEXTUAL POR MEIO DE
RELEITURAS E DESENHOS
JOSI/
EZEQUIEL10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEquarta-feira, 25 de agosto de 2021 PROJETO LER E ESCREVER 09:00 - 10:30
TRABALHOS PEDAGÓGICOS PARA READEQUAÇÃO DA APRENDIZAGEM, AQUISIÇÃO DA
COMPETÊNCIA LEITORA E ESCRITAMIRIAM 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEquarta-feira, 25 de agosto de 2021 BIBLIOTECA VOLANTE DE COMPOSIÇÕES 10:00 - 12:00
LEITURA DE MATERIAL PARADIDÁTICO, INTERPRETAÇÃO TEXTUAL POR MEIO DE
RELEITURAS E DESENHOS
JOSI/
EZEQUIEL10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEQUINTA-FEIRA, 26 de agosto de 2021 BIBLIOTECA VOLANTE E COMPOSIÇÃO 10:00 - 12:00
LEITURA DE MATERIAL PARADIDÁTICO, INTERPRETAÇÃO TEXTUAL POR MEIO DE
RELEITURAS E DESENHOS
JOSI/
EZEQUIEL10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEsexta-feira, 27 de agosto de 2021 OFICINA DE CARTAS 10:00 -12:00 ELABORAÇÃO DE CARTAS, AUXÍLIO PEDAGÓGICO, ADEQUAÇÕES ORTOGRÁFICAS
JOSI/
EZEQUIEL10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEsexta-feira, 27 de agosto de 2021 BIBLIOTECA VIRTUAL 09:00 - 12:00
SALA DE INFORMÁTICA, MATERIAL PARADIDÁTICO DESPONIBILIZADO NAS
BIBLIOTECAS VIRTUAIS
JOSI/
EZEQUIEL10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEsegunda-feira, 30 de agosto de 2021 PROJETO LER E ESCREVER 09:00 - 10:30 ELABORAÇÃO DE CARTAS, AUXÍLIO PEDAGÓGICO, ADEQUAÇÕES ORTOGRÁFICAS MIRIAM 10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEsegunda-feira, 30 de agosto de 2021 BIBLIOTECA VOLANTE DE COMPOSIÇÕES 10:00 - 12:00
LEITURA DE MATERIAL PARADIDÁTICO, INTERPRETAÇÃO TEXTUAL POR MEIO DE
RELEITURAS E DESENHOS
JOSI/
EZEQUIEL10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
CASA VILA
GUILHERMEterça-feira, 31 de agosto de 2021 BIBLIOTECA VOLANTE E COMPOSIÇÃO 10:00 -12:00
LEITURA DE MATERIAL PARADIDÁTICO, INTERPRETAÇÃO TEXTUAL POR MEIO DE
RELEITURAS E DESENHOS
JOSI/
EZEQUIEL10 LÁPIS, CADERNO, FOLHAS, RÉGUAS, CADERNO DE DESENHO, LÁPIS DE COR
REGISTRO DIÁRIO DO TRABALHO DESENVOLVIDO JUNTO AOS ADOLESCENTES – ATIVIDADES DIVERSIFICADAS