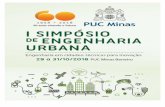PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC-SP FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS
Transcript of PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC-SP FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DESÃO PAULO – PUC-SP
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
Resistência Informal através da Oficialidade: Defloramento
nos processos judiciais durante a prefeitura de Antônio
Prado em São Paulo (1899 – 1911)
Celso Demétrio Justo da Silva FilhoOrientadora: Carla Longhi
SÃO PAULO2013
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DESÃO PAULO – PUC-SP
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAISDEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
Resistência Informal através da Oficialidade: Defloramento
nos processos judiciais durante a prefeitura de Antônio
Prado em São Paulo (1899 – 1911)
Celso Demétrio Justo da Silva Filho
Trabalho de Conclusão do Curso, apresentado ao Departamentode História da Faculdade de Ciências Sociais da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, como requisito final paraobtenção do Título de Bacharel em História.
Orientadora: Carla Longhi
SÃO PAULO2013
Resumo
O trabalho de pesquisa tem como mote a análise de processos
judiciais referentes ao artigo 267 do Código Penal de 1890,
que caracteriza como crime punível com prisão de um a
quatro anos o ‘’defloramento’’ de mulheres com idade abaixo
da maioridade penal de 21 anos. O período escolhido
compreende-se entre 1899-1911, época de exercício do
mandato do primeiro prefeito da cidade de São Paulo,
Antônio da Silva Prado. O intuito é analisar o discurso
produzido a partir das querelas entre réu e vítima,
mediadas por juízes, testemunhase promotores.
Apresentação:
Este trabalho pretende compreender a relação entre
moralidade familiar e leis no início do século XX entre os
anos de 1899 e 1911 na cidade de São Paulo que compõe o
mandato de Antônio da Silva Prado, partindo-se dos
processos referentes ao artigo 267 de defloramento do
Código Penal de 1890 da 1° Vara Criminal de São Paulo.
Os últimos anos do século XIX e os primeiros anos do século
XX trouxeram para o Brasil uma nova realidade econômica. A
enorme profusão de imigrantes vindos de todas as partes do
mundo, principalmente do continente europeu, modificou a
realidade de pequenos centros urbanos, como foi o caso da
cidade de São Paulo. Essa situação foi facilitada pela
realidade social específica que viviam os diferentes países
neste momento.
De um lado havia o crescimento do setor monopolista
agrícola, que impossibilitava a continuidade do negócio dos
pequenos produtores, que agora não tinham mais a capacidade
de concorrer com os baixos preços promovidos pelos
latifundiários (Alvim, 1983). Do outro, a realidade
brasileira de expansão do ciclo cafeeiro e do setor
agrícola em geral em fins do século XIX criava uma demanda
que dificilmente poderia ser alcançada sem a chegada de
estrangeiros. Entre 1890 e 1920 a cidade de São Paulo
passou de 64.934 habitantes para 579.033, um crescimento
aproximado de 784%1.
Além disso, a demanda de mão-de-obra assalariada de ex-
escravos não era desvalorizada, além do fato de que o
sujeito nacional, pobre era de forma geral visto como
despreparado. Mesmo quando da época em que crescia o
liberalismo empresarial e surgiam os primeiros resquícios
de indústria na cidade de São Paulo, até os trabalhos mais
simples eram vistos como complexos demais para os nacionais
(Santos, 1998).1http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/historico/tabelas/pop_brasil.php
O crescimento populacional acelerado, feito a partir de uma
demanda que não levava em conta um desenvolvimento urbano
saudável, provocou um crescimento altamente problemático
que passou São Paulo de uma cidade com aspectos de vila
colonial para inflado centro urbano e comercial.
A importância adquirida pela cidade neste período se pode
ser entendida através de dois fatores muito importantes. O
primeiro deles se dá pela condição geográfica da cidade no
período de desenvolvimento do ciclo cafeeiro. A cidade, com
a construção da ferrovia ‘’Inglesa’’ em 1867, se tornou o
nó que ligava diversas linhas de trem que separavam a
região portuária de Santos do sertão agricultor (Prado,
1975). Outro fator importante para a receptividade em
relação ao aparecimento de novas ideias foi a necessidade
de se destacar em relação à cidade do Rio de Janeiro. São
Paulo tinha uma oferta de mão-de-obra cada vez maior vinda
das rebarbas do setor agrícola. Essa oferta aliada a
centralidade geográfica da cidade dentro do ciclo econômico
exigiu dos principais atores sociais uma abertura a
novidades em busca de um destaque que conseguisse destacar
a cidade em relação a segurança já trazida pelo Rio de
Janeiro, que já era local consagrado(autor, ano).
As especificidades do crescimento de São Paulo levantaram
características muito particulares no desenvolvimento das
classes alta e baixa. No que se refere a classe mais baixa,
composta por ex-escravos, população nativa nacional e
imigrantes a falta de uma ordenação do crescimento agravou
a falta de qualidade de vida. Questões de suma importância
para o meio urbano como saneamento básico, transporte
público e eletricidade ainda não faziam parte da vida da
maioria da população. No que diz respeito ao saneamento
básico, o que inclui sistema de esgoto, o estado não
conseguiu acompanhar o ritmo de crescimento da cidade e o
alcance geográfico cada vez maior que esta tomava.
Tanto o sistema elétrico quanto o sistema de bondes na
cidade de São Paulo eram de exploração exclusiva da The São
Paulo Tramway, Light and Power Company, mais conhecida como
Light. Antes disso a exploração do sistema de transporte
público era de monopólio da empresa nacional Companhia
Viação Paulista, que enfrentou graves problemas de
implantação e acabou, depois de dura batalha, perdendo o
direito de explorar o sistema em 1900. Nesta conjuntura de
busca pela monopolização do sistema de serviços públicos a
Light adquiriu também a Companhia Água e Luz do Estado de
São Paulo.
O monopólio dos serviços públicos alcançado pela Light e o
consequente acelerado crescimento do capital da empresa não
garantiram uma distribuição de qualidade de nenhum dos
serviços. O sistema de bondes não alcançava regiões mais
distantes, que tinham dificuldade, inclusive, de ser
providas de pavimentação nas ruas. A urbanização ainda
muito incipiente se chocava com o ritmo de ocupação.
O fim da escravidão e a chegada dos imigrantes, a passagem
de um sistema puramente agrícola para o surgimento de um
empresariado atuante, novas lógicas médico-legais e
ideológicas trazidas tanto por liberais quanto por
positivistas. A cidade de São Paulo em sua primeira década
passava por um amplo processo de transformação, tanto no
campo material quanto no campo das ideias.
No contexto nacional, perceber que o Brasil havia se
tornado um grande canteiro de obras, tanto material quanto
ideologicamente, era tarefa simples. O positivismo trazia o
cientificismo para o centro de sua linha de pensamento.
Este viés de pensamento vindo da Europa, através dos
trabalhos de Auguste Comte, propunha uma gama de novas
teorias científicas que foram desenvolvidas por médicos e
cientistas europeus, como o italiano CésareLombroso, e
adaptadas para a realidade brasileira.
Dentre as linhas mestras da ideologia que foram utilizadas
como política de estado está a noção de que a sociedade tem
um funcionamento regido por leis científicas e que deve
funcionar como um corpo, em que cada órgão tem sua função
específica. Dentro dessa visão, o autoritarismo é uma
consequência já que não se admite contestação social e
mobilidade de classes já que cada componente do estado tem
uma função e lugar próprios. A valorização da família e da
configuração tradicional de família seguia a mesma lógica
de valorização da estrutura em detrimento do indivíduo.
No lado da perspectiva liberal, a valorização era sempre
focada nos direitos do indivíduo e baseava-se em noções
econômicas surgidas no seio do desenvolvimento industrial
europeu. A perspectiva de Antonio da Silva Prado era de
arejar a cidade. Para tanto propôs todo tipo de projeto que
evitasse o ajuntamento urbano. Ajardinamentos, praças e
arborização. Ampliar o espaço urbano era medida
imprescindível para se evitar a proliferação de doenças.
A presença da autoridade pública no seio familiar era algo
palpável, e pode ser comprovado pelas falas de Antonio da
Silva Prado em seu relatório anual de 1899:
“Dividi a cidade em trinta distritos, nomeando para cada circunscrição
comissões de três membros, cujos encargos principais consistiam em visitas
domiciliares, conselhos aos moradores e proprietários das casas, e
comunicações de quaisquer ocorrências à autoridade competente”
O artigo número 267 do Código Penal de 1890 não fui uma
novidade em sua intenção mas se desdobrou de forma complexa
pela simplicidade de seu teor descritivo do crime. O
primeiro código criminal que vigorou na América Portuguesa
foram as Ordenações Filipinas de 1603. O código de 1603
trazia para a questão do defloramento a punição de desposá-
la ou dar-lhe um dote, caso não tivesse condições de
cumprir dessa forma seria mandado para a África. Se fosse
plebeu seria chicoteado publicamente antes de ser enviado.
O código penal de 1830 ficou conhecido por seu caráter
renovador, calcado em uma ideologia liberal vinda
diretamente da Europa foi visto como uma dura conquista,
ainda mais vinda de um país como Portugal, que teve grande
resistência com a entrada do pensamento iluminista. O
código trazia a questão da honra, tal qual havia nas
Ordenações Filipinas, a diferença é que agora a honra
perdia o caráter religioso e estava ligada a moralidade do
indivíduo. A lei defenderia a pessoa de acordo com sua
patente na sociedade, começando pelo monarca e chegando ao
ser comum.
O código possuía uma sessão específica para o que eram
chamados de “crimes contra a segurança da honra – secção 1
– estupro’’. Percebe-se então a importância que era dada a
honra pessoal. O artigo 219 referente ao defloramento
dizia:
Art. 219. Deflorar mulher virgem, menor de dezaseteannos.
Penas - de desterro para fóra da comarca, em que residir a deflorada, por um
a tresannos, e de dotar a esta.
A composição de punições era, então, clara e abrangente,
apesar de não estar descrito o modo como se definiria uma
mulher deflorada. O código penal de 1890 foi muito
criticado desde sua formulação por ter sido considerado que
muitos de seus artigos foram mal elaborados e deixaram
pouco explicitas suas descrições de muitos dos crimes.
O código surgiu em um momento em que o setor jurídico
estava fortemente banhado pela escola positivista e pelos
preceitos de que a entrada da medicina no sistema legal era
tema de última importância. Havia um embate entre a visão
do antigo código com o código de 1890, este segundo estava
baseado não nos conceitos de livre-arbítrio e
individualidade característicos do pensamento liberal, mas
em um projeto de reforma social que se baseava na
predisposição ao crime ligada a um caráter biológico.
A intenção da escola positivista era realizar uma reforma
na nação brasileira, e para isso o diagnóstico científico
que conseguisse avaliar e ordenar o elemento nacional era
muito importante.
CesareLombroso (1835 – 1909), Enrico Ferri (1856- 1929) e
Alexandre Lacassagne (1843 – 1924) eram alguns dos
principais nomes que influenciaram a composição do código
penal de 1890 (Sueann, 2000). Juristas como Viveiros de
Castro e Nina Rodrigues foram alguns dos brasileiros
responsáveis por uma forte campanha de reforma da nação
baseada no sistema médico-legal.
O novo código trazia como enfoque central desta vez o crime
contra a honra como sendo um aspecto de ofensa da família e
não do indivíduo. Desta vez havia a necessidade de se
explicitar o quão prejudicial era o crime para o
desenvolvimento de um sistema familiar saudável. As
dificuldades na avaliação do crime de defloramento estão
muito mais presentes então nesta versão do código:
Art.
267. Deflorar mulher de menor idade, empregando seducção, engano ou
fraude:
Pena - de prisão cellular por um a quatro annos.
Novamente não havia a definição do que definiria
especificamente o que é o defloramento e a pena perdeu suas
variáveis anteriores, estando restrita teoricamente a
apenas a punição com prisão.
O modo vago como foi redigido o artigo abriu precedente
para fortes debates em relação às condutas a serem tomadas
para a avaliação do defloramento (Sueann, 2000). Viveiros
de Castro, um dos juristas que mais se apegou ao assunto,
chegou a escrever um livro em grande parte dedicado ao
assunto, intitulado “Os delitos contra a honra da mulher: Adultério –
Defloramento – Estupro. A sedução no direito civil.”.
A punição dos crimes se tornou mais branda durante o tempo,
apesar disso a idade da mulher protegida pela lei de
defloramento passou de 17 para até 21 anos de idade no
Código Penal de 1890. A abertura para diversos tipos de
interpretações jurídicas dos casos fez com que houvesse uma
flutuação no caráter dos julgamentos dependendo do período
e do local.
Uma edição da Revista de Polícia de São Paulo de 1908
(edição não identificada) traz um artigo sobre defloramento
e o vertiginoso aumento de casos referentes ao crime. O
artigo sugere que a própria população se utiliza de
diversas estratégias para usar a lei de forma a facilitar a
própria vida, e não como busca de uma reparação de honra
simplesmente. A revista cita o caso de um italiano que
chegou ao Brasil e queria casar-se com uma mulher. Sabendo
que o casamento terá as despesas pagas pelo estado caso o
marido seja processado por defloramento, aceitar casar e
apresentar o atestado de miserabilidade ele combina com a
família da mulher para que possa deflora-la, ser processado
e assim conseguir casar-se de graça. O escritor não
identificado da reportagem continua dizendo que “A’s vezes
nestes casos de queixas, que na policia apparecem, há pura
chantage[...] Essa casta de gente quando vem ao delegado é
impellida apenas pelo interesse pecuniário, e pouco se
importando que o indiciado seja punido, insinuam até que se
calarão, si a auctoridade fazer com que o culpado indemnize
com dinheiro o damno.’’
Essas falas do autor da reportagem podem até não ser
acuradas, mas aliadas aos estudos de Martha Abreu Esteves e
Cláudia Sueann a respeito da questão no Rio de Janeiro,
pode-se perceber que a dubiedade da lei abria espaço para
diversos tipos de estratégias que poderiam ou não estar
ligadas com uma tentativa de manutenção da moralidade
familiar prevista pelos positivistas.
O momento de reforma estrutural e ideológica da cidade se
encontra na questão da lei do defloramento campo fértil
para reprodutibilidade de diferentes versões dos ideais
liberais e positivistas graças a característica vaga da
lei. Além disso, a mudança no campo estrutural da cidade,
com novos sujeitos surgindo a cada momento e interagindo em
um complexo mapa de deslocamentos internos faz com que se
torne campo muito rico de análise.
Justificativa:
O primeiro decênio do século XX na cidade de São Paulo foi
momento de muito progresso para a burguesia e amplas
reformas estruturais na cidade, mas o que se via nas
classes mais baixas era o aprofundamento das desigualdades
sociais e o crescimento da pobreza. A chegada de um
contingente populacional muito grande e sua consequente
expulsão para as regiões periféricas da cidade tornou a
vida na cidade muito difícil. A quantidade de imigrantes
vindos do setor agrícola para a cidade excedia a demanda
dos empresários paulistas, fazendo com que a disputa por
emprego fosse muito intensa. Quando conseguiam empregos as
fabricas submetiam os funcionários a atividades apenas
sazonais em muitos dos casos, deixando a renda das famílias
comprometida pela irregularidade. (Izilda,2002)
Muitas mulheres tinham então que contribuir para a renda do
lar, fosse com empregos informais como a venda ambulantes,
empregos formais sazonais como costura de sacas de juta ou
empregos formais com empregadas domésticas. De qualquer
forma a mulher a acabava exercendo um papel fundamental na
família. Além de administrar as finanças da casa e cuidar
dos filhos tinha que trabalhar para complementar ou mesmo
compor totalmente a renda da casa.
O estudo dos casos de defloramento tem importância
fundamental no entendimento da relação entre a moralidade
produzida pela burguesia brasileira e os costumes da
população mais pobre, que geralmente eram aqueles que
requeriam a processos de defloramento. Os mais ricos
resolviam questões ligadas à sexualidade no âmbito
familiar, privado.
A análise da questão feita por historiadores de outras
partes do país, como Martha Abreu Esteves e Cláudia Sueann
no Rio de Janeiro e João Valério Scremin em Piracicaba
demonstra que muitas vezes a lei de defloramento era
utilizada como meio de se alcançar conquistas que estavam
além da honra familiar.
Brechas da lei possibilitavam o uso do artigo 267 do Código
Penal de 1890 como meio de se resolver querelas e alcançar
certos objetivos diferentes do que estava previsto
legalmente.
A pretensão é contribuir para a formação de um quadro mais
amplo no entendimento do discurso moral familiar do início
do século XX no cotidiano das classes mais pobres. As
argumentações feitas nos processos judiciais em que se
tentava comprovar a falta de validez convergiam no sentido
de culpar a mulher pela ofensa sofrida por considerar-se
que a mulher não possuía a pureza e moralidade esperadas.
Essa argumentação era construída a partir de uma análise do
cotidiano da mulher, tentando demonstrar o tipo de
liberdade possuída para sair à rua em certos horários e o
modo como se comportava diante de outras pessoas.
Esse agregado de informações verificado preliminarmente na
documentação encontrada aliado a uma produção
historiográfica forte em relação a questão em outras partes
do Brasil aciona um interesse para o entendimento da
complexidade da temática. A questão da culpabilização da
mulher por ofensas sofridas é uma temática muito presente
na atualidade em que casos de estupro são amenizados,
transformado a mulher em agente provocador do
acontecimento, seja por seu modo de vestir, pelo horário
que frequenta as ruas ou por seu comportamento diário.
Levando em conta a concepção de Marc Bloch de que os temas
do presente condicionam e delimitam o possível retorno ao
passado, a escolha do tema cumpre seu papel.
Objetivos
Geral:
- contribuir para o entendimento dos processos de
resistência cotidiana da mulher.
- contribuir para a compreensão da análise mentalidades
através dos processos judiciais
Específico:
- Compreender a relação entre discurso moral e prática no
cotidiano popular
- Refletir sobre o conceito de honra familiar e moralidade
para as diferentes classes sociais e para os diferentes
agentes sociais do início do século XX no Brasil.
- Analisar a importância da questão da perda da virgindade
para as famílias em geral, e de modo específico para a
vítima do defloramento no período.
Fontes
As fontes a serem utilizadas são cerca de 60 processos
encontrados no Arquivo do Tribunal de Justiça de São Paulo
referentes ao período que vai de 1900 à 1911 da 1° Vara
Criminal da época. Os processos encontrados foram todos
fotografados para análise.
O trabalho com a fonte em questão se torna desafiador em
sua praticidade, isso por que os processos do Arquivo do
Tribunal de Justiça de São Paulo não estão catalogados por
tema, apenas por data, exigindo que seja feita uma busca em
todo o arquivo de processos do recorte histórico desejado.
Apesar disso, ao longo do trabalho no arquivo foi possível
perceber uma incidência do número de processos de
defloramento que gira em torno de 8% do total de processos.
A utilização de processos como fonte documental para
entender a questão do defloramento fornece um abrangente
entendimento das estratégias de alcance de sucesso na
exigência de uma reparação pelo defloramento. Ficam claras,
em alguns casos, as intenções de mulheres que foram
defloradas.
Podemos pegar como exemplo o processo da 1ª Vara Criminal
de São Paulo que apresenta um processo aberto por
EncarnaciónGonsales, imigrante espanhola e mãe de
CarménGonsales de 16 anos que acusava José Moledo de
Almeida, de 21 anos, de ter deflorado sua filha usando
métodos de sedução e engano.
O processo em questão traz logo de cara uma confirmação
importante, a sua existência dada pura e simplesmente em
razão de uma promessa de casamento não realizada:
(...) que este moço há trezmezes, pediu sua filha em casamento, sendo acceito
desde esta ocasião o referido moço, comprando uma cama de casal, colocou-a
no quarto de sua filha, e começou deste dia em diante, a dormir com a mesma
filha, com o consentimento da declarante que accedeu a isto devido a ter, o
referido moço, comprometido a se casar com a alludida sua filha dentro do
prazo de um mez(...).
No Termo de Declaração do processo vem colocada a
resistência da família em liberar a filha para ser
deflorada com por José:
“(...) promettia de casar-se com a declarante, mas com a condição de ella ter
relações sexuais com elle; que a princípio não quiz, mas como todos os dias o
seu namorado lhe fazia novos juramentos de casamento, accreditou que ele
não a enganava e consentiu(...).”
A documentação ainda sinaliza que o casa já namorava havia1
ano e 3 meses, fato confirmado tanto por CarménGonsales
quanto por José Moledo em depoimento. Apesar desse extenso
tempo de namoro fica registrado o defloramento como um
selamento contratual de casamento. Para que possa
conquistar um acordo em que obrigue José a se casar com ela
ao invés de ser preso em regime fechado a declarante tem de
comprovar três coisas:
A primeira delas é o atestado de miserabilidade, exigido
pelo parágrafo primeiro do art. 274 do Código Penal de 1890
que estabelece:
Art. 274 Nestes crimes haverá logar o procedimento official de justiça
sómente nos seguintes casos:
1º si a offendida for miseravel, ou asylada de algum estabelecimento de
caridade;
O segundo fator importante que dá procedência a acusação é
a comprovação de que o crime foi cometido através de
sedução, engano ou fraude. Neste caso, há a tentativa de se
comprovar a inocência de Carménem relação ao fato de que
José não se casaria com ela ao tirar sua virgindade.
O terceiro fator que é de profunda importância em um
processo como este é a comprovação de inocência de Carmén.
Isso porquê caso fosse comprovado que a garota não era uma
mulher de família estava anulada a questão do engano ou
fraude, já que a garota estaria propensa a perder a
virgindade com algum homem de qualquer forma.
Sendo assim, as testemunhas de defesa tentam, ao longo do
processo, comprovar que Carmén não andava na rua sozinha em
horários não apropriados para uma garota de honra.
Outro quesito importante em um processo de defloramento é a
prova material do crime. A prova material neste caso é a
comprovação de perda da virgindade através da laceração do
hímen. No processo de Carmén o auto da perícia atesta o
seguinte:
“Passando os peritos ao exame da queixosa verificaram que os grandes lábios
achavam-se afastados, o canal vaginal estava dilatado, a membrana hymen
apresentava retalhas já cicatrizadas, sem inflamação, nem suffuração e
finalmente que o útero se achava augmentado de volume.”
Ao final do processo, José Moledo de Almeida deixa de se
apresentar às datas estabelecidas nos procedimentos
burocráticos e é declarado como foragido. O caso é
encerrado sem uma reparação com Carmén que estava grávida e
alegava que José era o pai.
Apesar de a proposta não apresentar uma profusa variedade
de fontes traz o processo judicial como rico material para
a análise desta questão. Justamente por se verificar que a
demanda de uma luta pela manutenção da virgindade se
tornava mais importante como estratégia de alcance de
certos interesses específicos do que como uma real
reparação moral.
O processo judicial como fonte documental neste caso é a
fonte documental com maior relevância, pois transforma uma
questão que deveria tratar simplesmente da honra familiar e
a coloca em um campo de disputa em que a honra tem a
serventia específica de garantir a vitória do processo, que
não se reproduz, necessariamente, em uma reparação direta
da honra, mas sim em conquistas específicas de acordo com
as demandas diferenciadas. O espaço de disputa se utiliza
de um preceito moral estabelecido pela burguesia na busca
de resultados que ultrapassam a questão da honra familiar.
Pressupostos teóricos metodológicos
O estudo das questões de gênero é uma temática
relativamente nova na historiografia, foi na terceira
geração da Escola dos Annalesque realmente ganhou força.
Autores como Georges Duby e Michelle Perrot trouxeram a
figura feminina para o centro de seus estudos. Inovaram não
simplesmente em colocar a mulher como sujeito histórico,
mas, principalmente, como agente ativo no desenvolvimento
da sociedade.
O elemento feminino no início do século XX do Brasil tem
grande importância na historiografia atual. Uma mudança na
perspectiva do cotidiano feminino vem à tona quando
historiadores como Margareth Rago e Maria Odila Silva Dias
passam a trabalhar os processos de resistência e
sobrevivência. O estudo deste tipo de documento é de suma
importância para desvelarem-se fatores que agregam ao
entendimento do passado, levando em conta que a
historiografia atual admite todo tipo de documentação para
a composição de análises (Bloch, 1998).
A análise do cotidiano propõe uma resolução para a oposição
entre uma racionalidade formal e científica e a concretude
social delimitadora. A ideia é propor uma analise não
linear dos acontecimentos que possa “focalizar em
conjunturas específicas, estruturas da vida social, visões
ou concepções do mundo relativas a si mesmas e não a planos
universais teleológicos do desenvolvimento universal da
humanidade.”2.
Pressupõe-se que deve haver formas de compreensão do mundo
que superam uma dicotomia entre natureza e cultura. Há sim
uma necessidade de se abrir para uma abordagem cotidiana,
que privilegia o estudo do concreto e coloca de lado o
generalizado. É através da união de diversas análises
micro-históricas que é possível formarem-se teorias que
abarquem algum sentido para desdobramentos históricos.
Longe de uma posição positivista, este tipo de análise da
hermenêutica do cotidiano tem como princípio que um
desenvolvimento teórico que tenha como função abarcar
amplas questões, de modo a desenvolver um entendimento de
mundo mais unificado, deve fazer primeiramente uma coleta
de todas as especificidades para, aí sim, conseguir montar
um quadro geral que se baseie nas complementaridades e
diferenças.
Fator importante na análise documental é a liberdade e a
necessidade interpretativa que cabe ao historiador. Para
que se possam compreender as intenções e pensamentos que
ultrapassam o formalismo e (ou) o mascaramento de uma
mentalidade deve-se fazer uma análise interpretativa dos
2 Maria Odila
documentos. É através da leitura nas entrelinhas que se
busca um sentido na narrativa verificada.
Esta análise dos documentos está baseada na Hermenêutica do
Cotidiano na Historiografia Contemporânea de Maria Odila
Silva Dias, escrita para a revista Projeto História.
Segundo a autora:
“Na leitura de processos criminais ademais da formação dos processos e dos
conceitos jurídicos, frequentemente, é o pormenor imperceptível e secundário
que interessa ao historiador: a identificação de uma testemunha, por vezes
analfabeta, ou uma menção de passagem no depoimento a um ponto de
sociabilidade na vizinhança...”
A resistência como conceito teórico deve ser expandida para
algo maior do que a manifestação política formal, ela está
nos meandros da sociedade. Desde a servente que realiza seu
trabalho de forma vagarosa até as costeiras sazonais de São
Paulo que desenvolvem um proto-sindicalismo, a resistência
vem através de contradições e oposições que apenas a
hermenêutica do cotidiano é capaz de elucidar.
Quando tratamos então da questão feminina no perpassar da
história, principalmente em momento que correspondem a um
crescimento econômico e a momentos de urbanização intensa,
devemos verificar a maciça presença não oficial ou formal
desses sujeitos no meio social.
Michelle Perrot, Maria Odila e Maria Izilda ressaltam a
importância do elemento feminino na manutenção dos lares.
No início do século XIX “40% dos moradores da cidade eram
mulheres sós, chefes de família, muitas delas concubinas e
mães solteiras.”.
Sendo assim, o desvelamento do papel das mulheres no
cotidiano e no desenvolvimento social tem importância
mister na formação do mosaico que possibilita a formação de
teorias que possam abarcar a historicidade de forma mais
ampla.
Como ressalta Maria Odila Leite da Silva Dias em seu livro
Quotidiano e Poder em São Paulo no século XIX:
“A historiografia das últimas décadas favorece uma história social das mulheres, pois
vem se voltando para a memória de grupos marginalizados do poder. Novas
abordagens e métodos adequados libertam aos poucos os historiadores de
preconceitos atávicos e abrem espaço para uma história microssocial do quotidiano: a
percepção de processos históricos diferentes, simultâneos, a relatividade das
dimensões da história, do tempo linear, de noções como progresso e evolução, dos
limites de conhecimento possível diversificam os focos de atenção dos historiadores,
antes restritos ao processo de acumulação de riqueza, do poder e à história política
institucional.”