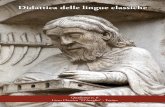“O momento do ‘Crime’ e uma breve contextualização: dois irmãos et al de Germano de...
Transcript of “O momento do ‘Crime’ e uma breve contextualização: dois irmãos et al de Germano de...
1
“O momento do ‘Crime’ e uma breve contextualização: dois irmãos et al de Germano de Almeida” Expressão 5.2 (2001): 109-16. In this study we are reading Germano Almeida’s texts beyond the categories of post-modernism. Historiographic metafiction is seen as a major space for subjectivity and as a means of surmounting historical fatalism and the involved compulsion to repetition. Also, we question the role of the author as he demands the reader’s participation mainly through irony.
O momento do “crime” e uma breve contextualização: Dois Irmãos e et al de
Germano Almeida
With the advent of the blurring of boundaries that once surrounded totalizing discourses, with the bankruptcy of the Hegelian transhistorical Subject, we can only position ourselves with regard to a nomadic subjectivity, in a non-hierarchical space, where discourses are being constantly territorialized, deterritorialized and reterritorialized, and where the only certainty is that nothing is certain. (Fernando Toro in Toro, 1995, 146-7)
Dois Irmãos é assinado por Germano Almeida, aquele que é hoje considerado
como um dos grandes escritores da actualidade cabo-verdeana. Oriundo da ilha da
Boavista, nascido em 1945, é formado em Direito pela Universidade de Lisboa e exerce
advocacia na cidade do Mindelo. Já denominado de produtor de livros, conta com dez
títulos, o primeiro de 1992, o último de 1999. O Testamento do Sr. Napumoceno da
Silva Araújo, 1997, foi adaptado para cinema – 1o prémio do Festival de Cinema
Latino-Americano de Gramado, no Brasil, e distinguido com os prémios de Melhor
Filme e Melhor Actor no 8o Festival Internacional Cinematográfico de Asunción,
Paraguai – e foi já traduzido para alemão, italiano e francês. O Autor foi agraciado com
o Prémio do Instituto Marquês de Valle-Flor, Lisboa, 1991, e pelo Prémio da Crítica da
Imprensa de S. Paulo, Brasil, 1996. A Família Trago, 1998, tem recebido muita atenção
2
da crítica, já foi equiparado a 100 Anos de Solidão, e considerado uma espécie de
retrato histórico da sociedade boavistense. Nas palavras do autor, a “ideia é confundir o
mito da construção de Cabo Verde com o da mestiçagem” 1, confundindo os traços reais
com a fantasia. É facto aceite que a Germano Almeida se deve a introdução do humor
na literatura caboverdeana.
Diz-nos José Pires Laranjeira, no seu Literaturas Africanas de Expressão
Portuguesa, (1995), que estas mesmas literaturas se afirmaram pela necessidade de
construção de um ideal nacional que, no caso de Cabo Verde, não se opõe ao ideal do
colonizador nos termos em que aconteceu nos outros países africanos de expressão
portuguesa. Ou seja, não se deu um processo de violento e longo antagonismo dada a
sui generis colonização de Cabo Verde. Sui generis, como aliás o é o próprio
arquipélago, num espaço de transição entre a Europa e a África que lhe permite um
estatuto de excepção naturalmente expresso na literatura que o constitui. E gostaria de
citar o próprio Germano Almeida quanto a este assunto, numa entrevista que de algum
modo confirma as palavras de Pires Laranjeira. Este, a revista Claridade, fundada em
1936, como sendo um marco de verdadeira criação de crioulidade , ou seja o ponto de
reflexão parte duma “portugalidade” que já se distingue do ideal nacional da metrópole.
A fase seguinte, que Pires Laranjeira denomina de Contemporaneidade, (1975-1998),
com as independências das quatro ex-colónias em 1975 acarretando uma profunda
transformação das estruturas de poder, sócio-económicas e culturais, verificam-se dois
momentos essenciais. Um primeiro, de 1975-1985, caracterizado por um orgulho pátrio
bastante inflamado, e um segundo, da pós-colonialidade estética, que envolve,
1 Entrevista a António da Conceição Tomás, 25 de Abril, 1998, jornal O Público.
3
finalmente exorcizada a colonização, um novo momento da incerteza contemporânea,
verificável nas obras de José Eduardo Agualusa, Germano Almeida, Pepetela e Mia
Couto, respectivamente em Angola, Cabo Verde e Moçambique. Mas dizer que a
colonização foi exorcizada é demasiado vago para poder caracterizar um novo momento
duma história literária que assume a necessária construção romanesca de Chiquinho,
para daí poder ensaiar o salto para outros espaços de literatura. Espaços estes que,
construídos em metalinguagem, se auto-parodiam destruindo não só o regime que os
precede como o regime em que se constroiem, única saída viável para a, ainda
necessária, construção nacional, que, desta vez, não passa sequer pela insinuação da
emigração como a solução ao alcance.
Mas comecemos por observar em pormenor os detalhes da ironia que envolve
grande parte da obra de Germano Almeida como uma couraça.
Dizer que a ironia e o seu uso implicam uma relação de poder não é nada de
novo, e nem ainda o será dizer que a mesma se dispõe segundo uma intencionalidade
do autor e uma escolha, se bem que inferida, de um público-autor capaz de decifrar a
ironia subjacente. O que daqui decorre no entanto, e que nos interessa particularmente, é
que “irony happens as part of a communicative process […] between intentions and
interpretations”, (HUTCHEON, 1995, 13). Algo que vale a pena chamar a atenção dada
a escrita do Autor que nos ocupa. A verdade é que se se podia concluir, após a leitura de
Dois Irmãos, que Germano Almeida condenaria o leitor a um papel menos activo, sem
espaço para uma terceira leitura daquilo que ele nos oferecia por interpostas
personagens em primeiro e segundo grau. Senão vejamos que o Autor expõe a história e
encarrega-se de prover à sua leitura, não apenas na utilização do discurso das
personagens que se sucedem mas também na própria organização formal da obra. Uma
organização cuja estrutura revela a intenção clara de um Autor que favorece a
4
compreensão das individualidades culturais mas que mesmo assim se não pode furtar ao
peso da legislação e de uma História não só imposta por outrém como assimilada como
própria dadas as inevitáveis consequências da colonização. No caso de O Dia das Calças
Roladas, (1999) e Estórias de Dentro de Casa, (1996) a leitura só funcionará no caso
duma participação maior do leitor. Ou seja, a ironia utilizada pressupõe que Germano
Almeida escreve para um público que partilha os mesmos referentes culturais e sociais e
parte do princípio que este público se aliará ao discurso do Autor, partilhando a cadeia
de significados subjacentes ao texto da primeira leitura: “irony always has a ‘target’; it
sometimes also has what some want to call a ‘victim’.” (HUTCHEON, 1995, 15) E a
vítima seria aqui o leitor desprevenido e a imensa farsa em que se vê imerso. O Autor
surpreende-nos assim no uso da linguagem como acção: de obra para obra, e no caso
particular destes dois títulos o alvo político é evidente, tal como é evidente o lugar do
leitor − uma questão que já se tinha posto com acuidade no caso de Dois Irmãos − que
fica em mãos com a tarefa de aceitar ou não a função criadora da ironia. Ou seja, o leitor
pode facilmente optar por considerar a ironia e o texto na sua globalidade – no caso d’
O Dia das Calças Roladas − como um espaço destrutivo. Está o Autor a criar um lugar
de reflexão sobre uma dinâmica política que se repete de regime para regime sem olhar
a preferências políticas totalitárias ou democráticas? Ou estará ele a destruir os dois
momentos de história, que assim se inscreverão numa lógica derrotista sem esperança
de futuro? Aparentemente cabe ao leitor a escolha. No entanto, se aceitarmos que a
própria ironia só é viável enquanto tal pela existência anterior de uma comunidade
discursiva capaz de aceitar os parâmetros que ela impõe, a margem de escolha começa a
restringir-se. Cremos, porém, que não de forma significativa, já que estão outros
parâmetros em jogo. Numa sociedade pós-colonial, ela mesma alvo repetido de
5
discursos irónicos e mordazes ao longo da sua pré-construção, discursos ambíguos, de
significado irónico, sem que qualquer humor fizesse parte da sua estrutura, são mais do
que conhecidos. E aqui, obviamente que não se levantava qualquer dúvida, o contéudo
final era claramente destrutivo e dominador. Então, qual a diferença agora? A verdade é
que embora a controvérsia seja um facto, face à utilização conjunta do humor e da
ironia, não nos parece que se possa encontrar uma feição destrutiva final no texto de
Germano Almeida. Ou seja, mais uma vez, a riqueza do texto permitir-nos-á dois níveis
de leitura, um, em que a destruição do status quo e a paródia do mesmo num contexto
histórico é facilmente verificável:
Felizmente que com a Independência Nacional tudo isso mudou radicalmente, essas maçadas ficaram pertencendo à História. Agora qualquer cidadão, desde que queira e livremente assim o decida, pode sair para a rua e gritar aos berros os vivas que quiser ao PAICV que nenhum incómodo sofrerá por isso. Pode-se mesmo acrescentar que em épocas superiormente determinadas [...] como que se é obrigado a exercer essa eminente liberdade social (1999, 20-21)
E um segundo em que, partindo da utilização conjunta do humor e da ironia −
cuja ligação está longe de ser óbvia em qualquer instância − se ultrapassa um possível
tom derrotista e se alcança o poder de recontar a história, re-analisá-la e ultrapassar o
ciclo fatalista da mesma. Como se o humor fosse a única arma possível contra uma
compulsão à repetição que, catarticamente expulsa, permitiria a necessária subversão do
tempo histórico-político. Por outro lado, face a um narrador que apela ao diálogo com o
seu público leitor, encontramos trechos cujo significado irónico é questionável. Ora
leia-se:
E assim, uma das maiores dificuldades que há em tirar conclusões é exactamente esta: onde acaba a brincadeira e começa a seriedade? Porque sabendo-se como se sabe e toda a gente diz, que nos jogos das políticas não
6
apenas os gestos, como também os sorrisos e até os penteados e a cor dos fatos têm importância capital, que são tão importantes e até às vezes mais importantes do que as próprias palavras, primeiro que se conclua torna-se necessário analisar, não direi as vísceras, mas pelo menos os humores e o resto e só depois decidir do significado e valor a atribuir às palavras que ouvimos. (1999, 19)
O trecho serve de introdução ao tema da “liberdade de expressão” e apresenta
várias marcas apelativas: a interrogação, o englobar do leitor no “sabendo-se como se
sabe” e mais uma vez, quase no final, a utilização da segunda pessoa verbal. Nesta
generalização das conclusões ao domínio do leitor, Germano Almeida retém o poder do
texto que clama à cumplicidade do leitor. Ou seja, prepara-se a audiência para uma
ironia que virá, a posteriori, mas quanto a nós, a dúvida ainda se mantém. Não existirá
aqui uma dimensão metalinguística que alertará o leitor para uma participação mais
atenta aos desvios do Autor? Não diz ele afinal, “cuidado comigo, onde é que acaba a
minha brincadeira e começa a minha seriedade?” −
Irony’s intimacy with the dominant discourses it contests […] is its strength, for it allows ironic discourse both to buy time […] and also to ‘relativize the (dominant’s) authority and stability’ (TERDIMAN, 1985, 15), in part by appropriating its power (CHAMBERS, 1991, xvi) (apud HUTCHEON, 1995, 30)
Ora parece-nos que é exactamente para isto que Germano Almeida alerta o
leitor. O Autor contra si mesmo fala pondo em prática a própria “liberdade de
expressão” que parodiará adiante, clamando à utilização dessa mesma liberdade por
parte do leitor. E aqui estão os riscos políticos evidentes da utilização da ironia, que
nem por isso deixará de aliviar a tensão política e histórica que parodia, ou ainda, que
nem por isso deixará de permitir ao seu locutor uma certa distância afectiva do caso
ironizado. E note-se ainda que esta distância partilhada com o leitor permite ao último
um espaço crítico moderado, lúcido, e acima de tudo de cooperação no próprio texto
7
literário, já que a ironia só é alcançada através da sua cumplicidade. Daqui até à
construção de um sentimento de nacionalidade, a uma tentativa de continuar a procurar
Cabo Verde no espaço interior da obra e do leitor, longe da velha solução de uma
emigração que mais do que forçada era literariamente desejada e considerada válida
pelos intelectuais de trinta − eles próprios presos a uma situação política que pouco
podiam controlar − é um breve passo. Repare-se agora num detalhe bastante
considerável envolvendo toda a relação da obra com o seu público e com a própria
noção de ironia já concisamente exposta. Leia-se na introdução de O Dia das Calças
Roladas:
Não obstante o título, esta história não é de ficção: é a história da contestação popular à discussão do projecto da lei de bases da reforma agrária em algumas zonas do concelho da Ribeira Grande, Santo Antão, especialmente nos dias 30 e 31 de Agosto de 1981, contada a partir das declarações prestadas durante a instrução do processo pelos réus e pelas testemunhas. (ALMEIDA, 1999, 7).
A invocação da veracidade das histórias é uma constante nos textos de Germano
Almeida e será a partir daqui que utilizaremos uma concisa versão da teoria pós-
modernista em que uma das características será exactamente a criação daquilo que
Linda Hutcheon refere como a obra de metaficção historiográfica. Não nos deteremos
nas questões à volta da problematização do termo “pós-modernismo” e seus derivados,
ou seja, pós-modernidade, pós-moderno, ou até mesmo no modernismo, termo a partir
do qual ou contra o qual se desenvolve. Todas essas questões já foram sobejamente
tratadas por vários autores, passando por Habermas, Eagleton, Barthes e outros.
Partiremos assim de uma definição possível de pós-modernismo a partir das premissas
apresentadas por Linda Hutcheon ao longo da sua obra, The Politics of Postmodernism
(1989). As razões que nos levam a tal prendem-se com o foco do nosso trabalho que
8
radica na obra literária, ela mesma, e não nas teorias à volta das quais ela pode ou não
ser discutida, mas que também não há como evitar numa crítica que não se pretende
inocente.
Assim, a Autora define pós-modernismo como sendo uma representação
eminentemente política onde se justapõem com igual valor os mundos da auto-reflexão
e da história. Um movimento que vindo de dentro para fora se constrói como ironia, e
que de fora para dentro se liga à “vida real”:
This is the confrontation that I shall be calling postmodernism: where documentary historical actuality meets formalist self-reflexivity and parody. At this conjuncture, a study of representation becomes, not a study of mimetic mirroring or subjective projecting, but an exploration of the way in which narratives and images structure how we see ourselves and how we construct our notions of self, in the present and in the past. (HUTCHEON, 1989, 7)
Dentro desta ordem de ideias interessa-nos, em particular, as referências que a
autora vai fazendo à forma narrativa, que, nesta representação, se encontra no limiar da
história e da ficção, um paradoxo que Linda Hutcheon denomina de “metaficção
historiográfica” (1989, 14), uma espécie de reforço da ambivalência que caracteriza o
romanesco, numa resposta conflitual à exploração da linguagem, paródia, ironia e
ambiguidade que já caracterizavam o modernismo. O pós-modernismo legitima
paradoxicalmente a mesma cultura que subverte, sendo a função da ironia no discurso
pós-moderno a de postular uma distância crítica que depois desfaz.
Poderemos ainda dar como assente que o que a teoria e a prática pós-modernista
sugerem é que as noções de verdade, referência e de real não-cultural, sempre existiram
e que já não se tratam como assuntos de ordem problemática mas antes como algo auto-
evidente e auto-justificável:
9
What postmodernism does is to denaturalize both realism’s transparency and modernism’s reflexive response, while retaining (in its typical complicitously critical way) the historically attested power of both. This is the ambivalent politics of postmodern representation. (1989, 34)
O que nos interessa aqui é exactamente a atitude do pós-modernismo no que
toca à mistura dos tons históricos e ficcionais na já referida metaficção historiográfica -
“historiographic metafiction represents not just a world of fiction, however self-
consciously presented as a constructed one, but also a world of public
experience”(HUTCHEON, 1989, 36). E a frase de Hutcheon justifica-se não porque a
mistura dos géneros seja novidade porque o romance histórico já o fizera de forma
flagrante. O que é novo na metaficção historiográfica é a auto-consciência da ficção, a
falta duma pretensa familiariedade com a transparência, e o trazer à ribalta a questão da
factualidade da escrita histórica. E podemos aqui inserir a questão do pós-colonialismo
que evidentemente se inscreve dentro desta mesma lógica de questionamento dos
limites e de representação do Outro, conforme o discurso imperialista ou de busca da
nacionalidade. Ou seja, o Real não é limitável, não é controlável e a consciência do
discurso que caracteriza o pós-modernismo contesta precisamente o poder e a limitação
de todos os totalitarismos, e é nesta lógica que se inscreve o espaço da subjectividade
enquanto algo em movimento, um processo em si, jamais fixado, jamais autónomo, fora
da história, mas sempre uma subjectividade enraizada tanto na classe social como na
orientação sexual, na raça e nas etnias. Trata-se de uma representação que desmascara o
processo de contrução do eu mas que também demonstra o papel do Outro na mediação
do sentido do eu.
Story-telling is not presented as a privatized form of experience but as asserting a communicational bond between the teller and the told within a context that is
10
historical, social, and political, as well as intertextual. (HUTCHEON, 1989, 50-51)
Contar uma história revela-se um ponto fundamental a partir do momento que
Germano Almeida se define mais do que como um escritor, um contador de histórias.
“Não tenho a pretensão de escrever um romance. Quando eu começo a escrever,
pergunto-me o que é que eu vou escrever e as estórias vão saindo, é-me completamente
indiferente”, afirma Germano Almeida numa entrevista a António da Conceição Tomás,
a 25 de Abril de 1998. Essas estórias não entram em choque com a problemática da
história – “It substitutes for History the value of histories, revealing how it is we who
give meaning to the past, how it is we who make histories into History.” (HUTCHEON,
1988, 214). Ou seja Germano Almeida limita-se a constatar a importância do subjectivo
na criação do que supostamente são as verdades incontestáveis da História. Assim, nesta
obra, diferentes histórias apenas representam diferentes versões dos mesmos factos. “A
história que serve de suporte a esta estória aconteceu lá pelos anos de 1976, algures na
ilha de Santiago”, a frase lê-se no frontispício de Dois Irmãos, e será interessante
reparar desde logo na diferente grafia que o Autor utiliza para se referir à história “real”
e à “estória” ficcionada. Aliás, neste parágrafo ele acaba mesmo agradecendo à
personagem-pessoa “André”, a quem deve “este livro no qual a realidade se confunde
com a ficção” (idem). Ou seja, para além do narrador, que em outras ocasiões admite ter
recolhido as suas histórias de diferentes personagens, o próprio Autor admite uma
espécie de recolha da realidade ao alcance que assim se ficcionaliza:
Postmodern fiction often thematizes this process of turning events into facts through the filtering and interpreting of archival documents [...] Of course, documents have always functioned in this way in historical fiction of any kind. But in historiographic metafiction the very process of turning events into facts through the interpretation of archival evidence is shown to be a process of
11
turning the traces of the past (our only access to those events today) into historical representation. (HUTCHEON, 1989, 57)
No caso presente, o processo revela-se ainda mais complicado, já que não se
trata de uma mera busca de identidade nacional através de uma história colectiva. Trata-
-se ao mesmo tempo, e talvez com maior evidência, duma busca de uma história
individual que depois se organiza para formar a história plural. Cada personagem é
construída de forma a revelar-se psicologicamente activa e parte integrante do passado
que revive. Aliás, a própria utilização de diferentes pontos de vista dentro da mesma
história, de que Dois Irmãos será o paradigma mais bem acabado, vem demonstrar esta
afirmação. Escreve Linda Hutcheon:
The past is something with which we must come to terms and such a confrontation involves an acknowledgment of limitation as well as power. We only have access to the past today through its traces − its documents, the testimony of witnesses, and other archival materials. In other words, we only have representations of the past from which to construct our narratives or explanations […]. What this means is that postmodern art acknowledges and accepts the challenge of tradition: the history of representation cannot be escaped but it can be both exploited and commented on critically through irony and parody. (1989, 58)
Dois Irmãos é a teoria exposta feita prática literária. Utilizando o ponto de vista
do advogado de defesa, do advogado de acusação, do juiz, do réu, da vítima e da própria
comunidade que o rodeia, desde a família mais próxima até aos amigos, o Autor deixa-
-nos quase sem alternativas de leitura. A mesma história, que logo de início se reclama
verdadeira e persecutória do narrador − que se assume como tendo sido o advogado de
acusação durante todo o processo logo no frontispício da obra: “Como agente do
Ministério Público fui responsável pela acusação de ‘André’ pelo crime de fratricídio.
Só muitos anos depois percebi que ‘André’ nunca mais me tinha deixado em paz”
12
(1998c) − esta história persecutória nunca é desculpa para a utilização duma primeira
pessoa, como seria de esperar. Na realidade, aparece-nos sempre uma voz narrativa que
tão depressa assume a primeira pessoa de uma das personagens como da outra, dando-
-nos assim a mesma estória sob todas as suas vertentes. O único espaço em branco é o
exacto momento do crime, momento cuja revelação é o móbil de toda a trama, e a que
nunca se responde respondendo a todos os espaços e tempos anteriores e posteriores ao
mesmo. A verdade é que esse momento não nos ofereceria nada que toda a história não
nos tivesse já dito. Ele apenas se oferece ao leitor como móbil de perseguição de uma
verdade absoluta que jamais será alcançada porque inexistente:
conforme confessaria [o Meritíssimo Juiz], a verdade é que ainda existiam muitas zonas de sombra que não lhe estavam permitindo completamente realizar no seu espírito todos os momentos da tragédia e não queria desistir de tentar, se não de preencher pelo menos de esgotar, todas as possibilidades de obter qualquer achega que pudesse vir a revelar-se processualmente útil. (ALMEIDA, 1998c, 217).
Numa tensão permanente entre a tradição cultural que justifica o crime e uma
tradição europeia, portuguesa, consignada na lei, o Autor, perseguido pela sua própria
vítima, realiza na escrita uma espécie de auto-de-fé ou de cumprimento de pena ou até
de catarse libertadora da realidade. Uma realidade que transformada em ficção pode ser,
enfim, motivo de regozijo e desenvolvimento, não só pessoal – dum entendimento dos
processos psicológicos interiores do Autor − mas da transformação desses processos
numa actividade de criação. A partir do momento que se consigna a criatividade num
trabalho de confusão propositada deixa-se o leitor numa apreensão da obra entre o
espéctaculo de um julgamento no tribunal e o fio de consciência das testemunhas,
lugares ideais para o confronto entre a justiça pública e o julgamento privado. A
verdade é que neste processo e por contraste com o omnipresente Autor, o narrador
13
vive num espaço virtual em que quase desaparece. Ou seja, a invasão explicatória de
todos os acidentes de percurso porque passam as diversas personagens e que excusam o
leitor a um papel mais activo acaba precisamente por se metamorfosear numa falta-
presença. Explique-se assim que o Autor guia o leitor pelos escaninhos dos espaços de
cada um, apresenta e cumpre todas as suas próprias pistas de leitura e depois nunca se
encontra como narrador na primeira pessoa, transfigurando-se em figura invisível, quase
divina, na criação das várias realidades-ficções-discursos. Estes discursos, aproveitados
como intervalos do espaço de julgamento no tribunal, servem depois como diálogos
entre a cultura instituída e a cultura que se quer tipicamente caboverdeana:
Ser contra a monogamia é a forma como o homem caboverdeano se desculpa da sua promiscuidade, disse o juiz sorrindo. Então você quer dizer que nunca deu uma facadinha no matrimónio, espantou-se o advogado, mas o juiz deu uma gargalhada. Isto seria não ser caboverdeano e se calhar ser um dos seus doentes modernos, mas parece-me que não vale a pena a gente tentar desculpar-se com a saúde. A verdade é que não é uma desculpa, respondeu o advogado, e sim uma causa justificativa de um facto natural. Evidentemente que temos comunidades onde são religiosamente respeitados os sagrados deveres do matrimónio, mas são mais excepções do que regras. E se repararem bem essas excepções, que podem ser detectadas por exemplo entre os brancos da nossa ilha do Fogo ou então entre os negros do interior da ilha de Santiago, funcionam como comunidades fechadas e viradas sobre si próprias [...]. Com a emigração, o interior de Santiago está a arejar-se e de que maneira, sorriu o digno agente. (ALMEIDA, 1998c, 200-201)
A citação vai longa, mas justificadamente. Primeiro, o excerto apresentado
começa por justificar todo o processo jurídico que a obra esmiuça já que as razões
sócio-culturais que justificam um determinado comportamento que aqui se revelou de
natureza criminosa faria parte dum comportamento normal de uma determinada
comunidade. Segundo, detecta-se aqui a própria fonte da excepção à regra e finalmente
restabelece-se a assunção da emigração como parte integrante da identidade
caboverdeana. Uma emigração de onde resultam uma série de consequências que não
14
são aceites na sua diversidade e que provoca o inevitável choque entre o interior e o
exterior, nunca resolvido − “num país como Cabo Verde, nascido de uma miscigenação
até agora ainda ignorada nas suas origens [...] importava fazer-se um estudo
aprofundado [...] para efectivamente se conhecer que povo somos e que cultura temos
para se saber que leis se adaptam àquilo que somos.” (ALMEIDA, 1998c, 203). Não
falta nada, toda e qualquer leitura que pudesse ter ficado nas mãos do leitor foi aqui
apropriada pelo discurso do advogado de defesa, uma leitura que ainda para mais é
depois reanalisada pelas personagens do juiz e do acusador público à luz dos interesses
que o mesmo advogado deveria estar defendendo. A própria estrutura da obra − o
tribunal, a interrogação das testemunhas e dos factos em alternância de tempos e pontos
de vista − permite uma construção da história que só não perde consistência para se
transformar num aglomerado de explicações teóricas porque o risco é muito bem
calculado. O equilíbrio de um juiz que de alguma maneira nos dá o fio condutor e que
ouvindo as diversas personagens nos permite a incursão em domínios não explicativos e
meramente descritivos serve para impedir o entediamento do leitor com questões que,
de outro modo, se revelariam de natureza meramente pedagógica, e que assim se
alargam aos domínios da psicanálise, da sociologia e do uso da própria linguagem e
literatura como instrumento de acção. Não há um ponto de vista, não há uma verdade
dos factos, não há um tempo histórico identificável capaz de suster as diversas
explicações para o crime, mas há uma exploração da pluralidade das respostas que a
figura do juiz justifica em absoluto, e o processo faz-se até à exaustão esvaziando o
conceito de história tal como vinha sendo consignado não só pela literatura
caboverdeana antecedente mas pela própria tradição historiográfica, tal como a
15
conhecemos, e que se exacerbou até ao limite da crueldade durante o período do Estado
Novo.
É assim que vamos deparar-nos com O Dia das Calças Roladas onde a paródia e
a ironia desmistificam a representação da realidade, em si mesma contraditória até ao
absurdo. Aqui a história, mais do que ficção, é a própria fragmentação do discurso e
desconstrução das figuras − algumas das quais de estatuto real facilmente verificável −
que se perdem num labirinto anedótico metaficcional e até metalinguístico, ecoando a
teoria marxista2 e alguns aspectos da própria filosofia da linguagem de Wittgenstein. A
obra acaba reflectindo sobre a paródia de uma história colonialista a posteriori,
finalmente refeita sob a luz de uma nova era em que o discurso, a linguagem, é a própria
acção e a única revolta possível perante uma independência que não libertou um povo
das suas próprias idiossincrasias, assentes sob o signo da ambivalência cultural − a
Europa e (ou) a Àfrica − mas que assim tem oportunidade de as exercer no refazimento
de um passado que controlaram em muito pouca medida. O que é profundamente
enriquecedor nesta prosa é que a sua própria estrutura é espelho do descontrole,
controlado pelo Autor, evidentemente. Referimo-nos à falta de um princípio, meio e
fim, numa estrutura temporal contínua. As histórias não só se sobrepõem como se
contradizem, isto tanto em Dois Irmãos como n’O Dia das Calças Roladas, criando,
especialmente no último, de tom abertamente político, a incoerência de todos os nexos
de causalidade que governam os acontecimentos de um único dia, em que, mais uma
vez, a invocação da verdade e da realidade dos factos é uma constante. Como nos diz 2 “First of all, both are engaged in contextualized, institutional critique. […] The second point of overlap involves history, […] both thematizes and theorizes about –historical and social context. […] The third area of overlapping concern is what we might generally call ‘materialist’ in focus. Postmodernism is actually materialist in a sense that Marxism sometimes is not: it implies an anti-idealist distiction between the real past and the past as object of knowledge […]. The fourth concern shared by both postmodern art and Marxism is for the importance of contradictions […] to ensure both accessibility and access to the prevailing history and, on the other hand, to enable a critique of that ideology.” (HUTCHEON, 1988, 213).
16
Linda Hutcheon, “Of course, all realist fiction has always used historical events, duly
transformed into facts, in order to grant to its fictive universe a sense of
circumstanciality and specificity of detail, as well as verifiability.” (HUTCHEON, 1989,
77) A novidade, de acordo com Linda Hutcheon, e com o Autor, na sua própria prática,
é o assumir do refazer dos factos e a consequente atribuição de significado que a
narrativa assim oferece ao leitor. Por outro lado, e tendo sempre em mente que
aceitamos os pressupostos consignados por Linda Hutcheon, acrescente-se a opinião da
autora quanto à função da paródia no discurso pós-modernista:
But this parodic reprise of the past is [...] always critical […], through a double process of installing and ironizing, parody signals how present representations come from past ones and what ideological consequences derive from both continuity and difference.
Parody also contests our humanist assumptions about artistic originality and uniqueness and our capitalist notions of ownership and property. […] This does not mean that art has lost its meaning and purpose, but that it will inevitably […] foreground the politics of representation. (HUTCHEON, 1989, 93-94).
Vejamos então “Agravos de um Artista” (in 1996, 145-205). Optámos por esta
novela (tipologia do Autor) como introdução ao trabalho que desenvolveremos dado o
carácter implicitamente conciso do género, a metalinguagem mais que óbvia, a auto-
paródia evidente e a insinuação dos temas que prevalecem na obra do Autor. Terceira e
última das novelas sob o título Estórias de Dentro de Casa, o próprio título nos indica o
espaço da narração que, no entanto, acabará por divergir estrondosamente duma ideia de
contenção que “dentro de casa” fazia prever. “In Memoriam”, “As Mulheres de João
Nuno” e “Agravos de um Artista” poder-se-ão ler:
− Primeiro, os próprios títulos como resumos dos lugares privilegiados do Autor
ao longo da sua obra;
17
− Segundo, os textos em si, espaço de encontro entre o dentro e o fora do Autor
e da sociedade retratada. De facto, qualquer uma das novelas é pretexto para
contextualizações de tipo ideológico-político, diferenciação do mundo feminino-
masculino, contraste passado-presente-futuro e descrição aturada dos registos de
pensamento das personagens que detêm a narração, criando assim um fio de
apoio verosímil que eles próprios se encarregam de destruir-construir com o
apoio de um cúmplice leitor;
− e poderão ainda, finalmente, ser lidos em relação estreitíssima com o que
acabamos de referir, ou seja, em intertextualidade com a obra, quer de ficção,
quer jornalística, de Germano Almeida.
Evidentemente que estas serão leituras possíveis entre outras que não temos a pretensão
de esgotar, mas qualquer uma delas subordinadas ao jogo da ironia que também aqui se
revela em toda a sua plenitude. Vejamos então alguns apontamentos referentes às
diversas histórias e que nos indiciam em várias direcções. Por exemplo, “In Memoriam”
– projecta-nos para o universo histórico que Germano Almeida evoca a cada passo, não
só em termos de uma história mais ou menos pessoal, (veja-se A Família Trago), como
em termos da história factual de Cabo Verde, cujos detalhes são rememorados quer n’A
Ilha Fantástica, quer n’A Família Trago, quer nestas Estórias de Dentro de Casa. Depois
em “As Mulheres de João Nuno” repare-se na pertinência do lugar do feminino. Como
já tivemos oportunidade de afirmar acima a obra do Autor organiza-se em torno de um
universo cujos traços marcam a diferença entre o universo feminino e masculino. O
universo feminino aparece várias vezes em torno de uma recuperação de valores
familiares e da própria sobrevivência e vamos limitar-nos aqui a brevíssimos exemplos
em A Ilha Fantástica : “Era apenas mais um filho que ia ficar sem pai: chuva deu, ele
18
nasceu!” (1994, 77); uma frase que nos revela uma sociedade em que o masculino é
absolutamente dispensável na estrutura familiar, mais um filho entre muitos em que não
só o homem não terá voz na educação da criança como parece não ter tido grande
espaço identificatório na própria concepção do rebento, homem sem nome igual a
qualquer chuva, apenas elemento de reprodução − “Ah homens! Só enchidos num saco
e deitados no mar e depois chorar o saco.” (1994, 100). E mais à frente lê-se, “Já tinha
enterrado o marido e mais três filhos num total de doze e geria com competência cerca
de 26 netos” (1994, 149). Às mulheres cabe a educação dos filhos e a manutenção da
rotina diária. São elas mulheres o último reduto de esperança e sobrevivência quando
os homens já falharam todos os expedientes; a figura de Ti Júlia que domina santos, ela
própria entre fada e bruxa, “era como Deus, estava em todo o lado” (1994, 35).
“Agravos de um Artista” − sendo a história uma auto−paródia, modalidade
recorrente nos textos de Germano Almeida, ela é também, somente enquanto título,
um lugar ambivalente em que se questiona o estatuto do artista e em que as queixas
do mesmo se podem relacionar com qualquer coisa: espaço ideológico-político,
espaço sócio-cultural, etc., etc., todas as constantes que Germano Almeida abordará
em conjunção com um “contar de estórias” que nega a sua própria originalidade,
clama à memória colectiva e desfaz toda e qualquer ilusão de um escritor
ensimesmado, intelectual privilegiado, “acima das bestas” que rodeavam um
Chiquinho.
2.e 3. Os textos em si e os textos em intertextualidade não só com a obra do Autor como
com a História cabo-verdeana remetem-nos de imediato para a ideia de fronteira. A
19
fronteira está, por sua vez, profundamente ligada a vários conceitos teóricos, entre eles,
o pós-colonialismo. E daqui partiremos em outra ocasião para um segundo momento de
análise em que a noção de fronteira e (des)construção nos levará para outros espaços de
Germano Almeida e da literatura − cultura cabo-verdeana.
Paula Gândara
Bibliografia consultada:
1. Bibliografia primária ALMEIDA, Germano, O Meu Poeta. 2ª ed. Lisboa: Edit. Caminho, 1992, (1989).
A Ilha Fantástica . Lisboa: Edit. Caminho, 1994.
Estórias de Dentro de Casa. Lisboa: Edit. Caminho, 1996.
O Testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo. Lisboa: Edit.
Caminho, 1997.
A Morte do Meu Poeta. Cabo Verde: Ilhéu Editora, 1998.
A Família Trago. Lisboa: Edit. Caminho, 1998a.
Estórias Contadas, Lisboa: Edit. Caminho, 1998b.
Os Dois Irmãos. Lisboa: Edit. Caminho ,1998c, (1995).
O Dia das Calças Roladas. Edit. Caminho, Lisboa, 1999.
Dona Pura e os Camaradas de Abril. Edit. Caminho, Lisboa, 1999a.
Cabo Verde, inédito, consultado por especial atenção do Autor.
20
2. Bibliografia secundária
Barker, Francis, Peter Hulme, Margaret Iversen, Diana Loxley, (eds.),Literature,
Politics and Theory, Papers from the Essex Conference 1976-84. Methuen: London and
New York, 1986.
Carlos, Luís F.A, “O Discurso Erótico nos ‘Quatro Sonetos a Afrodite Anadiómena’ de
Jorge de Sena” in Quaderni Portoghesi, pp.243-272.
Ferreira, Manuel, No Reino de Caliban, Antologia Panorâmica da Poesia Africana de
Expressão Portuguesa. Seara Nova: Lisboa, 1975.
Foucault, Michel, As Palavras e as Coisas. Ed. 70: Lisboa, 1988, (1966).
O Que é um Autor?. Veja: Lisboa, 1992.
Lopes, Baltasar, Chiquinho, introd. Manuel Ferreira, pp.xi-xxx. Editor África: Linda-a-
Velha, 1984, (1947).
Lopes, Manuel, Os Flagelados do Vento Leste. Editora Ática: S. Paulo, 1979, (1960).
Chuva Braba. Ed. 70: Lisboa, 1982, (1956).
Handwerk, Gary J., Irony and Ethics in Narrative, From Schlegel to Lacan, Yale
University Press: New Haven and London, 1985.
HUTCHEON, Linda, The Politics of Postmodernism. Routledge: London and New
21
York, 1989.
Irony’s edge, the Theory and Politics of Irony. Routledge:
London and New York, 1995, (1994).
Pires Laranjeira, José, Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa. Universidade
Aberta: Lisboa, 1995.
“A Construção do Ideal Nacional e a Constituição de
Stringfellow, Frank, Jr., The Meaning of Irony, a Psychoanalytic Investigation: State
Univ. of New York Press, Albany, 1994.
Trigo, Salvato, (ed.), Jornalismo e Literatura, Actas do II Encontro Afro-Luso-
Brasileiro. Veja: Lisboa, 1986.
Toro, Fernando de, Alfonso de Toro, (eds.), Borders and Margins: Post-colonialism and
Post-Modernism. Vervuert and Ibero-Americana: Frankfurt am Main and Madrid, 1995.