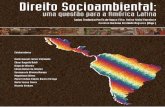Justiça, interculturalidade e os direitos indígenas sob pressão no Brasil que cresce.
O Mangá e A Turma da Mônica Jovem: processos de interculturalidade
Transcript of O Mangá e A Turma da Mônica Jovem: processos de interculturalidade
ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING
RELATÓRIO FINAL DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PEDRO ERNESTO GANDINE TANCINI
O MANGÁ E A TURMA DA MÔNICA JOVEM:
processos de interculturalidade
1
PEDRO ERNESTO GANDINE TANCINI
O MANGÁ E A TURMA DA MÔNICA JOVEM:
processos de interculturalidade
Relatório Parcial dePesquisa do Programa deIniciação Científica(PIC-PIBIC) da EscolaSuperior de Propaganda eMarketing – ESPM.
3
RESUMO
O projeto de pesquisa tem como tema os processos de
interculturalidade entre o mangá japonês contemporâneo e a
série de gibis Turma da Mônica Jovem, de Maurício de Souza,
delimitando-se em primeiro plano à análise das estéticas
corporais dos personagens e, em segundo, à temática e à
ambientação que serão consideradas na medida em que
contextualizam a narrativa da qual participam os
personagens. Será analisado o corpus formado por edições dos
gibis Turma da Mônica Jovem, com os mangás Bleach e Naruto
5
Tancini, Pedro Ernesto Gandine O Mangá e A Turma da Mônica Jovem: processos de interculturalidade / Pedro Ernesto Gandine Tancini. - 2012 84 p. : il., color.
Trabalho de Conclusão de Curso (bacharelado) - Escola Superior de Propaganda e Marketing, São Paulo, SP, 2012Comunicação Social - Publicidade e Propaganda - Plano Monográfico (PM)
Orientador: Tânia Márcia Cézar Hoff
1. Turma da Mônica Jovem 2. Mangá 3. Globalização 4. Interculturalidade 5. Relações de negociação 6. Alteridade
representantes do mangá contemporâneo como base de
comparação para a análise. A pesquisa tem como principal
objetivo analisar os diálogos de interculturalidade –
relações de negociação, aceitações e negações, conflitos –
nas estéticas corporais presentes no gibi brasileiro em
estilo mangá, Turma da Mônica Jovem, que foi inspirado no
mangá japonês. As reflexões desenvolvidas por Néstor García
Canclini, sobre interculturalidade e também sobre a ideia
de “relações de negociações”, em obras como Culturas híbridas
(2006), A Globalização Imaginada (2003), Diferentes, desiguales y
desconectados: mapas da interculturalidade (2005), dentre
outras, constituem nossa principal referência teórica a
respeito da globalização. Vale salientar que a globalização
será estudada como processo sociocultural, o que
possibilita estudar também seus imaginários e que a análise
da interculturalidade será realizada a partir da noção de
“relações de negociação”.
Palavras-chave: globalização; interculturalidade; relações
de negociação; mangá; gibi Turma da Mônica Jovem.
6
ABSTRACT
The research project has as its subject the
intercultural processes between contemporary Japanese manga
and Maurício de Souza's comic book series Turma da Mônica
Jovem, firstly delimiting to the analysis of the form of
the characters’ bodies and secondly, to the theme and
ambiance, inasmuch they form the context to the narrative
which involves the characters. The corpus formed by comics
editions of Turma da Mônica Jovem will be analyzed, and the
manga Bleach and Naruto, contemporary manga
representatives, will serve as a basis of comparison for
the analysis. The research has as main objective to analyze
the intercultural dialogues - negotiation relations,
acceptances and denials, conflicts - in the form of the
body present in the Brazilian manga style comic book, Turma
da Mônica Jovem, which was inspired by the Japanese manga.
The reflections developed by Néstor García Canclini, about
interculturality and also about the idea of "negotiations
relations", in books such as Culturas Híbridas (2006), A
Globalização Imaginada (2003), Diferentes, Desigauis e
Desconectados: mapas de interculturalidade (2005), among
others, constitute our main theoretical reference about
globalization. It is worth emphasizing that the
globalization will be studied as a sociocultural process,
enabling the study about also its imaginaries; and that the
analysis of interculturality will be held from the notion7
of "negotiations relations".
Keywords: globalization, interculturality; negotiation
relations, manga, comic book Turma da Mônica Jovem.
SUMÁRIO
1
Introdução ................................................
...........................................................
8
1.1 Tema, problema e objetivos da
pesquisa ...............................................
........... 8
1.2 Procedimentos teórico-
metodológicos ..........................................
.................... 12
2 Contextualização sócio-histórica da
8
globalização ............................................15
2.1 Por uma definição de
globalização ..............................................
....................... 16
2.2 Processos de interculturalidade contextualizados pela
globalização .................. 27
3 A base para análise: o mangá do
japão .....................................................
......... 36
3.1 Mangá: do Japão ao
mundo .....................................................
............................ 37
3.2Bleach e Naruto: mangás feitos no Japão e traduzidos
parao mundo .................. 48
3.2.1 Sobre Naruto
...........................................................
.......................................... 49
3.2.2 Sobre Bleach
...........................................................
.......................................... 55
4 Turma da mônica jovem: cultura japonesa de olhos
puxados ......................... 58
4.1 Turma da Mônica9
infantil ..................................................
.................................. 58
4.2 Turma da Mônica Jovem em estilo
mangá .....................................................
..... 61
4.3 Análise do gibi Turma da Mônica
Jovem .....................................................
....... 62
4.3.1 Análise do corpo das
personagens ...............................................
..................... 69
5 Considerações
finais ....................................................
............................................. 81
Referências ...............................................
...........................................................
...... 85
1 Introdução
1.1 Tema, problema e objetivos da pesquisa
Este projeto vincula-se à pesquisa “Estratégias da
comunicação midiática e representações da diferença”,
desenvolvida pela Profa. Tânia Márcia Cezar Hoff, e tem
como tema os processos de interculturalidade entre o mangá10
japonês contemporâneo e a série de gibis Turma da Mônica
Jovem, de Maurício de Souza, delimitando-se à análise de
alguns aspectos físicos dos personagens.
Mangá (assim como croissant, drive-thru, ou spaghetti) é
mais uma daquelas palavras, que, originalmente
estrangeiras, foram emprestadas pelo Brasil e outros países
por imprescindivelmente serem capazes de nomear elementos
da comunicação cultural local. O país de onde se origina
tal palavra é o Japão, e ficará evidente, mais adiante
neste trabalho, que estudar mangá é estudar Japão, e vice-
versa.
Mangá ( 漫 漫 ) é a tradução fonética da junção dos
ideogramas (kanjis) MAN (漫) (humor) e GA (漫) (grafismo). A
tradução literal de mangá é história em quadrinhos, e
originalmente refere-se a todos as histórias em quadrinhos
produzidas no Japão. Porém, como não faz mais sentido
classificar fenômenos culturais levando em conta somente o
território, mangá passou a se referir a uma espécie única
de história em quadrinhos que reúne um estilo, traço,
técnica, desenho, linguagem e tema próprios.
As características desta manifestação cultural serão
devidamente explanadas durante o trabalho, sendo que basta
nesta etapa entender que, assim como aponta a pesquisadora
de mangá e animê e presidente da ABRADEMI – Associação
Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações
–, Cristiane Sato, mangá é definido, objetiva e
11
resumidamente, como:
Histórias em quadrinhos e desenhos animados feitos no
estilo e na linguagem desenvolvida pelos japoneses,
resultado de um processo histórico e cultural iniciado há
quase dois séculos (1993, p.2).
Deste modo, abordaremos alguns aspectos do processo
histórico, cultural e econômico do Japão conforme for
necessário para o desenvolvimento desta pesquisa, em função
das estreitas ligações que tais processos mantém com o
mangá. Sato afirma:
Atualmente o Japão é o maior produtor e consumidor de
quadrinhos e desenhos animados no mundo, gerando uma
atividade multibilionária na área de comunicações além de
lucros decorrentes de licenciamento de uma infinidade de
produtos como brinquedos e videogames e influenciando
autores em vários países (1993, p.2).
Abordar o mangá, ainda que de modo breve, nesta
pesquisa será basilar, pois este produto cultural e
midiático, quando atravessa a fronteira do Brasil, envolve
um processo de interculturalidade, conforme proposta por
García Canclini.Assim, desenvolvemos uma reflexão sobre o
Mangá japonês para estudarmos a série de gibi Turma da
Mônica Jovem, de Maurício de Souza, lançada em julho de
2008 – da qual selecionamos o corpus a ser investigado. A
Turma da Mônica Jovem conta histórias da adolescência das
personagens dos gibis da Turma da Mônica, que é composta
por um grupo de crianças, com aproximadamente sete anos de12
idade e que é um produto midiático de sucesso no mercado
editorial brasileiro.
O tema e a narrativa da Turma da Mônica Jovem se
mostram mais adequados ao novo universo adolescente,
abordando assuntos que dialogam com satisfações e
insatisfações desta fase. Já o estilo e forma dos
quadrinhos é o que mais interessa neste trabalho: a série
Turma da Mônica Jovem é em estilo mangá, provavelmente
correspondendo ao crescente interesse do jovem brasileiro
pelo mangá. Assim, esta série se mostra muito rica para
análise, pois aparentemente coloca no mesmo plano a cultura
brasileira – representado pelos gibis Turma da Mônica– e a
cultura japonesa – representada pelos mangás.
Na perspectiva do mercado editorial, é interessante
destacar que a série em mangá Turma da Mônica Jovem não foi
lançada para substituir os gibis Turma da Mônica. Tampouco
foi uma simples expansão de um mercado composto por
crianças para um mercado composto por adolescentes. Não é
prudente pensar que a Turma da Mônica Jovem foi uma simples
evolução para acompanhar o público que crescia. A Turma da
Mônica Jovem pretende atingir “o jovem interessado em ver
como estamos tratando o assunto “mangá”; a criança que quer
saber o que acontecerá quando a Turma da Mônica crescer; e
o adulto que quer conferir o que fizemos com seus ícones de
infância”, nas palavras do próprio Maurício de Souza. Os
gibis Turma da Mônica e Turma da Mônica Jovem são produtos
diferentes, com propostas diferentes, mas não excludentes,13
e sim complementares. A Turma da Mônica Jovem tomou
emprestado tudo o que foi semeado pelos gibis Turma da
Mônica e cultivado no imaginário de algumas gerações, e se
aproveitou de um novo tipo de publicação que fazia sucesso
com o adolescente brasileiro – e, portanto com pré-
adolescentes e jovens adultos – para construir outra
proposta que também atraísse seus consumidores
interessados.
O mangá será estudado somente para elucidar como se
caracteriza enquanto publicação, qual o seu significado
cultural no Japão, e como foi sua entrada no Ocidente.
Porém, para analisar o corpus constituído pela Turma da
Mônica Jovem, teremos como referência apenas dois títulos
do mangá, Naruto e Bleach, escolhidos devido à popularidade
tanto no Brasil como no Japão.
Assim, a pesquisa tem como principal objetivo analisaros diálogos de interculturalidade – relações de negociação,aceitações e negações, conflitos – que o gibi brasileiro emestilo mangá, Turma da Mônica Jovem, opera em relação aomangá japonês, especificamente no que se refere a algunsaspectos da estética corporal. São objetivos específicos:
- Mapear, nos estudos de García Canclini sobre
globalização e interculturalidade, os conceitos de
globalização, de intertextualidade e de
diferença/alteridade.
- Identificar processos de interculturalidade e de
globalização no diálogo estabelecido entre o gibi
14
mangá Turma da Mônica jovem e o mangá japonês.
- Mapear as negociações interculturais presentes no gibi
Turma da Mônica Jovem no que se refere a alguns
aspecto da estética corporal dos personagens.
Na perspectiva teórica, dois conceitos são importantes
para o desenvolvimento da pesquisa. O primeiro é o de
diversidade, isto é, a diferença concretizada nas estéticas
corporais, que provêm tanto de diferentes culturas e
organizações ideológicas, como de individualidades (cor de
pele, forma do corpo, deficiências físicas, vestuário e
etc.). O segundo é o entendimento da comunicação como
processo que ao mesmo tempo em que refrata mudanças de
pensamentos de uma sociedade, também reflete pensamentos já
existentes na mesma sociedade. Conforme Baccega:
O sujeito que conhece não é mero registrador passivo do
objeto; ele exerce um papel ativo no processo de
conhecimento, ainda que ele próprio seja resultado dos
condicionamentos sociais, o que implica uma visão de
realidade com forte presença dos aspectos socialmente
transmitidos (1995, p.11).
Assim, a pesquisa investiga como a comunicação midiáticalida com as diferenças corporais – aspectos físicos ouestéticas corporais – em uma era temperada pelo fenômeno daglobalização que em sua complexidade gera muita discussão ereflexão (GARCÍA CANCLINI: 2003).
A comunicação midiática brasileira revela, nas últimas
duas décadas, transformações que merecem discussão, como a
15
introdução de novos modelos de estética corporal, como o
corpo negro, o corpo índio ou o corpo com medidas
conflitantes se comparadas ao padrão divulgado
predominantemente na mídia (HOFF: 2008). Também Felerico
(2010), ao pesquisar sobre as reportagens da Revista Veja
que abordam a estética e os modos de cuidar do corpo,
afirma que é predominante nas reportagens da mencionada
revista a presença do padrão de corpo ultramedido, mas
também aponta a presença de corpos desmedidos, isto é,
obesos e/ou anoréxicos. Porque estas estéticas corporais
ganharam lugar na cena midiática, como eles são
representados, e quais as questões ocultas nesta
representação são questões estudadas na pesquisa.
O mangá é um objeto de estudo relevante para o campo
da comunicação porque possibilita estudar a
interculturalidade no mundo globalizado do final do século
XX e início do século XXI. Os mangás surgiram, como são
conhecidos hoje, na era pós Segunda Guerra Mundial, era
polarizada pela Guerra Fria e palco dos primeiros indícios
da globalização. O Japão daquela época era um país
destruído e com uma enorme cicatriz, tanto pela Guerra como
pelo ataque atômico em Hiroshima e Nagasaki. Por esse e
outros motivos, não era mais um Japão ultranacionalista e
militar e sim um país que necessitava promover-se perante o
mundo para se reconstituir. Neste mesmo período, muitos
japoneses imigraram para outras nações, em especial os
Estados Unidos. Estes japoneses então mesclaram sua cultura
16
original com o novo mundo a sua volta, tal mistura se
expressa na arte (REBOUÇAS: 2011). Os mangás chegam ao
ocidente nesse processo intercultural alicerçado na
situação político-econômica do Japão, mas também pelas
diásporas empreendidas pelos japoneses em direção aos
Estados Unidos: a migração sempre promove certa
visibilidade cultural, de modo que produtos culturais
japoneses – o mangá, por exemplo, – foi sendo divulgado
para a sociedade norte-americana e para outros países da
cultura ocidental, dentre eles o Brasil.
Assim os mangás surgiram como uma mistura da
tradicional arte japonesa e o movimento pop que devorava o
mundo. E, convenientemente, o mangá se transformou além de
um produto oriental que ganhava cada vez mais compradores
no mundo, num conceito modificador que seria apropriado por
outras nações do mundo por meio de um processo de
negociação intercultural (LUYTEN: 2000). A negociação dos
modelos de estéticas corporais não estava excluída deste
conceito e torna-se importante investigá-la.
1.2 Procedimentos teórico-metodológicos.
A pesquisa consiste num estudo qualitativo, posto que
busca analisar o objeto em profundidade, de modo a fazer
emergir aspectos significativos, fruto de uma análise
interpretativa. Segundo Denzin (2006: 23),
17
A palavra qualitativa implica uma ênfase sobre as
qualidades das entidades e sobre os processos e os
significados que não são examinados ou medidos
experimentalmente (se é que são medidos de alguma forma)
em termos de quantidade, volume, intensidade ou
frequência. Os pesquisadores qualitativos ressaltam a
natureza socialmente construída da realidade, a íntima
relação entre o pesquisador e o que é estudado, e as
limitações situacionais que influenciam a investigação.
Para o desenvolvimento do projeto, serão realizados
dois tipos de pesquisa: a bibliográfica e a pesquisa
documental. A primeira refere-se à leitura de obras que
fundamentam teoricamente as discussões desenvolvidas ao
longo da pesquisa. Já a segunda refere-se à coleta de
material, ou seja, à coleta de documentos midiáticos que
serão investigados: isto é, a definição dos mangás e dos
gibis Turma da Mônica Jovem que formará o corpus a ser
investigado.
O corpus formado por edições da Turma da Mônica Jovem –
publicadas pela empresa Maurício de Souza e Maurício de
Souza Produções LTDA e distribuída por Planet Mangá e
Panini Comics –, representante do gibi brasileiro com
influências do mangá, será constituído pela edição número
1, 2, 3 e 4.
Há ainda um material composto pelo produto midiático
japonês e que foi selecionado de acordo com critérios de
popularidade e riqueza na transmissão da cultura japonesa e
18
as possibilidades de análise dos aspectos corporais. São
este os mangás Bleach e Naruto, que representam o Japão
contemporâneo e o feudal respectivamente e servirão como
base para a análise da Turma da Mônica Jovem.
Para os procedimentos de análise da
interculturalidade, serão considerados prioritariamente
aspectos da estética corporal dos personagens e, em segundo
plano – somente se for necessário caso haja falta de
elementos para análise dos aspectos físicos –, a temática e
a ambientação serão consideradas na medida em que
contextualizam a narrativa vivenciada pelos personagens e
possibilitam um maior aprofundamento nas reflexões a
respeito das negociações interculturais no cenário da
globalização.
No que se refere à fundamentação teórica para abordar
aspectos do cenário contemporâneo de globalização,
consideramos as ponderações de García Canclini (2003: p.
41):
Muito do que se diz sobre a globalização é falso. Por
exemplo, que ela uniformiza todo o mundo. Ela nem sequer
conseguiu estabelecer um consenso quanto ao que significa
“globalizar-se”, nem quanto ao momento histórico em que seu
processo começou, nem quanto a sua capacidade de
reorganizar ou decompor a ordem social.
Nessa perspectiva, a globalização deve ser entendida
como um processo complexo, que se desenvolve de modo
19
desigual em diferentes sociedades e em diferentes momentos
sócio históricos. Ainda conforme García Canclini,
... o que se costuma chamar de “globalização” apresenta-se
como um conjunto de processos de homogeneização e, ao mesmo
tempo, de fragmentação articulada do mundo que reordenam as
diferenças e as desigualdades sem suprimi-las (2003: p. 44-
45).
As reflexões desenvolvidas por García Canclini, sobre
interculturalidade e também sobre a ideia de “relações de
negociações”, em obras como Culturas híbridas (2006), A
Globalização Imaginada (2003), Diferentes, desiguales y desconectados:
mapas da interculturalidade (2005), dentre outras,
constituem nossa principal referência teórica a respeito da
globalização. Vale salientar que a globalização será
estudada como processo sociocultural, o que possibilita
estudar também os imaginários sobre o mencionado fenômeno.
Deste modo, a análise da interculturalidade será
realizada a partir da noção de “relações de negociação”,
proposta por García Canclini. Tal definição de percurso de
análise, longe de significar uma fragilidade para o
desenvolvimento da pesquisa, significa um exercício válido
para a iniciação científica quando o pesquisador poderá
conhecer com profundidade o pensamento de um estudioso.
Importante dizer que García Canclini constitui a principal
referência teórica da pesquisa sobre as negociações
interculturais; no entanto, outros autores embasarão as
reflexões a respeito da globalização e sobre as produções20
midiáticas dos mangás e da Turma da Mônica Jovem.
No capítulo 2, a pauta será um estudo sobre a
globalização cultural, privilegiando a obra de Néstor
Garcia Canclini, cujas reflexões mostraram-se as mais bem
articuladas e esclarecedoras para o objetivo deste
trabalho. Estudos de outros autores serão de importante
auxílio para os pensamentos de García Canclini, muitas
vezes configurando-se como complementares.
No capítulo 3, o mangá receberá sua devida atenção. As
características descritivas do mangá, o seu papel na
cultura/sociedade japonesa, a sua história entrelaçada a
história do Japão, e um objetivo traçado de sua entrada no
Brasil darão corpo a este capítulo. Além disso, os mangás
Naruto e Bleach receberão uma descrição para auxiliar a
posterior análise comparativa com a Turma da Mônica Jovem.
No capítulo 4, a análise em si será desenvolvida. As
justificativas do lançamento do gibi Turma da Mônica Jovem,
levando em conta a sua relação no mercado editorial, assim
como um breve desenho da obra, comparado muitas vezes com
as histórias em quadrinhos Turma da Mônica, antecederão uma
investigação que procura como se configura a
interculturalidade proposta por García Canclini na Turma da
Mônica Jovem, no diálogo Brasil-Japão, ou melhor, no
diálogo global.
21
2 Contextualização sócio-histórica da globalização
Muito se tem estudado a globalização. Alguns autores
analisam o fenômeno considerando como ele alterou a
dinâmica econômica entre nações. Outros pensam como as
políticas devem se comportar na nova dinâmica global. Há
aqueles que pensam como as relações entre culturas se
modificaram devido a este novo fenômeno. Há ainda aqueles
que afirmam que a globalização tende a homogeneizar o
mundo. Já outros denunciam conflitos de exclusão originados
dessa mesma globalização “integradora”.
Para compreender o significado da globalização, deve-
se entender, antes de tudo, que ela não é um fenômeno
isolado, que pode ser dissociado do mundo onde ela se
desenvolve. Neste capítulo, há uma reflexão sobre os novos
processos para os quais a globalização abre possibilidades,
e as reações das dinâmicas socioculturais para com estes
processos – que muitas vezes podem ser reações de
desigualdade e exclusão. Por isso, neste capítulo propõe-se
uma desconstrução do senso comum da globalização – conforme
aponta García Canclini (2003) – que a considera um
“processo integrador e solidário”. Deste modo, considera-se
o que a globalização deixa a desejar.
22
Neste capítulo, também se explora o caráter das
relações entre culturas. Aqui, é importante perceber como a
definição de cultura se transformou, e como é concebida a
interculturalidade, posto que ela não se dá apenas por meio
de processos passivos de trocas de elementos culturais, e
sim de um fervilhante diálogo, uma negociação entre as
diferenças. Também matéria de discussão, as diferenças são
aqui analisadas como possíveis geradoras de conflitos, os
quais a globalização pode intensificar. As obras Diferentes,
Desiguais e Desconectados (2005) e A Globalização Imaginada (2003),
ambas de Néstor García, oferecem o fundamento teórico para
as reflexões. Autores como Milton Santos, Edgar Morin e
Maria Baccega terão suas obras estudadas para enriquecer a
posição de García Canclini, tanto pela complementação como
pela, eventualmente, negação.
2.1 Por uma definição de globalização
Vivemos em um mundo globalizado. Crises financeiras em
países, antes com pequeno poder econômico no cenário
global, causam turbulências no mundo todo. As nações, ao
mesmo tempo em que procuram formar blocos econômicos cada
vez mais coesos e com o mínimo de limitações alfandegárias,
também protegem seus mercados contra os gigantes
econômicos. Os países do Primeiro Mundo oscilam entre um
cuidado maior para com o imigrante, e ideologias xenófobas23
brotando em seu povo. As multinacionais cada vez mais
perdem território, e vendem este valor: não são mais marcas
americanas, europeias, asiáticas, são marcas globais. As
pessoas percebem que há cada vez menos distâncias culturais
entre nações, assim como a aproximação constante da
diferença entre o local e o global. Os meios de comunicação
de informação e os mercadológicos só confirmam a nova
entidade global que surgiu, sem deixar de se adaptar ao
contexto regional.
Este fenômeno que é chamado de globalização é
extremamente amplo, e está presente em inúmeras esferas da
humanidade. Pode-se falar de globalização econômica,
globalização política, globalização sociocultural,
globalização tecnológica, entre inúmeras outras facetas.
Com isso, já é posto que uma definição de globalização é
impossível, e se possível, seria muito vaga e
inconsistente, imprudentemente totalizadora, pois, devido
ao gigantismo da globalização, ela é estudada por meio de
diversos ângulos, visto que causa tantas interferências de
naturezas distintas no cenário mundial (muitas vezes
contraditórias). Deste modo, o que é possível é um
entendimento do que a globalização pode e não pode fazer, e
como os sistemas podem ou não reagir a ela. A globalização
não deve ser estabelecida como um dogma teórico, tampouco
como a justaposição de suas interpretações. Deve-se
encontrar uma racionalidade em seus processos que a
expliquem em seus inúmeros aspectos (GARCÍA CANCLINI:
24
2010). Por sua inerente abrangência, é apropriada a análise
sobre um aspecto definido, para haver a necessária
consistência. Neste trabalho, daremos ênfase na
globalização em sua dimensão cultural e comunicacional.
Para iniciar o processo de entendimento das dinâmicas
culturais temperadas pela globalização, é pertinente
entender os processos predecessores e básicos. Podem-se
colocar três tipos de relações entre culturas, uma
sucedendo a outra cronologicamente (dando pistas sobre a
globalização ter se originado na segunda metade do século
XX): a internacionalização, a transnacionalização e a
globalização. Internacionalização é a mais simples das
interações, e está centrada em apenas uma personagem. Esta
personagem “importa” elementos culturais de outro povo, e o
admira por meio de sua própria visão da cultural original.
É a simples admiração do exótico de seu ponto fixo. Já a
transnacionalização, que ainda se centra em apenas uma
personagem, é a admiração do elemento cultural alheio por
meio da visão e sentidos simbólicos da cultura alheia,
mesmo que seja impossível desimpregnar-se totalmente da
cultura original. A globalização é a forma mais complexa de
interação. Não está mais centrada em apenas um personagem:
é a admiração do elemento cultural alheio por meio de
várias visões culturais simultaneamente (GARCÍA CANCLINI:
2005), conforme citamos abaixo:
A globalização foi-se preparando nesses dois processos
anteriores por meio de uma intensificação das dependências
25
recíprocas (BECK,1998), do crescimento e da aceleração de
redes econômicas e culturais que operam em escala mundial e
sobre uma base mundial (2003, p. 42).
Este conceito mais teórico do que é a globalização já
nos dá indício de sua extrema complexidade, ainda mais no
campo cultural e comunicacional. Hoje, não se sabe mais o
que é de quem. Podemos visitar o México e provar um pedaço
dos EUA, um México americanizado, que não deixa de ser
México, mas também não é mais México. Podemos também ir
para os Estados Unidos e provar um EUA latinizado, em
regiões onde se fala mais espanhol do que inglês. Podemos
provar a culinária asiática em restaurantes Europeus, ou
ouvir músicas japonesas no ritmo percussivo da África.
Podemos até ir ao Shopping Center, adentrando em um
território global, ou até mesmo visitar o espaço mais
global de todos, a Internet. A globalização proporcionou um
contato entre as culturas extremamente intenso. Houve
tantas trocas entre culturas, que hoje não faz mais sentido
não pensar globalmente. Porém, é um perigoso erro pensar
que estas interações culturais fazem dissolver as
diferenças e alteridade.
Antes de desenvolver este pensamento sobre interações
culturais, é importante atentar para as diversas
interpretações sobre a globalização, as vezes como fenômeno
integrador, as vezes como fenômeno de exclusão.
Milton Santos formula um pensamento um tanto
26
pessimista entorno da globalização. Este autor afirma em
suas obras que a globalização é pautada no que ele chama de
"tirania do dinheiro" e "tirania da informação". A "tirania
da informação" é uma tirania disfarçada, pois a suposta
informação livre e verdadeira não é tão livre nem tão
verdadeira, já que é o produto de uma manipulação dos fatos
para que estejam de acordo com a ideologia da mídia. Esta
tirania criaria as chamadas fábulas. As fábulas são as
ideias integradoras sobre a globalização: a noção de aldeia
global, a eliminação de fronteiras, a não mais necessidade
do Estado, a sobreposição sobre as diferenças. Milton situa
a "tirania da informação" como subordinada da "tirania do
dinheiro"
A "tirania do dinheiro" se baseia na ideia de que
praticamente tudo no mundo globalizado é medido pelo
dinheiro. Não só as empresas, mas os partidos, as cidades,
e até as pessoas. Tudo e todos se tornaram servos do
dinheiro, e isso faz com que haja cada vez mais
individualismo. De acordo com Milton Santos:
Esta guerra como norma justifica toda a forma de apelo à
forca, a que assistimos em diversos países, um apelo não
dissimulado, utilizado para dirimir os conflitos e
consequência dessa ética de competitividade que caracteriza
nosso tempo. Ora, é isso também que justifica os
individualismos arrebatadores e possessivos:
individualismos na vida econômica (a maneira como as
empresas batalham umas com as outras); individualismos na
27
ordem da política (a maneira como os partidos
frequentemente abandonam a ideia de política para se
tornarem simplesmente eleitoreiros); individualismos na
ordem do território (as cidades brigando umas com as
outras, as regiões proclamando soluções particularistas).
Também na ordem social e individual são individualismos
arrebatadores e possessivos, que acabam por constituir o
outro como coisa. Comportamentos que justificam todo o
desrespeito às pessoas são, afinal, uma base da sociedade
atual (2008, p. 46,47).
A publicidade cria os consumidores para depois criar
os produtos, os objetos nos fazem como somos e o que eles
significam é forjado pelos publicitários. De acordo com
ele, isso enfraquece o ser humano, e é a matriz de vários
conflitos. Para Milton Santos:
Atualmente, as empresas hegemônicas produzem o consumidor
antes mesmo de produzir os produtos. Um dado essencial do
entendimento do consumo é que a produção do consumidor,
hoje, precede a produção dos bens e dos serviços. Então, na
cadeia usual, a chamada autonomia da produção cede lugar ao
despotismo do consumo. Daí, o império da informação e
publicidade. Tal remédio teria 1% de medicina e 99% de
publicidade, mas todas as coisas do comércio acabam por ter
essa composição: publicidade + materialidade; publicidade +
serviços, e esse é o caso de tantas mercadorias cuja
circulação é fundada numa propaganda insistente e
frequentemente enganosa. Há toda essa maneira de organizar
o consumo para permitir, em seguida, a organização da
produção (2008, p. 48,49).28
O autor prossegue por meio de um argumento histórico.
Ele afirma que quando a ciência surgiu, ela se aliou ao
capitalismo e levou a um desencantamento do mundo. Porém,
os ideais da Revolução Francesa e o Iluminismo supriram de
moral este sistema. Esta moral se esfacelou quando surgiu a
globalização, pois ela é a face mais voraz do capitalismo e
infectou a todas as áreas com sua "tirania do dinheiro".
Como exemplo, Santos critica o Estado. O Estado se
adapta às articulações comerciais, mas se omite em relação
às questões sociais. Isto mostra como o Estado cada vez
mais perde de vista seu verdadeiro objetivo de dar
assistência a sua população e se torna cada vez mais
parecido com uma empresa. E para resolver os problemas
sociais sobre os quais o Estado se omite, surgem as ONGs
que não são mais nada que empresas, portanto sujeitas à
lógica capitalista,pagas para realizar o trabalho de
obrigação primária do Estado. De acordo com as palavras do
autor:
Agora se fala muito num terceiro setor, em que as empresas
privadas assumiriam um trabalho de assistência social antes
deferido ao poder público. Caber-lhes-ia, desse modo,
escolher quais os beneficiários, privilegiando uma parcela
da sociedade e deixando a maior parte de fora. Haveria
frações do território e da sociedade a serem deixadas por
conta, desde que não convenham ao cálculo das firmas. Essa
“política” das empresas equivale à decretação de morte da
Política (2008, p.67).
29
Milton Santos também tece reflexões sobre a pobreza.
Para ele, há três tipos de pobreza: a pobreza incluída, a
marginalidade, e a pobreza estrutural. A pobreza incluída é
a menos grave, pois é sazonal, de causas isoladas, pontuais
e tem soluções locais. Já a segunda é a pobreza da
marginalidade, oriunda do capitalismo de consumo. O
marginal, à parte da sociedade, é o indivíduo "doente” que
não se adequa à lógica capitalista, não consome como
deveria consumir. Esta pobreza é vista como uma doença a
ser "curada". A terceira é a pobreza estrutural
globalizada, a mais grave no entender do autor, pois o
pobre não é mais marginal, é excluído. Ninguém realmente se
importa com sua condição, é considerado um efeito colateral
necessário da globalização, e por este motivo não recebe
atenção nem é, no fim, encarado como algo a ser curado.
Estas duas últimas pobrezas se comunicam, ou seja, são
fruto de uma dinâmica econômica destruidora, e são mazelas
sociais graves de acordo com Santos que argumenta a
respeito da pobreza estrutural globalizada:
Esta produção maciça de pobreza aparece como um fenômeno
banal. Uma das grandes diferenças do ponto de vista ético é
que a pobreza de agora surge, impõe-se e explica-se como
algo natural e inevitável. Mas é uma pobreza produzida
politicamente pelas empresas e instituições globais. Estas,
de um lado, pagam para criar soluções localizadas,
parcializadas, segmentadas, como é o caso do Banco Mundial,
que, em diferentes partes do mundo, financia programas de
atenção aos pobres, querendo passar a impressão de se
30
interessar pelos desvalidos, quando, estruturalmente, é o
grande produtor da pobreza. Atacam-se, funcionalmente,
manifestações da pobreza, enquanto estruturalmente se cria
a pobreza ao nível do mundo. E isso se dá com a colaboração
passiva ou ativa dos governos nacionais (2008, p. 73).
O referido autor conclui seus pensamentos quando
escreve um pouco sobre a sistematização na vida das
pessoas. As pessoas estão totalmente alienadas às tiranias
da globalização, que dita como elas devem pensar e se
comportar. A globalização cria o desejo de consumo em
todos, mas nem todos conseguem realizar esses desejos, pela
lógica capitalista. Isto causa uma frustração na classe
média, e ainda mais nos pobres. Porém, os pobres não têm a
organização necessária para reagir contra o sistema, e por
isso precisam da ajuda da classe média. O problema é que a
classe média é a mais alienada e cultiva um grande
desinteresse pela política e pela cidadania, e, de acordo
com ele, deveria ser o contrário para que pudessem mudar
alguma coisa.
Milton Santos introduz importantes reflexões sobre a
questão da tirania do dinheiro e informação. Porém, é
sensato fazer uma análise crítica de algumas ideias desse
autor. Sobre a informação, é inconcebível não pensar que a
informação midiática atual está necessariamente atrelada a
uma ideologia. Mas é imprudente pensar que a informação é
completamente subordinada à ideologia hegemônica. Lembremos
que a comunicação midiática realiza-se da sociedade para
31
com a própria sociedade, ou seja, obviamente pode refratar
como fator de modificação na maneira das pessoas pensarem,
mas também é um reflexo do que a própria sociedade pensa.
Entre outras palavras, se essa comunicação é efetiva, é
porque de alguma forma faz sentido para os receptores, que
não são totalmente passivos, mas mediadores. No momento em
que o fato é moldado para informação ele já passa a ser um
discurso, e em todo discurso há uma ideologia, mesmo que
não consciente pelo sujeito que o expressa em sua fala. Mas
pensar que toda a informação é manipulada para que aliene
os receptores é transformar estes diálogos em uma simples
relação causa-efeito.
A linguagem nada mais é que um instrumento para que o
ser humano possa se aproximar do mundo. Mais do que isso, o
pensamento que entende o mundo só existe pela linguagem.
Portanto, a expressão não se separa da forma, já que os
signos formam o pensamento e o pensamento se forma nos
signos. Entretanto, nascem as ideologias, que são conjuntos
solidificados de ideias comuns a um grupo social, e
pretensamente imutáveis. A ideologiatrans forma a
linguagem, que por definição configura-se ferramenta para o
pensamento, em uma “linguagem” fixa, que tem como objetivo
o simples rotulamento dos signos, e portanto como se pensa
o mundo. Porém, o signo necessariamente proporciona
abertura: quando o interpretante pensa o objeto, extrai daí
um signo, que por sua vez também é pensado, e gera outro
signo, e assim por diante; ou seja, gerando uma cadeia que
32
sempre se expande e nunca se fecha. Em suma, a ideologia
engessa a estrutura de pensar, e nisso, mata parte do
pensamento, que exige a linguagem como ferramenta para se
articular. Ideologia, de acordo com Baccega:
A ideologia só existe na prática social. Ela se
constitui num sistema de valores, pleno de
representações, de imagens -- modo de ver o mundo,
modo de ver a sociedade, modo que o homem vê a si e
aos outros. Enfeixa os pontos de vista dos homens que
vivem em um determinado grupo, classe social, ou
nação. Tem o poder de "condicionar as atitudes dos
homens" e levá-los a praticar (ou consideram que
praticam) ações que eles consideram as mais adequadas
para não se desviar desse sistema de valores. Mostra-
se coerente e sistematizada, o que lhe garante sua
força (2002, p. 34).
Todo indivíduo é alvejado pela ideologia a qual
pertence e, em seu discurso, pode refletir quase que
inteiramente, ou seja, reproduzir, o dito discurso
ideológico. Porém, todo o indivíduo também é sujeito. Entre
outras palavras, ele também refrata o discurso ideológico.
Entende-se refratar como transformar, reorganizar, inovar,
ou até mesmo negar. A linguagem, de acordo com Baccega, não
é dada, é dando-se: é mutável e deve ser mutável, pois
acompanha como uma ponte o ser humano pensante e sua
relação com o mundo, que se transforma sempre com o tempo.
Visto isso, a ideologia, no momento em que presume
solidificar a linguagem e seus significados, poda a33
possibilidade de transformação do pensamento.
O que ocorre, porém, é que nenhum sujeito/indivíduo
está imune às ideologias. Elas são a primeira base de
acesso ao mundo, além de serem características sociais de
seres sociais que somos nós. Portanto, para fazer o futuro,
é necessário o presente, assim como para transformar ou até
mesmo negar, é preciso conhecer aquilo que se transforma,
ou nega. De outro lado, todo o sujeito/indivíduo, no
momento em que apreende o discurso recebido, interpreta-o a
sua própria maneira, visto que seu repertório de
conhecimento, experiências e valores têm uma carga de
subjetividade que o diferencia dos demais.
Conclui-se assim que um sujeito/indivíduo social não é
capaz de refletir ou refratar inteiramente um discurso. Ou
seja, ele sempre será o arauto de uma ideologia -- em maior
ou menor nível – mas nunca será um simples reprodutor
passivo. Baccega sobre o indivíduo:
O indivíduo resulta, portanto, de vários discursos; é
paciente de uma pesada carga social, que atua
ditatorialmente sobre cada um. Mesmo assim a subjetividade
é única, carrega os traços da especificidade do ser que
reelabora essa carga e do universo a qual ela pertence.
Mas ele também é agente. Portador de uma
subjetividade plural, o indivíduo tem condições de
reelaborar, de inovar os discursos da sociedade, que são
muitos, produzindo outros muitos discursos. Daí sujeito. É
essa condição de paciente/agente que nos leva a designá-lo34
indivíduo/sujeito.(1995, p.22)
Sobre a tirania do dinheiro, pode-se pensar
semelhantemente. A lógica capitalista se pauta no dinheiro
e seu valor. Não são as empresas que corrompem o mundo com
publicitários que criam consumidores. Os consumidores, mais
uma vez, não são passivos ao processo do consumo. Pensar
que esta valorização excessiva do dinheiro pode causar
corrosões que podem resultar em graves conflitos
individuais e sociais é válido. Mas pensar que existe um
lado que manipula para vender e outro lado que é manipulado
para comprar é ser imprudentemente simplista.
Sobre o Estado, Milton Santos supõe uma total omissão
com o social e uma subordinação com as dinâmicas das
empresas. O social não se sustenta sozinho, ele faz parte
da importante interdependente tríade social-econômico-
político. Visto que o mundo funciona de acordo com as
dinâmicas capitalistas, as relações comerciais são de
extrema importância para melhorar a qualidade de vida do
social, que também está sujeito a essas dinâmicas
capitalistas. O que não pode ocorrer é a inversão dos
valores e a perda de visão do verdadeiro objetivo do
Estado, que é a qualidade de vida do povo, e não
exclusivamente das dinâmicas comerciais entre empresas. A
preocupação com as dinâmicas comerciais deve servir a
melhoria social, e não qualquer outra coisa.
De acordo com Vasconcellos (2002), o objetivo das
35
políticas econômicas se encontra em quatro submetas
principais, sendo estas o pleno emprego de recursos, a
estabilidade de preços, a distribuição equitativa de renda
e o crescimento econômico. O alto nível de empregos corrige
o problema do desemprego que afeta contundentemente a
qualidade de vida. A estabilidade de preço é o contrário do
aumento gradativo de preços, a inflação, que apresenta
causas quase que sempre danosas a sociedade – déficit
público, obsolescência produtiva, indexação da economia,
problemas estruturais na produção –, além de provocar
consequências igualmente nocivas, como a diminuição do
poder de compra do trabalhador. A distribuição equitativa
de renda busca fiscalizar essa diferença gritante, na qual
há poucos que têm muito, e muitos que têm pouco. Por fim, a
meta do crescimento econômico visa aumentar o poder
econômico da população, e, portanto, viabilizar um
incremento na qualidade de vida. Deste modo, percebe-se
facilmente que as submetas da política econômica estão em
prol de uma grande meta, que é o aumento e a manutenção do
direito à qualidade de vida, na qual está incluso moradia,
educação, transporte, emprego de qualidade.
A classificação de pobreza de Milton é muito
pertinente, mesmo que em alguns pontos muito radical e
pessimista. A exclusão na globalização é sim presente, e
pode sim ser fruto dos avassaladores impactos que ela
trouxe. Porém, a globalização desmedida, que desrespeita as
diferenças e intensifica conflitos, causando desigualdades
36
produz essa exclusão. É possível, através de uma mediação
crítica, solucionar essas questões de exclusão e
desigualdade.
A questão de alienação da classe média e possível
revolta dos pobres é inaplicável no contexto observado
atualmente. Como já dito, não há alienação, e inteira
passividade. Os pobres, que seriam os excluídos, não se
revoltam contra a globalização. Justamente o contrário,
aparentemente eles querem ser incluídos.
Por fim, podemos afirmar que as reflexões de Milton
Santos não podem mais condizer inteiramente às dinâmicas
atuais da globalização. Ele polariza a globalização como
corrompedora da sociedade e a sociedade como vítima
corrompida. Mais adiante, provaremos que a globalização não
pode ser polarizada desta maneira. Ela proporciona diversos
diálogos, e nestes diálogos pode haver harmonia, como pode
haver conflito.
Edgar Morin já tem uma visão mais otimista sobre o
fenômeno da globalização, visto que enaltece sua agenda
integradora e comunicadora. De acordo com ele, existiram
dois tipos de globalização na história. A primeira ele
denomina de primeira globalização. Esta é a da conquista
dos dominadores sobre os dominados: é exemplificada pela
relação metrópole-colônias, as tensões Norte-Sul. A segunda
globalização, esta a qual estamos vivenciando, é a da
cidadania e união global, cuja dinâmica é mais igualitária
37
e justa.
Aqui é importante a colocação do conceito trabalhado
por ele de ambivalência. De acordo com Morin:
Por que esta dificuldade de unir duas noções tão
contraditórias? Temos na história do pensamento ocidental
uma tradição que passa por Heráclito, por Pascal, Hegel,
Marx e outros, Lupasco, que diz que duas verdades
contraditórias podem valer ao mesmo tempo. Pascal disse que
o contrário de uma verdade não é um erro, é outra verdade.
É o mesmo que o físico Bohr, um dos pais da microfísica: o
contrário de uma verdade profunda é outra verdade profunda.
Esta é uma coisa muito importante: comparar duas verdades
profundas, ou seja, considerar a ciência como ambivalência
(2002, p. 50-51)
Morin usa esse conceito de ambivalência para
justificar várias oposições que propõe. A primeira é a da
globalização contra o fortalecimento da pátria (não
confundir patriotismo, a concepção saudável da pátria pelo
que ela é para seu povo, com nacionalismo, a concepção
deturpada da pátria pautada no ódio ao de fora,
estrangeiro). Os dois conceitos coexistem e o equilíbrio
entre eles é a melhor forma de se alcançar uma harmonia.
Mesmo que sejam contraditórias, são realidades inteiramente
válidas da nossa dinâmica. Com isso, vem a questão da
homogeneização versus a resistência à mercantilização da
vida, que estão sujeitas ao mesmo contexto de ambivalência.
Ele conclui, portanto, que a globalização não38
homogeneíza, mas se contextualiza a cada dinâmica local, e
só assim a integração justa poderá ser alcançada. Morin
conclui:
Uno no sentido de que cada parte do mundo faz parte cada
vez mais do mundo em sua globalidade. E que o mundo em sua
globalidade encontra-se dentro de cada parte (2002, p.46)
O que Morin expõe é muito pertinente, principalmente
pelo desenvolvimento do conceito da ambivalência trabalha
como pano de fundo para muitos processos relacionados à
globalização, como a oposição global e local, a hominização
e o individualismo, etc. é interessante considerar como é
frequente se pensar na globalização como paradigma de
padronização, reprodução em massa, comunicação sem
informação, contraposto às mais diversas questões que faz
despertar sobre o globo. A globalização estaciona de modo
diferente em cada contexto regional e ali ocorrem os
diálogos local e global. Entretanto, Morin também parece
ter uma visão muito centrada nos aspectos positivos do
fenômeno: ele enaltece demais a faceta de integração da
globalização. Os fenômenos que envolvem a globalização são
violentos e impactantes, e podem chocar com questões de
diferença que nunca seriam simplesmente dissolvidas. Estes
conflitos oriundos do diálogo entre diferenças podem se
intensificar a ponto de, por exemplo, fazer surgir com
muito fervor ideologias xenófobas. O capitalismo, assim
como a globalização, deve respeitar essas diferenças para
evitar rupturas desastrosas, causadoras de desigualdade, ou
39
seja, mais direito para uns, menos direito para outros.
Néstor García Canclini é o autor em cujo pensamento
fundamentamos nossas discussões porque avaliamos como o
mais adequado como eixo de reflexões desta pesquisa. García
Canclini não se prende a conceitos morais polarizados. Ele
analisa a globalização e seus fenômenos conseguintes como
dinâmica que pode causar grandes mazelas sociais, mas pode
resolver outras questões. O que não queremos é limitar a
globalização a duas interpretações radicais: uma de que ela
necessariamente favorece a igualdade entre pessoas e
nações, e outra de que ela é um processo totalmente
destrutivo que promove alienação e homogeneização das
pessoas. Visto isto, as reflexões de García Canclini são as
mais condizentes e, portanto, as privilegiadas neste
trabalho.
Segundo García Canclini, muito do que se fala e pensa
sobre a globalização é falso, por exemplo, que ela
homogeneíza o mundo. Assim, é necessário fazer uma
desconstrução deste senso comum, do que só é falado e não
constatado objetivamente na realidade. García Canclini
questiona isto:
Curioso é que essa disputa de todos contra todos, em
que fábricas vão falindo, empregos são destruídos e
explodem a migração em massa e os conflitos étnicos e
regionais, receba o nome de globalização. Chama a
atenção o fato de empresários políticos interpretarem
a globalização como a convergência da humanidade rumo40
a um futuro solidário, e que até muitos críticos do
processo entendam essa devastação como o processo por
meio do qual todos acabaremos homogeneizados (2003,
p.8).
As interações inéditas entre duas culturas,
proporcionadas pela globalização, não resultam em uma
uniformização de ambas. Há nestes processos, as chamadas
relações de negociação, certas negociações: elementos
culturais são assimilados, outros são somente aceitos,
outros inclusive negados e rejeitados. Ocorre um diálogo
intercultural pautado pela diferença e alteridade inerente
às culturas. E então, entende-se que a globalização altera
e intensifica a dinâmica de relação, mas enquanto pode
tornar mais semelhantes, também pode intensificar conflitos
já existentes, ou até mesmo criar novos. García Canclini
então resume: “Para dizê-lo de maneira mais clara, o que secostuma chamar de globalização apresenta-se como um conjunto de
processos de homogeneização e, ao mesmo tempo, de fragmentação
articulada do mundo que reordenam as diferenças e desigualdades
sem suprimi-las” (2003, p. 44-45).
Logo, torna-se importante separar a globalização em
dois: a globalização e as reações das culturas, inclusos
não somente as negociações pacíficas, mas também os
conflitos, as rupturas, as desigualdades, as exclusões; e a
globalização imaginada, aquilo que se idealiza sobre a
globalização, o que está no imaginário, mas que não deixa
de ter sua importância (GARCÍA CANCLINI: 2003).
41
2.2 Processos de interculturalidade contextualizados pela
globalização
A globalização é um conjunto de processos que articula
os sistemas simbólicos, com base nas diferenças culturais,
étnicas, etc., havendo aí relações de negociação, relações
estas em que os sujeitos escolhem e relacionam livremente
diversos elementos culturais, ponderando quais fazem
sentido e quais não fazem sentido para si. Mas qual o
entendimento de cultura que melhor se aplica a este
processo, visto que a globalização possibilitou que
houvesse tantas trocas interculturais, que fica cada vez
mais difícil catalogar o que é de quem?
Convém, portanto, elucidar qual a compreensão de
cultura adequada para o estudo. Vale um breve traçado da
evolução de sua definição. Primeiramente, a cultura era
entendida limitada às obras culturais, estas por sua vez,
prometidas somente as elites econômicas e intelectuais. Os
trabalhos artísticos realizados pelas elites eram adotados
como a única cultura. Com o gradativo esclarecimento
científico, redefiniu-se a cultura como qualquer tipo de
produção, modificação do natural, que o homem faz. Como
essa definição transformou a cultura em algo muito amplo e
42
vago, ela foi lapidada. A cultura passou a ser o conjunto
de cadeias de sistemas de significações comuns a uma
determinada população ou grupo social (GARCÍA CANCLINI:
2003). Entretanto, esta definição não é capaz de explicar
como se configura a diferença cultural. O que faz uma
cultura diferente de outra e onde está a delimitação que as
difere é uma questão a se pensar em um mundo onde tais
fronteiras, se existentes, são abaladas. García Canclini
faz uma colocação muito pertinente:
Marc Abélès, Arjun Appadurai e James Clifford, entreoutros, estão renovando a disciplina ao redefinir a noçãode cultura: não mais como uma entidade ou pacote decaracterísticas que diferenciam uma sociedade de outra.(2005, p. 24).
Nesta perspectiva, García Canclini destaca que os dois
autores mencionados “concebem o cultural como sistema de
relações de sentido” (2005, p.24), de modo que Appadurai
identifica “diferenças, contrastes e comparações”
(APPADURAI, 1996, p.12-13 apud García Canclini, 2005,
p.24),e que Jameson considera o cultural como “veículo ou
meio pelo qual a relação entre os grupos é levada a cabo”
(JAMESON, 1993, p.104 apud García Canclini, 2005, p.24).
Uma interpretação muito interessante e válida pra o
entendimento consta em pensar a cultura não como
substantivo, mas sim como o adjetivo cultural. Já que não
faz mais sentido imaginar a cultura como um bem propriedade
de uma nação: assim, faz sentido imaginar a cultura como
justamente a qualidade desse sistema de significações43
próprios de um povo. E com esta visão, valoriza-se
justamente a relação intercultural, como as diferenças de
dois ambientes diferentes dialogam entre si, entre outras
palavras, a interculturalidade. García Canclini conclui:
O cultural abrange o conjunto de processos mediante
os quais representamos e instituímos imaginariamente
o social, concebemos e administramos as relações com
os outros, ou seja, as diferenças, ordenamos sua
dispersão e sua incomensurabilidade por meio de uma
delimitação que flutua entre a ordem que possibilita
o funcionamento da sociedade (local e global) e os
atores que a abrem ao possível (2003, p.57-58).
Logo, é importante identificar o significado de
interculturalidade, contraposto à chamada
multiculturalidade. A multiculturalidade refere-se à
interação na qual há justaposição das culturas. As
diversidades culturais são constatadas e aceitas, muitas
vezes alimentadas por um incentivo a políticas de simples
aceitação, sem maiores cuidados, o que, muitas vezes, leva
a segregação. Já o intercultural não é a justaposição, e
sim a aglutinação, o diálogo existente entre os diferentes.
A diferença, portanto, não está isolada e distante, está
presente, está influenciando, dialogando, negociando. Se
imaginarmos esse processo acontecendo simultaneamente com
inúmeras diferenças culturais podemos ter uma noção do
turbilhão que é a globalização. A conclusão é que, as
delimitações entre culturas que definem sua alteridade não
44
fazem mais sentido, embora essa dissolução das fronteiras
culturais não deságue na dissolução da diferença. Isso,
pois objetivo não é mais catalogar o que é de quem, e sim
entender as negociações interculturais, o que elas podem
prejudicar algum dos lados, e a busca de alternativas para
que seja um diálogo de diferentes, que não os torne
desiguais (GARCÍA CANCLINI: 2005).
Uma forma bastante interessante de analisar a
globalização é refletir sobre os casos em que a
globalização “não dá certo”, entre outras palavras, aquilo
que ela não pode solucionar, ou criar um diálogo pacífico e
igualitário, deve-se, portanto, entender a diferença,
desigualdade, desconexão, e como elas se relacionam. Muitos
estudos se limitaram a estudar somente um ou dois elementos
dos três, e por isso, detiveram-se de entender a
interculturalidade como um todo (GARCÍA CANCLINI: 2005).
A diferença está no plano cultural. Ela é inerente a
uma cultura, e, mais do que isso, é justamente a diferença
que define uma cultura, o que ela é o que ela não é. A
globalização choca as diferenças, proporcionando a troca e
negociação, mas não tira a qualidade de diferente. Por
exemplo, o México é um país que goza da industrialização e
urbanização que lhe foi proporcionada no século XX, e ainda
sim de uma grande parcela indígena, que é dividida em
várias tribos desde a época colonial. A diferença é notada
claramente entre os povos indígenas e os povos urbanizados.
Nos tempos globalizados, é utópico pensar em preservar a45
“cultura original” indígena da cultura urbana
contemporânea, visto que o contato intercultural modifica
irreversivelmente a cultura indígena, e vice-versa. São
interações inevitáveis e necessárias. O que pode ocorrer é
uma influência negativa e destruidora, normalmente advinda
da parte dominante. Se este processo intercultural não for
bem mediado, o que antes era diferença, pode se tornar
desigualdade, quando uma das partes sai prejudicada.
Reparemos que a alteridade deve ser respeitada e
compreendida, e em muitos casos, a interculturalidade pode
servir como instrumento de amenização da desigualdade. A
cultura é uma dinâmica, e seu maior valor está justo do
diálogo entre diferentes (GARCÍA CANCLINI: 2005).
Já a desigualdade está no nível social. Um estudioso
importante que ajuda a entender a relação
desigualdade/diferença é Bourdieu que compartilha de vários
pensamentos marxistas, e aprofundou na questão social e
cultural. Para ele, a cultura não é uma simples
consequência do sistema econômico de produção e
distribuição, mas é um elemento que se relaciona. O que se
denomina boa cultura pela elite dominante é, de acordo com
ele, uma forma de dominação para com as classes econômicas
abaixo. A cultura criada pela elite se torna propriedade da
mesma elite, e só pode ser acessada pela mesma. Isto, pois
eles detêm o conhecimento necessário para entrar em contato
com sua cultura. Deste modo, torna-se extremamente difícil
o acesso das classes baixas a cultura de elite, que, pelo
46
poder dominante exercido, se torna a única cultura legítima
de acordo com o discurso das elites. As classes baixas não
conseguem expressar-se facilmente, pois desconhecem a
linguagem usada. Nasce neste momento a desigualdade em
função da diferença. Cria-se a ilusão de que a desigualdade
não é medida pelo que se tem, mas pelo que se é. O
esclarecimento de conhecimento parece mais um dom das
elites do que a consequência de vidas que se desenvolveram
desigualmente em recursos. De acordo com Bourdieu, a
cultura popular prioriza muito menos o valor simbólico e
mais o valor funcional. Ainda assim, não se opõe totalmente
a cultura dominante, assimilando suas regras. Deste modo,
não é autônoma, e as alterações e conflitos ficam
restritamente dependentes da cultura dominante. Já cultura
média entra neste contexto como a “galeria de artes para
pobres”, ou seja, a cultura da elite com a praticidade
popular.
García Canclini, na obra Diferentes, Desiguales y
Desconectados, constata que a análise de Bourdieu é muito
pertinente, mas não engloba tudo necessário. De acordo com
ele, as classes sociais baixas não são totalmente
autônomas, mas também não são totalmente subordinadas. Elas
criam expressões, costumes, crenças, festas, etc. Criam uma
cultura viva e a respeitam.
Para completar, García Canclini propõe um aspecto que,
não suprime a divisão desigual em classes, mas se relaciona
com a desigualdade e diferença. Hoje se pensa muito no47
conectado e desconectado, muito mais a metáfora da rede e
menos do estrato social. O homem grande é aquele que tem
contatos e mantém sua autenticidade para fazer valer tais
relações. O excluído seria o sedentário, imóvel, que não
faz valer contatos. Nota-se que este novo modelo não veio
para substituir a desigualdade, mas sim dialogar com ela.
Portanto, é importante perceber o fenômeno
globalização naquilo que ele deixa dever. As diferenças são
impossíveis de serem suprimidas, devem ser aceitas, e por
meio de uma ação crítica, ser impedidas de criar ou
intensificar as desigualdades, que, se aliadas à
desconexão, podem levar a exclusão, o pior dos casos.
Diante das reflexões apresentadas até aqui, não se
pode mais reduzir a globalização ao globalismo. O
globalismo engloba somente a agenda integradora e
comunicadora, ou seja, o imaginário de que o transnacional,
a unificação das nações, se põe acima das diferenças,
neutralizando-as. A globalização também tem em sua
essência, a agenda segregadora e dispersiva, que causa
desigualdade pela diferença e pela exclusão. Estas agendas
se relacionam e se combinam de maneiras diferentes em cada
contexto cultural e social. A globalização estaciona
diferentemente em cada lugar (GARCÍA CANCLINI: 2003).
A interculturalidade pode se estabelecer em todos os
tipos de contato, e está sujeita as especificidades de cada
elemento envolvido. A interculturalidade pode se fazer
48
presente na comunicação publicitária – por exemplo, as
polêmicas propagandas da Benetton, que vendem o conceito de
integração étnica e cultural –; pode se fazer na Internet,
que possibilita o contato simultâneo e quase instantâneo de
pessoas de muitos lugares e formações culturais distintas;
pode ocorrer na política entre países e blocos econômicos;
etc. Porém, é interessante notar o papel intercultural que
a migração de pessoas no mundo globalizado pode
proporcionar. A migração tem um grande valor intercultural
– diálogo entre diferenças – que se articula de maneiras
distintas em cada contexto. Denise Gogo trata adequadamente
desta instância:
Essa complexa teia de relações interculturais
repercute na conformação dos processos
identitários a partir da constituição, pelos
migrantes, de múltiplas e fluidas identidades
fundamentadas ao mesmo tempo nas sociedades de
origem e nas “adotivas”. Enquanto alguns
imigrantes identificam-se mais com uma sociedade
do que com a outra, a maioria parece desenvolver
várias identidades, relacionando-as
simultaneamente com mais de uma nação. (2006, p.
14).
As reflexões de García Canclini servem de conhecimento
para uma visão crítica que não ignora os problemas de
conflito entre diferenças, mas admite que, com uma mediação
justa e embasada, esses conflitos podem ser solucionados ou49
amenizados. Suas reflexões nos levam a considerar que as
relações de negociação fundamentam-se na possibilidade de
troca, de interação e de diálogo entre os sujeitos nas
dinâmicas socioculturais e também nas dinâmicas econômicas
e mercadológicas. O pensamento de García Canclini sugere
que as relações de poder acontecem em todas as instâncias
do tecido cultural: assim, acontecem no centro e nas
fronteiras entre os grupos sociais, sem que haja
necessariamente o dominador e o dominado, pois as
negociações implicam tensões, conflitos e acordos em
movimento.
No que se refere ao fenômeno do consumo, existem
diversas linhas de interpretação, e, como objetivo de
compreendê-lo, é vital assinalar como as perspectivas de
entendimento sobre esse fenômeno foram se transformando.
Os processos de consumo não são uma simples relação
vertical entre corporações manipuladores e audiências –
consumidores – passivas. Os estudos sobre comunicação em
massa mostram que a comunicação das empresas com o
consumidor vai além daquilo que certas correntes teóricas
concebem como dominação do receptor pelo emissor.
Entendemos que há aí diversos mediadores, como família,
bairro e grupos de trabalho. Além disso, a comunicação
nunca pode ser reduzida a uma recepção passiva, visto que
ela é dialógica, ou seja, implica sempre um diálogo entre
emissor e receptor, já que estão inclusos processos de
codificação e decodificação dependentes do repertório de50
cada parte e contextualizados pela experiência sócio-
histórica do sujeito.
Uma primeira investigação sobre consumo pode ser
compreendida pela sua racionalidade econômica. Define García
Canclini:
o consumo é o conjunto de processos socioculturais em que
se realizam a apropriação e os usos de produtos. Esta
caracterização ajuda a enxergar os atos pelos quais
consumimos como algo mais do que simples exercícios de
gostos, caprichos e compras irrefletidas, segundo os
julgamentos moralistas, ou atitudes individuais, tal como
costumam ser explorados pelas pesquisas de mercado (1995,
p.77).
Na visão da racionalidade econômica, o consumo é
considerado como mera parte do ciclo de produção e
distribuição da sociedade. Em outras palavras, é a etapa
final da geração de produtos, em que se reproduz a força de
trabalho e a expansão do capital. O sistema econômico
organiza as formas de reproduzir a força de trabalho, e
oferecer à sociedade as soluções para suas necessidades.
Neste modelo, há um processo vertical de oferta de produtos
empresa-consumidor que parece ignorar as diferentes reações
dos diferentes consumidores à publicidade. O modelo que
pauta a distribuição dos bens de consumo está intimamente
ligado ao sistema de produção e as estruturas de
administração do capital. De acordo com García Canclini:
51
Os estudos marxistas sobre o consumo e sobre a
primeira etapa da comunicação de massa (de 1950 a 1970)
superestimaram a capacidade de determinação das empresas em
relação aos usuários e às audiências (1995, p. 78).
Seguidamente, teóricos desenvolveram uma nova
perspectiva sobre o consumo, a que privilegia uma
racionalidade sociopolítica interativa. Estes estudos revelam como as
demandas dos consumidores ditam as regras das distinções
entre classes. Aqui, o consumo é uma disputa de acesso por
aquilo o que a sociedade produz, e implica na concretização
do lugar na sociedade. Manuel Castells (1994) diz que o
consumo é um lugar onde os conflitos entre as classes,
originados pela desigual participação na estrutura
produtiva, ganham continuidade através da distribuição e
apropriação de bens. É importante notar que as relações não
são mais simples dominações, e sim interações, nas quais os
produtores devem se justificar para que o consumidor vá até
eles.
Já uma terceira linha de trabalhos, estuda o consumo
pelos aspectos simbólicos e estéticos da racionalidade consumidora. Para
esta linha, o consumo tem base nas distinções simbólicas,
ou seja, consumir para pertencer a certa classe, e
compartilhar o modo de vida. Além disso, a apropriação dos
bens que fazem pertencer a um grupo, também implicam que
eles não serão disponíveis a vários outros, conferindo
certo valor simbólico ao possuir. Conforme García Canclini:
Há uma coerência entre os lugares onde os membros de uma52
classe e até de uma fração de classe se alimentam, estudam,
habitam, passam as férias, naquilo que leem e desfrutam, em
como se informam e no que transmitem aos outros. Essa
coerência emerge quando a visão socioantropológica busca
compreender em conjunto tais cenários. A lógica que rege a
apropriação de bens enquanto objetos de distinção não é a
da satisfação de necessidades, mas sim a da escassez desses
bens e da impossibilidade de que outros os possuam (1995:
p.80)
Porém, esta diferenciação simbólica baseada no consumo
só tem um significado se for aceito por aqueles que não
possuem. Ou seja, o valor simbólico do consumir deve ser
reconhecido por aqueles que não possuem, revelando aí uma
comunicação no ato de consumir. Logo, no consumo se
constrói uma racionalidade integrativa e comunicativa de uma sociedade.
É conveniente, também, perceber as inter-relações
entre o global e o local. De acordo com García Canclini: “Oproblema principal é que o capitalismo desenvolve suas
tendências expansivas necessitando, ao mesmo tempo, homogeneizar
e aproveitar a multiplicidade” (2003: p.47).
As empresas devem concordar com a dinâmica que
articula o global homogeneizado e transnacional e o local
identitário e diferenciador. Assim como as pessoas escolhem
o que faz sentido para elas em negociações interculturais,
elas também fazem uma negociação no âmbito global e local.
Escolhem o que do local faz sentido, e o que do global faz
sentido, e quando fazem sentido. As empresas podem se
53
comportar de diferentes formas neste cenário. Há aquelas
empresas globais, que vendem a imagem do transnacional, do
sem território, do integrador e universal. Estas podem se
adaptar ao contexto local, mas sem se distanciar demais da
sua “essência” global. Há aquelas que, sendo locais, vendem
uma imagem regional, que muitas vezes não é percebida, já
que é justamente vendida para as pessoas imersas na cultura
regional. Já um terceiro tipo, é global, porém vende
associa sua imagem de marca com os elementos de uma cultura
específica (os elementos que convém).
Em suma, é interessante compreender que o consumidor
se comporta de modos diferentes para contextos diferentes
de consumo. Ele não abandona o local nem o global, assim
como a globalização não extingue o local ou global. O
consumidor intercultural seleciona e relaciona aquilo que
lhe é ofertado da mesma forma que o faz com as culturas.
Mais do que isso, a interculturalidade é ratificada no
consumo, notada a relação entre empresas globais e empresas
globais, e até a relação global-local dentro de uma mesma
empresa.
A interculturalidade é mais que uma realidade em um
mundo globalizado, ela define este fenômeno no seu âmbito
cultural e comunicacional. As diferenças culturais entram
em choque, gerando, em consequência, frenéticos diálogos e
negociações. A globalização sem dúvidas aproxima as
sociedades, mas esta aproximação pode, muitas vezes, ser
destruidora e injusta. Para que os diálogos sejam pacíficos54
e proveitosos, uma mediação crítica para que os mais
poderosos política ou economicamente não lesem a outra
parte se faz necessária. E, o primeiro passo para esta
mediação crítica é justamente entender as dinâmicas da
globalização e os modos diferentes como ela se articula em
cada contexto cultural, sem se prender a o que se imagina
uma globalização exclusivamente integradora e
homogeneizadora.
A Turma da Mônica Jovem é um campo rico de negociações
interculturais. A pesquisa tem como objetivo investigar
esta manifestação cultural que faz uma ponte entre a
cultura brasileira e a nipônica. As reflexões teóricas
deste capítulo tiveram a função de guiar a análise dos
gibis, ancorada em uma percepção abrangente do fenômeno
globalização. Assim, essas relações interculturais não
podem ser entendidas como descaracterização de uma cultura,
ou a anulação das diferenças. Tampouco podem ser entendidas
como processos isolados da cultura brasileira. O que deve
ter a função de catalisador das análises é o entendimento
da interculturalidade dos gibis Turma da Mônica Jovem com o
mangá tradicional japonês como um processo de trocas,
influenciadas pela natureza das culturas envolvidas, assim
como estratégias mercadológicas, interesses políticos e
econômicos do Brasil pelo Japão, etc. Desta forma, poderá
ser extraída uma análise valiosa deste diálogo que traz
tantos resultados positivos em termos de mercado e cultura
jovem.
55
3 A base para análise: o mangá do japão
Neste capítulo, pretende-se refletir acerca do produto
midiático mangá, em uma perspectiva intercultural, sendo
56
que, para isso, serão estudadas suas intersecções em outras
áreas de conhecimento – não só em relação a cultua, mas a
economia e a história –, assim como suas intersecções com
outras manifestações culturais com as quais estabelece um
diálogo – principalmente o animê –, delimitadas a
pertinência em prol da posterior análise do corpus.
Portanto, o mangá, em sua forma e conteúdo, será encarado
descritivamente, e brevemente relacionado à sociedade
japonesa, com sua cultura como pano de fundo. Não obstante,
a história do Japão e história do mangá serão estudadas em
seu entrelaçamento curiosamente estreito. Posteriormente,
alguns aspectos da viagem do mangá na travessia cultural
Oriente-Ocidente serão traçados.
Em seguida, apresentamos explicações sobre as obras
que servirão de base comparativa à análise do corpus no
capítulo seguinte. As séries de mangá japonesas Naruto, de
Masashi Kishimoto, e Bleach, de Tite Kubo, foram escolhidas
como referencia do diálogo intercultural devido à sua
popularidade tanto no Japão como no Brasil – eles são um
típico exemplo de mangá que pertence ao gênero shonen
(aventura-ação, voltado para crianças e pré-adolescentes),
gênero este que particularmente faz muito sucesso no
Oriente. Além disso, eles dispõem de maior diversidade de
elementos em suas narrativas a serem analisados, pois os
dois têm suas narrativas desenvolvidas em épocas distintas
do Japão: Japão feudal (Naruto) e Japão contemporâneo
(Bleach). As estéticas do desenho, formas de publicações,
57
estilo das narrativas, características das personagens,
serão pautas de reflexão, para melhor entender o corpus que
representa o mangá japonês.
Conforme já mencionado anteriormente, mangá é o nome
dado a histórias em quadrinhos originadas no Japão, porém,
passou a se referir a uma determinada manifestação
cultural, com um pacote de características únicas e
específicas, como o traço das figuras, as técnicas de
desenho e a dinâmica visual da narrativa. O mangá tem suas
origens na sociedade japonesa e fez-se profundamente
presente em sua história e cultura: ao mesmo tempo em que
nutre relações com a arte da época feudal do Japão, é de
extrema importância ainda hoje na formação identitária do
Japão contemporâneo. Este tipo de história em quadrinhos é
tão presente no arquipélago que são consumidos praticamente
por qualquer tipo de público, independente do sexo, faixa
etária ou poder econômico.
Nas últimas décadas, o mangá tornou-se um sucesso
também no cenário internacional. Por exemplo, no setor
global de animações, filmes como Kill Bill, Matrix, As
Panteras, Missão Impossível e Guerra nas Estrelas já
ganharam suas versões com a linguagem mangá. Contudo, esta
exportação cultural, possibilitada pela globalização, foi
passível de um processo de adaptação, vistas as barreiras
culturais Japão – Ocidente. Ele conquistou o gosto dos
jovens do ocidente por meio, principalmente, dos animês.
Animês são produções de animação audiovisuais que se58
utilizam da estética mangá, e muitas vezes são paráfrases
de séries de mangá (impressas). Os estudos desta pesquisa
são norteados pelo mangá como publicação impressa, mas é
imprudente ignorar todas as manifestações transversais que
tornaram possível a sua entrada para outros países além do
Japão. A estética mangá está muito além do mangá impresso:
está nos animês, nos games (com setor bem desenvolvido no
Japão), cardgames, roupas, acessórios, pelúcias, bonecos
colecionáveis, eventos de fãs, e outros tipos de produtos e
serviços.
É válido mencionar que a recorte da história do mangá,
do seu significado cultural no Japão e mundo, e a
apresentação de dois modelos de mangá que fazem
considerável sucesso no Brasil e Japão, estão a serviço da
análise do Mangá Turma da Mônica Jovem. Destaquemos que o
corpus da pesquisa consiste na obra de Maurício de Souza, e
não nos mangás Bleach e Naruto, tendo esses últimos a função
única de servir como referência para a análise do gibi da
Turma da Mônica Jovem. Por isso, basta-se aqui a
consideração de elementos que favoreçam e enriqueçam a
comparação com a Turma da Mônica Jovem.
3.1 Mangá: do Japão ao mundo
Mangá é o nome ocidental que se refere às histórias em
quadrinhos originadas no Japão. Com o tempo, a palavra
mangá passou a significar um estilo característico de59
histórias em quadrinhos, o qual inclui técnicas para
desenhar (geralmente tinta Nanquim), tipo de traço das
personagens (olhos desproporcionalmente grandes, expressões
faciais exageradas, partes de animais em seres humanos,
olhos e cabelos extravagantes, etc.) e cenário (muito mais
detalhados que as clássicas histórias em quadrinhos
ocidentais), desenvolvimento visual da narrativa (dinâmico,
dramático, vários ângulos desenhados), formato das
publicações (que variam desde os aqui conhecidos “volumes
de bolso” até formato A4), forma de leitura (direita-
esquerda, concordante com sentido de leitura japonesa),
linguagem (geralmente em kanjis, uma espécie de linguagem em
ideogramas), etc. Portanto, segundo as noções apresentadas
neste trabalho, quando se refere ao mangá, não se refere
estritamente a histórias em quadrinhos produzidas no Japão
– já que não faz mais sentido limitar características
culturais a territórios – e sim ao tipo de manifestação
cultural, que se denomina mangá, quando atende a todas as
características que o definem.
O mangá é tão presente no Japão que é quase impossível
pensar em cultura japonesa sem se lembrar das famosas
histórias em quadrinhos. Ele é consumido por crianças, pré-
adolescentes, universitários, executivos, donas de casa, e
até mesmo por idosos. É importante destacar que a indústria
japonesa de mangás é extremamente estratificada. Há séries
de mangá destinadas a públicos femininos e masculinos de
quase todas as faixas etárias: pré-escolar (3 a 6 anos),
60
infantil (7 a 11 anos), adolescentes (12 a 18 anos), jovens
adultos (19 a 25 anos), adultos (26 a 45 anos) e idosos (46
anos em diante). O governo não tem um forte controle sobre
censura no mangá, já que os públicos por si só procuram os
tipos de mangás referentes aos seus grupos etários. Os
mangás têm seu conteúdo muito específico para seu público.
Por exemplo, os mangás infantis contam com desenhos mais
simples, arredondados, fantasiosos e muitas vezes com
caráter didático; já os mangás para adultos, os
“sararimen”, mostram o cotidiano de homens de família e
suas histórias no trabalho, nas reuniões de amigos, e nos
problemas da família, oferecendo uma oportunidade para o
adulto japonês se distanciar por breves momentos de seu
dia-a-dia. Para entender um pouco do sucesso do mangá,
aproximadamente 25% das vendas de livros no Japão são de
volumes de mangá (2011), e aproximadamente 50 % do papel
produzido no Japão é para a impressão destas histórias em
quadrinhos (VASCONCELLOS: 2006). Grande parte desse sucesso
existe porque o mangá tem suas origens enraizadas na
história e na cultura do povo japonês. O mangá japonês
apresenta um grande montante de elementos culturais e
históricos de seu povo.
Antes de prosseguir na relação entre o japonês e o
mangá, é de muita valia apresentar um pouco das suas
transformações ao longo da história. Muito do estilo de se
fazer mangá tem suas fontes nas pinturas artísticas
japonesas da época feudal do país. No século XII, o emaki-
61
mono, uma gravura de dez metros de comprimento em rolo,
que, quando desenrolada apresentava uma narrativa, tinha em
suas pinturas um traço muito parecido com os desenhos do
mangá. Entretanto, as histórias em quadrinhos só se
tornaram parecidas com o que são hoje em dia em meados do
século XIX, logo após na Restauração Meiji (VASCONCELLOS:
2006).
A Restauração Meiji (1853) foi a época em que o Japão
abriu suas fronteiras políticas, econômicas e culturais ao
resto do mundo. Nos anos anteriores, o país se manteve
recluso e imerso em guerras interna, pois a coexistência de
vários shogunatos (divisões de terras muito semelhantes aos
feudos da Idade Média ocidental) e o enfraquecido poder
centralizador do imperador denunciavam um sistema de poder
extremamente fragmentado que fomentava sangrentas guerras
civis. O cenário de guerras só acabou no momento em que,
por pressão internacional, o Japão se abriu ao Ocidente e
restaurou o poder do imperador. A época que seguiu a
Restauração recebeu o nome de Era Meiji (SATO: 1995).
A Era Meiji foi a ponte entre um Japão feudal e um
Japão moderno, portanto, foi uma época de grandes
turbulências (SATO: 1995). O contato do Japão com as outras
culturas, principalmente as ocidentais, nunca foi tão
intenso. A economia do Japão sofreu grande evolução, já que
qualificava seus estudantes em competentes instituições de
ensino ocidentais. Não obstante, a cultura foi palco de
muitas mudanças. O Japão não só importou elementos62
culturais de outras nações, mas também exportou muito de
sua cultura para o mundo, por meio não só do fluxo de
informação, mas principalmente pelo fluxo de pessoas, nos
dois sentidos (Ocidente-Oriente/Oriente-Ocidente). Então, o
intercâmbio cultural mostrou ao Japão os cartuns, que fariam
parte das bases do mangás. Sonia Luyten escreveu:
Wirgman saiu de Londres para o Oriente, em 1857, como
correspondente especial do Illustrated London News.
Em 1859, chegou ao Japão, casou-se lá e fixou
residência permanente. Em 1862, editou uma revista de
humor, Japan Punch, e introduziu os japoneses no
universo das charges políticas: ‘os cartuns
jornalísticos eram um novo tipo de humor e arte para
os japoneses e tão fascinados ficaram que até
editaram uma versão traduzida do Japan Punch.’
Wirgman é hoje considerado o patrono da moderna
charge japonesa e a cada ano é realizada uma
homenagem em seu túmulo em Yokohama. Wirgman
frequentemente usava balões em suas charges e Bigot,
por sua vez, os arranjava em sequência, criando um
padrão narrativo. Esse é um momento importante na
evolução histórica dos mangás, quando houve a fusão
de uma longa tradição com a inovação, desaguando no
nascimento das histórias em quadrinhos como veículo
de comunicação (1991, p.101).
Já no início do século XX, o ilustrador Rakuten
Kitazawa, influenciado por Wirgman, começou a criar
quadrinhos seriados com personagens regulares, e denominava63
seu trabalho de mangá. Sobre o significado da palavra
mangá, Vasconcellos explica:
A palavra mangá significa rabiscos descompromissados,
ou ainda imagens involuntárias, expressão que reflete
muito bem o caráter gráfico de formas sintéticas,
caricaturizadas e muitas vezes espontâneas presente
no mangá desde sua pré-história (2006, p. 19).
A temática do mangá até essa época era exclusivamente
adulta, visto que tratava de críticas política e economia
japonesas. Somente na década de 20, o mangá começa a ganhar
histórias voltadas para o público infantil. Neste momento
ocorre um distanciamento com os cartuns ocidentais. Luyten
prossegue:
Essa tendência continuou: quadrinhos traduzidos têm
pouca oportunidade de sucesso. Os artistas japoneses
desenvolveram seu estilo próprio, único e bem nativo,
e os leitores passaram a olhar os quadrinhos europeus
e americanos como ultrapassados, sentindo dificuldades
em se relacionar com eles. Além disso, as diferenças
de costume e cultura eram também uma barreira para a
identificação com as situações e os heróis (1991, p.112).
Com a quebra da bolsa americana em 1929, o mangá foi
vítima do início de uma difícil crise. A Grande Depressão
foi a força-motriz de temáticas pessimistas, que eram
constantemente atacadas pelo recém-surgido governo
nacionalista. Nesta época, no Japão, o mangá infantil e
64
adulto foi dividido rigidamente, assim como o mangá
feminino e masculino, herança que permanece até hoje. Com a
Segunda Guerra Mundial, a produção de mangá foi quase
extinta. O governo ultranacionalista julgava o mangá como
desperdício de recursos econômicos – ou liberdade de
expressão indesejada –, e só permitia que fossem produzidos
mangás com propaganda militar (VASCONCELLOS: 2006).
O fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota do Japão,
aliados às devastadoras bombas atômicas lançadas em
Hiroshima e Nagasaki, traumatizaram fortemente a sociedade
japonesa. Nasceram neste período os akai hon (literalmente
livrinhos vermelhos), que eram livrinhos de mangá de capa
vermelha, vendidos por preços muito baixos – para se
adequarem à devastada economia japonesa. As forças norte-
americanas permitiam que eles produzissem os livrinhos,
contanto que não criticassem os EUA. O mangá tomou forças
neste momento, já que dali em diante os japoneses tiveram a
liberdade de expressão que lhes fora negada na Guerra
(VASCONCELLOS: 2006).
O Japão, após a Segunda Guerra, foi protagonista de um
intenso desenvolvimento econômico, e hoje faz parte do
Primeiro Mundo. O mangá acompanhou este desenvolvimento, e
se tornou uma das manifestações culturais mais importantes
no Japão, tanto em fins mercadológicos como artísticos. A
exportação do mangá do Japão para o mundo se deu somente no
fim do último século XX, e no início do século XXI. Porém,
a estética mangá, presente nos animês e games, foi65
importada décadas antes. Estes processos de inserção da
estética mangá no Brasil ainda serão posteriormente
explanados.
Como já explicado, o mangá se apresenta em vários
formatos, dependentes do público a que são destinados. O
gênero de mangá que faz sucesso no Brasil é o shonen (ação,
voltado para meninos) e, portanto, serão privilegiadas as
características do citado gênero. No Japão atual, o mangá
está sujeito a dinâmicas peculiares. Na maior parte dos
casos, os mangás que são vendidos em livrarias e bancas de
jornal são publicados em formato A4 a preços muito baixos,
pela sua natureza descartável. Essas publicações,
geralmente semanais, têm entre 400 e 500 páginas, contando
com vinte histórias de autores diferentes. A cada mês a
editora publica uma pesquisa de satisfação acerca das
histórias. As histórias mais populares têm continuidade e
as menos populares são substituídas por outras, de outros
autores, dando rotatividade de histórias e autores
(VASCONCELLOS: 2006). Algumas histórias são tão bem
sucedidas, que recebem reedições definitivas, mais caras e
de maior qualidade de impressão. A cada semana, um capítulo
(por volta de 20 páginas) é lançado, e alguns capítulos
compilados (por volta de 10), por sua vez, formam volumes.
Um volume tradicional consiste em um livro com dimensões
por volta de 18 cm x 12 cm, com capa ilustrativa. Os
volumes têm números sequenciais, e juntos, formam a
narrativa completa. A duração das narrativas pode variar
66
muito em número de volumes, mas é importante notar que eles
não apresentam histórias independentes: são somente partes
integrantes da história completa. É esse tipo de publicação
em volumes que é exportado e consumido pelo resto do mundo.
Os mangás são geralmente em preto e branco, já que o
autor desenha com tinta Nanquim, mas podem apresentar
páginas coloridas especiais.Os cenários das narrativas em
mangás são minuciosamente desenhados, com extremo
detalhamento, diferentemente das histórias em quadrinhos
ocidentais que privilegiam o plano onde ocorre a ação e não
os outros planos do cenário (Fig. 1). Não se pode ignorar,
entretanto, as grandes diferenças no traço se levarmos em
conta a divisão estrita de público na indústria de mangás.
Vasconcellos exemplifica:
Um mangá para meninas adolescentes (shoujo mangá), por
exemplo, terá um traço mais leve, suave, delicado, e
efeitos visuais como flores, estrelas, penas encherão
a página, buscando refletir o estado emocional das
personagens; pouca atenção será dada para os cenários
também. Já mangás para meninos (shounen mangá) terão
desenhos mais carregados, grossos e dinâmicos. A
atenção aos detalhes é mais cuidadosa, uma vez que
nas histórias geralmente ocorrem grandes cenas de
batalha ou conflitos interpessoais. A ação éa palavra
de ordem no shounen mangá (2006, p. 28).
67
Figura 1 - Cenário no mangá.
Fonte:
http://images.wikia.com/naruto/images/6/6c/Kirigakure.PNG
Além das peculiaridades do desenho, a dinâmica dos
quadrinhos também mostra-se diferente da ocidental. Os
quadrinhos ocidentais se detêm em mostrar a cena de um
ponto de vista fixo, sem cenário com muito detalhamento,
para que a ação esteja livre de interferências e se
explique do modo mais resumido possível. De acordo com a
68
professora Santo:
uma ação em uma HQ ocidental poderia ser descrita em
um ou dois quadrinhos, no mangá pode ocupar várias
páginas. Nos mangás as cenas são apresentadas sob
diferentes ângulos. Em uma cena de luta, mostra-se
uma mesma ação em câmera lenta, a visão dos outros
personagens e a aproximação até o momento do choque
(2011, p.10).
Finalmente, o mangá apresenta duas características
oriundas da leitura japonesa. A primeira é que o mangá é
lido do sentido direita-esquerda, coincidente com o padrão
de leitura oriental. A segunda é o uso de kanjis (ideogramas
japoneses) (Fig. 2), além do tradicional alfabeto katagana
e hiragana, na matéria escrita do mangá. Os sistema de kanjis,
que conta com um dicionário de mais de mil ideogramas,
apresenta extrema complexidade e é pré-requisito para uma
boa formação acadêmica de um estudante japonês. Alguns
mangás oferecem uma tradução para outro sistema japonês de
escrita, principalmente para crianças.
Figura 2 - A linguaguem do mangá.
69
Fonte:http://iradio.liveradio.com.br/noticias/conheca-o-
universo-dos-animes-e-mangas/
Acerca da temática das narrativas, o mangá passa pode
ser de romance, comédia, terror, suspense, ficção
científica, aventura, drama, policial, entre inúmeros
outros gêneros possíveis. E é indispensável notar que o
mangá tem um intenso caráter educativo para os jovens
japoneses. Ele pode ensinar desde biologia, física,
história (de uma forma impressionantemente precisa), até a
própria língua japonesa. (VASCONCELLOS: 2006).
Obviamente, como toda a comunicação é produto
cultural, o mangá reflete elementos culturais do Japão em
suas narrativas constantemente. Nas histórias, podem ser
inseridos personagens históricos ou seus equivalentes na
ficção, seres da mitologia e folclore japonesa, elementos
oriundos do budismo, etc.70
Como um produto cultural e também midiático, o mangá
permeia a sociedade japonesa, tanto em seu formato original
como na reverberação em manifestações culturais paralelas.
Como exemplo, de todas as revistas vendidas no Japão, 20%
são sobre mangá (2011). Porém, é importante notar as mais
importantes manifestações paralelas: os games e animês. É
praticamente obrigatório uma série de mangá de grande
sucesso ganhar sua versão game (jogo eletrônico) e animê,
ambos relacionados a poderosas indústrias no Japão. Os
animês serão de uma particular importância neste trabalho,
por terem facilitado a abertura do mangá para o mundo.
Animês são adaptações das séries de mangá para animações
audiovisuais, conhecidos como desenhos animados. Um estúdio
de animação compra os direitos de exibição da obra na
televisão, vídeo e cinema e inicia a produção da animação,
passando uma parte dos lucros para o autor. O animê
acompanha o roteiro original de maneira relativamente fiel,
porém, pode fazer uso de episódios discordantes da história
original (fillers), para que haja necessário distanciamento
das exibições do animê e publicações do mangá. A série de
animê é dividida em temporadas, que por sua vez são
divididas em episódios exibidos semanalmente pelas
emissoras japonesas, ampliando o público atingido. A
estética se mantém coerente com a estética do mangá, apesar
de não fazer mais uso dos kanjis, e utilizar um espectro de
cores que não se limite ao preto e branco.
Com um entendimento ampliado do que é e de como é a
71
estética mangá e sua relação com o povo japonês, pode-se
pensar adequadamente no mangá produto midiático de
exportação. De acordo com o Instituto de Pesquisa Marubeni,
as exportações de mangás cresceram por cerca de 300% de
1992 a 2002. No Brasil, o mangá teve seu sucesso efetivado
somente no fim do século XX e começo do século XXI, apesar
de ter suas origens construídas décadas antes.
No começo do século XX, o Brasil recebeu a imigração
de vários japoneses. Eles imigravam devido as grandes
mudanças na sociedade japonesa que passava pela Era Meiji.
As colônias foram estabelecidas principalmente entre o
Paraná e sul de São Paulo, onde desfrutariam de um clima
similar a sua terra natal (VASCONCELLOS: 2006).
A população nipo-brasileira ultrapassa um milhão de
pessoas e sem dúvidas tem grande papel na formação
identitária do Brasil. Devido às visivelmente gritantes
diferenças culturais, os japoneses, para preservar as
tradições culturais, se isolaram e colocaram seus filhos em
escolas especiais construídas por eles próprios, a fim de
preservar a educação tradicional japonesa. A maior
preocupação era em manter a língua natal, que era falada em
casa. Deste modo, as crianças, além da escola, dispunham de
outros elementos para um contato com a língua como livros e
os mangás, que supriam de forma lúdica as possíveis falhas
na absorção da língua japonesa (LUYTEN: 1991).
Nas primeiras décadas do século XX, o mangá chegava ao
72
Brasil sutilmente, para manter o contato entre o imigrante
e as noticias e mudanças na sociedade japonesa. Vários
sebos foram abertos nas comunidades de imigrantes,
oferecendo revistas, livros, e os mangás (VASCONCELLOS:
2006).
Porém, somente a partir da década de 60 o mangá ganhou
algum espaço nas publicações brasileiras. Vários artistas
se utilizavam a linguagem do mangá em suas criações,
conquistando jovens e crianças. Em 1984, foi fundada a
Abrademi, a Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e
Ilustrações. Mais tarde, clubes e associações de
apreciadores de mangás se formaram por todo o Brasil, com
direito a revistas em quadrinhos criados por fãs
(VASCONCELLOS: 2006). Contudo, a invasão definitiva só
aconteceu posteriormente, e foi por meio da televisão.
O Japão da década de 80 já era um Japão bem sucedido
economicamente, e, devido à política de exportação do Japão
da época, vendia ao mundo os animês, já que possuía um bom
sistema de transmissão televisiva.
O animê provocava impacto no mercado estrangeiro,
dadas a melhor qualidade e a oferta de uma dinâmica visual
nunca vista no Ocidente, algo que chamou muito a atenção
das crianças e jovens. Os animês tornaram-se populares, e
começaram a movimentar um mercado adjacente de produtos
licenciados, como camisetas, lancheiras, brinquedos, entre
outros. No início da década de 90, muitos animês já haviam
73
sidos exibidos nas manhãs infantis, mas nenhum teve uma
popularidade que rivalizasse com os desenhos ocidentais,
com o exemplo dos da Disney (VASCONCELLOS: 2006).
No entanto, em 1994, foi exibido o animê Cavaleiros do
Zodíaco, que se tornou rapidamente um fenômeno de
popularidade entre os jovens e crianças. Coerente com o
recém-aumento do poder de consumo do brasileiro, o desenho
conquistou definitivamente o gosto das crianças.
Na mesma onda, vários outros animês foram produzidos,
e mais do que conquistar as crianças, ensinaram a elas a
linguagem do mangá. Revistas sobre os animês e mangás foram
lançadas, como Herói, Animax e Anime Dô, e deste modo, os
espectadores dos animês aprenderam sobre os mangás
impressos, a origem dos desenhos que tanto gostavam. Só
assim foi possível a entrada do mangá no gosto do
brasileiro, em grande parte devido ao fato de que o animê
já teria feito o papel de acostumá-lo à linguagem. Foi
assim que a partir de 2001, as editoras começaram a
traduzir o mangá para o português.
Hoje, o mangá tem parte indissociável da vida da
criança e jovem brasileiro. Nas palavras de Vasconcellos:
Com muita frequência, vê-se nos colégios e em
casa crianças desenhando seus personagens de animê
favoritos (Pokémon, Dragon Ball...), imitando as
atitudes de seus ídolos de papel e celuloide,
bradando nomes de golpes absurdos em meio a lutas de
74
mentirinha.
Já os adolescentes, de maneira geral, vão a
encontros e convenções nacionais e regionais de animê
e mangá (AnimeCon, em São Paulo) e se fantasiam de
seus personagens favoritos (Cosplay). Há também uma
procura crescente por cursos de língua japonesa e
cursos de desenho que ensinem como desenhar um mangá
(2006, p. 28).
Os animês certamente fazem parte da vida das crianças
brasileiras, e são exibidos em diversas emissoras de
televisão abertas e pagas. Porém, são os adolescentes que
procuraram o mangá impresso, e a maioria o fez por conhecer
o animê. Neste sentido, a Internet foi uma valiosa
ferramenta para que o público adolescente pudesse ter
acesso à continuidade dos animês (não são todos os
episódios que são comprados pelas emissoras) e aos mangás.
Esta procura do adolescente permitiu que ele se
aprofundasse em outros elementos da cultura japonesa.
Porém, é importante notar as adaptações que o animê e mangá
sofrem no trajeto Japão-Ocidente. As emissoras de televisão
compram os episódios dublados para exibição, assim como as
editoras publicam o mangá traduzido para português. Neste
processo há um inevitável ruído. Toda a mensagem, para que
seja transmitida do emissor para o receptor, precisa passar
por uma codificação por parte de quem emite e uma
decodificação por parte de quem recebe. No código estão as
leis que regem os processos de codificação e decodificação.
75
Cada código tem sua abrangência de significações (se acordo
com os sintagmas e paradigmas), que nunca é igual a outros
códigos. Por esse motivo, quando se transforma um código em
outro, muita informação é perdida, já que alguns signos de
um código simplesmente não têm correspondência em outro.
Deste modo, há palavras, onomatopeias, expressões, que não
tem seu equivalente no português. Portanto, parte das
significações são perdidas no processo de tradução, devido
a barreira da linguagem.
Outra adaptação se faz na censura e faixa etária
recomendada. Nos mangás importados pelo Brasil, há cenas de
violência que são constantemente criticadas por psicólogos
infantis. Este é um problema originado da diferença
cultural. No Japão, como já mencionado, as publicações de
mangás e animês são heterogeneamente estratificadas, mas
não por meio de fiscalização, mas por uma espontânea adesão
do público-alvo ao material destinado a ele. Contudo, no
Brasil, as histórias em quadrinhos são geralmente
associados ao público infantil exclusivamente. Deste modo,
os animês que são publicados na televisão sofrem diversas
censuras para se adequarem ao público brasileiro
(VASCONCELLOS: 2006).
3.2 Bleach e Naruto: mangás feitos no Japão e traduzidos
para o mundo
Como já mencionado anteriormente, as séries de mangá76
são divididas de acordo com a faixa etária e sexo do
público. Além disso, elas podem se apresentar nos mais
diversos gêneros. Como no Brasil, o mangá ainda atinge
principalmente a criança e o jovem, o mangá shounen, também já
mencionado, foi escolhido por sua popularidade não só no Japão,
mas também no Brasil. Os mangás shounen são séries geralmente de
grande extensão, e apresentam uma temática de ação-aventura, com
vários elementos fantasiosos.
Bleach e Naruto foram escolhidos entre os mais populares, pois
apresentarem perspectivas distintas do Japão. Naruto tem sua
história em um Japão feudal fictício, e Bleach apresenta uma
narrativa em um Japão contemporâneo e urbano.
3.2.1.Sobre Naruto
Naruto é uma série de mangá criada por Masashi
Kishimoto em 1999. Desde então, conta com capítulos
serializados na revista semanal Shonen Jump. Em 2002, o
animê de mesmo nome começou a ser produzido pelo Studio
Pierrot e Aniplex e exibido na TV Tokyo. A série ainda está
em andamento, e atualmente no volume 61 no Japão.
Naruto começou a ser publicado em 1990 nas revistas
descartáveis com o sistema mensal de rotação já mencionado.
Já que teve grande sucesso popular mostrado nas pesquisas,
o autor Kishimoto teve crédito para lançar a série
definitiva chamada Naruto. Foram vendidas mais de 10077
milhões de cópias no Japão até o volume 50, e com isso
Naruto se tornou o quinto mangá da Shonen Jump a alcançar
esta marca1. Em 2006, o sétimo volume de Naruto ganhou o
prêmio pelo “Best Graphic Novel” do Quill Awards de acordo com o
Icv2. Em 2007, o volume catorze ganhou o prêmio de “Manga
Trade Paperback of the Year” de acordo com o Animenewsnetwork. Em
2008, o volume 28 de Naruto foi o mais vendido de todos os
mangás2. Já foram lançados alguns filmes de Naruto, vários
games, cards colecionáveis, artbooks, databooks, e outros
produtos licenciados. Estes dados dão pistas de como Naruto
é popular no Japão: geralmente disputa com os mangás mais
lidos e animês mais assistidos nos rankings de vendas e
ibope.
Os volumes de mangá, no Brasil, são publicados pela
editora italiana Panini Comics. Eles têm o formato 13,7 x
20cm, custam R$ 9,90, têm periodicidade mensal e sua
distribuição é setorizada, portanto, é distribuido
primeiramente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e,
depois, para resto do país. A Panini Comics também oferece
um sistema de assinatura. A editora lançou uma reedição
chamada Naruto Pocket, que difere no formato dos volumes,
desta vez, fiéis ao formato das publicações no Japão (11,4
x 17,7cm).
No Brasil, o animê de Naruto passou a ser exibido nos
canais Cartoon Network e SBT a partir de 2007. Os episódios
1 Site Comipress
2 Site Icv278
foram dublados e algumas cenas censuradas, para que
pudessem ser adequados para o principal público no Brasil,
infantil, mais jovem que no Japão.
Figura 3 – Capa da primeira edicão de Naruto no Brasil.
Fonte:http://www.guiadosquadrinhos.com/edicao.aspx?
cod_tit=na011100&esp=&cod_edc=31739
A narrativa de Naruto se passa na época do Japão
feudal, mas em um cenário fictício e repleto de elementos
fantásticos, por exemplo, apesar de ambientada na época
feudal, a narrativaconta com certos elementos tecnológicos
do século XX, como rádios, baterias e desfribiladores. O
mundo onde se passa a história é dividido em diversos
países, e os cinco países mais poderosos econômica e
militarmente comandam as dinâmicas deste lugar . Estes
cinco países têm em seus territórios vilas onde residem
79
ninjas (real soldado espião da época feudal japonesa), que
são remunerados por realizarem missões de diversas
naturezas (inclusivemissões de força militar em possíveis
guerras). Assim, o país da água é aliado à vila oculta da
névoa, o país da terra é aliado à vila oculta da pedra, o
país do trovão é aliado à vila oculta da nuvem, o país do
vento é aliado à vila oculta da areia, e o país do fogo é
aliado à vila oculta da folha.
O protagonista da história, Naruto Uzumaki, é um pré-
adolescente de doze anos, morador da vila oculta da folha,
que tem como grande sonho se tornar Hokage, o líder supremo
de sua vila. No entanto, ele é um garoto extremamente
infeliz e solitário, já que é órfão e não tem amigos, já
que quase todos da vila o rejeitam e discriminam, pois ele
tem selado em si um demônio que havia atacado a vila no
passado e causado muitas mortes. Os moradores, com medo e
raiva do demônio dentro de Naruto, passaram a rejeitá-lo.
Isto o transformou em um garoto hiperativo, barulhento e
arteiro, que faz de tudo para chamar a atenção. Assim, ele
almeja o cargo de Hokage, para ser reconhecido por todos da
vila. Ele é integrante da Academia, que treina crianças
para se tornarem futuros ninjas.
Nos primeiros capítulos, a história se desrenrola em
torno da relação de Naruto e seu professor da Academia,
Iruka Umino. Em um momento, Naruto descobre a verdade: ele
é rejeitado por ter selado dentro de si o demônio, que, lhe
é revelado dramaticamente, causou a morte dos pais de Iruka80
no passado. Contudo, no desfecho, Iruka percebe que não
deve enxergar o Naruto como um demônio, mas como um garoto
que sofreu toda a sua vida na solidão e precisa
desesperadamente de alguém que o aceite.
Naruto então se gradua na Academia e vira oficialmente
um ninja. A história se desenrola com o amadurecimento de
Naruto, e como ele reage às adversidades daquele mundo: a
discriminação da que sofre e sofreu por toda a vida, a
perda de um amigo que busca vingança, o surgimento de uma
organização criminosa, entre outros. A temática recorre
muito aos conflitos da humanidade como a discriminação, a
vingança, a Guerra, etc.
Elementos da cultura japonesa são muito presentes na
obra. Referências a feras de caudas, seres mitológicos do
folclore japonês, demônios, deuses da mitologia, filosofias
budistas, são alguns dos muitos exemplos.
Figura 4 -Naruto Uzumaki (Naruto).
81
Fonte:http://3.bp.blogspot.com/_WyPvlnOUh9A/S_1IJ4C4l_I/
AAAAAAAAABc/jlFQaFz6nWk/s1600/naruto_leaping.jpg
Naruto (Fig. 4), o protagonista, que compartilha seu
nome com o título da série, é um ninja da vilha oculta da
folha, no país do fogo. Ele tem selado dentro de si uma
criatura maligna e de muito poder chamada Kyuubi. Kyuubi
(literalmente nove caudas) é um monstro com o formato de
uma raposa de nove caudas. Foi provavelmente baseada em uma
kitsune (raposa mítica), que de acordo com a mitologia
japonesa, é um entidade em forma de raposa que ganha uma
nova cauda a cada mil anos. Quando ela consegue a nona
cauda, muda a cor de sua pelagem para dourado ou branco,
passando a ter sabedoria ilimitada e onisciência. A Kyuubi,
anos antes do início da narrativa, atacou a vilha da folha,
causando muitas mortes e destruição. Para que a vila fosse
protegida, os pais de um recém-nascido Naruto, em troca de
suas vidas, selaram o imenso poder da besta dentro do
próprio filho, para que a raposa não escapasse e causasse
82
mais problemas.
Contudo, existem oito outras feras de cauda além da
Kiuubi: o Ichibi (literalmente uma cauda), o Nibi (literalmente
duas caudas), o Sanbi (literalmente três caudas), o Yonbi
(literalmente quatro caudas), o Gobi (literalmente cinco
caudas), o Shichibi (literalmente seis caudas), o Rokubi
(literalmnete sete caudas) e o Hachibi (literalmente oito
caudas). Todas as feras de caudas são seres com grande
potencial de destruição, e, para ter seus poderes
suprimidos, geralmente são selados em ninjas, os chamados
Jinchuurikis (esta palavra possivelmente refere-se a
sacríficios humanos enterrados no solo ou afundados na água
ainda vivos como oferenda dos deuses, no Japão Antigo). Os
ninjas Jinchuurikis podem, com treinamento, utilizar-se de
parte do grande poder das feras de caudas selados em si,
tornando-se ninjas poderosos e temidos. Para que houvesse
equilíbrio de poder entre as cinco nações, os Jinchurikis
foram distribuídos o mais igualmente possível.
Entretanto, os Jinchuurikis são vítimas de grande
discriminação dentro de sua vila, pelo poder tão instável e
destruidor que têm selado dentro de si. Com Naruto não foi
diferente. Ele cresceu sem pais, sem amigos, e todos da
vila o odiavam. Essa exclusão fez com que ele se tornasse
uma criança muito hiperativa e bagunceira, na esperança de
ter um pouco de atenção para si. Porém, isto não anulava a
imensa infelicidade pela solidão da qual sofria. Então,
para que fosse reconhecido por todos e não mais odiado,83
passou a sonhar em se tornar Hokage, o líder ninja mais
poderoso da vila da folha. Assim que ele se torna
oficialmente um ninja, durante a narrativa, ele conhece
pessoas que se tornam seus amigos, e afastam sua solidão.
Ele entra para um time de ninjas, junto com Sakura Haruno e
Sasuke Uchiha, com Kakashi Hatake como professor.
Ele usa um protetor de testa com o símbolo da vila da
folha, para provar que é oficialmente um ninja da folha.
Este hábito difere dos ninjas do Japão, já que os mesmos
eram espiões que se esforçavam ao máximo para passarem
desapercebidos e conseguirem completar missões como furtos
de documentos importantes, sequestros e assassinatos; por
este motivo, não era conveniente expor seu patrono caso
fossem capturados. Além disso, Naruto apresenta três
listras em cada bochecha – uma possível referência ao
bigode de uma raposa –, confirmando o hábito do mangá de
introduzir partes de animais ou seres mitológicos no corpo
humano.
Figura 5 – Sasuke Uchiha (Naruto).
84
Fonte:http://2.bp.blogspot.com/-C1eN_d8R98Q/TYqu_i7zzpI/AAAAAAAAAGw/
3YPjF7BwuCY/s1600/nar-sasuke-uchiha1.jpg
Sasuke Uchiha (Fig. 5) é um ninja da mesma idade de
Naruto, que faz parte do mesmo time, junto com Sakura
Haruno, e o professor Kakashi Hatake. Assim que começaram a
cumprir missões juntos, Sasuke e Naruto se tornaram grandes
rivais, isto pois Sasuke sempre foi um “gênio” nas artes
ninjas, e Naruto sempre tentou alcançar seu poder para que
tivesse seu reconhecimento. Apesar de rivais, Naruto e
Sasuke se tornaram grandes amigos, visto que Sasuke também
sofrera de solidão no passado.
Sasuke é do clã Uchiha. Os clãs ninjas são famílias
que compartilham de técnicas ninjas únicas, e no caso dos
Uchiha, uma destas técnincas é o Sharingan. Sharingan são
olhos especiais capazes de várias façanhas como prever
ataques, fazer ilusões, etc. Sasuke, anos antes do início
da narrativa, vivia em paz com sua família do clã Uchiha.
Tinha uma boa relação com os pais e seu irmão mais velho
85
Itachi Uchiha, que era ainda mais gênio que Sasuke. Porém,
em uma noite, Itachi Uchiha se rebelou contra seu clã, e
dizimou todos os Uchiha, inclusive seu pai e mãe. Sasuke,
que ainda não se tinha tornado um ninja, voltando da
Academia, descobriu toda sua família morta. Itachi e Sasuke
se encontraram e, depois de uma pequena conversa em que
Itachi diz que assassinou todos só para testar seus
poderes, ele resolve poupar seu irmão, para que ele viva
uma vida de desespero. Após o incidente da extinção de seu
clã, Sasuke jura ganhar poder para que possa matar seu
irmão e vingar todo seu clã. A solidão, diferente de
Naruto, tornou Sasuke uma criança reservada e calculista.
Em determinada altura da narrativa, Sasuke, percebendo
que havia treinado tanto, mas ainda não estava sequer perto
do poder de seu irmão, decide romper os “laços” que
aplacavam o ódio que sentia, e trai a vila da Folha. Ele
abandona a vila para buscar poder com Orochimaru, um
lendário e maligno ninja fugitivo, e então, conseguir
completar sua vingança. Um dos maiores conflitos da
narrativa é Naruto tentando resgatar seu amigo Sasuke de um
caminho de vingança e ódio.
3.2.2. Sobre Bleach
Bleach é uma série de mangá criada por Tite Kubo, e
teve seu primeiro capítulo publicado na revista Shonen Jump,
em 2002. Em 2004, Bleach ganhou sua versão animê, produzido86
pelo Estúdio Pierrot e exibido na TV Tokyo. Assim como
Naruto, Bleach tem alta popularidade: ganhou o “Shogakukan
Manga Award” em 2005 e foi nomeado diversas vezes para
prêmios americanos de animê. Por sua popularidade, foi
inspiração para alguns filmes, vários games, jogo de cards
colecionáveis, além de outros produtos licenciados.
A empresa italiana Panini Comics é a responsável pela
publicação do mangá no Brasil. Bleach está atualmente no
volume 55, em lançamentos no Japão. Já os episódios do
animê são exibidos no canal Sony Spin, dublados.
Figura 6 – Capa da primeira edição de Bleach no
Brasil.
87
Fonte: http://img.clasf.com.br/2012/05/20/Bleach-Mangs-Panini-N-
1-At-20120520065415.jpg
O cenário de Bleach é o Japão contemporâneo, na
fictícia Karakura, uma cidade urbana tipicamente japonesa.
Ichigo Kurosaki (Fig. 7) é o protagonista, um jovem
estudante de quinze anos mal-humorado. Ele é órfão de mãe e
vive com o pai e duas irmãs mais novas. Em uma noite em
especial, enquanto em seu quarto, ele nota a aparição de
uma moça em sua janela, com um kimono (traje tipicamente
oriental) preto e uma espada. A moça, Rukia Kuchiki, fica
surpresa por Ichigo ser capaz de enxergá-la, algo que não
ocorria com humanos “normais”.
Eles são interrompidos por um monstro disforme que
ataca Rukia. Seriamente ferida, ela transfere seus poderes
para Ichigo, para que possa matar o monstro, algo que ele
88
rapidamente faz. Rukia é uma Shinigami (literalmente deus da
morte) epertence ao grupo de seres espirituais que têm como
missão encaminhar as almas de falecidos para o “céu”, que
eles chamam de Soul Society (sociedade espiritual). Aquele
monstro que Ichigo derrotou é um Hollow, uma alma que não
foi caminhada para a Soul Society a tempo, e, por isso, se
transformou em um monstro disforme cheio de ódio.
Rukia não entendia o porquê de Ichigo ser capaz de
enxergar os Shinigamis, Hollows e almas humanas, mas, como
havia passado seu poder para ele, ele agora tornava-se um
Shinigami substituto. Enquanto Rukia recuperava seus
poderes, Ichigo era responsável em proteger as almas dos
mortos e vivos dos Hollows.
A história se desenrola com Ichigo se aventurando por
diversos locais espirituais para deter um inimigo, que
desejava o poder para governar todo o reino espiritual. Ela
transborda de elementos da cultura japonesa, porém,
diferente da natureza de Naruto: são Shinigamis, filosofias
espirituais, etc.
Figura 7 – Ichigo Kurosaki (Bleach).
89
Fonte: http://www.renderat.com/renders/bleach-ichigo-
kurosaki.png
No desenrolar da história, ele descobre que algunsamigos de escola também desenvolvem poderes espirituais, eos ajudam em diversas aventuras como invadir a Soul Societypara salvar Rukia de uma execução, ou invadir o Hueco Mundo(espécie de purgatório) para salvar sua amiga que ésequestrada.
Os Shinigamis estão presentes em lendas da culturajaponesa, assim como em outras séries de mangás, animês egames. Eles são entidades, similares à figura conhecida noOcidente como A Morte, com a função de guiar as almas dosmortos para o mundo espiritual.
4 Turma da mônica jovem: cultura japonesa de olhos puxados
Turma da Mônica Jovem é uma série de gibis em estilo
mangá, do desenhista brasileiro Maurício de Souza. Ela foi
90
inspirada na famosa Turma da Mônica, gibis também criados
por Maurício, porém, com diferenças na faixa etária dos
personagens (adolescentes e não mais crianças), diferenças
nas narrativas, e na forma do desenho e publicações. O
lançamento oficial da Turma da Mônica Jovem ocorreu na 20ª
Bienal Internacional do Livro de São Paulo, entre os dias
14 e 24 de agosto de 2008 (RAMOS, 2008b). A expectativa era
que a tiragem inicial da primeira edição fosse de 80 mil
exemplares, dobrada após uma pesquisa de mercado. A tiragem
acabou sendo de 230 mil exemplares, maior do que a primeira
edição da Turma da Mônica, de 200 mil exemplares, publicada
quando os quadrinhos eram a quarta mídia mais popular entre
os jovens no Brasil, superando mesmo o cinema (ANSELMO,
1975, p. 114).
4.1 Turma da Mônica infantil
Os gibis da Turma da Mônica começaram como tiras em
quadrinhos para o jornal Folha, em 1959. Durante os dez
anos seguintes, as tiras de jornal apresentavam vários
personagens, alguns deles conhecidos até hoje. Na década de
70, nasceram os gibis propriamente ditos. Isso possibilitou
a criação de um grande sistema de trabalho de equipe, além
do licenciamento de vários produtos. A partir daí, a turma
se expandiu, tanto nos personagens, como na abrangência de
mercados que atendia. As revistas de quadrinhos cresceram
muito em vendas, conquistaram uma grande rede de produtos
91
licenciados, houve projetos de animação, tradução e
publicação no exterior das historias, construção de parques
temáticos, etc. 3.
Hoje em dia, a marca Turma da Mônica tem um peso
consolidado no mercado, e seus personagens (que além dos
gibis, já estão na comunicação televisiva, publicitária,
entre outras) são conhecidos e reconhecidos não só pelo
atual público infantil, mas pelas gerações que participaram
do quase meio século de publicações.
Nos gibis Turma da Monica, há vários núcleos de
personagens, cada um com seus integrantes e cenários
específicos. Várias turmas existem além da Turma da Mônica
principal, como, por exemplo, a Turma do Chico Bento
(cenário rural), Turma do Horácio (cenário pré-histórico),
Turma do Penadinho (cenário de terror), Turma do Astronauta
(cenário de espaço sideral) e Turma da Tina (adolescentes).
A Turma da Mônica principal tem como cenário o bairro do
limoeiro, um bairro de São Paulo com equilíbrio entre o
urbano e a natureza e áreas de lazer para crianças. A Turma
da Mônica conta com quatro personagens principais: Mônica,
Cebolinha, Magali e Cascão (Fig. 8).
Figura 8 - Turma da Mônica. Da direita para a
esquerda: Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali.
3Site Oficialda Turma da Mônica92
Fonte: http://blogamos.com/imagens/turma-da-monica-site.jpg
Mônica é uma menina de sete anos que vive no bairro do
Limoeiro (provavelmente inspirado da região paulistana
Bairro do Limão), e tem o título de “dona da rua”, devido a
sua grande forca física. Ela tem um temperamento explosivo
e costuma bater naqueles que a provocam. Apesar disso, tem
um relacionamento bastante amigável com outras crianças,
inclusive Magali, sua melhor amiga. Tem um coelho de
pelúcia chamado Sansão, que usa para bater nos meninos que
costumam provocá-la, chamando-a de “gorducha” ou “dentuça”.
Já Cebolinha é o menino de cinco fios de cabelo, rival de
Mônica. Costuma desenvolver planos para tentar tomar o
lugar de Mônica como “dona da rua”. Tem um jeito peculiar
de falar, trocando o R pelo L. Seu melhor amigo é
Cascão,que sempre acaba ajudando Cebolinha nos seus “planos
infalíveis”. Ele se nega a tomar banho e evitar qualquer
contato com água e limpeza, sendo conhecido como o
“sujinho” da turma.Magali é a melhor amiga de Mônica, mas
não compartilha do temperamento explosivo da amiga. Nutre
um apetite acima do comum, mas nunca engorda.
93
Cada gibi geralmente contém uma história principal,
coerente com a ilustração da capa, e outras secundárias,
que podem inclusive ser centradas em outras turmas. As
narrativas se usam do gênero cômico, sendo que muitas vezes
os conflitos são originados pelas peculiaridades incomuns
das personagens, mesmo que haja uma preocupação em passar
valores morais e éticos para o público infantil: há
personagens de várias etnias, cegas, cadeirantes, entre
outros. O importante para se atentar é que todas as
histórias são completas no mesmo gibi: com começo, meio e
fim.
Os gibis não conquistam só um público infantil, mas
conquistaram um público que teve as histórias da turma em
algum momento de seu passado. Chegavam a Maurício muitos
pedidos de leitores que tinham curiosidade de saber como
seriam histórias com os personagens mais crescidos (apesar
de quase meia década de Turma da Mônica, os personagens
nunca passavam de sete anos),então ele percebeu uma nova
oportunidade. Não apenas para buscar novo público, mas para
corresponder ao já existente, Maurício de Souza publicou a
Turma da Mônica Jovem (ARAÚJO: 2009).
A intenção era uma típica estratégia de Ampliação de
Mercado 4, na qual a Unidade Estratégica de Negócio cria um
produto da mesma categoria que já detém (no caso história
em quadrinhos), mas o oferece a um mercado que não atendia4De acordo com o modelo de análise estratégica de Igor Ansoff, do livro"Corporate Strategy: An Analytic Approach do Business Policy for Growth na Expansion", de 1965, também de Ansoff.
94
(adolescentes). Para alcançar este novo público jovem,
Maurício usou-se de dois artifícios que iriam comovê-los de
forma contundente, além de pautar-se ao relacionamento que
seu produto editorial de sucesso (Turma da Mônica) já
estabelecera com o consumidor. O primeiro era o
envelhecimento da Turma, que por consequência seria capaz
de levantar assuntos e questões pertinentes ao universo
adolescente, como drogas, bebidas e sexo. O segundo era o
uso da forma mangá nas publicações, visto que ela fazia
muito sucesso entre esta classe etária no Brasil. Mais que
isso, o mangá estava competindo com os gibis Turma da
Mônica, visto que a criança que lia os gibis fazia sua
transição para o mangá cada vez mais cedo. O resultado foi
melhor do que o esperado: a Turma da Mônica Jovem não só
interessou ao adolescente, mas à criança que tinha
curiosidade em saber como seria a Turma mais velha, e o
adulto que vislumbrava ícones de sua infância em um
contexto totalmente deslocado e, portanto, interessante.
Os mangás da Turma da Mônica Jovem tiveram um grande
respaldo nos tradicionais gibis Turma da Mônica, porém, é
importante notar, que apesar de contar com os mesmos
personagens, tem uma proposta totalmente diferente. Trata-
se de um novo produto do mercado editorial, destinado a
adolescentes e que adota temáticas de interesse desse
público, além, é claro, de apresentar uma nova estética de
desenho que não se limita ao desenho dos personagens, e
transforma totalmente a qualidade da narrativa. Assim, fica
95
claro como a interculturalidade está tão presente nesse
tipo de produto criado a partir de condições geradas por um
mercado global, e como as empresas (e artistas) a notam
como uma oportunidade macroambiental que pode proporcionar
um sucesso, refletido tanto nas vendas como no
fortalecimento do relacionamento entre consumidor e obra
cultural. Portanto, em nossa análise das relações de
negociação promovidas pelaTurma da Mônica Jovem, evitamos a
armadilha da conceber culturas diferentes como entidades
opostas e cuidamos para manter um olhar crítico das
dinâmicas entre culturas temperadas pela globalização.
4.2 Turma da Mônica Jovem em estilo mangá
Em agosto de 2008, A Turma da Mônica Jovem foi,
portanto, lançada. Sua primeira capa apresentava a nova
Mônica, em trajes coloridos e mais adequados para uma
jovenzinha. Cascão, Magali e Cebolinha (agora Cebola)
também apareciam em um segundo plano. Elementos gráficos
coloridos como estrelas combinavam com quadrinhos
dinâmicos. Próximo ao novo título estava a frase “Eles
cresceram!”, em letras plásticas. Logo no canto o leitor
podia avistar: “Em estilo mangá!” (Fig. 9).
96
Figura 9 - Capa da primeira edição do gibi/mangá Turma da
Mônica Jovem.
Fonte:http://4.bp.blogspot.com/-LHdsra1QkPI/TjGmk2qnmaI/AAAAAAAAADU/
q33cCQCrr0o/s1600/Edi%25C3%25A7%25C3%25A3o+1.jpg
As diferenças vão muito além do uso do traço de mangá.
As publicações da Turma da Mônica Jovem, diferentes dos
gibis, são sequenciais, e tem uma significativa
continuidade (os gibis apresentavam histórias independentes
e dispersas). Além disso, apresentam ao leitor aventuras
com elementos característicos da cultura pop japonesa que
fazem sucesso, como games, robôs, etc. Porém, o que mais
chama a atenção são os próprios personagens, que flutuam
entre as características que os identificava na infância, e
as características adquiridas nesta etapa jovem, estando aí
inclusos o imaginário coletivo da juventude globalizada,97
portanto, intercultural.
4.3 Análise do gibi Turma da Mônica Jovem
Aturma da Mônica mergulhou fundo não somente no
território adolescente, mas em um rico oceano cultural do
Japão. Aqui será tratada a análise em si, em parâmetros
gerais, tomando em conta três fatores importantes
relacionados a interculturalidade de García Canclini:
aquilo que a Turma da Mônica Jovem simplesmente importou do
mangá do Japão, sem modificações (uma mão única do Japão
para o Brasil); aquilo que, originalmente da Turma da
Mônica, e obviamente da cultura brasileira, foi modificado
pelo banho intercultural (uma mão dupla entre Japão e
Brasil); e aquilo também era original da Turma da Mônica
infantil, mas se manteve inalterado; todos os três
devidamente justificados, já que envolvem diretamente à
adequação à interculturalidade que o mercado dos
consumidores de gibis/mangás tanto nutre quanto demanda.
Nota-se que essas delimitações são importantes para a
clareza da análise teórica do que efetivamente para o
observado, visto que, como já esclarecido no Capítulo 2, a
supostamente “completa” negação – mantendo elementos do
gibi Turma da Mônica intactos –, ou a “completa” aceitação
(justapondo elementos culturais do Japão) já está incluso
em uma relação intercultural, e portanto ainda sim é
diálogo.
98
As análises serão apresentadas nesta fase. Exemplos
delas são personalidade e comportamento das personagens,
desenrolar da narrativa, apresentação das capas, instruções
e avisos ao leitor, enquadramento visual dos quadrinhos,
especificidades respeitadas ou não na leitura do mangá
japonês. Posteriormente, a análise estará centrada na
estética corporal das personagens,tanto na forma do corpo
quanto no modo como o corpo é desenhado, ou seja, o traço
utilizado, considerando as ponderações teóricas dos autores
estudados.
A capa da primeira edição da Turma da Mônica Jovem
(Figura 9) apresentava no destaque do primeiro plano uma
personagem inédita, mas facilmente identificável como a
versão adolescente da figura dos quadrinhos, Mônica.
Identificável pela permanência de seu “cabelo de cachos de
banana” e seus dentes proeminentes; mas inédita pelas
roupas coloridas bem diferentes do seu tradicional e eterno
vestido vermelho, pelo desenho mais realista de seu corpo –
coerente com o de uma jovem que acaba de sair da infância
–, portanto mais próximo do estilo mangá de retratar suas
personagens, e pelos olhos grandes e expressivos do mangá
japonês que faz fama no Brasil. No segundo plano,
quadrinhos preenchidos pelo restante da turma em seu novo
estilo, linhas e estrelas coloridas, e seres fantásticos
(como robôs e bruxas), configuram-se em formas pouco usuais
para as histórias em quadrinhos ocidentais. O mangá
apresenta uma dinamicidade de narrativa muito diferente dos
99
quadrinhos ocidentais, sendo esta uma característica
crucial que os diferencia. O título “Turma da Mônica Jovem”
compete com as frases “Eles cresceram!” e “Em estilo
mangá!”.
As histórias em quadrinhos ocidentais foram germinadas
nos jornais, no formato de tirinhas de jornal (comic strips),
e eram a versão que originaria as histórias em quadrinhos
ocidentais como se vê hoje. A estrutura conhecida de
quadrinhos como a vinheta, além do surgimento de balões e
vinhetas teve sua origem também nas comic strips.
Esta formulação dos quadrinhos implica necessariamente
em um estilo único de desenrolar da narrativa. Os quadros,
idênticos em formato, são predominantemente dispostos na
horizontalidade (um do lado do outro), herança da
necessidade de se encaixar no espaço disponível no jornal,
e, de acordo com Román Gubern,
essas séries em quadrinhos trazem consigo formas de
indexação entre as séries de histórias e é o elemento que
permite a construção de conjuntos de ações interligadas que
podem ocorrer não só entre uma tira e outra do mesmo
título, como também entre as vinhetas, a fim de instaurar o
elemento de suspense (1989, p.30).
Assim, o modelo horizontal é análogo à continuidade
temporal de uma narrativa clássica: os quadros uniformes
100
funcionam como uma “linha do tempo” que têm como função a
amarração da sequência narrativa.
Porém, este modelo sofreu alterações com o tempo, e o
quadrinho ocidental se distanciou das tirinhas de jornal
quando passou a quebrar este modelo horizontal uniforme e
permitir uma disposição de quadrinhos de tamanhos
diferentes, que não só podem indicar sequência temporal,
como também espacial. De acordo com Fresnault-Deruelle,
a composição das páginas deve funcionar através da
integração das suas variáveis visuais (forma, cor, linha,
etc.). Assim, o espaço em uma página de HQ ganha o patamar
de significação para o entendimento narrativo. Isso implica
em uma forma de leitura que sai do parâmetro linear para um
tipo de leitura guiada pela distribuição dos elementos
visuais na superfície da página (1976, p. 17).
Os quadros e figuras deixam de serem elementos
isolados e convencionalmente separados, para que haja uma
interligação entre imagens, cores que geram um sentido
único, em uma leitura multilinear. Uma imagem se destaca em
relação às outras, tanto pela sua forma, ou cor, ou
tamanho, ou posição na página; e a partir daí, o olhar é
guiado para as outras imagens, em uma espécie de
reconhecimento para que só posteriormente ocorra a leitura
ordenada tradicionalmente, isto é, uma leitura linear da
esquerda para direita e de cima para baixo.
101
O mangá estendeu-se nesta forma de se narrar das
histórias em quadrinhos ocidentais, pois, diferente das
histórias em quadrinhos, o estilo mangá depende
inteiramente desta disposição visual que enaltece a
multilinearidade espacial. No Mangá, esta disposição
privilegia muito mais a imagem que o texto, havendo forte
apelo gráfico. Esta característica marcante foi encontrada,
tanto na capa quanto nas outras páginas, condizendo não só
com algo que remete ao estilo mangá, mas embarcando em um
estilo de desenvolvimento de narrativa totalmente diferente
da Turma da Mônica infantil, ou seja, efetivando a
interculturalidade que interfere até no ritmo da leitura.
Em relação às páginas posteriores à capa, a ausência
de cores revela que todo o interior do material condiz com
a tradição em preto e branco do mangá (já que é desenhado
em Nanquim). Aqui pode ser observada a preocupação em
permear toda a obra com o apelo visual infalível que o
preto-e-branco e o tipo de folha do mangá proporcionam,
arrematando a similaridade com este signo importante do
mangá. A segunda página apresenta um gato (possivelmente
Mingau, o gato de Magali) em uma posição de um Manekineko
(literalmente gato que acena), a figura de um gato com a
pata levantada enquanto segura uma moeda. Este é um símbolo
clássico da cultura japonesa e acredita-se que ele traga
boa sorte ao portador. No gibi Turma da Mônica Jovem, ele
tem a função de uma apresentação amistosa para o leitor,
enaltecendo o diálogo com o Japão que se mostrará presente
dali em diante.102
Em seguida, logo após o título da edição, alguns
recados são destinados ao leitor. São as descrições dos
personagens, agora adolescentes, que comunicam o quê mudou
e o quê não mudou:
Mônica não é mais aquela menininha de vestidinho
vermelho que corria atrás dos garotos com um
coelhinho. Na verdade, seu guarda-roupa mudou muito,
ainda que continue uma predileção pelo vermelho.
Ainda é um pouco dentucinha, mas deixou de ser
baixinha e gorducha faz muito tempo. Uma coisa não
mudou desde que era pequena: é a sua amizade com a
turma e seu gênio forte... Aliás, vai ver é por isso
que ainda é líder dessa turma, ou melhor, “galera”!
Agora a turma o chama (a pedidos) de “Cebola”, e não
tem mais cinco fios. Agora ele tem uma vasta
cabeleira, mas que mantém o formato original do
Cebolinha criança. Deve ser algo genético. Hoje em
dia não troca mais os “erres” pelos “eles” desde que
tratou sua dislalia com uma fonoaudióloga, mas quando
está nervoso comete pequenos “escolegões”. Conquistar
a rua? Não... é pouco... Cebola agora quer conquistar
o mundo com suas ideias de uma geração pronta para o
futuro.
Cascão embora não continue gostando da ideia, agora
toma banho de vez em quando. Também, não dá pra
praticar tantos esportes radicais como skate,
Mountain Bike e ficar sem suar... imagina sem banho?
A turma foi fazendo sua cabeça e com o tempo ele
103
adotou esse costume “bizarro” que toda a humanidade
tem chamado de “banho”. Continua um garoto
inteligente, criativo e muito bagunceiro. Sua mãe que
o diga, pois não consegue deixar seu quarto em ordem.
Magali continua magrinha como sempre foi, porém essa
fase de crescimento só aumentou seu apetite. No
entanto, agora ela cuida mais do seu corpo e se
preocupa mais com a qualidade de sua alimentação,
praticando esportes aeróbicos, queimando calorias e
se alimentando á base de uma dieta saudável. Magali
continua aquela menina meiga e carinhosa, e é claro:
apaixonada por gatos.
Pois é, pessoal...
A Turma da Mônica cresceu e está aqui, numa nova
aventura em estilo mangá! São 120 páginas com muita
ação, humor, romance e aquele charme que conhecemos
muito bem. Estamos num universo da Turma nunca
explorado antes, em que veremos suas rotinas como
adolescentes, seus novos medos, incertezas, além de
boas lembranças do passado. São milhares de novas
aventuras junto de todos aqueles que fizeram parte de
sua infância.
Estão preparados?
Então, embarquem nessa nova jornada...
Maurício
104
Figura 10 – A Turma da Mônica Jovem. Da direita para a
esquerda: Cascão, Cebolinha, Mônica e Magali.
Fonte: http://blog.meiapalavra.com.br/files/2011/11/turmadamonica.jpg
O discurso apresenta os personagens crescidos de modo
que o leitor tenha interesse de saber os resultados das
mudanças, mas sem perder a referência dos traços físicos
característicos da famosa turminha dos gibis infantis. Além
disso, ele convida efetivamente o leitor a tudo o quê
propôs, tanto em relação ao universo adolescente quanto ao
universo mangá, que, principalmente no Brasil, mantém
relação estreita.
Na página seguinte, um breve índice é apresentado, com
os títulos dos capítulos e respectivas páginas. A
continuidade da Turma da Mônica Jovem é um ponto importante
a ser considerado. Os gibis infantis Turma da Mônica
geralmente apresentam em cada volume um conjunto de
histórias independentes entre si e em relação a outros
volumes. Já a Turma da Mônica Jovem organiza-se em edições
lineares, com uma clara sequência cronológica na narrativa,
105
e até mesmo, histórias maiores podem ocupar várias edições
consecutivas. Esta configuração inspira-se nas séries de
mangá famosas no Japão e Brasil, que dividem sua narrativa
em volumes, que inclusive podem ser mensais, assim como A
Turma da Mônica Jovem.
A narrativa inicia-se na sexta página, na qual se lê
que a história se passa no “Bairro do Limoeiro...”. Uma
Mônica adolescente, com traços mais realistas,
característica do mangá, é apresentada para o leitor, assim
como Cebolinha (agora Cebola), Cascão e Magali, todos em
seus respectivos lares. A partir das interações dos
personagens com suas famílias, o leitor fica a par das
mudanças psicológicas e físicas que ocorreram, das
peculiaridades caricatas que se mantiveram intactas, e que
foram essenciais na construção e manutenção das
personagens. Em seguida, o enredo principal que começa na
primeira edição e termina na quarta se desenrola. Um antigo
vilão do tempo da Turma da Mônica infantil reaparece e
revive uma antiga bruxa maligna do Japão feudal, que deseja
vingança por ter sido aprisionada. Mônica, Magali, Cascão e
Cebola partem para uma aventura em que têm de reunir quatro
artefatos mágicos para derrotar a bruxa, em quatro
dimensões diferentes: um mundo fantástico semelhante à
Europa da Idade Média (referência ao cenário de
RolePlayingGame, jogo apreciado pelo adolescente e muito
relacionado ao universo dos mangás), um mundo futurístico
de robôs (referência a temática recorrente da cultura pop
106
japonesa), um mundo de torneios de artes marciais
(referência a artes marciais orientais) e um mundo de
terror.
No decorrer da história das quatro edições, percebe-se
um grande conjunto de elementos interculturais. Alguns são
mais óbvios, como o uso de maldições japonesas (muitas
vezes com paródias cômicas), outros mais discretos como a
utilização de expressões faciais exageradas. A leitura
tradicional do mangá (direita-esquerda) não foi adotada, e
esta escolha originou um recado ao leitor no final da
edição, explicando o motivo:
Calma, Mônica!!!
Ninguém vai ler do lado errado!
Embora o mangá japonês seja lido no sentido oriental,
resolvemos deixar a história com o sentido de leitura
ocidental... Afinal, apesar do estilo mangá, ainda é estilo
Turma da Mônica e ninguém quer ver a baixinha nervosa, não
é? Ou melhor... a Mônica nervosa...
Maurício
Tal discurso mostra-se muito rico no que se refere a
diálogos interculturais. Este trecho elucida claramente a
interculturalidade, e exemplifica os aspectos gerais aqui
analisados. Há aquilo que foi transposto do mangá para a
Turma da Mônica Jovem, assim como o tipo de papel e estilo
preto e branco, a divisão em capítulos e a continuidade,
107
bem como a multilinearidade na leitura; que têm como
objetivo transpor o imaginário do mangá para esta nova
proposta adolescente, e assim atender uma demanda intensa
por parte dos consumidores jovens que se interessam pela
cultura japonesa principalmente por meio deste fenômeno
cultural que são os gibis japoneses. Há também aquilo que
foi modificado pela cultura japonesa, mas não inteiramente,
como exemplo a expressão a temática das “aventuras”
(apresentam elementos da cultura japonesa
“abrasileirados”), e o próprio desenho dos personagens (é
mais realista como o mangá, mas ainda permanecem traços
característicos da Turma da Mônica infantil). E por fim, há
aquilo que se manteve inalterado, como o sentido ocidental
de leitura esquerda-direita, que, de acordo com o discurso
da revista, teve o intuito de preservar o estilo da Turma
da Mônica, visto que a inversão no sentido de leitura
talvez esteja relacionada com barreiras que ainda não são
muito fáceis de ultrapassar, ou ainda, discordâncias e
negações no diálogo intercultural, que também são
possíveis.Em seu discurso “Apesar do estilo mangá, ainda é
estilo Turma da Mônica”, Maurício de Souza ratifica que
apesar da interculturalidade e negociações, sua obra ainda
se mantém brasileira, e portanto, há a mediação proposta
por García Canclini, com as aceitações e negações
pertinentes, e não a simples dominação.
Este subcapítulo teve como objetivo uma delineação
geral sobre a interculturalidade encontrada nos gibis em
108
estilo mangá Turma da Mônica Jovem. O subcapítulo adiante
tratará deste estudo aplicado exclusivamente ao corpo das
personagens, tanto no que compete a expressões faciais,
traço do desenho, molde do corpo, e vestuário.
4.3.1 Análise do corpo das personagens
O desenho do corpo das personagens de mangá é
particularmente importante devido ao grande apelo visual
que esta forma de publicação presume, e, nesta etapa, a
análise será desenvolvida em torno deste aspecto, que
envolverá tanto a forma do corpo e vestuário, como a forma
do traço, as expressões, os cabelos, entre outros. Tal
pesquisa tomará em base os parâmetros já apresentados na
análise geral da Turma da Mônica Jovem, sempre em relação
com as ponderações teóricas, e em busca dos diálogos
interculturais.
O símbolo icônico no mangá shonen que o jovem
brasileiro consome, e que remete quase que instantaneamente
a este fenômeno cultural no imaginário destas pessoas são
os olhos expressivos e desproporcionalmente grandes das
personagens. Eles podem variar nos mais diversos tipos de
tamanho, forma, e cores (inclusive cores exóticas) entre
personagens diferentes; e variar mais radicalmente ainda
entre diferentes expressões da mesma personagem. No mangá,
os olhos são chave para complementar a expressividade do
rosto, assim como se constata na Figura 11.109
Figura 11 - Modelos de expressões faciais no mangá.
Fonte:http://iris-zeible.deviantart.com/art/Emoticons-29976888?q=boost
%3Apopular+emoticons&qo=1
Na Turma da Mônica Jovem, estes olhos em conjunto com
estas facesnão faltaram, já que são um símbolo crucial
quando o jovem consumidor pensa em mangá, no Brasil. As
edições vão experimentando cada vez mais as expressões
exageradas, algo que antes, na Turma da Mônica infantil
mostrava-se de forma diferente. As figuras a seguir
ilustram a diferença:
Figura 12 – Comparação de expressões de Mônica criança110
Fonte:https://lh4.googleusercontent.com/
ksKbNkiaomykRoHEKHcr4r5q_gi5ky8pNUTnGZ9zSFrq4HWSW5DZg6WZ6fUbBpqoqc89aO
NZlexnLqepgYeR0NvynG5osswanvsOq6BOKKfFKsQgTFQ
Figura 13 – Comparação de expressões de Mônica adolescente.
Fonte:
http://www.rpgonline.com.br/images/galeria/134208_turmadamonica-
tras.jpg
O desenho da expressão de raiva da Mônica nos gibis
infantis comporta somente elementos gráficos (fumaça) e o
franzimento da testa, com alteração mínima no formato dos
olhos e face. Já o desenho da expressão de raiva da Mônica
adolescente configura-se principalmente na transformação111
radical dos olhos que são reduzidos a círculos brancos
sobrepostos por simples traços retos. Tal configuração de
extrema economia de detalhes não reduz a expressividade, ao
contrário, a potencializa. O rubor na face e a abertura
exagerada da boca auxiliam ainda mais nesta
potencialização.
Os cabelos também são um interessante objeto de
estudo. No mangá, seu desenho é diferente dos padrões
ocidentais, pois são detalhada e cuidadosamente compostos
por vários traços, geralmente causando a aparência de serem
bem fartos e extravagantes, e contribuindo para uma gama
imensa de penteados possíveis que são aproveitados pelos
desenhistas.
Figura 14 – Modelos de penteados no mangá.
112
Fonte:
http://cdmcomodesenhar.blogspot.com.br/2012_03_01_archive.html
Na Turma da Mônica Jovem, o cabelo passa a seguir a
tendência dos mangás, e abandona, mesmo que não totalmente,
o formato simples que nutria nos gibis infantis. Vide
exemplo a seguir:
Figura 15 – Cebolinha e Figura 16 – Cebola
Fonte: https://www.papelefesta.com.br/fotos/518-1/mini-painel-cebolinha-lp-.jpg
Fonte:http://www.revistaturmadamonicajovem.com.br/magali-cascao/galerias/imagens/g192796.jpg
Enquanto o cabelo de Cebolinha criança limita-se a
cinco traços, o cabelo de Cebola adolescente se torna mais
farto e com desenho com mais traços, no estilo do mangá
japonês. Porém, a semelhança em relação ao cabelo do113
antecessor é mantida, levando a entender que esta mudança
se configura como um diálogo, em que as partes negociam em
prol de um resultado satisfatório para o jovem leitor: a
manutenção da identidade da Turma da Mônica e ao mesmo
tempo o embarque no estilo mangá.
Já o corpo das personagens tem uma característica bem
diferente dos quadrinhos ocidentais: eles podem apresentar
pedaços de animais ou criaturas mitológicas (Fig. 13), como
chifres, caudas e orelhas, partes robóticas, entre vários
outros. Isto acontece geralmente nas séries de mangá com
elementos de fantasia, mas podem ser apresentados em mangás
fiéis a realidade, sem a objetiva explicação do motivo na
história.
Figura 17 - Partes de animais em corpos humanos no
mangá (Inuyasha).
114
Fonte: http://www.foroswebgratis.com/imagenes-
inuyasha_y_kagome-22510.htm
Na Turma da Mônica Jovem, esta apropriação de partes
animais para o corpo humano também ocorre (Figura 18).
Figura 18 – Partes de animais em corpos humanos na Turma da
Mônica Jovem
Fonte:http://1.bp.blogspot.com/-nOw99mJ7WaU/TtY4qM4AAqI/AAAAAAAACUQ/
6XrmjXNhW1c/s1600/Capa%2Bda%2BMagali%2BJovem.jpg
115
As figuras de animais apresentam uma conotação muito
diferente no Japão em relação ao Brasil. A mitologia
japonesa, intrinsecamente ligada a cultura, e portanto
elementos culturais como o mangá, faz muito uso da figura
do animal, assim como a mitologia egípcia, por exemplo. Os
animais aparecem como deuses, demônios, heróis, entre
outros, e carregam uma vasta bagagem de significado
referente às lendas. O mangá shonen Naruto é o que melhor
ilustra esta relação: a história se desenvolve entorno de
nove “demônios” (a tradução para demônio não se faz plena,
já que orginalmente remete a noções religião cristã, por
isso, entende-se melhor como criaturas mitológicas muito
poderosas e com forte tendência ao caos e destruição), cada
qual com uma quantidade específica de caudas, de uma a
nove, que são proporcionais a quantidade de poder. Todos
esses “demônios” de caudas têm representações em animais de
lendas e mitos: guaxinim (uma cauda), ligado a lendas nas
quais é retratado como um ser que adora saquê e mulheres,
que está sempre endividado, e cujas estátuas podem ser
vistas do lado de fora de restaurantes e bares do Japão
para atrair clientes; gato (duas caudas), remetendo à lenda
de que se um gato atingir uma certa idade, for mantido
preso por um certo número de anos, crescer até certo
tamanho, ou ter uma cauda longa demais, pode se transformar
em uma criatura fantasmagórica e maligna; criatura aquática
semelhante a uma tartaruga (três caudas), relacionado a
116
criaturas mitológicas que vivem em rios e lagos e que podem
devorar humanos; gorila (quatro caudas); espécie de cavalo
com cabeça de golfinho (cinco caudas); lesma (seis caudas);
besouro-rinoceronte (sete caudas); híbrido entre touro e
polvo (oito caudas); e raposa (nove caudas), claramente
referente a lenda da kitsune, uma espécie de espírito em
forma de raposa que possui inteligência muito elevada,
longo tempo de vida, e poderes mágicos que vão se elevando
assim que mais caudas vão crescendo: diz a lenda que uma
vez que uma kitsune adquire a nona cauda, ela ganha
sabedoria ilimitada e onisciência.
No gibi/mangá Turma da Mônica Jovem, animais com
traços de personalidade humana e humanos com traços físicos
de animais também são presentes. Porém, a referencia
original aos mitos e lendas, e toda a significação que os
signos de animais poderiam trazer no mangá, perde-se na
publicação brasileira, já que entra em conflito no diálogo
intercultural, por ser ausente ou distante do repertório
cultural brasileiro. Deste modo, só é importado do Japão a
forma característica de hibridez entre humanos e animais,
mas não o significado das lendas e mitos. Este configura-se
como um caso clássico de diálogo cultural em que há
concessões e recusas, em função do que faz sentido para a
manifestação intercultural, mas ainda sim brasileira.
Nota-se que há um diálogo referente ao cabelo e
expressões faciais da Turma da Mônica Jovem e o mangá.
Neste diálogo intercultural, não ocorre a simples
apropriação do que é do mangá contemporâneo, e sim uma117
adaptação, que ocorre em mão dupla (certos aspectos mudam
mas outros se mantém) entre cultura brasileira e japonesa.
As personagens apresentam penteados semelhantes ao dos
personagens de mangá, assim como os olhos expressivos e
rosto mais realista, porém, todo o conjunto continua
coerente ao que eram os personagens infantis, não só para
que o leitor os identifique, mas para manter uma forte raiz
com o que é dos gibis, e portanto da cultura brasileira.
Isto prova que o diálogo intercultural não ocorre
necessariamente em termos de dominação entre culturas, mas
sim um processo de mediação, no qual as aceitações e
negações pertinentes influem em um resultado final que é em
estilo mangá, apresenta elementos importantes da cultura
japonesa, mas não deixa de ser brasileiro e fazer sentido
para a vida do jovem leitor.
Já o corpo das personagens da turma mostra-se muito
pertinente para a análise. Os mangás shonen (mangás de
aventura, destinados para crianças e adolescentes) que são
os de maior sucesso no Brasil, têm formas específicas de
retratar o corpo. Bleach e Naruto têm rígidas proporções a
serem seguidas no desenho do corpo, como, por exemplo a
necessidade de que a altura total da personagem seja um
múltiplo específico da altura da cabeça (diferente para
personagens masculinas e femininas), para que se alcancem
um nível alto de realismo no desenho. Além disso, nestas
duas séries de mangá, os personagens apresentam um molde de
corpo esbelto e esguio tanto em homens quanto mulheres, de
acordo com o padrão de beleza global. As personagens118
masculinas não chegam a ser musculosas como as de histórias
de quadrinhos de heróis ocidentais, mas tampouco são
flácidas ou gordas. As personagens femininas apresentam as
curvas do corpo acentuadas, e, geralmente, seios grandes,
pois, muitas vezes os mangás shonen, assim como Bleach e
Naruto apresentam um caráter sensual.
Figura 19 – Cebola (Turma da Mônica Jovem) e Figura 20 –
Kakashi (Naruto)
119
Fonte:http://3.bp.blogspot.com/-2nSnXXCZALw/Tn6HqnBo19I/
AAAAAAAAA2U/aVG4gbHcWno/s1600/cebola-inteiro.png
Fonte: http://www.creativeuncut.com/gallery-05/nar-kakashi-
hatake.html
Na Turma da Mônica Jovem, o desenho do corpo
claramente segue este esforço de proporção em prol do
realismo. Todas as personagens, inclusive, apresentam um
corpo esbelto e esguio de acordo com o padrão global de
beleza, e, os meninos têm um corpo muito semelhante aos de
Naruto e Bleach. Porém, há uma diferença importante quanto
ao molde corporal nas personagens femininas. Os seios de
Mônica e Magali, nunca retratados antes, não são desenhados
no tamanho dos do mangá japonês. Esta discrepância pode ser
explicada por dois motivos principais: em primeiro, a120
presença de seios exageradamente grandes no desenho têm um
apelo sensual muito mais forte na cultura do Japão do que
na cultura brasileira; e em segundo, o intuito de não optar
pelo caráter sensual na publicação. A negação total ou
parcial deste modelo de corpo feminino, deve-se ao fato de
que não faz sentido o proposto de sensualidade do mangá
japonês para o que se quer propor na Turma da Mônica Jovem.
Este modelo esbarra em questões morais que têm relação
inclusive em como se pensa mangá no Brasil: um produto
destinado exclusivamente para crianças e adolescentes,
diferente no Japão, que é destinado a todas as faixas
etárias.
Figura 21 - Mônica (Turma da Mônica Jovem) e Figura 22 -
Matsumoto (Bleach)
Fonte: http://uploads.putsgrilo.com/2008/08/monica-jovem.jpg
121
Fonte: http://musasdigitais.blogspot.com.br/2010/09/rangiku-
matsumoto.html
Já o vestuário da turma adolescente exibe diversas
particularidades interculturais. As roupas mostram-se
condizentes com a cultura pop japonesa e adolescência, mas
simultaneamente negam algo que existe no próprio mangá
japonês e nos gibis Turma da Mônica infantil, que é a
permanência das mesmas vestes para os mesmos personagens ao
longo da narrativa. Este recurso do uso da mesma roupa visa
marcar visualmente o personagem de modo mais contundente no
imaginário do leitor, mas, devido a uma já prévia marcação
neste imaginário, oriunda dos gibis infantis antecessores,
a Turma da Mônica Jovem teve a opção da mudança constante
de vestuário de suas personagens.
Figura 23 – Cascão em sua roupa de guitarrista
122
Fonte:http://3.bp.blogspot.com/_D2xh5XsAv4o/TURCLYLcCOI/AAAAAAAAACA/
cHN__FNsrcY/s1600/Casc%25C3%25A3o%255B6%255D.jpg
Este diálogo intercultural no que se refere ao
vestuário ilustra mais uma vez como as negações e
aceitações combinam-se entre si, assim como García Canclini
defende em seus estudos sobre cultura e globalização.
Em suma, em relação ao corpo, podem ser estabelecidas
várias negociações interculturais. Há aceitações,
exemplificadas pelo desenho do rosto e olhos bem
expressivos, visto que este símbolo é o que mais remete ao
estilo mangá entre o jovem brasileiro. Há também negações,
no que se refere ao formato sensual do corpo das
personagens de mangá, que esbarra em questões morais e
culturais no Brasil – a publicação da Turma da Mônica Jovem
não pretende apresentar um caráter sensual, já que não
concorda com sua proposta: o mangá é visto como algo
voltado exclusivamente para o público infantil e
adolescente, diferente do Japão, e, mesmo que apresente uma123
breve conotação sensual, não concorda com o padrão japonês
de corpo ideal. Não obstante, existem aqueles diálogos que
não podem ser caracterizados nem completas aceitações nem
completas negações, que é o caso da questão da transposição
de partes de animais para o corpo humano: esta apropriação
configura-se apenas no âmbito das imagens e da ligação que
se faz com o estilo mangá, em detrimento do conteúdo
simbólico referente aos mitos e lendas nipônicos, visto que
esse conteúdo justifica a utilização dos animais no mangá
japonês, mas se perde em essência, e apenas reverbera no
Turma da Mônica Jovem.
124
5 Considerações finais
Esta pesquisa teve como tema principal as negociações
interculturais, proposta por Néstor García Canclini, entre
dois produtos da cultura midiática, o mangá japonês e a
Turma da Mônica Jovem, no que se refere aos aspectos
gerais, mas principalmente nos aspectos físicos das
personagens. O objetivo primário foi identificar tais
relações interculturais que se expressam em movimentos de
negociação, aceitação, negação e conflito. Assim, estudamos
quais elementos do mangá contemporâneo (exemplificado por
Bleach e Naruto) fazem sucesso entre o jovem consumidor do
Brasil e estão presentes no gibi Turma da Mônica Jovem.
Deste modo, estudamos elementos da cultura japonesa em
diálogo com a cultura brasileira.
A monografia estruturou-se em cinco capítulos. O
capítulo 1 destinou-se a apresentação do tema justificado
bem como dos demais elementos que compõem um projeto de
125
pesquisa. No capítulo 2, uma investigação bibliográfica foi
realizada, a fim da formação de uma base conceitual para a
posterior análise. García Canclini, como estudioso da
globalização e relações culturais, foi o autor privilegiado
neste trabalho, visto que suas reflexões são as mais
condizentes com os fenômenos observados, no que se diz ao
global-local, interculturalidade, e relações de diálogo,
negociação. Outros autores complementaram a investigação,
como Edgar Morin e Milton Santos, já que suas visões sobre
os fenômenos culturais temperados na globalização se
enveredam por vieses importantes, que enriqueceram as
ponderações de García Canclini por meio de possíveis
concordâncias e refutações.
No Capítulo 3, o mangá recebeu o sua devida atenção no
que se refere ao seu significado cultural no Japão e mundo.
Suas características descritivas foram apresentadas, assim
como sua história entrelaçada a história do Japão, o seu
papel na cultura e sociedade japonesa atual, e como foi a
sua entrada para o Ocidente, um campo onde ele é visto e
atua de outra maneira no cenário cultural. Estes
esclarecimentos foram necessários para apoio para entender
a interculturalidade entre Turma da Mônica e estilo mangá
na Turma da Mônica Jovem. Naruto e Bleach, séries de mangá
que fazem muito sucesso no Japão e principalmente no Brasil
foram brevemente apresentados, para que representassem o
tipo de mangá que seria levado em conta na análise do
corpus.
126
No Capítulo 4, o gibi Turma da Mônica Jovem foi o alvo
da investigação. Primeiramente, reflexões foram propostas
acerca de seu papel editorial, e sua relação com seu
antecessor infantil, os gibis Turma da Mônica. Essa
contextualização antecedeu a análise do material,
contraposta ao estudado no Capítulo 2, que buscou a
interculturalidade em diversos elementos da obra. Enquanto
uma análise geral anunciava as negociações ali presentes,
foi desenvolvida uma análise mais profunda em relação ao
corpo das personagens, no que se diz aos cabelos,
expressos, vestuário, forma do corpo, e traço do desenho.
No capítulo, as considerações finais, avaliamos os
resultados alcançados na pesquisa.
O primeiro objetivo deste trabalho era mapear, nos
estudos de García Canclini sobre globalização e
interculturalidade, os conceitos de globalização, de
intertextualidade e de diferença/alteridade. Este
mapeamento foi realizado no Capítulo 2, no qual reflexões a
cerca de um mundo cultural temperado pela globalização
foram propostas, sendo que este estudo sobre García
Canclini foi estendido a outros atores que também pensam
este tema e o complementam. As culturas são aproximadas
nesta era de globalização, entendo aproximação não como
integração pacífica ou tampouco anulação de diferenças, mas
sim o choque entre culturas distintas, que tem sua relação
intensificada pelo global. Porém, também não se trata de
uma simples dominação de uma cultura em relação a outra: o
127
que há é o diálogo e a negociação, que muitas vezes podem
inclusive levar a conflitos, desigualdade e exclusão. Aí
nasce o conceito de interculturalidade, que é justamente a
mescla entre culturas com mediações sujeitas a negações e
aceitações. A globalização intensifica a
interculturalidade, e, portanto, este diálogo se faz muito
presente, tanto na comunicação midiática quanto no consumo
cultural.
O segundo objetivo tratava-se de identificar processos
de interculturalidade e de globalização no diálogo
estabelecido entre o gibi mangá Turma da Mônica jovem e o
mangá japonês. Tais processos foram não somente
identificados, mas criticamente analisados, visto que a
proposta do gibi Turma da Mônica Jovem se pauta justamente
na interculturalidade. O gibi Turma da Mônica Jovem
comporta três tipos de diálogo: o primeiro no qual ela
importa elementos típicos do mangá contemporâneo japonês, o
segundo no qual os elementos advindos do gibi infantil
Turma da Mônica são ajustadas de acordo com o estilo mangá,
e o terceiro no qual os elementos do gibi infantil
permanecem inalterados por elementos relacionados ao mangá
e Japão. O tipo de papel e estilo preto e branco da
publicação, assim como a continuidade cronológica entre
publicações, e a multilineariedade na leitura privilegiando
o apelo visual; são importaçõesque visam a transposição do
imaginário do mangá para atender a demanda dos leitores
jovens que consomem esta forma de publicação, e assim se
128
interessam pela cultura japonesa. Vários elementos da
cultura japonesa “abrasileirados” que aparecem na narrativa
do gibi e o desenho dos personagens que é mais realista
como o traço do mangá, mas preservando características da
Turma infantil; ilustram a forma de diálogo em que os
elementos da cultura brasileira são modificados e adaptados
pela cultura japonesa. A permanência da leitura esquerda-
direita ocidental, representa aquilo que não foi modificado
em relação ao gibi infantil Turma da Mônica, pois a
inversão representaria uma aceitação intercultural que de
acordo com o discurso da revista, feriria a identidade da
Turma da Mônica. Portanto, esta permanência caracteriza-se
como uma negação nesta negociação com o mangá japonês.
O terceiro objetivo consistia em mapear as negociações
interculturais presentes no gibi Turma da Mônica Jovem no
que se refere a alguns aspectos da estética corporal dos
personagens. Esta meta também foi atingida, visto que foram
estabelecidas comparações entre a forma do corpo de
personagens de Naruto e Bleach com personagens da Turma da
Mônica Jovem. As expressões faciais, cabelo, e vestuário
também foram analisadas sob os parâmetros de
interculturalidade, naquilo que era adaptado, negado ou
aceito.
Uma dificuldade neste projeto de pesquisa foi
compreender inteiramente esta visão que García Canclini
defende sobre a globalização e os processos de negociação
nas relações entre culturas. O que se imagina de129
globalização privilegia demasiadamente sua versão
integradora, reduzindo sua versão segregadora. García
Canclini desconstrói este senso comum, e, portanto, esta
proposição deste fenômeno como simultaneamente integrador e
segregador se faz muito complexa. Além disso, quando ele
propõe o conceito de interculturalidade, há uma
desconstrução do que se entende geralmente por cultura. A
cultura é pensada como posses de significações de
determinadas sociedades, mas na verdade deve ser pensada
como a qualidade de determinados grupos sociais, que se
definem justamente por sua diferença (não desigualdade) em
relação a outras culturas. A cultura deve ser pensada na
dinâmica social, como um sistema de significações aberto
que está sujeito a influências externas, internas, e não
por isso torna-se uma cultura pior, ou dominada, já que não
há efetivamente hierarquia entre culturas. Embora valha
destacar que há, na perspectiva adotada nesta pesquisa, a
interculturalidade pautada na diferença.
Neste caso, o diálogo intercultural se realiza, de
modo que é possível ao pesquisador identificar os elementos
da cultura japonesa e os da cultura brasileira, sem que se
percam as especificidades de cada cultura, mas, ao mesmo
tempo, mesclando os seus elementos. García Canclini advoga,
em suas reflexões teóricas, que o diálogo é possível, que
há sempre negociações interculturais; ele constata que as
relações entre culturas não precisam ser necessariamente de
dominação, e isto foi constatado no desenvolvimento da
130
análise e também ao refletirmos sobre os conceitos
estudados ao longo do processo de pesquisa.
Tendo concluído a pesquisa, descortina-se aos nossosolhos uma série de questões que objetivamos nesta pesquisa,uma delas refere-se ao modo como o público leitor do gibiTurma da Mônica Jovem interpreta as relações deinterculturalidade ali presentes. Assim, consideramos queseria importante, em futuras pesquisas, investigar osprocessos de recepção do referido produto midiático, poispoderíamos, como pesquisador, ter investigado um produtomidiático e as relações interculturais sob as duas grandesperspectivas dos estudos do campo da comunicação: a dosprocessos de produção e também a perspectiva dos processosde recepção.
REFERÊNCIAS
ANSELMO, Zilda Augusta. Histórias em Quadrinhos. Petrópolis: Vozes, 1975.
ARAÚJO, João. Estratégias discursivas do “Eles cresceram!”: Análise da representação da juventude nas HQs da Turma da Mônica Jovem. Artigo apresentado no Sessões Científicas, evento produzido pelo
131
PETCOM, o Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Comunicação da UFBA, 2009.
BACCEGA, Maria Aparecida. Palavra e discurso: História e Literatura. São Paulo: Ática, 1995.
COGO, Denise. Mídia, interculturalidade e migrações contemporâneas.Rio de Janeiro: E-papers, 2006.
DENZIN, Norman K. e LINCOLN, Yvonna S. O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. Porto Alegre: Artmed, 2006.
FELERICO, Selma. Do corpo desmedido ao corpo ultramedido. A revisão do corpo feminino na revista VEJA de 1968 até 2010.Tese de doutorado defendida na Pontifícia Universidade Católica PUC-SP, 2010.
FRESNAULT-DERUELLE, Pierre. Du linéaire au tabulaire.Communications. n. 24, p 7-23, Paris, SEUIL, 1976.
GARCÍA CANCLINI, Néstor. Consumidores e Cidadãos 4ª edição. Rio de Janeiro: editora UFRJ, 2001.
GARCÍA CANCLINI, Néstor. Diferentes, Desiguais e Desconectados. Riode Janeiro: UFRJ, 2005.
GARCÍA CANCLINI, Néstor. Globalização Imaginada. São Paulo: Iluminuras, 2003.
GUBERN, Román. La narration iconique au moyen d’images fixes. In : Degrés. 59 (1989) : pp. b-1, b-30.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2004.
HOFF, Tânia. Notas sobre consumo e mercado no Brasil a partir das representações de corpo na publicidade. In BACCEGA, Maria Aparecida (org.). Comunicação e culturas do consumo. São Paulo: Atlas S.A., 2008.
KISHIMOTO, Masashi. Naruto. São Paulo: Panini Comics, 1999.
KUBO, Tite. Bleach. São Paulo: Panini Comics, 2002.132
LUYTEN, Sônia. Mangá, o poder dos quadrinhos japoneses. São Paulo: editora Hedra, 2000.
MORIN, Edgar. As duas globalizações: complexidade e comunicação, uma pedagogia do presente. Rio Grande do Sul: EDIPUCRS, 2002.
PERCÍLIA, Eliene. O que é Mangá? Disponível em: <www.brasilescola.com/artes/o-que-e-manga.htm>. Acesso em 26/08/2011.
RAMOS, Paulo. Quem te viu, quem te vê, Mônica! Disponível em: <http://blogdosquadrinhos.blog.uol.com.br/arch2008-11-01_2008-11-30.html#2008_11-23_16_57_20-10623622-27>. Acessoem 27/01/2012.
REBOUÇAS, Fernando. A Origem do Mangá. Disponível em: <www.infoescola.com/desenho/origem-do-manga/>. Acesso em: 25/08/2011.
SANTO, Janaína de Paula do Espírito. Indústria Cultural, animação e quadrinhos. Pesquisa do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo da Universidade FederalFluminense, 2011.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único àconsciência universal 17ª edição. Rio de Janeiro: Record, 2008.
SATO, Cristiane A.. O que é Mangá? Disponível em: <http://www.culturajaponesa.com.br/htm/manga.html>. Acesso em: 21/01/2012.
SATO, Francisco Noriyuki. GOULART, Antônio Paulo. KUSSUMOTO, Roberto. HANDA, Francisco. História do Japão em Mangá: Origem, tradição e desenvolvimento de um país milenar. São Paulo: Graftipo, 1995.
SILVA, André Luiz Souza da.Estudo Comparativo entre Mangás e Comics. A Estruturação das Páginas como Efeito de Narratividade. Artigo apresentado para oIntercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, no décimo nono Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação da Região Nordeste, 2007.
Site Animenewsnetwork. Disponível em: 133
<http://www.animenewsnetwork.com/news/2008-04-07/viz-wins-two-2007-gem-manga-awards-from-diamond>. Acesso em: 17/01/2012.
Site Comipress. Disponível em: <http://comipress.com/article/2007/05/06/1923>. Acesso em: 17/01/2012.
Site ICv2. Disponível em: <http://www.icv2.com/articles/home/9450.html>. Acesso em: 17/01/2012.
Site Jetro: Japan External Trade Organization. Disponível em: <http://www.jetro.org/trends/market_info_manga.pdf>. Acesso em: 16/01/2012.
Site Oficial da Turma da Mônica Jovem. Disponível em: <www.revistaturmadamonicajovem.com.br>. Acesso em: 26/08/2011.
Site Oficial da Turma da Mônica. Disponível em: <http://www.monica.com.br/mauricio/historic.htm>. Acesso em: 18/01/2012.
VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de. Economia Micro e Macro 3ed. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2002.
VASCONCELLOS, Pedro Vicente Figueiredo.Mangá-Dô, os caminhos das histórias em quadrinhos japonesas. Dissertação defendida no Programa de Pós-Graduação em Design do Departamento de Artes & Design da PUC-Rio, 2006.
134