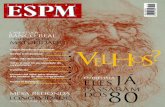6.1.2015: Mas derechos, menos terrenos: Collaboration and Community in Global Grassroots Media
O lugar da Torre dos Sinos (Convento Velho de S. Domingos), Coimbra: notas para o estudo da...
Transcript of O lugar da Torre dos Sinos (Convento Velho de S. Domingos), Coimbra: notas para o estudo da...
ARQUEOARTE1
VE
LHO
S E N
OV
OS
MU
ND
OS
| ES
TU
DO
S D
E AR
QU
EO
LOG
IA M
OD
ER
NA
OLD
AN
D N
EW
WO
RLD
S | S
TU
DIE
S O
N E
AR
LY M
OD
ER
N A
RC
HA
EO
LOG
YV
OLU
ME 1O presente volume reúne os textos redigidos pela grande maioria dos participantes no “Velhos e
Novos Mundos. Congresso Internacional de Arqueologia Moderna”, que decorreu de 6 a 9 de Abril de 2011 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
O evento pretendeu reunir arqueólogos consagrados e jovens, com trabalhos provenientes de con-textos académicos ou de salvamento, pertinentes para a discussão em torno de diversas temáticas balizadas nos séculos XV a XVIII, tanto em contexto europeu, como em espaços colonizados.
-cações e a guerra, a vida religiosa e as práticas funerárias, as paisagens marítimas, os navios e a vida
valorização do património arqueológico.
Além de se pretender dar um impulso ao desenvolvimento da arqueologia moderna, procurou-se lançar pontes de contacto entre comunidades arqueológicas espalhadas em diversas partes do mun-do, nomeadamente aquelas que centram a sua investigação em torno dos reinos ibéricos e da sua expansão mundial.
VELHOS E NOVOS MUNDOS ESTUDOS DE ARQUEOLOGIA MODERNA
OLD AND NEW WORLDSSTUDIES ON EARLY MODERN ARCHAEOLOGY
Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia ModernaOld and New Worlds. Studies on Early Modern Archaeology,2 volumes
1
COLECÇÃO ARQUEOARTE
COLECÇÃO ARQUEOARTE
O Centro de História de Além-Mar desenvolve investigação relacionada com a presença por-tuguesa no mundo, numa perspectiva inter-disciplinar e da história comparada, prestan-do particular atenção às histórias das regiões com que Portugal manteve contacto, no con-texto de uma história global. Procura também estudar a preponderância do mar na história portuguesa, através do tratamento de crono-logias distintas e suas incidências no entendi-mento do presente e na projecção do futuro.
A investigação desenvolvida privilegia, igual-mente, o património material resultante des-tes processos históricos, abordado na pers-pectiva da história da arte e da arqueologia, que constituem linhas de pesquisa autóno-mas. Esta colecção dá expressão ao trabalho que é desenvolvido pelo CHAM nestes domí-
espaço aos suportes de trabalho destas áreas do conhecimento histórico, nomeadamente o
3
Estudos de Arqueologia Moderna
VELHOS E NOVOS MUNDOS ESTUDOS DE ARQUEOLOGIA MODERNA
OLD AND NEW WORLDSSTUDIES ON EARLY MODERN ARCHAEOLOGY
VOLUME 1
4
Velhos e Novos Mundos
TÍTULO / TITLEVelhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia Moderna Old and New Worlds. Studies on Early Modern ArchaeologyVolume 1
COORDENADORES / COORDINATORSAndré Teixeira, José António Bettencourt
ORGANIZADORES / ORGANIZERSAndré Teixeira, Élvio Sousa, Inês Pinto Coelho, Isabel Cristina Fernandes, José António Bettencourt, Patrícia Carvalho, Paulo Dórdio Gomes, Severino Rodrigues
EDIÇÃO / EDITIONCentro de História de Além-MarFaculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de LisboaUniversidade dos AçoresAv. de Berna, 26C, 1069 - 061 Lisboawww.cham.fcsh.unl.pt / [email protected]
TIRAGEM / COPIES500
COLECÇÃO / COLLECTIONArqueoArte, n.º 1
DEPÓSITO LEGAL353251/12
ISBN978-989-8492-18-0
GRAFISMO E PAGINAÇÃO / GRAPHIC DESIGNCanto Redondowww.cantoredondo.eu / [email protected]
IMPRESSÃO / PRINTEuropress
DATA DE EDIÇÃO / FIRST PUBLISHED INDezembro de 2012 / December 2012
ORGANIZAÇÃO
APOIOS
Os artigos são da exclusiva responsabilidade dos autores.
Os textos e imagens desta publicação não podem ser reproduzidos por qualquer processo digital, mecânico ou fotográfico.
© CHAM e Autores
5
Estudos de Arqueologia Moderna
ÍNDICE
VOLUME 1
INTRODUÇÃO
CONFERÊNCIAS
From español to criollo: an archaeological perspective on spanish-american cultural transformation, 1493-1600Kathleen Deagan
Bahia: aportes para uma Arqueologia das relações transatlânticas no período colonialCarlos Etchevarne
Of sundry colours and moulds: imports of early modern pottery along the atlantic seaboardAlejandra Gutierrez
Velhos e novos mundos em uma perspectiva arqueológicaMarcos Albuquerque
CIDADES: URBANISMO, ARQUITECTURA E QUOTIDIANOS
Largo do Chafariz de Dentro: Alfama em época modernaRodrigo Banha da Silva, Pedro Miranda, Vasco Noronha Vieira, António Moreira Vicente, Gonçalo C. Lopes e Cristina Nozes
Os novos espaços da cidade moderna: uma aproximação à Ribeira de Lisboa através de uma intervenção no Largo do Terreiro do TrigoCristina Gonzalez
O mobiliário do Palácio Marialva (Lisboa): discursos socioeconómicos Andreia Torres
Um celeiro da Mitra no Teatro Romano de Lisboa: inércias e mutações de um espaço do século XVI à actualidadeLídia Fernandes e Rita Fragoso de Almeida
Rua do Benformoso 168/186 (Lisboa – Mouraria / Intendente): entre a nova e a velha cidade, aspectos da sua evolução urbanísticaAntónio Marques, Eva Leitão e Paulo Botelho
Espólio vítreo de um poço do Hospital Real de Todos-os-Santos (Lisboa, Portugal)Carlos Boavida
Quarteirão dos Lagares: contributo para a história económica da Mouraria Tiago Nunes e Iola Filipe
Vestígios modernos de uma intervenção de emergência na Rua Rafael Andrade (Lisboa)Sara Brito e Regis Barbosa
Alterações urbanísticas na Santarém pós-medieval: a diacronia do abandono de uma rua no planalto de Marvila Helena Santos, Marco Liberato e Ricardo Próspero
Fragmentos do quotidiano urbano de Torres Vedras, entre os séculos XV e XVIII: um olhar através dos objectos do poço dos Paços do ConcelhoGuilherme Cardoso e Isabel Luna
A modernidade em Leiria: imagens da vida pública e privada na antiga judiaria. O caso do Centro Cívico de Leiria Iola Filipe e Marina Pinto
Arqueologia das cidades de Beja: onde a cidade se encontra com a sua construçãoMaria da Conceição Lopes
Fragmentos de vida e morte da Idade Moderna no centro histórico de Elvas Teresa Ramos Costa, Cristina Cruz, Gonçalo Lopes e Ana Braz
A intimidade palaciana no século XVII: objectos provenientes de um esgoto do Paço dos Lobos da Gama (Évora)Gonçalo Lopes e Conceição Roque
Evidências de época moderna no castelo de Castelo Branco (Portugal)Carlos Boavida
Crise e identidade urbana: o Jardim Arcádico de Braga de 1625Gustavo Portocarrero
Ao som da bigorna: os ferreiros no quotidiano urbano de Arrifana/Penafiel no século XVIII Teresa Soeiro
A paisagem de Arrifana de Sousa descrita pelo Arruamento de 1762 Maria Helena Parrão Bernardo
Uma taça de porcelana branca e uma asa de grés na “Arca de Mijavellas”: História e estórias reveladas pela construção da Estação do Campo 24 de Agosto do Metro do Porto Iva Teles Botelho
O aqueduto da Mãe d’Água: Vila Franca do Campo N’zinga Oliveira e Joana Rodrigues
La ocupación moderna del Teatro Romano de Cádiz (España): nuevos datos a luz de las recientes intervenciones arqueológicas J. M. Gutiérrez, M. Bustamante, V. Sánchez, D. Bernal e A. Arévalo
El acueducto de la Matriz de Gijón: investigación documental y arqueológica Cristina Heredia Alonso
Processo de contato e primórdios da colonização na baixa bacia do Amazonas: séculos XVI-XVIII Rui Gomes Coelho e Fernando Marques
Crise e rebelião colonial: uma perspectiva urbana(Minas Gerais / Brasil – século XVIII) Carlos Magno Guimarães, Mariana Gonçalves Moreira, Gabriela Pereira Veloso, Anna Luiza Ladeia e Thaís Monteiro de Castro Costa
9
11
13
23
37
51
69
71
85
95
111
123
135
141
151
157
163
173
181
189
201
209
219
223
233
245
255
261
273
277
285
6
Velhos e Novos Mundos
Arqueologia e arquitecturas daqui e d’além-mar Maria de Magalhães Ramalho
ESPAÇO RURAL: PAISAGENS E MEIOS DE PRODUÇÃO
A paisagem como fonte histórica David Ferreira, Paulo Dordio e Alexandra Cerveira Lima
Cabeço do Outeiro (Lousada, Portugal): um núcleo rural da Idade Moderna Manuel Nunes, Joana Leite e Paulo Lemos
O ciclo do linho no concelho de Penafiel Ana Dolores Leal Anileiro
As pontes de Pretarouca (Lamego): registo arqueográfico no âmbito de processos de avaliação de impactes ambientais Carla Alves Fernandes e Cristóvão Pimentel Fonseca
Engenho de açúcar da alcaidaria de Silves Rosa Varela Gomes
Imagens, memórias, ruínas nos tempos do lugar: a biografia de uma paisagem urbana Silvio Luiz Cordeiro
Da aldeia guarani à cidade colonial: o processo de urbanização e as missões jesuíticas platinas nas frentes de colonização ibérica Arno Alvarez Kern
O café, a escravidão e a degradação ambiental: Minas Gerais /Rio de Janeiro – Brasil – século XIX e XX Carlos Magno Guimarães, Mariana Gonçalves Moreira, Gabriela Pereira Veloso, Elisângela de Morais Silva e Camila Fernandes Morais
FORTIFICAÇÕES, ESPAÇOS DE GUERRA E ARMAMENTO
Excavaciones arqueológicas en la muralla real de Ceuta: persistencias y rupturas (1415-1668) Fernando Villada Paredes
La coracha de Tanger Abdelatif El-Boudjay
Villalonso: un castillo medieval en la transición hacia la modernidad Angel L. Palomino, Manuel Moratinos, José M. Gonzalo, José E. Santamaría e Inés M. Centeno
Pólvora y cal: evidencias arqueológicas de las fortificaciones costeras de época moderna en Luarca (Asturias-España) Valentín Álvarez Martínez, Patricia Suárez Manjón e Jesús Ignacio Jiménez Chaparro
Museu de Macau e o território da Companhia de Jesus: resultados e integração dos vestígios arqueológicos Clementino Amaro e Armando Sabrosa
Do papel da Arqueologia para o conhecimento da expansão portuguesa: notas a partir de algumas estruturas fortificadas no Oriente João Lizardo
O papel do Forte do Guincho na estratégia de defesa da costa de Cascais Soraya Rocha e Guilherme Sarmento
EDIFÍCIOS RELIGIOSOS E PRÁTICAS FUNERÁRIAS
Sé da Cidade Velha, República de Cabo Verde: resultados da 1.ª fase de campanhas arqueológicas Clementino Amaro
Divindade, governante ou guerreiro? O personagem Kukulcán nas crônicas do século XVI e o registro arqueológico de Chichén Itzá, México Alexandre Guida Navarro
Andrés de Madariaga’s mausoleum-church: former Jesuit College in Bergara (Gipuzkoa, Basque Country, Spain) Jesús-Manuel Pérez Centeno e Xabier Alberdi Lonbide
Os Passos da Paixão de Cristo (Setúbal) João Ferreira Santos, Daniela dos Santos Silva e José Luís Neto
O lugar da Torre dos Sinos (Convento Velho deS. Domingos), Coimbra: notas para o estudo daformação dos terrenos de aluvião, em época moderna Sara Almeida, Ricardo Costeira da Silva, Vítor Dias e João Perpétuo
Cerca de Santo Agostinho, Coimbra: estudo preliminar das fases evolutivas e linhas para a sua recuperação Sara Almeida, Susana Temudo, Joana Mendes, Sofia Ramos e António Cunha
Convento de São Francisco da Ponte: novas perspectivas arquitectónicas Mónica Ginja e António Ginja
O último convento da Ordem de Santiago em Palmela: dados arqueológicos da intervenção no pátio fronteiro à igreja Isabel Cristina Ferreira Fernandes
Convento quinhentista do Bom Jesus de Peniche: primeira intervenção arqueológica Claudia Cunha, Carlos Vilela, Sónia Simões, Tiago Tomé, João Moreira, Mónica Ginja e Gerardo Gonçalves
Cerâmica dos séculos XV a XVIII do Convento de Santana de Leiria: História e vivências em torno da cultura materialAna Rita Trindade
Mosteiro de São Francisco de Lisboa: fragmentos e documentos na reconstrução de quotidianosJoana Torres
Os painéis de azulejo do adro da Igreja de São Simão (Azeitão) Mariana Almeida e Edgar Fernandes
293
303
305
315
323
333
339
351
357
365
373
375
385
393
407
419
431
445
449
451
465
469
475
483
489
497
505
517
527
539
551
7
Estudos de Arqueologia Moderna
Para as mulheres pobres, mas honradas: os recolhimentos em SetúbalJosé Luís Neto e Nathalie Antunes Ferreira
Contributo para o conhecimento da população na época moderna na Madeira: abordagem antropológica aos casos de Santa CruzRafael Fabricio Nunes
O registo arqueológico de uma superstição: o signo--Salomão no Alentejo – séculos XV-XVIIIAndrea Martins, Gonçalo Lopes, Helena Santos, Manuela Pereira, Marco Liberato e Pedro Carpetudo
VOLUME 2
PAISAGENS MARÍTIMAS, NAVIOS E VIDA A BORDO
O navio como Fait Social Total: para uma epistemologia da arqueologia em contexto náutico Jean Yves Blot
Projecto N-utopia: tratados, nomenclaturas náuticas e construções navais europeias Tiago Miguel Fraga, Brígida Baptista, António Teixeira e Adolfo Silveira Martins
Paisagens culturais marítimas: uma primeira aproximação ao litoral de Cascais Jorge Freire e António Fialho
Do Terreiro do Paço à Praça do Comércio (Lisboa): identificação de vestígios arqueológicos de natureza portuária num subsolo urbano César Augusto Neves, Andrea Martins, Gonçalo Lopes e Maria Luísa Blot
Ribeira das Naus hoje: a perene relação de Lisboa com o Tejo. Dos estaleiros navais do Renascimento ao antigo Arsenal da Marinha. Subsídios da arqueologia Rui Nascimento
Angra, uma cidade portuária no Atlântico do século XVII: uma abordagem geomorfológica Ana Catarina Garcia
Caractérisations et typologie du Cimetière des Ancres: vers une interprétation des conditions de mouillage et de la fréquentation de la Baie d’Angra do Heroísmo, du XVI au XIX siècle. Île de Terceira, Açores Christelle Chouzenoux
La Rucha: deconstruyendo el origen de la piratería de costa en el Cabo Peñas (Gozón-Asturias-España) Nicolás Alonso Rodríguez, Valentín Álvarez Martínez e José Antonio Longo Marina
Santo António de Tanná: uma fragata do período moderno Tiago Miguel Fraga
Cada botão sua casaca: indumentária recuperada nas escavações arqueológicas da fragata Santo António de Taná, naufragada em Mombaça em 1697 André Teixeira e Luís Serrão Gil
Projecto de carta arqueológica subaquática do concelho de Lagos Tiago Miguel Fraga
Conservação das estruturas em madeira de um navio do século XV escavado na Ria de Aveiro: resultados preliminares João Coelho, Pedro Gonçalves e Francisco Alves
CERÂMICAS: PRODUÇÃO, COMÉRCIO E CONSUMO
A olaria renascentista de Santo António da Charneca, Barreiro: a louça doméstica Luís Barros, Luísa Batalha, Guilherme Cardoso e António Gonzalez
As formas de pão-de-açúcar da Mata da Machada, Barreiro Filipa Galito da Silva
A cerâmica moderna do Castelo de S. Jorge: produção local de cerâmica comum, pintada a branco, moldada e vidrada e de faiança Alexandra Gaspar e Ana Gomes
De Aveiro para as margens do Atlântico: a carga do navio Ria de Aveiro A e a circulação de cêramica na Época Moderna Patrícia Carvalho e José Bettencourt
Portuguese coarseware in Newfoundland, Canada Sarah Newstead
Muito mais do que lixo: a cerâmica do sítio arqueológico subaquático Ria de Aveiro B-C Inês Pinto Coelho
A cerâmica do açúcar de Aveiro: recentes achados na área do antigo bairro das olarias Paulo Jorge Morgado, Ricardo Costeira da Silva e Sónia Jesus Filipe
Portugal and Terra Nova: ceramic perspectives on the early-modern Atlantic Peter E. Pope
Considerações acerca da cerâmica pedrada e respetivo comércio Olinda Sardinha
A importação de cerâmica europeia para os arquipélagos da Madeira e dos Açores no século XVI Élvio Sousa
Pottery in Cidade Velha (Cabo Verde) Marie Loiuse Sorensen, Chris Evens e Tânia Casimiro
A cerâmica no quotidiano colonial português: o caso de Salvador da Bahia Carlos Etchevarne e João Pedro Gomes
Modern Age Portuguese pottery find in the Bay of Cadiz, Spain José-Antonio Ruiz Gil
561
569
579
593
595
601
605
613
627
633
645
655
665
671
683
689
697
699
711
719
733
747
757
771
783
789
797
813
821
829
8
Velhos e Novos Mundos
La mayólica del convento de Santo Domingo (siglos XVI-XVII), Lima (Perú): la evidencia arqueométrica Javier G. Iñañez, Juan Guillermo Martín, Antonio Coello
Majólicas italianas do Terreiro do Trigo (Lisboa) Cristina Gonzalez
Produções sevilhanas – azul sobre branco e azul sobre azul: no contexto das relações económicas e comerciais entre o litoral algarvio e a Andaluzia (século XVI-XVII) Paulo Botelho
As cerâmicas da Idade Moderna da Fortaleza de Nossa Senhora da Luz, CascaisJ. A. Severino Rodrigues, Catarina Bolila, Vanessa Filipe, José Pedro Henriques, Inês Alves Ribeiro e Sara Teixeira Simões
Primeira abordagem a um depósito moderno no antigo Paço Episcopal de Coimbra (Museu Nacional de Machado de Castro): a cerâmica desde meados do século XV à consolidação da Renascença Ricardo Costeira da Silva
Aldeia da Torre dos Frades (Torre de Almofala)através da cerâmica em época moderna Elisa Albuquerque
Um gosto decorativo: louça preta e vermelha polvilhada de branco (mica) Isabel Maria Fernandes
Os potes “martabã”: um conceito em discussão Sara Teixeira Simões
Do Oriente para Ocidente: contributo para o conhecimento da porcelana chinesa nos quotidianos de época moderna. Estudo de três contextos arqueológicos de Lisboa José Pedro Vintém Henriques
Porcelana chinesa em Salvador da Bahia (séculos XVI a XVIII) Carlos Etchevarne e João Pedro Gomes
Faiança portuguesa: centros produtores, matérias, técnicas de fabrico e critérios de distinção Luís Sebastian
Vestígios de um centro produtor de faiança dos séculos XVII e XVIII: dados de uma intervenção arqueológica na Rua de Buenos Aires, n.º 10, LisboaLuísa Batalha, Andreia Campôa, Guilherme Cardoso, Nuno Neto, Paulo Rebelo e Raquel Santos
Elementos para a caracterização da faiança portuguesa do século XVII: a tipologia de Pendery aplicada à realidade da Casa do Infante (Porto) Anabela P. de Sá
As produções de louça preta em Trás-os-Montes: caracterização etnográfica e química, seu interesse para o estudo das cerâmicas arqueológicas Isabel Maria Fernandes e Fernando Castro
Fábrica de Cerâmica de Santo António de Vale da Piedade (Vila Nova de Gaia): estruturas construídas e espaços de laboração no século XVIII Laura Cristina Peixoto de Sousa
GESTÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO
Mosteiro de Santa Clara-a-Velha: da luz dos archotes aos momentos da contemporaneidade. Projeto e fruição Artur Côrte-Real
Preservação arqueológica nas missões jesuítico--guaranis Tobias Vilhena de Moraes
Monumentos restaurados e historias em ruínas: o programa Monumenta e a problemática da intervenção arqueológica na restauração arquitetônica no Brasil Ton Ferreira
Património cultural subaquático: uma questão de visibilidade Margarida Génio
ABSTRACTS
837
847
855
865
877
891
897
909
919
933
937
951
963
975
983
995
997
1005
1011
1019
1023
483
Estudos de Arqueologia Moderna
O LUGAR DA TORRE DOSSINOS (CONVENTO VELHO DES. DOMINGOS), COIMBRA
SARA ALMEIDA Arqueóloga do Gabinete para o Centro Histórico (GCH) – Câmara Municipal de CoimbraRICARDO COSTEIRA DA SILVA Bolseiro de doutoramento da FCT. Investigador do CEAUCPVÍTOR DIAS Bolseiro de doutoramento da FCT. Investigador do CIDEHUS-UEJOÃO PERPÉTUO Arqueohoje – Conservação e Restauro do Património Monumental, Lda.
RESUMO Em Coimbra diversos registos concorrem para revelar a instabilidade das margens do Mondego que, a partir de Época Medieval, transpõe recorrentemente as plataformas ribeirinhas, em virtude do assoreamento do seu leito.Testemunham este fenómeno diversos documentos escritos, cartográficos, fotografias e ilustrações, sobressaindo a este res-peito o título de Basófias atribuído, por iniciativa popular, ao rio devido à irregularidade do seu caudal.A evolução da modelação topográfica da Zona da Baixa é um aspecto fundamental para a compreensão das estratégias de ocu-pação desta zona da cidade, marcadas pela firme determinação em contrariar as adversidades do meio e investidas das águas.No decurso de uma acção de arqueologia preventiva, junto à Avenida Fernão de Magalhães, foi possível pôr a descoberto vestígios do Convento Velho de S. Domingos, a cerca de nove metros abaixo da actual cota de circulação.O pacote estratigráfico circunscrito entre os níveis de formação da referida Avenida (no século XX) e de abandono definitivo do edifício conventual (no século XVI) oferece uma visão privilegiada do processo de sedimentação neste local e por extensão da área circundante.Pretende-se, por conseguinte, analisar os fenómenos de deposição detectados (antrópicos e aluvionares) e fornecer uma ima-gem das principais fases de sedimentação que modelaram o terreno ao longo da Época Moderna.
PALAVRAS-CHAVE Rio Mondego, assoreamento, Época Moderna, Convento Velho de S. Domingos
INTRODUÇÃO
O presente estudo resulta da aplicação das medidas de minimização de impacte patrimonial, nomeadamente de Acompanhamento Arqueológico de Obra, referen-tes ao projecto de construção de – Edifício de Habita-ção, Comércio e Parqueamento no n.º 221 da Av. Fernão de Magalhães, Coimbra, da responsabilidade técnica de dois dos autores (V. D. e R. C. S.). O empreendimento situa-se em plena “Baixa de Coim-bra”, nas cercanias do Mondego (fig. 1) e implicou um “desaterro” de 15 m de profundidade, numa área esti-mada de 1900 m2 (25,6 m x 73,6 m).No decorrer do acompanhamento da remoção mecâni-ca de terras detectou-se, a nove metros abaixo do nível de circulação actual, um complexo conjunto estrutural, pertencente ao Convento Velho de S. Domingos, na se-quência do qual o acompanhamento foi suspenso, para ceder lugar à escavação arqueológica daqueles contex-tos. Nestas circunstâncias e em virtude da distribuição
das estruturas arqueológicas, o processo de escava-ção, dirigido fundamentalmente por um dos autores (J.P.) circunscreveu-se à metade oriental do polígono, entre os 12,5 m e os 8,5 m de altitude. Os resultados decorrentes da escavação do complexo conventual, construído no século XIII e abandonado no século XVI, encontram-se em fase de análise, prevendo-se para breve a sua divulgação. Após esta fase de escavação arqueológica o Acompanhamento Arqueológico viu-se retomado. No presente contexto, centrar-nos-emos nos dados emanados do acompanhamento arqueológico da obra, com especial destaque para os que oferecem uma ima-gem ilustrativa dos processos de deposição sedimentar, após o abandono do local pelos dominicanos. CONTEXTO Em Coimbra, até à regularização do leito do Mondego (na segunda metade do século XX), as margens do rio
NOTAS PARA O ESTUDO DA FORMAÇÃO DOS TERRENOS DE ALUVIÃO, EM ÉPOCA MODERNA
484
Velhos e Novos Mundos
eram, amiúde, assoladas por inundações. Testemu-nham este facto documentos escritos, cartográficos, fotografias e ilustrações, sobressaindo, neste particu-lar, o nome Basófias, popularmente atribuído ao rio, devido à irregularidade do seu caudal. É sobretudo a partir de Época Medieval que se do-cumenta a transposição das plataformas ribeirinhas. Na origem deste fenómeno, de alteração dos proces-sos erosivos e de sedimentação da bacia fluvial, estará a crescente desflorestação, ocorrida a montante de Coimbra, motivada pela necessidade de madeira e da expansão dos terrenos agrícolas, impulsionada pelo aumento populacional (Martins, 1940). O regime semi-torrencial do rio resultou no abandono de diversos edifícios dos quais se destacam os con-ventos de Sant’Ana (em 1284), S. Francisco (em 1609), Santa Clara-a-Velha e S. Domingos. Relativamente a estes últimos, a arqueologia revela como as tentativas para contrariar e retardar a trasladação das instalações (materializada em transformações do espaço edifica-do e sucessiva elevação dos pisos) se revelaram inefi-cazes face aos episódios de inundação. A este propósito, Frei Luiz de Sousa (apud Ruas, 1934--1936, p. 56) na sua História de S. Domingos, apre-senta um quadro vibrante dos acontecimentos e da identificação das suas causas. Conta-nos como o rio, no século XIII, “corria fundo, e alcantilado” e “Sendo corridos trezentos anos da fundação, vierão a ser tam grandes as enchentes do Mondego, que acontecia de inverno estar o Convento muitos dias feito ilha, e posto em cerco. Seguirão annos invernosos, continuarão, e crecerão as agoas com novo mal, que foy trazerem consigo grande poder de areas, e cegarem com ellas a madre do rio (…) e a força da agoa começou a lan-çar as areas por cima das mais altas margens, senho-reandose do campo, e entupindo cerca e officinas. (…) ajuntavase ao mal dos dilúvios, que as agoas de muito tempo encharcadas deixavão o Convento apaulado: e quando com o verão vinha a enxugar, era somente na face da terra: e ficava do interior lançando vapores que causavão graves doenças.”Já a compreensão do fenómeno, pelo religioso, é no-tável e brilhantemente exposta: “A causa de tanto mal sabida he (…) Chega a cobiça, ou a multidão e neces-sidade dos homens a não deixar palmo de terra, que não rompa. Em tempos muito antigos erão invioláveis as costas, e ladeyras que cahião sobre os rios, com medo do que oje se padece, e como cousa sagrada estava a cargo de se guardarem à conta dos melhores do Reyno. Lembrasse ouvir aos velhos, que receberão dos mais antigos, (…) Faz perder os campos muyto lar-gos, e muito proveitosos, o querer aproveitar montes pola mayor parte esteriles, ou pouco fructiferos: achão
as invernadas a terra bolida, levãona ao baixo e ficão despidos os altos até descobrirem os ossos, que são as lageas, e penedias, do centro, e assi ficão os campos perdidos, e os montes não dão proveito” (ibidem). Na continuidade destes acontecimentos, o alagamen-to das margens e subsequente acumulação de depósi-tos impuseram a alteração da topografia da baixa da cidade, com o alteamento de terreiros e arruamen-tos, a edificação de muros de retenção e o declínio do aglomerado como entreposto fluvial (Tavares, 1999, p. 277). Assim e a “despeito de Regimentos, Provisões, Cartas-Régias” com vista à contenção do assoreamen-to, os efeitos das cheias persistem em fazer-se sentir ao longo da centúria de setecentos, sendo a paisagem então marcada por campos alagados de areias e um curso fluvial espraiado por múltiplos braços e pontua-do por ínsuas (Ibid. p. 277-278). Efectivamente, o estudo da evolução da modelação topográfica da Baixa revela-se fundamental para a compreensão das estratégias de ocupação desta zona histórica da cidade, marcada pelo desafio de resistir à repulsão das cheias mondeguinas. Em termos geomor-fológicos, este corpo aluvionar ou coluvionar, integra-se nos depósitos quaternários congéneres das “Areias Ver-melhas do estádio” tributário não só do Mondego, como aparentemente da linha de Ribela que ocupa a Falha a Norte da zona da “Alta” (Cunha [et. al.], 1999, p. 24). Se atentarmos no traçado e perfil do Mondego, em frente à colina, o rio desenha um percurso pronuncia-do, que parece resultar de uma imposição tectónica, originando vertentes com arqueação côncava ou plana. Este é precisamente o ponto de transição entre o sec-tor a montante, onde o curso é jovem, bem contido em meandros apertados e a jusante onde começa a alargar através do largo plaino fluvial, onde corre nos terrenos que depositou (Tavares, 1999). Ou seja, o fenómeno que pretendemos enquadrar situa-se precisamente no pon-to de transição entre o rio de montanha, na sua fase de virilidade e o rio de planície, na sua fase de velhice, onde este perde a sua capacidade erosiva em detrimento do maior poder de transporte que adquire. Este novo cur-so, compreendido na orla mesozóica, é marcado pela diminuição da inclinação do leito, aumento do volume de águas e atulhamento do álveo pelas aluviões car-readas pelo rio (Martins, 1940, p. 86). Neste sentido, é interessante observar o resultado do perfil de sondagens realizadas nos depósitos aluvionares entre a igreja de Santa Clara-a-Velha e o encosto di-reito da ponte na Portagem (Tavares, 1999). Este es-tudo efectuado num ponto relativamente próximo e que, portanto, tomamos como referência, dá-nos uma imagem da evolução da dinâmica fluvial à passagem pelo núcleo histórico de Coimbra. Aí, sobre o substrato
485
Estudos de Arqueologia Moderna
rochoso, constituído por níveis margosos e carbona-tados, assentam depósitos de terraço, assim como coluviais e corpos aluvionares (arenosos grosseiros a médios – C1) colmatando o canal principal do rio. À medida que nos afastamos da margem esquerda, em direcção ao eixo fluvial, regista-se um aumento da es-pessura aluvionar sob o actual canal activo do rio. Se-guem-se corpos areno-lodosos com lentículas areno-sas, onde se instala um ambiente apaúlado (C2). Sobre estes (C1 e C2) estabelecem-se areias grosseiras a mé-dias com seixos, correspondentes à acreção do canal activo (C3). E finalmente, na plataforma da margem esquerda, verifica-se a acumulação de material de ver-tente e de origem antrópica (Ibid, p. 238).
A COLMATAÇÃO DO LUGAR DA TORRE DOS SINOS
Neste contexto de transformação da microtopografia da Baixa de Coimbra, o exercício de sobreposição da lo-calização do empreendimento na cartografia antiga da cidade, nomeadamente na Planta Topográfica de Coim-bra de Isidoro de 1845 (fig. 2), é bastante elucidativo deste processo de colmatação ribeirinha, fornecendo indícios significativos de realidades pré-existentes evocadas pela persistência da memória toponímica.Assim, como podemos constatar, o referido polígono de intervenção incide num terreno estremado pelo Porto dos Oleiros, Cais das olarias e Rua Direita, ao centro do qual se vislumbra uma pequena constru-ção quadrangular e onde se podem ler as seguintes designações: Chão da Torre, Ruínas da Torre e Sítio do Antigo Convento de S. Domingos. Ou seja, até meados do século XIX, a memória da primitiva casa dominica-na e o reconhecimento da sua localização ainda se en-contravam perfeitamente presentes. A este respeito, talvez só muito recentemente, com a abertura da Avenida Fernão de Magalhães, na primeira metade do século XX (Nunes, 2003, p. 67-70) e a urbanização des-
cuidada desta zona, se tenham perdido todas as re-ferências (toponímicas e paisagísticas) do antigo convento.Tendo em conta o exposto, não obstante as indica-ções da elevada colmatação aluvionar desta zona e da suspeita da proximidade do Antigo Convento de S. Domingos, não foi sem surpresa que, durante o Acom-panhamento Arqueológico, nos deparámos com os restos deste edifício medieval a 9m de profundidade relativamente ao nível de ocupação actual (fig. 3). Posto isto, afigura-se-nos de grande interesse, para quem se debruça sobre as questões da evolução ur-bana e topográfica desta área, a publicação dos per-fis estratigráficos gerais de referência registados no acompanhamento da obra em questão (fig. 4).Os referidos perfis (fig. 5) foram progressivamente elaborados, à medida que se desenrolou o desaterro da área destinada a albergar o parque de estaciona-mento subterrâneo de 5 pisos, e ilustram as camadas mais representativas do registo sedimentar identifica-do. Nestas circunstâncias, reuniram-se as condições para detalhar a constituição dos depósitos sedimen-tares modernos e ancorar cronologicamente os prin-
2. Sobreposição do polígono de intervenção no Excerto da Planta Topográfica de Coimbra de Isidoro (1845).
1. Localização da intervenção na planta topográfica de Coimbra.
3. Aspecto geral da escavação do Convento Velho de S. Domingos.
486
Velhos e Novos Mundos
cipais momentos de colmatação neste local (tendo em consideração o espólio exumado), complementando assim os perfis de natureza geotécnica que dispú-nhamos para este local. A análise sumária dos perfis estratigráficos (fig. 5) aponta para a sobreposição de um corpo lodoso, onde se firmam os primeiros níveis de ocupação antrópica detectados, assente em depósitos de terraço ou colu-
viais, constituídos por um corpo conglomerático de seixos e calhaus (14).Segue-se o horizonte estratigráfico relacionado com as diversas fases ocupacionais do Convento (13 a 07), re-matado pelo respectivo nível de destruição e abando-no. Sobre este, figura um corpo aluvionar (06) formado imediatamente após o abandono do local e que a análi-se do espólio associado permite fixar nos finais do sé-
4. Planta da zona de intervenção com indicação da localização dos perfis apresentados.
5. Perfis estratigráficos da área de intervenção.
487
Estudos de Arqueologia Moderna
6. Cerâmicas exumadas na camada 06: 1 – Porcelana chinesa; 2 – Malga; 3 – Escudela; 4 – Tigela vidrada; 5 – Pratos.
culo XVI. Uma porção considerável do espólio recolhido nesta unidade estratigráfica correspondia a produções de barro vermelho, sob a forma de taças, panelas e tam-pas, registando-se igualmente a ocorrência de recipien-tes vidrados (potes e taças). O grupo numericamente mais expressivo do conjunto corresponde, contudo, à louça de mesa esmaltada de pastas bege-amareladas,
maioritariamente sem pintura, com francos paralelos nas produções sevilhanas. Neste lote pontuam os pra-tos com fundo em ônfalo, as escudelas e as malgas carenadas (fig. 6). A presença de porcelana chinesa da dinastia Ming vem consolidar a proposta de datação de finais do século XVI atribuída a este estrato.Sucede-se a alternância de camadas de aluvião, de matriz
7. Cerâmicas exumadas na camada 04: 1 – Testo; 2 – Pratos; 3 – Prato de majólica de azul sobre azul; 4 – Faiança; 5 – Sertã; 6 – Tacho/Caçoila; 7 – Almofariz; 8 – Taças; 9 – Bacia/Alguidar; 10 – Panelas; 11 – Potes; 12 – Cântaro e Bilha; 13 – Fogareiro; 14 – Caixa circular; 15 – Bases discoidais; 16 – Trempes.
488
Velhos e Novos Mundos
lodosa e estéreis (compatíveis com períodos de inunda-ção prolongada) com níveis de assoreamento, arenosos e com espólio associado. Com efeito, após a deposição de estrato lodoso (05) regista-se uma camada de areias finas e limpas (04) que se destaca por encerrar uma elevada quantidade de peças, relativamente bem conservadas e não raras vezes com perfis completos, que revelam uma assinalável diversidade morfo-tipológica (fig. 7).Entre a panóplia formal detectada distinguem-se dez grupos funcionais: recipientes de cozinha (panelas, sertãs e caçoilas, almofariz), de mesa (tigelas, taças ou escudelas e pratos), de cozinha/mesa (púcaros), de armazenamento (potes), de armazenamento/mesa de líquidos (cântaros, bilhas e jarro), de higiene pessoal (alguidares, bispotes), contentores de fogo (cande-ias e fogareiros), de tampas/testos, peças de apoio à produção oleira e cerâmica de revestimento (azule-jos). Sobressai do conjunto, em termos numéricos, a cerâmica doméstica comum em barro vermelho, apresentando por vezes vidrado (no caso de sertãs, panelas, alguidares e taças). Relativamente à cerâmica esmaltada, assinala-se a presença de pratos (incluindo majólica de azul sobre azul), escudelas e tacinhas (al-gumas das quais deformadas e com imperfeições ao nível do esmalte), bem como de peças em chacota, que se afiguram como produtos de descartes. Associadas a estas ocorrências provenientes de des-carte, regista-se a recolha de peças relacionadas com estruturas e contextos de produção de cerâmica. En-quadram-se neste contexto os fragmentos de grelha de um forno cerâmico, bases discóidais, trempes e um fragmento de caixa circular sem fundo, com perfura-ções laterais para encaixe de cravilhos. No caso das trempes, assinalam-se variantes ao nível do formato e pasta que acusam a variedade das peças manufac-turadas. A ocorrência destes materiais é facilmente relacionável e por conseguinte reportável às olarias instaladas nas imediações e cristalizadas ainda na toponímia actual (rua dos Oleiros). Em suma, o espólio proveniente deste nível (04) en-contra paralelos em contextos renascentistas por todo o território nacional. Devido ao seu posicionamento e ao material exumado somos tentados a fixar a cro-
nologia deste depósito no século XVII. Não obstante, reafirma-se que, na sua generalidade, este conjunto cerâmico se enquadra na cultura material quinhentista à excepção de um muito reduzido número de frag-mentos de faiança (fig. 7, n.º 4) cuja produção poderá remeter para a primeira metade do século XVII.De seguida, volta-se a registar a presença de um estrato de aluvião estéril, indicador de um significativo perío-do de submersão (03), coberto por um depósito de areias associado a um momento de intenso assorea-mento (02). Desta, por sua vez, destaca-se a recolha de uma taça hemisférica, em faiança, com marca a vinoso, no fundo e ao centro com um “S” e um “F” sobrepostos, associada a fabricos de Massarelos, posteriores a 1786, (Queirós, 1987, p. 286, n.º 284). Informação que abre a possibilidade deste estrato datar de inícios do século XIX.
NOTA FINAL
A estratigrafia apresentada permite, não só corrobo-rar a cronologia de abandono definitivo do Convento Velho de S. Domingos, como projectar um cenário da evolução topográfica desta zona ribeirinha do Mon-dego ao longo de Época Moderna, devido à sua as-sociação a lotes artefactuais bastante coerentes em termos cronológicos. Assim, dos dados expostos, sublinha-se o acelerado processo de sedimentação verificado após o abando-no definitivo do local em finais do século XVI (camada 06). Posteriormente, é possível enquadrar o mesmo fenómeno materializado em níveis de assoreamento do século XVII (camada 04) e ainda de finais do século XVIII / inícios do século XIX (camada 02). Estes episó-dios derivam da já referida degradação das vertentes do Mondego e da ausência de qualquer mecanismo de retenção das águas ribeirinhas neste local. Por último, destaca-se a natureza do espólio recolhido na camada 04 reportável à actividade desenvolvida no bairro das olarias que se encontra adjacente. Esta realidade transparece na colecção cerâmica recolhida que ilustra modelos de louça, essencialmente de mesa e de cozinha, de produção local coimbrã recorrentes no século XVI e inícios do século XVII.
CUNHA, L. [et. al.] (1999) – O “Julgamento” geomorfológico de Coimbra – O testemunhos dos depósitos quaternários. Cadernos de Geografia. Coimbra. p. 15-29. Actas do I Colóquio de Geografia de Coimbra.
GOMES, S. (2006) – A Igreja de S. Domingos de Coimbra em 1591. Arquivo Coimbrão. Coimbra. XXXIX, p. 377-396.
MARTINS, A. F. (1940) – O esforço do Homem na bacia do Mondego. Coimbra.
BIBLIOGRAFIA
NUNES, M. (2003) – Ruas de Coimbra. GAAC. Coimbra.
QUEIRÓS, J. (1987) – Cerâmica Portuguesa e outros estudos. Lisboa.
RUAS, H. F. (1934-1936) – Estudos sôbre o Mondego. Anuário dos Serviços Hidráulicos. p. 45-141.
TAVARES, A. (1999) – Condicionantes físicas ao Planeamento - análise da susceptibilidade no espaço do concelho de Coim-bra. Centro de Geociências da Universidade de Coimbra.
ARQUEOARTE1
VE
LHO
S E N
OV
OS
MU
ND
OS
| ES
TU
DO
S D
E AR
QU
EO
LOG
IA M
OD
ER
NA
OLD
AN
D N
EW
WO
RLD
S | S
TU
DIE
S O
N E
AR
LY M
OD
ER
N A
RC
HA
EO
LOG
YV
OLU
ME 1O presente volume reúne os textos redigidos pela grande maioria dos participantes no “Velhos e Novos Mundos. Congresso Internacional de Arqueologia Moderna”, que decorreu de 6 a 9 de Abril de 2011 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
O evento pretendeu reunir arqueólogos consagrados e jovens, com trabalhos provenientes de con-textos académicos ou de salvamento, pertinentes para a discussão em torno de diversas temáticas balizadas nos séculos XV a XVIII, tanto em contexto europeu, como em espaços colonizados.
-cações e a guerra, a vida religiosa e as práticas funerárias, as paisagens marítimas, os navios e a vida
valorização do património arqueológico.
Além de se pretender dar um impulso ao desenvolvimento da arqueologia moderna, procurou-se lançar pontes de contacto entre comunidades arqueológicas espalhadas em diversas partes do mun-do, nomeadamente aquelas que centram a sua investigação em torno dos reinos ibéricos e da sua expansão mundial.
VELHOS E NOVOS MUNDOS ESTUDOS DE ARQUEOLOGIA MODERNA
OLD AND NEW WORLDSSTUDIES ON EARLY MODERN ARCHAEOLOGY
Velhos e Novos Mundos. Estudos de Arqueologia ModernaOld and New Worlds. Studies on Early Modern Archaeology,2 volumes
1
COLECÇÃO ARQUEOARTE
COLECÇÃO ARQUEOARTE
O Centro de História de Além-Mar desenvolve investigação relacionada com a presença por-tuguesa no mundo, numa perspectiva inter-disciplinar e da história comparada, prestan-do particular atenção às histórias das regiões com que Portugal manteve contacto, no con-texto de uma história global. Procura também estudar a preponderância do mar na história portuguesa, através do tratamento de crono-logias distintas e suas incidências no entendi-mento do presente e na projecção do futuro.
A investigação desenvolvida privilegia, igual-mente, o património material resultante des-tes processos históricos, abordado na pers-pectiva da história da arte e da arqueologia, que constituem linhas de pesquisa autóno-mas. Esta colecção dá expressão ao trabalho que é desenvolvido pelo CHAM nestes domí-
espaço aos suportes de trabalho destas áreas do conhecimento histórico, nomeadamente o